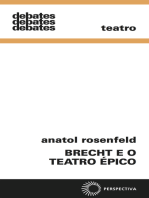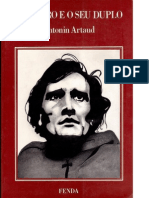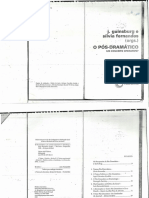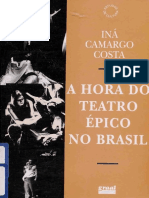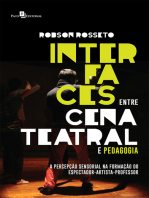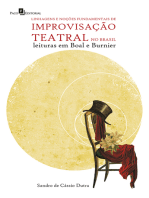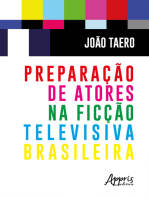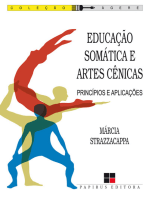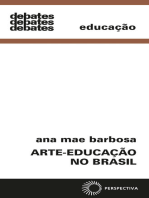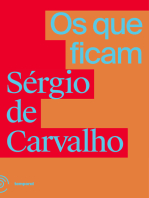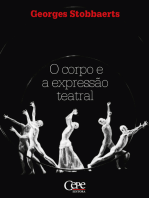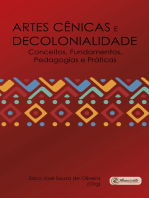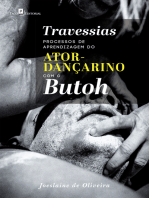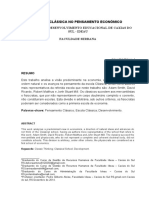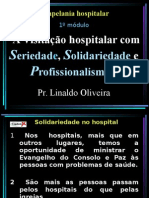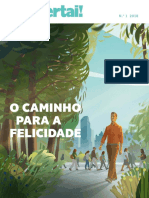Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Berthold, Margot - História Mundial Do Teatro
Загружено:
Fábio BeckertОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Berthold, Margot - História Mundial Do Teatro
Загружено:
Fábio BeckertАвторское право:
Доступные форматы
r
Histria Mundial
Equi pe de Reali::-aro
do Teatro
MARGOT BERTHOLD
Sup crvis a ed tor ul
Asxt'Horia editoriui
Revis o
Traduo
j"dic t'
Cap a c Proj rt o Grfico
Pr Ol/ll ci"
J. Guinshurg
Plnio Martins Filh o
Ingrid Baslio c Ol ga Cafalcchio
Mar-ia Paula V. Zuraw ski.
J . Guins hurg, S rgio Coe lho c Clovi s Garcia
Sand ra Ma rth a Dof invky
Ad r ian a Garcia
Ricar do \\'. Neves. Adrianu Ga rc ia to: Hcdn Mar ia Lo pes
~ \ \ I / ~
~ 1@ EDITORA PERSPECTIVA
~ I \ \ ~
Ttulo do original cm alem o
dcs Thco ters
1968 hy Alfrcd Kr ner Ver lag iII St ut tgart
Dad os l nternac ionais de Cmaloga o na Publi cao (C IP)
(Cma ra Hrasilcira do Livro, SIl, Bras il)
T
Sumrio
R O\ I.-\ __ _ .. _ .. , 139
Int roduo _. . _. . 139
Os Ludi Rornani, o Teatro da Res
Publi ca _. . 140
Comdia Romana 144
Do Tabl ado de Madeira ao Ed ifcio
C nico " 148
O Teat ro na Roma Imperial 151
O An titeatro: Po e Circo. . . 155
A F bula Atelana [ (,I
Mi mo e Panto mi ma. . . . . . . 162
Mimo Cristolgico 167
BIz..\ NCIO _ _ . _ - . . . . . 171
Introduo . _. _ __. _. _. - . ... 171
Bcrthol d. Margot
Histria Mundial do Teatro / 1\1argot Berthold:
[tradu o Mar ia Paula V. Zuraws ki, J. Guinsburg.
Srgio Coelho c Clvis Garcia], -- So Paulo:
I'crspcctiva, 200 I.
Tt ulo or iginal: \\\:Itgcsc.: hichh: dcs Thcatcrs
Bibliografi a,
ISAN 85273 -0nX- 4
I. Tea tro - Histri a I. Tit ul o
0 1 3650 CDD-792.0 'J
- - ----- _._-_. ---
ndices para catlogo sistemtico:
I. Teatro mundial; Arte dr am ti ca : Hist r ia
79".09
I edio - I' reimpre ss o
Direit os reser vados em lngua portuguesa
EDITORA PERSPECTIVA S.A.
Av. llrigodeiro Luis Ant nio , 3025
0140 1-000 - So Paul o - S I' - Brasil
Tele rax: ( I I) J 8S-83S
www.cdi torapcrspcctiva x om .hr
200 1
SOBRE ESf.\ EDl Ao - J, ...
PREFAcIO .
o T EATRO .
E GITO E A NTI GO ORI EJ' T E .
Introduo - .
EgiI O .
Mesopot mia _ .
As O \' It.l ZAES _ .
Introduo _ - .
Prsia .
Tur quia .
As Ct v II.IZ\ () ES [1'- [)o P..K iFll,-\S .
Int roduo _ .
ndia _ _. _ .
Indonsia _. _. . _ - .
CHI NA _ _ _ - ' "
Introdu o - - .
Ori gens c os "Ccru Jogos" .
Os Estudantcs do Jardim das Peras
O Caminho par a o Drama .
Drama do Nort e c Drama do Sul .
A Pea Mu sical do Perodo Ming
A Concep o Art stica da pera de
Pequ im .
O Teat ro Ch ins Hoj e ., .
l w Ao _." _ - - - _.
Introduo .
[X
XI
7
7
8
[6
19
19
20
23
29
29
32
44
53
53
54
58
61
6[
(,6
66
70
75
75
Kagura .
Gi gaku .
Bu gaku .
Saru gaku e Denga ku. Precursor es do
N.. . . . . .. .. ... . . - . .
N _ .
Kyogen _ - - - .
O Teatro de Bonecos . - - . -
Kabuki .
Shi mpu - . - .
Sh ingcki _.. _ - -
G RCI A .
l ntro du o .. . . .
Tragdia . . . . . . .
Com dia .
O Teatro Helenst ico .
O Mimo .
76
78
78
80
8 1
87
87
90
99
99
103
103
104
118
13()
136
H i s t o r u M' u n d a d o Tea t ro.
Teatro sem Dra ma 172
Teatro na Arena . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
O Teatro na Igrej a ln
O Teat ro na Co rte . . . . . . . . . . . . . . . . 18 I
Co mmedia dcl lartc e Teat ro
Popular 353
O Teat ro Barroco Es panhol 367
Os Ate res Ambul antes 374
Sobre esta Edio
Do AO PI{[' SENTE 451
A EI{A DA CtrJADANI A BURGUESA . .. . .. . 38]
NDI CE 553
Int rodu o 3RI
O Ilumini smo 3R2
Cl assicismo Alemo 413
Romantismo 429
Real ismo 440
e nas ci nc ias . Sob es te ngulo, Margot
Berthold realizou um trabalho not vel co m sua
Hist ria Mundial do Teatro, inte grando, de
uma maneira que se poderi a dizer pri morosa,
a busca documental , o regi stro oco rrenc ial e o
pod er de sntese esc ritural. Na verdade, est e
volume de uma a bra ng nc ia surpree ndente
que faz um j ogo muito bem equilibrado entre
esttica e hi stria, indivduo criador e socie-
dade condicionante e recepci onant e, de modo
que, com a sua ri qussi ma iconografia , ela po-
der atender, sobretudo co m respeito aos pero-
dos mai s representativ os da evoluo do tea-
tro. s necessida des de informao e dis cu s-
so de se u leitor. Ist o por si par eceu Editora
Per spe cti va, que j ser ia um fator a recomen-
dar plen amente sua publica o em lngua por -
tuguesa e, apesar das dificul dad es de sua tra-
du o e dos cuidados ex igidos por sua edio,
o que import ou em um longo trabalho de nos-
sa equipe , co m gra nde prazer que nos per,
mitido di zer : Aqui est uma obra de import n -
cia para a biblioteca teatral brasil eira .
1. Guinsburg
Em princpio, uma Histri a do Teat ro pode
ter a amplitude da pesquisa e da reduo que
se u a utor lhe der. Compor uma cr nic a e uma
anl ise do qu e foi o desenvol vimento da art e
dram tica atr avs do tempo, de seus momen-
tos mais significati vos e de suas realizaes
mai s di gn as de permanncia como memri a
de um passad o, ou como atualidade de uma
fun o, poderia oc upar uma bibliot eca de
Al ex andria ou, co mo oc orre tambm, um
resuminho na Int ernet. O difcil re unir num
s co n junto de algumas centenas de pginas,
port anto, ao alcance de qualquer leit or int e-
ressado ou estudioso do terna um apanh ado que
d co nta, crtica e historicament e, dest e vasto
uni verso de realizae s e cri aes que se ins-
cr eve no hi st ric o e no sentido do ex istir do
homem nest e mund o e de sua tr an scendn ci a
em rela o s condies e os requi sit os ma is
primri os para o seu viver , isto , o da sua ca -
pacidadc de criar obj etos inexistentes na natu-
reza bruta e elaborar o seu esprito em feies
cada vez mais novas, como o caso do pap el
de s uas vri as expresses na c ultur a, na s artes
- 54 1
Introduo 451
O Naturalismo Cni co 452
A Experimentao de
Novas Formas 462
O Teat ro Engaj ado 494
Show Business na Broadway __. 513
O Teat ro Como Experiment o 519
O Tea tro cm Crise '} 52 1
O Tea tro e os Meios de Comuni cao
de Massa 523
O Tea tro do Diretor _ 529
I3 I BUO( I{ AI I .-\
A I D.\IJE Mrrn-, 185
Introduo I R5
Repre sent aes Rel igiosas . . . . . . . . . 186
Autos Profanos 242
A R ENASCENA . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Introduo 269
O Teatro dos Humanistas 270
Os Festi vais da Cor te 292
O Drama Escolar 300
As Rcderij kers 304
Os Meistersinger 30R
O Teat ro Eli zabetano 3 [2
O B ARR(X'O 323
Int roduo 323
pera e Singspiel 324
O Ballet de COI/ r 330
Bastid ores Desli zantes e Maquinaria
de Palco 335
O Teat ro Jesuta _ 338
Frana : Tragdi a Clssica e Comdia
de Ca racteres 344
1'111
1
!
Prefcio
Numa das tradicionais cenas da Commc-
dia dcll 'arte, um bufo aparece em cen a e ten-
ta vender uma casa, el ogi ando- a grandemente,
descrevend o-a com brilho e. par a provar seu
ponto de vista. apresenta uma nica pedra da
con struo.
Da mesma forma, falar do teatro do mundo
apresentar uma ni ca pedr a c esperar que o
leitor visualize a estrutura total a partir dela . O
sucesso de uma tentati va como essa depende da
capacidade de persuadir do buf o, da fora ex-
pressiva da pedra e da imaginao do leitor.
Escrever um livr o sobre o teatro do mun-
do uma tarefa ousada. O es for o par a desc o-
brir , dent ro do panorama het crognco, os den o-
minadores comuns que caracterizam o fenme-
no do "t eatro' atravs do s tempos represent a
um grande desafio. A estrutura necessariamen-
te restrita de um estudo co mo esse impe
seletividade, omisses. co nc iso , col ocando
assim fat ores subj etivos em jogo. A prpria
natureza ntima do assunto torn a a obj ctivida-
de difcil. Os problemas surgem to logo fei-
ta uma tentativa de se ir alm do que pur a-
mente fatual e apreender os traos que ca rac-
terizam uma poca. Contudo, preci samente
nesse ponto que a fascinao pel o processo ar-
tsti co do teat ro come a: o leitor ento co lo-
cado face a face com a ex ig ncia no expressa
de pross eguir, por co nta prpria. nos assunt os
merament e tocados.
O mi stri o do teatro resid e num a aparen-
te contradio. Co mo um a vel a, o teatro co n-
some a si mesmo no prprio at o de criar a luz.
Enquanto um quadro ou esttua po ssuem exis-
tn ci a concreta uma vez terminado o ato de
sua criao . um espe t culo teatral que termina
desaparece imediatament e no passado.
Embora o teatro no sej a um museu. as
mltiplas formas co nte mporneas de teatro
cons tituem algo como um /11/1."" ,. inmginai re:
um musce irnag jnai rc ca pa z de se r trans-
formado em exp erinci a imediata. Todas as
noites ofe recem-se ao homem moderno dra-
mas, e nce na es e mt odos de d ire o que
foram de sen vol vidos ao lon go dos sculos.
Esses element os so adap t ado s ao gosto
contemporneo: so estilizado s. obj etificados.
estilhaados, retrabalh ados. Diret or es e ato-
res recriam-nos: os aur or es reformulam tema s
tradi cionai s em adapta es modernas. Deter-
minados reformadores quase de stroem o tex-
to de ce rtas peas, int roduzindo efeito s agres-
sivos e criando o teatro talai . improvi sado.
Um esfor o bem- suc ed ido e nfeitia o es pec-
tador, cria resistncia, provoca di scu sses e
faz pen sar.
Nenhuma forma teat ral , nenhum antiteatro
to novo que no tenh a analogia no pa ssado.
O teatro como provocador') O teatro em cri se')
Nenhuma dessas qu est es ou problemas so
es pec ificame nte modern os: tod os surgiram no
pas sado. O teatro pul sa de vida e sempre foi
vulnervel s enfermidades da vid a, Mas no
h raz o para se preocu par. ou pa ra previ ses
como as de Cassandra. Enqua nto o teat ro for
comentado, combatido - e as ment es crt icas
tm feit o isso sempre - , guardar seu signi fi-
cado. Um teatro de no- controvrsia poderi a
ser um museu, uma instituio repet itiva, com-
Hst ri a Afull ri i a / do Tva t ro
pl acente. Mas um teatro que mo vimenta a
mente uma membrana sen svel, propensa
febr e, um organismo vivo. E assim que ele
deve ser.
o Teatro Primitivo
XII
o teat ro to velho quant o a humanida-
de. Ex istem formas primitivas desde os pri-
mrdi os do homem. A tran sf ormao numa
outra pessoa uma das formas arquetpicas da
expresso humana. O rai o de ao do teatr o,
portanto, inclui a pant omima de caa dos po-
vos da idade do gel o e as catego rias dramti-
cas diferenciadas dos tempos modernos.
O enc ant o mgi co do teatr o. num sentido
mais amplo, es t na ca pacidade inexaurvel de
apresentar-se aos olhos do pbl ico sem reve-
lar seu segredo pessoal. O xam que o port a-
voz do deu s, o danarino mascar ado que afas-
ta os demn ios. o atol' ljue traz a vid a obra
do poeta - todos obedecem ao mesmo co man-
do, que a conj urao de uma outra realida-
de, mai s verdadei ra. Convert er essa co nj ur a-
o em " teatro" pressupe duas co isa s: a ele -
vao do art ista aci ma das leis que governa m
a vida cotidi ana, sua transformao no media-
dor de um vislumbre mai s alto ; e a pr esena
de esp ectadores pr eparad os par a receber a
men sagem de sse vi slumbre.
Do ponto de vista da evoluo cult ural, a
difer ena ess e ncial entre formas de teatro pri-
mitivas e mais avan adas o nmero de aces-
sri os cnicos di sposio do ator par a ex-
pr essar sua mensagem. O arti sta de c ulturas
pr imi tivas e pr imevas arr anj a- se co m um cho -
ca lho de cahaa e uma pel e de anima l; a pera
barroca mohili za toda a par afern l ia c nica de
sua poca. lon esco des ordena o palc o co m ca-
deiras e faz uma proclamao surda-muda da
tri ste nulidade da incapacidade humana. O s-
culo XX pratica a art e da reduo. Qu alquer
coi sa alm de uma ges tualizao des amparada
ou um ponto de luz tende a parecer excessiva.
Os espet cul os so lo do mmi co Mar cel
Marceau so um exempl o soberbo do teatr o
atempor al. Fornece m-nos vislumbres de pes-
soa s de todos os tempos e lugar es, da dana e
do drama de cu lt ur as antigas, da pant omima
das cult uras altame nte desenvol vidas da s ia,
da mmi ca da An t igi dade , da Com media
del l'arte , Num trabalho intitulado "Juventu-
de, Maturidade. Velh ice, Mort e", alguns pou-
cos minutos tudo de que Marceau necessita
par a um retr at o em ali a velocidade da vida do
homem, e nel e atinge uma intensidade ava s-
saladora de expres sivida de dramti ca ele me n-
tar. Co mo o pr prio Mar cel di z, a pant omima
a "arte de identificar o homem co m a nature-
za e com os elementos prximos de ns" . Ele
continua, not ando que a mmi ca pode "criar a
iluso do tempo" , O c0 11'0do ator torn a-se um
instrument o qu e subs titui uma orques tra int ei -
ra, uma mod alid ade pa ra expres sar a mai s pes-
soa l e, ao me smo tempo, a mai s uni ver sal men -
sag em .
O artista qu e necessita apen as de seu cor-
po para evocar mundos intei ros e per corre a
escala co mpleta das emoes repr esent at ivo
da arte de expres so pr imitiva do teatro. O pr-
hi st rico e o moderno ma nifestam-se em sua
pessoa. Di scut indo o teatro das tribos primiti-
vas em seu livro Cenul ora, Oskar EberI e diz:
o teatro primitivo real arte incorporada na forma
humana C' abrangendo todas as possibilidades do corpo
informado pelo esprito: ele . simultaneamente. a mais
primitiva e a mais multiforme, e de qualquer maneira a
mais velha arte da humanidade. Por essa razo ainda a
mais humana, a mais comovente arte. Arte imortal.
Podemos aprender sobre o teatro primitivo
pesquisando trs fontes: astribos aborgines, que
tm pouco contato com o resto do mundo e cujo
estilo de vida e pantomimas mgicas devem por-
tanto ser prximos daquilo que ns presumimos
ser o estgio primordial da humanidade; as pin-
turas das cavernas pr-histricas e entalhes, em
rochas e ossos; e a inesgotvel riqueza de dan-
as rrmicas e costumes populares que sobrevi-
veram pelo mundo afora.
O teatro dos povos primitivos assenta-se
no amplo alicerce dos impulsos vitais, prim-
rios, retirando deles seus misteriosos poderes
de magia, conjurao, metamorfose ~ dos en-
cantamentos de caa dos nmades da Idade da
Pedra, das danas de fertilidade e colheita dos
primeiros lavradores dos campos, dos ritos de
iniciao, totemismo e xamanismo e dos vrios
cultos divinos.
A forma e o contedo da expresso tea-
tral so condicionados pelas necessidades da
vida e pelas concepes religiosas. Dessas con-
cepes um indivduo extrai as foras elemen-
tares que transformam o homem em um meio
capaz de transcender-se e a seus semelhantes.
O homem personificou os poderes da na-
tureza. Transformou o Sol e a Lua, o vento e o
mar em criaturas vivas que brigam, disputam
e lutam entre si e que podem ser influenciadas
a favorecer o homem por meio de sacrifcios,
oraes, cerimnias e danas.
No somente os festivais de Dioniso da
antiga Atenas, mas a Pr-histria, a histria da
2
Hssr a Mundial do Teatro.
religio, a etnologia c o folclore oferecem um
material abundante sobre danas rituais e fes-
tivais das mais diversas formas que carregam
em si as sementes do teatro. Mas o dcsenvol-
vimento e a harmonizao do drama c do tea-
tro demandam foras criativas que fomentem
seu crescimento; tambm necessria uma
auto-afirmao urbana por parte do indivduo,
junto a uma superestrutura metafsica. Sem-
pre que essas condies foram preenchidas
seguiu-se um florescimento do teatro. Quanto
ao teatro primitivo, o reverso do seu desen-
volvimento implica que a satisfao do vis-
lumbre superior, em cada estgio, era conquis-
tada s custas de alguma parte de sua fora
original.
fascinante traar esse desenvolvimento
pelas vrias regies do mundo c ver como,
quando e sob que auspcios ele se deu. H cla-
ra evidncia de que o processo sempre seguiu
o mesmo curso. Hoje est completo em quase
toda parte, c os resultados so contraditrios.
Nas poucas reas intocadas. onde as tribos
aborgines tm ainda de levar a cabo o proces-
so, a civilizao moderna provoca saltos er-
rticos, mais do que um desenvolvimento equi-
librado.
Para o historiador de teatro, um estudo das
formas pr-histricas revela paralelos sin-
tieos que o seduzem a traar o desenvolvimento
da humanidade mediante o fenmeno do "tea-
tro". Conquanto nenhuma outra forma de arte
possa fazer essa reivindicao com mais pro-
priedade, tambm verdade que nenhuma
outra forma de arte to vulnervel contes-
tao dessa reivindicao.
A forma de arte comea com a epifania
do deus e, cm termos puramente utilitrios,
com o esforo humano para angariar o favore-
cimento e a ajuda do deus. Os ritos de fertili-
dade que hoje so comuns entre os ndios
Cherokees quando semeiam e colhem seu mi-
lho tm seu contraponto nas festividades da
corte japonesa, mmica c musicalmente mais
sofisticadas, em honra do arroz: assemelham-
se tambm ao antigo festival da espiga de tri-
1 Pintura na rocha na rea de Cogul. sul de Lrida,
Espanha: cena de dana ritual. Perodo Paleoltico, se
gundo H. Brcuil.
O Teatro Pr mt t ivo
2. Pintura de caverna no sul da l-rana: o "Feiticei-
ro" de Troi s Frrcs. Perodo Paleoltico. segundo H.
Breuil.
go dourada, celebrado anualmente em Elusis
pelas mulheres da Grcia.
Os mistrios de Elusis so um caso limi-
te significativo. So a expresso de urna fase
final altamente desenvolvida, que, embora po-
tencialmente teatral, no leva ao teatro. Corno
os ritos secretos de iniciao masculinos, eles
carecem do segundo componente do teatro -
os espectadores. O drama da Antigidade nas-
ceria da ampla arena do Teatro de Dioniso em
Atenas, totalmente it vista dos cidados reuni-
dos, no no crepsculo mstico do santurio
de Demter em Elusis.
O teatro primitivo utilizava acessrios
exteriores, exatamente como seu sucessor al-
tamente desenvolvido o faz. Mscaras e figu-
rinos, acessrios de conrra-regragern. cenrios
e orquestras eram comuns, embora na mais
simples forma concebvel. Os caadores da
Idade do Gelo que se reuniam na caverna de
Montespan em torno de urna figura esttica de
um urso estavam eles prprios mascarados
como ursos. Em um ritual alegrico-mgico,
matavam a imagem do urso para assegurar seu
sucesso na caada.
A dana do urso da Idade da Pedra nas
cavernas rochosas da Frana, em Montespan
ou Lascaux, tem seu paralelo nas festas do tro-
fu do urso da tribo Ainu do Japo pr-histri-
co. Em nossa prpria poca, encontrado en-
tre algumas tribos indgenas da J:mrica do
Norte e tambm nas florestas da Africa e da
Austrlia, por exemplo, nas danas do bfalo
dos ndios Mandan, nas danas corroborce aus-
tralianas e nos rituais pantommicos do can-
guru, do emu ou da foca de vrias tribos nati-
vas. Em cada nova verso e variadas roupagens
mitolgicas, o primitivo ritual de caa sobrevi-
ve na Europa Central; nas danas guerreiras ri-
tuais gennnicas, na dana da luta de Odin com
o lobo Fenris (como aparece na insgnia de
Torslunda do sculo VI), e em todas as personi-
ficaes da "caada selvagem" da baixa Idade
Mdia, indo desde o niesnie Hcllequin francs
ao Arlecchino da Commedia dcll 'arte.
Existe uma estreita correlao entre a m-
gica que antecede a caada ~ onde a presa
simbolicamente morta - ou o subseqente rito
de expiao e as prticas dos xams. Medita-
o, drogas, dana, msica e rudos ensurde-
cedores causam o estado de transe no qual o
xam estabelece um dilogo com deuses e de-
mnios. Seu contato visionrio com o outro
mundo lhe confere poder "mgico" para cu-
rar doenas, fazer chover, destruir o inimigo
e fazer nascer o amor. Essa convico do
xam, de que ele pode fazer com que os esp-
ritos venham em seu auxlio induzem-no a
jogar com eles.
Alm do transe. o xam utiliza-se de todo tipo de
meios de representao artsticos: ele freqcnlclIlente
muito mais um artista, e deve ter sido ainda mais em tem-
pos ancestrais (Andreas Lommel).
As razes do xamanismo como uma
"tcnica" psicolgica particular das culturas
caadoras podem ser remontadas ao perodo
Magdaleniano no sul da Frana, ou seja, apro-
ximadamente entre 15.000 e 800 a.c., e por-
tanto aos exemplos de pantomimas de magia
de caa retratadas nas pinturas em cavernas.
Concebido e representado em termos
zoomrficos, o panteo de espritos das civili-
zaes da caa sobrevive na mscara: naquela
do "esprito mensageiro" em forma de animal,
no toternismo e nas mscaras de demnios-bes-
tas dos povos da sia Central e Setentrional, e
3
das tribos da Indonsia, Micronsia e Polinsia,
dos Lapps e dos ndios norte-americanos.
Aquele que usa a mscara perde a identi-
dade. Ele est preso - literalmente "possudo"
- pelo esprito daquilo que personifica, e os
espectadores participam dessa transfigurao.
O danarino javans do Djaram-kpang, que
usa a mscara de um cavalo e pula de forma
grotesca, cavalgando uma vara de bambu,
alimentado com palha.
Aromas inebriantes e ritmos estimulan-
tes reforam os efeitos do teatro primitivo, uma
arte em que tanto aquele que atua como os
espectadores escapam de dentro de si mesmos.
Oskar Eberle escreve: "O teatro primitivo
uma grande pera". Uma grande pera ao ar
livre, deveramos acrescentar, que em muitos
casos intensificada pela cena noturna irreal,
na qual a luz das fogueiras bruxuleia nos ros-
tos dos "dernnios" danarinos. O palco do
teatro primitivo uma rea aberta de terra
batida. Seus equipamentos de palco podem in-
cluir um totem fixo no centro, um feixe de lan-
as espetadas no cho, um animal abatido, um
monte de trigo, milho, arroz ou cana-de-acar.
Da mesma forma, as nove mulheres da
pintura rupestre paleoltica de Cogul danam
em torno da figura de um homem; ou o povo
de Israel danava em torno de bezerro de ouro;
ou os ndios mexicanos faziam sacrifcios, jo-
gos e danavam, invocando seus deuses: ou,
atualmente, os danarinos totrnicos australia-
nos se renem quando o esprito ancestral faz
sentir sua presena (quando soam os mugidos
do touro). Assim, tambm, vestgios do teatro
primitivo sobrevivem nos costumes populares,
na dana em volta do mastro de maio ou da
fogueira de So Joo. assim que o teatro oci-
dental comeou, nas danas do templo de
Dioniso aos ps da Acrpole.
Alm da dana coral e do teatro de arena,
o teatro primitivo tambm fez Uso de procis-
ses para suas celebraes rituais de magia.
As visitas dos deuses egpcios envolviam cor-
tejos - os sacerdotes que realizavam o sacrif-
cio guiavam procisses que incluam cantores,
bailarinas e msicos; a esttua de Osrisera trans-
portada a Abidos numa barca. Os xiitas persas
comeavam a representao da paixo de
Hussein com procisses de exorcismo. Todos os
anos, em maro , os ndios Hopi da Amrica do
4
H s t ri ct M'u n d iu l d o Teatro.
Norte realizam sua dana da Grande Serpente
numa procisso cuidadosamente organizada de
acordo com modelo determinado. Com troncos
e galhos constroem seis ou sete sales cerimo-
niais (kivass para as fases distintas da dana. Exis-
te at mesmo um "diretor de iluminao", que
apaga a pilha de lenha ardente cm cada kiva to
logo a procisso de danarinos passa.
Diversas cerimnias msticas e magicas
esto envolvidas nos ritos de iniciao de mui-
tos povos primitivos, nos costumes que "ro-
deiam" a entrada da criana no convvio dos
adultos. Mscaras ancestrais so usadas numa
pea com mmica. Em sua primeira participa-
o no cerimonial, o nefito aprende o signifi-
cado das mscaras, dos costumes, dos textos
rituais e dos instrumentos musicais. Contam-
lhe que negligenciar o mais nfimo detalhe
pode trazer incalculveis desgraas tribo in-
teira. Na ilha de Gaua, nas Novas Hbridas, os
ancios assistem criticamente primeira dan-
a dos jovens iniciados. Se um deles comete
um erro, punido com uma flechada.
Por outro lado, em todos os lugares e po-
cas o teatro incorporou tanto a bufonaria gro-
tesca quanto a severidade ritual. Podemos en-
contrar elementos farsescos nas formas mais
primitivas. Danas e pantomimas de animais
possuem urna tendncia a priori para o gro-
tesco. No momento em que o n do culto afrou-
xa, o instinto da mmica passa a provocar o
riso. Situaes e material so tirados da vida
cotidiana. Quando o buscador de mel na pea
homnima das Filipinas se mete nos mais va-
riados infortnios, recompensado com gar-
galhadas to persistentes quanto o so, tam-
bm, os atores da pantomima parodstica "O
Encontro com o Homem Branco", no bosque
australiano. O nativo pinta seu rosto de ocre
brilhante, pe um chapu de palha amarelo,
enrola juncos ao redor das pernas - e a ima-
gem do colono branco, calado com polainas,
est completa. O traje d a chave para a im-
provisao - uma remota, mas talvez nem tan-
to, pr-figurao da Commcdiu deli 'arte.
medida que as sociedades tribais torna-
vam-se cada vez mais organizadas, uma esp-
cie de atuao profissional desenvolveu-se
entre vrias sociedades primitivas. Entre os
Areoi da Polinsia c os nativos da Nova
Pomernia, existiam troupes itinerantes que
3. Pintura na parede de um tmulo tebano: jovens musicistas com
charamela dupla. alade longo e harpa. Da poca de Amenhotep II, c.
1430 a.c.
4. Danarino - "pssaro" maia. com chocalho e estandarte. Pintura
na parede do templo de Bonarnpak. Mxico, c. 800 d.e.
Egito e Antigo Oriente
viajavam de aldeia em aldeia e de ilha em ilha.
O teatro, enquanto compensao para a rotin a
da vida , pode ser encontrado onde quer que as
pessoas se renam na esperana da magia que
as tran sport ar para uma realidade mai s eleva -
da. Isso verdade independentemente de a ma-
gia aco ntec er num pedao de terr a nua, numa
cabana de bambu , numa plataforma ou num
modern o pal cio rnultimdia de concreto e vi-
dro . verdade, mesmo se o efeit o final for de
uma desiluso brut al.
A mscara mais altiva e a mais impressio-
nant e pompa no podem sal var o Imperador
Jones, de O'Neill , do pesadelo da autodestrui-
o . Os antigos poderes xarnnicos es magam-
no numa lgebr e noite de luar ao som de tam-
bores africanos. Nesta pea expressi oni st a,
O'Neill exa lta os "pequenos medos sem forma",
transformando-os no ameaador frenesi do cu-
randei ro do Congo, cujo chocalho de osso s mar-
ca o tempo par a o ribombar selvagem dos tam-
bores. Um eco estridente de ritos primitivos de
. (;
Hi st r i a M und a l d o Teu t ru
sacrifcio ronda o palco do sculo XX. Como
se aflorasse do tron co da rvore, o curande iro,
de acordo com as instru es de O' Neill, bat e os
ps e inicia uma ca no montona.
Gradual men te sua da na S ~ transforma numa nar-
rativa de pantomi ma. sua can o umencantamen to. uma
frmula mgica pa ra apazi guar a fri a de alguma divin-
dade que exige sacr ifcio . Ele escapa. est possudo pnr
demnios, ele S ~ esconde... salta para a margem do rio.
Ele estira os braos e chama por algum Deus dentro ele
sua prof undeza. Ento. co mea a recuar vagarosamente,
com os braos ai nda para [ 0 1";1. A cabea enorme de um
crocodilo aparece na margem . e seus olhos verd es c bri-
lhantes fixam-se so bre Jorres.
Numa montagem de 1933, o ce ngrafo
america no lo Mi el zin er utili zou uma enorme
cabe a de Olmeca par a o primitivo altar de
pedra requerido pelo text o. Figurinos africa-
nos, caribenhos e pr-col ombi anos combi-
nam-se num pesadelo do passado, O teatro
primitivo ressurge e age sobr e nossos medos
exi stenciais modernos.
INTRODUO
A histria do Egi to e do Antigo Oriente
Prximo nos proporci on a o regi stro dos povos
que , nos trs mil ni os anteriores a Cristo, lan-
aram as bases da civilizao oci de ntal. Eram
povos atuante s nas regies qu e iam desde o
rio Nilo aos rios Ti gre e Eufrates e ao planalt o
irani ano, desde o B sfor o at o Go lfo Prsi co.
Nesta criativa poca da humanidade, o Egito
instituiu as artes pl sti cas, a Mesopot mia, a
cincia e Israel, uma religi o mundi al.
A leste e a oes te do mar Ver melho, o rei-
deus do Egit o era o ni co e todo-poderoso le-
gislador, a mai s alta autoridade e j uiz na terr a.
A el e rendiam-se homen agens em mltiplas
formas de msica , dana e di logo dramtico.
Nas celebraes dos festi vai s, em glorificao
vida neste mundo ou no al m -mundo. era
ele a figura central. e no se economizava pom-
pa no que concernia sua pessoa. Esta era a
posio dos dinast as do Eg ito. dos grandes le-
gisladores sumr ios , dos imperadore s do s
acdios, dos rei s-deuses de UI', dos governantes
do imprio hitit a e tambm dos rei s da Sria e
da Palestina.
No Egito e por todo o anti go Oriente Pr-
ximo, a religi o e mist ri os, lodo pensamento
e ao eram det erminados pel a realeza, o ni-
co princpi o orde nador. Alexandre, sabiamen-
te respeitoso. submeteu-se a ela em seu triun-
fant e progresso. Visitou o t mulo de Ciro e lhe
prestou homenagem, da mesma forma que o
prpri o Ciro havia prestado homenagen s nas
tumbas dos grandes reis da Babilnia.
Dura nte muitos sculos, as font es das
qu ai s emergi u a imagem do antigo Ori ent e
Pr ximo estivera m limitadas a al gun s poucos
document os: o Antigo Testament o, que fala da
sabedor ia e da vida luxuosa do Egito, e das
narrati vas de alguns escritor es da Antigida-
de, que culpavam uns aos outros por sua "orien-
tao not avelmente pobre". Me smo Her dot o,
o "pai da hist ria" , que vi sito u o Eg ito e a
Mesopot mia no sc ulo V a.C; fre q ente-
mente vago. Seu silncio sobre os "j ard ins
suspe nsos de Semrumis" diminui o nosso co-
nheciment o de uma das Sete Maravilhas do
mundo, e o fato de o pavilh o do fes tiva l do
An o Novo de Nabucodonosor permanecer des-
conhec ido para ele pri va os pesqui sad ores do
teat ro de valiosas chaves.
Nesse mei o tempo, arquel ogos escava-
ram as runa s de vast os pal ci os, de edifcios
encrustado s de mosaicos para o fest ival do Ano
Novo, e at mesmo cidades inteiras. Histori a-
dores da lei e da religio decifraram o enge-
nhoso cdigo das tabuinhas cuneiformes, que
tambm propor cionaram algumas indicaes
sobre os csperculos teatrais de anti gament e.
Sab emos do ritual mgico-mti co do
"ca sa me nto sagrado" dos mc sopot rni os e te-
mos fragmentos descobertos das disp uta s di-
vi nas dos s um rins: sorna s agora ca pazes de
recon strui r a orige m do di logo na dana
eg pci a de Halor c a organizao da pai xo
de Osr is em Abid os. Sa be mos que o mimo
e a far sa, tambm, tinham seu lugar reser va-
do. Havia o ano do far a, que lanava seus
trocadilhos diant e do trono e tambm repr c-
sentava o deus/ gnomo Bes nas cerimnias
reli giosas. Havia os ate res mascarados que
divertiam as cort es principescas do Ori ente
Prximo antigo, parodiando os generais ini-
mi gos e, mais tarde, na poca do crepsculo
dos deu ses, zomb avam at mesmo dos seres
sobrenaturais.
Ao lado dos textos que sobrevivem, as
artes plsticas nos fornece m algumas evidn-
ci as - que devem, entr et anto , ser interpretadas
com cuidado - a respeito das origens do tea-
tro. As "mscaras" orna mentais do pal cio
ptr io em Hatra, as mscara s grotescas nas
casas dos colonos fencios em Tharr os ou as
representaes das cabeas dos inimigos der-
rotados, pendend o de broches dourados e com
relevos de pedra - tudo isso d testemunho de
concepes intimamente relaci onadas: o po-
der primiti vo da mscara continua a exercer
seu efeito mesmo quando ela se torna decora-
tiva. Os motivos das mscaras antigas - a des-
peito de algumas interpretaes contraditrias
- no impedem, fundame ntal ment e, especu-
laes a respeito de conexes teatrais, mas mais
necessariament e per manecem como suposi-
es no enigmtico panor ama do terceiro mi-
lnio a.C.
H sr r a Mn n d a l do Teat ro
o solo pobre e castigado pelo sol do Egi-
to e do Or iente Prximo, irrigado errati camente
por seus rios, assistiu asce nso e queda de
muit as civilizaes, Conheceu o poder dos
faras e testemunhou as invocaes do culto
de Marduk e Mitra. Tremeu sob a mar cha pe-
sada dos arqueiros assri os cm suas procisses
cerimoniais e sob os ps dos guerreiros mace-
dni os. Viu a prince sa aquernnida Roxana,
adornada com os trajes nupciai s e escoltada
por trinta jovens danar inas, ao lado de Ale- .
xa ndre, e ouviu os tambores, flautas e sinos
dos msicos partas e sassnidas, Suportou os
mastr os de madeira que prendi am as cordas
par a os acrobatas e danari nos, e silenciou so-
bre as artes praticadas pela heter a quando o
rei a convocava para danar em seus aposen-
tos ntimos.
EGI TO
Na histria da humanidade , nada deu ori-
gem a monumentos mais duradouros do que a
demonstrao da transitoriedade do homem -
o culto aos mortos. Ele est manifestado tant o
nos tmulos pr-histricos como nas pirmi-
des e cmaras morturias do Egit o. Os msi-
cos e danar inas, banquetes e proci sses e as
ofere ndas sacrificiais retratados nos mur ais dos
templ os dedicado s aos mortos testemunham a
I. Dana dramtica de Hathor. Pintura 11;1 tumba de Intef. cm Te bas. Terceiro mit nio a.C .
8
2. Estandarte-mosaico cm UI': banquete da vitria com cantores e harpistas, provavelmente uma sequ ncia de cenas
das "Npcias Sagradas" , Figuras de conchas c fragmento s de calcrio, cm fundo de lapis-l uzli. c. 2700 a.C. (Londres.
British Museum).
3. Msca ras no palcio de Hat ra, na plancie da Me-
sopotmia setentrional. Hatra foi fundada pelos panas, cuj o
ltimo rei. Art abano. o Ars cida, foi derrotado cm 126
d.e. pelo sass nidu Anaxcrxcs.
I:' X ; IO " Anr i g o t rr i vn t c
6. Dana cxt tica acro btica. Pintura no tmulo de Ankhr uahor, em Sakkara. Tercei ro rnilnio a.C.
~ . Relevo em calcrio da tumba de Patenemhab: cena com um sacerdot e oferecendo sacrifcio. um harpista cego. um
tocador de alade e doi s flautistas. L 1350 a.C. (Lciden, Rijksmuseum).
5. Jovens musicistas c danarinas. Pintura cm parede de Shckh abd el Kurna, Tebas. 1WDinasti a. c. 1400 a.C. (Lon-
dres, Briti sh Museum).
preocupao dos egpcios com um alm- mun-
do onde nenhu m praze r terreno poder ia faltar.
Ao poderoso pedido aos deuses, expresso
nas ima gens pintadas e es cul pidas, adiciona-
va- se a magia da palavra: invocaes a R, o
deu s do paraso, ou a Osri s, o se nho r dos
mort os, suplicando para qu e aqu ele que parti a
fosse recebido em seus reinos e que os deuses
o el evassem como seu semelhante.
A forma dialogada dessas inscries se-
pulcrais, os assim cha mados text os das pir-
mides, deu origem a exc itantes especulaes.
Permitiri am-nos OS hi erglifos de ci nco mil
anos , co m seus fasc inantes pi ct ograma s, fazer
infe rncias a respeito do est ado do teatro no
Egi to antigo? A que sto foi respondida afir-
ma tivamente desde que o bril hante egi ptolo-
gi sta Gast on Musper o. em I Xl::2 , chamou a
ateno para o ca rter "dranuirico" dos text os
das pirmides. Parece ce rto que as rec itaes
nas cerimni as de coroao e j ubil eus (Heb
se ds ) eram express as em forma dram tica.
Mesmo a apresenta o da deu sa sis, pronun-
ci ando uma frmula mgica para pro teger seu
filhinho H rus dos efe itos fal ais da picada de
um escorpio. parece ter si do dr amat icament e
co nce bida.
Um encant ament o de ca rter di ferente foi
decifrado na esteja de Metterni ch (as sim cha-
mada por encontrar-se preser vada no Cas telo
de Mett erni ch na Bomia). um enca ntamen-
to popular simples, co rno os qu e as mes egp-
cias pronunciam at hoje quando seus filhos
so picados pelo escorpio: "Veneno de Tefen,
qu e se derrame no cho, que no avance para
dentro dest e corpo...', Achados como esse e
insc ries de cantos funerai s e rec ita es no
nos do chaves para as art es teatrais do Egito,
mas, ao con trrio , levam a alguma co nfuso.
A mi stura entre a apresenta o na primei-
ra pessoa e a forma invocat iva em tra dues
antigas sugeriram, enganosa mente, um suposto
"dilogo" , de forma nenhuma endossado pe-
las pesqui sas mais recentes. Alm disso, s
ofe rendas sacerdotais e aos apel os aos deu ses
nas c ma ras morturias falta o co mponente de-
cisivo do teatro: seu indi spens vel parceiro
cr iativo, o p blico.
El e exis te nas dana s dram ticas ce rimo -
niai s, nas lament aes e choros pantommieos,
e nas apresentaes dos mistrios de Os ris em
Ab idos, que so rerniniscentes da pea de pai-
xo . Todos os anos , dezenas de milh ar es de
peregrin os viajava m a Abidos, para pa rt icipar
dos grandes festivai s rel igio sos. Aqu i ac redi-
tuva- se est ar enterrada a cabea de Osris ;
Abidos era a Meca dos egpci os. No mis trio
do de us qu e se tornou homem - sobre a entra-
da da emoo humana no rein o do sobre natu-
ral, ou a descida do deus s regies de so fri-
ment o terreno - exi ste o contl ito dr amt ico e,
assi m, a raiz do teat ro.
Osris o mais humano de todos os deuses
no panteo egpcio. A lenda final mente trans-
formou o deus da fertilidade num ser de carne e
osso. Co mo o Cristo dos mistri os medi evais,
Osris sofre traio e morte - um destino huma-
no. Depois de terminado II seu mart rio. as l-
gr imas e lament os dos pranteador es so sua
ju st ificati va di ante dos deuses. Osris ress usci-
ta e se toma II governador do rei no dos monos.
Os es t gios do des tino de Osris conxri-
ruem as estaes do grande mi st rio de Ahidos .
Os sacerdotes organizavam a p e ~ ' a e atuavam
nela. O clero percebi a quo vast as possibilida-
des de sugesto das massas o mist ri o oferecia.
Testemunho de sua perspiccia o fato de que,
mesmo com toda e cada vez mai or popularida-
de do culto a Osfris, com os cresce ntes recursos
das fund a es principescas e com a riqueza de
suas tumbas e capelas. contin uavam a levar em
conta o homem do povo. Qu alquer um que
0 /1
7. Rele vo em calcrio de Sakkera: esque rda, jovens danando e toc ando msica; direita, homen s caminhando com
braos erguidos, 19' Oinaslia. c. 1300 a.c. (Cairo, !'>t usell).
8. Ostracon (fragmentos de ce rmica) comcena de UI11<..t proci sso eg pcia: a barca de Amon. carreg ada por sacerdotes,
c. 1200 a.C.';encontrada em Der cl -Mcdfnc (Berlim, Staatlichc Mus cen) .
I
i
I
I
Eg i rn e An ti go ri e n t c
dei xasse uma pedra ou estela memori al em
Abid os poderi a est ar seguro das bnos de
Osris e de que, aps a morte, participaria, "trans-
figurado", das cerimnias sagradas e dos ritos
no templ o, co m sua famlia, exatamente co mo
havi a feito em vida .
Existe uma estet a de pedra, do ofi cial da
corte Ikhern ofr et , que viveu durant e o reinado
de Sesstris III , na poca da dcima segunda
dinastia . A estela traz gravadas as tarefas de
seu dona trio, Ikh ern ofret , conce rne ntes ao
templ o em Abidos. A parte superior da ped ra
comemorativa fal a da obra de restaurao e
reforma do templo, levada a cabo por Ikherno-
fret ; a part e de bai xo (linha s 17-23) refer em-
se celeb rao dos mistrios de Osris. No
possvel saber, a partir da inscrio, se as fases
distintas do mistrio, retratando a vida, a mor -
te e a ressurei o do deus, eram encenadas em
suces so imedi ata, a interval os de dia s, ou at
mesmo de semanas. Heinrich Schfer, o pri -
mei ro a interpre tar os hierglifos da pe dra,
conj ectu rou que os mistrios de Osris "s e es-
tendi am dura nte uma parte do ano reli gioso,
como os nossos prprios festivais, indo desde
o perodo do Adve nto at o Penteco stes, co ns-
tituindo um gra nde drama ".
A pedra, entretanto, esclarece as princi -
pai s caracter sticas dos mistrios de Osris na
poca do Mdio Imprio (2000- 1700 a.C.). O
relat o co mea com as palavras: "E u organi zei
a partida de Wepwawet quando el e foi resga-
tar seu pai" . Parec e claro, port ant o, que o deus
Wepwawet , na forma de um chaca l, abria as
cer imnias. Imedi atament e aps a figura de
Wepwawe t "apar eci a o deus Os ris, em tod a a
sua maj esta de, e cm seguida a e le, os nove
deu ses de se u squito. Wepwawet ia na fren -
te, clareando o caminho para ele..." . Em triun-
fo, Os ris navega em seu navio, a bar ca de
Neschmet , acompanhad o dos parti cipantes das
cerim nias dos mi stri os. So os seus co mpa-
nhei ros de ar mas em sua luta contra seu ini-
migo Set .
Se devemos conceber o navio de Osris
como harca carr ega da por terr a, ento pr esu-
mivelment e os guerreiros marchavam ao lon -
go dela. Se a jornada era repr esent ada num
barco real sobre o Nilo, um nmero de pes-
soas privilegi adas subiriam a bordo para "lu-
tar" ao lado de Os ris. lkhernofret , alto oficia l
do governo e favorito do rei, sem dvida esta-
va entre esses privilegi ados, porque lemos em
sua inscrio: "Repudiei aqueles que se rebe-
laram contra a barca Neschme t e combati os
inimigos de Os ris".
Aps est e preldi o, seguia-se a "grande
partida" do deus, terminando com sua mort e.
A cena da mort e provavelment e no acontecia
s vistas do pbli co comum, como a crucifixo
no Glgota, mas em segredo. Porm, todos os
part icipante s uniam- se em alta voz s lamen-
raes da esposa de Osris, sis. Herdoto con-
ta, a respeito da cerimnia de Osris em Busris,
que "muitas deze nas de milhares de pessoas
erguiam suas voze s em lament os"; emAbid os,
deveria haver muit as mais.
Na cena seguinte, II deus Tot chega num
navio para buscar o cadver. Ento so feitos os
preparati vos para o enterro. Morto, Osris en-
terrado em Peker, a pouco mais de um quil -
metro de distnci a do templ o de Osris, contra
o pano de fundo da larga plancie em forma de
crescente de Abidos. Numa grande batalha, os
inimigos de Os ris so mort os por seu filho
Hrus, agora um j ovem. Osris, erguido para
uma nova existncia no reino da morte, reentra
no templo como o govern ador dos mort os.
Nada se conhece sobre a parte final dos
mist rios, que aconte cia entre "iniciados", na
part e intern a do templ o de Abidos. Como os
mistrios de Elusis, esses ritos permaneceram
secretos para o pblico .
Os fes tivai s do c ulto a Osris tamb m
aconteciam nos grandes templos das cidades
de Busns. Heli poli s, Letpolis e Sais. O fes-
tival de Upuaur, deus dos mortos, em Siut, deve
ter tido um processo de procisso similar. Aqui.
tambm, a imagem ricamente coberta do deus
era acompanhada numa procisso solene at
seu tmul o.
A cerimnia do erguimenta da coluna de
Ded, instituda por Amenfis III e sempre ob-
ser vada solenemente nos aniversrios de co -
roao, possua tambm el ementos teatrai s
definidos. O tmulo de Kheriu f em Assas i
(Tebas) fornece uma representao grfica da
cena: Amen fi s e sua esposa esto sentados
em tronos no local do levantamento da colu -
na. Suas filhas, as deze sseis princesas, tocam
msica com chocalhos e sistros. enquanto seis
ca ntores louvam a Pt , II de us guardio do
13
Eg i t o e A n t i go Oriente
imprio. A parte inferior tio rel evo de Kheriuf
descreve a concluso da ceri m nia do festival:
participantes lutando co m ba stes, numa cena
simb lica de combate ritual , no qual os habi-
tantes da cidade tambm tomavam parte.
Herdoto, no segundo livro de sua hist-
ria, desc reve uma cerimnia simi lar, observada
em homenagem ao deus Ares , embora, a jul gar
pelo contexto, o deus em questo deva ter sido
Hrus. Essa observa o, conservada em Pa-
premi s, envolve tambm o combate ritual:
Em Paprernis, ce lebram-se sacri fcios co mo em
qualqu er lugar, mas qua ndo O sol comea a se pr, al-
guns sacerdotes ocupam-se da imagem do deu s; todos os
outr os sacerdotes. armad os com ba stes de madeira , fi-
cam port a do templo. Diante deles se coloca uma mul-
tido de home ns, mais de mil del es, tamb m armad os
co m bastes, que tenham algum va lo a cumprir. A ima-
ge m do deu s permanece num pequeno relicr io de madei-
ra adornado. e na vspera do festival , conforme dize m,
transportada para outro templ o. Os poucos sacerdotes que
ainda se oc upam da imagem colocam-na. j untamente com
o reli cri o, num carro com quatr o rodas e a levam para o
templo. Os outros sace rdotes. que permanecem porta.
impe dem-nos de entrar, mas os devotos lutam ao lado do
deus e atacam os adversrios. H uma luta feroz, onde
cabe as so que bradas e no so pou cos os que, acredito,
morre m em conseqncia dos fer imentos . Os eg pcios.
por m, negavam que: ocorres sem q uaisq uer mortes.
o fanatis mo ritual que essa cena sugere
recorda os ferimentos auto-infligidos das pe-
as xiitas de Hussein, na Pr sia, e os flagelantes
da Europa medieval.
Atravs das pocas do esplendor e declnio
dos faras, o egpcio permaneceu um vassalo
dcil. Aceitou as leis impostas pelo rei e os
preceitos do seu sacerdcio co mo mandarnen-
tos dos deuses. Esse paciente apego tradio
sufocou as se me ntes do drama. Par a um
floresciment o das artes dramti cas teria sido
necessrio o desenvolvimento de um indi v-
duo livr ement e responsvel que tivesse parti -
cipao na vida da comunidade, tal como en-
coraj ado na democrt ica Atenas . O cidado
da po lis grega, que possua voz em seu gover-
no, possua tambm a possibilidade de um con-
fronto pessoal com o Estado, co m a histri a,
com os de uses.
Falt ava ao egpcio o impu lso para a rebe-
lio; no conhecia o conflito entre a vontade
do homem e a vont ade dos deuses, de onde
brota a semente do drama. E, por isso, no anti-
go Egito, a dana, a msica e as origens do
teat ro per manece ram amarradas s tradies
do ceri monial religioso e da corte. Por mais de
trs mi l anos as artes plsticas do Egit o flores-
ceram, mas o pleno poder do drama j amais foi
despert ado. (O teatro de sombras, que surgiu
no Egito durant e o sculo XII d.e., pro porc io-
nou estmulos para a represe ntao de lendas
populares e eventos histricos. Sua forma e tc-
nica for am inspiradas pelo Ori ente. )
Foi es ta compulso herd ada para a obe-
dincia que finalment e subj ugou Sinuhe, um
oficia l do governo de Ses stri s I que ousara
fugi r para o Orient e Prximo. "Uma proci s-
so funer al ser organizada para ti no dia do
tCII enterro", o fara o informou: "o cu estar
sobre ti quando fores colocado sobre o esquife
e os bois te levarem, e os cantores iro tua
frente quando a dana /lUlU for executada em
teu tmulo..." . Sinuhe regres sou. A lei que ha-
via governado o desempenho do seu ofcio foi
9. Cena dram tica do mito de Hdrus: o deus-falco Hrus . ret ratado na barca, como vitor ioso sobre se u irmo
SeI. Relevo em calcrio em Edfu. poca dos Ptolomeu.'> , c. 200 a.C.
lO. Bonecos de teatr o de sombras egpcio do sculo XIV a.C. (Offenbac h aIO Main, Deut sches Ledermuseum).
15
Histria MUI/dia! do Teatro.
Egito e Antigo Ori cn t c
de dos pretensos bons conselhos e a relativi-
dade das decises "bem consideradas". Recen-
temente, mais exemplos do teatro secular da
Mesopotmia vieram luz. O erudito alemo
Hartmut Schmkel, por exemplo, interpretou
a assim chamada Carta de um Deus como uma
brincadeira de um escriba, um outro texto que
soava como religioso como um tipo de stira e
um poema herico como uma pardia grotesca.
As disputas divinas dos sumrios possuem
um definitivamente teatral. At agora
foram descobertos sete dilogos desse tipo. To-
dos eles foram compostos durante o perodo em
que a imagem dos deuses sumrios tomou-se
humanizada, no tanto em sua aparncia exter-
na quanto em suas supostas emoes. Este cri-
trio crucial numa civilizao: a bifurcao
na estrada de onde se ramifica o caminho para
o teatro - pois o drama se desenvolve a partir
do conflito simbolizado na idia dos deuses
transposta para a psicologia humana.
Em forma e contedo, os dilogos sum-
rios consistem na apresentao de cada perso-
nagem, a seu turno, exaltando seus prprios
mritos e subestimando os do outro.
Em um dos dilogos, a deusa do trigo,
Aschnan, e seu irmo, o deus pastor Lahar, dis-
cutem a respeito de qual dos dois mais til
humanidade. Em outro, o abrasador vero da
Mesopotmia tenta sobrepujar o brando inver-
no da Babilnia. Num terceiro, o deus Enki bri-
ga com a deusa me Ninmah, mas mostra ser
um salvador no grande tema fundamental da
mitologia, o retorno Num quarto di-
logo, Inana, a deusa da fertilidade, banida para
o mundo das sombras, poder retornar terra
se puder encontrar um substituto. Ela escolhe
para este propsito o seu amor, o pastor real
Dumuzi, que assim apontado prncipe do in-
ferno. Com a lenda de Inana e Dumuzi, o ciclo
se encerra e termina no "casamento sagrado".
Inana e Dumuzi so o par sagrado original,
Mesmo os sacerdotes mais bem instru-
dos do perodo no eram capazes de fazer um
conspecto do vasto panteo do antigo Oriente,
com seus inumerveis deuses principais e sub-
sidirios das muitas cidades-Estado separadas.
As relaes mitolgicas so muito mais com-
17
mais forte que a rebelio: o poder da tradio
esmagou a vontade do indivduo.
Assim no h indcio, e na verdade contra qual-
quer probabilidade. que desde esse ponto pudesse seguir-
se lima trilha mesmo aproximadamente parecida com
aquela que , na Hlade, a partir de uma origem similar na
religio, levou ao desenvolvimento da tragdia tica. Para
chegar a isso, o primeiro degrau precisaria ter sido uma
extenso do mito de modo que contivesse o homem e,
depois. um modo particular de ser humano; nenhuma das
duas coisas foi encontrada no Egito (5. Morenz),
MESOPOTMIA
No segundo milnio a.C.; enquanto os fiis
do Egito faziam peregrinaes a Abidos e as-
seguravam-se das graas divinas erigindo mo-
numentos comemorativos, o povo da Meso-
potmia descobria que o perfil de seus deuses
severos e despticos estava ficando mais sua-
ve. Os homens comeavam a creditar a eles
justia e a si mesmos, a capacidade de obter a
benevolncia dos deuses. Estes estavam des-
cendo terra, tornando-se participantes dos ri-
tuais. E, com a descida dos deuses, vem o co-
meo do teatro.
Um dos mais antigos mistrios da Meso-
potmia baseado na lenda ritual do "matri-
mnio sagrado" - a unio do deus ao homem.
Nos templos da Sumria, pantomima, encan-
tamento e msica converteram a tradicional
representao do banquete para o par divino e
humano num grande drama religioso. Os
governantes de Ur e Isin fizeram derivar sua
realeza divina deste "casamento sagrado", que
o rei e a rainha (ou uma gr sacerdotisa dele-
gada por comando divino) solenizavam aps
um banquete ritual simblico.
De acordo Com pesquisas recentes, o fa-
moso estandarte-mosaico de Ur, do terceiro
milnio a.C,, uma das mais antigas repre-
sentaes do "casamento sagrado". Essa mag-
nfica obra, com suas figuras compostas por
fragmentos de conchas e calcrio incrustados
num fundo de lpis-lazli, data de aproxima-
damente 2700 a.c. e provavelmente foi parte
da caixa de ressonncia de algum instrumento
musical, mais do que um estand.u te de guerra,
Do segundo milnio em diante, o "casa-
mento sagrado" foi quase com certeza cele-
16
brado uma vez por ano nos maiores templos
do imprio sumeriano. Sacerdotes e sacerdo-
tisas faziam os papis de rei e rainha, do deus
e da deusa da cidade. No se sabe onde foi
traada a linha divisria entre o ritual e a reali-
dade, mas certo que o rei Hamurabi (1728-
1686 a.c.), o grande reformador da lei sume-
riana, riscou o festival do "casamento sagra-
do" do calendrio de sua corte. Hamurabi es-
tabeleceu um novo ideal de realeza: descreveu
a si mesmo como um "prncipe humilde, te-
mente aos deuses", como um "pastor do povo"
e "rei da justia". Hamurabi nomeou Marduk,
at ento o deus da cidade da Babilnia, deus
universal do imprio. Um dilogo surnrio, que
se acredita ter sido uma pea e intitulado A
Conversa de Hamurabi com uma Mulher, de-
votado ao criador do Cdigo de Hamurabi e
considerado pelos orientalistas um drama cor-
teso. Retrata a astcia feminina triunfando
sobre um homem brilhante, apaixonado, ain-
da que envergue os esplndidos trajes de um
rei. possvel que o dilogo tenha sido ence-
nado em alguma corte real rival, ou, aps a
morte de Harnurabi, at mesmo no palcio na
Babilnia. Outro famoso documento sumrio,
o poema pico cm forma de dilogo, Ennterkar
e o Senhor de Arata, pode tambm ter sido um
drama secular, apresentado na corte real do
perodo de lsin-Larsa.
certo que na Mesopotmia os msicos
da corte, tanto homens quanto mulheres, des-
frutavam dos favores especiais dos soberanos.
Nos templos, sacerdotes vocalistas, jovens can-
toras e instrumentistas de ambos os sexos exe-
curavam a msica ritual nas cerimnias e eram
tratados com grande respeito. Uma filha do
imperador acdio Naram-Sin referida como
"harpista da deusa lua". As artes plsticas da
Mesopotmia do testemunho da riqueza mu-
sical que exaltava "a majestade dos deuses"
nos grandes festivais. O fato de os artistas do
templo serem investidos de uma significao
mitolgica especial sugerido pelos musicistas
com cabeas de animais sempre vistos em re-
levos, selos cilndricos e mosaicos. Os meso-
potmios possuam um senso de humor desen-
volvido. Um dilogo acdio, intitulado O Mes-
tre e o Escravo, assemelha-se ao mimo e s
farsas atelanas, a Plauto e Conuncdia dell'ar-
te. Os trocadilhos do servo expem a vacuida-
... J 1J.
J I\. ',c. I..
1 /){-). Jo
,.J:, t
v s ,
b 11\/lrl\... D
plexas do que, por exemplo, aquelas existen-
tes entre os conceitos mitolgicos da Antigi-
dade e os do cristianismo primitivo.
No incio do sculo XX, o erudito Peter
Jensen procurou estabelecer uma conexo en-
tre Marduk e Cristo, mas no teve sucesso. A
assim chamada controvrsia Bblia-Babel fun-
damentou-se na suposta existncia de um dra-
ma ritual que celebrava a morte e a ressurrei-
o de Marduk. Porm, as ltimas pesquisas
provaram que a interpretao textual em que
se assentava esta suposio insustentvel.
No reino de Nabucodonosor, o famoso
festival do Ano Novo, em homenagem ao deus
da cidade da Babilnia, Marduk, era celebra-
do com pompa espetacular. O clmax da ceri-
mnia sacrificial de doze dias era a grande pro-
cisso, onde o cortejo colorido de Marduk era
seguido pelas muitas imagens cultuais dos
grandes templos do pas, simbolizando "uma
visita dos deuses", e pela longa fila de sacer-
dotes e fiis. Em pontos predeterminados no
caminho pavimentado de vermelho e branco
da procisso, at a sede do festival do Ano
Novo, a comitiva se detinha para as recitaes
do epos da Criao e para as pantomimas. Este
grande espetculo cerimonial homenageava os
deuses e o soberano, alm de assombrar e emo-
cionar o povo. "Era teatro no ambiente e no
garbo do culto religioso, e demonstra que os
antigos mesopotmios possuam, pelo menos,
um senso de poesia dramtica; preciso que
se faam pesquisas mais amplas sobre o cul-
to" (H. Schmkel).
Durante o terceiro e o segundo milnios
a.c., outras divindades do Oriente Prximo
foram homenageadas de forma semelhante em
Ur, Uruk e Nippur; em Assur, Dilbat e Harran;
em Mari, Umma e Lagash. Perspolis, a anti-
ga necrpole e cidade palaciana persa, foi fun-
dada especialmente para a celebrao do fes-
tival do Ano Novo. Aqui, no final do sculo VI
a.C., Dario ergueu o mais esplndido dos pal-
cios reais persas. E aqui Alexandre, sacrificou
a idia ocidental dc humanitas sua'ebriedade
com a vitria; aps a batalha de Arbela, dei -
xou que o palcio de Dario se consumisse nas
chamas.
j"' ,'\\ < ; Jo I!Y'\ 1\1'11\. {)
""," d, I:>
As Civilizaes Islmicas
INTRODUO
Nenhuma outra regio na terra experimen-
tou tantas metamorfoses polticas, espirituais
c intelectuais no curso da ascenso e queda de
imprios poderosos quanto o Oriente Prxi-
mo. Ele foi, alternadamente, o centro ou ponte
entre civilizaes, sementeira ou campo de
batalha de grandes cont1itos histricos. No ano
de 610, quando Maom, mercador a servio
da rica viva Khadija, recebeu a rcvclaao do
Isl no monte Hira, perto de Meca, alvoreceu
uma nova era para o Oriente Prximo.
A f comum do Isl trouxe pela primeira
vez aos povos do Oriente Prximo um senti-
mento de solidariedade. O Isl reformulou a
histria dos povos do Oriente Prximo. do
Norte da frica e at mesmo da Pennsula Ib-
rica. Talhou um novo estilo cultural. segundo
os precei tos do Alcoro.
O desenvolvimento do teatro e do drama
foi asfixiado sob a proibio maometana de
qualquer personificao de Deus, o que signifi-
cou o sufocamento dos antigos germes do dra-
ma no Oriente Prximo. Todavia, escavaes
de teatros greco-romanos, como por exemplo
cm Aspendus, mostram restauraes feitas na
poca dos seldjcidas - uma indicao de que
os seguidores do Isl reviveram c apreciaram o
circo e o combate de gladiadores. Evidencia-se
que eles preservaram e restauraram edifcios tea-
trais da Antiguidade. e que apresentaes como
essas devem ter sido toleradas.
A diviso do Isl entre sunitas e xiitas,
como resultado da controvertida sucesso de
Maom, deu origem tariv, forma persa de
paixo, uma das mais impressionantes mani-
festaes teatrais do mundo. A taziy nunca
viajou alm do Ir. No seguiu a marcha vito-
riosa do Isl atravs da costa do Norte da fri-
ca para a Espanha, nem se propagou atravs
de Anatlia, junto com as mesquitas e minare-
tcs, ao Bsforo e aos Blcs.
Contrariando os mandamentos do profe-
ta, entretanto, alm do Monte Ararat desen-
volveram-se tanto espetculos populares quan-
to de sombras, de tipo folclrico, baseados no
mimo. Mediante o uso dos heris-bonecos tur-
cos Karugz e Hadjeivat no teatro de sombras,
a proibio do Isl representao das ima-
gens de seres humanos era astuciosamente lu-
dibriada. Esses heris, corporificados em bo-
necos maravilhosos, eram feitos de couro de
camelo. Eram movimentados por meio de va-
ras e possuam buracos em suas articuluex
atravs dos quais a luz brilhava - quem pode-
ria acus-los de serem imagens de seres hu-
manos') Karagz c Hadjeivat aproveitavam o
privilgio para apimentar mais ainda suas pi-
lhrias e deixar suas sombras abrir descarada-
mente o caminho, atravs da tela de pano, para
o corao de seu pblico.
A paixo e a farsa, associadas em contra-
ditria unio nos mistcrios europeus, penna-
ncccram como irmos hostis sob a lei do Al-
coro. Todavia, ambas cncontruram seu c.uui-
nho para o corao das pessoas. Ambas torna-
ram-se teatro, encontrando uma platia entre
a gente comum.
PRSIA
Sir Lewis Pelly, que acompanhou a mis-
so diplomtica inglesa Prsia e foi a Resi-
dente (agente diplomtico) de 1862 a 1873,
no era dado a exageros. Entretanto, escreveu
a respeito da tariy que "se o sucesso de um
drama pode ser medido pelo efeito que pro-
duz sobre as pessoas para quem feito, ou so-
bre as platias diante das quais apresentado,
nenhuma pea jamais ultrapassou a tragdia
conhecida no mundo muulmano como a de
Hassan e Hussein". As apresentaes anuais
da taziye vieram a ser de duradouro interesse
para Pelly; graas ajuda de um antigo pro-
fessor e ponto dos atores, ele coletou 52 peas
e, em 1878, publicou 37 delas.
Oenredo da taziy composto de fatos his-
tricos adornados pela lenda. Quando Maom
morreu em 632, deixou um harm de doze es-
posas, mas nenhum filho. De acordo com um
pretenso testamento deixado pelo Profeta, a
sucesso passaria sua filha Ftima, esposa de
Ali. Acendeu-se uma disputa sangrenta entre
seus filhos Hassan e Hussein. Em 680, o im
Hussein recebeu dos habitantes de Kufa, na
Mesopotmia, que supostamente eram dedica-
dos a ele, um apelo para que se juntasse a eles e
assumisse, com sua ajuda, a liderana do Isl
como o legtimo sucessor do Profeta. Hussein,
acompanhado de sua famlia e de setenta segui-
dores, viajou para a Mesopotmia. Mas, em vez
da entronizao, ele recebeu a ordem de sub-
meter-se incondicionalmente ao califa Yazid e
renunciar a todos os seus direitos. Hussein ten-
tou resistir a esta traio; porm, privadode toda
a ajuda e sem acesso s guas do Eufrates, ele e
seus fiis seguidores pereceram na plancie de
Kerbela. Enfraquecidos pela sede, caram vti-
mas das tropas do califa Yazid. As mulheres fo-
ram levadas como prisioneiras. O nico sobre-
vivente do massacre de Kerbela foi o filho de
Hussein, Zain al-Abidin, reconhecido pelos
xiitas (emcontraste rejeio sunita sucesso
de Ftima-Ali) como o quarto im e sucessor
legtimo do profeta Maom.
20
Histria A1111ldiai do Tc at ro
Dramatizaes desse evento, muito enfei-
tadas por lendas, ainda so levadas no ltimo
dia do festival do Muharram. Elas duram do
meio-dia at bem tarde da noite, e constituem
o clmax e a finalizao de dez dias de procis-
ses religiosas (deste') iniciados ao alvorecer do
primeiro dia do ms maometano do Muharram.
Os fiis, vestidos de branco como os flage-
lantes da Europa medieval, seguem pelas ruas
com altos gritos de lamentaes. Dois dias an-
tes, no oitavo do festival, bonecos de palha, re-
presentando os cadveres dos mrtires de Ker-
bela, so deitados em esquifes de madeira e
carregados de um lado para outro entre lamen-
taes interminveis e extticas. Os homens
flagelam a si mesmos com os punhos e espe-
tam-se com espadas, fazendo sangrar o pr-
prio peito e cabea. Aqueles que valorizam a
prpria pele mais do que o fervor da f sem
dvida do um jeito com uma enganosa simu-
lao. Em 1812, o francs Ouscley, que viajou
atravs da Prsia, observou ambos - ferimentos
auto-infligidos por fanatismo genuno, e ou-
tros, pintados habilidosamente na pele.
Na manh do dcimo dia do Muharram.
os espectadores dirigem-se s pressas para o
ptio da mesquita ou para a tekie (monastrio),
onde um palco ao ar livre montado para a
tariye. Se chove, ou se o sol est muito quen-
te, estendido um toldo. O sekkon, platafor-
ma redonda ou quadrada, serve como palco.
Uma tina d'gua representa o Eufrates, uma
tenda, o acampamento em Kerbela, um esca-
belo os cus, de onde desce o anjo Gabriel.
Os intrpretes so amadores. Do o texto
a partir de um roteiro, embora a maior parte
seja representada em pantomima, enquanto um
sacerdote (moliah), que ao mesmo tempo
organizador e diretor, comenta a ao. Ele se
coloca num pdio, acima dos atores, e recita
tambm a introduo e os textos de conexo.
Papis femininos so executados por ho-
mens. Os figurinos so feitos de qualquer ma-
terial disponvel. Em 1860, quando a legao
da Prssia se encarregou de custear as despe-
sas da apresentao de uma taziye, foram for-
necidos uniformes e armas prussianos. Hoje,
o anjo pode perfeitamente descer do teto de
um indisfarado automvel c dirigir-se para o
palco, sem que os participantes fiquem pertur-
bados por tais anacronismos. O que importa
[
1. Bonecos turcos de teatro de sombras: o cantor Hasan ( esquerda), e os dois personagens principais Karagz e
Hadjeivat, aos quais incumbem as falas no dilogo tosco e grotesco (Offenbach am Main, Deutsches Ledermuseum e
coleo particular).
2. Grupo de figuras de teatro de sombras turcas. Aesquerda, cena de dilogo; direita, um comerciante atrs de seu
balco (Istambul, colco particular) .
. .. \ s C v zo cs Is l m i c a s
TURQUIA
Os mist rios persas so no menos mer ecedore s de
interesse do q ue a paixo de Oberammergcu. na Bavriria,
visitada po r tu ristas de todas as parles da Europa c da
Amrica. uma grande pena que. numa poca e m qu e as
ligaes ferrovirias estaro dispon veis no ape nas pa ra
homens de neg cio, mas tambm par a turi stas. a Prsia
deva perde r esta curiosidade mpar.
nas cidade s um festival popul ar cada vez mai s
di spe ndioso desenvol veu-se a part ir da taziv.
Bagd, Teer e Isfaan competiam umas co m
as outras na apresent ao e na riqu eza narr ati -
va de suas pea s. At 1904, os espet cul os de
ta y no grande teatro de aren a Teki e-i Da -
laut i em Teer for am subsidiados pel o gov er-
no. " De pois da revoluo, porm", es cre ve
Medj id Rezvani , "este teatro enfrent ou uma
crise, porque os fund os necessri os proveni en-
tes previamente de font es particul ares no eram
mais obtenve is" . E ele ci ta a observa o de
seu colega ru sso Smimoff:
Hoje Teer possui um modemo teatro esta-
dual, com todo tipo de equipamento tcnico. Se u
programa inclui obras clssicas e de vanguarda
do repertrio intern acional. O mrit o de ter tra-
zido Shakespeare para o palco persa pela pri-
meira vez pert ence ao Teatro Zoroastri ano de
Teer, fundado em 1927 e com capacida de para
algo como qu atrocentos espectadores.
O povo do ca mpo, entretant o, apega-se
como sempre aos espetculos de danas tra-
di ci onais , a apresent aes de guerras acrob-
ticas e mitolgicas e aos personagens folcl-
ricos. Ele confirma qu e aquilo que Her doto
di sse ainda permanece verdade, quando ob-
servou que os irani anos possuem "em tod as
as pocas uma predileo not vel pela da n-
a". Essa predileo pode ser traada a part ir
da s repre sentaes das taas de prat a sas s -
nidas da Antig idade at os dervixes rod o-
piantes do scul o XX.
o contedo simblico. Andar em torno do pal-
co significa uma longa j ornada. Int roduzir um
cavalo ou camelo carrega do de fard os de ba-
gagem e uten sli os de cozinha ind ica a chega-
da de Hu ssein plancie de Kcrbel a. Um atar,
logo aps ser mono, levanta-se e dirige-se si-
lenciosamente para um lado do palc o. Cada
um dos participante s mantm pront o um pu-
nhado de palha que, nos momentos de grande
tri st eza ou desespero, despeja sobre a prpria
cabea. (De acord o co m o antigo costume
aque mnida, os pais de Dario derramaram
areia sobre a prpr ia cabea qu and o a not cia
da mort e do "Rei dos Rei s" lhes foi dada.) A
pai xo de Hussein sempre precedida de uma
representao da histri a de Jos e se us irmos,
qu e apresentada no Alcoro por Maom
como a "sura (ca pt ulo) de Jos" .
Em Zefer Jinn , outra tari y, o rei dos jinn
aparece e oferece a Hussein o aux lio do seu
exrcito. Entret ant o, o im, pronto para sofrer
o martrio, recusa a assistncia ofereci da e des-
pede o rei dos ji nn co m a adjurao de "cho-
rar" . O rei dos ji nn e seus guerreiros vestem
mscar a; este o nico caso onde a mscara
usada na tradi o da taziye per sa.
A pai xo taziy part e intrnseca da tra-
di o xii ta. Desenvol veu-se a part ir da s lamen-
taes pica s e lricas das assembli as de lut o
pela morte de Hussein . Este s ca ntos de lamen-
taes foram apre sentados pel a primeira vez
em forma dramtica no sculo IX, quando um
sult o xii ta da dinastia Buiida assumiu o cali-
fato. Dos palcos mveis, er guidos em carre-
tas. ressoa va o chama do pen itn ci a: "Arran-
ca i os cabelos, tor cei vossas mos, redu zi vos-
sas roupas a trapos, golpeai vosso peit o !"
pr ovvel que a designao final de taziv
seja deri vada da pal avra equival ent e ao toldo
(ta 'kieh) , estendido sobre os pti os das mes-
quitas e pra as de mercado. Test emunhos ocu-
lare s da tazi y - de Olearius, Taver nier,
Thvenot e os de Gobineau e Pell y - fal am do
opressivo fanati smo dos espet cul os, no so-
bre"' fIlologia.
Conquanto os es petculos da taziy nas Para o estudi oso da histria da cultura se-
remot as re gi es mo nta nhosas do mundo ria ao mesmo tempo ave nturoso e revel ador
isl mi co e no Cuca so lenham permanecido, traar um paralelo entre Alexandre, o Grande
at hoj e, uma ocorrncia pr imit iva - algumas e Gng is Khan. A manei ra imedi ata e direta
veze s rep resent ada por um der vixe a funcio- com a qu al Alex and re transmiti u o esp rito do
. um tipo de o fl e - II /m ,' SI IOW -r-. Ocidente ao qriente balanceada pela influ I
4
L L I"l ,,1 eh ' j; , I"1 E.. :>L/liL..:> a 1;"")_1 '\
... \ , ,,-" c." U, 'l I) <)/"v '. 1) " L ' , \ ' \
o "O 'M) ..... .... U
3. Taziye ao ar livre, encenada por dervixes errantes, sculo XIX.
4. Apresentao da taii v persa de Husain. no ptio da mesquita cm Rustcmabad. 1860 (extrado de H. Brugsch . Rei sc
der konig ichrn Prrus sichen Gesandtschu]t fl(lel ! Pvrsie n, Leipzig. 1863).
T
i
As C vi i ra es Islmicas
5. Cerimnia teatral de recepo em palcio turco. esquerda, msicos com instrumentos tradicionais; no centro,
mulher com vu. Miniatura do perodo otomano (Istambul, Museu do Palcio de Topkapi).
6. C e ~ a de teatro popular turco. Velho corcunda, de tamancos e danando num tablado diante de um grupo de cinco
pessoas. A esquerda, msicos com instrumentos de sopro c percusso. Miniatura do perodo otomano (Istambul, Museu do
Palcio de Topkapi).
tes inexaurveis e vitais dc motivos e inspira-
o na comdia improvisada turca.
Ao lado dos danarinos e msicos, os
mmicos ambulantes, que foram sempre cha-
mados "personificadores", nunca estavam au-
sentes das ocasies festivas, Eram abundantes
nas cortes e nos mercados, nos trens de baga-
gem das campanhas militares e entre as mis-
ses diplomticas. Quando o imperador de
Bizncio, Manuel II Palelogo, visitou o sul-
to otomano Bayezid, admirou sua verstil
tre;lIpede msicos, danarinos e atores.
Os principais personagens da comdia
turca, Pischekar e Kavuklu, c os dois persona-
gens do teatro de sombras, Karagoz e Had-
jeivat, viajaram com as misses diplomticas
otomanas atravs da Grcia, e tambm a luga-
res mais distantes como a Hungria e a ustria,
Na Moldvia e Valquia, tornaram-se os an-
cestrais de uma nova e independente forma na-
tiva de teatro, Havia mmicos turcos, judeus,
armnios e gregos nessas trempes, mas predo-
minantemente os ciganos, bem versados em
todo tipo de malabarismo e magia, danas e
jogos acrobticos,
Os que no conseguiam chegar corte
apresentavam-se diante da gente simples, e
assim desenvolveram o orla oyunu, forma tur-
ca caracterstica de teatro, que ainda pode ser
encontrada em partes remotas de Anatlia,
Orta oyunu significa "jogo do meio", ou "jogo
do crculo", ou "jogo do anel", No requer ne-
nhum equipamento particular, nem cenrio ou
figurino. (O historiador do teatro turco Metin
And aponta que, na sia Central, a palavra
oyun designa tambm o ritual xamanista do
exorcismo.)
Uma marca oval traada sobre a terra pla-
na a rea de atuao do orta oyunu. Os aces-
srios necessrios so nada menos que um
cscabelo triangular e um biombo duplo, aos
quais se pode juntar um barril, uma cesta de
mercado e alguns guarda-chuvas coloridos, Os
msicos, com obo e tmpano, ficam acocora-
dos no limite da rea de atuao, e o pblico
permanece em p volta. O administrador, di-
retor, ator improvisado e protagonista o per-
sonagem Pischekar, Com eloqncia floreada
e uma matraca de madeira ele abre a apresen-
tao. A ao e o elemento cmico da pea
baseiam-se na variedade de tipos tnicos re-
cia indireta de Gngis Khan sobre o mapa da
Europa, Foi por causa da violenta investida dos
mongis contra o Extremo Oriente e suas leis
rgidas que o chefe Suleim, em 1219, guiou
seu povo do Turquesto regio do Eufrates,
O neto de Suleim, Osman, tornou-se amigo
do sulto de Konya e, sucedendo-o no trono
em 1288, Osman tomou-se o fundador da di-
nastia Osmanli (Otomana), Criou o imprio dos
povos turcos, que se expandiu e cujos guerrei-
ros conquistaram os Blcs e avanaram atra-
vs do Norte da frica para a Espanha, levan-
do consigo sua cultura de minaretes e mesqui-
tas, A Europa exaurira-se em sua luta contra
uma avalancha que se iniciara com Gngis
Khan. Em 1922, com a extino do sultanato,
o imprio otomano oficialmente chegou ao fim,
e um ano mais tarde foi proclamada a Rep-
blica da Turquia.
Quatro fatos principais influenciaram o
desenvolvimento histrico e cultural da Tur-
quia e, portanto, tambm do teatro turco. Fo-
ram eles: primeiramente, os rituais xamnicos e
da vegetao trazidos da sia Central, que
eram, at certo ponto, misturados com o culto
frgio a Dioniso e que ainda permanecem vi-
vos nas danas e jogos anatlios; em segundo
lugar, a influncia da Antiguidade, mais fre-
qentemente negada que francamente admiti-
da; em terceiro, a rivalidade com Bizncio: c,
em quarto, iniciando-se com o sculo X, a in-
fluncia decisiva do Isl.
Konya, Bursa e, aps 1453, a cidade con-
quistada de Bizncio, hoje Istambul, foram as
capitais do imprio otomano e, dessa forma,
os centros do mundo islmico a leste e a oeste
do Bsforo. Na corte de Seljuk em Konya, pa-
rdias eram encenadas e muito apreciadas.
Anna Comnena, filha de um imperador bizan-
tino, d provas disto em sua obra histrica so-
bre Alxio Comneno I (1069-1118 a.c.).
Quando o imperador Alxio, j idoso, foi aco-
metido pela gota, e dessa forma impedido de
participar de suas campanhas contra os turcos,
eram representadas farsas na corte do sulto
em Konya, conforme relata francamente sua
filha, nas quais Alxio era satirizado como um
velhote covarde e choro.
Essa informao valiosa. Indica a
lopicidade e a orientao temtica da farsa tur-
ca, A personificao e o ridculo eram as fon-
,ia
..- , - - - , ~ ,ft
25
present ados, todos mal falando o turco, cada
um em seu modo parti cul ar - o mercador persa,
o our ives arrn nio, o mendi go rabe, o guar-
da-n oturno curdo. o presunoso coronel j an-
zaro, o Ievantino eur opeizado exi bindo -se, a
mercadora bri guent a (i nterpretada por um ho-
mem), o bbado e a inequvoca prefernci a da
plat ia rstica, o palh ao Kavuklu com suas
pi adas e pas pa lhices. par ente pr ximo de
Kar agz.
A ori gem e anti guidade do o r ta o)'UJlU
di scutida, Sua relao com o mimo da Antigi-
dade to bvia qu anto uma certa similarida-
de com a Commedia dell ' a rte, O mai s ext raor-
dinrio de tudo, quer cm relao aos tipos dos
personagens quer ao humor grotesco result ante,
o par alelo com Karagz, Um manu scrito de
1675 afirm a que um grupo de atare s, vestidos
como os personagens do teatro de sombras, fez
uma apre senta o na corte.
At o sculo XIX o centro do orta O)' W IlI
foi Kadiky. uma pequena cidade na costa les-
te do mar de M rmara, no setor asitico de Is-
tambul. Aqui tambm se situava a famosa tekke
(monas trio der vixe) onde, em eertos di as da
semana, os "dervixes uivadores" executavam
seu ritu al ex t tico . Seus primos, os der vixes
danarinos, preferiam vagar atravs do pa s, poi s
era sempre fcil reunir um pequeno c rculo de
curiosos e, aps a dana sagrada, coletar algu-
mas moedas como recompensa. Hoj e as danas
dervixes tornaram- se um negci o e surgem
como atrao turstica emniglu-clubs de Istam-
bul, do Ca iro, den ou Teer.
O primeiro teatro turco com um fosso par a
a orques tra e um cenrio mecani camente ope-
rado surgi u na primeira metade do sculo XIX.
Organizado segundo o padr o francs e itali a-
no. apr esent ava peas de Molire e Goldoni , e
tambm o Fausto de Goethe e Natan, () Sbio,
de Les sing. Malabaristas, mgicos. cir cen ses.
entretanto, continuavam a reunir suas plati as
em galpes de madeira e tenda s. Mas nos ca-
fs e ca sas de ch, a centenria arte do nieddha,
o contador de hist ri as, continuava com sua
velha popul aridade. Duran te o ms do Ramad,
porm, ele se reti rava e deixava o campo aber-
to para Karagz.
Em novembro de 1 ~ 6 7 , durante o Rama-
d , um armnio de nome Giill Ago p inaugu-
rou um teatro turco no bairro Ged ik Pax de
26
Hs t ri a Mwn d iu do Trut ro
Istambul e chamo u-o de "orta O)'W lll com uma
cortina", O c rculo no cho , que havia come-
a do como improvi sao, chegara ao teat ro
com um palco e um auditri o. Gl Agop
atraiu talentosos at ores e escrit ores locai s.
O orta 0)'/11111de Gedik Pax tomou-se um
ce ntro de um mo vimento nacional de teat ro
turco . Em abril de IR73, apresentou a primei -
ra mont agem do dr ama Vala ll (Torro Nat al )
de Namik Kemal. A pea teve a mais entusis-
tica das recepes. O sulto, pressentindo pe-
rigo, baniu o autor. Mas, aps a revoluo de
julho de 1908, a estrel a de Namik Kemal bri -
lhou mai s int en sament e: Vcltan esteve dur ante
semanas em todos os teatros do pas.
Hoje, nas cidades principais e especial-
ment e em Anca ra, os teat ros oferecem um re-
pertrio que, somado aos dramaturgos e com-
positores tur cos, verdadeiramente interna-
cional em seu s espetculos de pera, comd ia
musi cal , bal e drama.
o Teatro de S o mbr as de
Ka ra g ;
Karagz o her i do teatro de sombras
turco e rabe e dti nome ao cspet cul o de so m-
bras. O espirituoso Karag z, com sua retri ca
rpida e engenhosa, trocadilhos speros e jo-
gos de pal avras rsti cos. viajou par a mu ito
alm de sua terra natal ; sente-se em casa na
Grcia e nos Bal cs, e em lugares longnquos
da sia. Todo um fei xe de lendas circunda a
sua orige m. Uma das ma is populares afirma
que Karagz - o nome significa "olho negr o"
- e seu companheiro Hadjeivat realmente exis-
tiram no sculo XIV, na poca em que a gr an-
de mesqu ita de Bursa es tava sendo erguida.
Seus duel os verbais vivos e grotescos par ali -
saram as obras de co nstruo da mesquita. Em
vez de trabalhar, os pedreiros punham seus ins-
trument os de lado e ou viam os longos e diver -
tidos discursos de Karag z e Hadjei vat . O sul-
to soube de suas fa anhas e ordenou que
ambos foss em enforcados. Mais tarde, quan-
do reprovava amar gamente a si mesmo por
isso. um dos cortesos do sulto teve a idia
de trazer Kar agz e Hadj civat novamente vida
na forma de figur as de couro brilh antemente
colori das e translcida s e sombras numa tela
de linho: Kar agz co m seu nariz adunco. bar-
7. Kar agz com roupas de mulher. Como cm qua lquer lupnr, cenas li", disfar ce eram pop ulare s no teatro de sombras
turc o (da co leo de Ci . J;u.:ob . /)a.\ Sc/ Wll clIll ll' ot4' r iII seinrr Hhll 4/(' rtOJg vcnnMorgenlnnd ; um A.!Jl' I1IJ/oll(/ . Berl im. 1')(11.
ba negra, olhos astutos de boto e a mo direi-
ta gestic ulando violentamente; e Hadj eivat
vestido de mercador, cauteloso e meditativo,
de boa ndole e sempre sendo enrolado. Uma
rel ao de tipos pitorescos co mpletavam o
elenco do teatro de sombras: CcJebi , o j ovem
dndi; a linda Messalina Zenne: Beberuhi,
ano ingnuo; o persa com sua pipa d' gua, o
albans, e outros personagens regionais; o vi-
ciado em pio; o bbado.
Georg Jacob, um colecionador e estudio-
so do teatro de sombras oriental, atribui um
alegado epitfio de Kara g z em Bursa ao mes-
tre de bonecos Mustaf Tevfik, que se supe
ter trabalhado nesse per odo.
O teatro de sombras era a di ver so predi-
leta tanto do povo quant o da curte do sulto.
Era apresentado emcasamentos e circuncises.
Porm, o grande momento de Karagz chega
com o incio do Ramad, o ms sagrado do
j ej um, quando, ao entardecer, todos acorrem
aos cafs . O viajante itali ano Piet ro delIa Valle,
que chegou a Istambul em 1614 , fez uma nar-
rat iva detalhada da pea de teat ro de sombras
turca. Diz Della Valle em Viaggi , publicada em
1650-1658,
Na verdade. IICSh: S albergue s onde se bebe exi stem,
mesmo durante a poc a de seu grande j ej um. certos bufes
e -anni que divertem os convidados com roda a sorte de
pi lhrias c tolices. Entre as co isas que faze m. confor me
cu mesmo vi. esto as representa es de fan tasmas e es -
pri tos por detr s de um tec ido ou de papel pintado, luz
de rochas. os quais se movem, andam. eles fazem roda
lima variedade de gestos exaturnente da mesma fonna que
se fuz em algumas apresentaes 110 nO<.; 50 pas. Mas estas
figuras c bonecos no so mudos CO ll 10 os nossos: ~ 1 0 fei -
tos pa l<t fal ar tal e qual os char lates fazem nos castelos de
N poles ou na Piazza Navona em Roma...
28
Hi s t ria Mu n di a l do Teat ro .
Os que ma nipulam os bonecos tamb m os faze m
falar . ou me lhor. fala m atrav s del es. mant endo-se es-
con di dov e imitando vrias lnguas com todo ripo de pia-
das. Suas uprc sc ruacs nada mais so do que farsas indc -
cenrcs e oco rr nc ias obscenas entre homem e mul her com
gc srua lidadc Io gross eira ao imitar essas s uuaes de
luxria. que no poderi am ser piores na tre a -feira gorda
de carnava l do que so num prostbulo na tera- fe ira gor-
da durante o seu jejum.
Apesar de suas piadas gross eiras e fran-
cas obsce nidades, Karagz ludibriava os gri-
lhes das autoridades religiosas. Os bonecos,
movidos por varas e recortados em couro ou
pergami nho nos quais eram perfurados bura-
cos aqui e ali a fim de permitir que a luz pas-
sasse atravs deles, no poderi am ser faci lmen-
te descritos como imagens de entes humanos,
e assim davam a volta na proibio do Alco-
ro. O uso de tipos fixos oferecia ca mpo para
a st ira e polmica, num disfarce de aparente
inocncia . No havi a fraqueza humana, vai-
dade de class e ou abuso tpi co que Kar agoz
no co nvertesse em moti vo de riso.
Do Bsforo, Karagz emigrou para o nor-
te; estava em casa em qualquer parte do mun-
do islmico. Ele sempre deu nome aos bois, e
era aplaudido mesmo quando o pb lico mal
co nseg uia entender as suas palavras, porque o
significado do humor gro tesco da a o no
podi a lhe escapar.
Quando Kar agz certa vez aludiu de modo
claro demais corrupo da cort e, em 1870, sob
o sulto Abdlaziz. foi proibido de se envolver
em qualquer outra stira poltica, mas ento os
j ornalistas passaram a imitar seu espri to agres-
sivo. E mesmo hoje um semanrio polt ico po-
pular na Turqu ia chamado Karag z:
1
i
I
As Ci vilizaes
I NTRODUO
Na ndia cls sica a dana e o drama eram
dois componentes igualmente import ant es de
um s e grande credo: ambos serviam para ex-
pressar homenagem aos deuses. Shiva, o se-
nhor da mort e e do ren asciment o terrenos. er a
representado co mo o Rei dos Danarinos. Na
tradio da ndia. o prprio Brahma, criador
do universo, criou tamb m a arte do drama , e
seus estreitos laos co m a religio foram ex-
pressos dur ant e muit os sculos na cerimnia
inicial de bno e purificao que precedia
qualquer apr esentao teatral.
As trs grandes religies da ndia - brama-
nismo, jainismo c budismo emprestaram suas
formas espec ficas ao culto e sacrifcio, dan-
a, pant omima exorcs tica e recitao dra-
mtica.
Nem as ca mpa nhas vitoriosas de Alexan-
dre. o Grande, nem os ensinamentos de Maom
conseguiram minar a vigoros a fora interna do
hindusmo. Seus deuses e heris dominam o
palco do pant eo celestial tanto quanto o pal -
co da real idade terrena.
A conceitua o antropomrfica dos deu-
ses proporcionou o primeiro impul so para o
drama . Sua ori gem e princpios esto registra-
dos nos mximos detalhes e com esmerada eru-
dio pelo sbio Bhar ata em seu Natyasas tra,
um manual das artes da da na e do teat ro. Ma s
a tradio no nos oferece fatos relacionados
com a prtica dos espetculos. caracterstica
Indo-Pacficas
da mentalidade a-histrica dos hindus que a
preci so dos aspect os mitolgicos do drama
no tenhamequivalente em sua prti ca de atua-
o. O que se preser vava no era a realidade
terrestre, mas o esprito. E, por conseguinte, o
pesquisador do teatro precisa procurar pelas
chaves abr indo caminho labori osamente atra-
vs do embrenhado dos rit os sacrificiais vdi-
co s e invocaes aos de uses, atravs dos can-
tos rituais dos brmanes e atravs dos ritos das
rel igies j ainista e budista, frut os do brama-
nismo que se desenvol veram durante o primei -
ro milnio a.e.
Desde a vir ada do milnio, os velhos deu-
ses vdicos havi am sido eclipsados por Shiva,
o prncipe dos dana rinos, pantommi cos e
msicos, e por Vishnu e sua esposa Lakshmi ,
cuja beleza se assemelh a da flor de ltus. A
arividade religiosa foi determinada pel o culto
dos templ os e dolos. O Ramayana. que relata
as aventuras do pr nci pe rea l Rama e sua es-
posa Sita, e o segundo grande pico hindu. o
Mah ahbarata, com sua riqueza de sa bedoria
mit ol gica e moral, torn aram-se a grande he-
rana comum de todas as civilizaes indo-pa-
cficas. O deu s-macaco Hanuman estabelece
a co nexo entr e o budi smo e a Chin a e final-
mente com as peas \\'ay ang das ilhas indo-
nsi as.
Sob a dinastia Gupta , no sc ulo IV, o nor-
te da ndia desfrutou de um hreve per odo de
unidade pol tica, o que result ou num floresci-
mento das artes. Neste per odo, Kalidasa es-
1. Jovens danarinas e musi cistas hindus. Relevo c m pedra do Templ o de Pura na Mahadeo. Harshngiri , Rej asthan .
961-973.
2. Sal a de dan a c teatro do Templo de Vitthal a. dinast ia Vijavauagar. 115{)-1365. O "sal o da cel ebra o' tmandupc
fica separado do templo c ricamente decorado com esc ulturas. J. l i o ll'.(. ' de salthubaucos numa cida de hindu , Homen s e mutherc-, mostram sua arte de ac robatas, mal ahari sta s 1.'
eq uilibris tas , esquerda. m sicoS; ;1dir ei ta. cxpcc tndorev. 1:"' i1 o lllogul. XV III (Hcrli m. St n.ufichc
creveu seu drama Shakuntala . (O mundo lite-
rri o da Europa tomou co nhec imento de
Shakll ll tal a em 1789, numa verso inglesa e,
dois anos mais tarde, numa traduo alem.)
Durante o reinado de Harsha, que gover-
nou o grand e imprio indiano de 606 a 647
a.c. , a cultura hindu e a doutrina budista espa-
lharam-se por toda a sia Orient al e as ilhas
indonsias, influenciando a arquitet ura de tem-
plos e pal cios, a pica e o drama.
A irrupo do Isl e, no sculo XIV, a
ascenso do impri o mongol , com seu forte
poder central islmico, mudaram apenas a apa-
rncia externa da ndia, no seu esprito con-
servador. Os hindus apegaram-se firmemente
s suas crenas, carter e modo de pensar. Sem-
pre existiu um contraste entre a passividade
pol tica dos hindus e seu fort e v nculo interno
com a tradio religiosa. Eles se agarra ram for-
temente s suas convices reli giosas. Shiva,
Vishnu, Krishna e Rama nunca foram destro-
nados no drama hindu. Quando, cm 30 de j anei-
ro de 1948, Gandhi foi atingido pela bala do re-
vlver de seu assassino Natur am Godse, caiu
no cho chamando pelo deus: "He, Rama".
NDI A
A origem do teatro hindu est na ligao
estreita entre a dana e o cult o no templo. A
arte da dana agrada aos deu ses: uma ex-
presso visvel da homenagem dos homens aos
deuses e de seu poder sobre os homens. Ne-
nhuma outra religio glorificou a dana ritual
de forma to magnfica (e ert ica). Imagens
de pedra de deuses e deusas danando abraa-
dos. msicos celestiais, ninfas e tamborinistas
em poses provocantes adornam as paredes,
colunas, arestas e portes dos templ os hindus.
Represent aes da dana podem ser encontra-
das ao longo de 3.500 anos de esc ultura hindu,
desde a famosa estatueta de bronze da "Dan-
a rina", nas runas da cidade de Mohenjo-
Daro, no baixo Indo, aos relevo s nas colunas
do templo hindu em Citambaram, exibem to-
das as 108 posies da dana clss ica indiana
de acordo com o Natya sastra de Bharata.
As danarinas eram subord inadas ii auto-
ridade dos sacerdotes do templo e exerciam
sua arte, na medida em que esta tinha a ver
32
Hi st r ia Mu ndi a l d o Tea t r o .
com o culto, dent ro dos domnios do templo.
Os jardins dos templos, sempre imensos e dis-
postos em terraos sobre encostas inteiras, in-
cl uam locai s tradicionais para as danas e a
msica religiosa. Havia uma assemblia e sala
de dana especial (natanulIl di ra) e, para obj eti-
vos mais gerais, uma "sala de celebrao" (mal1-
dapa) onde as danarinas, msicos e recit adores
apr esent avam-se em homenagem aos deuses.
Em alguns templ os no sul da ndia, como o tem-
plo Jagannath em Puri , ainda hoje existe o cos-
tume de as devadasis, as jovens bail arinas do
templ o, da narem no cerimonial do culto ves-
pert ino.
Os hi storiadores do teatro hindu cunha-
ram o termo "teatro templo", que pode ser
acompanhado arquiteturalmente atravs dos
sculos. Entre os templ os do sculo IX recor -
tados nas cavernas de Ellora dest aca-se o lin-
do teatro do templo Kailasantha. E h primo-
ros as salas de festival e teatros nos j ardins do
templo Ganthai , do sculo Xl , pr ximo a
Khaju raho. Out ros podem ser encontrados no
complexo do templ o de Girnar, do sc ulo XI!,
e no templo Vitthala, dos governantes Vijaya-
nagar do sc ulo XlV.
Ao lado do "teatro templo" , o teatr o teve
um outro precur sor na altamente desenvol vi-
. da forma de entretenime nto popul ar hindu .
co m suas danas e acrobacias. O bail arino era
sempre mmi co e ator, simultaneamente. Ain-
da chamado de nata, que a palavra "prakri t",
ve rnacular, para atar (que procede da ra iz
s nscrita nrtv. Enquanto os natas so , por um
lado, aparentados com os danarinos e dan a-
rin as rituai s (nrtu), menci onados j no Rig
Veda, a forma vernacular prakrit , nat a , indica
seu car ter popul ar.
Pois, enquanto os danarino s rit uais hon-
ravam os deuses, houve em todas as pocas can-
tores, danarinos e mmicos ambulantes que en-
tretinh am o povo com suas apresentaes por
uma gra tificao modesta. O Rama yana men-
ciona na ta, nartaka, nataka - ou seja, danas e
cspet culos teatrai s - nas cidades e pal cios.
Fala de festas e reunies nas quai s a di verso
era oferecida por atores e danarin as.
A nati . danari na da literatur a hi ndu , es-
tava ali para todos. Era ela a bayad rc , que
Goethe descreveu numa balada, a " adorvel
criana perdida" que convidava hospitalci ramen-
T
I
I
I
A _ ~ C v i z a cs t n d o - Pu cifi cos
te o estranho: "Se solicitares descanso. diverso,
prazer I A todas as voss as ordens eu atenderei".
Patanjal i, o gram tico hindu do sculo I!
a.Ci. fala sobre uma danar ina (nat i) que, em
ce na, ao ser indagada "A quem pertences?" ,
responde "Per teno a vs".
Os Dharmasastras, livros mtricos da lei,
pr oclamam explicitamente que o marido de
uma danarina no precisa pagar as dvidas
desta, porq ue esta possui "rendiment os" pr-
pr ios, e que ela no preci sa se r tratada co m o
mes mo respeito que a es posa de outro homem.
No Kamasutra, o " livro do amor", a danarina
(nat i) deve aceitar a posio mais baixa entre
as cortess .
Por m, eve ntualmente, ela adentra o dra-
ma clssico at ravs de uma por ta trase ira -
como repr esent ant e de Vidu saka, o ar lequim
indiano. Nos pr l ogos teatrais par a trs pes-
soas, a danarina, geralmente a esposa do em-
presrio, pode ocasionalmente fazer as vezes
do Vidusaka. Todavia, a arte da da na desen-
volveu-se independ ent ement e do dra ma, e so-
breviveu at hoj e em suas quatro for mas ca-
ra cte r stic as: bh arata natyam; kathakal i ,
kathak: e mani pu ri .
A bharata natyam uma descend ente di-
reta da arte graciosa e flex vel das danarinas
do templ o. praticada es pecialment e no sul
da ndi a, em Madras, e tant o suas posies de
dana quanto seu nome so der ivados do ma-
nua l da arte da dana e do teat ro escrito por
Bharata, o Na tyasastra. A dana dramtica e
pantommica ka thakali , qu e se desenvol veu
at sua atual form a em Malabar, de carter
defi nitivamente mascul ino. Se us traos ca rac-
tersticos so mscara s exagera damente pin-
tadas, figuri nos suntuosos e cheios de ondu-
laes, e o esti lo gro tes co de dana de suas
personagens-de uses, heris, macacos e mons-
tros. A kat hak uma for ma menos severa c
mais variada de da na , onde a fora masculi-
na e a graa feminina cntrernesc lam-se: desen-
volveu-se no norte da ndia, sob a influncia
dos governantes mongis. A manipuri, popu-
lar principalme nte nas montanhas de Assa m,
uma dana de mov ime ntos lent os, qu ase
serpentinos. Tem origem no mund o mtico dos
deuses: a ntan ipuri era. segundo a lenda, a dan-
a que as pastoras executavam ao som da flau-
ta de Kri shna.
o N at yasa str a d e Bh a rat a
Tudo o que sabemos a respeito do teatro
cl ssico da ndi a der ivado de uma nica obra
funda mental: o Natyasastra de Bharata. Todas
as trilhas do passado convergem para ele, e tudo
o que vem depois construdo a partir dele.
Estudiosos do snscrito acreditam que o autor
Bharara, figura meio legendria, meio histri-
ca, viveu numa poca entre 200 a.c. e 200 d.e.
caracterstico da falt a de senso histri co dos
hin dus que Bharata, um de seus maiores e mais'
influent es sbios, no possa ser datado. Sua
relao mitol gica com os deu ses est fora de
dvida, mas, at agora, os eruditos podem ape-
nas conjec turar sobre os fatos de sua vida. Os
es tudiosos boje aceitam, de manei ra gera l, que
Bharata tenha escri to numa poca em que as
formas primitivas de dana ritual , mimo e en-
trete nimento popul ar comeavam a amalga-
mar -se na nova fo rma de arte do drama.
Bharata assent ou a pedra fund amental da arte
do teat ro hindu ; disps todas as suas regras
artsticas, sua linguagem e suas tcnicas.
Conforme a histri a por ele relatada no
pr imeiro captul o do Na tyu sa stra, o drama
deve a sua origem ao de us Br ahrn a, o criador
do universo. Bharata conta que um dia o deus
Ind ra pediu a Brahma que inve ntasse uma for-
ma de arte visvel e audvel e qu e pudesse ser
co mpreendida por homens de qualquer con-
dio ou posio socia l. Ento, Brahrna con-
side rou o cont edo dos quatro Vedas, os li-
vros sagrados da sabedoria hindu, e tomou um
co mponente de cada - a palavra falada do Rig
Veda. o ca nto do Santa ~ ' d a , o mimo do Yajur
Veda. e a emoo do Athar va Veda . Todos es-
ses ele combinou num quinto Veda, o Nat ya
Veda, que co municou ao sbio hum ano,
Bhar ata. E Bharata, para o bem de toda a hu-
manidade, escreveu as regras di vinas da arte
da dramaturgia no Natyasastra, o manu al da
dana e do teatro.
De acordo com Bharata, o primeiro dra-
ma foi montado numa celebrao celes tial em
honra do deus lndra. Quando a pea se apro-
ximava de seu cl max, a vitria dos deuses
sobre os dem ni os, espri tos do mal no con-
vidados paralisaram subitame nte os gestos, a
mmi ca, o discurso e a mem ria dos artistas.
Muito irrit ado. o deus lndra ergueu o mastro
33
4. Figuras da Kathakali ricamente vestidas (de K.
Bha rata lycr . Kuthaku i, A Dona Sagrada de Muahor,
Londres. I(JS5).
1
5. Dana de Kr ishna c das don/das pastoras (g OfJ): um dos ternas prcdil ctos do f\t anip uri. No alto, esquerda. dois
nuisicos co m mscaras de animai s, Mi niatura da segunda met ade do sculo XVIII (No va Dcl hi, Academia Lalil Kahn.
H s t r a Muru a do Tc at ro A .\" C vi l za es l n d a -Pu cif cax
A famosa caverna Sitabenga em Sirguja,
na part e nordeste de Madhya Pradesh, sugere
uma outra expli cao para a cortina de Bhar ata;
el a pode deri var de um outro tipo de a rte tea-
tral : o teatro de sombras. A caverna de Sit abcn-
ga tem seu lugar na histria do teatro hindu. A
hipt ese de quc ela era uma espcie de cas a de
espet culos "em forma de urna caverna nas
mont anhas " parece ser amparad a por passa-
gen s do Natyasa stra. As dimenses internas da
caverna so de aproximadament e 13 m x 3 m,
com capac idade para mai s ou menos trinta es-
pectadores. Foram encontrados entalhes e ra-
nhuras na entrada, que podem ter servido para
prender uma cortina de pano . Ist o significa ria
que a pl atia - um pequeno numero de ini cia-
dos, mais propri amente do que uma corte prin-
cipesca. no entende r de Bharata - se ntava-se
no interior da gruta apinhada de gente, enquan-
to o tit ereiro utilizava a luz do di a, l fora. para
proj etar o mundo mit olgico de se us bonecos
recort ados em couro. Entr et anto, a cave rna de
Sirguj a no era um teatro. de aco rdo com as
prescri es de Bharuta.
Embora o erudito tratad o e m ve rso de
Bharuta no se refira expressame nte ao teatro
de so mbras , isto no impede qu e o conhea e
ut ili ze - dado que a import ncia de sse teatro
par a toda a cultura do Extre mo Oriente um
fat o provado. bastant e co nce bvel qu e tenha
sido usad o co rno Ulll efeito c nico no teatro
cl ssico hindu.
No scul o II, o gra mt ico Patanj al i, em
seu come nt rio sobre Panini . fal a de pessoas
qu e davam rec itais de hist ri as diante de fi-
guras pintadas que " most r avnrn os fat os" .
Presumi velment e est ava se referindo ao ripo
de teatro de sombras que se tornou car acte-
rsti co do Si o, Java, Bali e da China . Num
comentri o posteri or sobre o termo utili za-
do por Patanjali par a designar o atol'. o escri-
tor So madevasur i expli ca. no sc ulo X. em
se u Ni t ivnkycunrta, que o saubhika era UI11
homem qu e " noit e tornava vis veis v rios
personagens co m a aj uda de uma cort inu de
pano" . A co me ar da segunda met ad e do pri-
meiro mil ni o, encontramos tamb m o ter-
mo CIW."l/1I1ITak" para o teatro de so mbras ;
e le ap arece primeiro no sc ulo " " num poe-
ma didtico suki , pro vavelm ent e basea do em
font es anti gas.
educadas, o prakrit para os incultos - pela de-
fini o dos vrios pap is tpi cos , figurinos e
mscaras, como tambm regr as para a tonali -
dade da palavra fal ada e para o acompanh a-
mento musical. Dessa forma, se u cdigo cul-
min a na cl assificao cient fica da s es pc ies
do drama.
No segundo e no terceiro captulos do
Na tyasastra, Bharat a di scut e os problemas da
tcnica do teatro . El e levanta a qu est o dos
edi fcios teatrai s, suas dimen se s e or ganiz a-
o . Bharata declara que , embora os espet cu-
los geralmente aconteam nos templos c pal -
ci os, as seguintes regr as deveri am, tod avia, ser
obedecidas ao projet ar- se um teatro. Um ter -
reno retangular dever ser di vidido em duas
reas: um auditrio e um pal co. Qu at ro colu-
nas sustentaro as vigas do tet o. O esquema
das cores deve seguir estritamente o simbolis-
mo tradicional: a coluna branca simboliza os
br m anes; a verme lha , o rei e a nobr eza: a
amarela, os cidados; as az uis -neg ras. a casta
dos arte sos, ladres e ope r rios. (E estas so
as mesmas cores do bast o de Indra.)
Na extremidade oriental do auditrio em
degraus senta-se o rei em seu trono, rodeado
por ministros, poet as e sbios, com as dam as
da corte sua esquerda. O palc o, assim co mo
tod o o edifcio, ricament e decor ado com en-
talh es de madeira e rel evos de ce r mica. Uma
corti na divide o palco em prosc nio e bastido-
res. Os atores e danarinos atuam no proscnio,
e nquanto seus cam arins oc upa m os basti -
dores , ocult os pela co rtina divi sria. As font es
de efe itos sonoros repr esent ando voz es divi-
nas, o rumor de multido e de bat alh as, fi-
ca m tambm nos bastidores, invisv eis para o
p blico.
Bharata chama a cortina divi sria de
ya vaniku, e es te lermo de sencadeou uma tor-
rente de teori as sobre a infl uncia gr ega no tea-
tro indiano. Fil ol ogicamente tent ador esta -
belecer uma cone xo com a palavra jal'llllika,
que signifi ca "grego" ou "d rico", mas com
refernci a cortina do palco. puramente hi -
pot ti co . Do pont o de vista da hist ria da cul -
tura, seria intere ssante inve stigar at que pon -
to os teat ros gre gos da s ia Men or, co mo em
P rgamo, Priene ou As pe ndus . foram usados
por troup es no-hel nicas de atores e procurar
possveis influncia s des sa fonte na ndia.
6
10
5
9
4
sobrancelhas. sei s de nariz, seis das bochechas ,
nove do pescoo, sete do queixo. cinco do t-
rax e 36 dos olhos. Bharata no deixa lugar
para a es pontane idade intuitiva nesta arte ; suas
regras assemelham-se a uma soma de valores
matemticos. Para os ps do atol', ele list a 16
posies sobre o solo e 16 no ar - e um sem-
nmero de maneiras especficas de andar. de s-
tinadas a retratar vrios tipos de per son alida-
de : a passo lar go. miudinho. coxeando. arras-
tando os ps. Uma cortes caminha com passo
ondulante . uma dama da corte com passinhos
midos; um bob o caminha com os dedes dos
ps apontados para cima. um corteso com pas-
sos solenes, e um mendigo, arrastando os ps.
Aqui, a pen a do terico erudito Bhar ata
foi clarament e guiada pel o mimo postad o por
trs dele - an nimo e desconhecido, mas et er-
namente presente e seguro de sua arte da imi-
tao sem a necessidade de dogmtica erudi-
ta. O mimo, sempre e em qualquer lugar, apren-
deu seus truques com a prpria vida; utilizou-
os sem adornos, se m so fisticao literri a e,
especi almente no Karagz do Oriente Prxi -
mo, co m deli ci osa obscen idade.
O estrito c digo de gestos de Bharata
emparelh ado por regras correspondentes para
a lin gu agem - o snscrito par a as classes
3
8
2
7
6. dos dedos (lIIl1n HI da arte da dana e da interpret a o hindus: I. separao, morte ; 2. medita o: 3.
detcrnunao: 4. alegria: 5. co ncc utra o ; 6. rcj ei,'J o; 7. venera o: X. pro posta ; 9. ini tao. afl io; 10, amor.
incrustado de sua bandeira tjorjarai e atacou
os demnios. Os at eres voltaram novamente
vida . E o deu s Brahma prometeu sua art e
validade et erna, que resistiria a qualquer riva -
lidade: "Porque no h saber. habilidade, cin-
cia ou qualquer das bel as-arte s. nenhuma me-
dit ao religiosa e nenhuma ao sagrada que
no possa ser encontrada no drama". De sde
ent o. os atores hindus tm carregado o es tan-
darte de Indra em suas bagagen s como um
tali sm, El e os tem acompanhado atra vs dos
tempos na forma de um modest o ba st o de
bambu decorado com fitas coloridas. Mas o
deu s Indra, o ousado domador de demnios e
mat ador de drages, foi reduzido a um suj eito
corado e bem alimentado, o equi valente hindu
ao Orfeu no Inferno de Off enbach .
A prevaln cia avassaladora atribuda for -
ma externa em todo o teatro do Extremo Ori-
ente, rigidamente definida arte expressiva do
corpo humano, amplamente documentada no
Na tyasas tra . Dana e at uao teatral so
conceituai mente uma s coisa. Bharat a requer,
tant o do danarin o quanto do ator, concentra-
o extrema at as ponta s dos dedos, de acor-
do co m uma lista preci samente detalhada. Seu
manual ar rola 24 variantes de posi es para
os dedos, 13 moviment os de cabea, sete das
36 37
Qual surgiu primeiro, o teat ro de sombras
india no ou o chins? Ess a ai nda uma ques-
to controvertida, na medida em que exist em
to poucas fonte s. A reivindicao da prima-
zia hindu sustentada pe la evid ncia de um
teat ro de sombras j na ca verna de Sitabenga e
pe lo fato de que a infl uncia cultural do teatro
de sombras espalhou-se atravs do Extremo
Oriente. muit o poss vel ljue ela tenha segui-
do o avano do budi smo atravs da sia Cen-
tral, ou da Indochi na para a Ch ina. O Impr io
Cent ral chi ns, por outro lado, reivindica, numa
de suas mais belas e mel ancli cas lendas, que
a co njurao dos es pritos sobre a tela de li-
nho seja sua inveno parti cul ar.
o Drama Cls s i co
O drama cl ssi co indiano engloba toda a
extenso da vida, na terra como no cu. Con -
forme di sse certa ve z o poet a do sculo V,
Kalidasa, e le " satisfaz simultaneamente as
mais diver sas pessoas com os mais di versos
go stos".
A linhagem es piri tual do drama clssico
hindu pode ser traada nos di logos do Rig
Veda, expressos em forma de baladas, ljue era m
recitados antifonicamente nos ri tos sacrificiais
sagr ados. Seu co ntedo dram tico - o amor
do rei humano Pururavas pela ninfa celest ial
Urvasi, e o conlli to co m seus oponentes, os
pod eres obsc uros e mt icos , forn ecer am mate-
rial infinito para o tratamento teatral, e na ver-
dade para a grande pera. Os dilogos do Rig
Veda, embora eles prprios no consistissem
aind a num drama, torna ra m-se os mais popu-
lares temas de todo o drama indiano e por ele
influenc iado. Na forma tran smitida a ns, re-
presentam um estgi o altame nte desenvol vi-
do de sofisticada poesia, mas no textos ce ri-
moni ais visando a efeitos teatrai s.
Part indo da reci tao pica na poca dos
Veda s, dos primeiros manipul adores de bone-
cos ou sombras, aos quais eram creditados po-
dere s mgi cos , e dos mimos, que forne ci am
um elemento vivifi ca nte, um longo ca minho
teve de ser percorrido at o drama feit o para
ser encenado.
O bufo Vidusaka j : pregava suas peas
entre os atores itinerant es. Com sua grande
barriga e eabea ca rec a, ele um parente do
38
H i .\ I ,; r ; O M' u nd o l do Trn t ro
mimo grego - de bom co rao, mas se faze n-
do de boho - , um arlequim ind iano qu e gosta
de conforto e come muito, com bvio prazer.
Em ob ras dramti cas posteri ores, ele se trans-
forma num servial obseq uio so e a migo fiel ,
que aplica a dose ce rta de descaramento e sen-
so pr tico ao reti rar seu amo de e nr ascadas,
todas as vezes em que possa tirar da situao
a lguma vantagem para si.
O drama cl ssico indiano traz Vidusaka
para a a o. Ele j no mais um simples pa-
lhao improvisador, mas um per sonagem na
pea, e, co mo tal, defin ido pel o autor co m
preci so. Primeirament e ele so be ao palco na
ce na introdutria. a tradi cio na l pllrl 'a rll1l ga .
Part icipa da subseqii ente co nve rs a entre trs
pe rsonagens (trigalll), ao lado do empres rio
e de se u primeiro assistente. (O e mpresrio,
qu e tambm o produtor, diretor e ator princi-
pal , chamado sutradhara, qu e significa, lite-
ral ment e, "o que segura as co rdas ". tentador
traar aqui, tambm , uma liga o anterior com
o teat ro de bonecos ou sombras. )
O dra ma clssico da ndi a co ntemplativo.
O auto r situa suas personagen s num a atmo s-
fera de emoo, no na are na das pa ixes co mo
o faz em. dig amos, Eur pe dc s ou Racin e. O
dramaturgo indi ano no im pel e os conflit os
esp iritu ai s at o ponto da autod estru io. nem
seu obj etivo a cata rse, no se ntido aristotlico.
Ele est preocupado co m o refinament o es ti-
li zado dos sentime ntos. com a esttica do so-
fr imen to. Neste plano, so post o s em j ogo
os do is as pectos da poesia indi an a ant iga : ra sa ,
a disposio ou atmo sfe ra que a obra, e nqua n-
to prazer esttico puro, despert ar no es pecta-
dor; e bha va, o estado afetivo e emo o - sej a
s impatia ou ant ipat ia - criados e tran smit idos
pel o ato r competente. Enco nt ra mos uma defi-
ni o si milar na obra de Zeami, o gra nde dr a-
maturgo, ator e te rico do tea tro l1 j apons
do sc ulo XV. Zea mi define )'1II;C /l , um con-
ce ito de r ivado da doutrina budi sta, como o
poder secreto que faz nascer a beleza, a beleza
da feli cidade como tambm a heleza do de-
sespe ro.
Tan to na ndi a co mo no Japo, a art e do
atar culmina na per feio da dana. No Natva-
sastra de Bharata, o co nce ito de nataka (re -
prese nta o pel a dana) pe rt en ce igualmen-
te ao dr ama literrio.
7. Palco de teat ro hi ndu para o drama cl ssico. etc
aCOI'Ju com o Natva... a. HnI de n h a r ~ l l " .
Na cc na de introdu o ipu rvuranga) , que
com sua solenidade reli gi osa remon ta :1S ori-
ge ns ritua is, o dire to r volta ao passad o, ao
mundo do mit o , q ua ndo, seg uido por do is
co mpanhe iros carregando um c ntaro d' gu a
e o bas to de Indra, faz sua entrada no palco e
nel e es parr ama flores, crava o basto num dos
lados e lava a si mesmo co m a gua do c n-
taro.
No tri l ogo q ue se segue. Vidu saka pula
sob re o pal co. Le mbra o diretor e seu assisten-
te de qu e a loucura deve ter seu lugar na vida e
tambm no pa lco, qu e tenciona ser o espe lho
da vida.
ii.cena int rod utri a e ao trilogo segue-se
a ao, qu e entremeada com cenas da vida
comu m ou da corte contempornea s ii poca
do autor (p raka rana ), ret ratando as atividudc s
dos br manes. mercadores. oficiai s da corte,
sace rdo tes, ministro s ou donos de ca ravanas
num enre do livremen te imagi nado. Aqui tam-
bm Vidusaka faz sua apar io - nos traj es de
um h r mune que, e n tre ta nto . no fala o
snsc rito lit errio como deveria , ma s o prakrit
vernac ular. Ele decai de sua alta posio e tor-
na- se um pa rasit a miser vel c maltratado, e
o alvo de ironias c aluses . medida ljue o
papel esp iritual do s br manes se det eriorava e
decaa na co nve no, eles tiveram de supo rtar
muita zomba ria. Mas, para Vidusaka, o pap el
de um surrado brmane lhe dava pret exto pa ra
palhaadas numa pardi a de auto compaixo.
O teat ro cl ssico indiano der iva seus efei -
tos reali st as das variaes do discu rso, como.
por exemplo, e ntre o nobre e o vulgar. o s ns-
cr ito e o prakri t, pessoas de posio e me m-
bros das castas mai s bai xas. Mas este um rea-
lismo alt amente es ti lizado . A vida real refl et e-
se apenas no modelo, no na sua ap lica o no
palco.
Os fr agmentos mais antigos do drama
s nsc rito hi ndu for am enco ntrados no Turquc s-
to. Foram es c ritos pel o grande poet a bndi sta
Asvaghos ha (por vo lta do ano I(0) , autor ta m-
bm do famoso poema pico Budhacuritu, qu e
a hist ria da vida de Buda. As rubricas de
As vaghosa so carac ters ticas da abordage m
mai s li beral da prime ir a forma do bud ismo
mahayana. Na verdade . e le pe no palco o pr-
prio Buda, "rodeado por um radi ante c rculo
de luz" , e num dos fragment os que chegaram
at ns. at mesmo d falas a ele - natural-
ment e, em s nscrito . Este tip o de per sonifi ca-
o teri a sido inconceb vel num perodo mais
primitivo do budi smo . Nos pri meiros scul os
da s artes pl sticas indianas. um ni co smbolo
- a Roda da Lei ou a rvo re da Ilumina o -
indicava a presena do Buda .
O recurso do tca tro de sombras vem lem-
bran a q uan do cons ide ra mos as o bras de
Bha sa, qu e provavelment e dat am do sc ulo II
ao III. Em duas de suas peas, Dutavakva e
Baiacanta, o autor ex ige qu e as armas mil a-
grosas de Vishnu, sua mont ari a e mesmo ()
mi tol gi co pssaro gigante Ga ruda apar eam
na pea co mo ato rcs co m fa las. Sob as proibi -
es rel igi osas da ndia. co mo isso teri a a pos-
sibilidade de ser fe ito, a n o se r por cima da
cor ti na de pano? tent ador pensar nas apari-
es do teat ro de sombr as.
O dr ama mai s famoso de Bhasa Cl ui-
rudata. uma pea c uj a ambicntuo pod era-
mos cha mar de burguesa. El a nos co nta sobre
Ca rudata. um mercador e mpo brec ido por causa
da prpria ge neros idade e de seu amor pel a
nobre co rte s Vasa ntase na . Os dois persona-
ge ns vol tam a aparecer na ma is bem co nheci-
39
8. Cen a de Sho kunt aa, de Kalidasa: o primeiro encontro ent re o rei Dushyanla e Shakuntala, Miniatura de um manu s-
crito hindi, 1789 (Nova Dlhi, Museu Nacional).
9, Estatue ta de barro repres entando um danarino
Tscha m: Hoshang. o Buda barri gudo. era urna figura c -
mica favori ta do dr ama-dana tibet ano. Seg undo a lenda,
Hosbang. co m suas dout rina s her ticas. co mprometia a
ob ra de converso. mas fo i ban ido aps ser derrot ado na
d isputa rcl igil)sa (Vie na, ~ l l 1 S C U I l I fr Vtkcrkunde).
.-\.\ C ivi t z.o c s l n do- Prn-ifcax
da, A Currocinhu de Terracota, pea pos-
teri or baseada no me smo lema. Seu manus-
cri to foi encont rado em Tr avancore, um luga-
rej o perdido no sudoeste da ndia. Com suas
gradaes ef etiva s de sn scrito e de prakrit, sua
cui da dosa ca rac terizao e ex ubernc ia emo-
ci on al - Vasantasena e mpilha todas as suas
j ias na ca rroci nha de brinqued o do filhinho
de Carudata -r-, o drama ofe rece um retrato co-
lorido da vida e dos costume s do passado da
ndia. A pea atribuda ao rei Sudraka, que
rein ou no terc eiro e quarto sculos. Se a supo-
si o for correta , A Ca rrocinha de Terracota
pod eria dar testemunho no apenas do g nio
de se u autor, mas tambm da alta qu alid ade da
art e dr amtica na co rte real - no import and o
se foi escrita pe lo prpri o rei ou se fo i mera -
mente dedi cada a ele.
Kalidasa, o mais bem co nhecido drama-
turgo indiano e autor de Shakuntala, foi tam-
bm um poeta da corte. Viveu no sc ulo V, na
poca da dinastia Gupta. Suas peas voltam aos
mit os sagrados; contam sobre pod er es misteri o-
sos , sobre como Urvasi libertado pelo valor
her ico e como Shakuntala sa lva, reconheci-
da po r causa de um anel. Mas. esse nc ialme nte.
Kal idasa concebe as person age ns das lendas
vdic as em termos da prpria manei ra de viver
da cor te de sua poca. Sh akuntala apres enta-
da como uma dama refinada e aristoc rtica, mai s
do qu e uma desini bida filha da na tur eza; a
legend ria companheira das gazelas e irm vi-
gi la nte das rvores e flores torna-se a criatura
se nsvel de uma "naturalidade artifi cial ", asse-
melhando-se s per sonagens da s peas pasto-
rais da Eur opa do scul o XIX.
A entusi stica resposta despertada pela
lri ca hist ria de amor de Kalidasa em Herder,
Go ethe e nos romnti cos ex plica da pel a su-
posta inocncia e inge nuida de da vida erern -
ti ca, uma inocnci a que , seg undo jul ga vam,
Sh akuntal a encarnava - um es tado ideal h
mu ito tempo perdido para a Europa, e que
Herder supunha sobreviver apenas no Oriente.
Os romnti cos saudavam Kalidasa como seu
irm o es piritual. qne "graci osament e adorna-
ra a verdade com o vu m gi co da poesi a" .
Hcrdc r comparava o es ti lo dramrir ic o de
Kalidasa com as regras aristotlicas. Goethe
lou vou a pastora indi ana num e nlevado dsti co
e m D a lIIestiist/i.-JIl' Divuu: " 0 c u e a temi
reunidos nu ma ni ca palavra: pensai no nome
de Shakunral a: nada mais h a di zer" .
Qu ando, por volta do final do sculo XI X.
os simbolistas retiraram-se para os seus bosques
simblicos . quando Maererlinck escreveu seu
dr ama de amor lrico Pelicas ct Melisandc,
Shakuntala fez um breve retomo ao palc o oci-
dental, A pea de Kalida sa foi produ zida em
Berlim, Pari s e Nova York. Por m, ao lado da
poesia simbo lista, ela logo desapareceu mais uma
vez no tesouro da literatura de todos os tempos.
No sabe mos com que recursos externos
e com qu e meios teatrais os dramas de Kalidasa
foram montados na ndia na poca e m que vi-
veu. A int en sa imagem poti ca do dilog o su-
gere um ce n rio apo iado principalm ente na
pal avr a fal ada, no qu al, como no drama ingl s
elisabe ta no ou no drama cl ssic o espanho l, e ra
a palavra qu e criava o ce nrio. O texto dranui-
tico em si pr escreve os adereos a serem utili-
zados, como o mant o que Shakuntala deve
ves tir ap ressad am ent e, persuadi da por sua s
du as co mpa nhe iras de que hora de partir:
"Cubra- se agora co m o mant o, Sh akunt al a,
poi s estamos pront as" . A mesma enunciao
pl sti cu usada por Sha kes peare, quando
Cle pa tra, na sua grande cena de morte, diz:
"Dai-me meu manto. colocai minha coroa; sin-
to cm mim desejos de imortal idad e".
Em Slrakumal a , so suge ridas tambm
a pa ri e s de teat ro de sombras, co mo por
exe mp lo no qu art o ato , qua ndo a ninfa Sanu-
mati surge numa carr uage m de nuvens. Em-
hora o d iret or deva ter confi ad o bast ant e na
imaginao da pl ati a, tal vez lenh a tamb m
ut ilizado recursos vi suais. Tai s interldi o s,
provavelmente, no eram incornuns. A pea
dentro da pea er a muit o popul ar no drama
cl ss ico. e no raro co m a presena do prpri o
autor. Na pca Privadur sika, por exe mplo. este
um lem a cent ral. Esta pea at ribuda ao im-
pe rador Har sha, que na primeira met ade do
sc ulo VII propor cionou ao Imprio hindu
unificado um bre ve per odo de gl ria.
Os di retores teatr ais hindus eram muit o
conscie nciosos na montagem de suas pea s,
conforme pode mos dedu zir de um fragmento
de c lculos referent es ii produ o de Ratnaval i,
outra pea de Har sh a. Estes c lcul os datam do
rei nado de Ja yapida de Kasluui r, no sc ulo
VIII . Sua s esti ma t iva s de cu st os para um a
.JI
montagem de Rutnaval i listam todos os itens
necessri os para execut ar as indi caes cni-
cas do aut or.
Nos rnonast rios bud istas do Tibet e, o dra-
ma cl ssico indi ano evoluiu em peas did ti-
ca s, transmitindo lies de mor al. Ao lado dos
bardos xamnicos, que glor ificavam os gran-
des feitos de Kesar, o heri de um poema pi-
co tibetano, encontramo s os dramas tibetanos
seg uindo de pert o o modelo ind iano, O dra ma
Zugi nirna serve de exemplo, Ele tran smite a
histria da rainh a Zugiii ima , que expul sa do
palcio por causa de falsas acusaes e entre-
gue nas mos de seu s executores . No final, ela
salva, mediante sua f, dos tor mentos da alma
e do corp o. Zugiii ima re flete a influnci a dos
missionr ios budistas no Tibet. O dr ama foi
escrito no sculo XI, mas suas razes parecem
estender-se a Shaku ntala. Trad ies e temas
do teatro indiano, h muito enfraquecidos e
ult rapassados na prpri a nd ia, sobreviveram
no Ti bete, onde dram as como Zugi ii imu for am
montados em Lhasa at nu sc ulo XX.
Por volta do ano 700 . u dr amaturgo india-
no Bhavabhut i ressuscitou as ve lhas lendas de
Ra ma e levou-as a uma nova glria. A riqueza
e inte nsidade de seu es pec tro de cara cteriza -
o, "at os derr adei ros limites do amor", o
co locam ao lado de Kali das a, a quem na ver-
dad e ultrapassa em espo ntaneidade emocional,
mesmo que no co nsiga co mpeti r com as suas
sublimes elocues, Bhavabhuti pe a for a
do des tino frent e da graa expressiva. A j ul-
ga r pelo cerimonial de suas ce nas de introdu-
o, os dr amas de Bh avabhuti foram concebi -
dos para es petc ulos e m dias de festas religio-
sas es pec ficas .
Brmane de uma famlia ortodoxa, Bhava -
hhuti eliminou o bufo dc su as peas . Por m.
no final, seu ze lo refor mador foi reduzido a
nada, porque, nesse nterim. Vidusaka tomara
rel evo independ ente. Em Bhana, um mon lo-
go humor stico de um alo, especialmente po-
pular no sul da ndia, ele apa rece no palco
como atar solo. Encontrou um segundo carn-
1' 0 de ao nos vithis (de vitu, " homem do
mundo" ), que cram um ti po de cabar para um
ator s. tratando de ind iscries entre corte-
sos c cortess, de hrigas de galo e do mai s
eterno dos vcios. o amor venal. Vidusaka as-
sumiu a natur eza de seu irm o turco. Kurug z.
-12
Hs t r u Mu n d i u do Tra t ra
nada lhe ficando a dever em mat ri a de dOI/Me
cn tcndre.
A fa rsa e o burlesco (pra lutsana) tambm
ocuparam um es pao prprio no palc o ind ia-
no. Pr ovavelment e desenvol veram-se bast un-
te cedo, ao lado do dr ama clssico. Enquanto
e m Ca rl/data e A Carrocinha de Terracot a os
brmanes recebiam um bom quinho de zo m-
ba rias, os autores de far sas sa tirizava m o fin-
gime nto dos ascetas siva tas e budistas, qu e di s-
simulavam sua vida di ssol vid a sob um mant o
de pi edade. A mais antiga obra dest e tip o qu e
se conhece Mata vilasa-prahasana , atribu -
da ao re i Mahendra-Vikramavarman , do scu-
lo VII. Com stira grotesca e cort an te, el a ata-
ca os ex cessos do fal so asce tis mo e most ra,
como promete o ttulo, "as br incade ira s dos
bbad os" . Algumas outras farsas sobreviveram
do perodo entre o scul o XII e o XVI; satiri-
zam os comportamentos do s bordi s, os casos
e ntre os ascet as e seus di scpulos e o sec tar is-
mo da s cofies pri ncip escas. Os dramas poste-
rio res e m snscrito, entreta nto. foram exerci-
c ios acadmicos de estilo, p lidos c se m vida,
sem re la o com o pa lco e sem q ualq uer m ri-
to lit errio. com valor apenas para os fil logos.
Fo i some nte no inci o do sculo XX , gra-
as a Rabi ndranath Tagorc, q ue o d rama indi a-
no ga nho u mais uma vez renome mund ial. O
poeta Tago re foi tambm um vigoro so dram a-
tu rgo. ator e prod utor. Ele provocou, tant o na
antiga tradio snscrita quanto no moderno
drama ideolgico, o desen vol vi mento de um
e stilo india no novo e especfi co. q ue pode ser
de sc rito co mo de enredo tec ido livr emen te.
ca rregado de simbolis mo e expresso numa lin-
guage m lirica e romntica. Ele revive u o pa -
pel do rapsodo, que comenta a ao rcpresen-
tad a na pantomima. A obra de Tagore convida
11 comparao com o teatro pico de Bertolt
Brecht c Thornton Wil der. As per sonagen s de
Tagor e so semp re vagas e irreai s . criaturas de
uma regi o int ermedi ri a e ntre a fantasia e a
reali dade, tomadas ainda mais int an g vei s por
suas melanc licas can es. Su as peas, ele
um a ve z di sse, podem ser compreendidas so-
me nte se as ouvirmos co mo se o uv iria a msi-
ca de um a flauta.
No necessitam de nenhum apa rato ex rer-
no , rarament e de um ace ssrio, e de um ce na-
rio mnimo. Co mo ba rqueiros de um outro
10. A gra nde carr uagem de Mahcudran ath na proci sso do festival reli gioso teatral cru Katmandu. 1953 (de Toni
Hagcn. Nq)(J / - Knigrrirh im Himalaia , 1960. Cortesia dos editores. Knuuc rty e Frey. Berna).
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mundo, apelam imaginao da plat ia, que
tanto pode ser o phli co da Bengala natal de
Tagore quanto a audi ncia europia do Fes ti-
val Interna cionul de Teatro de Nova Dlhi. No
in cio de sua pea O Ciclo da Prim avera,
Tagore diz, com poti ca auto-suficincia: "No
necessitamos de cenrio. O nico pano de fun-
do do qual precisamos o da imagina o, so-
bre o qual pintaremos um quadro com o pin-
cel da msica".
INDONSIA
Quando o hindusmo, vindo da ndi a na
esteira dos marinhei ros, mercadore s e sacer-
dotes indianos, estendeu seu domnio sobre os
impri os das ilhas da Indonsia, desenvol veu -
se cm Java a mai s hela e famosa das formas
teatrais do sudeste da sia, o teatro de sombra
ou lI'ayang . At hoj e, suas quatro vari antes
caractersticas podem ser encontradas por to-
das as ilhas. Seus grac iosos atores - as figura s
planas, recortadas em couro transparent e, e os
bonecos esc ulpidos em madeira , em rele vo
inteiro ou semi-relevo, com seus olho s estrei-
tos e enigmticos - so hoje altamente valori-
zados pelos curadores de museus e coleciona-
dores part icul ares.
As origens do ll'aYl1lzgsem dvida remon-
tam poca pr-hindu dos cultos ancestrai s
javanescs. Algumas regras cer imoniai s, corn o
a excluso inicial de mulheres da platia e, mais
tarde e com freqncia ainda hoj e, sua separa-
o do s espectadore s mascul inos, sugerem
uma estreita conexo com os ritos de inici a-
o - conexo que , incidentalmente, ex iste
tambm no teatro de sombras turco. O \\,{/yanR
adquiriu seus aspectos caract er sticos durante
o perodo ureo da civilizao indiano-java-
nesa. Absorveu os velhos mitos vdi cos dos
deuses, o Rotnayana e o Mahabharata, e ab-
sorveu a riqUl:za das persona gens desses dois
grandes picos indianos e seus conflitos na
guerra e na paz. O \\'i/ yallg to rico em repre-
senta o descritiva quanto o so as figura s nas
frisas dos templos hindus-j avaneses, os rele -
vos nas paredes e prticos de Pramb anan. Lar a
Jang-grang, Borobod ur ou Panataran.
O termo 11"l1.\(/ II R 1'"1"1l'{/ test emunha a
grande poca do teatro. lVilY{//Zg quer dizer
44
Hl s t o r a und a! do Tr u t ra
sombra (e, mai s tarde, tambm cspetcul o,
num sentido mai s amplo); purba, ou purwa,
significa anti go , pertencente a uma antig ida-
de remota. O \I'il yallg purwa nunca se tornou
mero entretenimento profano ; at hoje no
perdeu sua funo mgica de mediador entre
o homem e o mundo metafsico,
Nos primrdios do sculo XI, a literatura
javanesa menciona pela primeira vez o lI'ayallg
punl'a como uma forma de arte muito difun-
dida. Por volta da met ade do sculo XI, era
popul ar nas cortes de Kediri , Shingasari e
Majapahit. Aps as convulses polticas dos
sculos XV e XVI, encontrou um novo lar no
famos o Kraton, o palci o em Mataram, que se
transformou no centro cultural da ilha de Java.
Os primeir os regi stras das figura s indo-
nsias waYilll g feitas de couro datam do pero-
do do sulto Dernak (cerca de 1430). Aqui,
tambm, se encontra a origem do termo lI' a-
Yil llg kulit (kulit quer di zer couro ). As figur as
habilmente cort adas e perfuradas so geral -
ment e feitas de couro de bfalo , O rosto sem-
pre mostrado de perfil . o corpo geralmente cm
posio meio frontal : os ps apont am para os
lados. seguindo a dire o do rosto. A figura
firmemente mont ada sobre varetas feitas de
chifre de bfal o; se us ombros e cotovelos so
m veis e podem ser guiados com a ajud a de
duas varetas fina s. Desde pocas remota s, o
contorno e o desenho das figuras lI'ayallg tm
sido rigidamente codificados. Cada linha, cada
trao decorativo, cada ca racterstica do corpo,
cada variao ornamental possui seu signifi -
cado definido, simblico. Na verdade, o bone-
queir o preci sa se r tant o o mestre das regr as
iconogr ficas quanto do es tilete e do cinzel que
utiliz a para confeccion-los. Em primeiro lu-
gar, sua personagem deve conformar-se s
especificaes iconogr fi cas . Ento, com o
estilet e e o cin zel , o bon equeiro produ z a deli -
cada trelia dos figurinos e toucados, o capa-
cet e ou a coroa. A bel eza estranha e sobrena-
tural das figura s encarecida pelo uso orna-
mental de folh as de ouro, turque sa brilhante,
vermelho profundo e preto.
O lI'ayall g kuli t em ger al encenado
noite (exceto na ngru wat lakon, uma cerim-
nia espec ial que simboliza o exorcismo dos
demnios). projetado numa tela feit a de
linha o estendida sobre uma moldura de ma-
II. Cabeas de terracota da com dia hindu : tipos feminin o c masculi no, como era costume na Bhana. pea cm UIII ato
de estilo satrico e cabarctfstico, sculo XIX (Poona, Museu Arqueolg ico do Deccun Coll ege).
12. Os bufcs do teatro lI"OHlI1g de Java. Da esquerda para a direita: Scmar, Carenp. Petruk e Bagollg. R. L. Mellema,
Titrn:s HlJrWlg. Amsterd. 19),:\.
deira e iluminada pelo lume brando de uma
lmpada a leo. A pea apresentada pelo
dalang (narrador), que habilmente traz vida
seu numeroso elenco.
Numa caixa sua esquerda, os represen-
tantes do mal aguardam a deixa para entrar: os
demnios. traidores, espies e animais selva-
gens e, em outra caixa sua direita, rainhas e
damas da nobreza, os fiis ajudantes e irmos
de armas dos heris esperam a sua vez de en-
trar. H os cinco Pandavas, os belicosos her-
deiros do reino de Astinapura; seu bem-inten-
cionado conselheiro Kresna e o tirnico
Werkudara, com seu caracterstico polegar em
garra; h Arjuna, o belo filho do rei, e seu her-
deiro Abimanyu, ambos com predileo por
andar procura de esposa e com freqncia
acompanhados pelo velho e gordo Semar e
seus filhos, os bufes do wayang kulit. Mas
temos tambm o filho bastardo do rei Pandu,
Adipati Karna, e o perigoso maquinador, o
primeiro-ministro Patih Sengkuni, os dois
aguardando o momento da vingana.
De que forma o dalang consegue movi-
mentar essa grande quantidade de figuras com
apenas duas mos seu segredo. Alm do mais.
ele tambm rege os msicos, dando-lhes as
deixas tamborilando-as com uma espcie de
martelinho feito de madeira ou chifre. Se for
preciso, o prprio dalang pode acompanhar
sua narrativa com efeitos sonoros produzidos
Hst ori a M'u nd i a do 1'('(/(1'0
com a ajuda de pequenos discos de madeira
ou metal e presos s caixas onde ele guarda
seus bonecos. Se suas mos no estiverem li-
vres, ele bate nos discos com os ps.
A ao da pea determinada pelo lakon,
uma espcie de exposio dos fatos, que esta-
belece um enredo especfico, baseado cm mo-
delos tradicionais de natureza estrutural. Aps
a msica gamelan introdutria, o dalang pro-
fere o tradicional encantamento: "Silncio e
fora, seres diablicos - sutuh rep data pitana!"
Antes do incio da pea, o dalang apre-
senta uma descrio detalhada do lugar e das
personagens, e introduz a ao da pea como
tal; as fases sucessivas duraro a noite toda.
Das nove at a meia-noite o enredo se confi-
gura; da meia-noite s trs da manh ele se
intensifica; entre trs e seis horas da madruga-
da resolvido. A pea termina ao amanhecer.
Geralmente, um espetculo wayang de-
votado a um lakon do ciclo completo da len-
da. s vezes, contudo, em grandes festivais
que duram muitos dias, todo um ciclo exe-
cutado. Porm, o pblico javans est to fa-
miliarizado com as personagens e episdios
do Raniavana e do Maliabliarata . que uma
parte pode facilmente tomar o lugar do todo.
A tarefa de ator, narrador e comentarista
do dalang exige o mais alto grau de concen-
trao. Por horas a fio, ele permanece devota-
damente absorto na proposta e na atmosfera
T
As (i vi l i t a cs Indo Prnifi cos
da pea. A habilidade tcnica necessria re-
quer muitos anos de treinamento. O dalang
deve trazer vida dzias de figuras diferentes.
cada uma individualmente caracterizada em
cadncia e entonao. Na pea sobre a lenda
Bharatayuddha dos pndavas e kuravas, por
exemplo, temos trinta e sete papis principais.
sem mencionar as figuras secundrias. os ani-
mais e o gunuugan, a foliforme rvore do pa-
raso ou (em Bali) em forma de guarda-chuva.
Uma velha norma diz que as maiores possibi-
lidades de xito do dalang dar-se-o se usar
exatamente 144 figuras em suas montagens; este
nmero considerado pelos nsticos javaneses
como correspondente aos 144 caracteres e pai-
xes humanos.
As peas I\'ayang so apresentadas nos
palcios dos nobres javaneses. Entre o prtico
frontal e os aposentos internos COITe uma pas-
sagem coberta (prringgitan. lugar de sombra),
e neste espao que armam, para o jogo de
teatro de sombra, a sua tela. envolta por uma
moldura amide ricamente adornada e habili-
dosamente entalhada. Como o W(IWl11g tradi-
cionalmente tem sido sempre uma atividade
masculina, os homens ainda sentam-se do lado
"bom" da tela - ou seja. atrs do dalang, de
modo que possam ver os prprios bonecos. O
lado do jogo das sombras considerado como
de segunda ordem e, pela tradio, por toda
Java. onde se sentam as mulheres.
Em Bali, o protocolo artstico do teatro
H'ayang, e talvez ainda mais o social, menos
estrito. O dalang arma sua tela ao ar livre, e a
platia senta-se informalmente no cho. To-
davia, em Buli que o carter ritual permane-
ceu mais forte. Bali. a "Ilha dos Mil Templos".
manteve-se mais fiel ao hindusmo que Java,
onde o Isl ganhou terreno quando invadiu a
ilha, avanando a partir de Sumatra durante o
sculo XV. At hoje, os dalang de Bali apre-
sentam-se nos recintos do templo, e especial-
mente na entrada do primeiro ptio do tem-
plo, o assim chamado tja ndi-bcntar, ou
"porto dividido". (No primeiro desses trs
ptios, ocorrem as popularssimas brigas de
galo de Bali.)
Outras formas do teatro wawl11g desen-
volveram-se posteriormente, ao lado do 1\"0-
yang kulit, Uma subespcie, o wavcnn; gedok,
tambm lanou mo dos costumeiros bonecos
de couro, mas mais recente do que o \I'oy"ng
kulit e originou-se, segundo se cr, na poca
da invaso de Java pelo Isl. Seus temas ba-
seiam-se naquele perodo, e sua origem atri-
buda ao santo muulmano Sunan ing Giri.
A forma wa\'llllg mais habitual hoje, e
muito difundida, especialmente no centro e no
oeste de Java, o \I'(IWlIlg golck (go/ek quer
dizer redondo, plstico), com seus bonecos
tridimensionais habilmente esculpidos em
madeira e ricamente pintados. Seu repertrio
deriva principalmente da histria do prncipe
Menak, um precursor do profeta Maom. Os
vitoriosos exrcitos de Menak prepararam o
mundo para o advento do Profeta, de acordo
com a lenda que remonta a fontes persas mas
que, estranhamente, nunca se constituiu num
tema para o drama na Prsia. Na sua forma
xiita na Prsia, o Isl glorifica no os triunfos
dos que vieram antes do Profeta, mas o mart-
rio de seus sucessores, dramaticamente reence-
nados a cada ano como um testemunho reno-
vado de f.
Os bonecos do H'(I\"ang go/ek so esculpi-
dos com o tronco curto e vestidos suntuosa-
mente. ricamente bordados ou adornados com
ornamentos de bcuik . Os figurinos escondem
com habilidade a mo com a qual o titereiro
segura seus bonecos. Os braos so articula-
dos nos ombros e cotovelos e. como todos os
bonecos woyang. S;lO movimentados por meio
de tinas varetas de madeira. Em 1931, a graa
misteriosa das bonecas H'a."llng gole]: inspira-
ram o titereiro vienense R. Teschner a consti-
tuir seu Figurcnspicgcl Thcatcr, que trouxe o
wayang golek e os conceitos do teatro de som-
bras da Indonsia a entusiastas do teatro de
bonecos de toda a Europa.
Ainda outra forma de wayolIg o H'aVang
kruchil ou klittik (kenujil, klitik significa pe-
queno, delgado). Suas figuras so tambm fei-
tas de madeira, porm mais planas e equipa-
das com braos de couro. Tira seus temas do
perodo entre o declnio de Majapahit (1520)
e a ascenso do imprio islmico de Dernak.
Hoje est quase extinto. Apenas seu nome,
wayang bebr, sobreviveu. Fazia uso de um
grande rolo de papel fibroso ou tecido de al-
godo. onde os personagens eram pintados. O
dalang movimentava o rolo pcla tela pintada,
da mesma forma que um filme. O Museu
46 47
-
\ 3. Bo neca do Wtl )"Oll g golek do IcatrOde sombras da Indonsi a. Java.
fmal do sculo XIX (Munique. Slad unus
eum
. Coleo de Tealro de Bo-
neco s) .
T
14. O deus lndra. Bonee<> do teatro de 50mb"" javans feito de per gaminho pint ado. com trs varetas para manipula-
o tOf fenbaeh arn Main. Deul sebes Lelk nll useum).
15. Mscara de demnio para a dana barong indonsia. O barong, um animal mtico, carregado por dois danarinos.
A mscara esculpida cm madeira e decorada com elementos ornamentais feitos de pergaminho de bfalo dourado. Da
ilha de Bali (Offenbach am Main, Dcutschcs Ledermuseum).
16. Friso em relevo com ninfas danantes (Apsaras). no tcmplo-rnonastrio de Prcahkhan no Camboja. Construda por
Jayavarman VII, o ltimo dos grandes reis do Khmer, c. 1190.
T
I
As C v zo cs l n d o Pcn-Fficns
Etnolgico de Leiden e o Museu Pahemon
Radyapustaka de Surakarta possuem cada qual
um bem-conservado rolo pintado wayang
beber.
Hoje, nas cidades da Indonsia, o teatro
wayang to comercializado quanto as danas
indgenas, as danas com mscaras do wayang
topeng, a famosa Dana das Ninfas (bedaja), a
kiprah, dana acrobtica de solo, ou a djaran-
kepang, danada em pares com bambus entre-
laados representando cavalos - e todas as nu-
merosas formas de wayang wOllg (wong quer
dizer humano), o teatro do humano.
A msica gamelan um ingrediente es-
sencial em todos os espetculos wayang da
Indonsia. A orquestra consiste predominan-
temente em instrumentos de percusso (gamei
a palavra para martelo), gongos, tambores e
xilofone, com alguns poucos instrumentos de
corda e sopro. O sistema de escalas gamelan
construdo sobre intervalos; suas melodias ba-
seiam-se tanto na escala de cinco notas islen-
dro) quanto na de sete (pelog), que recordam
os tons maiores e menores da msica ociden-
tal. Pode ser considerada uma regra prtica que
a slendro gamelan esteja geralmente associa-
da com o wayang purwa e a pelog gamelan,
com seu tom menor, wayang gedok.
Uma orquestra gamelan tambm acom-
panha as danas cerimoniais apresentadas na
corte. Estas danas da corte, que so introdu-
zidas pelo dalang com recitaes e acompa-
nhadas tanto pela orquestra gamelan quanto
por coros de homens e mulheres, atingiram
seu maior desenvolvimento nas cortes de Java
central.
Essas danas cerimoniais eram estritamen-
te reservadas para apresentaes na corte. Ain-
da no sculo XIX bastante adentrado a dana
bedaja, com seu acompanhamento de canes
melanclicas, s podia ser danada nas cortes
dos sultes de Java, diante de um pblico se-
leto. Ela executada por um grupo de nove
moas muito jovens envergando preciosos
mantos tecidos com relevos dourados e mo-
vendo-se com a graa perfeita da tradio da
dana oriental. Cada gesto possui um signifi-
cado ritual, mgico, de acordo com o niudras
hindu. Hoje a bedaja danada na cerimnia
que celebra o Garabeg, um festival muulma-
no de sacrifcio.
Pode-se julgar quo fortemente os indo-
nsios ainda respondem ao encanto mgico do
teatro wayang por um poema escrito na dca-
da de 20 pelo escritor javans Noto Suroto:
Senhor, deixai-me ser um ll'({.\'{/ng em vossas mos.
Posso ser um heri ou um demnio. um rei ou um ho-
mem humilde, uma rvore, urna planta, um animal... mas
deixai-me ser um wavang em vossas mos... Ainda no
lutei minha batalha at o fim, e logo vs me levareis: eu
poderei descansar com os outros cuja pea esteja acaba-
da. Estarei na escurido com as rnirfadcs... E ento, aps
centenas ou milhares de anos, vossa mo mais uma vez
me conceder o dom da vida c do movimento... e eu,
novamente. poderei falar c lutar ;l boa luta.
51
China
I NTRODU O
Cinco mil anos de histria medeiam nos-
so tempo e as fontes do teatro chins. Imp-
rios e dinast ias vierame se fora m desde os dias
pri mit ivos das danas rituais da ferti lidade e
dos exorcismo s xamnico s dos esp ritos do
mal, desde os primrdios da pant omi ma da
corte e dos trocadilh os dos bufes. Mil nios,
imprios e dinastias inteiros separam os dias
do primeiro conservatrio imperial de msica
daq ueles que testemunharam. eve nt ualme nte.
a legitimao do drama chins. Esse amadure-
cimento foi levado a cabo pelo col apso do s-
lido edifcio do poder de um impri o. it som-
bra de Gngis Khan.
A mol a propul sora ntima desse drama foi
o prot esto, a rebeli o ca muflada co ntra o do-
mni o mongli co . Ass im, nos sculos XIII e
XIV. o drama chi ns celebrou se us triunfos
no no palco, mas nas colunas dos livros im-
pressos. Os dramaturgos er am eruditos, m-
dicos. literatos, cujos discpul os se reuniam
em torn o do mestre ao abrigo das salas parti-
cu lares de recitais. Sua mensagem sediciosa
er a passada de mo em mo em livros de im-
presso artesanal, elegante mente enc ader-
nados.
O aplauso do povo, entrement es, perten-
cia aos malabaristas. acrobatas e mimos. Pel o
precri o bal ano dos funambuli stas, equili-
bri st as e prestidi gitadores a her ana teat ra l
chi nesa atravesso u os mi!n ios. Ai nda hoj e.
na pera de Pequim, numa das mais alta me n-
te consumadas formas de teatro do mundo, a
arte dos acrobatas possui seu lugar de honra.
No teatro chins, a acrobacia, em sua nobre
tradio, classifica-se como par da m si ca .
A lgica matemt ica de notas musicais re-
present a a orde m do mundo, as lei s que gover-
nam o curso das estre las e da vida na terra. A
intera o entre cost ume e msica culmi na na
forte tradio cerimonial sobre a qual o po-
der e a autor idade absoluta do maior Estado
do mundo for am erigidos durant e milh ares de
anos. Exatamente da mesma forma co mo as
pessoas comuns es tavam sujeitas aos se nho-
res feudais e os se nhores feudais ao impera-
dor, tambm o imp erador, por sua vez. es tava
sujei to ao Senhor do C u, a quem adorava em
sua condio de Fi lho do Cu. Essa ado rao
exp ressa va-se nas pantomimas sacras e nos ri-
tos sacrific iais. bem co mo nos sons da m sica
radi cada nos poderes cs micos, m sica que,
mediant e sua s lei s. atrelava o sobrenatura l a
um dever neste mundo. "Quem quer que en-
tend a o signi ficado dos grandes sacri fc ios" .
disse uma vez Con fcio. "compreende r a or-
dem do mundo como se o estivesse segurando
na palma da mo".
A conseqncia dessa ordem do uni ver so
que a virtude recompensada e o mal, pun i-
do. A arte e a vida movem- se dentro desses
dois postul ados. Se us fundamentos reli giosos
sempre es tivera m ligados ao culto dos ances-
trais e dos heris - no obs tante a interveno
Ch n a
1. Cena de A Est ratgia da Cidade Desprotegida, pea do pe rodo Chou.
ou o cami nho inverso' ) Ssu-rna Chien uma
import ant e testemunha de sua ex ist ncia, mas
n o r bitro nessa questo .
Conforme a histri a co ntada por Ssu-ma
Chien, um homem chamado Shao Wong , do
estado de T' si. veio diant e do imper ador \Vu-ti
em 121 a.c. para ex ibir sua hab il idade cm co-
municar- se com os fantasma s e espri tos dos
mort os. A co nsorte favorit a do imper ador,
\ Vang. havia aca bado de morrer. Com o aux-
lio de sua arte. Shao \Vong fe z com que as
imagen s dos monos c do deu s dos lares apar e-
ce sse m noite. O imperador a viu a uma certa
di stnci a, atrs de uma cort ina . Co nferiu, eu-
to, a Shao Wong, o ttul o de " Marechal do
Saber Perfeito". cumulou-o de presentes c con-
ce de u-lhe os ritos dest inados aos convi dados
da co rte . Qua ndo, por fi m, Shao \Vong torn ou-
se ambic ioso demais e falhou repetidas veles
ao invocar os espritos desejados, o Imperador
tornou- se ctico, e dois anos mais tarde o pr-
pri o Sh ao \Vong foi secretamente despa chado
para o mundo dos espritos.
O teat ro de sombras, entretanto - o qual,
de al guma forma, Shao \Vong parece ter Usa-
do - permaneceu uma forma favor ita do teat ro
chi ns . Os honecos de Pequ im e de Szechu an,
feitos de couro tran sparent e de burro ou bufa-
lo, trau smitem uma impress o da imag inativa
Esse pode ser um ep isdio tri vial para
contar o princpi o da hist ri a do teat ro chi-
ns, mas sua moral sugestiva. A virtude pr e-
valece, o que ou qu em quer que seja res po n-
svel por sua vit ria. Ssu-ma Ch"ien, campeo
da arte do mimo. perte nce u corte do impe-
rad or Wu-t i (140-87 a.Cv) e desfrut ou. junta-
mente co m numerosos e ruditos e poet as, os
favores deste governante amante das artes. Foi
ele quem, em 104. fundou aquilo qu.: co-
nhe cido co mo Gabi nete Imperi al de M sica.
El e incorporou os novos instrument os mu si -
ca is, trazid os ao pas por equ ipes de cons tru-
tor es da sia Ce nt ral, que haviam chegado
China para aj uda r na cons truo da Grande
Muralha. e autorizo u a composio de nova s
mel odias para esses instrument os. Desde en -
to o ala de de quatro cordas (1' ' j .l' 'a) co m
sua extenso de trs oitavas , e a did;c, uma
flauta com seis buracos e uma chave, torna-
ram-se component es bem-est ab elecidos da
orquestra chinesa de palco.
De acordo com Ssu-rna Ch' ien, os primr-
dios do teatro de so mbras ch ins remontam ao
perodo do imperador Wu-ti . Mas css a infor-
mao ainda no decid e a co ntrov rsia corrente
entre estudi osos do sculo XX quant o ori-
ge m do teatro de so mb ras: ter ia ele viajado da
Chi na, via ndia e Indonsi a, at a Tu'rqui a -
T
I
H ss r a M u nd o l lo 1"('(/11'0
daes, eclipses sol ares, os deu ses da chuva e
do vento, doenas e desgraas.
Essas danas xamnicas 11'11. sobre as quai s
o filsofo Mo Ti escreveu por volta de 400 a.C;
for am de vital relevncia durant e o perodo
Shang (a t mai s ou menos 1000 a.Cr). No pe-
rodo Chou que se seguiu, aparece ram os pri-
meiros elementos profanos. Mimos e bufes
propor cionavam diver so nos ba nq uetes im-
peri ai s. Bal ada s e ca nes folc lricas eram
interpretadas numa "dana de louvor " paut o-
mmica (sulIg ,,"u).
Conta- se que certa vez Co nfcio ficou to
irri tado co m as momices desrespeit osa s dos
anes da co rte, que ordenou ao gov ernador
de Lu que executasse meia d zi a dos pi ores
ofensores. Scul os mai s tarde, isso ainda era
apo ntado contra ele pe lo croni sta Ssu-rna
Ch 'ien, cujo famoso Registro H i strico (Shih
Chi) contm um captulo int ei ro sobre a pro-
fisso de ator. Em co ntraste co m o ensina-
mento confuciano e sua rgida recomendao
de moderao e autodisciplina, Ss u- ma Ch'ien
de cl ara: "Ma s eu di go o seguinte: os cami-
nhos do mais ele vado par aso so por demai s
incompree nsivelmente sublimes: ao co ntrrio
do qu e se pen sa. possve l. mesmo falando
sobre co isas triviais, qu e algum encontre o
caminho atravs do caos das confuses hu-
mana s".
Gra as a esse veto. Ssu-ma Chien conver-
teu-se no advogado de todos os bufes e atores
da C0l1e. explicitamente nomeados por ele, que
estava m entre a vanguarda do teatro chins .
Em primeiro lugar entre eles estava Yu-
Men g, msico, bufo e mim o da cor te do rei
Chuang (6 13-60 1a.c.) no rei nado Cho u. Esse
es pi ri tuos o ano no hesi tava em at acar no
ape nas os excessos da vida da corte, mas tam-
bm as injusti as do seu gove rna nte. Certa vez,
ele apareceu di ante do rei nas vest es de um
ministro recentement e falec ido e lembrou-o
de sua dvida de gr atid o par a com a famlia
empobrecida do mini st ro: "Leal at a morte
foi o ministro Sun Shu- ao em Chou. Agora,
sua famlia desamparada pr eci sa ca rregar ma-
deira para sobreviver. Ah, no vale a pena ser
mini stro em Chou !" O ape lo mmi co de Yu-
Men g foi um sucesso co mpleto. O filh o do
fal ecido foi convocado 11 co rte e inves tido de
um alt o cargo.
natural para o senso inato de ordem dos
chi neses subordinar todas as coisas, deste e do
outr o mundo, ao princpio utilit r io, seja 110
domnio das idias ou no da prtica. Assim a
msica, o mediador que conci lia o cu e a ter-
ra, tambm possui uma legt ima misso edu-
cac ional. A perce po da ut il idade da msica,
segundo dize m, levou o mtico imperador ama-
rel o Huang Ti, fundador da nao chinesa (cer-
ca de 2700 a.Ci) , a injet ar a magia dos sons
1I0 S propsitos da alta polti ca . Acredit ando que
a msica serve para mant er a paz e a ordem,
ele saudava seus visitantes ofi ciai s com apre-
sentaes musicais.
Mgicos e exorcistas eram responsveis
pelo transcorrer seguro da vida rural , pelas boas
co lheitas e pela boa sorte na guerra. O xama-
nismo era gra nde mente de senv ol vido no norte
e no centro da sia, onde seus praticantes for-
maram um grupo profi ssion al distinto. Dan-
as rituais ( 11' // \\' //) era m apresentadas num
estado de xtase contra desastr es naturais, inun-
O RIGENS E OS ' 'CEM J OGOS"
do misticismo taosta da naturcza de Lao-ts ,
a filosofia moral de Co nfc io, o adve nto do
budi smo e do cristianismo nestori ano.
O herosmo a mai s alt a perfeio da vida
humana e, no palco, ce lebrou seus mais im-
pressionant es triunfos tant o na forma de su-
premo valor quant o na de humilde pacincia.
Poet as e dr amaturgos modernos devem
mu ito tradio chines a. Bert olt Brecht in-
corporou, em sua nova forma de drama pico,
aqui lo que chamou de "a spe cto de exi bio
do antigo teatr o as itico". Thornton Wilder,
que passou os anos de sua juventude em Hong-
Kong e Xangai , derivou a tcni ca de seu tea-
tro pri mordi al, sem qu alquer tipo de iluso,
da arte da atuao chines a. Paul Claude l, que
viveu quinze anos na China co mo dipl omata
francs , recolheu os frutos de suas experi n-
cias no Ext remo Oriente em Le Souli er de Sa-
tin. Estudou o teatro, o carter e a filosofi a da
China e chegou concluso de que o eni gma
da fo ra e do poder deste populoso e gigan-
tesco Estado po de r ia ser sol uc iona do em
c inco palavra s: "O indivduo nun ca es t soo
zinho " ,
5 ~
55
2. Bonecos de teat ro de sombras chins da lend ri a "Viage m ndi....que o monge peregrino Huan-Tsang empree n-
deu a fim de adquirir escri tos budistas. Ele cami nha frente com feixos de livros, seguido por seu cavalo branco, o rei
macaco Sun Wu-k'ung, Chu Pa-tsie, o cabea de porco, e o monge Sha Wu-tsing (Chicago, Field Museum of Natur e
History).
3. Figuras de teatro de sombras de Szechwan: princesa no lombo do cavalo faz prisioneiro o jovem com quem desej a
se casar, sculo XVIII (Offenbach am Main, Deut sches Leder museum) .
4. Ce na de teat ro de sombras: a princesa Kuan Yin no trono de l tus durant e uma rece po (Munique. Stadtmuseum,
Coleo de Tt eres de Teat ro).
5. Cena de teatro de sombras: encontro no parqu e de animais do pagode (Munique. Stadtmuseum, Coleo de Tt eres
de Teatr o) .
riqueza de a o e dos personagens picos dos
mit os folcl ricos.
A evocao visual dos "espritos dos mor-
tos", na poca do imperador Wu-ti, refl ete-se
hoje na terminol ogia do teat ro chins, onde as
duas portas - de entrada e de sa da - , direita
e esquerda do palco, sempre for am conheci-
das corno as "portas das sombras" ou "portas
das almas".
Ao lado da msica da corte c das danas
xarnnicas com mscara s de animais. os en-
tret enimentos teatrai s da poca do imperador
Wu-ti incluam tambm a alegre diver so dos
"Cem Jogos" das feiras e mercados. Fora do
port o ocidental da capital, Lo- yang, havia um
recint o de feiras, onde mgicos e malabaris-
tas, engolidores de espadas e fogo, exi biam
suas habilidad es.
Ao longo do perodo Suy (220-6 18d.C)
elementos ocid entai s vieram na esteira dos
merc adores atravs da sia Central. at o Mar
Cspi o. Mercadores e embaixadores persas e
hindu s chegaram ao pa s e, em 6 10, o impera-
dor Van-ti construiu o primeiro teat ro com a
prop osta especfica de entret er embaixadores
de pases estrangeiro s. Sab emos que o teatro
ficava do lado de fora do porto sul de Lo-
58
H s t r i a X u ndi a l d o Tra t r o
6 'I' erc de teat ro de so mbras s iam s : (I macaco
An gkut .
yang: porm, podemos apena s supor como ele
deve ter sido . Posto que os "Cem Jogos" en-
volviam prin cipalmente pantomimas, dana e
aprese ntaes acrobticas, tal vez estejamos cer-
tos ao ima ginar uma plataforma simples, ele-
vada, pos sivelmente coberta por um telhado e
limitada por uma parede de fundo. Os convida-
dos provavelmente assisti am ao espet culo
sentados em se us palanquins, como era ainda
o costume das platias do sculo XVII das dan-
as gig aku (originalmente coreanas) do Jap o.
Os E STUDANTES DO J ARDIlIl
DAS PERAS
O perod o da dina sti a T'ang (6 18-906)
assis t iu ao nascimento do livro imp resso e da
manu fatura da porcelan a, a um grande flore s-
ci mento da pintura e da poesi a lrica e ii intensi-
fica o do co mrcio com a Ar bia e a Pr sia .
Foi tambm durante este per odo que teve lu-
gar o mais famoso evento da histria do teatro
na China - a fundao do chamado Jardim das
Per us, a academia teatral imperial da qu al os
ate res de hoj e ainda tiram sua desi gnao po-
tica de "estudantes do Jardim das Per us".
Ming Huang. conheci do na hi st ria co mo
o imp er ador Hsuan -tsung 0 12-75 5). foi o roi
solei l chins. Amava o esplendor e a fama,
lindas mulhere s, cavalos puro-sangue, ca ar e
j ogar plo, bal e msica. Co nta-se que foi ele
o primeiro a "colctar as flores di spersas da poe -
sia, msica e dana e entre la -Ias na grinalda
do drama". Em 714, Ming Huang fund ou um
gabine te imp erial para o desenvolviment o da
music a instrument al e da composiao (Chiao-
Fallg) e organizo u o chamado Jardim das Peras,
a primeira esc ola de arte dr amtica da China.
No Jardim das Peras do imperador trezentos
joven s recebi am cuidados o treinament o e m
dana , msica instrumental e canto. Os mais
talent osos podiam esperar por uma brilhante
carre ira na co rte. Todos os di as, Min g Huang
co mpa rec ia pessoalment e para veri fi car que
progr es sos os j ovens estavam fazendo: tinha
Chi na
um interesse pessoal em j ulgar seu desem-
penho.
No "Jardim da Primavera Perp tua", uma
escola paral el a ao Jardim da s Peras , um grupo
de trezentas moas. escolhidas a dedo por Sua
Majest ade, eram treinadas para alcanar a per-
feit a graa e eleg ncia do movimento e da dan-
a . Conta-se que , para agradar sua linda
co ncubina Yang Kuei-fci , o prprio imperador
oca sionalmente vestia uma roupa de bobo e
improvisava pequenas ce nas com os ata res. O
"palco" podi a ser uma varanda aberta num dos
edif cios do pal cio, um pavilho ou algum
local preparado no jardim do palcio. Para uma
locao pitoresca. pod er ia ser escolhido um
grupo de rvores, ou um tanque com lrios, uma
pont e. uma casa de ch. Havia canes, dana
e msica onde e qu and o o Imperador assim
ordenasse - nas refeies, nas recepes ofe -
recidas a convidados de honra, como diverso
durante um j ogo de xadrez, ou dur ant e acon-
tecimentos cerimoniais da corte, que sempre
duravam hor as.
A histria de Ming Hu ang e sua "Madarne
Pompadour", Yang Kuei -Iei, torn ou-se um dos
temas favorit os da arte . m sica. poesia c dra-
ma chineses. Uma da s mai s comovente s de
suas verses para o palco o drama O Palcio
da Vida Eterna, do final do sculo XVII. As
fal as desta pea. imort ali zando o juramento
trocado entre o imp er ador e sua bem-amada -
"sempre voar lado a lado. co mo os pssar os
no cu e sobre a terra, un idos como o ga lho
unido rvore" so to bem conhecidos na
China quant o o so, na Europa, as pal avra s da
Jul ieta de Shake speare: "Foi o rouxinol , e no
a cotovia..",
As crni cas, romances e peas de teatro
testemunham que Min g Huan g mant eve o seu
jurament o. Quando Yang Kuci-fei foi vitimada
por um golpe revoluci onrio, seu Romeu im-
perial apressou- se a seg ui-Ia ao Palcio da Lua .
onde habitam as almas abenoadas. Co nta-se
que, nos bons tempos, ce rta vez Ming Huang
rompeu com sua bela concubina. Est e episdio
o tema da pea , \ Bel e:a Embriagada. obra-
prima de virtuosismo histri nico, que dur ant e
muit os anos fez part e do int ern aci onalmente
aclamado repert rio da pera de Pequim.
A pea pode ser descrita co mo um musi -
cal de ato nico. Seu enredo conta COl1\O certa
noite Min g Huang convido u sua be m-amada
par a uma taa de vinho no Pavilho das Cem
Flores. El a espera por el e, vestida com suas
mais deslumbrantes roupas, quando fica saben-
do que o Imperador foi para os braos de ou-
tra mulher. Ela se embriaga para afogar sua
tr isteza, vergonha e ci me.
Na dir eo dada a est a cena - tratada com
muita habilidade e co m co nsc inc ia dos pro-
blemas es tticos que a representao da em-
briaguez pode trazer para o atol' - os estudio-
sos da cultura chinesa encontram uma ponte
qu e une o passado ao presente. No terna e no
es ti lo desta cena virt uos stica do per odo T' ang,
e em sua harmoniosa co mbinao de msica
voc al e co reog rafia, os estudiosos vem um
paralel o ao estilo da pera de Pequim atual .
O estilo, aqui, acentua o senso conceituaI e
artsti co da apresent ao, a ao "ntima",
mais do qu e as tcni ca s especficas de repre-
se ntao. O historiador do teatro chins Huan g-
hung ex plica que , "para cheg ar a uma aprecia-
o corre ra do teat ro chins, o euro peu preci-
sa estar co nsciente de qu e o mai or interesse
no tant o sublinhar a a o co mo tal , mas
dei xar o pbl ico sentir a histria. O acento est
na s po ssib ilidade s es pirituais, mai s do que nas
fsicas" .
Es sa circunstncia explica tambm o por-
qu de. no decorrer de longo s pe rodos, no
terem sido int rodu zidas maiores inova e s
c nica s no teatro chins: tudo o que aco ntece u
foi uma ampliao dos mei os teat rai s, do al-
cance da expresso musical , do nmero de ato-
res a fazer parte do cspet culo.
Durante o perod o das Cinco Dinastias
(907-960 ). com sua agitao e instabilidade
polti ca, o teatro no enco ntrou co ndi es pro-
p cias para um desen vol vimento ulterior. Os
es tudantes do Jardim das Peras tiveram de es-
peral' que a dinasti a Sung (960-1276) rest a-
belecesse a paz e a prosperidade antes que tam-
bm e les pudessem adentra r um a nova era
dourada.
Sob o imperador Chen-tsung (998- 1022)
as c an es e dan as tradi cionais, emhor a j
variadame nte marcadas e co reografa das , foram
pel a pr imeir a vez intercaladas co m represen-
taes de eve ntos hist ri cos, tai s como cenas
cortes s, batalhas e cercos proveni ent es da his-
rr iu do famoso per odo dos ' T rs Reinados"
59
do sculo III. Estes "shows de variedades" (ts
chii), com sua trama livre, mas com seqn-
cias de ao cada vez mais ricas, tomaram-se por
fim os precursores diretos do drama chins.
Numa descrio de um banquete imperial
no incio do sculo XI, encontramos listados
no programa dezenove nmeros, incluindo
dois "shows de variedades". Cada um deles
geralmente tinha trs personagens: um vene-
rvel homem barbado, um robusto e determi-
nado "cara-pintada" - um tipo clownesco - e
uma figura de imperioso comandante. Esses
"shows de variedades" incluam danas, poe-
sia e msica, e cenas de farsa e rcitas. Os
"shows de variedades" eram representados no
palcio ou no parque imperial. nas salas de
recepo e cerimoniais dos senhores feudais,
e nas feiras, por ocasio dos grandes festivais
populares.
O mais famoso pela variedade de suas
atraes era o festival anual da primavera
(eh 'ing Ming) em Kaifeng, a capital da dinas-
tia Sung do Norte. Milhares e milhares de pes-
soas chegavam ao local do evento, s margens
do rio Pien, ao norte de Kaifeng. Multides
agrupavam-se nas longas fileiras de barracas.
60
Hist ri a M'n n d ial do Te a t ro .
ao redor dos funambulistas, adivinhos e mala-
baristas, ou visitavam as embarcaes festiva-
mente decoradas. Perto do rio, no campo aber-
to, se erguia o teatro. Seu telhado de madeira,
decorado com bandeiras coloridas, podia ser
visto de longe, pois o tablado do palco, supor-
tado por duas dzias de slidas colunas, fica-
va a uma distncia maior do que a altura de
um homem acima da multido. O cho do pal-
co era coberto por um tapete de grama. Um
barraco de madeira adjacente servia de ca-
marim para os atores. Durante o espetculo, o
pblico ficava em p, ao redor do palco, num
semicrculo.
O imperador Hui-tsung (1101-1125) in-
cumbiu o mais famoso pintor de sua poca,
Chang Tse-tuan, de pintar o festival Ching
Ming num magnfico pergaminho, que che-
gou at ns - precioso legado de uma dinastia
condenada runa. Pouco tempo depois,
Gngis Khan e seus mongis invadiram o pas.
Tornaram o imperador e seu filho prisionei-
ros e incendiaram a capital Kaifeng, reduzin-
do-a a cinzas. Mas o pergaminho pintado, de
aproximadamente onze metros de comprimen-
to por trinta centmetros de largura, foi salvo
f
!
,
Cl i n u
e levado para Hang-chow, a alguns quilmc-
tros ao sul de Kaifeng. Durante o sculo XVIII,
artistas chineses o copiaram em infinitas, no-
vas e individuais variaes. Em 1736, por
exemplo, cinco dos pintores da corte do Im-
perador Chien Lung estavam trabalhando em
tais cpias.
A dinastia Sung do Sul, exilada em Hang-
chow, sobreviveu por mais um sculo e fez to-
dos os esforos para proporcionar ao povo um
sentimento de prosperidade e segurana, a
despeito da perda do Norte. Em Hang-chow,
como no passado no festival Ch'ing Ming em
Kaifeng, as barracas de espetculo prolifera-
ram novamente, talvez mais numerosas do
que nunca.
Quando Marco Polo atingiu a China na
ltima parte do sculo XIII, deu ao pas o nome
pelo qual ele era conhecido pelos governantes
turcos e mongis: Catai. As descries de
Cambalu, a "cidade de Khan", por Marco Polo,
fizeram com que ela fosse vista durante muito
tempo na Europa como a quintessncia do es-
plendor principesco - na verdade, muito em
funo de seu cerimonial teatral da corte.
o CAl\llNHO PARA O DRAMA
Ao lidarmos com a emergncia do drama
chins enquanto forma literria, temos de per-
guntar por que a invaso mongol provocou
nessa civilizao milenar a crise cultural fun-
damental que levaria a formas artsticas e cul-
turais inteiramente novas.
Existe uma explicao bastante plausvel:
o fim dos grandes exames estatais, sem os quais
nenhum estudioso seria previamente admitido
ao gabinete imperial, libertou foras intelec-
tuais que agora se concentravam na tentativa
de estimular a resistncia interna s leis
mongis, no aspecto aparentemente inofensi-
vo da poesia.
Na atmosfera de liberdade intelectual sob
o domnio de Gngis Khan, os protestos eram
expressos contra a COITUpo c venalidade dos
prprios chineses, contra os oportunistas e vira-
casacas que concordavam C111 servir aos arnan-
tes da msica mongis.
Gngis Khan promovia as artes, porque
esperava que o contato com os principais ar-
tistas e intelectuais chineses lhe dessem uma
viso ntima das idias e da mentalidade do
povo conquistado. Porm, na China sob o do-
mnio dos mongis, como tantas vezes na sua
histria, o drama tornou-se um centro de re-
sistncia subterrnea.
Nos sculos XIII e XIV, tanto no Norte,
que estava nas mos dos mongis, quanto no
Sul, que ainda desfrutava de uma vida cultural
desagrilhoada, as duas formas caractersticas
do drama chins desenvolveram-se mais ou
menos simultaneamente: o drama do Norte 'e
o drama do Sul.
Os chineses comparam o drama do Norte
ao esplendor da pcnia, e o drama do Sul ao
brilho sereno da flor da ameixeira. Estas en-
cantadoras metforas, sugerindo uma exten-
so que vai da fora fulgurante tnue flores-
cncia, caracterizam tanto a escolha do mate-
rial dramtico quanto o tipo de tema. A escola
do Norte escreve sobre o valor e os deveres,
na guerra como nos assuntos amorosos - temas
ditados pela tica confuciana com sua insis-
tncia no dever pblico e na piedade filial -,
como a "origem de toda virtude".
A escola do Sul mais complacente. Deli-
cia-se com os sentimentos e aquelas pequenas
indiscries, como uma olhadela furtiva na
alcova de uma mulher, ou at mesmo num per-
fumado decote. Na Escola do Sul, uma moral
mais flexvel combina-se com um estilo mais
informal.
No drama do Norte. tudo .- da rgida nor-
ma dos quatro aros meticulosamente segui-
da nomenclatura da rima e da msica - vai de
encontro clareza de estilo. No drama do Sul,
com sua vida alegre e turbulenta e msica mais
ruidosa, predominam os efeitos poticos.
Foi em Hang-chow, a capital da dinastia
Sung do Sul, que se desenvolveu, em contras-
te com o "rgido" drama do Norte do perodo
mongol, uma forma operstica do drama (lWI1
eh 'u). Este foi um avano importante no tea-
tro chins.
DRAMA DO NORTE E DRAMA
DO SUL
Cronologicamente, o drama do Norte es-
tava cerca de duas geraes ii frente do teatro
61
.
~ . ~
"'.l.
~ ( Palco chins til) sculo XII. Detalhe de um rolo de seda pintado, retratando o festival Ching-Ming cm Kaifcnp. a
capital da dinastia Sung do N011c ({}(}()-112h). Cpia do original de Chang Tsc-tuun. feita cm 1 7 ~ 6 por cinco pintores da
corte do imperador eh"ien I.lIll!; (Taipci. Museu).
China
do Sul. Ele pode reivindicar a descendncia
de Kuang Han-King (nascido em 1214, em
Tatsu), o "pai do drama chins". Kuang Han-
King foi um alto oficial de Estado da dinastia
Kin antes de sua destruio e mais tarde, em
Pequim, um mdico e experiente especialista
em psicologia feminina. Escreveu sessenta e
cinco peas - comdias de amor, peas cor-
tess e dramas hericos. Catorze dessas obras
chegaram at ns. Hoje, os chineses gostam
de coloc-lo ao lado do grande dramaturgo
da Grcia clssica squilo c do moderno es-
critor de abordagem psicanaltica americano
Tennessee Williams - uma demonstrao per-
feita de quo fteis tais comparaes podem
ser. Um de seus mais tristes enredos, uma pea
chamada A Permuta entre o Vento e a Lua - a
histria de uma jovem escrava que precisa ves-
tir sua senhora, que est prestes a se casar com
o homem que ela prpria ama - demonstra que
Kuang Han-King no necessita de compara-
es. A fama de Kuang Han-King se iguala
de seu contemporneo Wang Shih-fu, para cujo
famoso Romance da Cmara Ocidental ele
escreveu um quinto ato aps a morte do autor.
Esta pea, alis, no apenas nos fascina pelo
lirismo com o qual apresenta o romance entre
o estudante Chang Chn-jui c Ying-ying, a fi-
lha de um ministro da dinastia T'ang, como
tambm nos d um vislumbre da importncia
dos exames oficiais, que claramente eram no
apenas a chave para o privilegiado status de
funcionrio pblico, mas, como em A Cma-
ra Ocidental, tambm um requisito para obter
a mo da mulher amada.
Outra pea, escrita poucas geraes mais
tarde por Ki Kiun-siang de Pequim, teve seu
caminho aberto para os palcos ocidentais gra-
as livre adaptao de Voltaire. O rfo
da China, encenada pela primeira vez em Pa-
ris em 1755 com a atriz Clairon no papel de
Idarn, num desempenho entusiasticamente
aplaudido por Diderot. Goethe retomou o mes-
mo tema em 1781, com seu fragmento Elpenor;
mas o Extremo Oriente o derrotou: nesse caso,
ao contrrio de sua experincia com Ifignia,
ele no conseguiu reajustar o antigo modelo
ao esprito da humanitas e, assim, absorv-lo
no drama clssico alemo.
No se sabe se, e como, as obras-primas
dramticas do perodo Yuan -- na poca do do-
mnio mongol, sob Gngis Khan e Kublai Khan
- foram alguma vez representadas no palco.
Quando Kao Ming, um oficial influente de abas-
tada ascendncia, publicou sua famosa pea O
Conto do Alade em 1367, o Sul tambm esta-
va ameaado pelos mongis. Como a maioria
dos membros da classe culta de sua poca, Kao
Ming era um seguidor de Confcio. Ele era con-
tra a corrupo c contra a desigualdade social,
e a lamentava quando sentimentos humanos
eram desconsiderados ao se deixar que as dife-
renas entre os ricos e os pobres prevalecessem
contra a voz do corao. Ao lado do Conto do
Alade, as obras mais conhecidas das dinastias
Yuan e Ming que chegaram at ns so O Pavi-
lho do Culto Lua, O Grampo, O Coelho
Branco e O Ardil dos Cachorros Mortos. de
se presumir que sua disseminao se deva
grandemente ao livro impresso.
Enquanto as multides de pessoas comuns
aplaudiam as peas musicais com contedo
histrico, representadas por trempes ambulan-
tes num palco improvisado. () drama se desen-
volvia numa forma de arte separada e tornou-
se matria de crtica literria. Alguns desses
ensaios crticos nos foram transmitidos pelos
eruditos e considerados dignos de serem lega-
dos. Mas, embora falem do valor literrio de
uma determinada pea, tais crticas no nos
contam nada a respeito do teatro como um lu-
gar onde o drama trazido ii vida. Este fato foi
destacado duzentos anos mais tarde pelo crti-
co Ku Chu-lu, na poca do renomado drama-
turgo T'ang Hsien-tsu. Ku Chulu escreveu a
extraordinria sentena que se segue, numa
recenso da famosa O Pavilho das PCllIS,
de T' ang Hsien-tsu: "Logo que O Pavilho das
Pcnias surgiu, todos se apressaram a l-la e
falar sobre ela, o que tornou possvel reduzir o
valor de A Cmara Ocidental",
O Pavilho das Penius, ao que parece,
no foi uma sensao teatral, mas literria.
T' ang Hsien-tsu. um contemporneo de
Shakespeare, era um erudito, no um ator. Sua
residncia, conhecida como a Sala Yu-Ming,
onde seus alunos se reuniam, sugere sem d-
viela uma conexo com o teatro pela incluso
da palavra )'11, "ator", mas, a julgar pelos re-
gistros histricos, as ambies do mestre como
as elos discpulos eram de um tipo puramente
literrio. Os "estudantes da Sala Yu-Ming" es-
63
Desenho em giz vermelho de A. Jacovlev (tirado de IR The/ure
II. Finura em terracota de urna danarina chinesa da
dinastia T ~ a n g (618-90{J): umexemplo primitivo da "lin-
guagem das mangas" (Frankfurt am Main, Lichighaus).
12. Cl' na de- dUt. "hl 1111 p"h'I). \ ' i L'lll :i . tIL- um 11I;t lll h l T I! t l <ino . victu.un uu
tavam interessados na crti ca do dr ama. no
do espet culo, Quando foi proposto a T' ang
Hsien-tsu que oferece sse leituras dr amti cas,
ele respondeu com a inescrut ah ilidade da sa-
bedo ria chinesa: "Estais falando da ment e, mas
eu estou falando do amor".
A P EA MUSICAL DO
PER ODO MI NG
Enquanto os estudantes de propenso li-
terri a reuni am- se em torno do dr amaturgo
T'' nng Hsien-t su na Sal a Yu-Ming, o msico
Wei Li ang-fu desenvolvia , a partir dos elemen-
tos da msica do Norte e do Sul , um novo es-
tilo mu sical baseado em siste mas tonais e rit-
mos fixos. Ele criou uma nova forma teat ral, a
pea mu sical (k 'un-ch 'ii), Wei Liang-fu era
professor de msica na cidade de Sooch ow,
que se tornou a capital cultural do pe rodo
Ming e atraiu uma multido de poetas, msi-
cos, es tudiosos e troupes teatrais.
As reformas musicais de Wei Liang-f u e
os dramas lricos e potic os do mestre da Yu-
Ming, cujas quat ro peas mai s famosas so
co nhec idas pelo ttulo co nj unto de Quatro So-
nhos da Sala YII-Ming, est abelecer am os fun-
dament os para a alta pe rfei o do estilo mo-
dern o da pera de Pequim. Seus figurinos sun-
tuosos, seu cerimonial elegante. sua fascinan-
te prec iso de linguagem ges tua l e seu co ntro-
le art stico do corpo - tudo isso remont a era
do ura da da pera da dinas tia Ming.
Num palco nu, destitudo de cen rioou ele-
ment os decorativos. o ator - que era ao mesmo
tempo cantor, recitador e danarino - dava vida
a um mundo mgico, perfumado por penias,
flores de pssego e roseira s; um mundo no qual
ama ntes infel izes unem-se como borbol etas,
mas em que a espada flamejante da vingana
tambm cobra seu tributo. A expr essiva lingua-
gem dos gestos, os graciosos moviment os de
braos e mos sob a fluida seda branca - tudo
isso foi aperfeioado no perodo Ming.
Uma das prescries morai s de Conf cio
diz que o corpo precisa estar o mai s cobert o
pos s vel. Este era um de seu s pr eceit os mo-
ra is, que ele pretendia qu e fo sse ohedecido
es pec ialmente pelas classes mai s bai xas. Mui-
to tempo antes, no perodo r ang, as danarinas
Hs t riu Mu ndial do Tra t ro
haviam levado a linguagem dos moviment os das
man ga s perfeio da bele za tran scendent e.
Co mo um mei o de expresso teatr al , a " lingua-
ge m das mangas" vai da alegre co ncesso de
um de sej o s profundezas do desespe ro.
Mangas brancas podem parecer to luminosas quan-
to borboletas c to dep ressivas quanto morcegos; as mos
podem parecer como sendo de alabastro. As palm as po-
dem ser pint ada s de cur de rosa para as mulh ere s e os jo-
vens heris. flexve is c male veis como se no possusse m
ju ntas. Ca usam impresso mesmo di stncia. Podem emo-
ciona.", enc her de medo. cativar... (Ka lvodo v -Sfs-Vanis) .
Os moviment os das mangas so os res-
pon svei s pel a grande cena de lou cura da jo-
vem Yen-jung em A Beleza Resiste ti Tirani a.
Para escapar da ordem imperi al , ela simula
rep entina loucura (este tambm um tema fa-
vorito das peas n j aponesas). Ela arremessa
suas longas mangas bran cas numa movimen-
tao agitada e febril e as dei xa cair abrupta-
mente, estremece de ter ror, destr i seu precio-
so diadema de coral , I insanarnente por trs
de um lon go vu de cabelos negros - e as sim
Yen-j ung dest ri a imagem de sua bel ez a e,
co m el a, o de sejo do imperador. O grande in-
trpret e de papis femininos da pera de Pe-
quim, Mei Lan -fang, costumava interpret ar esta
ce na com fora expressiva e pungente at a
ve lhice (ele morreu em 1961 ).
A CONCEPO ART STI CA DA
PERA DE PEQUIM
Por vo lta da metade do sculo XV III. du-
rant e a dinast ia Chi ng, a pea mu s ical lri ca e
poti ca comeou a se desenvol ver na di rc o
de um novo estil o, ace ntuando um se ntido de
rea lidade e exigindo um palco maior, " pbli-
co". O imperador Chien Lun g ( 1736- 1795)
tinha um grande intere sse pel as trempes tea-
trais da China e encontrava tempo, em suas
viagens, para visitar os teat ros das provncias.
Assistia atentamente atuao, ca nto e dana
dos artistas. Os melhores del es era m ento
chamados a Pequim.
O nome, alis, refere- se meramente ori-
ge m do novo estil o, no sua local izao sub-
seq cnte. O estilo da pera de Peq uim com-
bin a os doi s el ement os dominantes do teat ro
(h i nu
.chins: a perfe i o un iforme do conj unto e
tambm o desempenho ind ividual singular do
ator principal. Mei Lan -fan g. deli cado homen-
zi nho com uma gra a se m idade, que por mui -
tos anos retratou a be leza e o fascnio femini-
nos, tomou-se o do lo internacionalmente acl a-
mado do teatr o chi ns . Se u ment or Ch' i lu-
sha n esc reve u ou adapto u pert o de quarenta
peas para ele. Me i Lan -f ang es tre lou tod as
e las, exibindo sua arte nica e sutil. O text o
literrio era a tela qu e Me i Lan-fang ado rnava
co m os intr incados e sutis ornamentos de suas
varia es histri nicas.
Supond o-se qu e uma me sma pea fosse
ap resentada em Peq uim, Szechan, Canto ou
Xangai, isto resultar ia em quat ro result ados
ha stante difer entes no apenas no que diz res-
peito produ o co mo ta l, mas tambm por-
que o texto trat ad o mu ito livr emente, poden-
do ser alterado vontade, s vezes at virando
a ao s avessas para agradar o astro do espe-
tculo. Da mesma forma. a co mpos io da or-
questra varia mui to, po is os ms icos aderem
fortement e tradio mu sical local.
O ator atua num palc o vaz io. No co nta
com nenhum acessrio externo para aj ud- lo.
Tem de criar tudo unicamente por mei o de seus
movimen tos - a ao simb lica, co mo uuu-
h m a iluso espac ia l. ele qu em sugere o
ce n rio e torn a visvei s os acessri os c nicos
inexi ste ntes.
O pa lco chins o mesmo de sc ulos atrs,
uma si mples plataforma co m um fundo neu-
tro por detr s. Nenhum bastidor , nem palc o
gi rat rio , praticvel ou ala po aj uda o ata r;
e le pr p rio precisa cr iar todo o cenrio.
Os nicos ace ss rios c nicos so um a
mesa, uma ca dei ra, um di v cobert o com um
preci oso brocado ou co m um tecido cinza. Mas
esses ohje tos podem representar qu alquer co i-
sa : um tr on o, uma montanha, um a caverna ,
uma corte de ju stia, uma fonte, um pavilho.
Se o ator sobe na mesa ou cadeira e cobre a
cabea, significa que ele se tornou invi svel,
qu e esca po u de seus perseguidores. Se toma
um chico te de montaria que lhe entreg ue,
significa que ele est montando um cavalo; ele
desmonta ao devolver o chico te a um servo, e
66 67
13. O Ge nera l Ma-Sou. per sona gem da pc(,;'a hi vt rica A Retirada de Kiai- Ting , m.iscara c cor rcspon-
dcm ao es tilo da per a de Peq uim [cf ilustrao 17 lia sequ nc ia ). Estampa co lor ida de A. Jac ovlev (ti rado til' Lc l1u:m:
Chinois , Paris. 1922).
14. Teat ro chi ns em Xangai. O palco erguido num espao semel hante a um salo , co m galerias laterais para os
espectado res e mesa s que ocupam o rs-tio-cho diant e do palco - o equ ivalente ao snus ic " ali do Extremo Oriente.
Desenho de M. Kocn ing (do L' llustraton de 2 1 de novembro de l X74. Paris).
Ij
/
/ "-..
15. Pint ura de mscara bifr on te da sia Ori ent al (Co-
lnia. Mu scum I I" oSlasiat isc hc.' Kunst j .
quando o servo sai do palco com o chicote, est
levando o cavalo embora. Uma paisagem ha-
bilmente pintada numa tcla suspensa represen-
ta o muro de uma cidade com seu porto. Uma
bandeira com linhas horizontais negras signifi-
ca tempestade, um guerreiro agitando bandei-
ras, um exrcito inteiro. Duas flmulas com ro-
das pintadas, carregadas tanto pelo prprio he-
ri como por dois coadjuvantes, indicam que
ele viajou de carruagem. Um ator segurando um
remo um barqueiro - ajuda sua dama a entrar
no barco, desatraca, rema contra a corrente, sal-
ta, com um grande pulo, para a outra margem.
A iluso completa, graas ao alcance expres-
sivo do corpo e dos movimentos do atar. Suas
mos e gestos, o ritmo de seus movimentos, con-
tam histrias completas, criam uma realidade
que outros podem vivencial'.
Da mesma forma que Marcel Marceau
sobe numa escada de navio num palco nu, da
mesma forma que seu Monsieur Bip atravessa
todos os parasos de xtase e todos os infernos
do desespero com nada alm de um chapu de
palha amarelo e um cravo vermelho, assim o
ator chins pode mover montanhas, sondar as
distncias do espao e do tempo com um ni-
co passo. Ele abre portas que no existem, atra-
vessa soleiras invisveis; ele aperta sua amada
junto ao corao quando pra diante dela com
os braos estendidos.
Para ajud-lo, possui apenas sua msca-
ra, seu figurino. Ambos falam a herdada lin-
guagem dos smbolos: cada cor est ancorada
na tradio cerimonial. O vermelho simboliza
valor, lealdade e rctido; o preto simboliza a
paixo; a maquiagem azul no rosto revela bru-
talidade e crueldade; o branco de giz a cor
dos trapaceiros e impostores. Uma mancha
branca na ponta do nariz, talvez juntamente
com o desenho de uma borboleta nas boche-
chas, faz o palhao, o truo, o bufo. Ele pode
perfeitamente chamar-se Grock, Oleg Popov,
ou Charlie Rivel - a mscara do palhao, seu
riso e suas lgrimas, no conhecem fronteiras.
De acordo com a lenda chinesa, foi no pe-
rodo T' ang que as mscaras foram usadas pela
primeira vez para transformar, disfarar ou
metamorfosear o rosto humano. O rei de Lan-
ling, diz a lenda, era um heri na arte da guer-
ra, mas sua face era suave C' feminina. Por essa
razo ele costumava, durante suas campanhas,
70
Histria MUI/dial do Tra t ro
atar sobre o rosto uma mscara marcial para
amedrontar seus inimigos. Seus sdiros, o povo
de Ch i, no demoraram a tirar partido desse
bicho-papo militar numa pantomima burlesca
muito popular sobre a "falsa cara" de seu go-
vernante, chamada O Rei de Lan-ling Vai Li
Guerra.
Mas, fosse o papel de um guerreiro ou de
uma linda e jovem concubina, seria sempre in-
terpretado por um homem, at o sculo XX.
Embora no houvesse nenhuma excluso ca-
tegrica da atriz na China, como havia no Ja-
po, at perto do fim da dinastia Ch'ing, no
incio do sculo XX, era considerado incon-
veniente para as mulheres aparecer no palco
juntamente com homens.
O privilgio de interpretar papis femini-
nos, da "feminilidade" masculina altamente
estilizada, devia ser adquirido ao longo de anos
de rigoroso treinamento, e isso era mais aprecia-
do que a prpria condio natural. Durante o
domnio mongol e sob o governo do imperador
Ming Huang, as mulheres foram admitidas tem-
porariamente no palco como parceiras iguais.
Mas Kublai Khan, igualando arte c venalidade
num decreto datado de 1263, relegou as atrizes
indiscriminadamente ao nvel de cortess. Isto
as colocava na quinta e mais baixa classe da
populao. junto com os escravos, servidores
pagos, trapaceiros e mendigos.
Nem o Gabinete Imperial de Msica. nem
as refinadas damas que escreviam dramas no
perodo Yuan puderam mudar essa lei. Yan
Kuei -fei estava suficientemente segura de seus
encantos c dos favores do seu senhor imperial
para no se prcocupar com prohlemas sociais,
c as companheiras menos favorecidas de sua
profisso sabiam como ser compensadas no
palco ou na alcova - pela humilhao de se-
rem chamadas de "cintos-verdes". Elas usa-
vam o cinto verde das cortess, de onde vi-
nham seus apelidos, com uma segurana no
menor do que a das damas letradas da Europa
ao usar mais tarde suas meias azuis.
o TEATRO CHINS HOJE
Comparados com a primazia da tradio
artstica local, os estilos teatrais do Ocidente
tiveram pequeno impacto na China. Os nntsic-
.-.
j{)l
I
I
l
1
~ _ " " " " " ' = = = ' - = " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' __'''''''-=>RVTZ""" _"", "",,=.,.,..-====---1
16. Gravuras chinesas de Ano Novo com cenas teatrais. Estampas coloridas desse tipo so vendidas cm grandes quan-
tidades no Mercado da Rua das Flores cm Pequim antes da festa; so to populares na China quanto. por exemplo, as
imugcs d'pinal o so na Frana. Os dois exemplos procedem de uma impresso feita c. 1920.
17. Encenao da pera de Pequim em 1956: o
ator \\' ang Chcng-pin na pea histrica A Fona e: a
de Yentanshan, baseada num tema da dinastia Suy.
18. Kuc n Su-shuang na pea lendria O Roubo
ela Erva Milagrosa, pera de Peq uim. 1956.
Chino
hall s e o teat ro de variedades dos gra ndes por-
tos no constituam padro para a cultura tea-
tral chinesa. O es tilo da pera de Pequ im rc-
vela mais da essnc ia da arte chi nesa de re-
presentar do qu e qualquer das espetac ulares
revi stas de Hon g-Kong.
O drama fal ad o de estilo oci dental surgiu
pela primeira vez durante a revolu o de 1907,
quando os propagandi stas polti cos co nse gui-
ram se apoderar do palco. Os mrtires da revo-
luo, a revolt a do p.0vo e o orgulho naci onal
eram os temas t pi cos do novo drama falado
(hua chi i). Di l ogos improvisados na lingu a-
gem cotidiana e a atuao realstica, igu almente
imp rovi sad a. pr een chi am a tram a da ao pr e-
via me nte es bo ada - num contras te ev idente
com a arti st icamente es tilizada pe ra de Pe-
quim. Ap s 191 9 um "renascimento liter rio"
brotou em crcul os estudantis. As pessoa s es-
tudavam drarnaturgia, direo, cen ogra fia, ilu-
minao e es ti los de interpretao do teatro
ocide ntal. Traduzid os para o chins co loquial,
Nana. de Zol a. e O Inimigo do POI'{) . de Ibsen ,
foram apr esentados na Uni ver sidade de Nakai
em Ti ent si n e em Pequim. A Dama das Cam-
lias. de Alexandre Dumas. e O Lequ e de Lati)"
lI'in<fcl"mcre. de Oscar Wilde, fora m aprecia-
dos por se u trat ament o dos problema s hu ma-
nos e sociais. Novos clubes e ag ncias teatrai s
surgiram, convidando companhias es trangeiras.
e foi fundada uma academia naci on al de tea-
tro. Os jovens au tores do pa s inspiraram-se
na revoluo polti ca e literria que se iniciara
no co meo da dcada de 30 e que. devido ao
incident e na Pont e de Ma rco Pol o em 7 de j u-
lho de 1937. levara gue rra co m o Japo. Jo-
vens entusias tas pat ri ticos funda ram um gran-
de nmero de grupos de teatro com repert -
rios propagandst icos.
Depois de 1945 . a tradio da pe ra de
Pequim foi mantida ao lado do drama falado
moderno e atual . Mei Lan-Iaug. que havi a re-
cusa do as ofertas j ap on esas para interpretar
papi s femininos de ixa ndo crescer a barba,
voltou ao palco no papel da dama de beleza
atemporal. No obstante os confl itos poltico s,
a pera de Pequim preser var a seu esti lo espe-
cificame nte chin s. mundi al mente fa mo so .
Hoj e. cerca de quat rocent os es tuda ntes passam
por intensivo treinamento na Esco la Nac ional
em Pequim, embor a recentemente tenha havi-
do urna tendnci a cla ra de renovao do es tilo
tradi cional.
Em Taiwan. nesse meio tempo, o gove rno
da China Nacionali st a tambm passou a incen-
tivar a velha tradio da pera de Pequim con-
junt amente com o dra ma fa lado moderno.
Duas esco las de teatro e um de partamento de
Tea tro e Cinema na Ac ademia Nacional de
Arte em Panch iao, pert o da ca pital Taipei, ofc-
recem cursos de hist {,ri a e prt ica teatral. Des -
de 1962, o ent o rec m- funda do Com it de
Prod ues Dr amt icas par a Apreci ao tem se
es fora do par a desen vol ver o dr ama falado em
algo que v alm de sua funo de entre teni-
ment o. numa for ma de urre.
73
Jap o
I NTRODUO
" a poe sia que moviment a sem es foro
o c u e a terra, e despert a a co mpaixo dos
deuses e demn ios invisve is. e na dana que
a poesia assume forma visve l" , Essas pa la-
vras constam da introd uo da pr imeir a cole-
tnea japonesa de poemas. Kokinshu, pub licada
no ano de 922. O teat ro j apon s pod e ser de s-
crit o como uma celebrao so lene, es tritamente
forma liza da , de emoes e sentime ntos , indo
da invocao pantom mi ca dos pod er es da na-
tur eza s mais sutis diferen cia es da forma
dram tica arist ocr tica. Sua mol a propulsora
est no poder sugestivo do movimen to. do ge s-
to e da palavra falada . Dentro desses meio s de
ex presso. os j aponeses desen vol ver am uma
arte teatra l to ori ginal e rnica que desafi a com-
pa raes. poi s qualquer comparao ser in-
variave lmen te relevante pa ra um s de se us
mui tos aspecto s.
primeir a vista, a coexist nc ia de mui -
tos g neros e formas completamente di stintos
de teatro parece co nfusa . A arte teat ral do Ja-
po moderno no resultado de uma sntese;
resulta de um plural ismo mult ifacctado, de
sculos de de senvol vimento. Sua hi stria no
uma cadeia de es tgios evolutivos que se su-
peram; ass emelha-se ma is a um ins trume nto
ao qual so acrescentadas novas corda s. em
intervalos, cada uma para lel a ils ou tra s. O com-
pri me nto de cada corda <par a evocar uma alu-
so ii histri a) dete rmina seu som. Mas entre
as cordas h o silncio, silncio como con-
tr aente do pinhos e sua culminao lti ma.
"Cons ide ro qu e o pat hos sej a inteiramente uma
quest o de co nteno" . escreveu o dr amatur-
go japon s Chika matsu por volt a de 1720 :
"q uando IOdos os componentes da arte so
do minados pela co nteno. o result ado mui-
lo comove nte..",
Os es tilos distint os do teatro j apons co ns-
tituern ao mesmo tempo um marco ruili rio.
Cada um deles refl ete as circunst ncias hi stri -
cas. sociolgicas e art sticas de sua or ige m. As
dana s kugura do primei ro mil nio tesrcmu-
nham o poder de exorcismo dos ritos mgicos
primordiai s. Os giga!.:1Ic IJ1lga!.:II , pea s de ms-
caras . refl etem a influ ncia dos con cei tos rel i-
gios os budi stas. emprestado s da Chi na nos s-
culos VII c VIII. As peas ,ui dos sc ulos XIV e
XV glor ilicam o ethos do samurai. As far sas
kyogc n, apresentadas como intcrhi dios grotes-
co s c c micos entre as peas "';. anu nciam a
cr tica social pop ular. O kabuki do in ci o do s-
cu lo XVII fo i encoraja do pelo pod er cre scent e
dos mercadores. No final do scul o X IX, o
shintpa, sob a influncia ocidental, trou xe pela
primeira vez tema s atuais com uma tendncia
ma rc ada ment e se nt i me nta l ao pal co . No
sltingcki do sculo XX. os jo ven s inte lectuais
japones es finalmente tomaram a pa lavra.
Todas essas formas b sica s do teatro ja-
pons - inc luindo tamb m o lnntraku, teatro
de bonecos de Osaka - permanecem vivas at
hoje, simultaneamente c lado a lado. Cada qual
tem seu pblico prprio e especfico, seu pr-
prio teatro, seu valor atemporal.
KAGURA
No universo insular do Japo, como em
qualquer outro lugar, o teatro eomeou com os
deuses, com o conflito OOS poderes sobrenatu-
rais. Os dois grandes mitos das divindades do
mar e do sol contm no apenas o germe da
dana sagrada primitiva do Japo, mas, mais
do que isso, os primeiros elementos da trans-
formao dramtica, que a essncia da for-
ma teatral. As duas mais antigas crnicas japo-
nesas, Kojiki e Nihongi, foram ambas escritas
em ideogramas chineses no incio do sculo
VIII para a corte imperial japonesa. Relatam
as representaes pantommicas dos dois mi-
tos que nos dias de hoje so urna fonte impor-
tante para as danas da sia Oriental. Sobrevi-
vem no Vietn, Camboja e Laos, na Tailndia.
Asam, Birmnia (Mianmar) e no sul da China.
O primeiro desses mitos baseia-se no cul-
to ao sol e relata a histria da deusa do Sol.
Amaterasu. Aps uma briga com seu irmo,
Amaterasu esconde-se numa caverna, inaces-
svel a qualquer splica. O cu e a terra ficam
imersos na escurido noturna - um dos grano
des terrores da humanidade. que no Japo se
origina da ocorrncia histrica de um ec Iipse
solar. As "oitocentas mirades de deuses" do
panteo japons concordam em atrair a deusa
zangada para fora de seu esconderijo por meio
de uma dana. A deusa virgemAma no Uzume
[...] fixou em sua mo uma pulseira feita de licopdio
celestial da montanha divina Kagu. coroou sua cabea
com um toucado de folhas do evnirno celestial e alou
um ramalhetecom folhas de bambuda montanhadivina
Kagu. Ento, colocou uma prancha acstica na entrada
da habitao rochosa da deusa e golpeou-a COI11 os ps
parafazer um grande barulho. simulandoo xtase da ins-
piraodivina [... ).
E assim, Uzume desperta a curiosidade da
deusa do Sol. Amaterasu eaminha para fora
da caverna, e, num espelho que os deuses se-
guram para ela, v sua prpria imagem radiano
te refletida. Os galos cantam. A luz volta ao
76
Hst ria MUI/dia/ do Teatro.
mundo. O significado mitolgico da dana de
ULume, que provoca o retorno do sol, sobre-
vive at hoje no costume de executar as peas
kagura durante toda a noite at a aurora, at o
primeiro canto do galo.
O segundo mito diz respeito rixa entre
dois irmos e a interveno do deus do Mar. O
rei das mars concede ao irmo mais novo,
Yamahiko, que a princpio derrotado, poder
sobre as cheias e vazantes. O irmo mais vc-
lho, Umihiko, percebe o perigo que isso signi-
fica para si e decide propiciar Yamahiko. Para
tal fim, espalha terra vermelha sobre o rosto e
as mos e executa uma pantomima de afoga-
mento, representando, por meio da dana,
corno as ondas lambem primeiramente apenas
seus ps, como a gua aumenta mais e mais
at quase atingir seu pescoo. Com as pala-
vras "De agora em diante e at o final dos tem-
pos eu serei o seu bufo e criado", Umihiko
submete-se ao mando do irmo. E destarte o
teatro japons encontra seu primeiro "ator pro
fissional", embora no domnio da mitologia e
mais corno fico do que fato. A esta saga di-
vina, que alis tem largas ramificacs pelo
Extremo Oriente, prende-se tambm a lenda-
ria filiao do primeiro imperador japons.
Jil11l11u, que descenderia de um drago. A ms-
cara do drago, smbolo da divindade do mar,
ainda possui um papel proeminente nas dano
as kagura.
Essas duas pantomimas mitolgicas so
importantes para a histria do teatro por outra
razo ainda. Elas inauguram o uso dos dois
mais importantes recursos cnicos simblicos
que permaneceram caractersticos do teatro
japons: a cana de bambu, ornamento para a
cabea e espelho na dana de Uzume; e a terra
vermelha no rosto e nas mos de Umihiko, prc-
nunciando o tipo de maquilagem que, por toda
a sia Oriental, ainda um meio essencial de
transformao teatral.
Todas as diversas danas e ritos sacrificiais
representados com o propsito de ganhar os
favores dos poderes sobrenaturais, por meio
da magia da pantomima e da mscara, so tra-
dicionalmente includas na categoria de
kagura. O significado etirnolgico da palavra
controvertido- variadamente interpretada
como "morada dos deuses" ou "divertimento
dos deuses" -. mas o concei to certamente
1. Xi logravura de Utashige: o TeatroBunraku de Osaka, c. IX80. Cada um dos trs bonecos no palco manipulado por
dois titerciros: cm cada par, UIlI deles est vestindo roupas pretas. direita, o recitador; perto dele, () tocador de samiscn,
cuja presena indicada meramente pOI sua mo e pc!o instrumento (Munique, Staduuuscurn, Colco de Teatro de
Bonecos, .
.Ao' .
' \ ~ .
\-
\
anterior aos ideogramas chineses que o repre-
sentam ainda hoje. Para o estudioso isso prova
que o kagura remonta poca dos habitantes
originais do Japo e, com certeza, precede a
introduo da escrita e da lngua chinesas no
Japo.
O termo kagura descreve no somente as
danas rituais mitolgicas, mas tambm as in-
vocaes xamnicas de demnios e animais.
originariamente pr-histricas, tais como os
encantamentos de mgica de caa que se ex-
pressam nas danas do veado e do javali e so-
brevivem na dana do leo (shishimai, Da
mesma forma so tambm consideradas
kagura as cerimnias da corte que celebram
Mikagura, um festival de inverno (datado de
1002) derivado da dana da deusa Uzume, e
todas as farsas populares pr e antimitolgi-
cas, informalmente improvisadas, apresenta-
das por comediantes, trues e acrobatas em ho-
menagem s divindades xintostas.
O conceito moderno kagura de aldeia
(sato-kaguray originou-se no sculo XVII. Sua
conexo com a mitologia e o ritual xamnico.
a invocao dos espritos benevolentes e o exor-
cismo dos maus espritos sobreviveu at o s-
culo XX em ritos supersticiosos. Em 1916.
durante a epidemia de clera que devastou o
Japo, organizaram-se apresentaes de
kagura na esperana de banir a praga.
GIGAKU
Quando a teologia do budismo alcanou
as ilhas do Japo, proveniente da China, em
meados do sculo VI, trouxe consigo as pri-
meiras danas e canes budistas. Sua intro-
duo creditada a um imigrante coreano,
Mimashi de Kudara, que chegou com uma
troupe ambulante antiga capital de Nara, em
612. O prncipe regente Shotoku Taishi (572-
621), um patrono das artes e zeloso pioneiro
do budismo no Japo, deleitou-se com as dan-
as e peas dos artistas estrangeiros. Ele per-
suadiu Mimashi a estabelecer-se em Sakurai,
no longe de Nara, e ali instruir jovens alunos
selecionados na arte da nova dana. Conta-se
que o prprio imperador escolheu o nome da
dana; chamou-a gigaku - "msica arteira". E
logo o gigaku tornou-se parte do ceri monial
71!
Hi s t orin Mundial do Fr n t ro
de Estado. Era apresentado diante dos templos
por todo o pas, a cada ano nas duas grandes
festividades religiosas, o aniversrio de Buda
e o dia dos mortos. Ento, o palco ainda no
era conhecido no Japo; os danarinos se mo-
vimentavam ao nvel do solo, acompanhados
por tambores, cmbalos e flautas.
Uma descrio do gigaku, que logo foi
absorvido por uma nova forma de dana da
corte, o buguku, pode ser colhida num tratado
muito posterior, o Kyokunsho, escrito de for-
ma retrospectiva em 1233 pelo danarino
Koma no Chikazane. procisso inicial de
bailarinos e msicos seguiam-se pantomimas,
representadas com grotescas mscaras de elmo
com grandes narizes de rapina, poderosas man-
dbulas e globos oculares salientes.
O fato de as peas danadas por Mimashi
e seu grupo conterem originalmente cenas
flicas leva suposio de uma conexo com
o posterior mimus romano. Muito mais con-
vincente, entretanto, a suposio de que o
ritual flico no se originou na Grcia, mas
nas terras montanhosas da sia Central, e que
sua influncia fluiu na direo contrria.
s mscaras gigaku demonstram que for-
tes correntes de antigos conceitos xamnicos
atingiram o Japo vindas do Tibete e do norte
da China, via Coreia. s mscaras gigakll re-
manescentes (ainda existem em torno de du-
zentas) esto entre os mais antigos e valiosos
registres dos cultos primitivos da Asia Orien-
tal. Muitas dessas mscaras esto em Nara. na
casa do tesouro (shoso-ini do imperador Tcnji,
e algumas outras em poucos templos.
BUGAKU
No decorrer do sculo VIII, a nova dana
ehamada bugaku ganhou predominncia. A
msica era a ponte entre o bugaku e o gigakll
primitivo - a msica instrumental da corte co-
nhecida como gagaku, que era intimamente
aparentada com a msica chinesa do perodo
Tang. O nome bugaku, "dana e msica". d
uma idia do seu carrer. O bugaku exigia dois
grupos de bailarinos: "os Danarinos da M-
sica Direita" e "os Danarinos da Msica
Esquerda". Os Danarinos da Msica Direi-
ta entravam no palco pela direita. e seus msi-
2. Mscara gigaku, perodo Nara, sculo VII
(Tquio}.
:lo Mscara bngal:n, perodo Heinn. II RS (Nara} .
cos ficavam postados no lado direit o do pa l-
co. De forma co rrespo nde nte, os Danari nos
da Msica Esquerda faziam sua entrada pela
esquerda, e seu s msi cos ficavam post ados it
es querda.
O palco bugaku era uma pl ataforma qua
drada suspensa, rodeada de gra des , com esca -
das de acesso do lad o direit o e esquerdo . O
conj unto musical esquerd a consistia predo-
mi nantemente em instrument os de sopro. No
conjunto da direit a, os instrumentos de percus-
so dominavam e marcavam o padr o rtm ico
para OS danarinos da direita. O espe t culo era
precedi do pelo embu, uma dana cerimonial
de puri ficao de o rig em cult ual. (A ce na
introd utria do drama cl ssico hindu , a pu rva-
ranga. comea co m um rito estreitamente apa-
rentado com o embu. i Ento, os grupos da es-
querda e da direita comeam a danar, part e
em ritmos imponentes e parte em ritmos vi-
vos. Os dois grupos eram to rigorosamente
di stint os quanto os "Azuis" e os "Verdes" na
enigmtica pea de Natal dos "Brbaros", que
era encenada na co rte imperi al de Bizncio.
Os danar inos ent ram no palco alternadament e
pela esquerda e pela direit a. e sempre em pa-
res; os que dana m a msica da esquerda. ins-
pirada por font es chines as e hindus, usam fi-
gurinos nos quais predomin a o vermelho, en-
quanto o verde di stingu e os Danarinos da
Msica ii Direita. Esta. por sua vez. de ori gem
coreana e da Manchr ia c ada ptada ao gosto
ja pons. O bugaku termi na atualmenre. como
sempre o fizera, com a co mpos io chogcishi
de Minamoto no Hi romasa (9 19-980).
Durant e o per od o Heian (por volta de
820) , o bugaku foi a dana cer imonial exc lu-
siva da cor te imperi al. At hoj e. o bugaku
apresentado na co rte. e o pri vilgio de atuar
nele passado de gerao a ger ao nas fam-
lias de artis tas bugaku. Uma ou dua, veze s ao
ano, geralmente em homenagem a algum visi-
tant e importante, as danas bugaku so apre-
sentadas na cor te imperial diante de uma pla-
tia exclusiva. O carter tradicional do bugaku
foi preservado inalterado na dana e na msi-
ca, embora os figur inos e m scar as tenh am
mudado. Verses populares e folclri cas do 1>11-
gaku, independen tes do ce rimonial da corte,
sobrevivem em muit os pequenos templos xin-
tostas, j untamen te co m elementos da msica
80
H s t or a Afll/I/li nl do Te a tro .
gagaku, numa gran de variedade de danas fol -
clricas j apon esas.
SA RUGAKU E D ENGA K U,
P R EC UR SORES DO N
Os movimentos majestosos e co ntrolados
de da na, os passos ceri moniai s, o sig nifica ti-
vo erguer e abaixar da ca bea, o s bi to imobi-
lizar-se cm pose silent e, aps um violento ar-
remet er-se - todos es ses e leme ntos b si co s da
arte teatral cl ssica japone sa podem se r reme-
tidos s dua s formas de " pe a" -dana da qual,
por fim , a gra nde arte do III?se desenvolveu : o
sa rug aku e o dengaku.
Na s grandes c ida des de Nara, Kyoto e
Yedo (depois Tquio), on de havia templos, as
art es da mmica, dan a, acrobacia e canto sem-
pre haviam prosperado. As <'1I11<' II -m a i , peas
ori ginalmente represent ad as por monges bu-
distas, vieram a ser di versifi cadas por atracs
seculares . Acrobatas, ma laba rista s, anda dores
de pe rnas de pau e ti tere iros dirigiam-se em
ba ndos aos templ os. e o povo os aclamava,
grato pela opor tunida de de combinar o ce ri-
mon iai solene em hon ra do s de use s com um
espe t culo agrad vel aos olhos e ouv idos. No
perodo Heian (794- 1185), a pa lavra sarugaku
havi a sido usada par a defin ir toda a rica varie-
dade de entretenimen tos populares. O termo
de ri vava da antiga for ma de arte sa ngaku (que
provavelmente signific ava " m s ica de so rde -
nada" ), que teve uma lon ga e utiva hi stri a na
China antes de chega r ao Ja po. mais ou me-
!l OS ao mes mo tempo qu e o Imgak da co rte.
O id eogram a chi n s " mac ac o" , usado para
sarll. levou os eruditos a de finir sarug aku co mo
" msica de macaco". em contras te co m o ideo-
gra ma nativo dcngaku, " ms ica de campos de
arroz" . A deri vao de saru teri a impl icaes
interessantes para o hi stori ador da cultura. Na
China, o "macaco co m o barret e de oficial"
havia conquistado seu lugar no palco como um
cr tico dos aconteciment os conte mporneos
em trajes de c/0I1'1l, e no Ranut vana hindu c no
tea tro de sombras da Indon sia o rei-macaco
Hanuman aj uda Rama, o filho dos deuses, a
ve nce r o rei dcm nio do Cei lo. () culto. a len-
da , o con to ful cl rico, a teoria moral c. da mes-
ma maneir a. o teatro, atribuem importantes
funes ao macaco, desde o j ulga me nto dos
mortos no Egito pe ra O Pequeno Lorde, de
Hans Werner Hen ze.
Tant o o sarugaku quanto o dcngaku asse-
melham-se aos di verti mentos populares de Car-
naval do Ocidente. Na crnica Rakuyo denga-
ku-ki, de Oe-no-Masafusa ( 1096), enco ntramos
meno de danas e pr oci sse s de senfreadas,
nas quai s tod a a populao da capi tal tomava
part e - os velh os e os jovens, os ricos e os po-
bres; at me smo os funcionrios do Est ado par-
ticip avam , usando mscar as e figurinos c rni-
cos e carregando en ormes lequ es.
O dengaku tem sua origem nas dana s
rur ai s da colheita, e no decorrer do sc ulo XI V
desenvol veu-se e m algo que ia mu ito alm do
mero entretenimento popul ar. Absorv eu e le-
mentos cortesos do giga ku e, levada, por es-
colas dengaku de Nara e Kyot o, foi elaborada
na sofisticada forma de arte co nhec ida como
dengaku-no-no.
Existem no Japo famli as ou guildas de
art istas , os ch amados za, qu e remontam ao in-
cio do perod o Murornachi ( 1392- 1568). (lil
, ainda, a palavra j ap on esa para reatro.) Os za
desfrutavam da pr ot e o dos temp los budi s-
tas. Seus membros eram di spensados da s ta-
xas pes adas c de obrigaes de trabalh o, e pos-
suam o monopl io das apresentaes no dis-
trit o espe cfi co do seu templo.
O anonima to ge ra l dos ate res profi ssi o-
nais ja pone ses chego u ao fim no incio do s-
culo XIV, qu ando os nomes de intrpret es in-
dividu ais foram regist rados pel a pr ime ira vez.
Entre eles estava o nom e do atol' sarugaku
Kwanarni e de se u filho Zea mi, a quem o tea -
tro japons deve sua forma de art e mai s fasci-
nante e profunda. Tanto Kwa nami quanto Ze a-
mi inaugu raram e int erpret aram o novo estilo
que cri aram.
N
Enquanto na Europa a era dos cavale iros
- quando imperador e prn cip es se reuniam
para as Cruzadas - chegava ao fim, floresceu
no Japo a civili za o cort es dos sa murais.
li. atmo sfera de esplendor na res idncia
imperial . os pnl cios dos nobres e o culto es-
tet ica me nte refinad o dos tem plos crio u uma
classe aristocrtica c uj o patrocni o faria do tea-
tro II a eptome e o es pe lho da sua poca. A
cas ta ari stocr t ica gue rre ira dos samurais ti-
nha orgulh o de descender das grandes fam-
lias de heris, trazendo nomes co mo Ge nji ,
Heike ou [se. O pod er do s principais chefes
feudais, os da iruios, cr is talizou-se no ca rgo
de x gum, pel o t tul o " regente", mas, na ver-
dade, o autocrata do Jap o. Da mesma forma
qu e o ideal euro pe u da Cavalaria foi exalt ado
na poesia co rtes da Idade Mdi a, na Cano
de Rolando, net c iclo arturiano e no Cid, tam-
bm os picos japone ses exa ltaram o mundo
do sa murai . Seu cdigo no es c rito de hon ra
exigia deles as vi rtudes do he rosmo, magn a-
nimidade, lealdade at a morte ao senhor feu-
dai , defesa ab negada dos direitos dos fracos e
o menosprez o co vardia, avareza e traio.
Esses ideai s deri vavam das doutrinas do ze n-
budismo, a busca da "iluminao" e da expe-
rinci a es pir it ua l intuitiva do absolut o . A
fora para do mina r as tarefas de ste mundo
e ra proven ient e da obse rvao de perod os
di ri os de inte nsa meditao qu e, fora da es -
fe ra pu rament e religiosa, se tornou a mol a
propul sora de toda a r te c r iat iva. " Nada
real " , diz o coro fala ndo pela poet isa Koma-
chi, a prot agon ist a de 5010ba Komachi ( Ko rna-
chi no Sepulcro), uma das mai or es peas II(j
insp iradas pel o ze n- bu d is mo : " Entre Buda e
o Homem I No h di sti no, mas uma apa-
r nc ia de dist ino I es ti pulada I para o bem
dos humi ldes, dos inc ultos. I a qu em e le pro -
met eu sa lva r" ,
Como a delicada int en sid ade da aqua rela
ou a imagstica contida do verso haicai , a ar te
toda do II cnforma da pel o msti co chiaras-
(' 11m do zcn -bud ismo .
Co m os re li nad os dcngaku e sarugaku, os
atores e os ofic iais do templ o responsvei s pe-
los es peuiculos havi am satis feito os padres
el evados e ob tido os favores da exi gente no-
brez a; mas agora, co m a ascenso das pe as
III?, a converg nc ia da arte e do patronato anun-
ciavam a era dourada do teatro japons. Em
1374 , o x gumYoshimitsu assistiu a uma apre-
sentao do at ar de sa ruguku Kwanami e Seu
filh o Zeami . O jovem governante ficou to iln-
pr essionado co m a atua o do pai e co m a he-
leza de Zcami, ento c o m I I an os de ida de,
'1ut' vinculou ambos il sua corte .
81
..'3:
5 . Msc ara n de uma mulher j ovem, perodo
Muromachi, sculo XV (Tquio).
4. Mulher com rede de pescar, pr xima da loucu-
ra por causa da mo rte de sua nica filha, yue aparece
:i direi ta. ao fundo. sentada direita de um bon zo.
com um manto com capuz. Cena de uma pea " .
Gravura co lorida. c. 1900.
6. Anci ajoe lhada. lendo um escrito: provavel -
ment e. a poeti sa Kom achi. Cena de uma pea II . fi ra-
vura co lorida. r, I(KM) .
.l n p o
Kwa nami (sob O nome de Ki yotsugu. que
usava quando jovem) traou par a seu filho
Zeami o caminho para o enr iquece r constante
de suas prprias for mas de expresso c nico-
dram ticas, e assim remode lar o padro dra-
mtico na pea n. O trabalh o de Zeami foi
gr andemente influenci ado pela famosa pea de
seu pai, Kwanami , sobre o destino da poetisa
Sotoba (Sotoba Komachi) . E Zeam i Mot okiyo
sabia co mo tirar parti do da proteo do xgum
pa ra promover a causa do teat ro. Se u obj etivo
era 'dltpl o; queria ser reconhecido tant o pela
arte de atuar como pelo dr ama enq uanto tal.
Torn uu- se um consumado ator, drama turgo c
diretor. Com seu senso infal vel do que podia
tocar uma platia, observava os gra nde s intr-
pretes de sua poca. Es tudou as tcnicas dos
famosos atures de dengaku Itch u e Zoami , do
bai larino de kuse-mai Otsuro, do ator de omi-
sarug aku Keno e do ator Kot aro, da escola
Komperu. Assim Zearni aperfei oou seu esti-
lo prprio. Escreveu o text o e a msica para
aprox imadamente cem peas n nas qu ai s ele
pr prio interpretava o papel princi pal. Um dos
pont os altos de sua carreira foi sua famosa atua-
o em A Estrela de Zeam i di ante do impera-
dor Go-Kornatsu em 1408.
Aps a morte de seu patrono Yoshimitsu
c a perd a de seu tilho Mot omasa. Zearni reli -
rou -se da corte. Ele se esforo u c m expor por
mei o da escrita o esprito e o significado do
l U) , que quer dizer, literalmente, " talento". Gra-
as a seus trs grandes tratados tericos, Hana-
kagami, Kwadensho e KYlIi , Zeami torn ou- se
o Aristteles do teatro j apons. Mas esse tes-
tamen to artstico permaneceu desconhecido
para sua prpria poca. N o foi es crito para
pub licao , mas excl usivame nte para a trans-
mi sso secreta de sua arte den tro de sua pr-
pria famlia.
Em 1434, Zeami foi exi lado por razes que
desco nhecemos - talvez por ler se recusado a
passar seu cdigo secreto da art e II a seu sobri-
nho Onami, que era o favorito do novo xgum.
A histria silencia sobre este pon to. Aps a mor-
te desse xgum, Zeami retomou do exlio e en-
to transmitiu sua herana art stica, no a seu
sobrinho Onami. mas a seu genro Zenchiku, com
quem passou os ltimos anos de sua vida.
A pea ll ii , por sua model ar co nst ru o
dra mtica, foi frcqiiente me nte comparada :1
tragdia greg a. Exi stCI11 realmen te algumas
ana logias , e m aspec tos tai s co mo orig em
cultua l, partici pao de um coro e distino
n tida entre o protagon ista e os per sonagens
sec und.irios . Mas nada disso conta diante do
esprito e da abordagem inteirament e diferen-
tes das duas espcies dramti cas. Enquanto
Ant gonu se ope ordem de Cr eonte e dcsa-
ti a o des tino e os deuses, Komachi prat ica a
pacincia silenc iosa, c os sacerdotes, "curvan-
do a cabea a t o cho, prestam homenagem
trs vezes dia nte del a" com as pal avras, " Uma
santa, esta al ma frgi l c proscrita a de uma
sant a."
O significado profundo do co ntedo do
n no a rebeld ia mas a afirma o, a afi rma-
o de uma bel eza que culmina na afl io .
Zeami procuro u ilustrar esta "beleza to fasci-
nant e e sur preendente em sua contra d io"
media nte a comparao potica, como em seu
tra tado Kyui: "Em Shiragi, o sol brilhant e
meia-no ite ". Talve z seja em termos desse
exemplo qu e possamos melhor explicar o sig-
nificado do ter mo yfigl'll que. de acor do com
Zeami, constitu i a culminao da aprec iao
cstt iea da pea Il . Yl g ('lI. or iginalme nte o
contedo oculto da dout rina budista. um po-
der secr eto em que a beleza est.i envo lvida
como a semente da qual a tl or ( 11(1/1(/) h; de
flor esce r em seguida .
O fi rme fun damento espiritu al das peas
I l tI corr esponde a seu padro dr amatrgico
prefixa do. Exi st em cinco categori as de peas
/li) , todas representadas at hoj e no programa
de qualquer espet culo 1I t1. O pr imei ro gru po
truta dos deu ses: o segundo. das batalhas
(mais freqiientement e da glor ificao de al-
gum samur ai herico); o tercei ro gr upo co-
nhecido co mo o das "peas das peruc as" ou
"peas de mulheres" , porque o ator pri ncipal
usa uma pe ruca e int erp reta o papel de uma
mul her ; a qu arta categoria, dramatic amente
mai s for te. retrata o destino de uma mulher
co m o corao part ido, amide levada lou-
cura pe la perda de seu amante ou fil ho; a quin-
ta categoria, qu e encerra o progr ama, conta
uma lenda.
O protagonisla e lder U CIII " /() de uma
companhia JI( ) 11 shitc: seu parceiro e pr inci -
pal ator sec und rio o waki. Cada um deles
ac ompa nhado por um cortejo - ato re s qu e
83
representam servos ou aco mpanhantes - e h.i
um coro, normalment e de oito homens, que
cantam. Todos os membros do coro usam rou-
pas escuras e se ntam-se no cho no incio da
pea. Eles co mentam a ao, mas no inter-
vm nela, da mesma forma que o coro da tra-
gdia grega. O shit e usa uma mscara que, de
aco rdo com o seu papel. pode represent ar um
valente heri, um velho barbado, uma jo vem
noi va ou uma anci ator me ntada.
Os j apon eses no ve m nada de estranho
no fato de um homem ex pressar os senti men-
tos de uma mulh er, sua feli cid ade ou desespe-
ro. Ao co ntrrio, co nside ram a mscara como
a expresso liter al de uma verdade superior.
A mscara co nfere ao atol' uma forma de vida
mai s elevada e quintessenci al . As mscaras
enta lhadas dos ateres n so, por si prprias,
obras de arte de alta qualidade, simboliza m a
per sonagem em sua forma mai s pura, limpa
de qualquer imperfeio. O poet a Yeats ob-
servou que "uma mscara [...] no importa a
di stncia de onde seja contemplada, ainda
urna obra de arte" . Quando, em 1915, em sua
procura por " uma forma de drama di sti nta ,
indireta e simblica", el e encontrou as pea s
n, acre dito u ter ac hado uma forma de insu-
flar vida nova s lendas irl andesas; eh: sentia
que nada era pe rdido "ao deter-se o movimen-
to das feies do rosto, poi s o sentimento pro-
fundo express o por um moviment o do cor -
po todo" .
114
H s u i riu AI II I/ d i ll/ d o lca sro
A arte do n exige concentrao ex trema.
Por horas a fio o ator, em se u fi gurino de des-
lumbrante brocado, prec isa conduzi r a si mes-
mo de mod o que se us ge stos e movimentos
nun ca co ntradigam sua mscara. Seu raio de
ao pre cisament e med ido em passos, cada
passo qu e ele d para a fre nte ou par a os lado s
tem sua pre scrita medida.
O palco n trad icion al uma plataforma
qu adrada de cedro , pol ida e brilhante, de apro-
xi ma damente 5,5 m de largura, co m trs lado s
abertos. Possui seme lhante ao dos
templ os, s ustentado por quat ro pi lares . O pIa-
no de fund o sempre o mesmo: um grande e
nodoso pinh eiro pint ado nas tb uas da parede
de trs como s mbo lo da vida eterna. Tr s de-
graus levam ao pa lco, que se ergue a mai s ou
menos 90 cm do solo; geralmente ele se en-
contra no ptio de um templ o. A pea n ainda
est estreitamente co nec tada co m a cerimnia
religiosa e as festividades dos templos santos.
Um dos mais antigos palc os n ex istentes lo-
ca liza-se no recint o do templo de Kyoto . de-
dicado a Shinran Shorun, funda do r da seita
Shin. De acordo com uma inscrio, data do
ano de 1591 . Todos os anos, no dia 21 de maio
_. anivers rio de Shinran -, o ce n rio de so-
lenes es pe t culos ,ui .
Por sua vi ta lidade c ria tiva e harmoni a in-
tr nseca com os traos fundamen ta is do cur -
ter j apon s, as peas mi sobreviveram int act as
de sde o sculo XlV. Algumas modificaes
!
-, ..
, .,.'
8. Palco n no recinto t io tem plo de 1\.)010, con.... lru tlo cm I ) 9 1C dedic ado Iuuda dor da .... cita Shiu, Sluurun Shonin.
cujo auivcrs no cru 2 1de 111ail ) comemorado anua lmcut,- '''I HII cspt.' I:.: ull )StU; . O pi :-. t. ..k ce-d ro mantido cuidudosmncn-
te polido, como II brilho de um c... pclho .
9. Platia c palco n vazios: \I Teatro Kwanzc-kui-n em Tquio, 1960.
J(/l'tlO
na nfase podem ter causado pequenas mu-
danas na estrutura dramtica, mas nenhuma
em sua essncia. Existem, por exemplo, al-
gumas peas mi - como Rasliomon ou FllIlII-
Bcnkri - nas quais a figura dominante no
o shite, mas o waki; isso se explica pelo fato
de que, por volta de 1500, seu autor, o ator e
poeta Kwanze Kojiro Nobumitsue, ter inter-
pretado o waki durante muitos anos num gru-
po n . Bastante compreensivelmente, escre-
veu o melhor papel para o segundo ator - ele
prprio.
O ritmo atualumtanto mais majestoso das
peas lI, as sutilezas instrumentais em seu
acompanhamento musieal (flauta, tambores,
tamborins) e o esplendor dos brocados doura-
dos remontam todos metade do sculo XVIlI.
Porm, nada enfraqueceu a validade do que
Zenchiku, genro e herdeiro artstico de Zeami.
disse sobre a arte da diferenciao cnico-dra-
mtica do l1:
Tudo o que suprfluo eliminado. a beleza do
evseuci.tl f: totalmente depurada. a iucxprinuvel beleza
do 11;\0 fazimcnto [... [. (: como a msica da chuva delica-
da nos poucos galhos que restam das clebres velhas ce-
rejeiras de Yoshino. Cluu-a e Oshio: cobertas de m l l ~ g o .
com algumas poucas flores aqui e ali 1... \.
KYOGEN
Os kvogcn, componentes tradicionais das
peas II. so provavelmente to antigos quanto
estas, se no mais. So farsas que estabelecem
interltdios de contraste cmico com as con-
venes solenes e formais do n, Satirizam de
maneira suave e indulgente as fraquezas hu-
manas e serviram outrora para introduzir os
primeiros aspectos da crtica social no auto-
confiante mundo do samurai.
Criados astutos enganam seu patro so-
vina, impostores so apanhados em sua pr-
pria armadilha, monges hipcritas so desmas-
Girados. um macaquinho brincalho salva a
vida ameaada e, com ela, o mais precioso
bem de seu lamentoso dono. Algumas das
bufonarias e piadas dos kvogen lembram a
Commcdia deli 'arte europia; existe, na ver-
dade. um exemplo de impressionante coin-
cidncia. No interldio kvogen, Bosliibari.
dois servos so amarrados juntos pelas mos,
para evitar que trapaceiem, Porm, a des-
peito da precauo, conseguem roubar vinho
de arroz. H uma cena parecida na Conunedia
deli 'arte, em que dois scrvitori amarrados
de forma semelhante servem-se do macar-
ro que lhes negado.
As farsas kyogen no so amargas, mas
alegres. Praticam a crtica social sem mortos
nem feridos, Qualquer ambigidade grosseira
rigorosamente excluda, pois, conforme Zea-
mi nos diz, palavras ou gestos vulgares no
devem ser apresentados em nenhum caso, por
mais cmicos que possam ser.
Quase nada se sabe a respeito dos auto-
res dos aproximadamente duzentos textos
kyogcn ainda em uso hoje. Um dos mais anti-
gos textos transmitidos pela tradio data do
sculo XIV e atribudo ao sacerdote Kitaba-
take Gene Honi, do monastrio Hieizan. di-
fcil, porm. encontrar pistas de autorias pos-
teriores. Urna coisa parece certa: uma suces-
so protegida com muito cime deve ter sido
a regra no kvogcn. C0I110 era em todo o n -
os textos foram mantidos rigorosamente em
segredo e legados de pai para filho, exatamcnte
como na tradio do arlequim e do Hanswurst
do teatro europeu.
Os atores kvogcn em geral no usam ms-
caras, exceto quando interpretam um certo
nmero de tipos especiais, como o macaquinho
em Utsubot.aru, Da mesma forma que o n, o
kvogeu possui sua hierarquia tradicional de ata-
res. ou seja. um protagonista e lder (01110), e
um segundo ator (ado). O kvogcn reagrupou
os vestgios esparsos de formas teatrais popu-
lares que foram rejeitadas, da mesma forma
que o sarugaku foi aprimorado no n, Vrias
geraes mais tarde, essas formas se tornaram
a fonte para os elementos realistas do kabuki
primitivo.
o TEATRO DE BONECOS
A arte dos espeuiculos de bonecos perpas-
sa corno um fio vermelho todo o teatro do
Extremo Oriente. A marionete manipulada por
tios ou arames; o ttere Il'Oyang javans, sun-
tuosamente vestido; o boneco rstico, escul-
pido ii mo. da ilha de Awaji - todos eles. ao
lado do bardo e do contador de histrias, sem-
87
10. Cena com macaco executando passos de dan-
a. que lembra a pea ainda hoj e popular Kyogen
Utsnb ozaru, levada pelo elenco do Kwa nze-kai -n de
Tqui o, em 1966. em sua tum pela Europa. Gravura
colorida. c. 1900.
J J. Mscara kyogen de um anci o. perodo Mu-
romachi , sculo XV (Tquio).
J a p o
pre encontraram, em toda parte, seu pequeno
e grand e pblico .
Qua nto ao Japo. os bonecos so mencio-
nados pela primeira vez no sculo VIII. Quer
dizer que, nas apr esentaes do sangaku (at
ento infl uenciado pe la Ch ina) tambm se
empregavam bonecos como cc- atuant es.
Durante o perodo Heian (794-1185), os
espetc ulos de bonecos viajaram atravs de
todo o pas com as troupes ambulantes . Se u
" teatro" era uma caix a retangular, aberta na
frente . O titereiro a carregava com a aj uda de
uma correia no pescoo. Dur ante o espet cu-
lo, ele movimentava seus bonecos. que eram
feitos de pedaos de madeira e trapo, atravs
de buracos abertos no fundo e nos lados da
caixa. Esta for ma primi tiva e atempora l de tea-
tro de bonecos co mum ainda hoj e em algu-
mas regies remot as do Jap o.
Porm, a ar te alta mente estilizada dos
bonecos animados de Osaka deve sua insp ira-
o e desenvo lvimento ii fuso da arte dos bo-
necos com as recitaes dos cantores e conta-
dores de histria s. Na poca em que os scholars
errantes da Europa estavam cantando as proe-
zas de Carlos Magno nas cha nsons de geste,
os monges cegos j apone ses sentavam-se dian-
te dos portes dos templos e recita vam cenas
dos picos dos samurais, com o acompanha-
mento do sami sen, um alade de trs a ci nco
cordas. Uma das mais con hecidas baladas con-
ta a triste histria de Joruri, que procura eter-
namente o seu amado e, quando o encontra,
perde -o mai s uma vez. Perto do final do scu-
lo XVI. a famosa balada de Joruri terminou
por dar seu nome a uma recm-surgida forma
de arte. a pea de tteres (ni ngyo, que quer di-
zer "bo neco de mo" ), que ficou conhecida
como ningyoj orur i. Ela deve sua origem a dois
manipuladores itinera ntes, o mestre titereiro
Hikita Awaji -no-jo e o cantor de balada s de
joruri e tocador de samisen Menukiya Choza-
buro, que um dia decidiram fazer um trabalho
juntos. Hikit a manipulou os bonecos de acor-
do com a hist ria conta da por seu parcei ro, e
ambos foram apla udidos largamente. O impe-
rador convocou-os ii corte, e logo o seu exem-
plo era seguido por outros grupos de cantores
e titereiros,
Em pouco tempo, o ningyo j oruri tornou-
se grandemente popul ar sobretudo no grande
centro comercial de Osaka. Mercadores ricos
financiaram um teatro de bonecos e. sob sua
influncia, a t nica temtica deslocou-se do
mund o corteso dos samurais para as casas co-
merciai s e para o universo sentimental da classe
dos mercadores .
A pea de bonecos foi alada a um alto
nve l artstico por ter obtido acesso s obras-
pr imas do grand e dramaturgo japons Chika-
mat su Monzaemon (1653- I725). O "Shakes-
pea re do Japo" escreveu seus mais refinados
trabalhos no par a ateres humanos, mas para
tteres esculpidos em madeira. Quando as obras
de Chikamatsu so encenadas com percia, os
bonecos, animado s de forma mi steri osa. tor-
nam- se o veculo de emoes e paixes que
desconhece m fronteira s. O tter e nunca corre
o risco de sair dos trilhos , e sua gestualidade
pat tica sempre esteticamente bela e nunca
embaraosa.
A brilhante observao de Kl ei st em seu
estudo "Sobre o Teatr o de Mar ionetes", de
"que pode haver mais gra a numa articulao
mecni ca do que no co rpo humano". apli-
c vel tambm aos tter es de Osak a. Mesmo
na poca de Chikarn atsu, os bonecos originais,
que eram moviment ados com as mos, foram
aperfeioados em figuras de co nstruo ela-
borada , que pos suam notvel destreza para
andar, danar e at mesmo para mexer os olhos
e franzir a testa. Acredita-se que j em 1727
existiss em disp ositi vos que conferiam aos t-
teres poss ibilidades enge nhosas. Pri meiramen-
te. havi a pequeno s alapes para figura s ind i-
vidu ai s ou parte s do ce nrio e, mai s tarde , o
artifcio de plataformas maiores que tambm
podiam ser usada s para elevar o cho do pal-
co em trs nvei s diferentes. Ao trabalhar com
tais inventos c nicos do teatro de bonecos,
Namiki Shozo , o inventor do palco giratrio
japons para o teatro kabuki, teve, segundo se
rel ata , sua primeira experi nc ia tcnica. No
Japo, conta-se que o pa lco gi ra tr io foi usa-
do de incio no teatro de bonecos Kado-za em
Osaka.
O palco do ningyo j oruri consiste numa
pont e de madeira sobre a qu al os bone cos
atuarn, enquanto o mestre titere iro que os ma-
nipula fica numa espc ie de fosso. Ele perma-
nece ii vista dos espectado res, sem destruir com
isso a iluso; se os bonecos so grandes , ele
89
12. 'Ic .uro kabut femini no da l'P( )l ' ;t da da narina t r-kuni . em Kvot o. c. I( ) ~ ( ) .
pod e at me smo sentar-se ou estar em p no
prpri o palc o. Usa roupas escuras e um capuz,
mi sturand o- se assim ao pano de fund o, e n-
quanto comunica aos bonecos. suntuos amen-
te vestidos com seus figurinos bri lhant es. a ca-
paci dade de amar e odiar. sofrer e resistir. lu-
tar e morrer.
O narrador senta-se 11dire ita do palco, por
trs de urna estante de laca ricament e deco ra-
da que sustenta seu texto; pert o dele senta-se
o tocador de samisen. O nmero de orado res e
msicos depende do tipo e da co mplexidade
da pea.
As dificul dades de provcr os requisitos
tcni cos -- co mo. por exemplo. a necessidade
de trs titerei ros para manipular um nico bo-
neco - ju ntamente com a competio com o
teatro kabuki causaram o decl nio gradua l do
joruri no decorrer do sculo XVIII. Entre I n o
e 1870 no havia um nico teatro joru ri arti s-
ticamente co mpetente em todo o Japo.
O joruri veio a ser revivido por um mcs-
Ire titerei ro da ilha de Awaji. bero tradicio nal
de esperculos popul ares de bon ecos. Em
I P,7 1, Uernura Bunrak uken fundou o Teatro
Bunraku de Osaka. que leva seu nome. e foi
ali que a arte do niugvo joruri revi veu em nova
glria. O edifcio. que ficava no recinto de um
--- -
--- - -
~ = " " ' - - ~ -
- - " j
..... ,
H st ri a M nd a l ,l n Te atro .
temp lo fora da cidade, incendiou-se em 1926.
Hoje. os famosos bonecos de Osaka tm como
abrigo o moderno e decorado edifcio Asahi-za,
que faz parte do gra nde co nglome rado teatral
pert encent e socieda de an nima Shoc hiku.
Nos ltimos cem anos . o nome Bunraku pa s-
sou a faze r parte do vocabulrio internacional ,
evocando cm todos os lugares a arte rematada
do tcatro de mari on etes j apons de Osaka.
K A B UKI
Os primeiros anos do sc ulo XVII. mar-
cado na EuroJid , pel o esplendor do barroco.
trouxe afinal a' paz ao Japo. depois de uma
srie de co ntenda s de faml ia e guerra s civis .
Porm. foi tambm uma poca de novos con -
flit os, gerados pel a primei ra intru so de um
mund o externo, di st ante e es tranho. Merc ado-
res portugu eses es tava m levando ao Jap o os
artigos de sua terra, e os mission rios jesu tas
de So Fracisco Xavie r propagavam sua f. Os
exrratos burg uese s co meavam a dec idir se u
dest ino e o dest ino do Estad o.
Enqu anto as solenes danas bugaku ha-
viam enco ntrado seu lugar no cerimo nial da
corte imperial e o II se encaixara inteiramen-
J apii o
te na estti ca samurai baseada no zen-budis-
mo, urna nova forma de teatro compreendia
agora tod a a extenso da real idade social. Era
o kobuki. Os trs car acteres chi neses que ex-
pressam hoj e a palavr a kab uki significa m m-
sica. dana e habilid ade art stica.
A origem do kabuki atribuda bailari-
na Okuni , antiga sacerdoti sa do santurio
xi ntosta em lzumo. Por volta de 1600. Okuni
dava recitais de dana e msica em diver sos
locai s da ca pital Kyoto, a fim de recol her don a-
rivos para a reco nstruo do se u sa ntu rio em
Izum o, destrudo pelo fogo . E por celta, apre-
sent ava a nembutsuodori , dana ritua l em ho-
men agem a Buda . conhecida de sde o sculo X
e difundida por monges erra ntes.
O sucesso de sua ca mpanha para arreca-
dar fundos levou Okuni , por inici ati va pr pria
ou instigao de algu m com faro para neg-
cios, a trocar o ca r ter reli gioso de sua arte
por outro. co mercialmente mai s til. Ela trei-
nou algumas jovens. ensaiou com el as peque-
nas danas e cenas de di l ogo, e co meou a
aparecer com seu co nj unto c uma or questra
de flaut as, tambores e tam bor ins no parque
de div ers es de ver o em Kyot o, no leito seco
do ri o Kam o, onde numerosos pequen os res-
taurant es. casas de ch e troupes de dan a
mon tavam suas barracas todos os ano s na es-
tao seca.
Em 1607 . Okuni levou suas j oven s a Ycdo.
hoj e Tquio. onde novament e atraiu gr andes
pl atia s. Donos de casa de ch es pertos come-
a ram a anexar um ja rdim- tea tro kabuki a seus
estabe leci me ntos . As jovens danarinas eram
muit o atraentes. cm todos os sentidos; porm.
co nforme seus princ pios de conduta iam re-
laxando, sua reputa o rapid amente decresceu.
Vint e anos mais tarde. um edi to imperia l proi-
biu o on na- kabuki e o apar eciment o de mu-
lhere s (o ll lla) no palco.
Um docu ment o da poca primitiva do
Okuni kabuki, o Kunij o kabuki ckotoba, escri -
to aproximadame nte entre 1604 e 1630. que
hoj e est; pre servado na bibli oteca da unive rsi-
dade de Kyoto, nos oferece um vvido quadro
de sse per odo. Suas ilustraes mostr am como
as antigas carac tersticas da da na ritual com-
binavam-se co m os ele me nto s do I/(i e do
kyogcn. Ele registra o seguinte enred o de uma
das peas-danas de Ok nni:
Okuni est pra nteando seu amado e. co n-
j urado pe lo fer vor de sua dan a. seu es prito
aparece dian te de la. O fantasma int erpret a-
do por uma jovem at riz e entra 110 palco vi ndo
do meio do pbli co. Co m isso se anuncia um
desen vol vimento que se tornou um pr incpi o
da encenao do kabu ki , Fant asmas. deu ses e
heris cm ao fazem sua entrad a por uma pas -
sarela de mad eira, atr avs da plat ia. rumo ao
pal co. ist o . so bre o hanamichi, a "estrada de
flores" . Cont a- se que o pbli co deposit ava ali
flores aos ps deles - uma bel a. porm no
comprovada interpret ao.
Em 1624, o fund ador da linhagem de ato -
res cha mada Nakarnura, uma da s mais renoma-
das das dinasti as kabuki, construi u o primeiro
teat ro kabuki permanente em Yedo . Ci nco anos
mais tard e. o ouna- kabuki foi proibido. Dora-
vante a nen huma mulher seria permi tido apa-
recer no kabuki, Os papis das damas banidas
for am ass umi dos por atores adolescen tes. bem
co mo suas outras obrigaes. Eles logo inspi -
rar am rivali dades no menos viol ent as do que
as pr ovoc ad as pel as damas da profi sso. poi s
os prazeres do pal co e dos ba stidores eram
igual ment e requestados pelos mercadores ri -
cos. os shonins, e membros da classe dos samu-
rai s. Em 1652, as autoridades puser am fim
tam bm ao waka-shu -kabuki, int erpret ado por
garotos.
Porm. do is anos mais tarde. veio a modi -
ficao deci si va. quand o foi obti da a permisso
de se conti nua r com as aprese ntaes teatrais.
com a co ndio de que os atorcs amassem co m
a ca bea raspada. conforme era costume entre
os homens. e que no fosse m inclu das cenas
er ticas ou danas provocant es.
A partir de ent o. o des en volviment o do
kabuki tr az a ma rca da entranhada tendncia
japonesa para a estili zao e para os " astros"
da cena. Assim. logo se delin earam qu atro ca-
tegorias di st int as de peas. que ai nda hoj e cons-
titu em os programas kabuki. O pr imeiro tipo
o dr ama histrico. jidainiono, que glor ill ea o
sarnurai e sua s virtud es tradi ci onais - lealda-
de e amor fili al. O segundo. o Sl' IIi/1110110 .
um dr ama do m stico situado no mundo dos
mer cad ores. comerciantes e art esos. A terceira
ca tegoria. aragoto, o dr ama do homem fort e.
apresenta um heri sobre-humano, caracteri-
zad o por uma pesada maquiagern e pelo dis-
1)0
91
13. Teatro kab uki de meninos cm Kyoro. c. I ~ O .
curso melodramtico. A quarta, shosagoto,
uma espcie de drama danado acompanhado
por tamborin s, gra ndes tambores, flautas e
shamisen , e tambm por um coro cantando a
balada relativa histria e aos eventos lricos
da trama.
Quatro nomes famosos esto intimamen-
te assoc iados com o teat ro kabuki da segunda
metade do sculo XV II: os dos trs atare s
Toj uro, Danj uro e Ayame. e o do grande dra-
maturgo Chikamatsu, cujo nome est estrei-
tamente ligado ao teat ro de bonecos. Sua arte
e sua vida refletem a si tuao soc ial de sua
poca.
Sakata Toj uro ( 1647- 1709), famoso pelo
papel do terno amante nas peas corte ss, do-
minava o palco em Kyoto e Osaka. Quando
menino, no palco Il de seu pai, ajoe lhado ao
fundo da cena, ele havia tocado o tambor. Mais
tarde, como famoso astro kabuki e autor de
peas de sucesso, levava a vida de um prnci-
pe. Tojur o um repre sentante tpico do mun-
do genroku, no qua l os mercadores se fizeram
ricos e os samurais empobreceram, no qual as
zonas de meret rcio floresceram c os cidados
eram impelidos por suas amb ies .
92
Hist ri a M u n d o do Teatro .
Co m profunda compreenso daqui lo que
moviment ava os seus contemporneos, Tojuro
decl arava que a prpria vida era o grande mes-
tre da sua arte. "A arte do mimo", disse ele
cer ta vez. " como o bornal de um mendigo,
que tem de conter tudo. importante ou insigni-
fica nte. Se encontramos algo <.jue no pode ser
us ad o imedi atament e, a c ois a a fazer
con serv- lo c guard -lo para uma ocasio fu-
tura . Um verda deiro atar deveria apre nder o
ofcio do batedor de ca rteira s".
O gra nde rival de Toj uro nos palcos de
Yed o foi Ichikawa Danju ro (1 660-1704).
Qu and o adolesce nte, havia sido memhro de
uma troupe ambulante. Ao se aprese ntar pela
primeira vez cm Yedo, em 1673, cobriu o ros-
to com uma espessa camada de pintura verme-
lha e branca para desempe nhar o papel de um
heri arago to. Foi o nascimento da mscara
kabuki . Danjuro assumiu o estilo declamatrio
do teat ro de bonecos, cujo rapsodi sta Izumidayu,
em Yedo, ele admirava grandemente e tomara
como modelo. Danjuro era um homem baixi-
nho c atarracado, de espantosa fora fsica e
poder voca l, que, segundo relatam os cronistas,
fazia tremer no apenas o palco, mas tambm
14. Duas xi logravuras emcore s de Sharaku, c. 1790 . esquerda. os ateres kabuki Sawa mum Yodogaro e Bando Zcnji :
direita, Segawa Tomi sahuro II e Nakamura Marnyo, dese mpenhado o papel de ama e criada.
15. Xi logruvura em cores de Shige haru : doi s atures
num duelo de samurais.
16. X ilograv ura em cores de Torii Kiyonaga: cena de
teatro com recitadores c um tocador de samiscn .
as porcel anas nas lojas prximas. Qua ndo abria
tod as as co mportas da emoo ao int erpret ar
um papelaragoto, sua voz de trovo podia ser
ouvida a qu il rnctr os de dist nc ia. O ideal de
Danjuro era o her i do mundo samur ai. Co mo
Tojuro, el e prprio esc reve u pel o menos algu-
mas de suas peas ou adaptou-a s a parti r de
text os Ilel. co mo o famoso Kaj i ncho , Por uma
ironia da hi stri a, es te heri inve ncvel foi as-
sa ssi nado pel a espada de um ator rival dur ante
uma bri ga no ca marim do Teat ro Ichi mura-za
em Yedo.
O ter ceiro dos astros dos primrdios do
kabuki fo i Yoshi zawa Ayu me ( na sc ido em
1673). Era um intrpre te de papis femi ninos
e levo u o seu es tilo to a srio que terminou
desenvol vendo um narcisismo qu ase hermafro-
dita. Mesmo fora do teatro, usava se mpre rou-
pas femininas, bem como uma alt ss ima e ela-
borada peruea e cos m ticos, transpondo sua
imagem cnica para a sua vida privada. Ale-
ga va que um ator de papis femininos nunca
de via - me smo depoi s do es peuic ulo, no ca-
marim, ou nas ruas - "sair da personage m" , A
abs ur da fi xao de Ayamc em tran sformar a
onnogatu numa co rtes, at mesmo na vida co-
tidiana, int roduziu uma rigid ez conve ncional
no kab uki que no auxiliou seu de se nvo lvime n-
to arts tico subscqente.
O homem a quem o kabuk i deve seu mais
poderoso impulso o gr ande drama turgo ja -
pons Chikamatsu Monzaemon ( 1653-1725).
Seu nome verdadeiro era Sug imo ri No bumori,
mas era uma prtica comum na vida tea tral ja-
ponesa um aror toma r, co mo nome art stico, o
nome de um art ista que reconheci a co mo mo-
del o. Ne ste ca minho. geraes de Tojuros e
Danjuros sucederam-se uma s its outras (lima
xilogr avura de Kun isada. de 1858, mostra
Danjuro VII), sem terem nada em co mum com
seu ance stral , alm da amb io arts tica .
Ningum, entretanto. ousou torn ar o nome
artstico de Chikamat su Monzaemon depois
dele. Desde os dezcnovc anos ele viveu em
Kyoto, a servio de um nobre da corte chama-
do Ogimachi, quc escrevia peas joruri. Foi
ali que Chi kamat su entrou em co muto pela pri-
meira vez com o teatro de honecos. ao qual
devot ou suas mais exce lentes obras. Pert o de
vinte pels de Chika mat su chegara m at os
di as atuais, e a fora de toda s c las brot a de duas
font es - a estreita conexo com o ningyo joruri
e a influ ncia do ator Tojuro em Osaka. Tan to
a arte de Toj ur o quanto a de Chikamat su es ta-
vam en ra izadas no mel odrama dom st ico
( SelI'OII/Ol/ o), no co nfli to trgico e sem sada
ent re os impu lso s do corao e as leis rgi das
da orde m soc ial feudal.
H uma ve lha mxima teatr al no Japo que
diz: "O teatr o sabedor ia para () povo. Cum-
pre-lh e ens inar a trilh a do dever por me io de
exemplos e model os" . Chikamat su co loca se us
heris e he ronas no co nflito entre a natu reza
human a e a lei moral. Faz co m que eles resis-
tam a tod as as tentae s co m uma conduta
exemplar e leva-os a enc ont rar a melh or sada
possvel. a mais j us tificada eti cament e,
Dura nte a primeira metade do s c ulo
XVII I, o kabuki e o teatro de bonecos com-
pet iam com pro babilidades quase idnti cas
pel os favore s do pblico. Graas a adaptaes
dos grande s temas picos e com a ajuda das
exc el entes peas de Chikamatsu, o kabuki ul-
trapassou se u ri val. Isso incentivou tamb m
o culto ao s ast ros. Ca da cidade tinh a os se us
dol os. Os melhores expoentes da xilogravura
colorida captara m-nos etn poses impressi vas*
e estudos de ret rat o. As sr ies de ate res de
Sharaku. q ue fora an tes um atol' mi a se rvi o
do prncipe de Awa , mos tra os favori tos de
Yed o com uma grandiosidade impr ess ion an -
te. Os es bo os de teatr o de Hokusai ca ptu-
ram a gra a ev ane sce nte do movi men to da
dana . Quando, em 179-1. o empresrio tea-
tral Mi yuko De nna i assumi u o falido Naka-
mu ra-za e m Yedo, ps em circ ula o um a
xilogravura de Sharaku, mostrando -o nu ma
pose decora ti va no palc o, seg ura ndo um per-
gami nho - uma prova um tant o di spen di osa
de sua re pu ta o empresarial. Na mesm a po-
ca , Sharuku fo i e nc arrega do de fazer dese-
nhos dos atores dos trs pr incip ais teatros de
Yedo. Sua s grandes xilogravur as co lor idas em
que se v somente a cabea dos artist as sobre
um fundo de mica cinza-prateada, tod as fei -
tas en tre 1793 e 1796, encontram-se hoj e en-
tre os mai s prec iosos testemunhos pi ct ricos
do tea tro japons .
Tl' llIlIl c unl uu l,I cm l H . . l n U ~ l I ~ ~ pn!" Da rei K' h ,IIH1
iII (Js T l1ro .\ Hunra t;u c: Kabul:i: l lll Ul \ sada U {/ r ro C"(/ .
S; IO Paulo. Pcrvpcct iva. I I) t) 3 .
C)j
18. Xilogravura em cores de Kunisada: vi sta de um teat ro kabuki, No palco , uma cena de batal ha; esquerda. no
caminha das flores. Danjuro VII co m um parcei ro. Impress o nica. 1858.
17. Xilogravura cm Cores de Kunisada: vista geral do Shintumi -za cm Tq uio. t XXI. esquerda, () grande caminho das
fl ores t hunamichi vque leva ao palco kahnk r; ii direita. o pequeno cami nho das tlorcs (Munique, Museu do Teat ro}.
19. Xi logrnvu rn c m cu res de Hokusai. da srie Lugares Famos os dr Ycdo. Tquio. 1800. Palco e platia como \'isIOS
pelos msicos. que aparecem sentados - annimos - ao f undo da ce na.
Um dos mai s famosos dramas ka buk i .
Kanahedon Chu-shin gura, de Taked a lzumo
e Namiki Sos ukc, ainda regul arment e apre-
sentado todos os anos. por inteiro ou em a lgu-
mas cenas. Ele co nta a histri a dos qu arenta e
sete nobres (I1mill) que exigem cruel vingana
de sangue devido ,I um cr ime de mort e come-
tido por fidelidade de vassal o. Eles obedecem
ao cdigo de ti ca dos samurais custa de sua
prpria vida. O episdi o histrico subjace nte
a esta pea. a hi stri a dos 47 ronin. um dos
temas mais populares da literatur a j aponesa.
O palco kabuki, originalmente emprestado
do Il, er a uma pl ataforma quadrada se m de -
corao. No inci o, era erguido onde fosse con-
veniente e ao ar livre. mais tarde num rec into
ci rcunscrito e, final ment e, foi transport ado para
um edi fc io teat ral penuancntc. A plati a sen-
tava-se em bancos de madeira. Os gra ndes tea-
tros tinham galerias e fileir as ao longo da s pa-
redes laterais, sempre divididas em comparti-
ment os - como tam bm eram organizados os
lugares ao nvel do solo. O preo do ingresso
pago na entrada dependi a da categor ia do lu-
gar desej ado pel o freqiientador.
Atu almente, o caminho das flor es ( l ia na-
mi chi) um dos componentes mai s caracte-
rsticos do kabuki . Ele fica alt ura da ca bea
do pblico na pl ati a. que ocupa o plano do
solo, e va i de uma pequ ena porta na parede
do fund o do audi trio at um dos lados do
palco . Teat ros grandes fr cqenremcn te po s-
suem uma segunda passarel a de entrada. me -
nor. que segue par alel a ao hanamichi at o
outro lado do palco. (Quando Max Rcinh ardt
mont ou a pantomima Sumurun e m 19 10 par a
o Berl iner Kamrnerspielc . inspirada por mo-
tivos ori ent ais. usou tambm um caminho da s
flores.)
98
l sur r a 1111lIJJ i a l d o Tr u t r o
Conforme o nmero de atores cres cia e o
programa se ex pandia, o teatro kabuki come-
o u a precis ar de um a espc ie de estrutura in-
tema pintada, equipada com uma cort ina cor-
redi a e v ri os tel e s de fun do. No palc o
ka buki ampliado. al gu ns obj ctos c nicos ca-
ract er sticos indi cam a cena da ao - biom-
bos pintados de dourado. por exemplo. faze m
parte do cen rio do pal cio nas pea s j ida i-
mono; que por ess a razo so s vezes chama-
da s de peas dos bi ombos dourados.
J em 1753. o dramaturgo e tcni co de
cenogr afia Namiki Sh ozo havia construdo um
mecani smo qu e ergui a e abaixava o ass oalho
do palco. Em 1758 , inventou um palco girat-
rio, operado por um si st e ma de cilindros. Es te
palco giratrio fo i post er ior mente aperfeioa-
do em 1793 por Jukich i, no Nakamura-za de
Yedo. O Japo es tava, assi m. um sculo intei -
ro frente da Europa , q ue no teve sua pri-
meir a experincia prtica do pa lco giratrio at
1896. quand o Karl Lauten schl ager o utili zou
no Nationalthea te r em Munique. (Isso, ent re-
tant o. se dei xarmos de lado os esboos de Leo-
nard o da Vinci pa ra um a a legoria qu e se ria
apr esentada em Milo em 1490 . e o palc o gi-
rat ri o dupl o qu e Ini go Joncs desenhou em
1608 para The Masque ofBcautv, em Londres.)
Duas vezes . e m 1841 c em 1855, grandes
incndi os devastaram a c idade de Yedo e des-
truram todos o s se us teatros. Eles foram
reconstrud os. e os novos teat ros co nsistiram
em verses maiores e ma is espaosas de se us
prede cessores. No importa qu ant as crises in-
ternas e externa s tenham ce rcado o kabuki, e le
ainda a mais popu lar forma de teatro do Ja-
po. Iluminao ultramoderna e tcnicas c -
nicas. poltronas e as se ntos dobrveis. um j i>yer
e cart azes mult il nges co nferiram. nesse meio
tempo. um brilho int ernaci on al ao kabuki .
Atua lme ntc . h no Japo cerca de trezen -
tos e cinqenta ate res kabuki , empregados pe la
grande co rporao de teatro Shoc hiku- Kaisha,
que possui um rico acervo de vcstimc ntus e
ace ssr ios hi stricos. O esplendor de um cs -
pet culo kabuki depen de hoje. co mo anti ga-
ment e. dos figu ri nos suntuosos - pesados hro-
20. Palco gir at ri o kubuki , operado por culc s, co mo
era costume a part ir de 1741 no Nak amura-za d.... Ycdo.
J ap o
cados ricament e adorn ados e gu arnecidos de
ouro. "Os efei to s so purament e ext ernos".
escreve o estud ioso do teat ro Benito Ort olani ,
"e ist o leva mu itos crticos a duvidar da vita li-
dade deste g ne ro; mas quem procura pel as
fontes do mi st erioso fascnio de um a remota e
grande civili zao encontrar no kabuki uma
chave indi spen svel de compr eenso e apro-
fun damento" .
SHIMI' A
As rev oltas polticas e sociais do sc ulo
XI X ta mb m tiver am seu impact o no teat ro. A
rest aurao do Meij i em 1868 e o trat ado co-
mercial com os Estados Unido s acabou com o
isol amento sec ular do Japo. Ao me smo tem-
po, fo ram abolidas numero sas restri es inter-
nas. e o teatro foi um dos beneficiri os. Um
cert o nmero de teat ros pud eram ser novamen-
te erg uidos e m qu alquer lugar. por ini ci ati va
privad a. Os r gidos regulamentos que dizi am
respeito ii ind ume ntria dos atore s fo ra m sua-
viza dos e, pel a primeira vez desde 1629, permi-
tiu -se que as mulheres aparecessem no palco.
Mas esta nova e liberal tend nci a teve conse-
qncias q uesti onvei s do ponto de vista ar-
tstico . O afrouxamento do esti lo kabuk i, co n-
forme co ncebido pelo ator Ichi kawa Danjuro
IX ( 1838- 1903 ), mostrou- se ma is noci vo do
que enriquecedor. Sob a influ ncia eur op ia,
surg iram os grupos de entusiastas do teat ro qu e.
com o nome de shimpa ('"Mov imento da Es-
cola Nova" ). qu eri am refor mar o teat ro japo-
ns segundo modelos europeus . Um de se us
fund adores, Sudo Sa danori , int roduziu no pal -
co a representao pol iticamente en gaj ada e
pr ovocou ce leuma em 1888 co m su a estria
no Shi nto miza, e m Osaka. Kawakami Otoj iro,
qu e se a p resento u junto com s ua es posa
Sadaya kko na Feira Mun di al de Pari s em 1900,
tinha e m mira o sentiment o e a sensao e chc-
gou a serv ir de eptome da art e dr amtica japo-
nesa na Europ a. Aps seu ret orn o ao Japo. fez
sua mai or cont ribuio ao palco nipnico. Apre-
sentou peas europias. traduzida s par a o japo-
ns. enc enando -as de acordo com conce itos oci-
demai s. Sua imaginao frtil. alis. levou-o a
fazer Hamlet entrar no palco percorrendo o ca-
minho da s flores (hanamirhiv de bicicl et a.
A tendnci a sliimpa para co ntrabala nar
a rigi dez formal excessiva das cat egorias teu-
trai s tradi ci on ai s teve imp ortante intluncia no
desenvol vimento do teat ro japons. Result ou
numa tendnci a par a o drama de situaes ro-
rnnticas, uma es pc ie de Madame Buu crflv
barato. de corte burgus. Com isto o sh inipa
levou a sua fora de impulso a um beco se m
sada, e seu sucesso se co ncentrou por um cur -
to per odo cm Osa ka e Tquio, mai s ou men os
de 1904 a 1909 . .
Aps a Se gunda Guerra Mundial. B nito
Ort ol ani - qu e e nto er a professor na Un iver-
sidade Sophia de Tquio - diz:
Foram fei tas ten tat ivas no sentido de trn nsforma r
o ",hi ll/ pu Ill.IIlI drama popu lar similar ao c ab nk i, c con-
qui star uma plat ia maior at ravs de 1I11W selco mais
c uida dosa de peas e pela incluso de arores j o vens c
tale ntosov. Est a mud ana inteligente de . tirco as se-
gurou um lugar, no teatro j apons moderno, par a lima
espcie que sobrevive u cm larga medida sua fun o
de pont e e nt re a t ra d i o kabnki e () teat ro mo de rn o.
t\ la s i ... so cx phc u por que a gen te de tc. uro c
c ine ma de hoj e . ao rular do estilo .\" ;1111'(/ ou de uug-
di as do tip o slnsnpa, ( CIH cm mente cspct c ul ox sen ti -
me ut a i v. rom ntico s ou mel odrarn u cos . e por a
mai oria dos espec iali stas no vem no shillljJ{/ nenhu-
ma base para o f ut uro do teatro j apon s .
SH I NGEK I
Um outro movimen to de refo rma. c uj a
influncia con tinuou at os anos 30 de ste s-
culo. foi ini ciado pe lo dramaturgo e es tudioso
do teat ro Tsu bou ch i Shoyo ( 1859- 1935). Alm
de suas prpri as peas. como por exe mplo a
po pular Kiri Hito Ha (A Folha da rvore Kiri),
Tsubou chi Sh oyo apresentou Shakespe are ao
palc o j apons. El e pa ssou dcadas traduzindo
virtualme nte todas as peas de Sha kespeare.
Como primei ra amostra. mont ou a cena da cor-
te de O Mercador de l-ellezo no Kabuki -za em
Tquio. como interldio entre dois aros kabuki,
A isto seguira m-se logo depoi s peas co mple -
tas de Shakesp eare, como tambm de Ibsen ,
Stri ndberg, Gerhart Hau ptmann e outras da
escola natural ist a europi a. Tsubouch i Shoyo
fundou um a sociedade de lit er atura e arte .
Bungci Kvokai, e tamb m o mu seu de teatro
na Univers idade Wa seda de Tquio, que se
torn ou um dos centros da moderna pesq uisa
9Y
\ ..J
.,.
. ':'; , .....
.
2 1. Cena kabuk: pescadora c ba nzo, perto de um salgueiro . Desen ho colorido de Saburo Kancko. Tquio, 19 17.
I'
I
r
...
\ "
O
22. Ator representando um samurai. no drama Goda
Gcnj i Mtxug n Fur sode, 17X2.
23. Xi logravura da s rie Atores 1/0 Palco. de Toyokuni :
Masat su ya .
teatral j aponesa. s mesmas propostas serve
o Institut o de Teat ro da Universida de Sophia
de Tqui o. cuja s publi caes. confer ncias e
mostr as fizeram muit o para promover o co-
nhec iment o da arte teatr al do Japo no Oci -
dente.
A Tei geki , ou Sociedade Teatral Imperial .
formada em 1911 , teve vida efmera, Foi ab-
sorvida poucos anos mai s tarde pela corpor a-
o Shochiku, que possui o monopli o de toda
a indstria teatr al j apone sa, incl uindo a pera,
o cinema e o teatro de variedades de estilo inter-
nacional. Hoj e, o Teatro Imperial um ci ne-
ma que exibe filme s estrangei ros.
O lt imo fruto do shingeki foi o "Peque-
no Teat ro" , fu ndado em 1924 e c hamado
l is t r u i\l U1J lJi ll l (lo Tourro
Tsukiji -Shogekij o, por ca usa do bairro Tsukiji ,
de Tquio.
De outra part e, o shingeki ("novo teatro")
que se separou do Tsukij i-Shogekijo inteira -
mente internacio nal em sua co ncepo. Tornou-
se umconceito de co nve rg nc ia das aspi raes
sociais dos j oven s intele ctuais j aponeses. De-
poi s de dcadas de adeso exclusiva ao mto-
do Stanislvski, passou agora a uti lizar outros
mtodos individ uais de dire o teatral par a a
produo de mont agen s.
Hoje, o shingeki dos grupos teatrais mo-
dernos um lugar de experimentao, de critica
social engajada. de apre sentao de sucessos in-
ternacionais e de discu sso com as grandes cor-
rent es do teat ro mundi al.
Grcia
102
I NTRODU O
A hist ri a do teatro europeu comea aos
ps da Ac rpo le. em Atenas . sob o luminoso
cu azul-v iole ta da Grc ia. A tica o bero
de uma form a de ar te dra mti ca cujos va lores
estt ico s e criativo s no perderam nada da sua
efi ccia depois de um perodo de 2.500 anos .
Sua s orige ns encont ram- se nas a cs recpro -
cas de dar c receber que, em todos os tempos
e lugar es, prendem os homen s ao s de uses c os
deuses ao homem : elas esto nos rituais de
sac rifcio, dana e culto. Para a G rc ia ho-
mrica isso significava os sagrados festivais
b quicos. men di cos. em homenagem a Dioni -
so, o deu s do vin ho. da vege tao e do cres ci-
ment o, da procriao e da vida exubera nte.
Se u sq ui to composto por Si leno, siit iros e
baca ntes . Os festivais rurai s da pren sagem do
vinho. em dezembro, e as fest as das fl ores de
Atenas, em fevere iro e maro, eram dedi ca-
dos a ele. As org ias desen freadas dos vi nha-
tei ros ticos honr avam-no. assim como as vo-
zes alternadas dos di tirambos e da s ca nes
bqu icas at en ien ses. Quando os r ito s dioni -
sacos se des envolveram e resultaram na tra-
gd ia e na comdi a. ele se torn ou o deus do
teat ro .
I. Jovcn ..... danarina.... du poca ;lI L' ;l i c l. De um vaso
t ico primitivo.
Muitas co rre nte s de fora s da Mesopo-
t mia, Creta e Mi cen as confluram para a pe-
nnsula da tica, ban ha da pelo mar, e l en-
con traram se u auge hi st r ico na poli s, a cida-
de-Estado de Atenas. A poltica de poder e uma
del iberada e sagazme nte conduzida inten sifi-
cao da vida religiosa levaram ao pomposo
progra ma festivo da Panateni a. a glorifi cao
da deusa da cidade. Pal as Atena. Do sculo VI
a.c. em di ante, At e na passou tambm a homc-
nagear Dioni so na grande Dionisa citadina. que
dur ava vrios dias e incl ua representaes dr a-
maricas.
O teatro uma obra de arte social e co mu-
nal: nunca isso foi mais verdadeiro do que na
Gr cia antiga . Em nenhum outro lugar. por-
tanto. pde alcanar lant a import ncia co mo
na Grcia. A mult ido reun ida no theatron no
Hi s t ri a M"ndial ( /(1 Tc at r o
G rc ;a
2. Danari nos coruios da t:pOl: :1 de rion, Pintura de UJ1I frasco corntio. sculo VI a.C.
era mer amente espectador a. mas participant e.
no sentido mais literal. O pblico parti cipava
ativamente do ritual teatr al . reli gi oso. inseria-
se na esfera dos deuses e co mpartilhava o co-
nhe cimento das grandes conexes mitol gicas.
Do mund o conceptual reli gioso comum e da
clebre herana dos heris homricos surgi-
ram os Jogos Olmpicos. stmi cos e Nemeanos,
assim como as celebraes cultuais do santu-
rio de Apolo de Delfos - todos eventos que
preservavam uma so lida riedade que sobrepu-
j ava as faces polticas.
A despeit o dessa solida riedade inerente.
exi sti am eonfli tos perenes - entre Esparta e
Atenas, e entre todos os ambiciosos pequcnos
ce ntros de poder do continent e, o Peloponeso
e as ilhas do arquiplago Egeu - conflitos que
podem ser considerados , nas palavras de Jacob
Burckhardt, como "uma fe bre interna dest e
organismo altamente privilegiado". As mui
citadas palavras de Hercli to, "o conflito o
pai de todas as coisas", so vl idas no apenas
para a inquietao polti ca do final do sculo
VI a.C; quando ele as escr eveu em feso, mas
tambm para as sombrias emoes do drama,
as paixes do dio nasci das da "f ria radical
do corao" . Quando Th assilo von Scheffer diz
que humanit as uma pala vra dificilmente apli-
cvel aos gregos anti gos, no destri com isso
a nossa concepo ideal dest es, mas acrescen-
ta o to importante rever so, sem o qual seu tea-
tro - como outros aspectos da Antigidade
grega - escaparia nossa co mpree nso.
T RAG DI A
Do Cu I t o ao Teatro
Para honrar os deu ses, "e m cuj as mos
impiedosas esto o cu e o inferno", o povo
reunia-se no grande semicrcul o do teatro. Com
cantos ritmados, o coro rodeava a orchcstra:
"Vem, Musa, unir-se ao coro sagrado! Deixa
nosso cnti co agradar-te e v a multido aqui
sentada!" Estes hinos em forma de verso so
de As Rs, de Aristfan es. Preci samente ele, o
"zombador incorr ig vel ", invocou novamente,
em sua lt ima comd ia, o poder da tragdia
grega clssica. cuja idade de ouro durou apro-
ximadamente um sc ulo. Seu prec ursor foi o
104
bardo cego de Homero. Demdoco, qu e entoa-
va se us c nticos sobre os favores e a ira dos
deuses para com os heris em banquete, poi s
"quando seu ape tite e sede es tavam satis fei-
tos, a Mu sa inspirava o bard o a ca ntar os fei -
tos de homens famosos" (Odi sseia, VIII) .
Duas corrente s foram combinadas, dan-
do luz a tragdi a; uma delas prov m do le-
ge ndrio menestrel da Anti g idad e re mota, a
outra dos rit os de fertilidade dos s t iros dan-
a ntes . De acordo com Her dot o, os coros de
ca ntores com mscaras de bode ex istiam des-
de o sc ulo VI a.c. Esses coros origi na lme nte
ca ntavam em homenagem ao her i Adrasto, o
mui ce lebrado rei de Argos, e Sci on , qu e ins-
tigou a expedio dos Sete contra Tebas. Por
razes polt icas, Cl stenes, tir an o de Sci on
des de 596 a.c.. transferiu tais co ros de bode s
para o culto a Dioniso, o deu s favorit o do povo
da ti ca.
Dioniso, a encarnao da embriag uez e do
arre batame nto , o esprito selvagem do con-
traste, a co ntradio ext tica da bem-aventu-
ra na e do horror. Ele a font e da se ns ualida-
de e da crue ldade, da vida procriador a e da
destruio let al. Essa dupl a natu reza do de us,
um atri buto mit olgico, encont rou expresso
funda mental na tragdia grega .
O caminho que vai do bar do homri co
Dem doco tragdia nos conduz a um de seus
suc es sor es, Ario n de Lesbos, que viveu por
volta de 600 a.C. na corte do ti ran o Periandro
de Corinto. Co m o apoio e a amizade desse
governante ama nte das art es, Ario n e ncarre-
go u-se de orie ntar para a via po tica os c ultos
vegetao da popul ao rur al. Organ izo u os
bodes da na rinos dos coros de stiros para um
aco mpanha me nto mimt ico de se us diti -
ra mbos. Ass im, ele enco ntro u uma forma de
arte qu e, originada na poesi a, incorporou o
ca nto e a dana, c que duas ge raes mai s tar -
de levou , em Atenas. tragdi a e ao teatro.
Ps strato, o sagaz tirano de Atenas que pro -
moveu o comrci o e as artes e foi o fundador
das Panateni as e das Grandes Dioni sacas, es-
forou-se para emprestar espl endor a ess as fes-
tivid ades pblicas. Em maro do ano de 534
a.c.. trou xe de 1cr ia para Atenas o ator T sp is.
e orde no u qu e ele part icipasse da Gra nde
Dionisaca . Tspi s teve uma nova e criativa
idia que faria hi stria. Ele se co locou :, pa rte
do coro como solista, e assim criou o papel do
hypokritcs ("respo ndedor" e, mai s tarde, ato r),
que apresentava o es petc ulo e se envolvia num
di logo co m o co ndutor do coro. Essa inova-
o , primeir ament e no mai s do que um em-
brio dentro do rito do sacrifcio. se desenvol-
veria mais tarde na tragdia, eti mologicamente,
tragos ("bode" ) e ode ("canto").
Nenhum dos pr esentes na Dionis aca de
534 a.c. poderia sonhar com o alca nce da s
impl icaes que este ac rscimo inovador de
di logo ao rito Iraria par a a histria da civili-
zao e, menos ai nda. o pr prio T spis, At
ento. ele per ambulara pel a zona rural com
uma pequena troupc de da narinos e cantore s
e, nos festivai s rurais di oni sacos, havia ofere-
ci do aos camponeses da ti ca apresentaes
de ditirambos e danas de stiros no estilo de
Arion. Supe-se qu e viaj asse num a carro a de
quatro roda s, o "carro de Tspi s" . mas esta
apenas uma das inerrudicvci s e grac iosas ilu-
ses que o uso ling sti co perpetu ou. O culpa-
do nesse caso foi Hor ci o, que nos conta que
T spis " levava seus poemas num ca rro". Ma s
essa inform ao diz re speito some nte ii sua
participao na Dionisaca. e no a algo COIll O
uma carroa-palco ambulante. O ritual da dan -
a coral e do teatr o era pr ecedido por uma pro-
cisso solene, que vinha da ci dade, e termi na-
va na orquestra, dentro do recinto sagrado de
Dioniso. O clmax dessa proci sso era o GIITO
festivo do deus puxado por dois s tiros. uma
espc ie de barca sobre rodas (carru s navalisi.
que carregava a imagem do deus ou, cm seu
lugar, um ator co roa do de folh as de vide ira. O
carro- barca recorda as ave nturas martimas do
de us. pois. de acordo com o mito, Dioni so,
quando cr iana . fora de po sitado na praia pe-
las on das do mar, dentro de uma arca . Enq uanto
elemento procri ador qu e abr iga o mi st ri o pri-
mor dial da vida. a gua sempre foi um ingre-
dient e import ante dos c ultos dc qu alquer povo;
so testemunhos disso o culto de Os ris do
antigo Egito, o Moi ss bblico e o pescador
di vino da dan a kagura japonesa.
O deus - ou o atol' - no carro-barca senta-
se entre doi s stiro s fl auti sta s e segur a folhas
de vide ira nas mos, co nforme os pi ntores de
vasos do incio do sc ulo VI a.c. mostr aram
em in meras varia nte s. Assim. se m dv ida,
Tspi s se apresento u na Dioni saca de Ate nas ,
usando uma mscar a de linho co m os tr aos
de um ros to humano, visve l a distnci a por
dest acar-se do coro de stiros, co m suas tan-
ga s fel pud as e cauda de cav alo.
O local da Dion is aca de At en as era a en-
costa da colina do santu rio de Dion iso, ao sul
da Ac rpole. Ali erguia-se o templ o eo m a ve-
lha imagem de ma de ira do deu s, trazida de
Eleutera: um pouco mais aba ixo ficava o c r-
culo da dana, e ento , nu m terrao plano, a
orchestra. Em seu ce ntro, so bre um pedestal
baixo. erguia- se o altar sacri ficia l (ri me/) . A
pre se na do deus torn ava-se real para os es-
pect ad or es; Dioniso es tava ali com tod os eles,
centro e animador de uma cerimni a solene,
re ligiosa, teatral. Co mo todas as gra nde s pe-
as c ultuais do mundo, esta comeou co m um
sacrifc io de puri ficao.
T r gicos Pre cursores d e
sq u i l o
Entre a primeira apresen ta o de Tspi s e
o pri meiro xi to teatr al de s quilo passar am-
se sessenta anos. For am anos de viole ntas dis-
/05
4. Cortejo bucnrico: Hcfcstos com o maneio (Ii: ferrei ro. Dioni so c a Musa da Comdia com urso c cntaro: Mar siax
com flauta du pl a. Desenh o de A. L. Mitl iu ( IXOX) . segundo 11m vaso figurado. em ver me lho , do Lou vre, cm Paris.
de Dioni sa ca em SOO a.c. com tetral ogias, a
unidade ohriga tria de trs tragd ias e uma
pea sat rica co ncl ude nte . Os regi stros no nos
contam que trabalh os el e insc reveu no conc ur-
so quando foi derrotado por Pratinas e Co ri lo:
toda a sua obra anterior a 47 2 a.C; quando Os
Persas foi en cen ad a pel a primeira vez . es t
perdida. De acordo com cro nis tas antigos,
squil o es creve u ao todo noventa tragd ias;
dest as, setenta e nove ttulos chegaram at ns.
mas dentre eles co nse rva ram-se apen as sete
peas.
Em Os Persas, squilo dedicou-se a um
tem a local qu e havia s ido tratado, quat ro an os
ant es, por Fr ni co e m sua famosa As Fencia s.
Deliber ad amente conv idava 11 compar ao
com a obra ante rior ao comear Os Persas co m
o primeiro ve rso de As Fencias. Com essa
tril ogia. seg uida pela pea satrica Prometeu,
o Port ador do Fogo . squilo ganhou o pri-
meiro pr mio. A Pricles, ento com vint e e
cinco anos. co ube a honrosa tarefa de pr emi ar
o coro.
Os co mpo nentes dr amticos da tragdi a
arcai ca eram um prlogo que expli cava a hi st-
ria prvia, o c ntico de entrada do coro, o rel ato
dos mensageiros na tr gi ca virada do destino e
o lamento das vti mas. squilo seguia essa es-
rrutura, A princ pio, ele ant epunha ao coro dois
ater es e, mai s tar de, como Sfocl es, trs.
O plano de fundo int electual de Os Persas
a glorificao da jovem cidade-Es tado de Ate-
nas. tal co mo vista da corte real da Prsia,
qu e for a derro ta da e m Salamina. Qua ndo
Atossa pergunta ao corifeu: "Quem rege os gre-
gos, quem os go verna ?" , a resposta expres sa ()
orgulho do autor pel a po lis aten iense: " Eles
no so escravos. no tm se nhor" .
O que At ossa, Antgona, Orestes ou Pro-
met eu sofre m no um destino indi vidu al.
Su a sorte re pre se nta um a situao excep ci o-
nal , o co nfl ito entre o poder dos deuses e a
vont ad e human a, a impotncia do homem
contra os deu ses, amplificada num aconteci -
mento monstruoso . Isto irrompe em sua for-
a mai s ele me ntar e m Prometeu Acorrentado,
O filh o dos Tit s, qu e roubou o fogo dos c us
e o trou xe para os mortai s, eleva o seu larn en-
lo na "abba da respl andecente" sobre a ar ena
do teat ro: "Eu te invoco, venenivel Me Te r-
ra. e invoco a ti , c rculo de chamas onividcnte:
s q u i l o
a squil o que a tragd ia greg a an tiga
deve a perfei o artst ica e forma l, que pcrrna-
necer ia um padro para todo o futu ro. Como
seu pai pertencesse 11 nobreza proprietria de
terr as de El usis , squ ilo tinha acesso direto 11
vida cultural de At enas. Em 490 a.c. partici-
pou da batalha de Maratona. e foi um dos que
abraaram apaixonadamente o conceito demo-
crtico da polis. Sua l pide louva a bravura dele
na batalha. mas nad a di z a respeit o de seus m-
ritos corn o dramaturgo.
squil o ganho u os louros da vitr ia na
IIg01/ teatral somente aps divcr sas tentativas.
Sabe- se que ele comeou a compelir na Grau-
putas polticas que pu ser am um fim ao dom-
nio dos Tiranos, levaram 11 int er ven o dos
guerreiros da Maratona na formul ao do s as -
suntos pbl icos e, co m Clstenes . 11 funda o
da Repblica de Atenas. Porm. inde pe nden-
temente das revolt as polti ca s, a nova forma
de arte da trago dia ga nhou terreno, apertei-
oo u-se e tornou-se a matria de um a compe-
tio teatral (agem) nas Dionisacas.
Paralelamente, porm talvez mai s remo-
tas em suas ori gens, as peas satricas desen-
volvera m-se como uma espcie independen-
te. Vier am do Peloponeso, e seu pion eiro lite-
rri o foi Pr atinas de F1eio. A s tira, tida como
"a mai s di fcil tarefa do decoro" , uni u-se 11 tra -
gdia, a treve u-s e a zo mbar dos se ntime ntos
sublimes. dando-lhes um estilo grotesco. Como
part e integrante das Di oni sacas. repre sentava
o anticlmax. o retorno relaxante 1Is plancies
do demasiado humano. Qu o abrupta essa des-
cida deveria ser, ficava a critrio da discrio e
da auto-ironia do poet a trgi co, po is ele pr-
prio es crevia a stira como um eplogo para a
tril ogia trgi ca qu e inscrevia no co nc urs o.
Fr nico de At en as, que foi di scpul o de
T sp is, ampliou a fun o do " res pondedor"
thvpokritcs), inve stindo-o de Ulll dupl o papel
e faze ndo -o apar ecer com uma mscara mas-
culina e feminina, al ternadamente. Ist o signi-
ficava que o atar devia fazer vr ias entradas e
sada s. e a troca de figurino e de mscar a su-
blinhava uma orga nizao c nica introduz ida
no deco rre r do s c ntico s. Um outr o passo 11
frent e foi dado, da decl amao par a a "a o".
Gr c a
/
. : : : ; ; - - - - - - ~ - - ~
: - 6 ~ : ~ ; : . " : ; ~ . ~
... a & .. .-
3. Dioniso cm seu carr o naval. Pintura sobre skypos em vaso tico. c. SOO a.C. (Bolonha).
107
7. Dana coral em poc a .ucuicu. De um vaso rico primitivo.
a migos . e at o moment o em q ue sq uilo dei-
xo u Atenas. dividiram igu almente os lou ros da
tra gdia . Sfocle s ganho u de zoit o pr mios
dra mt icos . Dos cento e vinte trs dr amas que
escreveu . e que at o sculo II a.C.; ainda se
conservavam na Biblioteca de Alexandri a. co-
nh ecemos cento e onze ttulos. mas apenas sete
tragdi as e os restos de uma stira chegaram
at ns.
Sfocles era um admirador de Fdi as que.
na mesma poca. criava em mrmore . bronze
e marfi m a imagem do homem se melhante aos
deuses . Da mesma forma qu e F dias deu lima
a lma iI es taturia arca ica, as sim Sfoc les deu
a lma s personagens em suas tr agdias. Ele os
despiu da arcaica ves ti menta tipi ficant e c tres-
passou a concha de sua ca pacidade individual
par a o sofrimento. Ps em cena per son al id ades
que se atrevem - como a peq ue na Antgo na.
cuja fig ura cresce pur for a das obrigaes as-
sumidas por vontade prpri a ~ a desafiar o di -
tame dos mais fones: " No viIII para e nco n-
tra r-vos no dio. ruas no amo r" .
Os deu ses submetem o rebelde ao "sofri-
mento se m sada" . Amo ntoam sobre e le ta -
munha carga que apenas no tormento cnnsc-
g ue e le preservar a sua di gnidad e. O home m
tem conscinc ia dessa amea a, mas por sua s
a es for a os de uses a ir at os extremos. Par a
o home m de Sfocles. o sofrimento a dura
ma s e nohrccedora escola do "Conhece-t e a ti
me smo". Enganado por orculos cr u is. 11
merc de destinos enigmticos. mer gulhado na
lou cura fatal. levado a m s a es sem o que-
rer. e ntre ga-se por s ua s pr pri as mo , s
Ernias. as vingadoras dos nferos. e i i "J usti-
a" qu e co rrige. o brao da lei . Ajax mor re pela
Quatro anos de po is de te r gan ho o pr-
mio com Os Persas . sq uilo e nfrentou pela
primeira vez , no concur so a nua l de tragdi as.
um rival cuja fam a esta va c res cendo mct eo-
ricamente: Sfoc les, en to co m vinte e nove
anos de idad e, filh o de uma ri ca famlia ate-
ni ense, qlle ainda men ino li derara o coro de
jovens nas celebraes da vitria aps a ba-
talha de Salamina .
Os dois rivais inscrevera m suas tetralogias
para a Dioni saca de 46R a.C. Ambas foram
ace itas c aprese nta das . sq uilo ob teve um
succcs d'cstirnc, ma s o pr mio coube a S fo-
eles, trinta anos mais no vo . Os dois poetas eram
Sofo c l c S
v O que eu sofro, eu prprio um deus, nas mos
dos deu ses!"
O grit o de torment o pr oferido pel o Pro-
meteu de squ il o ergue-se ac ima da s foras
primordiais da anti ga reli gi o da natureza: "A
mim, que me api edei dos mortai s, no me foi
mostrada nenhuma pi ed ade" . Doi s mil e qui-
nhentos anos mai s tar de. Carl Orff o conver-
teu no heri prin cipal de um drama musical
extico, qua se ar caico, qu e confronta a pai-
x o divina com a pai xo humana . Histori ado-
res da rel igio es ta be lec e ra m uma co nexo
entre o sofrimento pr imordial do Tit c a revol -
ta de L cifer at a Rede no do Cristo - um
exe mplo que mais uma vez demonstra aqui lo
qu e to frcq entc mc nte tem sido expresso no
teatro: "os pressenti mentos pagos mu itas ve-
zes penetram co m esto nte ante pro fundidade e
certeza na realidade histr ica ulterior" (Josep h
Bern ha rt ).
h. Figura de tanagr a (estatueta cm terra cota ] da poc u
hele nstica : ator c m pea saurica ( Paris. Louvre) .
5. Mnade e satiro. Taa do pintor Brigo, c. 480 a.C. (Munique, Staatliche Antikcnsammlung).
I tI'i
prpria espada; o rei dipo cega a si mesmo;
Electra, Djanira, Jocasta, Eurdice e Antgona
buscam a morte.
Sfocles, o ctico devoto, d aos deuses a
vitria, o triunfo integral, por sobre o destino
terrestre, sobre todos os abismos do dio, ar-
rebatamento, vingana, violncia e sacrifcio.
O significado do sofrimento reside em sua apa-
rente falta de significado. Pois "em tudo isso
no existe nada que no venha de Zeus", diz
ele ao final de As Traquinias.
Foi da natureza inaltervel do conceito de
destino sofocliano que Aristteles derivou a sua
famosa definio de tragdia, cuja interpreta-
o tem sido debatida ao longo dos sculos. O
crtico e dramaturgo alemo Lessing a enten-
de como a purificao das paixes pelo medo
e pela compaixo, ao passo que atualmente
interpretado por Wolfgang Schadewaldt, um
estudioso contemporneo, como "o alvio
prazeroso do horror e da aflio". Na qualida-
de de pea cultual, como toda tragdia genu-
na o , ela tambm no feita para melhorar,
purificar ou educar.
Schadewaldt escreve:
A tragdia comove profundamente o corao, j que
o faz transcender (pelo deleite primevo com o horrvel -
semblante de toda verdade - e com a lamentao) at o
prazer catrtico da libertao aliviadora. Tendo a sua es-
sncia inteiramente orientada para outro objetivo, a tra-
gdia logra, por isso mesmo, atingir eventualmente por
comoo o mago de lima pessoa. que poder sair trans-
formada deste contnto com a verdade do real.
Eu ri p ed c s
Com Eurpedes teve incio o teatro psico-
lgico do Ocidente. "Eu represento os homens
como devem ser, Eurpedes os representa como
eles so", Sfocles disse uma vez. O terceiro
dos grandes poetas trgicos da Antigidade
partiu de 11m nvel inteiramente novo de con-
flito. Ele exemplificou o dito de Protgoras a
respeito do "homem como a medida de todas
as coisas".
Enquanto squilo via a tentao do he-
ri trgico para a hybris como um engano que
condenava a si mesmo pelos prprios exces-
sos, e enquanto Sfocles havia superposto o
destino da malevolncia divina disposio
humana para o sofrimento. Eurpedes rebai-
110
Histria M'n n d i ol do Te a t r o
xou a providncia divina ao poder cego do
acaso. "Pois sob o manto da noite o nosso
destino impcndc", lemos em Ifignia em Tau-
ride.
Eurpedes, filho de um proprietrio de ter-
ras, nasceu em Salamina e foi instrudo pelos
sofistas de Atenas. Ele era um ctico que du-
vidava da existncia da verdade absoluta, e
como tal se opunha a qualquer idealismo palia-
tivo. Estava interessado nas contradies e am-
bigidades, no princpio da decepo, na rela-
tivizao dos valores ticos. O pronunciamen-
to divino no era a verdade absoluta para ele e
no lhe oferecia nenhuma soluo conciliat-
ria final. "A necessidade natural e a mente hu-
mana no so formas representativas de um
nico modo de existncia. mas de possibilida-
des alternativas: a partir da, nada mais est
alm da comparao, o ponto de referncia
nico para todas as coisas tornou-se invisvel
h muito tempo, a mudana rege o momento"
(Walter Jens).
Em contradio com a doutrina socrtica
de que o conhecimento expresso diretamen-
te na ao, Eurpedes concede a suas persona-
gens o direito de hesitar, de duvidar. Descorti-
na toda a extenso dos instintos e paixes, das
intrigas e conspiraes. Sua minuciosa explo-
rao dos pontos fracos na tradio mitolgi-
ca lhe valeu agudas crticas de seus contem-
porneos. Acusaram-no de atesmo e da per-
verso sofista dos conceitos morais e ticos.
"Foi a lngua que jurou em falso, no o cora-
o", diz Hiplito. De suas setenta e oito tra-
gdias (das quais restam dczessete, e uma s-
tira) apenas quatro lhe valeram um prmio en-
quanto estava vivo, sendo a primeira delas As
Peliades, em 455 a.c.
Quando, em 408 a.Cr, o rei macednio
Arquelau o convidou para a sua corte em Pela,
Eurpedes deu as costas a Atenas sem arrepen-
dimento. Em Pela, escreveu um drama corte-
so chamado Arquelau, em homenagem a seu
real patrono, do qual nada sabemos alm do
ttulo, bem como duas obras cuja vitria ps-
tuma foi obtida por seu filho: As Bacantes, um
retorno sensualidade arcaica e mstica sob o
basto sagrado de Dioniso, o tirso; e Ifignia
em ulis, o elogio do humanismo. (Racine e
Gerhart Hauptmann, em suas peas homni-
mas, glorificam de maneira similar o huma-
8. Cena de Os Persas de squilo: o fantasma de Dario aparece a Atossa enquanto ela lhe oferece sacrifcio. Pintura em
vaso (jarro) tico (Roma, Museu do Vaticano) .
9. O assassinato de Egisto por Ores tes. Vaso da Campnia, c. 420 a.C. (Berlim).
lO. A pu rifica o de Orestes. Taa do sul da Itlia no esti lo da tragdia cu ripidiana (Pari s, Louvr e).
nismo sercno.) Eur pedes morreu em Pel a. em
maro do ano de 406 a.C.
Quando a notci a chegou a Sf ocles , em
Atenas , el e vestiu luto e fez co m que o COTo se
apresentasse sem as costumei ras coroas de 110-
res na Grande Dioni s aca, ent o em plena ati -
vida de . Poucos meses mai s tard e, S focles
tambm morr eu. Agor a. o trono dos grandes
poet as trgi cos estava vazio.
A co mdia As Rs , de Aristfanes, esc ri-
ta nesse per odo, pode ter fun ci onado corno as
exq uias da tragdia tica. No festiv al das
Len ias de 405 a.C; os juzes deram o premio
a esta pea mordaz, embor a el es prprios fos-
sem alvo de algumas das est ocada s sar esti-
cas oEm ih Rs , Ari st fan es pr esta test emu-
nh o da s tenses art sti cas e pulti ca s do final
do sc ulo V, dos co nfl itos int ern os da polis
fragmentada e do reconh ecimen to de que o pe-
rod o clssico da art e da trag d ia havia se con-
vert ido em histria .
Nesta pea, Dioni so, o deu s do teatro, ava-
li ar os mr it os cuncern entes a squil o e
Eur pede s. mas el e se revel a to indeciso, va-
ci lante e susce tvel qu ant o o p blico e os juzes
na co mpetio. Visto no esp elho gro sseiro e
di st or cido da comdia, o deu s. de m vontade,
fora-se a tomar uma deci so: " E foi assim que
eu acabei pesando feit o queijo a arte dos gran-
des poeta s.;." ,
A era de ouro da tragdi a amiga estava
irrevogavelmente acahada. A art e da tragdia
desint egrou-se como o modo de vida das ci-
dades-Estado e o poder unifi cador da cultura.
O nobre ateniense Cr tias, um inimigo inflcx-
vel da democracia e, em 404 a.c., um dos mais
cruis dos Tr inta Tiranos, escreveu uma stira
na qn al Ssifo descreve a reli gi o como a "in-
veno de um pedagogo convencido". O esp-
rit o da tragdi a e a democracia at en iense ha-
viam pe recido juntos.
As G ra nde s Di oni sa clIs
Com origem na poca de Pricl es, as
Gr and es Dioni sacas OU Dioni saca s Urhanas
co nstituam um ponto culmina nte e festivo na
vida rel igiosa, intelectual e art stica da ci da-
de- Esta do de Atenas. Enquanto as mai s mo-
dest as Dionisacas rurai s, qu e uco ntcc i.un cm
de zembro, possuam um cart er puramente
local c eram pat rocinadas de per si pelos dife-
rente s deli/ OS da tica, Atenas ost entava todo
o brilho rep resent ativo de capital nas Grandes
Di oni sacas. de seis dias de durao. Especi al -
ment e depoi s da fund ao da confed er ao
naval tica. embaixadores, co me rcia ntes e tri-
butrios an uam a Atena s nesta poca de Ioda
a si a menor e das Ilhas do Egeu.
Os preparativos dos concursos dr am ti-
co s eram responsabilidade do arco nte ; que,
na co nd io de mai s alt o oficial do Est ado.
dec idia tanto as quest es arts ticas qu anto as
organiza cionais. As tragdias inscr itas no co n-
curso eram submetidas a ele, qu e selecio na-
va trs tetral ogias que competiriam no agou,
concurso do qu al apenas uma sairia como
ve ncedora. Finalmente, o arcoutc indicava a
c ad a poet a um corcga , alg um ci da do a-
teuien xe ric o que pudesse financi ar um espe-
t.icul o, cobrindo no apenas os custos de en-
sa iar e ves tir o coro, mas tamb m os hon or -
rios do direr or do coro t co rus di da scalus) e
os custos com a manu teno de tod os os en-
volvido s.
Ter aj udado alguma telral ogi a trgi ca a
vencer como seu c"rega era um dos ma is al-
tos mritos que um homem pod eri a conseg uir
na co mpe tio das artes. O premio co nce dido
era uma coroa de louros e uma qua ntia em
dinhei ro nada despre zvel (co mo compensa-
;IO pel os ga stos anteriores). e a imo rtalida de
nos arquivos do Estad o. Esses rcg istros (d i -
dasealiav. que o arconte man da va preparar
aps .:ada lIgOII dramtico. list am o nom e dos
coregas dos d ramaturgos ve ncedores de pr-
mios.juntame nte com os nomes da s tetr al ogias
vencedor as do concurso final. Ta is regi st re s
representam a document ao mai s valiosa de
uma glria da qual apen as poucos raios reca -
ram sobre ns - poucos. de qualquer manei -
ra. co mparados com a criativa ab undnci a do
teat ro da i\ ntig idade .
Ini ci alment e, o poet a era o se u prpri o
n/ rega . diret or do coro e atar principal. Tan-
to I ~ s q u i l o quant o Eur pcdex apareceram fre-
q cnr cmcnr c no palco. S foc le s alUOU e m
suas prpri as peas apenas du as veze s qu an-
do j ove m. uma como Na usicaa e out ra como
Ta mira.
Em ho ra ma is tarde, no per odo helen s-
tico. fosse per feitamente possvel que se rc-
11.1
montasse uma pea aprese ntada anteriormen-
te, os concursos dramticos do sculo V exi-
giam novas obras a cada festiva!. As Grandes
Dioni sacas, em maro, eram a princpio re-
servadas exclus ivamente para a tragdia, en-
quant o os escritores de comdias competiam
nas Lenias, em janei ro. Porm, na poca de
Aris tfanes, os doi s tip os de peas eram
qualificveis para ambos os festivais.
Ao entrar no auditrio, cada espectador re-
cebia um pequeno i ~ e s s o de metaltsymboloni ,
com o nmero do asse nto gravado. No pre-
cisava pagar nada . Pricles havia assegur ado
com isso o favor do povo, ao fazer com que o
errio no s remuner asse a participao nos
tribunais e nas assemblias populares, como
tambm a frequ ncia nos espetculos teatr ais.
Nas filei ras mai s baixas, logo na frent e, lu-
gares de honr a (proedria) esperavam o sa-
cerdote de Di oni so, as autoridades e convi-
dados espec iais. Aqui tamb m ficavam os
juzes, os coregas e os autores. Uma seo
separada era reser vada aos homens j ovens
(efe bos) , e as mulh eres sentavam-se nas filei-
ras mais acima .
Vestido com o bran co ritual, o pbl ico
chegava em grande nmero s primeir as ho-
ras da manh e come ava a ocupar as fileiras
semicirculares, terr aceadas, do teatro. "Um en-
xame branco", como o chama squil o. Ao
lado dos cidados livres, tambm era permi ti-
da a presena de escravos, na medida em que
seus amos lhes dessem licena. A aprovao
era indicada por estrepitosas salvas de palmas,
e o desagrado, por bat idas comos ps ou asso-
bios. A liberdade de expressar sua opinio foi
algo de que o antigo freqentador de teatro
fez uso amplo e irrestrit o, considerando a si
prpri o, desde o mai s remoto incio, um dos
elementos criativos do teatro. Ortega y Gasse t
lembr a:
No podemos nos esquecer de que a tragdia anti-
ga em Atenas era uma ao ritual e, por essa razo, acon-
tecia no tanto no palc o quanto na mente das pessoas. O
teatro e o pbli co eram circundados por uma atmosfe ra
extrapo tica. a reli gio.
A condio necessria para essa expe-
rincia comuni tria era a magnfica acstica
do teatro ao ar livre da Antigidade, O menor
sussurro era levado aos assentos mais distan-
114
l s t r i a M u n d a do Teatro .
teso Por sua vez, a mscara - gera lmente feita
de linho revestido de estuque, prensada em mol-
des de terracota - amplificava o poder da voz,
conferindo tanto ao rosto como s palavras um
efeito distanciador. Graas ao poder das pala-
vras, no importava se o cenrio parecesse pe-
queno - por exemplo, as rochas s quais Pro-
meteu era acorrentado. O plano visual era me-
nos importante do que a moldura humana para
os sofrimentos do heri : o coro, que participa-
va dos acontecimentos como comentador, in-
formante, conselheiro e observador.
As exigncias cenogrficas de squilo ain-
da eram bastante modestas. Estruturas simples
e rsticas de madeira, decoradas com panos co-
loridos, serviam de montanhas, casas, palcios,
acampamentos ou muros de cidade. Essas cons-
trues de madeira, que tambm abrigavam um
camarim para os atores, so a origem do termo
skene (cabana ou barraca), que se manteve, des-
de esses expedientes primiti vos, atravs da sun-
tuosa arquitetura da ske ne do teatro helenstico
e romano, at o conceito atual de cena.
Porm, no obstante a modstia desses
primeiros tempos, o pint or dos cenrios era um
homem digno de meno, mesmo na poca de
squilo, comquem, segundo se relata, um "ce-
ngrafo" chamado Agatarco ter ia colaborado.
Ele foi, sem dvida , o responsvel pelo proje-
to e pintur a dos galpes de mad eira e pela pin-
tura de suas decoraes de pano. Vitrvio, a
auto ridade romana em arquitetura, atribuiu
igualment e a Agatarco um tratado a respeito
da skene , que se supe ter surgido em430 a.C,
mas ter se perdido mai s tarde. Outros pintores
de cenrio do teatro grego anti go, cujos no-
mes sobrevive ram at hoje, so o ateniense
Apo lodoro e seu contemporneo Temcrito.
Aristteles credita a Sfocles a inveno
do cenrio pintado. A amizade entre squilo e
Sfocles durante os anos de 468 a 456 a.c.
explica a coi ncidncia de inovaes cnicas e
hi stri ni cas. Ao lado das possibilidades de
"mascarar" a skene e de int rodu zir acessrios
mvei s como os carros (para exposio e ba-
talha), os cengrafos tinham sua disposi o
os chamados "degra us de Caronte", uma esca-
dar ia subterrnea que levava skene, facilitan-
do as aparies vindas do mundo inferior de
Caronte. Em Os Persas, por exemplo, Dario
conj urado pela fumaa do sacrifcio e aparece
II. Rel evo de Eurpcdes: esquerda, o poeta entreg a uma mscara trgi ca perso ni ficao da skene; direita, uma
esttua de Dioni so (Istambul).
l 2. Intrprete de tragdia no papel de Cl itemn estr a.
Estatueta de marfim romana do perodo tardio, pre veni -
ente de Ri cti (Paris, Louvre) .
117
mundo oc idental: deus ex machina, o deus
descid o da mquina.
Esta " mquina voadora" era um elemen-
to c nico de surpresa, um dispositi vo mecni-
co que vinha em auxlio do poeta quando este
pre ci sava resol ver um conflito humano apa-
rent ement e insolvel por intermdi o do pro-
nunciament o divino "vindo de cima". Con sis-
tia em um guindaste que fazia descer uma ces-
ta do tet a do teatro. Nesta cesta, sentava-se o
deus ou o heri cuja ordem fazia com que a
ao dr amti ca voltasse a correr pel as trilhas
mitolgica s obrigatrias quando fica va em-
perrada. O fato de o deus ex machina ter-se
tornado imprescindvel a Eurpedes explica -
se pel o es prito de suas tragdias. Suas per so-
nagens agcm com determinao indi vidual e.
dessa for ma , transgridem os limites traad os
por uma mit ol ogia que no mais podia ser acei-
ta sem qu esti onamento; Electra, Antgona e
Medi a seguem o comando de seu prprio dio
e amor, e toda essa voluntariosa paixo . ao
final , domada pelo deus ex machina.
Por m . antes desse ponto ser at ingi do.
out ro di spositivo cnico da antiga mechano-
poioi , essen cial par a a tragdi a, entrou em
a o: o eci cl erna, uma pequena plataforma
rolante e qu ase sempre elevada. sobre a qual
um ce nrio era movido desde as portas de uma
casa o u pal cio. O eciclema tra z vista todas
as at rocidades que foram perpetradas por trs
da cena: o ass assinato de uma me. irmo ou
criana. Exi be o sangue, o terror e o desesper o
de um mundo despedaado. como na Orestia-
da , em Agameuon, Hiplito e em Medei a.
15. A cctnuura inicial do teatro de Hrni a. Ilha de Eub ia, sc ulo V a.C. Reconstruo de E. Fiecht er.
para sua esposa Atossa e para o co ro dos ancios
persas. Os mechanopoioi, ou tcni cos, eram res-
pons veis por efeitos como o barulho de troves,
tumultos ou terremotos, produ zidos pelo rolar
de pedras em tambores de metal ou madeira.
Uma troca de mscara e figurino dava aos
trs locutores individuais a possibilidade de in-
terpretar vrios papi s na mesma pea. Podiam
ser um ge neral, um men sagei ro, uma deusa,
rainha ou uma ninfa do oceano - e o eram,
graas magia da mscara.
Foi squil o quem introduzi u as mscar as
de planos largos e solenes. A impresso heri-
ca era intensificada pel o toucado alto, de for-
ma triangular (onkos) , sobre a testa. O traje do
ator trgico consistia ge ralmente no quiton ~
tnica j nica ou dri ca, usada na Grcia anti-
ga - e um manto, e do ca rac terstico cothurnus ,
uma bota alta com cada ro e sola grossa.
Com Sfocles, a qualidade arcaica, linear,
da mscara comeou a suavizar-se. Os olhos e
a boca, bem como a cor e a es trutura da peru-
ca eram usados para indi car a idade e o tipo
da personagem represent ada. Co m a maior in-
dividualizao das mscaras, Eur pedes exi-
gia, tambm, contras tes impact antes entre
vestirnentas e ambi entes. "Seus rei s and am em
farrapos", apenas para tocar a co rda sensvel
do povo, zombava Aristfanes , seu implac-
vel adve rsrio.
O que parecia part icular mente ri dcul o
para Aristfanes. e entrava como ri sonha pa-
rdi a em suas comdia s. era a predil eo de
Eurpedes por um expediente do teat ro antigo
que se tomou parte do vocabul rio em todo o
Grc i a
J4. M osaico de Pornp ia: ensaio de um coro de s:llin )s (N pol e-s. Mu seu Na zi onalc).
13. Pintura em laa cs pira leda : Dioniso c Ariadne (ao alto. no centro). rodeados por ateres de pea satrica. c. 420 a .C.
(Npo les. Mu seo Nazionale).
18. Mscar a de um jovem, encontrada em Sa ms un
(Arni so), Turquia. sc ulo III a.C. (Munique, Staat lichc
Ant ikensamrul ung j .
20. Mscara na mo de lima esttua de man norc . a
qual se ju lga repre sentar Ccrcs ( Pari". Louvre).
It). M sca ra de UIH escr avo, s c ulo Hl a .C. (M il o.
Museu Tcurrale alia S<.'a la) .
J7. Mscara de mrmor e de uma herona da tragdia
antiga (Npoles, Mu sco Na ziona le r.
o
o
o
A co m dia grega. ao contrr io da trag-
di a. no tem um ponto c ulmina nte. mas doi s.
O pr imei ro se deve a Ar istfanes. e aco mpa-
nh a o ci mo da tragd ia nas lt imas dcada s
do s grandes trgicos Sfocles e Eurpedes ; o
segundo pico da comd ia grega ocorreu no
per odo hel ensti co com Mcnandro, qu e no-
vame nte deu a e la import ncia hist ri ca . A
co mdia se mpre fo i um a fo rma de art e int e-
lectual e formal ind ep endent e. Deixando de
lado as pe as sa t ricas. nenhum dos poetas
trgicos da Gr ci a aventurou -se na comdia.
como nenhum dos poet as cmicos escreveu
uma tragdia.
Plato. em seu Banqu ete (S)'1I1I'OSilllll). em
vo defendeu uma un io dos dois grandes ra-
mos da arte dramti ca. El e co nc luiu com a in-
formao de que Scrates. cert a vez, lentou
at tarde da noit e pe rsuadir g aton e Ari st-
fanes de que "o mesmo homem podia ser cu-
pa I. de escreve r co mdia e tr agd ia" , e de que
COl\IDIA
As Ori gen s da Co m e d i a
econmicas ateni enses e. por fim. desapareceu
completamente por ce rca do final do sculo IV.
Nenhum dos tr s grandes tr gicos. nem
Aristfanes. viver am para ver o no vo edifcio
teatral acabado. Na segunda me tade do scu-
lo IV, quando Licurgo era o encarregado das
finanas de Atenas (DR-326 a.c. ), a nova e
magnfica estrutura finalmente ficou pronta;
mas , nessa poca, a gra nde: e cri ativa era da
tragdia anti ga j havi a se tornado histria.
1/8
Event ualmente. o teto da prpria skcnc era
usado. co mo e m Pesa gem das A/ mas . de
squil o. ou em A Paz. de Ar istfanes. Co mo.
natu ralmente. er am os deu ses que cm geral
apar eciam em alturas erreas, essa plat aforma
no teto [ornou-se conhecida na Gr cia corno
theologeion , o lugar de onde os deu ses falam .
A " mquina voadora". o eciclema e o
tli eol ogcion pre ssupunham um edifcio teatral
fi rmemente co nstrudo. como o que se desen-
volveu em Atenas no final do sculo V a.C,;
ba seado e m pr oj et o s qu e remont a vam a
Pricl es. Quando as obr as para o embeleza-
mento de tod a a Ac rpole se iniciar am. por
volta de 405 a.c.. o teat ro de Dioni so no foi
esquecido. Co nta-se que os bancos de madeira
do auditrio foram substitudos por assen tos
tcrrace ados em pedra j em 500 a.C.. quando
~ " arquiba ncadas de madeira lotadas se que-
brar am sob o peso da s pessoas. Esta da ta. en-
tretanto. contraditada por bigrafos de squi-
lo. que sustentam que: um segundo colapso das
arquibancadas o levou a deixar Atenas. desgos-
toso, e a instalar-se na cor te de Hier on em
Siracusa, onde morreu em 456 a.C.
O proj eto da sken c de Pricles proveu um
palco monumental com dua s grandes porta s
laterais. ou paraskenia. Deve ter sido executa-
do entre 420 e 400 a.C; na po ca em que o
auditrio cre sceu c a orquestra diminuiu de
tamanho. A razo para esta mudana foi o des-
locamento intencional da ao da orcl icstra
para a skene. Essa inovao mostrou ser ainda
mai s j ustificada posteriormente. quando o coro
situado na orchcstra, que ainda co ntava com
doze a quinze pessoa s na tragdi a clssica. foi
gradativamente reduzido no curso das medidas
H i5{r ;" M'u n d ia do TC111 rO
16. Teat ro de Dioni-o CII1 Arenas. S/..l"nt'. segundo t\ proj eto de P ricl es . Con snu o inic iad a c. -1. 00 a.C. Reconstru -
50 de E. Fiecluer.
um "verdadeiro poeta trgico tambm um
poeta cmico". Os dois outros admitiram isso,
mas "no seguiram com muita ateno, por
estarem com sono. Aristfanes foi dormir
primeiro e, em seguida, quando o dia estava
nascendo, tambm gaton".
evidente que nem mesmo os famosos
poderes persuasivos de Scrates poderiam ter
conseguido tornar palatvel para Aristfanes,
o irascvel avocatus diaboli da tragdia, uma
unio pessoal das duas artes. Houvesse con-
cordado com Scrates noite, com certeza te-
lia mudado de idia luz do dia: tal unio seria,
para ele, como uma ducha fria. Aristfanes
gostava de dirigir sua habilidade artstica para
a poltica corrente; adorava terar armas com
os grandes homens de sua poca, crivando de
flechas venenosas, como que num show de
gracejos maliciosos num cabar, seus calca-
nhares de Aquiles. As obscenidades com as
quais o "impudente favorito das Graas" em-
preendia seu trabalho de "castigar o povo e os
homens poderosos", as rudes piadas flicas,
os coros de pssaros, rs e nuvens - tudo vale-
se da herana cultual das desenfreadas orgias
satricas, das danas animais e das festas de
colheita.
A origem da comdia, de acordo com a
Potica de Aristteles, reside nas cerimnias
flicas e canes que, em sua poca, eram ain-
da comuns em muitas cidades. A palavra "co-
mdia" derivada dos konios, orgias noturnas
nas quais os cavalheiros da sociedade tica se
despojavam de toda a sua dignidade por al-
guns dias, em nome de Dioniso, e saciavam
toda a sua sede de bebida, dana e amor. O
grande festival dos koniasts era celebrado em
janeiro (mais tarde a poca do concurso de
comdias) nas Lenias, um tipo ruidoso de
carnaval que no dispensava a palhaada gros-
seira e o humor licencioso.
Ao komos tico juntaram-se, no sculo V,
os trues e os comediantes dricos, com falos
e enormes barrigas falsas, que eram mestres
da farsa improvisada. Eles haviam recebido um
impulso literrio, por volta de 500 a.C.; de
Epicarmo de Mgara, na Siclia. Suas cenas
bonachonas e de comicidade grosseira e as
caricaturas dos mitos foram a fontc da com-
dia drica e siciliana. Epicarmo estabeleceu
uma variada escala de personagens - os fan-
120
Histria Mundial do Tcu t ro
farres e aduladores, parasitas e alcoviteiras,
bbados e maridos enganados - que sobrevi-
veram at a poca da Commedia dcll 'arte e
mesmo at Moliere. Epicarmo gostava particu-
larmente de ridicularizar os deuses e heris:
Hrcules como um gluto, no mais atrado por
feitos hericos, mas apenas pelo aroma da car-
ne assada; Ares e Hefestos, disputando com
despeito e malcia a liberao de Hera, presa a
seu prprio trono; ou as sete Musas, que surgem
como as filhas "rechonchudas e bem alimen-
tadas" do Pai Panudo e da Me Barriguda.
uma questo controvertida se a com-
dia proveio realmente de Mgara Hyblaia, na
Siclia, ou de Mgara, a antiga cidade drica
entre Atenas e Corinto, famosa por seus
farsistas. Aristfanes diz em As Vespas: "No
podeis esperar muito de ns, apenas zomba-
rias roubadas de Mgara", Aristteles resolve
a questo citando ambas com salomnica sa-
bedoria: "A comdia reivindicada pelos
megarianos, tanto pelos do continente, sob a
alegao de que ela surgiu em sua democra-
cia, como pelos da Siclia, porque dali que
veio Epicarmo, muito antes de Quinides e
Magnes".
A Comdia Ant ig a
O escritor Quinides, citado por Arist-
teles. venceu um concurso de comdias em
Atenas em 4X6 a.c. Magnes, igualmente men-
cionado. conhecido por ter ganho o primeiro
prmio onze vezes, a primeira delas em 472
a.C., provavelmente nas Lenias atenienses, no
ano em que Os Persas, de squilo, foi apre-
sentada em Siracusa. Nenhuma das peas de
Magnes conseguiu sobreviver, nem sequer at
a poca alexandrina.
O concurso de comdias, que acontecia
em parte no festival das Lenias e em parte na
Grande Dionisaca de Atenas, no era, como o
concurso trgico, uma prova de fora pacfi-
ca. Era um tilintante cruzar de espadas, em que
cada autor afiava a sua lmina no sucesso do
outro. Atores tornavam-se autores, autores es-
condiam-se por trs de atores. Quando Arist-
fanes inscreveu Os Banqueteadores, em 427
a.c., ele o fez sob o pseudnimo de Filonidcs.
nome de um ator seu amigo (possivelmente
porque era muito jovem para competir no
Grcia
agon) e o mesmo Filonides emprestou-lhe o
nome outra vez, vinte e cinco anos mais tarde,
para As Rs.
A comdia tica "antiga" um precursor
brilhante daquilo que viria a ser, muitos anos
depois, caricatura poltica, charivari e cabar.
Nenhum politico, funcionrio ou colega autor
estava a salvo de seus ataques. At mesmo os
esplndidos novos edifcios de Pricles foram
motivo de escrnio. Num fragmento conser-
vado de Cratino, um ator entra no palco usan-
do um molde do Odeon na cabea, como uma
mscara grotesca. Os outros atares o sadam:
"Eis Pricles, o Zeus de Atenas! Onde ter con-
seguido esse toucado? Um novo penteado em
estilo Odeon, terrivelmente descabelado pela
tempestade das crticas!".
Os quatro grandes rivais em polrnica e
veneno, da comdia antiga, eram todos
atenienses: Crates, Cratino, Euplide e, sobre-
luzindo a todos os outros em fama, gnio, pers-
piccia e malcia, Aristfanes.
Crates, no incio protagonista das peas
de Cratino, comeou a escrever suas prprias
peas em 449 a.C. Suas obras so comdias
agradveis, adequadas ao desfrute familiar. que
tratam de maneira relativamente inofensiva de
assuntos como o desmascaramento de fanfar-
res ingnuos, amantes brigados e bbados pro-
fticos. Quando seu mestre Cratino, ento com
noventa e seis anos. e o jovem Aristfanes. de
vinte e um, envolveram-se pela primeira vez em
batalha teatral aberta, Crates j estava m0110.
Aristfanes, cm Os Cavaleiros (cujo ttu-
lo grego Hipes, que significa mais precisa-
mente "tratadores de cavalos"), apresentada em
424 a.C.; houve por bem implicar com o ve-
lho Cratino, acusando-o publicamente de se-
nilidade e elogiando os mritos do alegre
Crates. Cratino havia provocado este insulto,
descrevendo Aristfanes, em cena, como um
imitador de Euplide.
Euplide, que ganhou o primeiro prmio
sete vezes, tinha a mesma idade de Aristfanes
e foi, no incio, seu amigo ntimo. Na poca
de sua amizade, os dois sempre trabalhavam
em conjunto, porm mais tarde ambos acusa-
ram-se mutuamente de plgio. Brigas, no do-
mnio da comdia, eram um constante ponto de
partida; falando sobre Os Cavaleiros, Euplidc
declarou mais tarde, em urna de suas comdias.
que tinha "ajudado o careca Aristfanes a
escrev-la c a havia presenteado a ele".
Por sua vez, Cratino, um homem famoso
por sua sede e suas copiosas libaes em ho-
menagem a Dioniso, tambm teve a sua vin-
gana. Aos noventa e nove anos, mantinha os
ridentes ao seu lado. Em sua comdia A Gar-
rafa, descreve como duas damas competem en-
tre si por seus favores - sua esposa legtima,
Madame Garrafa, e sua amante, Mademoiselle
Frasco. Com uma piscadela, ele se livra do apu-
ro com o moita dos artistas dionisacos: "Aque-
le que bebe gua no chega a lugar algum".
Aristfanes teve de engolir a plula amar-
ga; o "velho beberro", na verdade, ainda des-
frutava dos favores do pblico e dos juzes.
Em 423 a.c., Cratino ganhou o primeiro pr-
mio com A Garrafa, contra As Nuvens, de
Aristfanes, que ficou em terceiro lugar. A res-
peito desta mesma obra, As Nuvens - famosa,
ou famigerada, por seus ferozes ataques a
Scrates (que foram subseqentemente suavi-
zados) - Plato relata que, na opinio de
Scrates, ela havia influenciado o jri na oca-
sio de seu julgamento.
O teatro era o frum onde eram travadas
as mais veementes controvrsias. Aristfanes
via a si mesmo como o defensor dos deuses -
"pois foram os deuses de nossos pais que lhes
deram a fama" - e como o acusador das ten-
dncias subversivas c demaggicas na polti-
ca c na filosofia de Atenas. Ele acusava os fi-
lsofos de "arrogante desprezo pelo povo" e
os denunciava corno ateus obscurantistas - to-
dos eles. e especialmente Scrates.
Pouco se sabe sobre a formao e a vida
de Aristfanes. Parece ter nascido por volta de
445 a.c. e ter vindo do demos tico de Cida-
tena. Viveu em Atenas durante toda a sua vida
criativa, ou seja, da poca em que escreveu sua
primeira pea, Os Banqueteadores (427), at
o ano em que escreveu a ltima. A Riqucsn
(Plutus, 3XX). Das quarenta comdias que sa-
bemos terem sido compostas por ele, conser-
varam-se apenas onze. Cada uma de suas pe-
as porta-voz de urna idia apaixonada. pela
qual o autor batalha com impetuosa militncia.
Na obra de Aristfanes, passagens dc agressivi-
dade crua altemam-se com estrofes corai s da
mais alta beleza lrica. Subjacente ii sua ironia
mordaz c ils suas alfinetadas de escrnio havia
IJI
21. Flauti sta c coro fantasiad o, representando cavale iros e seus cavalos, mot ivo que reaparece mais tarde cm Os Cm'a.
loiros. de Aristfanes. Vaso figurado, cm negro (Berl im. Sta nrlichc Musecn).
22. Ateres ca racterizados como pssnros. sobre UI1I vaso figurado. cm negro. de aproxi mad amente setenta anos antes
da estreia. cm 414 a.C.. de (J.\ P.v.mms. lk Aristfa nes (Lo ndres. British Muscum ).
Grci a
uma preocu pao premente com a democra-
cia. Ele sust entava que o seu dest ino some nte
poder ia ser co nfiado a pessoas de inteli gncia
superior e de int egridade moral. De maneira
simi lar, fez pr esso para que a guerra fra tricida
entre Atenas e Esparta chegasse ao fi m. Em A
Paz, o lavrador Tr ige u voa at os cus no dor-
so de um enorme besouro- de-esterco a ti m de
pedi r ao s deu ses qu e libertem a deusa da paz,
pr isionei ra em uma caverna. Na "te rra-cuco-
nuvem" de Os Pssaros , ele parodia as fra-
quezas da democracia e de uma reli gi o popu-
lar utilitri a. Em Lisistrata, apre sent a as mu -
lhere s de Atenas e Esparta resol vidas a no se
entregar aos belicosos mar idos at que estes
finalme nte estejam pront os a fazer a paz.
No apen as um ator individu al. mas tam-
bm o coro, podiam dirigir -se dir et amente
pl atia . Com ess a fi nalidade, a comdia antiga
desenvolvera a parabasis, um expedient e for -
maI es pecfi co de que Ari stfanes fez uso ma -
gist ral. No fi na l do pri meiro ato, o coro deve-
ria tira r suas mscaras e caminhar at a fre nte.
na extr emidade da orchestra , para diri gir- se
plati a. "Mas v s, fastid iosos j uzes de todos
os do ns das Musas, emprestai vossos grac io-
sos ouvidos nossa festiva e anap stica ca n-
o !" Segui a- se, ento, uma pol mica verso
das opinies do autor a respeito de aconteci-
mentos locais. controvrsias polticas e pessoais
e. no menos imp ortante, uma tentativa de ca p-
tar a simpat ia do pblico por sua ohra. A
parabasis pod ia ser igualment e usada par aj us-
tificar, desmen tir ou retratar algum aco nteci-
mento recen tement e ocorri do. Depois de Clon
conseguir ving ar-s e por ter sido satirizado em
Os Cavateiros, fazendo Aristfanes aparecer
como personagem numa pea teat ral em qu e
surrado, o poe ta re fer iu- se ao incident e na
parabasis de As v'.Il'as: "Quando os go lpes
caram sobre mi m, bem que os espect adore s li -
ram": ele, e nto. admitiu haver tentado um pou -
co captar a simpatia de Clon, por razes dipl o-
mticas. mas afirmou t-lo feito apenas par a
atac- lo tant o mais mor dazmente no fut uro.
Os espetculos da Co mdia Antiga aco nte-
ciam no edifcio teat ral, com suas paredes de
madeira pintadas e painis de tecido. enquanto
o coro. como na tragdia cl ssica. ficava na
orchcstra. Para cenas de "transporte areo" , usa-
va-se o teto da skcnr, como, por exe mplo. cm
Os Acamianos, As N UI 'CIIS e em A Paz. Quando
Trigeu voa at o cu em seu besouro com a aju-
da do guindaste, ele pede ansiosamente ao ma-
quinista: "por favor , tenha cuidado comigo". A
cena seguinte. com Hermes diant e do pal cio
de Zeu s. acontece no theologeion. enquanto a
subsequente libert ao da deusa da paz da ca-
verna onde est encerrada deslocada novamen-
te para o palco usual do proskcnion,
As mscaras da Com dia Antiga vo des-
de as grotescas cabeas de animais at os re-
tratos ca ricaturais. Qu ando houve necessidade
de uma mscara de Cl on para Os Cavaleiros,
co nta-se que nenhum arte so qu is fazer uma.
Pel a pr imeira vez, ao que parecia, o medo da
c lera da vtima proj et ava a sua sombra sobre
a liberdade demo crtica do teat ro. O ata r que
interpreta va C\o n surgiu sem mscara, com o
rosto simplesmente pint ado de ver melho. Pen-
sa-se que o prprio Aristfanes renha feito o
papel - possivel me nte uma razo a mais par a
a surra que receb eu logo depo is.
Figur as grotesca s de an imai s j haviam
sido usadas no palco pelos contempor neo s
mais ant igos de Arist fanes. Ele prprio men-
ciona, em Os Cavalei ros, uma co mdia sobre
pssaros. de Ma gnos. Bi co s, cristas, tufos de
cabelos e tranas, ga rras e penachos de pssa-
ros, junt amente co m coletes cobertos de plu -
mas produzia m um efeito grotesco, conforme
pode ser visto nas pint uras em vasos do sc ulo
V em diant e, e que ainda di vertem as pl atias
do sculo XX em mon tagens modernas de Os
Pssaros. Era difci l. evidentemente. obter plu-
magens sufic ientes para os figur inos dos ato-
rcs em Os Pssa ros . co mo bem o sabia Ar ist .
fanes : "os ps saros es to na muda" , explicav a
ele na pea.
Co mo as mscaras de animais, tamb m
as danas da Co mdi a Anti ga tinham orige m
cultuais. " Des tranquem os por tes, pois agora
a dana vai co mear" , exclama Filoclon em
1\.1' \ sl'as, seguindo-se ento o kordax , uma
barulhenta dana fli ca c ujas or igens pos sivel -
mente remontam ao Oriente antigo . Mesmo
fontes antigas descr evem-na co mo to licen-
ciosame nte obscena q ue dan-Ia sem msca-
ras era tido como vergonhoso. Esta pode te r
sido uma das razes pelas qu ai s as mulher es
foram exc ludas dura nte muito tempo das re-
presentae s de com dias.
123
Em A Assemblia das Mulheres. Aristfa-
nes faz seus atores, que interpret am as mulhe-
res de Atenas marchando para a Assemblia,
"di sfararem-se" de homens, com barbas fal-
sas e pesadas bot as espartanas, para reivindi-
car a entr ega do poder do Estado s mulheres.
Isso visto como o clmax da amb igidade
descaradamente gro tesca . Efeitos de travesti-
mento, completa falta de reservas no tocante a
gestos, figurinos e imitao e, por fim, a expo-
sio do fal o, so traos caractersticos do es-
tilo de atua o da Comdia Antiga.
Na poca de Clon havia uma razo muito
concreta e poltica para que as comdias fossem
levadas principalment e no festival das Lenias.
Poucos navios desafiavam o tempestuoso inver-
no, e somente cm maro traziam um influxo de
visitantes estrangeiros a Atenas para as Grandes
Dionisacas. Como facilmente compreensvel ,
Clonestava ansioso por manter o desmascarante
duelo de comdias reservado "aos atenienses
entre si". Aristfanes, por sua vez, considerava
que era um esplndido basto para espancar "o
filho de um curtidor de couro, desencaminhador
do povo", conforme testemunha a seguinte pas-
sagem de Os Acarn ianos:
Nem mesmo Clon pode repreender-me agora
Por ter di famado o Est ado diante de estrangeiros.
Estamos entre ns nessa ocasio.
Os estr angeiros no vieram at agora, os tribu trios
No chegaram. nossos confederados no esto aqui.
Somos aqui o mais puro gro tico.
No h palha entre ns, ncm colonos escravos.
Nestas linhas, Aristfanes escondia tambm
um triunfo pessoal. Um ano antes, Clon havia
movido uma ao contra ele, acusando-o de in-
sultos autoridades e de denegrir o Estado diante
de estrangeiros, por causa de Os Babilnios .
Porm. a democracia ateniense fez j ustia ao
demos. a deciso do povo: a queixa de Clon foi
rejeitada, e a arte da comdia triunfou.
A Comdi a Mdi a
Com a mort e de Ar istfanes, a era de ouro
da comdia pol t ica antiga chegou ao fim. Os
23. A Lo ucu ra de Hrcules. Cena no estilo da hilaro -
tragdia . Vaso de As tcas . sc ulo IV u.C. (Madri}.
124
H s r r a Mu nd i a l d o Tea tro .
prprios histori adores da lite ratura na Antigi-
dade j haviam perceb ido quo grande era o
declive entr e as comd ias de Ari stfanes e as
de seus sucessores, e traaram uma ntida li-
nha divisria, atribuindo tudo o que veio de-
pois de Aristfanes, at o reinado de Alexan-
dre, o Grande, a uma nova categori a - a "Co-
mdia Mdi a" (mese) .
Comprovam-na ce rca de quar enta nomes
de autores, bem como um grande nmero de
ttulos e fragmentos. Cont a-se que Antfanes,
o mais prolfico de sses "deligentes confec-
cionadores de peas teatrais", escreveu duzen -
tos e oitent a comdias, e seu contemporneo
Anaxandrides de Rod es comps sessenta e cin-
co ; outros escritor es, cujo s nomes chegaram
at nossos dias so ubulo, Alxis e Timocl es.
Anaxandrides, que ganhou o primeiro pr-
mio na Dionisaca de 367 a.c., foi convidado
pelo rei Filipe para a corte da Macednia, onde
contribuiu com uma de suas comdias para as
celebraes da vitria de Olinto. Sua part ida
de Atenas uma ind icao do lado para o qual
os ventos polticos sopravam ento: a Maced -
nia aspirava hegemon ia na Grcia e a glria
de Atenas. se extinguia.
A comdia agora retirava-se das alturas
da stira polti ca para o me nos arri scado carn-
po da vida cotidiana. Em vez de deu ses. ge-
nerai s, filsofos e de chefes de governo, ela
satirizava pequenos funcionrios gabo las, ci-
dados bcm de vida, peixeiros, cortess famo-
sas e alcovitei ros. Recorri a ao repertri o de
Epicarmo, cujas inofensi vas stiras dos mitos
serviam agora de modelo para mais uma esp-
ci e de ep gonos. Por volta de 350 a.C., em
Tarento, na colnia gr ega de Taras, ao sul da
Itlia, Rinto desenvolveu uma forma de co-
mdia que parodiava a tragdia (IIi/aros, que
1.... Mc na ndro: rel evo do poeta segurando lIIHa dire ita. Gli ccra nu talv ez uma personi fi ca o da stcenc, como
no rel evo de Eunpcdcs. sculo 111 a.C. ( Ro ma . Mu sco Larcr uno .
25. Vaso 00 giIIc.. ro phlyuk cs (espcie de bulo nana. PU de par di a de pea lrgi ca ) com cena de comedia: ... c rvo s
aj udando Quon a sub ir :1l1 pa lco . A direila : Aquil o..... du as nin fa.... velhas ao alto . sculo IV .. enco ntrado cm A puti a.
h :l ia (Lon dr cx. Bril ish Mu scumj.
Estat uetas cm ter racota representando persona gens de com dia greg a, scu lo IV a.C.
2Q. Home m c mulhe r co nve rsando. UBO. tnl vcz,
l' rax gora c Blpiro cm Ao Assembleia da s Mulheres de
Ari stfa nes (Wrzburg. Martin-von-wagner Muscum).
28. Alcoviteira, personagem upica tia Comdia Nova
( Munique, Staat ficbe Antikc nsammlungj .
27. Doi s ve lhos cmbringudos (Berl im, Staatlic he
Muscc nt.
26. Figura de bufarinheiro , que lembra Xntias, per-
sonagern de As Rs, de Aristfanes (Munique. Stuatlk hc
Antik ensammlung) .
30. Vaso do gnero phlvakcs com Anfi trio travestido. possivelmente inspirado pel o
Amfi truo, de R nton: Hermes ergu e o lume para Zeus soh a ja ne la de Alcmcna, c. 350 a.C.
(Roma, Museu do Vatic ano).
3 1. Pint ura cm vas o de autori a de Asstcas: o vel ho avare nto Carmo. deitado sob re sua ar ca de dinheiro. ameaado por
doi s ladres. sculo IV a.C. (Berlim. Sraatlichc t\ h IS(' CHl.
significa ale gr e, engraado) , mas tudo o que
del a sabe mos, baseia-se merament e em frag-
ment os e em pinturas em vaso s. Ne m a Co-
mdi a Mdia, nem a hilarotragodia apresenta-
ram quai squer inovaes no que diz respeito a
tcni cas c nica s e ce nografia. Ambas parec em
ter utilizado o pavimento super ior do edifc io
c nico (cpiskcnionv ; com concesses co nve-
nincia que, em sua s mscaras, amortece o gro-
tesco, elas tr azem a primeira pincel ada do se n-
time nta l.
A Co md ia No va
Das plan ci es artsticas da Co mdia M-
dia, no fin al do sculo IV a.Ci, ergueu-se de
novo um mestre: Menandro. Ele ass ina la um
segundo pi ce, da co mdia da Anti gidade: a
nca ("nova" comd ia), cuja fora reside na ca-
racterizao, na moti vao das mudanas inter-
nas, na avaliao cui dadosa do bem e do mal,
do certo e do errado. Menandro, filho de uma
rica famlia ateni ense, que nasceu por volta de
343 a.C.; mol dava carteres, e partia dos ca -
r teres como portadores da ao. A personagem.
con for me ele di z em sua comdia A. Arbitra-
gem, o fator esse ncial no desenvolvimento
humano e portan to tamb m no curso da ao.
De suas ce nto e cinco peas, apenas oito
lhe valera m prmios - trs nas Len ias e cinco
na Grande Dioni saca de Atena s. Esse pequeno
nmero de vit rias, porm. no diminu iu em
nada seu renome em vida, nem sua fama poste-
rior. Me nandro viria a exercer grande infl un-
cia sobre os comed i grafos romanos Plaut o e
Terncio. que vive ram da substncia de sua ob ra.
Ao lado do ace rvo de citaes transmit idas, es-
ses doi s poetas ro ma nos foram, at os pri-
mrd ios do s culo XX, as nicas teste munhas
dos escrit os de Me nandro. S em 1907, sua co -
mdia A Arbitrage m foi reconsti tuda a part ir
de papiros e, em 1959, que foram descobertos
Dyscolus (O Mal -humorado). Co m o Dyscolus
(cujo subttulo, ntisanthropos, anuncia para alm
da obra terenciana, o antropfago molieresco),
Menundro, ent o co m 24 anos, conquista em
3 17 a.C. seu primei ro triunfo teatral.
Me smo neste pr imei ro trabalh o, Mcnan-
dro de monstrava sua ndol e humana e artsti -
ca. Todas as perso nage ns so cui dadosame nte
de lineadas: a tcn so vai cre sce ndo gradua l-
ment e, e a ao se dese nro la com consistncia
plausvel.
O gramtico Aristfanes de Biznc io. do
sculo II a.C.. qu e foi bi bliotecrio-chefe em
Alexandri a e qu e nos legou numerosas cita-
es das peas de Me na ndro, expresso u sua
profunda e incisiva ad mi rao pelo poe ta: -o
Mcnandro, e tu, Vida, qual dos dois imit ou o
outro ?"
Ape sar das muit as ofe rt as tent adoras,
Menandro nun ca deixou Atenas e sua vil/a no
Pi reu , onde vivia com sua amante Glicera.
Decl inou de um convite para ir ao Egito, feito
pel o rei Ptolome u, embora no sem sorri r pre-
via mente ante a idia da aprovao recebida,
em nome de " Dioniso e suas folh as de b qu ica
hera, com as quais pr efi ro ser coroado, em vez
de dos diademas de Pt olomeu, na presena de
minha Gliccra, sentada no teatro". Um famo -
so rel evo de Menandro mostra o poet a senta-
do num tamb oret e baixo, com a mscara de
um ado lescen te nas mos, e, numa mesa di an-
te de si, as mscaras de uma cortes e de um
ancio . Um tanto des respeitosa mente, o roma-
no Manlio uma vez de screveu o repert rio de
perso nagens de Me nandro co mo constit udo
de "adolescentes fervorosamente apaixonados,
do nze las raptadas por amor, ancios rid icul a-
rizados e esc ravos qu e enf rentam quai sq uer
situaes" , Me nandro era bast ant e co nfiante
em si mesmo para no se importar quando os
volvei s ju zes do conc urso de comdias da-
vam prefer nci a a se u riva l Fil cmon de Siracu-
sa. De acord o com uma anedota, Me nandro
ce rta vez o cumpriment a, encon trando-o na
rua, com as palavras: "Desculpe- me, Fi lernon,
mas, diga-me, quando voc me vence, no fica
rubori zado?"
O coro, que j na Co md ia Mdia havia
sido posto de lado, desap areceu completa mente
nas obras de Menandro. Como os ateres no
mais entravam vindos da orquestra, a form a
do palco foi alterada. As cenas mai s import an-
tes eram agora aprese ntadas no logeion, uma pla-
taforma diante da skcnc de dois andares. A co-
mdia de caracteres, com suas intrigas e nuauas
individuais de dilogo, exigia a atuao conjun-
ta mais concentrada dos atorcs, bem como um
contato mais estreito entre o palco e a platia.
Mcnandro foi o nico dos grandes dra -
maturgos da Antigii idade que viveu pa ra ver o
129
teatro de Dioniso terminado. Pois, em Atenas,
como novamente em Roma trezentos anos mais
tarde, a histria pregou uma estranha pea no
teatro: a estrutura externa atingiu seu esplcn-
dor mais suntuoso apenas numa poca em que
o grande e criativo florescimento da arte dra-
mtica chegava ao fim. A glria da arquitetura
teatral antiga foi concluda na poca dos
epgonos; os magnficos teatros somente pu-
deram refletir um plido vislumbre do antigo
esplendor.
o TEATRO HELENSTICO
Quando Licurgo finalizou as obras da
construo do teatro de pedra de Dioniso, eu-
quanto exercia o cargo de administrador das
finanas de Atenas a.c.), estava cons-
ciente de que sua tarefa era a de um epgono.
Ele no apenas mandou reunir as obras dos
poetas trgicos clssicos, mas tambm man-
dou esculpir esplndidas esttuas de mrmore
com suas imagens e as disps nofoyerdo novo
teatro, numa colunata aberta junto parede de
fundo da skene. O teatro em si consistia em
um palco espaoso com trs entradas e basti
dores (paraskenia) que se projetavam
da e direita, oferecendo duas entradas adicio-
nais dos camarins para o palco. Aberturas ao
longo da parede de fundo sugerem que talvez
tenham sido usadas para fixar postes destina-
dos a sustentar um andar superior temporrio
(episkenion) no alto do proskenion, tal como
exigia sobretudo a encenao das comdias.
O auditrio se erguia em terraos, e suas
trs fileiras podiam receber quinze mil ou mcs-
mo vinte mil espectadores, um nmero que
correspondia aproximadamente populao de
Atenas na poea helenstica. Alguns dos luga-
res para os convidados de honra (proedria),
feitos de mrmore do Pentlico, resistem at
hoje. Entre eles fica a cadeira especial do sa-
cerdote, decorada com relevos, que ostenta a
inscrio: "Propriedade do sacerdote de Dio-
niso Eleutrio". Os outros assentos oficiais so
mais simples, mas tambm possuem um res-
paldo curvo: dois ou trs deles so talhados
num nico bloco de mrmore.
Mais ou menos na mesma poca em que
Licurgo completava o novo teatro de Dioniso
130
Hs t ri a Mundial do Te a t ro
em Atenas, outro teatro era erigido em Epi-
dauro. Construdo pelo arquiteto Policleto, o
Jovem, por volta de 350 a.C., no recinto sa-
grado de Asclplio, ficou em breve famoso por
sua beleza e harmonia. Hoje, o mais bem
preservado teatro da Antiguidade grega. Seu
auditrio assemelha-se a uma concha gigante
incrustada na encosta da colina. Do alto da se-
xagsima fila, tem-se uma vista aberta das ru-
nas da skene e da plancie arborizada que se
estende alm. Um dia em Epidauro leva ex-
perincia do teatro antigo, sem que seja preci-
so haver um espetculo; squilo, Sfocles e
Eurpedes voltam vida. difcil imaginar que
nenhum deles jamais viu uma de suas trag-
dias representadas num desses magnficos lo-
cais; nenhum deles chegou a utilizar os gran-
des teatros de Epidauro, Atenas, Delos, Prieno,
Prgarno ou feso. Na poca em que os
pectadores se reuniam diante da skene, ador-
nada de colunatas, do teatro helenstico, o con-
curso de dramaturgos havia h muito se torna-
do uma competio de atores. At mesmo
Aristteles j se queixava na Potica de que o
virtuosismo regia o palco, "pois os atores tm
atualmente mais poder do que os poetas".
Enquanto no sculo V, na grande era do
drama clssico, os poetas haviam sido os fa-
voritos declarados e confidentes de reis, prn-
cipes e chefes de Estado, no sculo IV foram
substitudos pelos atores. verdade que Fili-
pe da Macednia convidou o poeta Anaxan-
drides para a sua corte: ele concedeu, porm,
honras maiores ao ator Aristodemo. Seu filho
Alexandre, o Grande, discpulo de Aristteles,
incumbiu o ator Tessalo de uma misso di-
plomtica: como os ateres, eram no apenas
dispensados do servio militar, mas, na quali
dade de servidores de Dioniso, possuam sal-
vo-conduto em territrio inimigo mesmo em
poca de guerra, sendo pois agentes polticos
especialmente convenientes.
Durante o sculo IV, os atores se junta-
ram em grmios de "artistas dionisacos", en-
cabeados por um protagonista (ator princi-
pal) ou msico, que era ao mesmo tempo um
sacerdote de Dioniso. Essas unies de artistas
tambm organizavam espetculos, que em ge-
ral eram remontagens de tragdias e comdias
clssicas, nos pequenos teatros da tica e do
Peloponeso.
32. Apresentao de As Rs, de Aristfanes, no Teatro de Dioni so, 405 a.C. Na orchestra, Dioniso transportado
atravs do pntano num barco a remo, com rs coaxando sua volta. Reconstruo de H. Bulle e H. Wirsing, c. 1950.
33. Teatro de Epidauro. Construdo por Policleto. o Jovem, c. 350 a.C. Vista das fileiras de assentos mais altos sobre a
orchestra circular. Ao fundo. as montanhas Arachnaeon; na extremidade da orchestra, runas da skrnc; esquerda, o
porto parados reconstrudo.
34. Planta do teatro de Epidauro. que podia acolher cerca de 14.000 espectadores.
35. Teatro de De lfos. co nstruido no sculo II a.C. Na ba se . as runas do templo de Apolo.
36. Fragment o de vaso de Tarcmo. esquerda, ala da cena. para skcnion. com cntab lamcmo ricamente decorado.
sustentado por colu nas esguias. sculo IV a.C. (Wurzburg. Mart in-von- Wagner Muscum ).
H s t r a M und ia l do Tc a t ro
37. Teatro de Oropo. tica, sculo II a.C. Stcene, Reco nstruo de E. Fiech ter .
As obras mais populares nessa poca eram
as de Eurpedes. Plutarco relat a que os ate-
nienses aprisionados e escravizados dur ante a
desastrosa expedi o Sicli a em 413 a.C.
eram libertados pelos siracusanos, se pudes-
sem recitar passagens dos dramas euripidianos
de cor. Pois Eurpedes havia profetizado, na
sua ad vert n cia em As Troianas , qu e os
atenienses seriam derrotados e que a fortuna
da guerra sorriria para Sir acusa. Ist o talvez
possa explicar tambm a predileo que os dra-
maturgos romanos sentiriam, mais tarde, por
Eurpedes. No prlogo deAs Troianas, que foi
apresentada com a stira Ssifo na Dioni saca
de Ate nas em 415 a.C., Possidon sai de cena
com estas palavras sinistras:
Oh, tolo o homem que arruna a cidade e o templo.
Devasta a sagrada habitao dos mort os e
seus tmu los, pois est condenado a perecer no final.
Roma sempre olhou o teatro grego como
o seu grande modelo, mesmo depois que o
mund o romano irrompeu na Grcia aps o seu
decl nio. A marcante tendncia teatral dos con-
qui stadores romanos para a sensao verista,
134
para o "e spet culo" . levou-os a remode lar e
reestr uturar os teatros gregos. Os proscenia,
decorados com relevos e esttuas. salientavam-
se agora em frent e estrutura do palco, a
orehestra foi cerca da de parapeitos e transfor-
mada em con istra. uma arena para o combale
dos gladiadores e as carnificinas das fer as. No
teatro de Dioni so em Atenas, alm dessas in-
dignidades, o imperador Nero profanou o san-
turi o, dedi cando-o "conj untamente ao deus e
ao imperador" -conforme testemunha at hoje
uma inscr io na arquitrave.
As runas do teatro de Dioniso em Atenas
refle tem "o desenvo lvimento no apenas da
poesia dramtica, mas de toda a cu ltura da
Antigidade: primeiro, as danas do coro; ao
lado destas, na rea da gr ande orchestra, as
cenas dos gr andes dramas e, numa orchestra
menor, cenas de uma variedade de peas. No
proskenion, representaes com cen rios tpi-
cos e permanentes; e finalmente, na con istra,
cercada por parapeitos. os brut ais jogos do
circus" (Margare te Biebcr).
As palavras dos grandes poetas, pais do
teatro europe u, podem ser ouvidas todo s os
3X. Teatro de Dioniso cm Atena s, co mo er a por volta de 1900 , mostran do o ca nal roma no escavado e o pa rape ito de
mrmor e construdo pelos romanos para os jogos com animais. O pede stal es que rda data tambm de poca romana . As
fi leiras de asse ntos de pedra que compe m o audit rio so de ori gem grega , sc ulo IV a.C.
anos em grego cl ssico. no Teat ro Herodes
tico, em Atenas, quando no festival de vero
com seu pro grama de tragdias e co mdias
clssicas - um ec o do qu e outrora, h dois mil
e quinhentos anos, soava aos ps da Acrpole
em louvor ao de us Dioni so.
o MIMO
Desde tempos imemori ais, bandos de sal-
timbancos vagavam pelas terras da Grcia e
do Oriente. Danarinos, acrobatas e malaba-
ristas, flauti st as e co nta dores de histri as apre-
se ntavam-se em meread os e cortes, diante de
camponeses e prnc ipes, entre acampamentos
de guerra e mesas de banquet e. arte pura
uni a-se o gro tesco , a imitao de tipos e a ca-
ricatur a de homen s e animai s, de seus movi-
mentos e gestos.
O chiste verbal , somado a essa s proezas
sem palavr as, fsica s, levou s primeiras e bre-
ves cenas improvisada s. Era o incio do mimo
primitivo. Seu alvo er a a imi tao "fi el natu-
reza" de tipos aute nticamente vivos, ou, num
sentido mai s amplo, a arte da aut otr ansfor -
mao, da mimesis.
Enquanto o pico homrico e o drama
cl ssico haviam glor ificado os deuses e os he-
ris, o mimo (minllls) pre stava ateno no povo
annimo, comum, qu e vivia sombra dos gran-
des, e nos tr apacei ro s, ve lhacos e ladr es,
es talajadeiros. alco viteiras e cortess. Cada
regio supria o mimo de suas prpri as figuras
cara ctersticas e co nce itos locais. Em Esparta,
o mimo, viaj and o e apresent ando-se soz inho,
era visto como um representante da embria-
guez di oni saca e era chamado deikelos (b-
bado), e assim a far sa rsti ca primit iva de
Espart a se cha mo u deikelon, Em Tebas, os
comediantes de mimos e far sas, cujo tema fa-
vori to era a par di a do culto becio a Cabiro,
eram chama dos de "voluntrios".
O mimo desenvolveu-se originalmente na
Siclia. Era uma farsa burle sca rstic a, qual
Sfron deu forma literri a pela primeira vez por .
volta de 430 a.C. Suas per sonagens so pessoas
comuns e, no se ntido mais amplo da rnirnesc,
animais antropomrficos . Sfron criou o ances-
tral do Bott om de Sha kes peare , no Sonho de
Uma Noite de \ '<?ro. Numa das peas de Sfron
136
H st ori u Mllfl di l/{ ti o Teu t ro
(da qu al existem apenas fragmentos), um ator,
que est interpretand o o pap el de um hurra, fala
sobre o seu modo de "mastigar cardos".
Tanto no reino animal quanto na vida hu-
mana a parte que a so rte reserva a cada um
no di stri buda seg undo o mrito, e ass im o
qu inho princip al da zo mba ria bem-humorada
foi zel os amente diri gido, j na Antig uida de.
ao mais mode sto e fiel co mpa nhe iro do cam-
pni o da montanha. Danas e far sa s grotescas
asi nais, passando pel o burlesco romano, che -
ga m at os gracejos de mimo na Fe sta do Asno
ifestum asi norunn, com a qual o clero francs
do sc ulo XII come mo rava a Fu ga para o Egi -
to de uma for ma um tanto pa g e antiga, na
verdade quase indec ente.
A arte do mimo no foi impedida por bar-
reiras geogrficas . Do sul da It l ia, ca minhou
em direo ao nort e co m os atores ambulan-
tes, e onde quer que fosse assimil ava todo o
tipo de atos hi stri nic os populares, furses cos e
ma is ou menos imp rovi sad os.
O palco cl ssico da Ant igida de excl ura
as mulheres, mas o mimo deu ampl a opo rt uni-
dade exibio do cha rme e do tal ent o femi-
ni nos. Xe nofo nte, o esc rit or , ag ricultor e es-
porti sta ate niense do sc ulo IV a.c. fala, em
se u Symposium, de um ato r de Siracu sa que se
ap re sentou num banquet e na casa do rico
C lias , em Atenas , com sua troupe da qual fa-
ziam part e um meni no e du as garotas (uma
fl auti sta e uma da na ri na) .
A ped ido de Scrates, que eslava entre os
co nvidados. os mimos apresentaram a histr ia
de Di oni so e Ariadne, na qual o j ovem deu s
sa lva a filha de Minas, qu e abandon ada em
Naxos, e se casa com e la. O pedido de Scra-
tes pde ser facilment e ate nd ido. se m nenhu-
ma preparao es peci a l, o qu e demonstra que
os mimos gregos es tavam to fam ili arizados
co m a her ana dos temas mti cos qu ant o ha-
viam estado se us ant ecessores, nas margens do
Eufra tes e do Nil o e es ta ria m tamhm se us
sucessores, nas margen s do Tigre e no B s-
foro.
Numerosas pinturas em vasos .iticus mos-
Iram uma varie dade de acrobatas, comediantes
e eq uilibristas; garo tas fazendo mal abari smos
com pratos e taas, danarinas com instrumen-
tos mu sicais. A arte dessas jovens era obvia-
ment e mui t sximo popular entre os gregos,
39. Dcvc-mpc nhant c s de reprc...euta cs c ru "...II!l U v,
portanto ,-"abt"as .. h.' a-,no. Fra gu umo de "(I(.' ,," l "O de
Micena....
sobretudo em c rc ulos pri vados. Numa hydria
do s culo IV, orig i n ria de Nola (ho je no
Museo Nazi onal e de Npol es), pod e- se ve r
qu atro g ru pos tr einando v r ias faa nhas
acrobticas. Uma jovem nua tem o corpo arquea-
do em ponte, sus te ntando-se nos cot ovelos, ao
mesmo tempo q ue empurra um kyli x, co m os
ps, na dire o de sua boca; amarrada e m tor-
no da s panturrilhas , el a traz uma fil a, a apo-
tropeion, prpria das artistas de mim os . Uma
outra garota mostrada dana ndo ent re es pa-
das finca da s ve rt icalmente no cho, enquan to
uma terceira pra tica o pyrrhic. dan a de guer-
ra mitolgi ca, usando um ca pacete e segur an-
do um escudo e uma lan a.
De acor do com uma lenda tica, a deusa
Arena inventou o pvrrhic e o danou para ce-
lebrar sua vitria so bre os gigante s. e mbora
em Es pa n a se c re di te es sa in ven o ao s
Discuros. A dan a ap arece novament e no s-
culo II, quando Apuleio. em O ASil O de Ou ro
descre ve um ba l mitol gico que os romanos
mo ntara m em Cor into. Aps o bal , conta
Apuleio, o povo tentou fazer com qu e Lcio,
vestido de asno, part icipasse de um " mimo obs-
ceno" ; Lci os. po r m. fugiu .
A maiori a do s textos dos mimos era c m
prosa. mas alguns . os chamados nu nicidoi,
eram ca ntados - os precursores dos co pias de
music-hall . Seu rep ert rio de tipos o mesmo
que Filogclo usou certa vez para suas pilhrias
e, ao lado de doutor es, cha rl ates , adiv inhos c
mendigos, seu alvo predileto de zombari a era
o bobo de Abdera, ou Sidon ou alguma outra
"cidade dos tol os".
Os mimi ambos do poeta Her ondas de Cs
(a prox ima da mente 25 0 a.C") constitue m va-
ri antes pot icas especiais do mimo grego. So
breves text os mmi co s, compostos em iambos,
cuj os enredos tratam das revel aes secretas
de garotas pe rdida s de amor , dos ca stigos aos
es tuda ntes malcriad os, das art es per sua si vas
de ca same nte iras astu ta s e de toda sorte de in-
co nfi d nci as nem se mpre edi fican tes.
bem provvel que esses mimiambos de
Herondas, da mesma forma qu e a bem ma is
decente poesia lri ca dos mimos buclicos de
Tecrito, tenham sido co ncebidos para serem
lidos ou recitados por um ni co mimo co m
uma grande ex tenso vocal.
Some nte na poca hel ensti ca o mimo gre-
0::0 teve acesso ao palco dos grandes teat ros
;)blicos. A Grci a nunca co nc edeu a ele a
import ncia qu e ga nha ria sob os imperador es
em Roma e Biznci o ,
137
Ro m a
INTRODUO
o impri o romano foi um Estado militar.
Antes de Au gusto, os romanos eram guerrci-
ros, depoi s de Augusto, govern aram o mundo.
O ca minho desde a legendria fundao da Ci-
da de da s Set e Colinas em 753 a. c. at o imp -
rio mundi al romano uma sucesso de guer-
ras de conquista e. ao mesmo tempo, a legiti-
ma o de um nacionali smo fundamentado,
desd e os primrdios, no poder da aut oridade.
At me sm o os deuses es tava m suj eitos
ao s dit ames do Es tado . A loca liza o de seus
princi pa is sa ntu rios era determinada no pela
tradi o. mas pela rcs publica. Ant es da s le-
gi cs romanas capturarem uma cidade inimi -
ga, seu s deu ses eram requi sitados numa ceri-
mnia religiosa, a evocati o (chamado), para
qu e abandonassem as cidades sitiadas e se
mudassem para Roma, onde poderi am con-
tar com templos mai s grandioso s e maior res-
peit o. Desse modo, o sa ntu rio de Diana foi
de sl ocado da cidade latina de Ar cia para o
Aventino, c a Juno Regina do s etruscos foi
"recoloc ada " no Capitlio, vinda de Veio . Da
mesma forma, Minerva, uma su ce ssora da
Palas Atena grega venerada na cidade etrusca
de Fal rio, chegou a Roma. onde se juntou a
Jpiter e Jun o co mo o terceiro membro da mai s
alta trade de deu ses romanos na colina do
Capitlio . Roma ainda hoj e a recorda, na Igre-
ja de Sant a Mari a sopra Miner va, edifica da
no s culo VIl! .
Os Ludi Rornan i, as mai s primitivas da s
festividades religiosas oficiais onde se apre-
sentavam es pet culos . tambm eram consagra-
dos ;\ tr ade Jpiter, Juno e Miner va. O pr-
pri o nome indica que a adora o aos deuses
tinha de dividir as honras com a glor ific ao
da cidade desabrochame, a urbs ro mana. Como
di sse Cce ro, o segredo da dominao romana
residia e m " nossa piedade, nossos cos tumes
religiosos e em nos sa sbia crena em que o
esprito do s deuses governa todas as coisas".
A reli gi o do Estado havia se apossado
da hierarquia dos deu ses olmpicos da Grc ia,
co m po ucas mudanas de nomes. mas nenhu-
ma modi ficao mai or de ca rter. s ma rgen s
do Tibre. como sombra da Ac rpo le em Ate-
nas. Tli a, a mu sa da co mdia . c Eutrpia, a
musa da flauta e do co ro trgico, eram as deu-
sas padroeiras do teat ro.
Este povo raci onal. tcnic a e organizada-
mente to bem dotado, deve ter achado bastante
natural apl icar aos arr anj os de suas ceri m nias
reli giosas a mesma resol uta det erminao qu e
di stingu ia suas expedi es militares. O teatro
de Roma fundamentava-se no mote poltico
panem et circenses - po e circo - que os est a-
distas astutos tm sempre tentado seguir.
Tant o em suas car actersti cas dramti cas
quant o arquiter nicas, o teatro romano her -
de iro do greg o. Qu and o L vio e Horcio de-
cl ar aram qu e as ori gens do teat ro romano de-
viam se r procuradas nas fesceninas - os sa tri-
cos e suge stivos dilogos carnavalesco s com
origem na cida de etrusc a de Fcsc nia - esta-
vam empenh ados, pelo visto. em tomar C0l110
ponto de orie ntao as orige ns do teat ro
helen stico. E a co mparao tanto mais v.ili-
da quando focali za a poca do florescimento
do teatro romano. Co mo ant es, emAtenas. esta
era divide-se em um perodo de atividade dra-
mtico-literria e em outro. no qual as gera-
es seguint es es foraram- se para criar uma
moldura arquitct nica digna. No que diz res-
peito ao floresciment o da literatura dramti ca
de Roma, este per odo co rresponde aos scu-
los III e II a.Ci, quando prosperara m as peas
histri cas e as comdi as (cm palcos tempor.i-
rios de madeira), c, no tocante ao perodo u-
reo da glorificao arquitetural da idia de tea-
tro, os sculos I e II d.C,
O anfiteatro no pert encia aos poetas. Ser-
via de palco aos jogos de gladiadores e s lu-
tas de animais. para combates navais. espeta-
culos acrob ticos e de vari edades. Quando a
per segui o ao s c r is tos se iniciou co m
Domi ciano. o sangue humano correu aos bor-
botes no Coliseu. no mesmo local onde mul -
tides de cinqenra mil pessoas aplaudiam os
atletas campee s ou os arores de mimos e de
pa ntomimas. Seu teau o era o espe lho do
imperium rontanum - para melhor ou para pior.
e era muito mai s um show business organiza-
do do que um lugar dedi cado s artes.
Os LUDI R O!\IANI. O T EATRO
D A RE5 P U/lL/ CA
Durant e a mesma dcada em que Arist-
teles descreveu a ento inteiramente desen-
vol vida tragdia grega. R OlHa assistia a seus
primeiros II/di scac nici (jogos cnicos) , mo-
dest os cspcr cul os de mi mo de uma troupc
etr usca . Estes inclu am dana s e c an es.
aco mpanhadas de flauta, e tambm invoca-
es reli giosas dos deu ses no esprito da mis-
teriosa e so hrenatur al f dos etruscos. que
outrora havi am dominado Roma. Nessa po-
ca, a preocu pao dos atores e da platia era
aplacar os poderes da vida e da mort e, j que
se estava no ano de 3(,4 a.C. e a peste se alas-
trava pelo pas.
Desde o mai s remoto inci o. a habilidadr
polt ica de Roma se expres sou no ote recimeu-
140
l tst or a l u n d al d o Tc u t r o
to. aos povos conqui stados , da opor tunidade
de promover seus talent os e mant er boa s rel a-
es co m seus prpr ios deuses. Os romanos
anex aram a propriedade espiritual. tant o quan-
to a terrena. daquel es que conquis taram, j un-
tamente com o dir eito de exibi-l a em pblico,
para o prazer de todo s e para maior gl ria da
res publica. Dessa forma, o teatro romano tam-
bm era um instru mento de pod er do Estado,
dirigido pel as autorida des . Assim como em
Atenas a arte da tragdia e da co mdia desen-
vol vera-se a part ir do programa da s festivida-
des das Di onisacas e das Leni as, Roma ago-
ra procurou organizar a art e do drama, co m
ba se no programa de suas fest ivi dades.
A moldu ra externa dada fora m os Ludi
Romani, institu dos em 3R7 a.C. e desde ento
celebrados anualmente em setembro, com qua-
tro dias de es pet culos teatrai s. Mais tarde.
instituram-se outros jogos dedicados aos deu-
ses tludi). tai s como os Ludi Pl eb eii em no-
vembro, os Ludi Cereales e Megal cnses (em
home nagem ii me dos deuses) em ahril. e os
Lu d i Apollinares em j ulho .
Es sas celebraes fest ivas deviam mui to
fam lia dos Cipies, qu e ajudar am a fortale-
ce r o ren ome mundial de Roma no apenas
em ass untos mi litares, ma s tambm culturais.
Nos sc ulos III e II a.c.. os Cipies prati ca-
ram a espcie de patr onato das artes que . mai s
tarde, na poca de Augusto. seri a assoc iada ao
no me do nobr e Mecenas.
A ambiciosa metrpole s mar gens do
Tibre esmerou -se em promover os talent os,
es pec ia lmente os das regi es conqu ista das,
qu e eram o bero da int el ign cia e da educa-
o gregas. Os romanos, na verda de, deve m
se u pr imei ro dramaturgo - L vi o Andr nico -
cidade de Tarento, uma das mai ore s e mais
rica s das ant iga s colnias gregas no sul da
It;lia. L vio Andr nico foi trazido a Roma.
como escravo, para a rica ca sa dos L vios. Gra -
as a seu dom da linguagem. o j ovem grego
log o foi promovido de professor part icular a
con selheiro edu caci onal e cultural. Traduziu
a Odisse ia de Homer o para o latim, em ver-
sos sarum inos , para o uso cm escolas roma -
nas. e co mps hinos em latim a man do do
Se nado.
Em 240 a.c.. pelas celebra es que se se-
guiram ii vitria da primei ra Guer ra P nica,
Romo
Lvio Andrn ico - provavelmente ma is uma
vez por ordens ofic iais - escreveu suas primei -
ras adaptaes de pe as gregas. Uma tragdi a
e uma comdia fora m represent adas, nas qu ais
o prpr io Lvio Andrn ico parti cipou co mo
atar, cantor e encenado r, na melh or tradio
ateniense.
O exemplo de Lvio Andrnico logo trou-
xe cena o primeiro dramaturgo latino, Gneu
N vio, da Campni a - um escrit or espi rituo-
so, eom agudo se nso crtico, q'!e se apresen-
tou com obras pr pri as. pela primeira vez, nos
Ludi Romani, ci nco an os mais tarde. Segundo
Theodor Mommsen , o grande histor iador cl s-
sico alemo do sculo XIX, Nvio foi "o pri-
meiro romano qu e mereceu ser chamado de
poeta e, ao que tud o indica, um dos mai s no-
t veis e excel en tes talentos da liter atura ro -
mana".
Nvio tambm fora soldado. Havia luta-
do na primeira Gu erra Pnica, e conh ecera por
experi ncia prp ria , de vida, no ape nas a vi-
t ria das legi es roma nas mas tamb m as de-
ficincias dos co ma ndos militares. Suas obras
refletem sua f entus iasmada na Repblica,
embora tambm sua aguda crtica a seus ele-
mentos corruptos. N vi o foi o criador do drama
romano, a [ab ula praetexta (ass im nomead a
por ca usa da vest ime nta ofi cial dos preteres.
os mais alt os funci on r ios e servidores da Re-
pblica, que era m se us personagens e heris
centrais). No domnio da comdi a, a di stino
que se estabelece entre o modelo grego da
[ab ula palliata , cuj os intrpretes vesti am o
pallium grego, e a [a bula togara, bro tada do
colorido local roman o, em que os atares por-
tavam no palco a toga nati va.
A glor ifica o dramtica da hi st ria de
Roma por N vio, especialmente em R 011l1ltIlS ,
sua pea mai s famosa - que retrata a lendria
fundao de Roma - trouxe grand es honrar ias
ao auto r. Ele, por m, arri scou todas el as com
suas comdias, nas qu ai s se aventu rava no cam-
po das polmicas locais e, fiel ao exemplo de
Ari stfanes, at aca va os polticos e nobres de
sua poca.
Mas Roma no era Atenas. Os homens do
Senado no eram como Cl on , que se co nten-
tara em ret al iar co m uma boa surra a desres-
peitosa franqueza de Aristfanes. Nvio teve
de pagar caro pela milit ncia expressa em suas
comdias. Foi preso e ex ilado, e morr eu por
volta de 201 a.c. em Utica, o vel ho centro co-
merci al fencio que Cipio Africano Maior ha-
via sitiado trs anos antes, sem sucesso.
Em 204 a.C; provavelmente na estei ra dos
exrc itos de Cipi o, que retornavam, o terceiro
pi oneiro do teatro romano surgiu na capital:
Qu into nio de Rudi u, na Calbria, ent o com
trint a e cineo anos. Co mo soldado na segunda
Guerra Pniea, admirou, quando da derrota dos
romanos diante de Anbal, a boa conduta dos
legionri os e seus generais, fato cuja aus ncia
na vit ria de Nvio havi a deplorado to critica-
ment e. Em vez di sso, o que ni o viu foi "a ina-
bal vel f dos romanos em seu Esta do, bem
como sua compreenso profunda do equilbrio
real do poder", que, na denota, somente forta-
leceram neles a f na sua mi sso mil itar.
Quinto ni o, que tambm crescera e fora
educado na tradi o cultur al grega, teve a boa
sort e de merecer a ami zade dos mai s respeita-
dos homens de Roma. Obt eve fama co m sua
obra mai s import ant e, um epos naci onal inti -
tul ado Aliais, e tambm por suas adaptaes
de tragd ias e co md ias gregas para o pbl ieo
roma no. Escreveu, segundo o model o de Eur -
pedes, peas corno Aquiles e Alexandre, alm
de outra sobre o tern a das Eum nidas, Nas
Sabinas, dramati za um tema pro veni ent e do
mbito da saga roma na, no qual o teat ro tem
dupla participao: durante um festival em
Roma , Rmulo faz co m que as Sabinas presen-
tes sej am raptadas, porque na cidade gue rreira
falt am mulheres. Em con seqnci a, qu ando o
exrc ito sahino avano u sobre as Sete Coli-
nas, as beldades di sputadas, so b a lider ana
da prpria esposa de R mulo, empenha ram-
se em estabelece r a paz. Foi feito um acordo.
no qu al Rmul o e Tit o T cio. o rei dos Sabinos.
deveriam gove rna r Roma j untos .
nio, o "arauto dos bem-nascidos e heleni -
zado s" , teve o cuidado de evitar assuntos con-
troversos durante tod a a sua vida. Era popular
tant o j unto ao povo qu anto aos aristocratas. Sua
escolha de temas dram.iticos mo stra o quo
prudentemente ele manti nha sua posio no
ca bo- de-g uerra da ex istncia de um favor ito.
Se mpre escolh ia assu ntos que, em geral com
algum aspecto di dti co. podiam ser suavemen-
te transpostos para a vi so de mundo raci onal
dos romanos.
141
L Mscaras de uma j ovem flautista (uma hetara)
e de um escravo usando uma guirlanda de flores. Mo-
saico e ncon t rado no Ave ruino, (Ro ma . Mu seo
Capitolino) .
2. Pi ntura em parede cm Herculano: ator trgico vitorioso aps o trmino do agem. direi ta, sua mscara deposta: a
mulher ajoel hada procede inscrio da dedicatria comemor ativa (Npoles. Museo Nazionalc).
3. Rele vo romano em terracota, mostrand o um ce na de tragdi a. Do pedcstal -edcu!a do tmulo de Numi trio Hi aru s.
sculo ] d.C. (Roma. Museo Nazionale Romano).
4. Pintura mural romana com uma cena da Medei o
(Npoles, Museu Nazionalc).
6. Relevo em mrmore, com lima cena tpica da Co mdia Nova: um pai furioso vai ao enco ntro do filho . que retorna de
um banquete amparado por um escravo (Npoles. Museu Nazionale).
o sculo II a.c. gerou uma rica safra de
produes dr amticas, ao longo da linha
preestabelecida da [abula praetexta e da a-
daptao de temas gregos. No domnio da tra-
gdia, a corrente de escritores iniciada por
Quinto nio, e que passa por seu sobrinho e
disc pulo M. Pacvio, or iundo de Brindisium
e por Lcio cio - a quem Brutos favoreceu -
vai at As nio Plio, o atar considerado "dig-
no do coturno" (a bota alta da tragdia grega,
agora possivelme nte com uma sola que a ele-
vava algumas polegadas), na poca do impe-
rador Augusto, chega ndo por fim, na era cris-
t, a Aneu Sneca - cujas nove tragdias re-
rnanescentes, ent reta nto, no foram j amai s
encenadas no palco da Roma antiga.
COMDIA ROMANA
Embora a tragdia e a comdia haj am ini-
ciado juntas sua carreira nos palcos de Roma
e originalmente tenham sido escritas pelos
mesmos autor es, Tlia logo comeou a se
emancipar. O primeiro grande poeta crnico
de Roma alimentou a comdia roman a no
apenas com a sua prpri a obra, mas tambm
com a influncia revigorante do mimo folcl-
rico popular.
Plaut o ( c. 254- 184 a.C.), nascido em
Sar sina, no era um homem de muito estudo,
mas conta-se que no decorr er de uma juve ntu-
de cheia de aventuras ele perambulou pelo pas
com uma troupe atelana. Seu segundo nome,
Macci us, parece confirmar essa experincia,
pois "Maccus" era um dos tipos fixados da
farsa atelana - o guloso e ao mesmo tempo
finrio pateta, que sempre d umjeito para que
seus comparsas de jogo tenham no fim de fi-
car com o nu s tanto dos prejuzos quanto do
escrnio.
Deixando para trs o despretensioso re-
pertrio de sua experincia teatral ant erior ,
Plauto aterrou com um sal to na literatura mun-
dial. Os modelos dra mticos de suas comdias
5. Oficial fanfarro e parasita. Pinturaemparede (hoje
destruda] na Casa detln Font ana Grande. Pompeia. s-
culo l. d.e.
144
H is t ri a ,\1 1(11 (/ ;0 / l/O Tea t ro .
foram as obras da Comdia Nova tica, espe-
cialmente as de Menandro, Quem quer que ti-
vesse a si mesmo em alguma conta em Roma
conhecia no apenas o nome do famoso ate-
niense, mas podia citar pelo menos alguns de
se us elegantes epigrama s. E q uo mais pro-
mi ssor em exito devia parecer a exibio em
toda a sua plenitude dos tesouros desta come-
diografia !
Plaut o possua suficiente prtica teatr al
para selecionar as cenas mais efi cazes de seus
modelos. Ao faz-lo, no hesitava em encai-
xar os temas de vrias peas, se isso ajudasse
a rea lar o efeito . Trabalhou no meno s com
percia do que com sort e no princ pio da "con-
tami nao", em que seria igualado, uma gera-
o mais tarde, por Terncio - o segundo gran-
de poe ta cmi co romano.
Ma s onde Plauto, o ato r da mbria, ad-
quiri u todo esse conhecimento da literatura
grega e todas as suas outras qua lificaes , ao
lado de sua inteligncia natu ral, para ati ngir
status mundi al como aut or ? Conta-se que , com
o p-de-meia de mimo na bagagem, ter-se-ia
dedi cado aos negcios de mercad or viajante ;
mas no fim leria sofrido um naufrgio finan-
ceiro com suas especulaes comerciais. Sem
dv ida, sua odiss ia comercial ren deu-lhe um
conheci mento soberano de todas as classes de
pessoas, das baixas , mdi as e altas ca madas, e
o aj udou em sua arte de ca racter izao preci sa
e em sua habilidade de coordenar persona gens
e situaes.
Plauto transps a refinada ur banidade de
seu modelo Menandro par a uma comdia de
situaes robusta, na qual predominavam ele-
mentos farsescos e chi stes bur lescos. Persona-
gens c rnicas, identidad es trocadas, intri ga e
sentimentalismo burgus alimentam o meca-
7. Cena da Comdia No va: mulheres sentadas cm
torno de urna mesa. Mosaico da Villa de Ccero.
Pomp eia: assinado: Dioscrid cs de Samos (N poles,
Musco Naz.ionalc }.
8. Msicos de rua. Mosaico da Villa de Ccero em Pornpia; ass inado: Di osc rides de Sumos (Npoles. Museo Nazionale).
9. Pintura mural de Pompi a: um escravo, zom -
bando de um casal de amantes. Casa de Casca Long us.
Rom a
nismo que conduz harmoniosamente suas co-
mdi as. A insero de ca nes com aco mpa-
nhament o musical (calltica) confe re a elas um
toque de opereta. Plaut o fez muit o sucesso com
suas pr imeiras trs comdias, que foram re-
presentadas quando ele tinha aproximadamen-
te ci nqenta anos. As datas registr adas de suas
estrias so 204 a.c. (Miles Gloriosus), 20 1
(Cistel/aria), 200 (Stichusi e 191 (Pscudolusi.
Ao todo, vinte pea s completas de Plaut o
subs iste m. Signi ficati vament e, refl et em no
apenas o repert ri o de enredos e personagens
da Co m dia Nova tica, mas, em se u eficiente
engrossa mento teat ral, a ment alid ade de se u
autor e do pblico para o qual escrevia. El as
tambm se tornaram a fonte inesgotve l da co-
mdia europia. O Amphitruo de Pl auto sob re-
vive no Anfitrio de Mol ire e no de Klei st,
se m fa la r nas ve rses mod erna s de Jean
Ano uilh e Peter Hacks; os Menaechmi (Os
G meos) ganharam segunda imortalid ade na
Comdia dos Erros de Shakespeare. O her i
de Miles Gloriosus, Bramarbas, tornou-se o
ep tome do pseud o-herosmo vang lorioso. Em
Aulularia (O Pote de Ouro ou Comdia da
Panel a), Plauto criou um prottipo de avareza
ing nua , que Moli re, em O Avarento, mai s
tard e envo lveu no br ilhant e mant o da ha ute
conicdic francesa.
Publius Tere ntiu s Afer, hoj e mais conhe-
cido como Terncio (c . 190-159 a.C,}, o se-
gu ndo do s grandes poetas cmicos de Roma.
chegou capital vindo de Cartago. a orgu -
lhosa ci dade batida. Brbaro de nasciment o,
foi trazi do a Roma como esc ravo, da mesma
forma que L vio Andrni co. Seu se nho r re-
co nhece u os talent os do j ovem e o ema nci-
po u. No c rculo de Ci pio Africa no Menor,
e le encontro u amistoso reconhec imento e
apoio.
Suas seis comdias traem j nos ttulos
aqui lo que Ter ncio buscava - o estudo de ca-
rte r: o de um auto-atormentador em Aquele
qu e Castiga a Si Prp rio (Hcatnon timoru-
menos ), o de um par asit a e m o Form io
(Phonnioi , o de uma sogra em Heci ra (Hecyra)
e o de um eunuco em ElIIlIIc/lIIS. Todas as seis
pea s de Ter nc io perte ncem ao perodo entre
166 a.c. - quando ele es treou com t\ndria
(Andria) nos Ludi Megal ens es - e 159 a.c..
ano presumvel de sua mort e.
Enq uan to Pla uto prestava ateno con-
versa do povo e se apoiava fortemente no con-
traste entre ricos e pobres para suas situaes
c rn icas , Ter ncio procurava imitar o di scurso
cultivado da nobreza romana. "Nessa pea, o
discurso puro", diz ele no prl ogo de Aque-
le que Castiga a Si Prprio, acrescentando ex-
pressament e que " uma pea de ca r ter, sem
muito barulho",
Ter ncio fico u terrivelment e perturbado
com o desafortunado acidente que ocorreu co m
sua Heci ra . Qu and o a pea foi encenada pel a
primei ra vez , uma troupe de funmbulos, ali
pert o, es tava tentando ruidosamente chamar a
ateno do pblico , e a comdia de Terncio
foi um fracasso porque, confo rme o poeta quei-
xou-se amargamente, "n ingum pde v -Ia,
quanto mais co nhec-la" .
O refinament o urbano e per feio formal
de se us di logos, as per sonagens cuidadosa-
ment e desenhadas e seu desenvol viment o no
curso da ao - tais eram as coisas que Terncio
desejava ver apreciadas com a devida ate no.
Seguia meticul osamente os modelos gregos e
fazia o mximo para no exceder a pl au si-
bi lidade da fbula. Ma s faz- lo no era de todo
fcil. porque Ternci o. como Plaut o. amide
"contaminava" sua obra com duas ou at trs
peas j ex istentes. Os hbeis cntrccr uzamc n-
tos de pessoa s reconhecidas ou confundida s.
perdidas e de novo enco ntradas. no tornava
fci l para o es pectador descobrir a intri ncada
tecitura da ao. O Eunu co. por exemplo, ba-
seia-se em duas co md ias de Menand ro, e Os
Adelfos numa co mdia de Menandro e numa
de Dfilos.
Os Adelfos es treo u. juntament e co m UI]]a
remont agem de Hecira, por ocas io dos jogos
f nebres em honra de Lcio Emlio Paul o, que
foram organi zados por Cipio Africano Me-
nor, filho do homenageado e filho ado t ivo da
faml ia Cipio. bastante possvel que haj a
uma co nexo entre o con tedo da pea e a his-
tr ia pessoal de Ci pio Afr icano. Conta-se at
mesmo que es te ltimo teri a ajudado a esc re-
ver as comdias de Terncio - acusao com a
qual o autor lida bastante diplomaticamente no
prlogo de Os Adelfos:
Quanto ao que diz essa gente mal vola,
que homens ilustres o ajudam
147
e assrduamc me escrevem com ele.
toma como 1011\01" supremo
o que esses tais consideram l i uc uma injuna rcrn-
vcl.,
Pouco tempo depoi s da apresentao dc
Os Ade/los, Ter ncio partiu par a uma viagem
Gr cia e sia Menor, da qual nunc a retor-
nou . Desapareceu cm circunstncias desconhe-
cidas no momento em que tent ava remontar o
caminho seg uido pel os dr amaturgos grego s
que tant o admirava .
As comdias de Tern ci o, entreta nto, vi-
vem no teatro do mundo. Suas finezas drama-
trgicas, cena de escu ta bisbilhotei ra, apartes ,
tli cas de ocultao e revela o de persona-
gens e motivos to rnaram-se exemplares .
Hrotsvitha von Gand er sh eim, Sh akespear e,
Tir so de Molina e Lop e de Vega, c os drama -
turgos cl ssicos franceses e alemes adorara m
as tcnicas de Terncio. Em sua Drama/urg ia
de Hamburgo, Lessing, o dramaturgo
do sculo XVIII, disc ute , em considervel ex-
tenso, os mritos de Tern ci o e sua infl un-
cia no teatro posterior.
Em sua edio da obra de Terncio, a
humani sta francesa Ann e Lef vre Dac ier, tra-
dutora e ada ptado ra dos cl ssicos. decl arou
ent usias tica me nte no fin al do sc ulo XVII:
" Pode-se dizer que em todo o mundo lati no
no h nada co m tant a nob reza e simplicida-
de, graa e refin ament o quanto em Terncio , e
nada comparvel a se u di l ogo" . .
Do T AB LADO DE M AD EI RA
AO E DIFC IO CNICO
o teatro roma no cresceu sobre o tablado
de madeira dos ate res ambulames da fars:t po-
pular. Dur ant e dois sc ulos , o pal co no foi
nada mais do que uma estrutura temponiria.
ergu ida por pouco tempo para urna ocasio c
desmontada de novo. Embora os dra mat urgos
romanos tenham alcanado rapidament e seus
modelos gregos, pelo men os em ter mos quan-
tuau vos de sua produo, as co ndies exter-
nas do teatr o ficavam muit o atrs .. obviamen-
Tradu" ;lO de Ago"or i ll ho da S i" ";\. i n 1)/ lI/ fl tI c:
T erncio - " Comedi a lannn, Rio de Juuc iro. l idiour o.
148
H is t o rin M undial do T a t r n
te no nas questes orga nizacio nais. terreno
e m que os romanos fora m se mpre mestr es , mas
no tocante ao proviment o do pl an o de fun do
ar q uitet ura l par a o espet culo .
A responsabil idade pe lo teatro em Roma
ca bia aos curule aedilcs, dois altos oficiais, que
no in ci o er am sempre pat rci os, embora mais
tarde o cargo tenha sido abe rto a plebeus. En-
carregavam-se do policiamento, da arquitetura
e da s obras de constru o, da supe rviso de edi -
fci os e vias pblicas e respondi am pelo decur-
so harmoni oso dos jogos, os ludi c os circenses .
Os edis pagavam um subsdio pblico ao
diret or do teatro idominus gregis ) para cobrir
as despesas com ateres e indumentri a. Ini -
cialmente, o palco em si dava pou ca s de spe sas.
Consisti a em uma pl ata forma ret an gular de
madeira, cer ca de um met ro aci ma do cho, cujo
acesso era feito por escadas de madeira laterais
e co m uma cortina que o de limi tava ao fundo.
Era o mesmo tipo improvisado de armao para
o jogo de ator que os phya kes do su l da Itli a e
os mimos e intrpretes da farsa at e lana mo nta-
vam onde quer que esper assem atrair es pecta-
do res para ganhar algu mas moedas.
L vio Andrnico e se us contemporneos
e sucessores tinham de arra njar-se com esses
recursos primiti vos; os arore s, porm. precisa-
va m se r ta nto mai s tal ent osos e ve rsteis . No
usavam mscaras e se disti ng uiam apenas pe-
las perucas. es peci alme nt e em papi s fem ini -
nos. Era importane que suas voze s fosse m cla-
ras e tivessem bom alcance. Conta-se que Lvio
And r nico ce rta vez teve suas fal as dubl ada s
por um locut or escondido. faze ndo ape nas a
" m mica" .
O pbl ico ficava e m se mic rc ulo ao redor
da platatorma. At 150 a.C,; pc/ o men os, ain-
tia era proibi do sentar- se d ur an te um es pet -
culo teat ral. Quando Cipio Afr ica no Menor
sugeri u qu e poder iam ser coloc adas cadeiras
para os senadores c fun ci on ri os do Estado, a
proposta desse privilgi o irrit ou o povo.
Gradu al mente, o palco primitivo fo i se
tornando ma is bem ada ptado s necessidades
da ar te dramtica. Primei ramente. a corti na de
fundo i sipnriumv deu lugar a um galpiio de
mad eira, qu e servia de camarim para os ato -
rex. Na frent e do palco, onde po r fim a S('(lCI/{/l'
[ tons ro ma na lomari a o lugar tia skcne grega ,
uma estrutura de made ira coberta . com pare-
10. Estante de mscaras (scr in ;um) pra a comdia Frmo, de Ter ncio . De um ma-
nuscrito de Terncio. do sculo IX. Codrx l ll t'OIlUS Lutinu s , 3868.
I J. Cena da cour diu ndrill . de Terncio: Simo chama o cozinheiro Sosias c manda doi s outros se rvos entrare m na
casa. Coe/('-, [ .nI ;IIIi.\ . 7R99 (Paris. Narionalc }.
des lat er ai s. foi desenvol vida na poca de
Plauto para atender s exigncias cnicas. Tr s
port as davam acesso ao palco frontal por urna
parede de madeira - uma central (porra regia)
e outras duas laterais, num nvel mai s bai xo
iporta e hospitatiaev ; mais tarde, foram acres-
centadas outras duas entrada s. Esse expedien-
te permitia aos atores entrar em cena vindos
de cinco "casas", soluo esse ncial para as
cenas de rua de Plaut o e Terncio . Quanto
menor er a o palco, mais prxima s umas das
outras ficavam as portas. (No sculo XVI , in-
cl usive, ele atingiu compresso extrema no
palco "ca bine de banho". reconstruo feita pe-
los humani stas alemes para uso escolar.)
Cabe supor que Plauto. com sua experin-
cia atelana atrs de si, tambm tomou part e
pessoalment e na encenao de suas comdias.
Terncio, porm. teve bastante sorte de encon-
trar um produtor influente . que levou todas as
suas pe as: o diretor teatral Lcio Ambivius
Trpio. A tro upe dc T rpi o tinha boa repu-
taojunto aos curule aedil es, e como dominus
gregis sabia de que maneira conduzir ao su-
cesso as co mdias por ele recomendadas. O
aco mpanhamento musical de suas produes.
com arra njo para vrias flautas, era composto
pelo escravo Fl ci o,
Como o palco era montado prximo ao
circus e muitas vezes tinha de competir com
corridas de bi gas, lutad ores, danarinas e
gladiador es. isto implicava ami de pesadas
frustraes para os poetas - como aconteceu
com Terncio no caso de Hcci ra. Mesmo quan-
do a pea foi remontada, Terncio calculou o
risco de um acidente similar, pois escreveu al-
gumas linhas para Trpio no prlogo: "Haven-
do o rumor de que h gladiadores por pert o. a
multido vem correndo. Gritam. apressa m-se
e brigam por um lugar".
Contrariamente ao costume da poca, pa-
rece que Trpio, ao encenar Os Gmeos em
160 a. C., ps mscaras nos ateres, a julgar por
um testemunho do gramtico Donato. Os imi-
tadores medi evais de Terncio no nutriam
dvidas a ess e respeito ; possu am um estoqu e
completo de mscaras para cada pca (prova-
vel mente baseadas em algum model o comum,
hoj e per di do), e mantinham-nas cuidado sa -
mente arr uma das em pr ateleiras. na ordem
exata da entrada em cena de seus usurios. No
150
H s t r i u .\1 utr l /i lll do Trat ro
cas o de Os Gmeos, havia treze mscaras. cor-
res pondentes ao nmero de persona gens da
pea, mas provavelmente algum ator fazia v-
rios papi s men ores.
Cinc o anos aps a morte de Ternc io, em
155 a.c. , o ce nsor Cssio Longino construiu o
primeiro te at ro com colunas decorando a
scaenae frons , mas , depois de terminados os
ludi, elas foram derrubadas por ordem do Se -
nado . O mesmo aconteceu com a carssima
es trutura de madeira erguida em 145 a.C.; por
Lcio Mmia, o co nquistador de Corint o, para
suas peas triunfais; este teatro completo foi o
primeiro a ter assentos para os espectadores, mas
- conforme relata Tcito nos Anai s (XIV:2I) -
foi demolido aps o final dos jogos.
Mesmo tard iamente, em 58 a.C.; o edil
Emlio Scauro teve de curvar-se lei quc pro i-
bia a con stru o de teatros permanentes. El e
havia construdo um grandioso edifcio, com
uma scaenae frons organizada plasticamente,
com trezentos e sessenta colunas e um audit-
rio que , segundo se alega, abrigava oitenta mil
pessoas; por m, como os edificados por seus
predecessores, teve de ser demolido.
Obviament e, havia um limit e ao poder do
edil , sentado em cade ira curul. Mesmo os po-
derosos edi s, por um perodo de dois sculos.
no puder am mudar o carter provisrio do
teatro romano antigo.
No se sabe ao certo se e de que maneira
eram utili zad as as decoraes pintadas. De
acordo com Livy, o edil Caio Cludio Pulcher
foi o primeir o, em 99 a.Ci , a decorar a parede
do palco com pinturas natu ralistas. Por mei o
de registros, sabemos que essa s paredes foram
pintadas em paini s de madeira mveis, co m
urna diviso central, o que possibilitava o seu
desl ocament o para os doi s lados da cena.
Vitnivio. o famoso terico da arquitetura, conta
que as pinturas laterai s foram introduzidas em
79 a.C; pelos irmos Lcio e Marco L cul o ,
de senvolvend o- se mai s tard e no sistema
periaktoi, um conj unto de bastidores em for-
ma de prisma tri angular, orden ados em seqn-
cia persp ectiva e que giravam em torno de um
eixo, de modo que, com um tero de rotao,
as decoraes harmonizavam- se num cen r io
diferent e. (O mesmo sistema foi novamente uti-
lizado no sculo XVII pel o arqui teto de teatro
alemo Joseph Furt tenbach em seu palco tclari,
Rom a
um desenvol vimento posteri or do proj eto de
reconstruo do periaktoi anti go, publ icado por
Vignola e Danti em 1583.)
Em cert a ocasio, Virglio descreveu como
as paredes da scaenae se dividiam e, ao mesmo
tempo, o periaktoi girava. As port as nas laterais
do periaktoi tinham uma signific ao lixa, com
a qual todos os espectadores estavam familiari-
zados; as pes soas que entravam pel a esquerda
vinham do exterior, as que entravam pel a direi-
ta vinham da cidade. Nos primrdi os, um altar
era erguido no iado esquerdo do palco, co m a
esttua do deus em cuj a honr a a pea era apre-
sentada, e que, nos jogos fnebr es, era subs ti-
tuda pela est tua do falecido.
O uso do guindaste como disposit ivo de
vo - que entrara em desuso na Grc ia na po-
ca da Comdi a Mdia - como tambm de ou-
tras mquinas de movimentao, era reserva-
do em Roma par a os jogos circenses na arena
e no anfiteatro. Um novo invento, que desde
ento se torn ou parte de qualquer teat ro do
mundo, foi di scretamente introduzid o em 56
a.C.; margem do desenvol viment o liter rio e
tcni ca do teatro romano: o pano de boca .
Seu predecessor em terras romanas foi o
sipa riutn branco, que os mimos cos tumavam
baixar para esconder a scaenae frons nos inter-
valos das tragdi as e comdias, e diant e do qual
representavam seus dilogos farsescos e bufo s.
Conforme os cenrios iam se enr iquecen-
do, surgiu a tendncia natural para apres ent-
los ao pblico como uma surpresa. Co ntraria-
mente ao costume moderno. a cort ina ca a no
incio da pea. Os painis de tec ido mvei s
era m fixad os na beirada diant eir a do tet o da
scaenae frons , sendo baixados para dentro de
um fosso estreito frente do palco. Este fosso
ainda pode ser visto claramente nos teatr os de
pedra roma nos, como por exempl o em Orange,
no sul da Fran a. O teatro europeu adotou esse
sistema do pano de boca (aulaeum) na poca
do Renasciment o,
o TEATRO NA ROMA IMPERIAL
O primei ro teat ro de pedra romano deve
sua sobrevivncia a um ardil. Foi co nstrudo
por Pompeu, aliado e posteri orment e adve r-
srio de Jlio Csar. Pompeu se imp ressiona-
ra muito com os teatros gregos durant e suas
vrias campanhas mart imas e terr est re s .
Lcsbos lhe parecia um modelo ideal quando,
dur ant e seu con sul ado em 55 a.C,; obteve
permi sso da s autorida des em Roma par a
edi fica r um teatro de pedra. Usand o de um
inteli gente estratagema, ele afast ou o perigo
de o teatro ser demolido depois dos j ogos:
acima da ltima fileira do anfiteatro semicir-
cular, ergueu um templo para Vnus Victrix,
a deusa da vitria. Os assentos de pedra - ele
argumentou - era m o lance de esca das qu e
levavam ao sa nturio.
Pomp eu vence u, e assim Roma teve o seu
primeiro teatro permanente, situado na extremi-
dade sul do Campus Martins (ainda possvel
ver suas run as j unto ao Palazzo Pio). Recons-
trues mostram que sua planta tomou-se, sub-
seqentemente, carac terstica da construo do
teat ro romano. A parede do palco decorada
com colunas e o auditrio, de formato semi-
circular, di vidido em fileiras por dois gra n-
des corredores e em se es em forma de cu-
nha por escadas radiais ascendentes. No alto,
o audi trio er a fechado por uma galeria co lu-
nada e orname ntada com esttuas.
Dominando todo o teatro como uma igre-
ja med ieval fortifi cada, erguem-se as ngremes
empenas do templo de Vnus Victrix OpOSIO
scaenae[rons. A presena dos deuses. que no
teatro de Dioni so em Atenas havia sido a con-
dio de um cult o reli gio so, tornou- se um pre-
texto diplomti co no teatro de Pompeu, em
Roma. Para Pompeu , sobrepuj ar o curule
aediles e o Senado fora uma questo de prest-
gio; sele anos mais tarde, ele prpri o foi ec lip-
sado po r um homem mais fort e, a qu e m o
popul acho havi a vaia do pouco tempo antcs.
quando ele aparecera nos j ogos dos gladiado-
res: Jli o C sar.
Nessa poca, as ce lebraes do s Ludi
Romani estendiam-se por quinze ou dezessei s
dias. Por ordem de Cs ar, Bruto s viajo u a N-
poles a fim de recrut ar "artistas dioni sacos"
para os espetculos teatrais grcco-romanos que
aco ntece riam em todos os distritos urban os dc
Roma . Ante s de ser mort o aos ps da esttua
de Pompeu, em 15 de maro do ano de 44 a.C",
Jlio Csar autorizara a construo de Ulll novo
teatro de pedra, abaixo do Capitlio. nas pr o-
ximidades do Tib re.
/ 5 /
l2. o primeiro teat ro permanente de Roma, construdo em 55 a.C. por Pompeu como um edifcio de mlti plas
serventias, que inclua um templo de Vnus (reconstru o de Li mo ngelli) .
13. gua- forre de Piranesi ( c. 1750): vista exter ior do Tea tro de Marcelo em Roma, ter minado em 13 a. C., no
reinado de Augusto.
-.
"
14. Teat ro romano na sia Menor : Gcrasa (Jeras h. Jordnia), co nstrudo no sculo II d.C,; no reinado de Adri ano.
15. Teat ro romano ed ificado nas rochas de Potra, a antiga capital uos Naba tcus, no sculo II d.C Acima da s file iras de
assentos, tal hadas no penhasco , encon tram-se as ru nas de tmu los escavados nas rochas.
o edifcio foi terminado no reinado de
Augusto e, em 13 a.C, dedicado memri a
de seu j ovem sobrinho, Marcelo. Pouco tem -
po ant es, os romanos haviam testemunhado a
inaugurao de mai s um teatro de pedra, cons-
trudo por Lcio Cornli o Balbo, ami go de
Pompeu. Desta obra rest am apenas algumas
poucas run as dispersas, preservadas na Via dei
Pianto, perto do Palazzo Cenci.
No entanto, as paredes externas do Teatro
de Ma rcel o - capaz de abrigar cerca de vinte
mil espect ador es e, por isso, o maior dos trs -
ainda resistem. Embora no tenha sido usado
para a sua proposta original dura nte sculos,
ainda hoj e o edifcio transmite a imp resso do
majestoso esplendor de sua arquitetura. A pre-
dominnci a do "cl ass icismo augustiano" refl e-
te- se na seq ncia didtica das formas estils -
ticas emprestada s da Grcia, um modelo qu e
seria repetid o numa escala ainda maior oiten-
ta anos mai s tarde, no Coli seu . Aqui as ar-
cadas altas, abobadadas, so art iculadas por
colunas embutidas de estilo dri co no primei-
ro pavimen to e de estilo j nico no segundo, ao
passo que as colunas de estilo corntio do tercei-
ro pavimento no se preservaram. Ao esboo in-
terno do Coliseu correspondia a estrutura da
fachada. Primei ramente, havia o semic rculo
inferi or de assentos, subdividido em seis se -
es ; acima , o semicrculo superior, subdivi-
dido proporcionalmente em doze sees; e, so-
bre a fileira mais alta de assentos, havia uma
galeria cobe rta, sustentada por colunas cornti as.
Esse model o bsico reaparece, com mu i-
tas variantes, em todas as casas teatrais roma-
nas, tal como nas bem menores de Hercul ano,
Aosta , Falr io e Ferent o, que mostram, sem
exceo, influ ncia romana direta. Os mesmos
prin cpios se apli cam, em menor esc ala, aos
teat ros da costa norte da frica, co mo por
exemplo em Djemila (EI Djem), Lepti s Mag-
na ou Tirngad, urna ci dad e co nstruda por
Trajano para veteranos de guerra. Quas e to-
dos es ses foram construdos durante o sculo
II d.e. e usados largamente para o entreteni-
mento das guarnies romanas.
Com a expanso do Impri o Romano, o
princpio dos co nquistadores sempre foi este n-
der s novas terra s no apenas Ulll sistema de
gove rno ce ntral, mas tambm as real izaes
de sua civilizao imperial. O teatro de Dioniso
154
H s t or a M" "d i al d o T o u t r o
em Aten as foi enri quecido, dur ante o reinado
de Nero, com uma scaenae[rons em estilo ro-
mano, decorada co m rele vos. Alguns met ros
alm, na encosta sudoeste da Acrpo le, o rico
orador Herodes lico construiu um odeum no
estilo romano em 161 d.C.; em memria de
sua falecida es pos a, Regil a. O auditrio
(cavea) de formato tipicamente semicircu-
lar, como so igualmente tpi cas as pilastras
nas paredes do palc o, cujas alas lat erai s se
projetam, forma ndo uma conexo com a cavea
e criando, assim, uma unidade fechada e har-
moni osa. O teat ro foi ori ginalment e chamado
odeum por ser usado principalment e par a es-
petcul os musi cais: ma is rece nteme nte, tem
sediado o Festival de Vero de Atenas.
Um dos mais bem pre servados teat ros ro-
manos fora da Europa o de Aspendus, na sia
Menor, que foi de se nhado pel o arquiteto Zeno
durante o reinado de Marco Aurlio (161-180
d.C"). O auditrio, parte do qual edificado
sobre a encos ta da co lina, forma uma unidade
fechada co m o palco, atr s do qual h um cor-
redor estreito de onde cinco port as permi tem
o acesso a ele (p ulpituni s; duas outras entrada s
levam ao palco a pa rtir das pa raskenia , em
ambos os lados. A suntuosa fachada da sca enae
frons era pro tegida por um teta , como o que
existia tambm no odeum de Herodes tico e
no teatro do sculo I de Orange,
Os roma nos ac re scentara m no va s e
magnificentes fac ha das, ou pel o menos pedes-
tais de proskcnium com decor aes em rele -
vo, a muit os teatros gregos da sia Menor -
como por exemplo em P rgamo, Priena, fe so,
Terme sso, Sagalasso, Parara, Mira e lasso. Isso
servia tambm pa ra baixar a posio do pal -
co, de acordo co m a pr ti ca romana. O teatro
de Mil et o foi reconst rudo a parti r do final do
sculo I e co mpletado na poca do reinado de
Adriano. As co nstrues em Mil eto devem ter
si do ma gnfi cas, a julgar pel o impon ente
porto do mercado, hoje reconstrudo no Mu-
seu de Prgamo, em Berlim. A nova scaenac
[rons do teat ro foi, sem dv ida, erigida na
mesma magnfi ca es cala. Nos di as imperiais.
bastidores pint ados, de madeira ou pano , pr o-
vavelmente no mai s eram usados, por m a
combinao de vrios pisos, sustentados por
colunas e co m relevo em per spect iva. pro por-
cionava ao palco da comdia uma variada
!f 01110
gama de terr aos, ja nelas e bal c es para as
entradas dos atores.
A fuso de elementos hel enst ica s e ro-
manos, tant o no sul da Itli a quant o na Grcia,
durant e muito tempo fez com que espaos tea-
trais separados por grandes di stnci as geogr-
fica s e temporais usassem ao mesmo tempo os
doi s tipos de siste mas cenogrficos - as deco-
raes pintadas e as puramente arqu itetur ais.
Enqua nto no grande teatro de Pompei a. em
Roma. o fund o de ce na ornamentado, esculpi-
do e arq ui tetura l provavelment e domino u su-
premo mesmo depois do incio da era cri st,
os direto res de teatro romano em Co ri nto , no
sculo II d.C; ainda estava m trabalh ando com
cenrios de madeira pratic vei s e mecani smos
de fosso.
Apuleio, o autor de O Asno de Ouro c um
homem to apa ixo nado por viag ens quanto
pelo ridculo, nos deixou a descrio de uma
apresentao do bal Pirrica em Corinto: o
cenrio. de madeira, mostrava todo o Mont e Ida,
cheio de anima is, plantas e font es - fontes reais,
das qu ai s jorrava gua . rvores e ar bustos vi-
vos tambm faziam parte do ce nrio. Contra
essc fundo, o Julgamento de Pris era da na -
do por um bel o adolescente e mulheres "divi-
nas". Vuus surgia nua, salvo por uma es tre ita
faixa de seda em torno dos qu adris. rodea da
de Cupi dos da nari nos, Horas e G ra as.
Mi nerva era aco mpanhada por horr vei s de-
mnios. Juno por Cs tor e Plu x. e Pris por
seu rebanho. Ao final do bal , uma fonte emer-
gia do cume do Monte Ida e perfumava o ar, e
de pois dessa ce na a montanh a era aba ixada
com a aj uda de lima mquina. Tudo isso soa
co mo a descri o da poca do teat ro barroco,
COIl1 seus aparatos mec nico s.
Montanhas que explodem, erupes vul-
c nicas e palcios que desabam se mpre foram
efeitos c nicos populares. (Quando a pera de
Pari s aprese ntou, em 1952, a reconstruo das
I/dias Golantcs, de Rameau , co m toda a
parafernlia cnica do barroco e co m ce nrios
de Wakhcvit ch . Carcov, Moul en e e Fost c
Chapc luin- Midy, teve ca sa lotada durante
anos.) Numa [ab ula togata de Lcio Afrni o.
chamada Casa em Chamas. uma casa realmen-
te foi incen diad a no palco. O espe tculo rece -
heu apl ausos entusisticos, e, ironicamente. o
imperador Nero assistiu sentado em seu lugar
de honra apenas alguns anos antes de as sisti r
ao incndio da cidade do alto de seu pal ci o.
o ANFITEATRO: P O E CIRCO
Os dois traos caractersticos do Imprio
Romano, tanto em questes de art e quanto de
organizao, eram a s ntese e o exage ro, que
podem tambm ser encontrados nas for ma s
especficas do teat ro romano. O drama sozi-
nho no ofere cia ca mpo suficie nte para a ex i-
bio do pod er e es plendor. O teat ro da Roma
imperi al qu eri a impressionar. Na verdade, ele
preci sava impressi on ar num imp ri o qu e
abrangia desde o ex tre mo nort e da Germnia
at as cos tas da fr ica e a sia Menor. Onde
quer que as legi es romanas pisassem. eram
seguidas por "jogos" que forneci am div er ses
e sensaes de todo tipo, para mant er o moral
nas fileiras romanas e entre os povos co nquis-
tados.
Dent ro dos terr itrios perifri cos da civi-
lizao hel en sti ca, os romanos aderir am co m-
pletament e tradio do teatro skene. simples-
mente ada ptando- a s exigncias dos aula-
ment os de animai s, jogos de gladiador es e
naumachiai (batalhas navai s); no co rao do
impr io, ao contrrio, constru ram o anfi tea -
tro es pec ifica ment e romano, desenhado para
espe tculos de massa . Este combinava os re-
quisitos da arena do ci rcus com o princpio da
unidade teatral contida em si mesma, numa
soluo de imponen te grandeza.
A predil eo pelo circo. que o satirista e
poe ta Ju ven al at ri bu iu to insolente me nte a
seus co ntemporneo s no poo de iniqidades
que era Roma remo nta, na ver dade, aos pri-
meiros colonos s margens do Tibre. A enor -
me arena do Circus Maximus dat ava, ao que
se di zia. j da poca de Tarqunio. Os etruscos,
em seus j ogos funer ai s, haviam desenvol vido
lutas de gladiadores e co mpetie s muito tem-
po antes de os ro manos as terem introduzido.
O Circus Max imu s foi repetidamente aumen-
tado e melhorado sob () governo de Jlio Csar,
Aug us to, Ves pasiano , Tit o, Trajan o e Cons-
tantino, de onde j amai s pode se concl ui r que
perde ra sua importnci a em todos esses scu-
los, nem mes mo na poca em que os cida do s
da res publica afl ua m, em mais de ce m dias
155
. -"r--. . .._. ' ec-,
16. Porto do mercado de Mile to, provavelment e UI11exe mplo do estilo arquit ct nico da casa-pal co do teatro de Mileto.
cuja reconstruo foi terminada no rei nado de Adriano (Berlim , Staatliche Mu scen. l' crgamonmuseum).
17. gua -forte de Pirancxi (c. 1750): tl Co liseu 1 . I I I I ~ o l l l ; l . construido xob o reinado do imperador Iluvi ano, vespasiano.
termi nado cm XOd.C.
Ro ma
do ano, ao mais grandioso teatro dos impera-
dores flavianos - o Co liseu .
O Coliseu teve doi s predecessores bastante
d spares. Um deles foi o anfiteatro de Pompia,
construdo por volta de 80 a.C,; justamente ao
lado da palaestra, mas que ai nda no di spu-
nha de nenhuma sala subterrnea para abri gar
as jaul as de animais ou a maquinaria necess-
ria para erguer feras . ce nrios e ace ssrios . O
segundo foi uma cur iosidade teatr al. erigida
por Escr ibnio Crio em Roma, em 52 a.C;
para os funerais de se u pai, presumivelmente
por ordem de Csar. Consistia em dois teatros
semicirculares de madei ra, situados de costas
um para o outro. Pel a manh, era apre sent ada
urna pea diferent e em cada palco; tarde, os
dois teatro s eram virados para que, juntos, for-
massem um anfit eatro. Em sua arena fechada,
apresentavam-se lutas de gladiadores, como se-
gunda parte do esper cul o. O mil agre tcnico,
segundo se conta, era reali zado sem que os es-
pectadores do s doi s auditrios precisassem
deixar seus lugar es.
O Coli seu. pri mei rament e co nhecido
co mo Anfiteatro Flaviano, foi erguido no 10-
cal que Nero incendiara, no decli ve que ele
havia enchido co m g ua, a fim de formar o
lago em cuja margem construra seu palci o, a
Casa Dourada. A co nstruo do Coliseu foi ini-
ciada em 72 d.C. , pelo sucessor de Nero, o im-
perador fluviano Vespasiano, e termi nada em
80 d.C. Nas cerimnias inaugurai s do novo
Anfiteatro Flavi ano. que se estenderam por
cem dias. aprox imadamente cinquenta mil pes-
soas lotaram o audit rio pa ra as lutas de gla-
diadores e o aulamento e matana de animais.
Cinco mil animai s se lvage ns foram mortos
nessa ocas io .
A memria de Nero, indiretamentc, sobre-
vive no nome pop ular pelo qual a majestosa
construo ficou conhecida desde a Idade M-
dia . chamada de Co liseu (Co losseun por
causa da colos sal estt ua de Nero, de 25 metros
de altura, fundida por Ze nodoro em bronze
dourado. represent and o o imperador como o
deus do sol.
A con struo externa se ergue em quatro
poderoso s paviment os. com colunas de estil o
d rico. j nico e corntio. alternadamente; den -
tro. quat ro galerias acomoda vam os espec ta-
dores. Alm do ca marot e imperial, num po-
dili/I! elevado. na primei ra galeria ficavam os
lugares de honra dos senadores e ofici ais, sa-
cerdo tes e vestais. A segunda ga leria aco mo-
dava a nobreza e os oficiais . a terce ira os patr-
cios ro manos, e a quart a galeria. os plebeus.
Parece tamb m ter havido uma co lunata reser-
vada s mulh eres.
O auditrio podi a ser cobert o por toldos
de linho, a fim de proteg-l o co ntra o sol e a
chuva. Ao longo da cornij a superior dos mu-
ros externos encontram-se, a intervalos breves
e regulares, suportes nos quais se enca ixavam
os duzentos e quarenta mastros que sustenta-
vam os toldos, iados por mar inheiros da es-
quadra impe rial. Embaixo da arena ficavam os
tnei s com as celas para as j aulas dos animai s,
maquinari a para o manejo de decorac es e mu-
danas de cenrio, como tambm os encanamen-
tos necessri os para inundar a arena quando os
espet cul os de batalhas navais (l1all -ma chiae)
es tavam no programa.
Com toda a certeza, nenhum dram a de
qualqu er mrito literrio foi jamais apresenta-
do no Coliseu. Seus mur os abri garam tudo o
que co rrespondia ao S/IOW e ao espetculo no
sentido mais amplo da palavra. Na poca de
Augusto, a nfase na programao teatral j
havia passado to radi calment e do drama fa-
lado par a o sltow de variedades que atores
atelanos, mimos e atores de pant omima tinham
pouco a temer na competio com atore s dra-
mticos. Esquetes curtos, palh aadas, ca nes
do tipo music-hall, revistas, acrobacias, inter-
111 e;:;:i aquticos, nmeros equestres e espetcu-
los co m animais eram mont ados para di vertir
UIII pblico que vinha ao teat ro com nenhuma
outra qualifica o que no foss e a de ser con-
sumidor.
So b o govemo de Domici ano, o sangue
crist o COITeu no anfiteatro. Sua tentativa de
inst itui r as Capi tolia como um co ntraponto aos
l ogos Olmpicos gregos no limpa a sua figu-
ra. As competies nacionais de esport es e rea-
lizae s intelectuais de Domiciano escorre ram
na are ia da arena.
Nessa poca. os romanos no queri am ter
nenhuma experincia intelectual marcante no
teatro. Queriam o show. Aplaudiam aqueles que
tent avam ganhar popularidade no anti teatro
co m grupos espetaculares de ar tistas, belos
animais, solistas espirituosos, msicos e bu-
157
,
. 1. 8. Pintura cm parede de Pompeia: o anfi teatro (cons tru ido ~ 1 l 1 80 a.C.) c o cspet cul o de uma competi o em seu
interi or cm 59 a.C. (Npoles. Musco Naz.ionulc).
19. Rel evo de um sarc fago em mrmore: corrida de biga no Crco Mximo. cm Roma. Final do sculo 111 d.C.
(Foligno, Mu seo Civi co) .
20. Rel evo em marfi m: aulamcnto de animais na arena. De um dpt ico do cn sul An astcio, 517 d.e. {Paris, Ca binet
des Mdai lles. Bi bliothquc Natio nalc).
21. Relevo em terracota: cena de gladiadores e lees. esquerda, espectadores em seus camarotes; direita, a esttua
de um deus (Roma, colco do antigo Museo Kircheriano).
22. Mscara da atclana romana, perodo tardio, com o
nariz torto c a tpica verruga na testa, aqui exagerada. Em
terracota (Tarento, Museo Nazionale ).
Roma
fes, A popularidade de um novo cnsul cres-
cia ou decaa com os espetculos teatrais que
organizava ao tomar posse do cargo na poca
do Ano Novo. Numeriano e Carino, em 284
a.C., ainda se contentaram em contrapor um
urso como comparsa do mimo - ou possivel-
mente um homem disfarado de urso, j que o
Ano Novo romano era celebrado por todo o
povo com mascaradas de animais, mesmo fora
da arena. Mnlio Teodoro, porm, em 399 d.Ci,
Clflpnizou um programa bem mais ambicioso
para os jogos que financiou a fim de celebrar a
inaugurao do seu mandato oficial. Nessa oca-
sio, a parte grandiosa do espetculo consistia
em lutas entre homens e animais selvagens,
que sofriam ou causavam derramamento de
sangue. O cenrio do espetculo era o Coliseu.
No existia mais uma linguagem comum
para o heterogneo mosaico do Imprio. O dra-
ma romano exaurira sua eficcia teatral com
Plauto e Terncio. As comdias e tragdias de
seus sucessores eram artigos vlidos apenas
para o dia, ou, como nas obras de Sneca, se
achavam a quilmetros de distncia do gosto
de um pblico inteiramente sintonizado com
corridas de bigas, jogos na arena, incitamento
de animais e bufes.
O que o teatro romano do perodo impe-
rial ganhou em extenso geogrfica precisou
ser pago com a perda total do carter nacio-
nal. Converteu-se num instrumento a ser toca-
do em qualquer partitura, com qualquer par-
ceiro. Quando Teodorico, o Grande, tornou-se
senhor da Itlia, no incio do sculo VI, pen-
sou que no poderia oferecer nada melhor para
reconciliar os orgulhosos romanos com um rei
germnico do que a mais variada seleo de
jogos de circo e pantomimas.
Mas o declnio do poder imperial romano
havia diminudo o brilho do seu teatro. Embo-
ra a Igreja crist tivesse repetidamente repro-
vado o povo por "negligenciar os altares e ado-
rar o teatro", Salviano, por volta do sculo V,
escrevendo de Marselha. pde acrescentar com
razo uma reserva:
Mas a resposta a essa acusao talvez que tal fato
no acontece em todas as cidades romanas. Isto verda-
de. Eu poderia ir ainda mais longe e dizer que isso no
acontece agora onde acontecia sempn: no passado. No
acontece mais cm Mainz., porque a cidade est arruinada
e destruda. No acontece mais cm Colnia, porque a ci-
dade est cheia de inimigos. No acontece mais na famo-
sa cidade de Trier, porque ela jaz em runas, depois de
qudrupla destruio. No acontece mais em muitas das
cidades da Glia c da Espanha.
Salviano, ele prprio provavelmente nas-
cido em Trier, acusava seus conterrneos de
haver pedido ao imperador que restabelecesse
os jogos de circo "como o melhor remdio para
a cidade arruinada": "Eu acreditava que, na
derrota, haveis perdido apenas vossos bens e
posses, mas eu no sabia que haveis perdido
tambm vosso juzo e bom senso. teatro que
quereis, circo que exigis do governo?" Como
teriam sido gratificantes essas palavras para
Juvenal!
A FBULA ATELANA
o declnio do drama romano e a extino
da comdia abriram as portas do teatro estatal
romano para uma espcie rstica de farsa co-
nhecida como fbula atelana. J no sculo II
a.C.; os atores da farsa popular da cidade os-
cana de AteIa, na Campnia, haviam se enca-
minhado em bandos, para o norte, na direo
de Roma, pela Via Appia. rusticidade de suas
mscaras grotescas correspondia a robusta
irreverncia de seus dilogos improvisados.
Seu repertrio modesto se apoiava em meia
dzia de tipos, como o malicioso Maccus, que
compensava seu desajeitamento com uma afia-
da argcia; o rolio e simplrio Bucco. sempre
derrotado; o bondoso Velho Pappus, cuja senili -
dade era objeto das mais cruis mordacidades; e
o filsofo gluto e corcunda Dossenus, alvo fa-
vorito das gozaes dos camponeses iletrados.
Os atores atelanos, aos quais se juntaram
mais tarde tambm os intrpretes romanos pro-
fissionais, tinham sua prpria fuuo nos fes-
tivais de teatro estatais. Como as peas satricas
da Grcia, davam um final cmico, grotesco
(exodiunn s apresentaes de peas histri-
cas srias e s tragdias nos Ludi Romani, uma
retaguarda alegre, conforme coloca Ulll dos
escol ias tas de Juvenal, "para ajudar os espec-
tadores a secar as lgrimas". As atelanas tive-
ram seu perodo ureo no sculo I a.C.; quan-
do os dramaturgos romanos Pompnio e Nvio
resolveram dar forma mtrica farsa rstica e
repleta de obscenidades. No obstante. conscr-
161
23 . X ntius (cm Osco. ao l ado d e III l1a
estat ueta de H rc ules. Figura de da po\,:a da
farsa atclaua. scculo II a.C.
varam o di aleto dos camponeses latinos, ju n-
tamente com sua expressividade rstica - como
por exe mplo, quando algu m pergunta: "O que
o di nhei ro'!" e recebe a pitoresca resposta:
"Uma felic idade passagei ra, um queijo da Sar -
denha (ou sej a. que se derrete rapidamenteI" .
Embor a haj a sobrevivido tragdia e II co-
mdi a, a farsa atelana perdeu terr eno para o
mintus na poca dos ltimos imper adores.
Mas da penetrou Iodas as provncias do I mpri o
Romano c provavchu cntc conservo u os prioc ipni- li pos
fixo s da far:ia da Campui a Isso sugerido, cm primei -
ro lugar. pela c irc un stn cia de que as m scara s de: todas
as part e... do mun do . de Creta. por e-xempl o. T .II 'l ' IH O e
:l Gcrmuia....;10 ex truordinarinruc ntc par eci da s. Em se -
gundo lugar. h o detalhe de que cm todas ess as masca-
ras se repete se mp re uma verruga na testa. Tal cxcrcs-
c ncia (Orno u-s e co nhec ida, na Anti gui dade . COII IO a
doe na da Ca mp nia. .. O fal o de' as uui scarus
romanas repr oduz irem e SS<l anormal idade. tida com o
c mica. prova ao mesmo tempo que u farsa romana ha i-
\ .1 foi in flue nciada pel o mimo unive rsalm ente popular
Bicbcrr .
MI M O E P A NT OMI M A
Ao co ntrrio dos atores atela nos. os mi-
mos romanos no usavam m scara s. O mimo
no necessitava de nada mais do que de si pr-
prio, sua versati lidade e sua arte da imitao -
em resumo, de sua mimesis. Mesmo o discu r-
so era apenas um acessrio. Sanniones, carctc i-
ros, er a como os romanos chamavam os mi-
mos, um ape lido que parece ter sobrevivido
no Za nni, o fol gazo da Commedia de/l'artc.
" Pode haver a lgo ma is ridculo do que o
Sanni o", disse Cc ero depreciativament e, "que
li com a boca, o rosto, os gestos zombet eiros,
com a voz, e at mesmo com todo o seu COJ]lo?"
Era a essa arte de rir e provocar o riso que
o mimo de via a sua popularidade em Roma.
Nos Ludi Romani, el e tinha permisso para
estende r sua cort ina branca tsip ariunn atravs
da cena e apresentar suas pilh rias nos intcr-
valas ent re as tragdias e as comdi as. Na ver -
dade, na s Flor lias, dispunha de um monop -
t62
H i .\' /' I"; (J M'u nd i a! do Teat r o .
lio incont este de apresent ao. A parti r de 173
a.e. , os Ludi Flor ales, um festival de pri mave-
ra que dura va vrios dias. tornaram-s e uma
ocasio para a art e tea tral "ntima" . Enquanto
no Circus Maxi mus, bem pr ximo ao templo
de Flora. bodes e lebr es era m incit ados em hon-
ra da deusa. em vez de fera s, o mimo a honra-
va a seu modo, co m bufonar ias fl icas e gro-
tescas. e com o atrae nte encanto femin ino -
porq ue o mi mo foi , de sde o princpio, o nico
gnero teat ral em qu e a participao da mu-
lher no era um tabu. ti. mima e danari na que
exi bia sua flexibi lidad e ac robtica na FIor Iia,
que podia - e tinha de poder - atrever- se a ho-
menagear a deusa da nat ureza em flor despin-
do suas vest es, a irm de todas aque las que
tm exercido o atempo ral ofcio de agradar aos
home ns. El a a irm da danari na hindu que
responde per gunta do es tranho: "A quem per-
tenccs?" com a seguinte fra nqueza: "Perteno
a ti" . E ela , tambm, uma irm da atriz do
mi mo de Bi z nci o, co m quem o imperador
J ust iniano di vidi u se u trono e a quem fez
imperatrix de todo o Imprio Romano.
Os mimos rep resentavam beira da est ra-
da, na arena , numa plataforma de tbuas ou na
scaenae [rons do tea tro , Usavam as roupas
comuns dos homen s e mul heres das ruas - far-
rapos, como os da s pes soas que representavam,
como eles pr prios o eram - ou seda e broca-
dos , quando conseguiam os favores de algum
patrono rico. O bob o ves tia uma roupa de re-
talhos colori dos (ccntunculusr; como a usada
ainda hoje pelo Arlequim. e um chapu pon-
tudo (apex; da a express o posterior, apicio-
.\"IIs) . O mimo usava apenas uma sandlia leve
R OJ// o
nos ps . que dife ria do cothurnus do atol' tr-
gico e do SOCCI/S do comediante; essa sand lia
lhe valeu. em Roma. a alc unha de planipedes .
O gramtico Donato. porm. tem uma expli-
cao men os bondosa: de acordo com ele. o
mimus era chamado de planipcdia por qu e seus
temas eram to vis e seus ater es to baixos,
que s podia agradar a libertinos e adlteros .
C sar pensava de outra forma. Em sua po-
ca, o mimo e a pantomima, seguros da prote o
imperial. superaram todas as outra s formas tea-
trais. Doi s homens de classes e origens comple-
tamen te diferentes salientara m-se em Roma
como escri tores dc "textos" para o mi mo: o no-
bre Dcimo Lab rio e o atol' Pblio Siro.
Um incident e tragicmico que ocorreu a
Labrio exemplifi ca tant o a glria quanto a mi-
sria do mimo. Lab rio er a um ho mem de es-
pr ito e educao, que se divertia escrevendo
textos para os atores do mimo; nunca teria so-
nhado. porm. em sub ir. ele prprio, no palco.
Mas ele vivia soh o governo de Csar, e Csar
entendeu certa vez que devi a obrigar o vel ho
Lab rio, ento com sessenta anos, a tomar parte
num concurso de interpretao co nt ra Pblio
Siro. Para o anci o, isso constitua uma vergo-
nha pbl ica. ma s Csar di vertiu-se ve ndo o
conceituado nobre suport ar as piadas grossei-
ras, man eira dos mimos.
No fo i de grande aj uda para Lab rio, no
pape l de um esc ravo castigado. ter exclamado
reprovad orament e "Ai de n s, roman os !. no s-
sa liberdad e se foi !" e, aponta ndo aind a mai s
di retamente para Csar: "Quem tem ido po r
muitos. h de temer a mui tos !" Csar riu mui-
to e deu o prmio a Pbl io Si ro.
Quando Libri o, aps o amargo espet-
cu lo, qui s tomar de novo o seu lugar ent re os
nobres, nen hum deles se mexeu para dar- lhe
espao. nem mesmo Ccero. "Eu ficaria feli z
se pudesse oferecer -te UI11 lugar junto de mim.
se eu mesmo no es tivesse to apertado aqui" ,
tent ou desculpar-se . Por m, se a honra de
Lab rio ha vi a sofrido, o mesmo no aconte-
cera a sua pr esen a de esprito: ass im. ele re-
pl icou: '" es tranho que estejas sentado numa
pos io to apertada. j que sempre consegues
sentar-te em duas cad ei ras de uma vez".
Esse incide nte indicativo da s di stine s
soc iais dentro do teatro. Ele ca racte riza uma
class e de artistas que so homenageados com
ef gie s e es ttuas erguidas em praas pb licas,
no circo e no anti teatro, mas que trat- los em
p de igualdade s podia ser perdoado a um
imperador. nun ca porm a Ulll nobre.
O dirctor e aror principal de uma tro upe
de atere s e utrizes de mimos era chamado de
archiminius . Era ele quem supervisionava a
pea e deter min ava se u de senvolvimento. se
ela seguiria um text o liter rio ou se seria im-
provi sada. No sculo VI d.C; Corcio de Gaza
escreveu que o mimo preci sava ter uma boa
memria para no es quecer seu papel e co n-
fundir- se no palco. ti. improvisao exigia um
equilbr io muito preciso no fio afiado da pala-
vra, es pec ialme nte na poca dos imperadores
e das compe ti es por seus favore s.
O arquimimo Fa vor sabia que teria o p -
blico ao seu lado quando, nos funerais do im-
perad or Vespasiano em 79 d.C. ; arris cou uma
piada que parodiava um dos mai s bem conhe-
cidos traos do falec ido: a prudente e calcula -
da economi a, qu e havia lhe valido a reputao
de mesquinho. Como era cos tume nas ccrirn -
nias fne bre s. Fa vor interpre tou o papel do
mort o, quer endo sabe r quanto havia cu stado o
fun er al. A re sposta foi : " Dez milh e s de
sest rcios". Diante di sso. Favor. no papel do
falecido Vcspasiano, gracejou que seria me lhor
eco nomizar toda essa quantia. dar-lhe ce m mil
sest rcios e j og- lo no Tibre.
A arte do teatro havia se transformado na
habil idade do int rpret e. Divorciada da obra
dram.irica do poeta , foi deixada ao cr itrio do
atar indi vidu al. Aproximav a-se a grande era
das panromi mas, quc se mpre florescem l.i ond e
as front ei ras da lingu agem e os desert os da co -
muni cao verbal preci sam ser transposto s, e
elementos nativos, rcconci liados com el emen-
tos estrangeiros. A pantomi ma foi a est rela tea -
tral das resplandecentes festividades do Egito
sob o govern o dos Ptolornc us, e a favori ta dos
Csares e do povo roma no.
Quando o imperador Augusto ba niu de
Roma o pantomi mo Piladcx, houve tamanho
protesto popular qu e ele foi obri gado a logo
revogar a sen ten a e cha m-lo de volta do ex-
lio. Pilades era grego, oriundo da Al cia. na
sia Men or. Es pec ializou-se na pantomima
trgi ca. e fo i ex a ltado por seus coutcmpo-
rneus co mo " suhlime, pat tico. multiface-
tudo" . Sen pap el mai s brilhant e era o de Aga -
1{' 3
menon. Foi graas a Pilados que, a partir de 22
a.C., as pantomimas passaram regula rmente a
ter o acompanhamento musical de uma orques-
tra de muito s instrument os. Ele fundou uma
escol a de dana e pantomima e supe-se que
tenha escr ito os princpios de sua arte num Ira-
tado terico que, entretant o, se perdeu.
No menos popular que Pilades foi seu
contemporneo Batil o, a quem Mecenas, o
patr ono romano das artes, auxiliou em seu ca-
minho para a fama na pant omima. Batil o
tambcm era grego, nascido em Alexandria, e
veio para a casa de Mecenas como escravo.
Tornou-se o dolo das dama s romanas - um
jovem sensvel, de graa feminina, cujo n-
mer o solo "Leda e o Cisne" era entusiastica-
mente aplaudido por sua extasiada platia fe-
minina.
Sneca - que viu a pantomima prosperar
so b tr s imperadores, Augusto, Tib r io e
Calgula, e que certa vez mandou aoitar al-
gun s espectadores por perturbarem uma apre-
sentao do pantomimo Mnester - descreveu
desdenhosamente os jovens nobr es romanos
como escravos particulare s dos pant omimas.
A situao geral do teatro romano nessa po-
ca talvez sej a a melhor expli cao para a cir-
cuns t ncia et ern amente intrigan te de que
Sneca, famoso na posterid ade como o dra-
matu rgo da tragdia romana, nunca lenha vis-
to nenhuma de suas obras encenadas. Erudito
e moralista, Sneca no poderia ter nenhuma
relao com o show business brut o, barato e
artificial. como lhe pareci a o teatro romano.
Mas na mesma cidade de Roma, onde o teatro
o desdenhara na poca em que era vivo - ou,
de acordo comas pesquisas mais recent es, fora
por ele desdenhado - , Sneca ressuscit ou para
a glri a no linal do sculo XV, graas aos es-
foros do humanist a Pompnio Laetus (Giulio
Pomponio Leto).
Um aSlro da pantomima podia, entretan-
to, perder SUa popularidade da noit e para o dia.
A rolet a do aplauso e da fama podi a trazer o
triunfo ou o aniquilamento. Quando Nero se
deu conta de que o pantomimo c danarino
Pri s, o Velho, seu favorito e confidente nti-
mo, era mais popular junto ao pblico do que
ele prpri o, mandou decapit-l o sem cerim-
nias. O filho da vtima de Nero, Pris, o Jovem.
no teve melhor sorte. Ele, "o espl ndido 0 1' -
164
H i s t r i a Mun d a ( / 0 Tr a t ro
nament o do teatro romano", teve de pagar pe-
los favores da j ovem imperatiz co m a prpria
vida, quando o enciumado imperador Domi-
ciano um dia o desafiou na rua, esfaqueando-o
com as prprias mos.
Quintil iano, o grande orador da poca de
Dorni ciano, escreveu a apologia artstica da
pantomima. Os pant ornimos, disse Quintiliano,
podiam fal ar com os braos e mos:
Eles podem falar, suplicar, pro meter. cla mar. recu-
sar, a meaar e implorar: expressam averso. me do, d vi -
da. recusa. al egria, afl io . hesitao. reconhec ime nto.
remorso , ruodera o c exc es so. nmero e te mpo. No so
eles ca pazes de exci tar, acalmar. suplicar, aprovar. admi-
rar. mostrar vergonha? No servem. como o... pronomes e
advrbios. para dcxignnr lugares e pessoa s?
Essas sentenas poderiam muit o bem ter
sido tiradas do Nat yasastru, o manual didti-
co da dana e do teatro hindus, de um comen-
trio de Mei Lan-fang, o astro da pera de
Pequim, ou de uma resenha do pantomima
moderno fran cs , Marcel Marceau. A arte da
pant omima universal. Suas lei s so as mes-
mas em todos os lugares e cm qualqu er poc a.
Sua linguagem sem palavras fala aos olhos.
por isso que a arte da pantomima se espalhou
de Roma para todas as regies do imprio.
Uma for ma de entretenimento que goz ou
de popul ar idade part icular entre os romanos.
tanto no Imprio Ocidental quanto mais tarde
no Imprio Bizantino do Oriente, foi a dos bals
e j ogos aquticos. Esses shows aconteciam em
piscinas ou em teatros gregos no Oriente, refor -
mados de modo a comportar a gua. Marcial
(c. 40-102 d.Ci ) menciona umespetculo aqu-
tico em seu LiIJe/lIlS spcctaculo nun, descre-
vendo-o como um bal aqutico com nereidas
e um mimo, no qual Leandro literalmente atra-
vessava as guas a nado at Hero.
O famoso piso de mosaicos da vil la ro-
mana tardia na PiazzaArmerina, na Siclia, ofe-
rece uma imagem muitas vezes reproduzida
do encanto das ninfa s aquticas. O mosaico,
elaborado provavelmente por volta de 300 d.e..
para o imperador Maximinian o Hrcules, mos-
tra dez jovens de biquni s vermelho-azuis, pu-
lando, correndo e tocando tambor ins no es tilo
dos espetcul os de variedades comuns por todo
o Impr io Romano. O Guildhall MII.H '/l/II de
Londres exibiu, em 1956. urna parle de um dcs-
!
.r
24. Alriz da pantomima romana tardi a segurando
uma mscara trifacial , Rel evo em marfim de Trier;
sculo I V d.e . ( Berl im. Staatlichc Musecu ).
25. Mimo no papel de enca ntador de serpentes .
com guizos na roupa. Marfi m romano tard io.
26. Detalhe de um mosaic o representando um jogo de gladiadores: pri sionei ro lhi o atacado por uma pantera. c. 200
d.e .; encontrado em Zlitan . Lbia (M useu de Tr poli ).
27. Acrobata dando saltos mort ais, de uma hvdr u
da Cam p:inia (Londres, Briti sh Muscumt .
/( () lIla
ses biquni s antigos ; eram feit os de couro, cor-
tados num a s pea e guarnec idos com tirinhas
de couro par a amarr- los dos dois lados dos
quadri s. Foi encontrado num poo roman o
descobert o dura nte escavaes em Londr es, na
hoje Qu een ' s Str eet . Entr etanto , outros obj e-
tos descobertos no mesmo local, co mo uma
taa de porcelana sigilata, uma grande chave
de ferro, uma co lher e um fuso de madeira
sugerem que esta excit ante pecinha ntima do
sculo I d.C,; pert enceu mai s provavelmente a
uma es crava do que a uma cortes.
Atores e atriz es de mimo foramce lebrados
e cortej ados . Mais tarde, porm, tambm eles
ficaram suj eitos ao antema da Igreja Cri st
nascent e. O presbtero cartagins Tertul iano,
o combativo oponente "de todas as perversi-
dadcs pags do mundo corrompido" . negou
tant o ao mimo quant o pantomima qualquer
direito re deno crist em seu li vro De
spcctaculis. E em 305 d.e., dez anos antes do
reco nhecimento do cristianismo como a rel i-
gio oficial do Estado romano. o Snodo pro-
vincial de lIber is (Elvira) , em Gr anada, de-
clarou: "Se os mi mos e pant omimas deseja m
se tornar cristos, devero primeiramente aban-
donar sua profis so".
MII\IO CRISTOLGICO
A severidade com a qual a Igr ej a Crist se
op -,a todas as formas de spcctaculum por mil
anos - at criar uma nova forma de teatr o pr-
pri a -- baseou-se em circunstncias hi str icas
bastante reai s. Desde seus primei ros di as, o
cr istian ismo no havia sido apenas persegui -
do pelos imperadores romanos, mas ridicul a-
rizado pel os mimos, no palco.
Uma rel igio cujo Redent or sofrera, sem
recla mar, a mort e mai s ignominiosa, destin a-
da aos criminosos comuns, estava de qu alqu er
manei ra des ti nada ao escrnio da popul ao,
jti que no era prot egida pelo Estado. O mimo
adulava igualmente os governanr cs e o pov o.
O que podi a se r mais tent ador do que incorpo-
rar a figura do "c ri sto" lista de tipo s tradi-
cionais" O mimo no fazia diferena entre pa-
rodi ar os deu ses antigos e expor ao ridcul o os
seguidor es de uma nova f. O bat ismo, com
seu cerimon ial caracter sticu, quc expressava
de forma vi s vel a co nverso ao cristi ani smo,
era um tema . Parodi ava-se aquil o que no se
consegui a ent end er. Zo mbava-se daquil o que ,
em outros aspec tos, es tava alm da compreen-
so da massa.
Hermann Reich, es pecialista em mimus,
sugere at mesmo qu e o martri o de Cristo, a
flagelao e o Ecce homo sej am uma deriva-
o dir et a do minius , Os soldados que co lo-
ca m a co roa de es pi nhos na cabea do Rei
dos Judeus, diz el e, estavam repre sentando
uma ce na tpi ca de derriso do repertrio do
mimo, popular entre os exrcitos romanos e
que inclua tanto o rei quanto os judeus como
tipos fixos. Um papi ro egpcio, encontrado,
parece apoi ar es ta co nsi derao , assi m co mo
uma vista d'ol hos sobre os hlit os dos auto s
da Paixo me dievai s. Tamb m aqui o mimo,
o ioculator e malefi cu s ambul ante, tem a fun-
o dc col ab orar co m element os rsti cos c
grotescos, e sobreiudo de assumir o papel do s
soldados, apres entado num padro de s pero
reali smo.
Sob o reinad o do imperador Flvio 0 0-
miciano, o pri meiro a derram ar sangue cristo
no Coliseu, ocorreu o seguinte incident e: o im-
perador jul gou que a costumeira representa o
do mimo do chefe do s band idos, Laur eolus,
que era crucificado no final, estava fraca de-
mais. Ele orde nou ento que o papel ttulo fosse
dado a um cri mi noso conde nado. A pea ter-
minou em horrvel ser iedade; Domi ci ano fez
com que o cr ucificad o fosse despedaado por
animais selvagens.
Um singular registro pictrico, descobert o
nas paredes de uma casa na Colina Palatina, for-
nece provas das conexes entre o mimo e o mar-
trio, o rid cul o e a f. Essa garatuja primitiva,
que data do sculo II ou III, representa a pardia
de uma crucificao. Uma figura com mscara
de asno est na cruz, esquerda um homem er-
gue seu brao numa saudao, e abaixo l -se a
inscrio: "Alexamenos adora seu Deus".
Cabe conjectura r que Alcxarneno s era um
esc ravo a quem os outros ridi cularizavam por
ser cristo. A mscara do as no, smbolo da s-
tira cmica desde a mais primit iva Antigida-
de, suge re que o graff ito seja baseado num
mimo cristol gico, no qual o intrprete de Cris-
to lenha tido que usar uma mscara como sm-
bolo evide nte de esc rnio.
16 7
28 . Ac robatas aquticas. Mosaico na Piazzu Armerina. Sicia . c. 30B d.e .
29 . Cena de rua co m saltimbancos . Columbri o (destruido) da Villa Do ria Pamphili . Ro ma.
Ra ma
Nor
T ~
O
Este desenh o pri miti vo a primeira re-
presentao subsi st ent e da crucificao. H
boas razes para cre r que tenha sido inspira-
da pelo mimus. A adorao apaixonada e os
gritos de "Crucifiquem- no !" sempre foram vi-
zi nhos prximos. Foi ass im que o efe ito tea-
tral do mimo cristolgico se transformou de
sbito em martri o del iberadamente esco lhi-
do. Mimos troci stas convert iam-se nova f.
Em 275. o mimo Porfri o tornou-se cristo
co nverti do em Ces re ia. na Ca padcia, e o
mesmo se diz do mimo Ardlio . um ano mais
JI. Cnwi fica o parodiada. Grafi te na parede til' uma
ca sa na Col ina Palatina. sculo II ou III d.C. (cpia do
(lri ginal em Roma . Museo Nazionalc Romano).
tarde. ta mbm em alguma cidade da sia Me-
nor. O ca so ma is famoso dessas converses foi
o do ator Ge n sio, que se converte u em Roma
no ano de 303. no rei nado de Di ocl eciano e na
poca das mais severas e cruis persegu ies
aos cris to s. Gen sio foi vtima dessa perse-
guio. e a Igrej a fez dele o sa nto padroeiro
dos ata res.
Mas os mimos se aferrava m obstinada -
ment e a ternas cristolgicos, como comprovam
decises dos conclios da Igreja que. j no de-
correr do segundo mil nio ap s a expanso do
cr istianismo no mundo ocidental , proi bi a que
os mimos entrasse m no palco corno padr es.
monges ou freiras.
O niintus como uma linha que vai dos
pri m rdios da Antigidade, atra vs de Roma
e Bi znci o, at a Idade Mdia . Era to fami liar
ao homem da rua quanto ao erudi to em sua
mesa de estudo. O escritor cri sto lat ino Lac-
tnci o o j ulgou digno de urna sublime compa-
rao: a doutri na de Pitgoras. de acordo co m
a qua l as alma s dos homen s transmigram para
corpos de animais - ele escreveu - era ridcu la
e lembrava as invenes do mimo.
30. Jogos com animai s . Do dtpu co tio cns ul
An-ohirulo, 506 <1.( ' . (Le ningrado. Hcrmitagc ),
/fJq
..f,
Bizncio
I NT ROD UO
Quando em 330 Co nstan ti no, o Grande,
tornou a cid ade de Bizncio, no Bsforo, a
nova capita l do imprio romano e lhe deu o
seu nome, o esplendor de Roma em pa lide-
cia. As co ntnuas batalhas nas front eiras ha-
viam min ado a for a da urbs romana . Nessa
poca, deu-se o tri unfo do cristianismo. O
Edito de Milo assegurou liberdade de culto
nova reli gi o. Com a transfer ncia da resi -
dncia imperi al par a Bi z ncio, surgiria um
segun do centro do cristianismo, to fasci nante
quanto ex ti co.
J no seria o Capitlio, mas a Igr ej a de
Hagia Sophia, que resplandeceria nos sculos
vindouro s como o smbolo do poder divino e
terreno. Para a sua reconstruo, o imper ador
Justiniano fez com qne os mais preciosos ma-
teriais fos sem pro curados por todas as pro vn-
cias do imp rio bi zantino. Colunas e outros
elementos arquitetnicos de feso, Baa lbek ,
Egito, Atenas e da ilha de Delos foram reun i-
dos para a glri a da "Sabedoria Divina".
O imperador e a Igreja eram os doi s pila-
res do Imp rio Romano do Oriente. Eram o
tema e o ve culo de toda ativid ade de es tilo
teat ral que se desenvol veu em Biznci o. Con-
forme escreveu Franz Dolger, "as necessida-
des teat rais da popul ao da capital eram sa-
tisfeitas pe las deslu mbrantes ce rimnias da
corte imp er ial c pel a rica e elaborada liturgia
da Hagia Sophia, com suas proc isses, vesti-
mcntas esplndidas, suas aclamaes e cn-
ticos antifonais" .
As radiaes da magnifi cncia imperial,
transmitidas para o Ocidente nos sculos se-
guintes, portavam o selo de Bi zncio. A seve-
ri dade hi er t ic a. o es ple ndo r purpreo. a
estil izao solene que foram as marcas do ce-
rimonial da cort e e da arte reli giosa de Bi-
z nci o, tornaram-se um modelo para o mundo
oci dental. Por todo o Ocidente, eram solicita-
dos artistas bizantinos, o luxo bizantino era o
padro de gosto e cultura, prin cesas bizan tinas
eram trazida s por seus pretendentes principes-
cos para as cort es do Oci dente.
O patriarca de Constantinopl a teve o atre-
vimento de chamar o papa romano de herege.
e desse modo veio a iniciar-se o decisivo cis-
ma que terminaria por levar ao trgico conflito
ent re as Igreja s oriental e ocidental. As Cr uza-
das terminaram no saqu e de Constantinopla.
Os "latinos", liderados pelo velho doge Dando-
lo, haviam exigido o reconh ecimento do papa-
do como a fora ce ntral do cristi anismo. Bizn-
cio recusou. Em 9 de maio, o Conde Baldwin
de Flandres foi coroado imperador latin o de
Bi z ncio pel o legado papal.
A sequnc ia ininterrupta de confl ito s mi-
litares a que se entregaram os posteri ores im-
per adores da dinas tia gr ega dos Palel ogos
minou os poderes de resi stnci a internos e ex-
ternos da cidad e. Em 1391, o sulto otomano
Bayzeid obri gou a cidad e a pagar nm trib uto.
Sessenta anos ma is tarde, em 29 de maio de
fJi ;JlI"/ ()
I () Hipdromo de Co nsnuu i uop l u. Xilogravura de Onuplu uv Panviniu - . Verona. 1..l 50.
l i 3
tipo de cspe t culo , que oferecia divers o tca-
tral n o ape na s nas festi vi dad es ofic iais do Es -
tad o:
EIII ph-nll d ia. corti na -, so pe nd uradas e su rge 11 111
n uu -ro de-nton- -, ma - , curad o... . l hu fa z o ti l-
'01"0. l.'h..' 11I1.. -,1110 c..,tl.'.i'l bciu d isso : o utro
i ll l erl'l"l.. ' l a II I l ' i : um rcn.. -c-iro. (I m di.-:-o. e mb ora rccouhc -
l"!H' 1 "'I.HII l lIll" p l'l o tt';IJl. 11 m i gl w r;1I1ll" L" (I prn fl ...... nr.
Ele -, rcpr v-vt .un t I OplhlP do 4ue ... ao I . I O fil ... o! ...
, ) por v au ... ;l do, It>n:;ll'" c.rl-clo- dl' 'll; \ :I...... i in .
uuubm. II :-' Illd adn l; IIIll real. 111;, ... llIdo lf
l -,
O prpri o tom de ssa de sc ri o muit o
simplificada ind ica o ag lldo declnio . A a lta -
me nte dese nvo lvida arte do dr ama antigo ha-
via se conve rt ido nessa pr imitiva verso di a-
logada de " uma velha hi stri a" . Sua deg ra -
da o no deve ser atribu da ii mal vola de-
preci a o de um Criss tomo bcligerunt c. q ue
em ou tros lugares troveja violentament e co n-
tra a " imora lidade' do teatro: cla um fal o
hi st ri c o.
li ma descri o "do que acontece no rca-
I ro" . q ue conco rda q uas e lit er al mentc co m
Cri s sto mo, foi fei ta no fina l do s cu lo IV pe lo
an lign professor de relrica So Gregrio de
Nissa :
Um dos co mpo nentes e fica ze s j ustapo s-
tos 110 Christos Pase/IOII, a imi tao de um
hin o de Sexta-Feira Sa nta do poet a grego reli -
gioso Romano. que viveu e m Constanti nopla
no s culo VI - ao pas so que Gregrio de
Nazianzo. o alegado aut or da Paschou, mor-
re u e m 390 d.C.
() que fascinant e no es tranho conglo-
merado do Christ os Pase/II >1I a conj ug:H; o
da Paixo cr ist superpo sta ; Ul drama grego .
Uma boa tera parte dos 2.6-10 versos , qne co -
meam com o cami nho at o G lgota e tenni-
na m co m a ressur reio de Cri sto, so par-
fra ses de versos de' Eur ped e s. Ta nto a Christos
Paschon qu an to as trez e ntos e vi nte e cinco
c itaes das tragdi as de Eurpcdes que se en -
contram na obra do Arcebisp o Enst:cio de Sa-
lonica (fal ecido em 1194) dem on stram quo
int enso era o int eresse devotado em Bizncio
aos dramaturgos da i\nt igii idade - no tocante
ao estudo.
Em contraste com o cult ivo erudito da he-
ran a cultural gn:ga . a pni tica teatral era to
ing nua quant o a das pri uu-iras troupcs at e-
luna s roma nas. So Joo Cri sstomo (347--107
d.C . ). pat riarca de Consta nlillopla. e m certa
ocasio fa lou exten sa mente a respei tn de sse
H s t riu Mu ndi a tio Teat ro .
del es ficava prximo ao pa lcio imperial , per-
to da Igreja de Sant a Irene (hoje part e do rc -
cinto de Saray) . Em Bizncio, como e m ou-
tras c idades import an tes do imp rio ro mano
do Orient e. havi a teat ros espaosos, que em
part e remont avam aos temp os hel ensti cos e
em parte ao s prime iros tempos da dominao
roma na . A c idade de Anti oquia .- se de do go-
verno ro mano da Sri a, residnci a do patriarca
e sede de um a universidade teol gi ca - pos-
sua qu atro amplos teatr os de pedra . De acor-
do co m Paldio, as co mdias de Men andro ain -
da eram e ncenadas ali no sc ulo V d.C., at
qu e o rei per sa Cosroes destru iu a antiga cida-
de, em 538 d.C.
O gra nde enigma do teatro bi zantino resi -
de no fat o de nun ca ter produzido um drama
prprio. Contentava-se com o cale idoscpio
colorido das vari edades, da revi sta, e com es-
petculos de solistas que j vinham prontos e
com extratos de di l ogos e peas lricas que
eram recitados no palco por decl amador e s em
"atitude tr gi ca" .
Os estudiosos de Bizncio tm se ocupa-
do cuidadosame nte de sse fenme no si ng ular.
Franz Dlger comenta:
Freq ue nte ment e tem se estabe lecido uniu
,,";10 acertada com as artes pl sti cas. isto que a une
bi zamina tamb m lio produ ziu nenhuma escul tura
til: meno e <-lUt ' rant o nas art es pl sti ca... qua nto na lucra -
nu-ados bizunt ino -, falta. port an to. lima 'Ji Ill CI1..;IU'. A ra -
1 .. 10 di ... -,o bavtamc cl ara. por volta do "c ulo 111 d.t ' .
tr;lgd ias e (,, (1I 110t ha ."completa, c:r' L1 11 rarament e rcpre:-' l' ll -
ladas nu Imp rio Romano. 0., pautomimos rec itavam ain -
da al gun s frag mentos lril. o'\ e princip alment e trec hos ex-
lrai do s do s c nuco... corais. De resto. () 11I;1111I.\' . lima c:-. (X-
ci c de csquc rc de opereta com lima gran de quant idade de
cspetacu lares. geralmente de co ntedo mais pican te.
l inha de h muito capt urado o gosto d, e, ma...... as e. a <!L' :-.
pei to d as pr oihi es dos unpera dorc -, Ana st c io I c
Just inia no (cm d.C.) , deve ter pro sseguido clandest i-
na me nte atravs de lodo o pe rodo bi zanti no.
o drama da pai xo Christos Paschon, com
frequncia c itado, que durant e muito tempo foi
incorretarnente atribudo ao bi spo So Greg-
rio de Nazianzo, no dat a do sc ulo IV. mas.
sim, do sculo XI ou XII. Isso o que se cha-
ma de um cento, uma reuni o erudita de v rias
cit aes se m nenhuma conexo provvel com
o teatro atua nte - um co mplemenlo intelectu-
al ii a legre colch a de retalhos do ("(,lI tlllleu /us
dos mi mos.
T EAT RO SE M DRAMA
1453, ela sucu mbi u aos exrci tos do Sulto
Moh ammed II. O imp r io bi zantino deixara
de existir. Seu ltimo imperad or , o dcimo pri-
mei ro a levar o c lebre nome de Constanti no,
perdeu a vida na batalha. Das runas da capital
devastad a de Constantino nasceu Istambul, a
capital do impr io otomano .
Durante mil anos, Bi zn ci o havia sido o
ce ntro de trocas cultura is entre o Oriente e o
Ocide nte, a pont e, em que st e s de f, entre a
Antig idade e a Idade Mdi a, e, em questes
de teatr o. a pont e entre o corao
do dra ma tico e o Te Deum da rep rese ntao
cri st na igr eja .
172
Um dos primeiros atos ofi ci ais imperiais
co m o qual Constantino cativou os bizantinos
foi a inau gurao do Hipdromo. O edifcio
remontava poca de Septirno Severo, que o
co nstruiu em 124 d.C. , seg undo o modelo do
Ci rcu s Maximu s de Roma. Era um campo de
corridas longo e estreito. co m um mu ro divisor
baixo tspina'; ent re as dua s pista s, sobre o qual
e ram co loca dos es t tuas, obe liscos, pl acas
memoriais e monumentos aos corredores vi-
tori osos.
O Hipdromo, com seus asse ntos de mr-
mor e para oitenta mil espectadores. era deco -
rad o co m ricos entalh es e as mais celebradas
obras de arte de todo o mundo . Durant e um
mil ni o. seria o palco de ama rgo s contl itos
hi stri cos. mais do que o es plnd ido local de
espe t culos de teatro e ci rco a que havia sido
desti nado. Nele tiveram lugar corri das de biga
e combates entre gladi adores, nel e a impera-
triz Eudxia vi u ser eri gi da a sua prp ria est-
tua de prat a, acompanhada por festi vidades to
pr ovocat ivas que Cris stomo, pr edi cando na
I-I agia Sophia, empalidece u de rai va. Nele eram
descarregada s as paixes da s du as faces de
co rredores de bigas, os "Verdes " e os "Azuis",
co mo tambm o entusiasmo do povo. Nele, o
sa ng ue de trinta mil pessoas ma nchou a areia
qua ndo Beli srio, em 532 d.C. , es magou a re-
volta de Nika e reduziu a cinz as grandes par-
tes da cidade.
COllta se que Co nstan t i no , o Gra nde ,
constr uiu muil os teatros. Acred ita-se que um
2. Poeta cmico c musa com uma mscara representando Tlia. Fragmento de um sarcfago do nordeste do imprio
bizantino, c. 250 d.C.
B t n ci o
Um mito ou uma velha lenda serve de tema para a
representao. e reproduzido por imitao diante dos
nossos olhos. () que corresponde histria representa-
do da seguinte maneira: os mores usam figurinos e ms-
caras. Na orquestra, penduram-se cortinas quc represcn-
tam uma cidade c a coisa toda to fiei natureza que o
pblico pensa tratar-se de um milagre.
Nesse nvel, o drama clssico da Anti-
gidade no poderia ser uma fonte de inspira-
o para Bizncio, tal como a tragdia grega o
para o drama nacional dos romanos, ou Menan-
dro para Plauto e Terncio. Alm disso, como
poderiam o governo e a Igreja adequar as di-
vindades do Olimpo ao povo, como poderiam
Zeus ou Jpiter, Atena ou Juno e, principal-
mente, como poderia Dioniso, a quem os pa-
dres da Igreja consideravam uma abominao,
o demnio encarnado, se reconciliar com a
doutrina crist da salvao? A sabedoria com
que os homens da Igreja apreciavam o esprito
e o juzo da literatura antiga no era algo a se
pressupor no grande pblico.
A conseqncia desse ponto de vista vie-
ram a sentir de maneira bastante precisa os
mimos e pantomimas, "os ltimos saeerdotes
do paganismo", como os chamou Hermann
Reieh. Eles pagaram sua fidelidade ao antigo
e comprovado repertrio, transmitido de ge-
rao em gerao, com a excluso da salva-
o trazida pela nova f, porque no teatro
bizantino mimus e pantoniimus recorriam ao
esprito e ao "antiesprito" da Antigidade. O
repertrio de seu programa teatral era forma-
do de temas das mitologias grega e romana,
de fragmentos de fontes feneias, assrias e
egpcias - na verdade, de tudo o que havia
sido tratado pelos poetas trgicos desde
Homero e Hesodo.
Em tudo isso, o mimo e a pantomima eram
acompanhados - mesmo no perodo bizantino
primitivo - pelo trgieo, um solista que, cal-
ado com um alto coturno de madeira, tentava
alcanar o esplendor da antiga arte dramtica
com extravagantes solos deelamatrios. Lib-
nio, o sofista e orador do sculo IV, cujas v-
rias ocupaes o levaram a numerosas cidades
do Imprio Romano do Oriente, encontrou
esses trgicos em Antioquia, Atenas, Constan-
tinopla e Nicomdia.
A figura e a indumentria do trgico con-
tinha caractersticas que cvoeavam o Extremo
Oriente e outras que prenunciavam a Alta Ida-
de Mdia ocidental. Crisstomo fala das man-
gas exageradamente longas dos trgicos, por
meio das quais eles enfatizavam os movimen-
tos de seus braos e mos, e critica a vaidade
das damas, que no tiveram dvida em coloc-
Ias em moda.
Por trs da manga "dramtica" do trgico
bizantino vislumbramos imagens remotas, mas
sem dvida com ela aparentadas: a danarina
sassnida, a aristocrtica dama chinesa do pe-
rodo T'ang, as jovens estudantes do Jardim
das Peras e, no mbito da arte crist, a bailari-
na Salom, eptome de todos os vcios. Todas
essas imagens tinham o seu "jogo" baseado
no poder expressivo das longas mangas que
pendiam sobre as mos hbeis do ator.
Os monges dos scriptoria medievais de-
vem algo ao furioso desprezo que os Padres
da igreja bizantina vertiam sobre as sedutoras
artes das danarinas e mimos femininos: a vi-
vacidade eom que eram capazes de retratar a
pecadora Salom.
"Elas surgem com a cabea descoberta e
no se incomodam com o que deixam mos-
tra. Penteiam-se com a maior extravagncia
possvel, pintam o rosto, seus olhos brilham
de volpia." Assim eram descritas as mimas
do teatro bizantino, e como Salom dana
no Cdice Otomano de Aachen, do sculo X -
com os seios e braos nus, os cabelos louros
soltos at os joelhos.
"Elas brilham em ouro e prolas, e usam
os mais suntuosos trajes. Danam, riem e can-
tam com vozes doces, sedutoras", assim pros-
segue a descrio das mimas. Essa imagem
tambm foi preservada na dana de Salom
no Evangelho de Oto III, que est entre os te-
souros da catedral de Bamberg.
Crisstomo nunca esqueceu de realar
perante sua congregao, com insistncia sem-
pre renovada, o fato de que certa vez teve su-
cesso em resgatar das garras do demnio uma
dessas "filhas corruptas do homem", uma
mima que se exibia diante de todo mundo em
trajes excitantes e que havia arruinado a mais
de um rico e enganado a mais de um sbio ...
Essa predileo por danarinos e mimos, que
Crisstomo criticava furiosamente na impera-
triz Eudxia, levaria Justiniano a busear sua
consorte imperial na arena, cento e cinqenta
175
Bi z nc io
4. A Dana de Salom. Evangelh o do imperador 010 III (Munique. Staa tsbibliothck) .
rozes tais como lees e panteras, que satisfa-
ziam o desejo de sangue do pbli co.
A doc umentao pictrica desses jogos na
arena encontrada nos dpticos con sulares em
marfim, mu itos dos quai s esto conservado s.
A pr imeira amos tra remonta a 406 d.e. , e a
ltima, a 54 1, Eram um presente de Ano No vo
obrigatrio do cnsul a seus ami go s. indi-
vidua lme ntc aut ograf ado, como os bri nd es
anuais dos industriais modernos. O relevo fron-
tal mostra o doa dor em toda a glria de sua
nova dignidade , por exemplo co mei patron o
dos j ogos. Sent a-se num trono ricamente escul-
pido. lend o o ce tro na mo esquerda e o mappa ,
um pano bran co, na direita, com o qual dada a
largada das co mpet ies. Sob esse relevo apa-
rece sempre gravada uma cena teat ral, com ata-
res e animais. Atores, no traje da tragdia, com
mscaras e penteados altos ionkos r. grupo s de
comediantes e mi mos carecas testemunham
que os descendent es do teatro antigo tinham
seu qui nho no festivo programa circense.
Os pequenos e prtico s dpti cos de mar -
fi m, cuj a superfcie interior era recoberta co m
cer a e servia de tablete para escrit a, viaj aram
para to longe quanto os mimos. Um d pt ico
do c nsul Ar eobindo chegou Espanha, o nde
um entalhador do sculo IX tomou- o como
modelo para o fronti spcio da igrej a da vila de
San Miguel de Lill o. Desde ento, os olhos dos
fiis que entram nesta casa de Deus deparam-
se com uma cena do circo bizantino. Sob uma
figura primiti va e estilizada do c ns ul em seu
trono, que apenas ergue a mo para que os j o-
gos comecem, um acrobata se equilibra com
as mos sobre uma barra cm cuj a dire o um
leo salta, mas mantido preso por um ho-
mem brandindo um chicote,
O que ter ia impelid o o entalhador a esco-
lher es se motivo de origem to remota? E que
considera es poderiam ter levado o fundador
da igrej a a permi tir que ele o fizesse? Seria
uma ltima advert ncia congregao para que
dei xasse atrs de si todos os pen samentos
mundano s, para que pensasse em sua entrada
na igr ej a co mo uma libert ao da farsa terrena?
A art e romnica notvel pelo fato de que suas
muitas imagen s em pedra, da dana e da m -
sica, dos mimos e atores, resulta m da interpre-
tao do portal da igreja como um muro sepa-
rando o cu e a terra.
T E A T RO NA A RENA
Mi mos , pantomimos, ca ntores, danarin os
e trgicos part icipavam igual mente dos espe-
tculos do teat ro bizantino. ma s no eram seus
representantes primord iais. A principal atra-
o nos "deleites para os olhos e ou vidos" ofe-
reci dos no Hipdromo e nos anfitea tros do
Impr io consistia em combates de ani mais e
j ogos de gladia dores. es pecialmc nte nas festi -
vidades oficiais de Ano Novo, quc dur avam
muitos dia s. Seus orga nizadores eram os cn-
sules recm-eleitos, que preci savam ce lebra r
seu ingresso na funo de maneir a di spend iosa,
Esse j ,i era o costume em Roma, mas em Bizn-
cio. a cidadela do cerimonia l corteso, tais jo-
gos se transformaram numa aparatos a celebra-
o, cuj o curso era minu ciosamente defini do
pel a ordem imperial.
Uma das novellae dc Justi niano, escrita
em 536, expe a seqncia precisa das cer i-
mnias com que o novo cnsul deveria se apre-
sentar ao imperador e ao povo, desde a procis-
so ceri monial na cor te (proccs susi aos vrios
lu di circense s na are na. A a bert ura era a
"vcnatio domesticado" (au lame nto de ani-
mai s). j ogos de habilidades com animais en-
graados, no necessari ament e peri gosos. tais
como art istas c ursos perseguindo uns aos ou-
tros sobre uma barr a, atr s de grades mveis,
como num carrossel. Essas brin cadeir as avi-
vam a excitao da platia . Em seg uida vinham
as " vcnatio selvagens", lutas co m an imais fe-
anos mais tarde. Os encantos que Teodora ha-
via exibido com lanta liberal idade em seus dias
de mima foram meta morfoseados, qu ando
co nvert ida em imper atriz em qu al idades im-
periai s no menos es pantosas. Mas mesmo
Teodora no poderi a mudar o desprezo geral
por sua oc upao anterior. Co nfo rme estabe-
lece o C dice Teodosiano, os ateres foram in-
cl udos entre as persouae inhonest ae, aqu elas
que no possuam honra nem direitos, que
eram excl udas tant o dos direitos ci vis quanto
da salvao da Igreja. Aquele que se atreves-
se a desposar um mimo, ator ou ioculator; era
expulso da co munidade crist. So mente um
imp erador podia atrever-se a ignorar esse man-
damen to.
--
3. Mini atura com uma cena de Salom bailante. Retrato de uma mima bizantina. co m os cabelos soltos e o torso nu.
Evagelho do imperador Ot o, sc ulo X {Auche n, Tesouroda Catedral) .
177
o TEAT RO NA I GR EJ A
Apesar da deciso do imperador Teod sio
II . no Concl io de Ca rtago. de que lodos os
espet cul os teatr ai s deveri am ser proibidos nos
feriados sa nto s, a instrument ao da liturgia
dentro da pr pria Igreja Bi zantin a ganhou cad a
vez mais res son ncia.
O espl endor da liturgi a na Hagi a Sophia,
as aclamaes dram tica s, evocaes dos pro-
fetas e cantos antifona is, a riqueza co lorida das
vesti mentas ec lesi stica s. as proci sses so le-
nes - todos esses elementos procuravam, por
meios inteirament e teatrai s, satisfazer a neces-
sidade de esp etcu lo da massa.
A Ce lebrao da Pscoa, que cinco scu-
los mais tarde se tornou o embrio do drama
cristo da Igrej a. era em Bi znci o a ocas io de
um cerimoni al que. de uma igrej a a outra, ser -
penteava pel as ruas da cidade num cortejo so-
lene. Os hinos pascais Chri stus aneste, que os
cantores comeavam a cantar no plpito da
Hagi a Sop hia . era repet ido nas outras igr ej as:
a proci sso pe las rua s era encabeada pel o
mestre imperial de ce ri mo nias , que servia ao
mesmo tempo de entoa dor.
Desde o in cio . a litur gi a da Igrej a Orien-
tal assumiu um cartcr dr amtico. com suas
rec itae s alterna das. hinos cantados por um
solista e coros res po nde ntes . sermes dos di as
festivos e di logos intercalados. J, no sculo
IV. os grandes oradores fazi am de suas prdicus
um exer cci o da arte retri ca. Apli cavam as
regras dos oradores e dramaturgos gregos e de-
senvolviam sua exegese da Bb lia pel o uso do
dil ogo e uma intensa di al tica de prs e con -
tras em suas interpret aes.
A tradio de Biz ncio no signifi ca sim-
plesment e a conc e nt rada se re nidade dos
cones. Si gnifi ca tambm a riqueza narrativa
de um incsgot .ivcl tcsouro de lendas. cuja abun-
dncia se aproxima ape nas remotamente do
drama da pai xo da Bai xa Idade Mdi a, que
durava vr ios dias.
Os text os dialocudos dos sermes (homi -
lias) . que for am preservado s em diversos ma-
nuscritos, prin cipal mente de origem sria. con-
tm uma vas ta e flnre scnc ia de det alh e s
ep is dicos, sobre tudo re lacionados il Virgem
Mari a. Um desses manuscri tos conser vados,
uma "Glori fica o da Virge m Mari a" , fui es-
178
H st o ri u M 'un d i u l l/ O Fcu rro
cri to por um dos ltimos ucopl at ni cos signi-
fica tivos, o bi spo Procl o, que na sce u em Co ns-
tan tin opl a em 410 e foi educado em Atenas .
Os fragment os reunidos desse manuscrit o pro-
por ci on am o esquema de uma pea completa.
A um hino glorificando a virgi ndade da Me
de Deus segue- se uma conversa entre o Anjo
Gabriel e Maria. int errompida por um mon-
logo em que a Virgem expe su as dvidas, ter-
minando com a voz de Deus pr ocl amando o
mi st r io da Encarn ao.
Depoi s dessa representao do sobrenatu-
ralo vem um dilogo do mais cru naturalismo.
Jos acusa Ma ria de ter se comportado corno
uma prostituta e de o ha ver " trado co m um
ama nte" . Maria decl ara no ler possibilidade de
j ustificar-se. Prope a Jos qu e lei a os Profetas
para compree nder que ela receb eu sua criana
de Deus. Esse contras te entre o decret o divino c
a realidade terrena no poderia ser mais teatral.
O ciument o marido de cabel os brancos e
a suposta infi deli dad e de sua jovem es pos a
cons ti tua m uma receit a hem co mprova da de
s uce ss o, re tirada do repert ri o de tipos do
ntimus, qu e manteve a sua po pu lari dade por
sculos , at a representao do s mistrios da
Bai xa Idade Mdi a. O tema reaparece num
fra g mento de dilogo atr ibudo ao patri arca
Germano de Co nsta nti nopla (c. 634- 733 d.C,].
enc ontrado novament e num manuscrito co m
iluminuras de uma co le o de homili as do
monge Tiago de Kokkinobaphos, da primeira
metade do sc ulo XII. As imagen s desta cole-
o foram aceitas co mo provas do teatro reli-
gioso em Bi zncio mesmo por um crtico to
ctico quanto o cardeal Gi ovanni Mer cati , bi-
bliotecrio do Vatica no fal ecido em 1957. O
le ma surge outra vez. de forma qu ase idntica
do fragment o de Germano. numa eena da s
Covcntrv Plays inglesas do sc ulo XV: o l.udu s
Co vcntri ac (O Ret orno de J os ). Por tod a a
sua vivac idade ret ric a, 11 di l ogo teatral in-
cludo no servio da Igreja Bizantina no ca-
recia da di gn idade apropriada. Os epi sdios
livremente tratados estavam dent ro do padro
de esti lo ponderado de represent ao co ntem-
po r nea , co nforme nos faz cre r o manuscrit o
de Ti ago de Kokk inobaphos, do qu al se co n-
se rva m duas c pias .
por culpa dos icon ocl asta s que fa ltam
evi d nc ias pictri ca s do perodo pri mitivo do
,
s.
5. Relevo em marlim representando uma arena c cen as teatrais. Acima. cavalos co nduzidos por amazonas; abaixo.
cena de snimus (evidentemente urna pardi a da cura de um cego) e grup trgico. Deta lhe de um diptico consular de
Anastcio. Con staru iuopla. 517 d.C. I Paris. Cabine: dcs Mdai llcs ).
6. Relevo em ped ra no portal de Sun Miguel dcl
Lil lo. Espanha. s culo IX.
7. Relevo no obelisco de Teodsio no Hipdromo, Constantinopla: o imperador Teodsio, patrono dos jogos circenses,
entre seus dois filhos, Honrio e Arcdio. no camarote real. c. 390 d.e
X. Relevo cm marfim de umdptico consular: atol'
trgico com mscara removida, provavelmente depois
de recitar um monlogo de Medeia. c, 500 d.C. (So
Petcrxburgo, Ilennitage).
I i t dn ci o
teatro bizantino. Milhares de cones c manus-
critos com iluminuras foram perdidos como
resultado da destruio oficial de imagens na
poca do imperador Leo III, que simpatizava
com a civilizao rabe e com o Isl.
No se sabe at que ponto o movimento
iconoclasta (726-843) afetou a dramatizao
do Evangelho dentro da estrutura do servio
da Igreja. Durante esse perodo de crise, a pr-
pria Igreja esteve dividida, particularmente no
Conclio de Nicia em 787, entre icondulos e
iconoclastas. Ambos os grupos se justificavam
a partir de argumentos bblicos e da tradio.
J em 370, So Baslio, o Grande, sbio pre-
gador e bispo de Cesaria, havia dito que o
respeito demonstrado pelo fiel imagem no
se referia obra das mos humanas, mas quilo
que ela representava - a imagem primordial
tcikon, o cone). So Teodoro, o Erudito, de-
clarara que "se o sobrenatural no pode tam-
hm se tornar visvel ao olho dos sentidos, pela
representao pictrica, ento ele permanece
escondido para o olho do esprito".
Ao lado da imagem pintada, essa declara-
o justifica a imagem viva, isto , a represen-
tao teatral da histria sagrada, indicando o
que a Igreja em Bizncio j considerava tarefa
do teatro cristo: ser urna Biblict Paupcruni
(Bblia dos Pohres) viva, exatamente como as
grandes sries de afrcscos c miniaturas medie-
vais viriam a s-lo.
Mas para a cristandade do Ocidente no
sculo X esse sentimento pela imagem viva do
espetculo teatral era ainda estranho, a julgar
por um dos mais perspicazes observadores do
teatro hizantino, o arcebispo Liutprando de
Cremona, que veio a Constantinopla como
enviado de Oto I e registrou suas impresses
em dois relatos. Em 949, ele testemunhou com
assombro e desprazer duas representaes na
Hagia Sophia, que culminavam com a subida
do profeta Elias ao cu.
A ascenso de Elias na carruagem de fogo
um tema comum nas pinturas murais bizan-
tinas, executadas com grande imajrinao e ri-
queza de colorido. O fato de Liutprando ter
assistido a sua representao teatral prova a
persistncia dos sermes dramticos dos pri-
mitivos hizantinos, relativos aos Profetas, e su-
gere tamhm que os inventos tcnicos do tea-
tro da Anngidade, tais como os guindastes e
as chamadas mquinas voadoras, no haviam
sido inteiramente esquecidos em Bizncio.
o TEATRO NA CORTE
Dezenove anos mais tarde, em 968,
Liutprando de Cremona escreveu sobre sua se-
gunda visita a Constantinopla. Esse segundo
registro trata dos espetculos teatrais que ocor-
riam na corte em ocasies festivas. Em 7 de
junho de 968, o imperador ofereceu um gran-
de banquete oficial. A refeio foi seguida por
nmeros de dana e acrobacias c por um es-
petculo aguardado com especial interesse:
homens usando mscaras terrveis e vestidos
com peles de animais representaram o cha-
mado gotliikon, um tipo de pantomima cul-
tual, acompanhada de gestos selvagens e gritos
brbaros.
A descrio de Liutprando corresponde ao
enigmtico "Auto Gtico de Natal", que in-
cludo pelo imperador Constantino Porfirog-
nito (912-959) no LiI"J"O das Cerunnias, entre
os espetculos que se organizavam em home-
nagem ao nascimento de Cristo. Somente a
data da representao diferente: Liutprando
assistiu ao gotlukon cm junho. Como ao ban-
quete estiveram prescntes muitos outros convi-
dados dc pases que mantinham relaes amis-
tosas com Bizncio - e, na verdade, Liutprando
se queixa de seu lugar mesa -r-, parece natural
que o imperador tenha querido honrar ocasio
to especial com uma diverso especial.
Os ateres do gotliikon eram soldados da
Guarda Gtica de Constantinopla, composta
por sete mil homens. que estavam a servio
particular do imperador. Tais atores eram es-
colhidos pelas delegaes dos "Verdes" e dos
"Azuis", as duas celebradas e famosas faces
do circo. Usando mscaras e peles de animais,
os homens entravam em cena aos pares, cor-
rendo. Gritando "TuII, TuI!''' golpeavam os
escudos com suas lanas. Depois de entoar
diversos cnticos para celebrar a data, com os
"Azuis" it esquerda e os "Verdes" direita,
num semicrculo, e depois da ex altuco de
Ezequias, quc na guerra contra os assrios de-
positara toda a sua confiana em Deus. ven-
cendo aSSil11 os pagos, () imperador era ho-
menageado como benfeitor da humanidade e
181
defensor do imprio . Ao final. os doi s ha n-
dos, "Az uis" e " Ve rdes " , cada qual co m se us
rud es godos, saam danando do sal o pel as
duas portas opo stas.
Essa curiosa representao parece dever
muito s prt icas nat alinas e danas cu!tuai s
de guerra dos povos germ nicos e aos cost u-
mes de Ano Novo dos var angos. Se a int erpre -
tao est correta e o text o de ori gem gtic a,
subse q entemente latinizada, co m inse rtos
greco-cr istos no estilo das cerimnias da corte
bi zantina s, o gotliikon provavelment e ma is
uma prova da mescla de elementos pagos e
cristos , que pod e se r repetidamente observa -
da no teat ro primi tivo do Ocidente.
Assim, ningum poderia conside rar uma
profanao indecente a associao de costumes
festivos de ca rter religi oso e circense em lu-
gares sag rados. Na escadaria da Hagi a Sophia
em Kev, que Iaroslav, o Sbio, comeo u a
construir em 1037, h uma srie de afre scos
que nos d uma demonstrao pict ri ca da es -
sncia do teatro bizantino. O imperador e a im -
peratriz so retratados co mo espectadores do s
circenses , no Hi pdromo. Acrobatas exibem
suas habili dades; uma or ques tra, entre cujos
membros h uma mulher, aco mpanha a da na
de alguns pe rsonagen s pou co vestidos; um
grupo de mimos ag uarda sua entrada em cena.
No teta abob adado da esca daria de Kev
esto postados guerrei ros armados encara nd o
uns aos outros. Algun s de les usam m scaras
de pssaros. Um dos homens empunha um es -
cudo e um ma chado , ar mas dos varango s, a
respeit o dos quai s o Livro das Cerim nias co-
ment a que " na sua lngua matern a desejam-se
mutu ament e vida lon ga . cruza ndo seus macha-
dos ao di z-lo" . Aqui exi ste um paralelo b-
vio com o gothikon, hipt ese mui to sedutora
para a histri a do teatro, embora quest ionada
por algu ns erudi tos. No h dvida. entreta n-
to, de que os afrescos de Kev fornecem evi -
dncias signifi cativas de repre sent aes teatrai s
na Igrej a do Oriente.
O cerimonial da corte era uma demon s-
trao do poder e da exclusividade do impera-
dor: urna cor t ina ve rmelha parti a- se para
revel-l o sentado num trono como numa ce na
teatral e o curso do ceri mo nial rendendo-l he
182
Hs t ri u J\l l fl / '/ j ll / do Te at ro.
vassalagem eram to rigorosame nt e regulados
qu ant o os rituais litr gi cos e m honra de Deu s.
A tradi o do rei no divin o. der ivad a do Egit o
e do antigo Oriente, encont ro u sua ltima gran-
de glor ificao no ce rimonial da co rte de Bi -
z nc io. O alteado tron o do so be rano sec ular
estabe lece u o model o par a o altar cristo que.
"em sua locali zao es pacia l. sua significao
no culto e seu sobrec u com o cibrio corres-
ponde ao tron o imper ial" (O . Tr eitinger ).
O fato de os mimos e ate res que exi bia m
suas ar tes diant e do imper ador devessem ser
tod os sem cxceo co nde nados pel a igrej a re-
ve la uma falt a de co nsis tncia lgi ca . O escri -
tor Zonaras empe nhou- se e m corrigir essa in-
co ngru ncia. Em sua interpretao do quadra-
gsi mo quint o cnon do Conc l io de Cartago,
que condenava igual men te todos os artistas e
"amantes do teatr o" , ele ex plicou que era pre-
ciso traar uma dis tino entre atores, que re-
presentavam di ant e de personalidades impe-
riais e desfrut avam de todos os direitos civis. e
os "desrespeit osos hufes que se metiam em
bri ga s nos fest ivai s campestres" .
Em Cons tantinopl a , s ua c idade nat al .
Zonaras foi um imp ort ante oficial da co rte e
do Estado no rein ad o do imperador Al xio I
Co mne no. Quando e sc re ve u sua defesa dos
atores da corte, no podi a sus pe itar qu e seu
prprio se nhor imper ial iria trans forma r-se em
alvo de co median tes ti ulicos - na corte dos
scl d jcidas, em Konia. Neste caso. tal vez tivcs-
se revogado sua boa opi ni o. Por m. quando a
fi lha do imperador. Anua Co mnena. come ntou
o incident e na Alcxiada. Zo naras estava entre-
gue co mposio de seu prprio Chronicon.
Num primeiro perodo e m Bi z nci o, ima-
ge ns e est t ua s de mimos e ram erigida s em
praas e ed ifcios pbl icos . Co mo result ado
desse cos tume, inclu iu-se um a passagem no
Cdice Teod osiano, det erminand o que monu-
mentos ao s mi mos fosse m permitidos somente
no teatro e no em locais onde se erguessem
esttuas de homen s pb licos. Porm, apesar
dessa proibio. pla cas de m rmore e frag -
mentos encontrados sugere m qu e os monu-
mentos de imp erad or e s. c nsules c comedian-
te s freq iient em ent e desfrut avam de harmonio-
so conv vio.
9. Pintura mural na escadaria da l lagia So phia. em Kie v: mimos. mu... il'os c acrobatas . Meta de do s cu lo XI.
lO. Det alhe do l l 'l o na esc adaria da Hagia Sophia. cm Kiev: homem segurando UIU;1 1:1I1I.;a . co m a cabea cobe rta por
uma lII:",.:ar ;t de p. uo. l O ~ l I c-rrei ro cu ru escudo 1.. " machad o. Met ad e du s cu lo XI.
~ ..
A Idade Mdia
INTRODUO
o teatro da Idade Mdia to colorido,
variado e cheio de vida e contrastes quanto os
sculos que acompanha. Dialoga com Deus e
o diabo, apia seu paraso sobre quatro singe-
los pilares e move todo o universo com um
simples molinete. Carrega a herana da Anti-
gidade na bagagem como vitico, tem o
mimo como companheiro e traz nos ps um
rebrilho do ouro bizantino. Provocou e igno-
rou as proibies da Igreja e atingiu seu es-
plendor sob os arcos abobadados dessa mes-
ma Igreja.
Assim como a Idade Mdia no foi mais
"escura" do que qualquer outra poca, tampou-
co seu teatro foi cinzento e montono. Mas
suas formas de expresso no foram as mes-
mas da Antigidade e, pelos padres desta,
foram "no clssicas". Sua dinmica desafiou
a disciplina das propores harmoniosas e pre-
feriu a exuberncia completa. por isso que o
teatro medieval to difcil de ser estudado, e
por isso que freqentemente ocupa um lugar
inferior no certame das formas rivais do teatro
mundial.
A cristianizao da Europa Ocidental cul-
tivara florestas e almas. Elementos do "teatro
primitivo" sobreviventes nos costumes popu-
lares, o instinto congnito da representao e
a fora no secularizada da nova f combina-
ram-se, perto do final do milnio. para conju-
gar os vestgios esparsos do teatro europeu
numa nova forma de arte: a representao nas
igrejas. Seu ponto de partida foi o servio di-
vino das duas mais importantes festas crists,
a Pscoa e o Natal. O altar tornou-se o cenrio
do drama. O coro, o transepto e o cruzeiro
emolduravam a pea litrgica a expandir-se
cada vez mais e devolviam o eco das antfonas
solenes provenientes das alturas imaginrias
s quais se dirigiam.
Fizeram-se necessrios cinco sculos para
que a cerimnia pascal da adorao da cruz
levasse aos mistrios da Paixo, estendendo-
se por muitos dias, e para que as "boas novas"
anunciadas aos pastores se desenvolvessem nos
ciclos do Natal e dos Profetas com seus nu-
merosos elencos. Durante esses sculos, a
Ecclesia triunphatis estendeu sua autoridade
para alm da casa de Deus, projetando-a para
as cidades e aldeias, e analogamente a repre-
sentao litrgica saiu do espao eclesial dian-
te do portal para o ptio da igreja e a praa do
mercado. O teatro somente ganhou em cores e
originalidade ao ser assim colocado no meio
da vida cotidiana.
Em locais especialmente preparados, er-
guiam-se plataformas e tablados de madeira,
tublcaux vivants eram carregados em procis-
ses e encenados em estaes predetermina-
das. Enquanto os cidados atenienses abasta-
dos e os ambiciosos cnsules romanos haviam
competido pela honra de financiar espctcu-
los teatrais, na comunidade do tardo Medievo
seu lugar foi ocupado pelos grmios e corpo-
raes. Ao lado do Evangelho. descobriram e
cxploraram as incsgouive is reservas do mimo.
da arte do ato r cm todas as snas potencia lidades
- o Carnava l t Fasnnutnsspicl) e a
o ca mponesa. a farsa. a sollil' . a alegor ia e a
mor al idade. O proble ma arts tico do teatro
medieval. co nforme di sse uma vez o fil logo
e historiador alemo Karl Vossler, no foi o
confl ito trgico entre Deu s e o mundo, mas
antes a submisso do mundo a Deus.
.. uma ' "U qu e o mundo
seguro em (er mo dl." igreja. C'1c (o probl ema] se dcvlocou
mai s c mai... pala a -,to da comp.ui hil idadc formal
" JUre o L"utcr cclcvui..... \:Il. I IIU ; l ll' da ;t\:;:i n pr in -
cipa l e acrscimos c intcrt udios profanos. Por todo omun-
do ocideural. a h l"l ll ri ... ii;. I'cpn"" 'lIla5o rl'li,gio... a ;1de-
1I11W prllgressi' ";1 dl';l Jllall /;It.;;h\ tL-atnl dtl Sac r: III1I' 1l10 .
Assim. como resultado. o palco divr u'ciou. vc Lu clemen-
to di vino c tomou.ce iruc-ir.uu cnt c tcncnul .- quer
caminho levasse, corno 11;1 .il ia. d unta rc.... uh..une lrica c
melodram ticn. LHL COIllO l1a Expunha. a uma de curtcr
nacionali... l a c rniluar. ou ainda. L'01l1(l na lrnna. n UIll :1
ulcgoria didiiti cu ou a UII !:\ divcrxo anedti ca . Em todu
part e, u cvot u o tcnu iuu com Ull I c:-.pe!:kul u :l11 11' h1.
1'..11.; 0 ...0 e: de al cil1ll"l.' <ufici cnte jldl'a cu catupar Ioda ;, ri-
qll (' /a (h, ... inl t'T t:''' '-I. ... e jl lt( ICUp a,t ... do 1111111(10 .
R EP RES EKT..\ ES RELI GI OSAS
Cel ebra6c s Cni ca s no A l i ar
Nas tardes de s.ibado . a Igr ej a do Santo
Se pulc ro em Jerusalm o ce n.i rio de uni cs-
pet culo nico l' inesqu ec vel: a ado rao ao
Senhor em co rais da s mais di versas lnguas,
O visitante encontra r a Ivl issa Maior . a Di -
vina Li turgia e a proci sso; ver os francis-
ca nos em seus h bitos marrom -escuros cam i-
nhand o da Capela da Apario ao Ca tholicon.
escu tar" crescendo do K\Ti (' dos armnios.
que avan<;am pela Rotunda at que seu canto
se extinga nas profundezas da Capela Hel ena.
E o forte odo r de incenso qu e sobe das ab-
badas mi stura-se com os c nti cos de rogao
que os fi i s ortodoxos gregos e cat licos ro-
manos ento avam na elevada Capela do Cal-
vr io.
A Igr ej a do Sant o Sepu lcro, o iocal cris-
to mais sagrado da Terr a Sa nta. test emu nha a
opulncia e a "a rieda de da Cristandade. mas
tambm sua divi s. Por mil e quin hcnt o-,anos.
lfi6
H is t o rin /1, / 1111(/; (1/ <1(1 T v u rro
conll itos e guerras ca mpeanun ao redor do edi-
fci o co ns trudo sob re o G lgo tu. Aq ui. na Igre -
j a do Santo Sepulcro, cm Jerusalm. as raz es
da f crist aprofundam-se a i': os eve ntos his-
t ricos sob Pncio Pilatos. Aqui, no sculo IV.
a Ado ratio Crucis foi celeb rada pel a primeira
vez - a ado rao pascal da cru z. que sei s sc u-
los mai s tard e se torna ria o germe da repre-
sentao crist na igrej a ,
So b a cpula dessa igrej a , ergui da orig i-
nalmente por Constanti no, o e nta rde cer par ece
co locar doi s mil nios tan gi velmcnte ao alc an-
ce do es pec tado r, por mei o da fundao co-
mum da f c da var ied ad e de se u ritual. O ci s-
ma e ntre a Igrej a Oriental e a Igrej a Lati na,
qu e selou a decad ncia de Bi z nc io e que , ape-
sa r dos muitos es foro s de re concil iao, ain-
da complica a situao legal da Igreja do San-
to Sepulcro, tambm fez co m que as represen-
taes religiosas do inci o da Idade Mdia se
desenvolvessem em du as linhas distintas.
A partir da metad e do primeiro milnio,
houve um impul so percept vel para en corajar
as pl usmaes c nic as das a nt fo nas litrgica s
na Igrej a Bi zantina, o qu al no e ncontro u. no
e ntanto, resposta signifi c.uiva nos pascs bal c -
ni c os . Tai s co nfig ur ;",;C>e s inf'l ucnc ia ram, na
ve rdade. detalhes do processo que levou . nas
igrejas, da cerimni a pura ment e c ultua l ao de-
se nvolvimento da rep rese nt ao dram tica -
ma s ist o ocorreu quando a prpria Igr ej a Lati-
na j havia dado um pa sso co nsider.ive l nesse
sentido, e o proc esso veri fico u-se qu ase simul-
ta neame nte em todo o mundo cat lico roma -
no d ur ant e os sculos IX e X,
O ponto de partida e ra a celebrao da
P scoa, a reproduo em aros da c ruc ificao
e da Ressu rrei o e. orde na da no s termos da
g ra nde significao atempora l de todo s os cul-
tos rel igi osos. a vi tria da luz d ivina sobre os
pode res da s treva s, Qua nto mai s proeminn-
cia a cruz ganhava no c no n dos smbolos re-
ligiosos, tanto mai s e nfatica me nte devia tor-
nar-se visvel par a os fi i o at o da redeno
do qual era ela o instrument o.
A scqncin da ad ora o pa scal da cruz
ac o mpanhava (J S passos da Pai xo. Depois da
Adoratio Crucis, na manh da Sexta-Feira San-
la, segue-se , tarde, a Dcposi tio Crucis, a co -
hlca, o da cruz coberta sobre o ali ar. Os sinos
perman ecem em silncio at a manh de P s-
J. As Trs Mar ias visiuuu o nunu !o do Senhor no Dom ingo de Pscoa e so recebidas pelo Anjo . A esquerd a. os
guardas adorme c idos. Min iatura do Hcncdictionul de Se Et hcl wold. Esco la de Wiuc hcstcr, C. 970 (Colco do Duque de
Dcvon sbire I
2_Cena ao ar livre da visitosio. com o Se pulcro cir-
cundado por um muro. Miniatura. Escola de SI. Gall.
sculo X (Basil ia. Biblioteca da Universidade).
3. Dilogo de Pscoa entre as trs Marias c o Anjo .
Miniatura de um Psa ter um Nocturruun sitcs iano. c.
1240 ( Bre xluu. Staa tvhib fiothc k).
Ao I d a d e Al d i a
coa. A El evatio Cri/ei s, a el evao da cruz,
anuncia a todos a Ressurreio.
O uso do simbolismo da cruz remont a ao
sculo VIII . Durante o sc ulo IX, o seu largo
emprego trou xe a primeira interpretao gr-
fica da hist ri a do Evangelho, Quase ao mes-
mo tempo, a liturgia se expand iu. Seq ncias
adiciona is em latim foram inseridas nas parti-
turas musicai s e poticas das matinas pascais,
atribu das com certeza ao monge de So Galo,
Notker Balbulo, o Gago (840-9 12). Seu ami-
go, o monge Tutilo (c. 850-915), deu um pas-
so alm e inseriu dilogos em prosa na liturgia
da Mi ssa. Os chamados t ropos so can tos
antifonais que conduzem ao hino da Ressur -
reio.
As primeir as testemunhas bblicas da Res-
surreio so as trs Marias, na manh de Ps-
coa (Visilario Sepulchriy. Elas se pem a ca-
minho com uma angustiant e pergunta: "Quem
mover a pedra do sepulc ro para ns?" Mas o
sepulcro est abert o. Um anjo acha-se sentado
sobre o sarcfago vazio, que cont m apenas
os leni s de linho branco, e decorre o seguinte
dilogo entre o anj o e as mulheres alar madas:
Q II (, III quae ritis in scpulclr m , " cnistco luc?
Jesum Naturenum crucifixum. n coclicocu-.
NO/r est luc. surrexit. .eicut prucdixcrat,
I IC, nun tiatr, qui" snr resit di' sepochro.
[A 4ucm buscai s no sepulcro, c rist os?
Jesus de: Nazar crucificado. (', cehcola...
NJ o est aqui. rcssucitou. COlllO ti nha predi to.
Ide . anu nci ai que res.... u.... l.:iI OU do sc pul c ro . ]
(Trad. Paulo Srgio de Vasconcellos)
Esta antiga forma de tropa de Pscoa en-
contra-se num manuscrito de So Ga lo, de 950,
em conexo imediata com os trapos de Tutil o
e co m a verso de Limoges, na Frana, do ser-
vio pa scal.
Embor a seja muit o fcil traar uma linha
de ligao de So Galo, um mosteiro aberto
ao mundo e empenhado em um vivo int ercm-
bio cultural, com o ritual da mi ssa dialogada
da Igreja Oriental , digamos, com o Christus
aneste da proci sso da segunda-feira da Ps-
coa bizantina, ainda assim, preci samente na
liturgi a pascal , aparece m influnci as inequ -
vocas do Norte. A Rcgularis Concordia, escri -
ta por volta de 970 por Etelvoldo, bi spo de
\Vinchcster, demonstra essas infl uncias. Essa
obra contm inst rue s precisas sobre a repre-
sentao dram tica da Visitatio Sepulchri e
most ra que, cxatamente em meio s noites ne-
bulosas e tristes da Inglaterr a e da Irland a, a
nfase mi ssionria na luz e na salvao foi das
mais fortes.
A Regul aris Concordia de Winchester, que
remont a ao sc ulo VII e um dos pilares mais
antigos da Igrej a anglo-sax, tambm - no
sentido estr ito da histri a do teatro - o primei-
ro exempl o de "dire o teatral" para a repre-
sentao medi eval na Igreja, muito embora no
v alm da solenidade cerimonial da celeb ra-
o litrgica. A hor a e o lugar a das marinas
do domingo de Pscoa e o altar represent a o
Santo Sepulc ro.
"D um tertia recitatur lectio, quatorfratres
induant se.,;" - dessa forma que come am as
instrues cnicas de Winchester. O texto co m-
pleto traduzido diz:
Enquanto se reci ta a terceira leitura. quatro irmo...
devero prep ara r-se. Um de les deve vestir lima alva s:diri -
gir-se cm segredo ao lugar do sepulcro. onde perman ecer
sentado em s ncio ('OIH uma palma nas mos. Qua ndo o
terceiro respons rio for cantado. os out ros tr s ava na -
ro at O local do sepulcro. vestidos com mantos c 1'01' -
tando runbulos co m ince nso. ca minhando vagaros.uncn -
te <.:UIIIO quem procura alguma coisa. V- se qu e cs va
uma imitao das mul heres que chegam com especiarias
para ungi r o corp o de Jesus. Quando em seguida u irmo
sentado ju nto ao sepulcro. que represen ta o anj o. v os
trs se ap roximand o. co mo que vagando procura de
alpo. de ve comear a cantar num a voz mod ulada c doce :
QII(, III qnan-tis, Ao fi nal, os trs res ponde ro cru un is- o-
no: l lustun Naturcsnnn, () alijo lhes repl ica: , ~ ' . / ( l 1 1 C.\ / hc:
.<; II ' ''-C_, ;I svu t prucdixcrut, I re IItIllIlIl' lf ll i ll ."lII"'t ' X; 1 II
1110 1'111;"'. A esse comando. o.... trs devero voltar-se para Il
coro. cantando : A etuio: ressurcv t dosuinus. Depo is di s-
so. o anj o que perma neceu 110 sepulcro os chamar til."
volta. e ntoand o a uunfona \ b rilc et vodetc locum, e ao
soar dessas palavras ele se leva nta. remove o vu c lhes
mostra que no lugar da cruz cobert a restar..m ape ll;' ''' o...
vus que a envolviam. Depoi s de: ter visto is....o. t .... l n1. ,
devem depositar os lnccnvrios no sepulcro. tomar o su-
drio c estend -lo diant e do coro para mostrar 4ue n S<.' -
nhor ressuscit ou c q ue no mais est envol vido por ele. c
ento devem comea r a cantar a antifoua Surrcxt doniinns
de sepulcluo. dep ositando os vus mortu nos so bre ;I S
toalha s dr: linho do altar. Quando 3 antffoua tcrrni nur, o
Prior iniciuni (l hino Ti ' IklOlI l.audcnnus. regozij aIH.l\) o
tr iunfo do Nos:-.o Senhor por ter vencido a morte c rv... -
suscitado. Quando n hino co mear. todos os sinos deve -
ro ser tocados*.
~ , Hard in Cra ig, /:'lIg/i.,h Religi ous otthr It/i tl lt ,
A g I' .\". O xfor d. 1' )5 5. p. I Li _
18<)
4, Pedro e Joo no Sepulcro: Mari a Madalena observa po r detr s da coli na. Min iatura
do evangcl irio do impe rador Oto , sculo X (Aachen, Teso uro da Catedral ).
5. Co rrida dos disc pu los ao Sep ulcro, Pedro ~ frente . Min iatura de um Livro de Pcr icopes. Clm. 157 13_ Escola de
Regenshur g, l'. 1130 (M unique, Staatsbiblioihck).
dessa forma qu c a Regularis Concordia
estabeleceu o padr o b sico da dramatizao
latina da celebrao da P scoa pam o conj un-
to do mundo oc ide ntal. O Te Deum L mll/llIII/1S,
um dos mais antigos hinos corais, ainda hoje
cantado em todas as igrej as crists. Era origi-
nariament e chamado "hino ambros iano" e
atrihudo a Sa nto Ambr sio, mas provvel
que tenh a sido escrito por Nic etas de Trier por
volta de 535. Por todos os pa ses e em todas as
poc as, o Te Deum entoado em coro consti-
tuiu a conclu so de toda s as celebraes da
Pscoa que prol i fer ar am a partir da visi tatio
original.
Os acr scimos subse q cntes represcn-
rao c nica seguiam estritamente u texto dos
Evangelh os. Ped ro e Joo. tend o ouvido as
boa s nuvas da s mulh eres que retorna m. cor-
rem ao sepul cro. A for a simb lica da ao
no de maneira alguma diminuda por essa
"corrida ao tmulo" , precon izando os primei-
ros elementos grotescus do espetculo teatral.
Pedro, o mai s velho dos dois di sc pulos, man-
ca e ofega at rs de Joo . Mas Joo, logica-
mente. o deixa entra r primeiro no sepulcro.
Gestos amplos, comp ree ns ve is para todos. in-
terpretam o texto solenemente cantado. Aqui
temos a primei ra ce na de pan tomima na igrej a
- es pec ialme nte qu ando o coro canta as ant -
fonas. como mostra o c dice de So Bls de
Brunswick. do sculo XII. e os dois apstolos
entoa m Eccc lintcamina at que os vus de li-
nho lhes sej am revelados.
Enquanto isso, as trs mulheres saam de
cen a. exe cro qu and o lhes era per mitido per-
manecer por perto e assistir corrida por de-
trs do sepulcro. co nforme nos mostra uma mi -
niatura de um manu scrito otoniano de Aachen.
da tadu do sculo X.
Possi bili dades bem maiores de enr ique -
ci me nto c nico for am ofereci das pela cena do
Mercator , introduzi da pel a primei ra vez por
volta de 1100. De acordo com So Marcos,
Maria Madalena, Maria Salom. me de Tiago.
e Maria Cleofas havi am co mprado doces fra-
grncias a caminho do se pulcro. e esta afir-
mao abriu a pori a par a um dos caracteres
fixo s tradi ci onais do teatro popular: o Merca-
IO r - bot icr io. cura nde iro . mc dicastro e pi lu-
leiro do burlesco e do mimo. N;1o foi preci so
invent -lo. ma s simplesme nte introduzi-lo na
pea. Ele abor da as mulheres a caminho do
sepulc ro e lhes oferece se us produtos com
muita ges ticulao. Uma mesa co m uma ba-
lan a, caixas de perfu mes c potes de ungen-
tos marcam o cenrio desse pr imei ro interl diu
"munda no" .
No incio do sc ulo XI, o iluminador do
Evangelho de Uta, em Regen sburgo. conside-
rou a cena da co mpra dos perfumes bast ante
importante para retrat-Ia num medalho or-
namental do Evange lho de S;1o Marcus. Nas
esculturas das catedrais fra ncesas de Beau caire
e Si-Gilles. o boticri o aparece ao lado de sua
es pos a. Mas havia ai nda um lon go caminho a
percorrer at a pilhr ia de slavada que e nvol-
veri a a compra dos perfumes nas Paixes pos-
ter iores. O Mercator do Sepulcro Pascal em
Constan a no sugere nada ne sse sentido.
Usando o capuz dos eruditos e portando sua
lent e de aumento, mantm os olhos baixos e
silenci osamente tritura us ingredientes de seus
un guentos em seu almofariz de botic rio. Se
esse honrado Hipcr ates tive sse alguma fala.
esta s poderi a ser cm solene c pausado latim.
Um texto de Praga do sc ulo XIII de fato lhe
concede algumas linhas:
1 )0 " (1 vol -is II H t:Ill 'lIia f ll,lima .
vo vau wi-: 111I.l:/Il'l"I' vul neru,
.\ ('/ ,ul llt rtli' eilt\ ati 11l.'II UlI"iO Ill
I ' i not nini ciuv ad gloriam.
Io ~ melhore... ungi.k l1ro -, lhcs dare i.
p;lra ung ir :I " ft:rid;h do Sal vador.
crn memria de Seu sl ' 11ul l :ll m : nto
C para a glri:, do Seu nomc. ]
o salto at a cena do mer cador de Erlau,
do sc ulo XV, enorme . Nela, Medicu s ainda
d iscursa num mal fal ado lat im, mas, apoiado
por sua esposa Medica e se us assi stentes Rubin
e Pusterhalk. solta uma enxur rada de invecti-
vas . que dei xam as trs Mari as atnitas. Nada
poderia ser mais si nce ro do qu e sua ameaa
de que deveriam parar de chorar e se recom-
por. seno "vou lhes dar uma no nariz". No
final. o prprio Mcdi cus comea a quest ionar
se ele e seu s companheiros no teriam ido lon-
ge demais. e volta-se. apologti co, para o p-
bl ico. ' T alvez os tenh am os ab orrecido com
nossa gritaria", ele suge re, e an uncia que vai
retir ar- se e dei xar qUL' as Marias sig am seu
caminho.
1'11
6. As trs Marias comprando hls;1I110S_ esq ue rda . o botic rio c sua mu lher. Pi,gur as da fr isa do transcpt o norte da
Notrc- Daruc-dcs- Ponilers em Beaucaire, scul o XII.
7. O merc-ador de blcnnos co mo e rud ito. co m (1 pil o
de hoti l. :a c ti lupa . l-ieura da frisa den tr o (lo Sa nt o Sc pul-
cm na Cape la UI. ' SolO Maur cio, tut cdru l de Couvt ncia.
c. 12:-\ 0 ,
x. Duas Marias lia I.: ompra de b.dsaru os. r\ mais amiga
rq m.'se nla,;lo c xi-t vnr e tlL-ss a ce na tea tral cm ilustr ao
de livro. t 111I mc clalbo da pgilla ornam enta l do Evunge-
lho de So Marcos. no Evan gel ho da Ahndcssa 1ltn de
c- ( M u ni q ue . Sta.us bihliothck).
Os anjos gritam o seu "si letci", e a pri-
meira das trs Mari as ent oa o " Hcu Nobis" em
latim. O tosco interldio do Mercat or vai dan-
do lugar aos lament os solenemente recitados.
parte em alemo e parte em latim.
Ma s o Mcrcat or, [unt umentc com sua es-
posa e assistentes, no tem direito salvao.
Bertoldo de Regensburgo condenou-os cate-
goricamente em seus sermes no sculo XIII:
at mesmo os nome s de seus assistentes, Pus-
terbalk e Lasterbalk, eram traioeiros e repul -
sivos o suficiente, dois nomes de demni os que
os bon s cristos costumavam atribuir aos ata-
res. Essa aguda ce nsura resid e num fat o da
hist ria do teatro . O vendedor de ungent os e
sua parentela palradora e abusada foram os pri-
meiros a falar novamente com a voz do mimo
imortal. Quando, dessa forma, o mimo voltou
de novo vida. teve necessari amente de faz-
lo em latim, mas isso o ligou tant o mais a seus
antigos prede cessores.
As 224 dramatizaes pert encente s ao ser-
vio pascal , recolhidas por toda a Euro pa e
publicada s por Carl Lauge em 18X7, provam
o quant o o desenvol viment o da litur gia, no que
diz respeit o representao dra m tica, foi
uni versal no conjunto do Ocident e.
O dilogo do "quem quaeri tis" ent re o anjo
e as Maria s podia ser ouvido no Domingo de
Pscoa em So Galo e em Viena, em Estras-
hurgo e em Praga, no mon ast rio italiano de
Sutri e em Pdua, na Catedral de Litchfield na
Inglaterra, no mosteiro espa nhol de Silos. em
Linkping na Sucia e sob os arcos gticos da
Catedral de Cra cvia .
A corrid a dos apstol os ao sepulcro. se-
gundo se sabe, nos tran smiti da pel os regis-
tros do monastri o de So Marci al em Limo-
ges, em Zurique e em So Galo, no mona st rio
de So Floriano na ustria. em Helrnstcdt , no
norte da Alemanha. e tambm em Dublin. De
Dublin, existe inc lus ive uma descrio de
como os aps tolos deveriam es tar paramcn-
tados: descal os, vestidos e m "albis sine
paruris cum tunicis", Joo usando uma tnica
branca e carregando uma palm a. e Pedro, uma
vermelha, segurando as chaves do Para so.
A cena em si co rres ponde exaramcnrc s
regras estabe lecidas nos manu ais de pintura da
Igr ej a bizantina como guias para os pintores
de cones. O mais famo so deles. o livro do
194
H st r u M ll1ul i a / d o Fr u t ro
monge-pintor Dionysos do Mont e Atos , for -
nece as seg uintes instrues para a "cor rida
tumba" : "Pedro permanece incl inado dentro
da tumba e toca o sud rio. Joo es t do lado
de fora e assi ste a tudo, ut nit o. Maria Mada-
lena permanece ao seu lado. ch orando" . Essa
a descri o da cena teatral. Bi zncio codifi-
cou a representao, que o mini aturista do
cdice otoniano de Aachen ha via antecipado
ci nco sculos antes (ver ilustraes pgina 190).
A questo da relao entre as art es visuai s
e o teatro na Idade Mdia to fascinante quan-
to co ntrovertida. Desde que Emil e M le pro-
ps, em 1904 , a audaciosa hip t ese de que te-
ria havido "uma renovao da arte por meio
da represent ao dos mistr ios" , seguiu-se uma
srie ininterrupta de observaes e m part e co n-
co rda ntes e em parte di scordantes. Es tudiosos
es pecialistas no perodo bizantino as sentaram
marcos confiveis. Eles mostraram hav er uma
concordncia comprovvel entre a j ovialida-
de narrat iva dos testemunhos textu ai s e os re-
gistros pict ricos subsistentes. e levaram em
co nside rao infl uncias teatrai s. Relaes si-
milares pode m ser constatadas na Europa Cen -
tral, corno por exempl o no ciclo da Epifania
de Lambach, no Saltrio de Sa nto Alba no de
Hil de sh e im , ou no Evangelho de Uta de
Regcn sburgo.
Qu alquer suposta rela o consti tui uma
tent ativa de extrair do passado imagen s que .
ape sar de todo o cuidado e preocupao na in-
terpretao, podem ter sido pen sad as de ma-
neira bastante diferente daquela em qu e hoje a
concebemos . Com essa ressal va, ca be invocar
tam bm para o teat ro testemunhos pict ricos
qu e no tm a ver com o teatr o, mas que refle-
tem o es prito de uma poca em que eleme n-
tos teatrai s primitivos estavam pr esen tes. Ott o
Paccht . que seguiu os rast os fasci nantes da s
influncias teatrais, sem no e nta nto prescindi r
do mai s frio ceticismo. concluiu c m 1962 que.
na Idade Mdi a, o que "estimulava a ima gina-
o do artista cm primeiro lugar no era a ex-
perincia visual ". mas que "o impul so criativo
primrio par ece ter vindo do mundo da fala",
de acordo com uma frase atri bu da por Plur arco
a Simonides, de que a poesia lima pintura
falada . e a pint ura. um poem a silencioso.
To da s essas primitivas ce le bra es dra-
mti ca s da P scoa res peitavam o tempo de-
:\ d ad v M di a
term inado na Rcgularis Co ncordia, ou seja,
aco nteciam durante as matinas no domingo de
p;scoa. aps o tercei ro responsri o. Poster ior-
mente, esse horr io para as represent aes
dramticas da litur gia foi mantido mesmo quan-
do os autos da Paixo e os mi st ri os, cada vez
mai s numerosos, j haviam de h muito se
emancipado da Igrej a e transferiram- se para a
praa do mercado e para as salas do teatro, sen-
do encenadas duran te os meses do vero. No
sculo XV, ensai ar o "de vcrtoonigen \'lI1/ de
opsral/dil/g des Hceren" para o servio matu-
tino de Pscoa na Ca tedral de Utreeht era ain-
da uma das atribui e s do supervisor da Esco-
la Capitul ar de Utrec ht . Na Cate dral de Ge rona,
confor me nos infor ma um cdice litrgico do
sculo XI V, a responsabilidade de represe ntar
o auto das trs Mar ias cabia aos "jovens c-
negos",
Para o servi o da Sexta-Feira Santa , o fa-
moso lamento latino "platict us ante ncscia"
evo luiu j no inci o da Idade Md ia para o la-
ment o de Maria, qu e foi mai s tarde ampliado
para um dil ogo en tre Mari a e Joo. Esta a
pri mei ra vez em qu e sc pod e perceber o pr-
prio Cristo, embora ape nas no recit ati vo e no
realment e vi svel.
Um manuscr ito de Zurique. do final do
sculo XII. traz um di logo profundamente to-
cante, apesar de sua bre vidade. um grito su-
foca do de pesar da m e para seu fi lho, prega-
do na cruz por ca usa dos pecados dos homens:
"Mater: fifi' Christus : Mater: Mat er: deus es'
Christus: s/lm! Mate r: cur ita pendcs" Christus:
nc genus /111111(11/11// 1 tendat ad iut eritum" , Exa-
tament e as mesmas pal avras foram enco ntra-
das num ca nde labro inst al ad o no mosteiro de
San to Emero de Regcn sburgo em 1250, du-
runte o confl ito entre a faco papal e a dos
Hohenstaufen . O bi sp o de Regensburgo o ha -
via oferec ido co mo ex pia o por um atentado
contra a vida do Rei Conr ado IV. um incide nte
pelo qual no se sent ia inocente.
A extenso em qu e se op era va a transfor-
mao do altar no Santo Sepulcro para a ceri-
mnia da Pscoa era dei xada a c ritrio de cada
monastrio. A Regul aris CIJI IClmlia se contenta
co m um "assimila/i" sc pulchri vclantque",
Porm. j no sculo XII. es tru turas tumulares
es peciais era m erguida s nas igr ej as, numa ten-
tati va de criar um ce n.irio di gno da cele brao
anua l da Pscoa. Um dos exe mplos mai s bel os
o Santo Sepulcro na Ca pela de So Maur -
cio. na Catedral de Consta na. Essa capela foi
construda pelo bispo Co nrado de Constana
(93 4-975), e conta-se que nela "ele adornava
o tmul o do Senhor com obras maravilhosas".
El e vi sitara a Pale stina trs vezes a fim de ver
a "Jerusalm terrena" . O atual Sagrado Sepul-
cro de Constana - que reproduz na forma o
de Jerusalm - e suas interess antes esculturas
dat am de 1280. Ele estabelece uma pont e en-
tre as Cruzada s e o ce nrio da ce rimnia da
P scoa. Os Cru zados no ape nas ret ornaram
com um conhecimento pessoal do model o de
Jerusal m e com o desej o de rep roduzi-lo o
mais fielmente poss vel e m su a terr a natal :
aqueles que eram afo rtunados o suficiente para
regressar a salvo tamb m tinh am todas as ra-
zes para celebrar sua volta com generosos
don ativos.
Walbrun, pre boste da Catedral de Eich-
s tiit t. reg ress ou das Cruzadas e m 1147 com
um a lasca da Sant a Cruz e m sua bagagem, jun-
tam en te com as med idas exat as do Santo Se-
pulcro. Fund ou um pcqu eno monastri o fora
da cidade e o oferec eu a um gru po de frades
irla nde ses e escoceses dados a per egrina es.
Dedi co u a igrej a 11 "Sa nt a Cruz e ao Sa nto Se-
pulc ro" c, em 1160, co nstruiu dentro dela uma
c pia fiel em todos os as pec tos 11 de Jerus a-
lm . Hoje esse monumento romanesco es t na
Igr ej a dos Capuchinhos de Eichst iitt. Exem-
pl os similares so a cr ipta do Santo Se pulcro
de Ge mrode, nas montanhas Har z, o San
Sc po lcro em Bolonha. So Mi guel em Fulda e
Saint-Bc nigne em Dij on .
Todas essas cpias mais ou menos fii s do
Sa nto Sepulcro tornaram-se o ce ntro espiritual
c cni co da cerimni a da Pscoa. O texto do
servio er a o mesmo cm Jerusalm e no Oci-
dent e. A Bibl ioteca do Vati cano possui um raro
docume nto, " Ordin ad IISIII11 Hi ero solymitunum
iii/II i 1160" (MS . Barberini lat. 659). que con-
tm o texto de uma cerimnia dramtica de Ps-
coa representada, em latim, em 1160 no Santo
Se pulcro original, em Jerusalm. O texto cor-
responde literalmente aos trapos de P scoa de
Rip oll e Silos, aos textos das represent aes de
Besanon, Chlons-sur-Ma ruc e Fleury, e aos
text os dr am ti cos lit rgic os , da Sic lia
Esca ndi nvia, da costa do Atlntico ao Vstula.
195
o sc ulo XIII foi tambm a Era da Cava-
lar ia, dos cavaleiros . dos nobres c dos prnci-
pes que se orgulhavam de oferece r sua palro-
nagern espec ial il arte da cerimn ia dr amtica.
O papel do pat rono das artes, agrad vel aos
olhos de Deus, sempre continha a promessa
de recompensa neste e no outro mundo. As-
sim Lipoldo, o advocatus (protetor) da Abadia
de SI. Morit z, em Hildesheim, doou igreja
local, em 1230, uma prebenda que pa garia a-
nualmente os custos de uma repr esent ao dra-
mt ica da Assumptio Christi na festa da As-
censo . Da me sma forma, em 1268, o Conde
Heinrich der Bogener de Wildeshausen trans-
feriu uma soma considervel ao Alexanderstift
local, para ser usada "numa solene cel ebra o
do sepultamento de Nosso Senhor na Sexta-
Feir a Sant a".
Por sua vez , o auto pascal de Muri, o mai s
anti go exi stente em alemo - e numa lingua-
gem muito refin ada, claramente mold ada na
poesi a pi ca das cortes - parece sugerir um
pat rono princip esco. Porm, esse auto prova-
velmente n o fo i represent ado na igr ej a.
Eduard Hartl, responsvel por uma nova ed i-
o do texto em 1937. sugere que em " um do s
grandes cas telos da Sua. por volta de 1250.
o auto deve ter sido montado sob a dire o do
cape lo parti cul ar, um homem de ed ucao
cortes, para a edificao crist de seu s mora-
dores". A total omisso de hinos latin os, a n-
fase reconhecvel no sentimento de cla sse dos
cava leiro s e a introd uo de fi guras de servos
- tudo suge re um esforo para apresentar a
histria da Psc oa ao senhor do castelo e seus
hspedes num meio socia l adequado. Ass im.
do oratrio ecle sistico saiu o primeiro dra ma
fal ado nas terras do norte do Oci dente, e sua
ence nao se deve a um patron o nobre.
o AI/to Pa s cal li a I gr ej a
O sc ulo XIII trouxe consigo duas inova -
es de gra nde import ncia para o desenvol-
viment o do teat ro ocidental. Cristo. que at
ento havi a estado presente apenas como "s m-
bolo", agora aparece em pessoa como parcei -
ro que fala e atua, e a linguagem vern.icula
traz vida aos rgidos textos litrgicos. A ceri-
mnia dramt ica ampliou-se para represent a-
o ada ptada livremente.
196
H s t o r a ftl uf/( /ia l do Tra t rn
Agora, cenas retratando Pilato s e envol-
vendo os solda do s da guarda precedem as da
Yisitati o e das trs Marias co mprando as fra-
grnc ias. Os sold ado s romanos mont ando
guarda no sepulcro agora dis cut em sobre seu
soldo, A ressurreio, originalmente indicada
simplesme nte pel o sa lto ass ustado dos solda -
dos, tem agora uma co nseqncia, numa cena
em que Pil at os ac us a os homens de neglig en-
ciar suas res ponsa bilidade s. Uma viva lingua-
gem gestua l int errompe aqui a solenidade r-
gi da da repre sentao.
A introduo do pape l de Jesus abre ca -
minho para a repre senta o dos acont ecimen-
tos post eri ores Psc oa: sua apario a Mari a
Madalena como jardineiro (" Noli me tangere" ),
ao incrdu lo To m, aos discpul os no ca rni-
nho de Emas (a uto dos Pcrcgr inus ), ao grupo
dos ap st olos em Jerusal m e, fin alment e,
como tema de infi nitas possibilidades, a de s-
cida ao Infern o e a libert ao de Ad o e Eva
do limbo, primei ro at o de salvao .
Co m esse acr scimo de novas cenas, o
espao destinad o 11 dr amati zao teve de ser
proporc ionalment e ampli ado. Enquanto o en-
contro de Jesus c Ma ria Madalena ainda pod ia
acon tecer j unto ao aliar ou ao Santo Sepulcro.
a viagem a Ema s exigia necessariamente UI11
intervalo espac ial. No auto de Pscoa do scu -
lo XIII de St.- Bnoit -sur-Loire (Fl eury) , E-
ma s silua-se na pa rte ocidental da igrej a, e a
mesa da ceia, no centro da nave: Jeru salm fi ca
no coro. A ce na interior. em Ema s, marca-
da por uma mesa com vinho, um pedao de
po e trs hstia s ti nas . Ames do inci o da cena
da ce ia, traz-se g ua pa ra a lavagem das m os.
Todos os es paos necess rios repr esen -
tao eram especificados no incio e identifi -
cados por cen rios e acessri os apropriados.
A simultane idade da a o e as reas utilizadas
determinaram o futuro palc o de todo o teat ro
medi eval - seja em forma de uma di sposio
es pac ial sobre uma supe rfcie intei ra rese rva-
da representao, sej a de uma justaposio
ao longo de uma passarela estreita. Os es pet-
culos ecles iais desfi lam os eve ntos bbli cos aos
olhos do espectador co m a mesma justaposi-
o si mult nea de um painel pintado. As du as
grandes obras do pin tor Han s Memling, Os
Set e Go zos de Mari a e As Se te Dores de Ma -
ria. co m sua ah und ncia de cenas a es tender-
9. Cicl o es panhol da Paixo. cuja riqueza narrativa rivaliza com a das cenas do s da Pa.ixo. o beij o de Judas
e us soldados levando Jesus. Ao cen trn, o Gl gota co m a crucifi xo c os ladr e s: ab aixo, a descida da Cl lIZ; a esquerda . Judas
enforca-se numa rvore. I';igina de miniatura cm uma l b iu Sacro de vila. c. 1100 (Madri. Biblioteca Nacional) .
se lar gament e pel a pai sagem, surgiram de uma
ex perincia idnt ica qu e or igino u a simulta-
neid ade c nica do palc o med ieval.
Para so c Inferno, Gct smani e Gl gota,
Sat e os Bem- Aventur ados so to didatica-
mente confrontados no teat ro quant o no sermo.
O dr ama eclesial medieval sempre teve uma fun-
o pedaggica, mes mo quando passou a ser
apresentado na praa do mercado e passou a
preocupar-se com o co nj unto dos cidados. A
palavra latina pulpi tum ainda abrange as diver-
gentes formas de represent ao, pois pode sig-
nifi car tanto o p lpi to quanto o tabl ado.
A desci da de Cristo ao Inferno estabelece
uma ponte entre a Reden o do Novo Testa-
mento e a histri a da Criao no Velho Tes-
tamento. Para os iniciadores do drama na igreja
ela trouxe um desl ocament o efe tivo do lugar
da ao. Os ate res caminham em procisso ao
redor da igrej a at o p rtico, que simboliza os
portes do limb o. Cristo, representado por um
clrigo escolhido, hate en e rgi camente diver -
sas vezes . Dent ro. Sa t. per sonificado por um
dicono ves tido para o papel , procura impedir
a entrada do Redentor. ma s por fim tem de abri r
os "po rte s do Inferno" e libert ar as pobres
almas pri sioneir as de Ado e Eva e dos Patriar -
cas. Nesse moment o. o pr tico da igreja reas-
sume o papel to ricamente document ado nas
decora es esculturais : o de encruzi lhada onde
se d a separao entre o mundo do pecado e a
sa lvao et erna. Agora. todos os que partici-
pa ram da representao entram j untos na igre -
j a, seguidos pel a co ngregao .
Nenhuma outra con cepo bblica fasci -
nou tant o os artis tas med ieva is quanto a do
Inferno, o contraste entre a da nao e a salva-
o. Dramatizaes teatrais co mpetiram com
a imaginao de esculto res, pint ores, ent alha -
dor es e gravadores. Em br eve a simbolizao
do Infern o iria para bem mai s a lm do simples
batente do p rtico da igr ej a, convertendo-se
nas mandbulas abe rtas de um a fera, soltando
fumaa e fogo -- ou, interpret ad a literalmente
co mo a prpri a boca ab erta do Inferno, mos-
trando ent re suas presas uma multido de de-
rn ni os horr veis e grote scos, qu e malt ratam
as pobres almas co m trid ent es e co rrentes de
ferro .
O auto pascal do s culo XIII e XIV era
ainda uma ao ri tual Ill udest a e imaginati va.
/1)8
Hi s t r i u .\l Hm /i ll / tio Teat ro .
co nfo r mada ao mbi to f si co do cen rio da
igr ej a. Nos ciclos da Pai xo dos sculos XV e
XVI. entretanto, que freq ente me nte tinh am a
d ura o de vrios dias, o Inferno assumiu um
papel mai s imp ort ante e provocati vo, mu itas
vezes beirand o a violncia crua. Na retratao
do Inferno, o teatro tentou superar a arte pi c-
t rica. O mundo pecador deveria co ntemplar
plenamente o abis mo do qual se aproximava.
O poder do Infern o, que aguardava impe rado-
res e rei s da mesma forma qu e sacerdotes in-
d ignos, usurr ios, prostitut as, assassinos e al-
co vite iras. era ass im reconhecid o. Uma vez que
o auto do Juzo Final se desvincul ar a do ce n-
rio da igreja. foi necessri o somente um pa sso
a mais para chegar s stiras seculares das co r-
por aes e par a as representaes profanas da
Dana da Mor te. De acor do co m velhas cren-
as populares sobre as or gias noturnas dos
mort os, no Banquete dos Mor tos e na Dana
do s Mortos, a Morte personificad a fora os
vivos a segui -Ia em seu squito, independen-
teme nte de idade, sexo ou co ndio social -
tant o o papa quant o o velho men di go, a res-
peit ve l burguesa quant o o devasso menes treL
A Dun:a de Mu erte espanhola , a DOI/ce
Mu cab re francesa , as danas da Morte ingle-
sas . es lavas e alems do sculo XV, co m seu
didti co despert ar de co nscincias. e ncontra-
ra m ex pre sso efcti va na escultura e na pintu-
ra. Estranhame nte, porm, ti veram pequeno
impacto no teat ro. (Hugo von Hofmanns tha l
ado ta este tem a em seu dra ma l rico Der Tal'
III/d der Tod - O Louco e a Morte ).
Enquanto os espetc ulos religios os primi-
tivos era m escritos e organizados ex cl usiva-
ment e pel o clero reg ular e secular, mai s tarde
os professore s das escolas de lat i m encarrega-
ram-se dessas mont agens, diri gindo seus alunos
nas re pres enta es da Psc oa, Pentecostes e
do Natal. O perod o de trans i o produziu
manuscrit os em latim comove doramente im-
perfeito, qu e ainda assim tent ava sobreviver
co mo um vest gio erudito, ao lad o de passa-
ge ns vernculas. Do sculo XIV em di ante, por
fim, os wandering scho lars, eruditos errantes,
co nseguem col aborar no s dramas reli giosos -
e qu em poderi a proibi-l os de inserir, ocasio-
nalment e. uma pal avr a em ca usa prpria? No
au to pa sca l de l nnsbru ck. o apsto lo Joo, en-
qu ant o ce de a Ped ro a preced n ci a na ent rada
A tdo d e M d i a
do Santo Sep ulc ro . reci ta um a espcie de ep-
logo, em que a quintaessnci a do tema da pea
co mbina- se co m um pedido aos espectadores
para que pen sem nos "pobres erud itos" e de -
monstrem sua gratido, ofe recendo -lhes uma
bo a refe io:
Oucti huttc ich l1Iil'1I vore csscn,
dv llrmt.'n schul cr / 10 /) (' 11 ni clu c :u (' ,\ .\t 'l l.'
H'er yn gcb t ire brccn,
don w got hut e un unnnin nch r hera/cu,
"'er yn geb t ire vcuicn,
dcn w g ol ;11(Ia: ttvtnsne rich c luc/cu .
[Al m do ma is. cu ha via me esqu ec ido:
os pobres erudito... no tm nada para comer:
Se lhes ofe rccc rdc... UI1I pouc o do \-OSSO as sado.
Deus vos protege r e gui ar : se mpre:
Se lhes o ferec erdes um po uco de po .
Deus vos levar p ~ l r a o Cu. I
A per spectiva de ganhar um lugar no Pa-
raso, graas a um pedao de carn e ass ada e
uma fati a de po, de ve ter feito o p blico con-
si de rar que valia a pena ofer ecer uma refe io
aos padres e erudito s.
At o sc ulo XV, os pa pis femini nos.
mesmo na lament ao de Mari a ao s ps da
cruz, eram desempen hados por cl rigos e eru-
ditos. Na Idade Mdi a. da mesma forma que
na Anti gui dade. no antigo Ori en te Prxi mo e
no teatro do Ex tre mo Orient e. a platia no
via nenhuma incongrun ci a na interpretao
de um pap el feminino por um atol'. Parece que
at em con ven tos de freiras os c lrigos fazi am
os pap is femi ni nos. No auto pascal de Praga,
mo ntado no conve nto da s freir as de S. Jorge,
apenas a cantora ( Clllllrix) espec ificada co mo
uma part icipant e do sexo feminino, que repre-
se nta o coro dos apsto los . Pedr o e Joo so
descrit os co mo du o presb vtcri , O text o no
escla rece se os pap is das trs Marias so de-
se mpenhados por fre iras . A abadessa tinh a o
pri vilgio de bei jar o livro de oraes no in-
cio e no final do Te Deum.
Um entalhe em marfim, remanescente de
Gandersche im . o c o nve nto da d ramatur ga
Hrotsvitha, pode tal vez ser mai s bem interpre-
tado em termos do auto pascal de Praga. Rep re-
senta uma Anunciao. Mar ia ret rat ada como
uma canonisa da poca de Hrot svit ha. no co ro
da igreja do conven to de Ganderseheim. Essa
pequena preci osid ade en talhada data da seg un-
da metade do sculo X. A qu esto se ela ou
no baseada numa representao dranuit ica . Se
. antec ipa em alto grau desenvol vimentos pos-
teri ores. Poderi a tambm aj udar a iluminar o
"c re p sculo teatr al" qu e envo lve a criativa e
prolfi ca escritora Hrot svitha. cujos dramas em
la ti m, escritos man eira de Tern ci o, s o
alte rnadamente con siderados muito importan-
tes ou totalmente insignifica ntes para a histria
do tea tro. Pode ser tam b m que o marfim de
Gandcrsc heirn no signifi que mai s do que a in-
ten o do arti sta de prestar homen agem espe-
c ial a suas prot etorus, most rando Maria ves tida
como uma venerve l ca nonisa.
Embor a a co rre nt e do tea tro me dieval pos-
sa, de mod o geral. pa rece r un ifo rme no que
diz resp eit o a sua s razes. suas aspirae s. pos-
sibilidades de represen tao e sobre tudo em
suas origens na f cris t , ele se di vi de em m l-
tiplas correntes no de lta de seu de se nvolv i-
me nto posterior , Torn ou -se incri ve lmente mais
natural , graas ao uso no apenas de di feren-
te s lng uas vernc ulas, mas ta mbm de di fe-
re ntes figurinos e acessrios c nicos. Na ce na
do No /i me tangere, Cris to um jardi neiro co m
um gra nde chapu e uma p. co mo qu e para
tornar bastant e claro ao s espec tadores por ql lC
Mar ia Mada lena no pod eria rec onhecer o
Senhor ressurrecto " i II spcci horlulani", Alm
disso. Je sus se diri ge a e la co m pa lavras spe-
ras. cr ticas:
I sI (III: gll!t' r ! l"dll CI/ J"ccil f ,
do: vv IIIl1lull fk n (II: d., l.nrcht
0,0 Iro \' 11 dt' .\ t ' IJI (;u l' / ('I/' )
Ire : hastn hv 1:11 \ 1"(11"1(''' '.'
[ co rreto que unm mu lher dec e nt e
pc rambulc COIll () co rao leve
ue-,...e ja rdim co mo o-, "(" 1"\"0:-'.'
A que m l ' s l a i ~ evpcrnndo" ]
Maria Ma dal ena I inha tod a a razo de per-
gunta r-lhe, es pa ntada : " Por qu e gr itai s co mi-
go'!" Ela infor ma ao rud e jardi ne iro q ue es t
procurando pel o "santo homem" e per gun ta
se es te pod e informar-lhe algo sobre ele. Mais
tarde. no auto pascal de Innsbruck ( c no de Er-
lau, bem mai s grosse iro. mas pa ra o qual muitos
paral el ismos text uais aponta m) . o reco nhec i-
mento culmina no ve lho J'/llI ICtl/S latino, Dolor
Crcscit , O monl ogo de Maria Ma da lena co-
bre o temp o que o int rprete do Cr isto neces-
sita par a trocar de ro opa .
l fJf.J
Na viagem a Emas, Jesus usa um cap uz
de felt ro, um bornal de per egrino e um bas-
to. A peas. na verdade. o most ra como o
mesmo Percgrin us que aparece u j no sculo
XII nos vitra is de Chartres, no Salt ri o ingl s
de SI. Albans e num baixo-rel evo do monas-
trio espanhol de Sil os. O mesmo moti vo
adorna do co m muitos detalhes em pinturas em
pa inis.
O as pec to timidamente gro tesco que ocor-
rer a pela primeira vez no " Currcbant dI/O si -
mul " da "co rr ida ao sep ulcro" de senvol ve- se
numa pardia carinhosa dos ancio s. na qual
Pedr o dado ga rrafa e se forti fica co m um
bom gole an tes de vir a perceber o mil agre da
Ressurrei o. Ant eriormente ai nda, no sc ulo
X, os menestr is faz iam troa benvol a co m a
figura do ve lho de barbas branca s. qu e tinha
carac tersticas demasi ado humanas - mesm o
sendo a legendria "pedra sobre a qual eu cons-
truirei minha Igrej a" . Deram-lhe o papel de co-
zinhe iro no banquet e dos bem -aventurados,
di scutindo at qu e pont o essa a tri buio era
compa tve l co m sua fun o de porteiro do
Paraso, o qu e abriu caminho para o tratamen-
to afetuoso e humor sti co dos santos, que mai s
tard e se refletiri a em inmeras formas, tan to
no teatro qu anto nas art es visuais.
Os menestr is tm sua vez, e o mimo tam -
bm. quando se exige que o Mercator e o ven -
dedor de ungiienl os sejam ca reca s. O 1I/iI Il IlS
calvus da Antigidade se introduzira no drama
religioso, arrastando consigo toda a sua paren-
tela - mascarados. malabaristas e hobo s. Um
afresco da Igreja de Fyn, na Dinamarca. mostra
um bobo com chapu de guizos frente da pro-
cisso em que Cri sto carr ega a cruz . Nos afres-
cos na Igrej a de So Jorge em Staro Nagori cino,
na Iugoslvia, mimos e mencstr is part icipam
de uma dan a tumultuosa e blasfemam aos ps
da cru z. Doi s dele s usam um traje co m as ca -
raet ersticas mangas longas e largas. que lhes
cobrem as mo s, c que desempenham papel im-
port ant e na linguagem ges tual de tant as civi li-
zaes - sublinhando expresso da dor e pa -
rodiando-a. No bom ou no mau sentido. foram
elas. dur ant e muit o tempo, o smbolo da condi-
o do atol' na Ch ina. no ant igo Ori ente c em
Bizncio,
Em me io a toda a sua heterogeneidade, o
pbl ico do tea tro medieval deve ter apr cscuta-
200
tt is t orio MUJJdia l d o Tr n t ro
do rea c s de un iformidade dificilmente recor-
rentes no mundo oc ide ntal. Na Frana, Espa-
nha. It lia e nu s pases de lngua alem, como
tambm nos pases escandi navos e esl avos , os
organizadore s de espet cul os encontraram uma
resposta que, se no encorajnva seus esforos,
pelo men os no os desen corajava.
Os aspect os organizacionais do teat ro
medieval desen vol ve ram-se sohre o mesmo
plano qu e sua superestrutura teol gic a e did-
tica. Embora o clero haj a perdido o co nt ro le
sobre as ca da vez mai s numerosas representa-
es profana s, os fl agel ant es e as corpora es
reli gi os as tinh am ambies similares.
Na It lia, a Con frat ernit dei BatI/ IIi em
Tre viso, desde 1261 , e a Confratcrnit dei
Gonfalone , fundad a e m Roma em 1264 , pro-
duzir am. em es plndidas en cenaes. a for ma
tipi cament e itali ana de esp et cul o reli gioso. a
sacra rappre sentazione. Santos locai s e na-
cionais eram po stos a se rvio da propaganda
teatral reli gi osa. As co nfrarias de at ere s. co mo
iniciadoras das represent aes di alog adas c ha-
madas laudes dramaticae, gravavam or gulho-
samente em seu s escudos a designao iocula-
tores Domini (" menes tris do Senhor" ).
No mbilo da ln gu a france sa , as rc pre -
sent acs reli giosas eram de responsabilida-
de das Confrcrics de la Passion (Irma nda de s
da Pai xo), fun dad as especialme nte para esse
prop si to . Essa s irmandad e s e xist ia m e m
Limoge s (cen rio da s mai s antigas celebrae s
pa scai s ), Roueu. Nant e s , Amie ns. Arra s .
Angers, Bourges, Val en ci enn es e, nat uralrncn-
te, em Par is. A Confrt'rie de la Passion de Pari s
era famosa por volta de 1400. e, em 1402. su-
per ou tod as as compa nhias teatrai s europias
simi lare s: a e la foi dado o monopli o abs olu-
to em Pari s, conse rvado at o scul o XVI. O
clero no apenas empreendi a e montava os es-
pet cul os, mas parti cipava deles, escrevia o
rotei ro ou . em alguns casos espe cia is, os fi-
nanci ava.
O estoque de acessri os e figurinos. cui-
dad osamente gua rdado durante duzent os ano s
pel as igr ej as e mon ast rios, de uma tempora-
da teatral a outra, pa ssa va ago ra s mos dos
burgueses e art eso s. pois. a partir do momen-
to em que os g rmios e co rporaes se encaro
regaram do fin an c iament o dos espe t culos.
recl amaram tam bm o direit o de organiz -los
;
;;.
10. Boca do I nferno com Ado. Eva c os Patrill"l.. -as . Face lateral de um cadeiral do coro de Valeucic nnes. sculo X lV.
11. JuzoFinal com Boca do Inferno. Parte do tmpano sobre o portal sul da Catedral de Vim, c. 1360-1370.
12. Boca do Inferno de uma pea mitolgica barroca, apresentada num can-o alegrico do Prstito dos Deuses em
Dresden. 1695, com a participao da corte. Esboo pafa gra\'a:lo cm cobre ( D r e s d e ~ . KupferxtichkahiucttI.
A Idade Mdia
a seu modo, de distribuir os gastos e escolher
o elenco. O caminho da celebrao litrgica
ao espetculo teatral, que a Igreja havia ence-
tado e incentivado, fundia-se agora com o da
ascendente populao urbana europia, que,
nos sculos seguintes, determinaria o curso da
histria c, dessa forma, tambm o aspecto do
teatro ocidental.
A Se p a ra o da Igreja: a
Pea de Lendas
Os textos dos Evangelhos foram realmente
urna importante fonte de material para as
dramatizaes religiosas, mas no a nica. A
"irrupo do mundo" manifestou-se no ape-
nas num estilo mais realista de representao,
mas nos figurinos e no surgimento de elemen-
tos farsescos e grotescos dentro da dramatiza-
o na igreja, revelando-se tambm em refe-
rncias tpicas e na crtica de acontecimentos
contemporneos, que se tomaram um elemento
do teatro europeu no sculo XII.
As Cruzadas eram a principal preocupa-
o da poca. A idia de Jerusalm e as no-
cs correntes a respeito do milnio, que in-
fluenciavam grandemente a poltica da Igreja.
tambm inspiraram um dos mais magnficos
textos do sculo XII conservados . o Anti-
christo de Tcgcrnsec. Seu autor desconheci-
do. embora se suponha que ele tenha sido um
membro do monastrio de Tegernsee. na
Bavria, fiel ao imperador. Na poca, essa pi-
toresca abadia beneditina vivia um perodo de
grande florescimento cultural. A reputao de
seus escribas e miniaturistas comparava-se
influncia poltica de seus abades. No Anti-
christo de 1160. proclamavam sua lealdade ao
imperador.
De acordo com fontes conservadas, o
l.udus de Antichristo, era representado por cl-
rigos. Seu texto escrito cm latim e, apesar de
suas preocupaes claramente polticas. pre-
serva inteiramente o carter oratrio da repre-
sentao eclesistica.
O modelo literrio do LIU!IISde Tegernsce
o Libcllus d" Antiihristo, escrito no sculo
X pelo abade lotarngio Adso de Toul, o qual,
por sua vez, se apia numa noo que remon-
ta aos primeiros tempos do cristianismo, de
que, logo aps a Segunda Vinda de Cristo. um
falso Messias enviado por Sat surgiria e reu-
niria todos os poderes do mal no mundo para
lutar contra a Igreja Crist; no final. porm,
seria vencido pelo verdadeiro Messias.
No texto da pea de Tcgcrnsce. as cenas
que mostram os acontecimentos diretamente
ligados ao Anticristo so precedidas por cenas
que tratam do declnio do imprio romano e
do triunfo do imprio germnico. O Rex
Tcutonicus subjuga todos os reis do Ocidente.
Os governantes da Grcia e da Frana e, no
final, o Rcx Babiloniae, prncipe dos pagos,
so derrotados na batalha. Ento, o imperador
germnico deposita sua insgnia imperial dian-
te do altar, no Templo de Jerusalm. Coroa e
cetra abrem caminho para um poder ainda
maior. A pea reflete o apogeu do esprito das
Cruzadas na poca de Barbarossa. Sugere-se
que tenha sido escrita em conexo com a Die-
ta de Mainz em 1184. quando Barbarossa se
recusou a ocupar o trono, dizendo que este
pertencia somente a Cristo.
Isso invalidaria a data de 1160. Por outro
lado, Gerhoh de Reichersberg refere-se clara-
mente ao Ludus de Antichristo de Tegernsee
em 1162.
primeira parte do texto, altamente pa-
tritica e tpica. segue-se o verdadeiro auto
do Anticristo. Logo que o imperador germni-
co deposita sua coroa e cetro, o falso Messias
aparece. Apoiado pela Hipocrisia e pela He-
resia. toma o poder. cm parte por meio do ter-
ror e em parte por meio de subornos. O Rcx
Tcutonicus resiste. mas at mesmo ele final-
mente convencido por falsas curas mi lagro-
sas. A Svnagoga tambm se submete ao Anti-
cristo.
Quando o Anticristo, porm, torna-se sull-
cientemente audacioso, no auge de seu poder,
para se atrever a anunciar "pux ct securitas",
Deus o fulmina comum raio. A Ecclesia recu-
pera as honras que lhe so devidas. frente
de todos os participantes, que incluem at
mesmo os Profetas, ela entra pelas portas aber-
tas da igreja ao som dos sinos e do canto co-
munitrio do Te Deum,
No se conservou nenhum plano de cen-
rio do Tcgernscc, mas presume-se que a pea
era representada no espao aberto e meio ova-
lado na parte ocidental da abadia, perto do lago.
Seu ponto culminante - o lugar onde ficava o
20.!
Hi s t o ria ..\1I[//{Iio/ do Tru t ro
A Idade A-Iliia
13. O Anticristo, seduzindo os Trs Reis com prc--cntc ...... Miniatura do Honus Delciariurn de llcrrad de Laudsbcrg.
sculo X[[.
forma salvou uma vida crist. Para Jean Bodcl,
porm, a lenda meramente a moldura para
as alegres cenas do seu gnero - a batalha dos
Cruzados contra os pagos no Oriente Prxi-
mo e la vil' joyeuse ("a vida alegre") na taverna
e no bordel, em versos que antecipam o sabor
do argot francs.
As representaes de lendas, alegorias e
milagres muito cedo deixaram o interior das
igrejas. Pretenderam e alcanaram efeitos que
necessitavam de urna rea no restrita que per-
mitisse fazer soar o ragor da batalha e - como
no caso de Jean Bodel - o estrpito das garga-
lhadas. Quando os espectadores que assistiam
ao auto dos Profetas dc Riga fugiram tomados
de tenor, o cronista pde desculpar o fato atri-
buindo-o sua "ignorncia". Mas quando Fre-
derico o Temerrio, margrave da Turngia, vol-
tou as costas com desprezo a um auto sobre as
Virgens Prudentes e as Virgens Insensatas, re-
presentado em Eisenadi, o conjunto da cate-
quese crist da salvao viu-se abalada.
"O que a f crist, se o pecador no re-
cebe misericrdia pela intercesso da Virgem
e dos Santos?", exclamou o margravc, cons-
ternado, e foi-se embora, deixando atrs de si
cortesos desconcertados, urna platia perplexa
e uma no menos perplexa classe de estudan-
tes ginasianos, para no falar de seu professor,
que havia envidado o melhor de seus esforos
para apoiar com sua pea uma indulgncia con-
cedida pela Igreja. A shita revolta do margrave
demonstra a profundidade da impresso que o
teatro medieval podia causar com seus ternas
e representao, ainda que seu nvcl artstico
no fosse muito superior ao de grupos amado-
res cheios de boa vontade. A lenda conta que,
14. Banquete do arcebispo Balduino de Tricr. Minia-
lura rcnana. sculo XIV
dos heris seculares se convertia no ponto cul-
minante das representaes - como, por exem-
plo, em 1208 e 1224, no Ludus cum Gigan-
li/Jus, em Pdua - mais o efeito das cenas de
torneio ia encobrindo o contedo religioso da
pea. Temas de danas de espadas rituais, h-
bitos camponeses e lendas da Cavalaria se
mesclavam entre si. No auto de Pentecostes
de Magdeburgo, Rolandsreiten, ou na Tvola
Redonda de 1235, a tradio pag mais forte
e evidente que o matiz cristo. Mas os cavalci-
ros e menestris tinham uma importante fun-
o nos espetculos encenados fora das igre-
jas, no sculo XIII: proporcionavam colorido
fbula c representao. Davam lingua-
gem a sua marca e eram vistos - ou viam a si
prprios - tanto no espelho da exaltao quanto
no da pardia. Os Carmina Burana, escritos
na abadia beneditina de Beuren, por volta dc
1230, so um dos mais conhecidos testemu-
nhos no adulterados do prazer sensual medie-
val. Algumas dessas canes de letrados er-
rantes, os goliardos, devem tanto arte poti-
ca de Ovdio c Catulo quanto ao gosto desses
poetas pelo amor e pelo vinho. Os poemas po-
lticos c religiosos mostram aquela atitude ir-
nica diante da autoridade que, sem dvida, se
expressava mesmo na Idade Mdia, de forma
mais freqentc e forte do que se aceita nor-
rnalmcntc. Os elementos rtmicos e teatrais em
algumas dessas canes latinas inspiraram as
obras para coral de Carl 01'1'1', Carmina Burana
(1937) e Catulli Carmina (l943l.
Jean Bodcl, um cruzado, funcionrio p-
blico da cidade de Arras, membro da Confrric
des .Ionglcurs, e autor de um auto de So
Nicolau (por volta de 1200), oferece urna irna-
gcm viva e colorida dos cavaleiros, cidados e
camponeses de sua poca. Um contempor-
neo mais velho de Hodel, o erudito errante in-
gls Hilrio, que viera Frana em I 125, tam-
bm devotara um auto de milagre a So
Nicolau. Le leu de Saint-Nicolas (O Auto de
So Nicolau) de Jean Bodcl construdo em
tomo dos feitos piedosos do santo. Ele ajudou
um rei pago a recuperar seus tesouros c dessa
Os temas do Antichristo de Tegernsee fo-
ram retomados por vrios sucessores, desde
as cenas de batalha do auto dos Profetas "in
media Riga" (l204), quc tanto assustou os pa-
gos chamados converso, fazendo com que
fugissem, at o auto suo de Carnaval, EI1-
tkrist (1445). Passagcns inteiras do dilogo
foram incorporadas ii pea de Natal da abadia
beneditina de Beurcn - mais uma prova da cs-
tima que mesmo a posteridade imediata tinha
pelo valor literrio c pela eficincia teatral do
Ludus de Antichristo, Na poca da Reforma. a
tigura do Anticristo ainda fornecia aos protcs-
tantes uma imagcm til em sua luta contra o
papado. O inflamado polemista anti-Roma e
lnterano Naogeorgus, alis Thomas Kirch-
mayer de Straubing, declarou em seu drama
Pammachius (1538) que o Anticristo no era
outro seno o prprio papa. Naogeorgus dedicou
sua pea ao arcebispo Cranmer de Cambridge
- onde foi encenada em 1545 por estudantes
no Christs College - ofendendo bastante o
bispo Gardincr, Chanceler da Universidade, o
que resultou numa correspondncia que che-
gou at ns.
O pblico dos sculos XlII e XIV era, por
enquanto. mais prontamente impressionvel
pela luta de espadas do quc pela sutileza dos
argumentos, As guerras religiosas no prprio
pas por sorte ainda pertenciam a Ulll futuro
distantc. Quanto mais a habilidade na esgrima
altar, flanqueado pela Ecclesia e pela Svnagoga
- era o portal da igreja, uma disposio lgica
correspondente ao contedo religioso do auto.
Assim. se a ala norte fosse ocupada pela {oca
dos reis ocidentais e a ala sul pelo pdio do rei
da Babilnia, todo o centro permanecia livre
como um espao neutro de atuao. para ser
usado e interpretado conforme se exigisse.
Poderia ser o mar Mediterrneo. a ser cruzado
na jornada Terra Prometida, ou poderia scr
um campo dc combate onde os adversrios cru-
zassem suas espadas. A representao de ba-
talhas era um ingrediente popular das pcns
medievais, que os atorcs de Tegernsec certa-
mente no neghgeucaram.
Uma montagem do auto do Antichristo,
feita na Alemanha por estudantes do Dclphische
Institut de Mainz, em 1954, diante do portal
da ala norte da Catedral de Eichsttt, demons-
trou a atemporalidade de sua fora artstica e
dramtica. Como loca de cada atuante foram
usadas pequenas plataformas de madeira sem
nenhum adorno. O nico acessrio c nico cra
um altar de madeira com a cruz. Os atores eram
identificados pelos figurinos, barbas, coroa e
espada. Tudo o mais era deixado a cargo do
texto e da arte declamatria dos intrpretes.
No final da pea, quando Ecclesia sai de cena,
desaparecendo dentro da catedral ii frente do
elenco que se rctira. o pblico penuaneccu
imvel durantc vrios minuros.
204
205
15. As Virgens Sbias c as Virgens Tolas. Pintura mu-
rai no coro da capela do castelo, Hocheppan. sul do Tirol,
xcculo XII.
l. Cena da legenda de Tefilo, o Fausto medieval que
faz um pacto com o demnio. Miniatura do Lib er
Matutinalis de Conrud von Schcvcm. comeo do sculo
XIII (Munique, Staatsbibliotliek).
17. Cena percgrln: Cristo com embornal de peregri-
no e os apstolos na estrada para Emas, miniatura do
salteiro ill,)s de Santo Albano, sculo XII (Hildcsheirn,
Alemanha).
aps o choque da alegoria sem perdo, o
margravc Frederick sofreu um colapso e mor-
reu dois anos mais tarde. A alegoria das Virgens
Prudentes e das Virgens Insensatas - retratada
pelos artistas dos manuscritos medievais anti-
gos, do Codex Rossa-nensis, do Genesis de
Viena e nos portais das igrejas de Estrasburgo,
Magdeburgo, Trier c Nurembcrg - trouxe tona
uma impresso inteiramente nova e surpreen-
dente no teatro.
No apenas os gwndes mistrios e os au-
tos do Juzo Final, mas todas as representaes
de lendas e milagres por todo o Ocidente apro-
veitaram fortemente o contraste entre a dana-
o e a redeno. O mundanismo, a ambio,
o orgulho e atividades profanas so confron-
tadas com a danao eterna, como tambm com
a redeno que aguarda o pecador arrependido.
Mas o demnio, o tentador, que a mais fre-
qente personificao do mal no teatro medie-
val, deve ser enganado no final.
Assim Tefilo, que se vende ao dernnio
por amor aos bens terrenos, obtm a graa di-
vina por intercesso de Maria. Le Miracle de
Thophilc (O Milagre de Tefilo), escrito pelo
trouvere parisiense Rutebeuf, antecipa, sob a
roupagem da lenda crist, a quintessncia do
Fausto, de Goethe: "O eterno feminino nos
conduz s alturas".
Spiel von Frau Jutten (O Auto da Senhora
Jutta) termina com a mesma soluo de perdo.
Essa pea, escrita por volta de 1480 pelo sacer-
dote Dietrich Schernberg de Mhlhausen, na
Turngia, baseada na lenda da "Papisa Joana",
uma mulher que supostamente subiu ao trono
papal em 855 como Joo VIII. Disfarada com
roupas masculinas, Joana vai estudar com os
grandes eruditos em Paris, juntamente com seu
amante Clricus, Mais tarde, no meio de uma
procisso papal, a Morte se aproxima dela e a
ataca. Logo em seguida, ela d luz uma crian-
a c desmascarada - no mais o Papa Joo,
mas a "Papisa Joana" - agora como Frau Jutta,
em vergonha e desonra. Ela morre, e os dem-
nios levam sua alma para o Infemo. Frau Jutta
ora a So Nicolau para que interceda por ela, e
Deus envia So Miguel para trazer a pecadora
arrependida ao Paraso. A cena dos demnios.
santos e arcanjos, representando simbolicamen-
te a doutrina crist da redeno, vivificada pela
riqueza imagtica da linguagem.
208
H st ria Alul1dial do Teatro.
Nesses dois ltimos exemplos, encontra-
mos os primrdios da personagem e da ao
dramtica. Tanto Tefilo quanto Frau Jutta tm
a oportunidade de uma deciso livre e indivi-
duai - e tanto um quanto a outra no se arre-
pendem at ficar face a face com a danao
eterna. Dessa forma, presenteiam o teatro com
a esplndida oportunidade de dispor do visto-
so aparato do Inferno e dos demnios, para
no falar dos alados mensageiros anglicos, de
Deus-Pai em toda a Sua glria, dos santos de
barbas brancas e das pobres almas no mais pro-
fundo desalento.
A primeira pea de teatro no teatro ocorre
no auto de milagre holands Marieken von
Nieumeghen (Marieken de Nieumeghen), es-
crito entre 1485 e 1510 por um autor anni-
mo. A herona, to bela quanto apreciadora dos
prazeres da vida, vende sua alma ao demnio
por sete anos. A apresentao de uma pea re-
ligiosa - num palco parte, montado numa
carroa - o que faz com que se arrependa.
Ela pede ao papa que a perdoe de seus peca-
dos e, num paralelismo medieval com a mima
da Antigidade, Pelgia, termina sua vida num
convento em Maastricht.
Estaes, Pro ci sse s e Teatro
em Carros
Sem dvida, o auto holands Mariekcn
\'(ln Nieumeghen, como tantos outros desse
perodo, foi encenado num espao ao ar livre
na cidade; porm, o estratagema da pea den-
tro da pea pressupe uma outra forma de en-
cenao tipicamente medieval, ou seja, o pal-
co montado numa carroa ou o carro-palco,
comum em procisses na Espanha, Itlia, In-
glaterra, Alemanha, Tirol e Pases Baixos.
As origens do carro-palco remontam a
1264, quando o papa Urbano IV instituiu a
festa de Corpus Christi, que foi depois cele-
brada com procisses solenes por toda a Eu-
ropa ocidental. A pea freqentemente deri-
vava da procisso teatralmente plasmada. Alm
de sua origem no ensejo religioso cerimonial,
a pea de teatro possui tambm razes secula-
res nos torneios e nos cortejos de rua, que se
organizavam em homenagem aos soberanos c
que foram os precursores dos grandes trionfi
alegricos da Renascena.
A Idade M d i o
18. Grande prccisxao cm Estrasburgo (a mais antiga
representao grfica da Catedral l. Xilogruvuru do
Geschichtl' Pctcr Hagellh(/chL de Conradus Pfettivhciru,
Estrasburgo, 1477.
O desenvolvimento do palco processional
e do palco sobre carros deu-se de maneira inde-
pendente da literatura dramtica. Sua natureza
mvel oferecia duas possibilidades: os especta-
dores podiam movimentar-se de um local de
ao para outro, assistindo seqncia das
cenas medida que alteravam a prpria posi-
o; ou ento as prprias cenas, montadas em
cenrios sobre os carros, eram levadas pelas
ruas e representadas em estaes predetermi-
nadas.
Na Espanha, o cerimonial da procisso dc
Corpus Christi se transformou no allto sacra-
mentai e na fiesta dei Corpus, duas ocasies
para a demonstrao de fervor religioso.
revelador da aguda violncia da luta religiosa,
primeiro contra a infiltrao do Isl e mais tar-
de contra a Reforma, o fato de que o auto sa-
cramental tenha encontrado a sua contraparte
no auto-de-fe, o espetculo da execuo dos
herticos sob a Inquisio.
As cenas eram apresentadas na famosa
roca, carregada CID procisso de uma estao
a outra. Nos arquivos da Catedral de Sevilha,
ela descrita como uma plataforma transpor-
tada por doze homens e sobre a qual o cen-
rio era organizado como um tableau, Quando
a procisso chegava ao local apropriado, o
tableau ganhava vida com a representao tea-
tral. Nos dois lados dos Pireneus, conforme
os cenrios se tornavam mais elaborados e o
elenco maior, o pequeno tablado da repre-
sentao processional passou a ser construdo
sobre um carro. A idia do carro-palco espa-
nhol sobrevive at hoje, na expresso fiesta
de los ca rros,
Originalmente as representaes eram es-
tritamente associadas celebraes de Corpus
Christi, com a simples recitao de textos ra-
zoavelmente curtos, relacionados ao mistrio
do Sacramento; logo, porm, esse tablado m-
vel para as representaes passou a ser utiliza-
do em vrios pases e tambm na celebrao
de outras festividades. Os monges dominicanos
de Milo adaptaram, em 1336, a forma proces-
sional de carros-palco num auto sobre os Reis
Magos. A cidade de Florena utilizou, em 1439
e 1454, nas festividades em homenagem a So
Joo Batista, vinte e dois cenrios. que foram
transportados pela cidade em plataformas m-
veis iedifizi, - um antegosto dos suntuosos cor-
tejos teatrais que iriam ser vistos mais tarde,
sob os prncipes Mediei.
Conforme testemunham os registros, nos
Pases Baixos, especialmente em Flandres, o
\\ftlgellspiel religioso foi apresentado em 1450
e 1483. Os Gcsellcn \"II1l de Spclc. associaes
teatrais de artesos em Bruxelas e Bruges, acon-
selhavam suas platias, das plataformas de seus
palcos mveis em miniatura, a atentar para sua
conscincia e examinar seus modos de vida.
Na pequena cidade de Nymwegen, seu "bem
intencionado epigrama" abriu caminho at o
corao da Marieken da pea teatral, fazendo
com que ela se arrependesse. No dia de Corpus
Christi, um carro-palco entrava na praa do
mercado, onde se representava um julgamen-
to no qual a Virgem Maria intercedia pela hu-
manidade pecadora e arrancava do demnio
as pobres almas que haviam cado em seu po-
der. A pea dentro da pea em Manekcn \'01/
Nicumcghcn termina com um piedoso desejo:
"Que isto vos conduza ao Paraso".
A principal caracterstica de todas essas
peas era fazer parte de uma procisso - quer
fossem dedicadas aos Profetas, como em
Innsbruck, em 13') I, ou Paixo. como em
:!()t)
19. Mar cken \'on Nieumeghen, De lima edio de xilogravuras, c. 15 18.
20. Roda da Fortuna c recep o dos arcebispos pelo imperador Carlos V cm Bru xelas.
1515,
Bol za no e Freiburg im Bre sga u. quer ai nda
abrangess em desde a Cr iao ao Ju zo Final.
como em Knzelsau, em 1479. Ess as proci s-
ses provocavam um impacto no pb lico, mes-
mo que se desenrolassem co mo um simp les
espe tc ulo silencioso. A descri o de DUreI'.
da grande procisso que testemunhou em An-
turpia, em 19 de agosto de 1520 - "quando
toda a cidade estava reunida, todos os art fices
e mercadores, em seus melhores traj es de acor -
do co m suas posies" - deixa aberta a que s-
to de se os "carros" e a " pea" eram simples-
mente levado s de um lado para outro ou se
consti tuam tamb m ocasio para representa -
es dramti cas, DUreI' relat a no dirio de sua
viagem aos Pa ses Bai xos:
Vinte pessoas carregavam a Virgem Man u COIII o
No sso Senhor Jesus. na sunt uos a elegncia cru hon-
ra de Deus. E 110LI\'I,: ' muitas coi sa-, agra -
d vei s. e cs plcudidamcruc concebida De la part icipavam
muito s ca rro ... . representavam-se obrn sob re barcos e o u-
tro s Entre eles ia a host e l hh Pro fetas cm 01'
de m cro nol gica. e. dcp oi -, dela. () ('\0\' 0 Tcst.uucnto.
CP Il1 0 por exemplo na do Aujo. c os Rci-,
:\ lago \ ca valgando grandc-, cam elo... 1,: ' outros cstr.mho-, c
mirac uloso-, anima is protu cnmcnt e adornados. c tamb m
;\ fuga de Nossa Senho ra par a o Egito. (' 111 atitude muito
devo ta : C' muu u.. outra... (,.'( Ii ..a, aqui (l l lli l i (!J..;; ro r lulra de
No final de urdo. \ inha UIII c-ou-
duzido por S;'lllta c :... lIa" dOIl/da:... por uma 1'1,: : .
(k a parncu.ume mc vi..to..:, a..-\ cln
co m ca vale iros. UIll co urace iro 11Iuil O funuo-,o. E
cm me io a 1.- ......;,1mul ndo I:llll lx;m lHl.- ' J1iIl O' 1.. '
mcnin.r-. vcvrido- d'l m.uu-ira mui -, gru..: 111....t L L-, 111....lhl i dd.
de aco rdo ..-om vario ... ..-ovnuu c... (LI no l up.n do-,
ti i \ 'I.-'l"so ", E",s<I P h1 1.- j." , ;11'. alllL' s d L' I Lr pa.... 1.-"< 1111 -
pletamcutc di ante de 110 .... .. c. e, u. de morou de
hor a... . do inl:io fim.
Na Inglaterra surgiu um es tilo especfi co
de palco processio nal e de carro-palc o, As ce-
lebrae s de Corpus Christi, que se dese nvol-
veram de 1311em di an te com uma cenogra fia
cada vez mai s rica. enco ntraram um contra-
pont o forma l nas estaes dos cicl os de mist-
rios. Enquant o os cenrios mltiplos se torna -
vam comuns em toda parte. no palco ao ar li-
vre da s regi es ale ms e no palc o-plataforma
da Frana, os direrorex ingle ses trabalhavam
no interi or do est reito ce n rio do calTo-palco-
o qua l, ent retanto, no era to reduzido quant o
at agora se conside rava. Di fer entement e das
per sonagens do teatro post er ior. as do teatro
de cortej o no ficavam "apri sionadas cm seu
ca marim". como aponta Glynne Wi ck ha rn, scu
palc o era o mu ndo.
O te rmo pageant. em geral associado ao
ca rr o-pa lco ingl s, originalme nte se referia
aos locai s preparados nas v rias partes da ci-
dade par a os festivais ou para as repre senta-
es festi va s. Tanto um eve nto profano quan-
to uma fest ividade rel igiosa podiam ser mo-
ti vo de tai s repres entaes . A alegor ia que
John Lydgatc co mps par a acolhe r o j ovem
rci Henr ique VI em Londres foi apresent ada
cm se is co rtejos separados, em po ntos s igni-
ficativos da cidade, Isso acon tec eu em 1432,
um exemplo prematuro dos t ri onf i da Ren as-
cena .
O primei ro cortejo esperava o j ovem so-
berano no port o da margem sul da Pont e de
Londres. Ali, ele foi infor mado, em pala vras
bem esc olhidas. do que a cida de es perava de
seu novo rei e Crisris championn, Os cortejos
subsequentes recordavam-no da lea ldad e ade-
quada a seu ali o cargo. Na tone da pont e leva-
dia. mag nifica mente guarneci da de seda . ve-
ludo e brocad o dourad o. as figuras aleg ricas
da Fort una , Natur eza e Graa rep resent a vam
os atributos necessri os a um rei glorioso . Se te
do nzelas corporificavam os don s do Espr ito
Sa nto e outr as sete os dons terrenos qu e lhe
ser iam concedidos, Em Cornhill. a proci sso
encontro u a Dama Sa bedoria . acompa nhada
por Arist teles. Euclid es e Bo c io. Na sex ta e
ltima es ta o do cort ej o, no Conduto de Cor-
nhi ll. a Clemncia convocava Davi e Salomo
co mo testemunhas da autorida de adeq uada-
ment e aplicada:
Honour olr 1..y"gy.l , iII ( 'l'I ' I ".'" 111<11I11.' \ .\'-'11.
(J{ 0 " 1/" 1 cns nnn '''l'ir'' n/l nfl ' ilUI! nln.
i ".-\ hOllr:1 do," reis, .... <I v is ;'\(l do sen so
com u m .
c') l:i l."1II .un ar ii equidade c o dire-ito ." ]
O conj unt o era mai s um pan egri co int eli-
genteme nte ori entad o do que um aco nteci men-
to teatral e, na verdade , Lydgat e o havia pla-
nejado assim: porm. ivso dem onstra COIIIO o
prin cpi o da procisso foi variada mente apli-
cado . desde o comeo , Serviam tant o a fins
profanos qu anto religiusus. A es trutura ex ter-
na da rcprcse nra o em podi a ser
preenchida tant o pur alegorias qu e homcna-
:l tl
geassem algum como por um auto sacrantcn-
tal. Podia servir para a glorificao da Virgem
Maria ou do deus egpcio Osris. Mais do que
toda a sua dependncia do tempo. o teatro
mostra que atemporal, pela consistncia com
a qual preserva seus modelos bsicos ao longo
dos milnios e latitudes.
A Paixo no Palco
Simultneo em Espao Aberto
medida que a lngua vulgar foi se es-
tendendo, at mesmo o auto pascal rompeu sua
estreita ligao com a liturgia. A solenidade
dos eventos atemporais abriu caminho para a
multiplicidade do presente e a linguagem cor-
rente, trajes e gestos espalharam seu colorido
pela histria bblica.
Quando a Igreja abriu suas portas e dei-
xou o drama escapar para a confuso e a ani-
mao da cidade, o fato significou mais do que
um simples aumento de espao. A prspera
populao da cidade apoderou-se com dedi-
cado fervor do drama, esta nova forma de auto-
expresso agradvel a Deus e que crescia de
forma cada vez mais exuberante. Patrcios, bur-
gueses e artesos tinham a liberdade de apre-
sentar as verdades da f de acordo com sua
prpria interpretao da vida. Uma das pare-
des da nave da Catedral de Lirnburgo exibia
uma tentadora loira, simbolizando a Luxria;
os orgulhosos cidados locais, num de seus
dramas ao ar livre, transformaram Maria
Madalena numa linda cortes, a quem era per-
mitido levar a mais alegre das vidas munda-
nas, cantar uma toada profana claramente ins-
pirada em poemas da corte, sentar-se mesa
com Jos para uma partida de xadrez e tocar
alade. Depois disso, a mesma Maria Mada-
lena cantava uma das mais tocantes seqn-
cias pascais, a Victimac Paschali. Os contras-
tes no entravam em conflito, mas intensifica-
vam-se um ao outro. Formas sofisticadas de
expresso podiam ser seguidas das mais rudes
vulgaridades, passagens de potica ternura, de
sequncias completas de obscenidades. Lavra-
dores, servos e demnios competiam entre si
na inveno de tesouros de blasfmias e in-
vectivas.
"Isso vem mostrar", escreveu reprova-
doramente o dominicano Franz von Reli. dc
212
Hst oria Mundial do Tca t ra
Viena, por volta de 1400, em sua Lectura super
Salve Regina, "que csses espctculos teatrais
sobre Pusterbalk e seus desenfreados compa-
nheiros, encenados por certos clrigos na Ps-
coa, so mpios e deveriam ser banidos dos
lugares sagrados. Tais representaes teriam
provocado ofensa mesmo em outros tempos,
nos teatros e espetculos dos pagos".
Porm, por trs dessa dura represso, per-
cebe-se que, mesmo sob as asas do clero, toda
sorte de condutas mpias de h muito j se in-
sinuava dentro das peas religiosas.
Os dramas da Paixo de Frankfurt-am.
Main, no mercado de vinhos de Lucema, na
Viena da Baixa Idade Mdia, na praa do mer-
cado de Anturpia ou em Valenciennes - cuja
apresentao se estendia por vrios dias - so
exemplos de um desenvol vimento colorido,
inventivo, irresrrita e de incontida exuberncia.
A prspera e livre cidade-elllporillnt de
Frankfurt-am-Main pde produzir um drama
de Paixo que durava dois dias, j em 1350.
Seu contedo abarcava desde o batismo de
Cristo no Rio Jordo at a Ascenso. A estru-
tura didtica era fornecida pelas disputas en-
tre Ecclesia e Synagoga e entre profetas e ju-
deus. Havia tambm aluses tpicas. como, por
exemplo, peste que assolara a cidade em 1349
e ao fanatismo do movimento dos flagelantes.
O porta-voz da verdadeira f era Santo Agos-
tinho. de quem, numa impressionante lio fi-
nal, dez judeus recebiam o batismo.
A documentao de Frankfurt relativa a
essa representao um exemplo curactersti-
co da direo cnica medieval. Conhecido
como o Dirigicrrolle (Pergaminho do Diretor)
de Frankfurt, trata-se de um rolo de aproxima-
damente 4,40 m de comprimento. trazendo um
roteiro no lugar da msica geralmente escrita
nos pergaminhos (rotuli) e utilizada por can-
tores e menestris. Os dilogos so registrados
apenas por palavras chave, com indicaes cla-
ras das "deixas" dos atores. Mais explcitas,
no entanto, so as indicaes cnicas. Foram
especialmente anotadas com tinta vermelha
pelo escriba do Dirigicrrollc de Frankfurt.
Baldemar von Peierwei}, cnone na Abadia de
So Bartolomeu em Frankfurt. A partir desse
pcrg.uuinho, Julius Pctcrsen, num esmerado
estudo, reconstruiu as cenas e a sequncia do
cspcuiculo.
21. Auto lia Paixo, apresentado na praa do mercado de Anturpia: cena do ('cce homo pintada por Gjllis Mostaert. c.
1550 (Anturpia, Koninklijk Museum voor schone Kunstcn).
22. O grandl' ecce hcnno, Gravao cm cobre de LUL'as vau Lcvdcn. 1510 .
23. Cena do eco ' 110111(1. Painel cc nrral de um altur da Cated ral de Brun swi ck. de UIll mestre da Baixa Sa xni a. 15tH}
(Brunxwivk, l Icrzog- AnronUlrich Muxc um).
A l da d r M d; d
Co nforme se pode ded uzir a partir de uma
descrio contempor nea da cidade, escrita
pelo prprio Bal dcrnar. a pea foi apresentada
no monte Samydagis Sancti Nico lai, hoje cha-
mado Rrnerbcrg. A praa incl inada fecha-
da ao sul pela Igrej a de So Ni col au iNikolai -
kirche). que era submetida ao captulo da Ca-
tedral e tambm Abadia de So Bartolomeu,
anexa. Des sa forma. Balde ma r ti nha sua dis-
posio um terreno conhecido par a sua ence -
nao e para a construo dos ce nrios indivi-
duais da obra. Fora esse o local onde, um ano
ant es, os cidados haviam pre stado homena-
gem ao Imperador Carlos IV.
No plano ptico. havia uma vantagem na
incl inao da praa onde a Pa ixo seria revi-
vida, pois as trs cruzes poderiam ser erigidas
na parte mai s elevada e, assim, vista s a dis-
tncia. A leste das cruzes, foi ergu ido o Trono
do C u, apoi ado firme mente na s antigas e
elegantes residncias pat rcias (que sobrevi-
veram at o scul o XX), e a seus ps ficava o
Jard im do Get smani . Assi m, o anj o com o
c lice de fel tinha que dar apenas um passo
frente para surgir aci ma do intrprete do Cris -
to ajoelhado. Os mestr es c nicos medi evai s
eram realmente habil idosos nos truques da
sua profis so.
Num espao ova l de aprox imadamente
36,Srn, o loca dos vrios atores e cenas seguiam-
se um ao out ro : a cas a de Mar ia, Mart a e
L zaro, a casa de Simo, o Carcer e o Cast runi
de Herodes. o Pal ati um e o Pret orium de
Pi latos; na extremidade oes te, inferior, da pra-
a, fica va o port o do Infern o (tomando pos-
svel a entrada de Sat que emergia do lI't1sser-
graben , o velho fosso): aqui tambm ficava a
font e meio coberta usada para as cenas de ba-
tismo. A mesa para a ltima Ce ia (mensa; o
Templo e a coluna com o galo. cuj o canto pro-
clamava a negao de Pedro - tudo isso ficava
situado no meio do espao aberto. O pblic o
assist ia tanto da rua quanto das janelas das ca-
sas prx imas. Como ocorre em todos os cen-
rios simultneos dispostos em espao aberto,
os diversos loca indi viduais eram platafor mas
baixas, se necessrio cobertas por um balda-
quino leve arrimado cm pilares de madeira, o que
no impedia a visibilidade de nenhum dos lados.
Pctcrsen presnme que os ator es entravam
pela Igr eja de So Nicolau, onde tambm po-
di am trocar de roupa. Os laos do teat ro co m a
Igrej a de modo algum foram rompi dos pelo
fato de es te ter deixado materia lment e seu re-
cinto . Frequentemente as representaes da
Pai xo se iniciavam ou terminavam pel o ser-
vio divino. Com certeza, os cantos lat inos. a
m sica c as pas sagens corais logo deram lugar
a um prazer desenfreado na linguagem e na
rep resentao, no limitado por qualquer te-
mor pi edoso. O cru real ismo observado nos
paini s pintados do fim da Idade Mdi a ga-
nhou terreno tambm nas peas: (') S verdugos
que pregavam Cri sto na cruz devi am ter a apa-
rnci a horrvel , brut al, desprezvel, com a face
dist orcid a.
A Pai xo de Alsfcld, com seus 8.095 ver-
sos , o mais longo exemplo da regi o francni o-
hessi ana, mostra a Crucifixo como urna hor-
rvel cena de tortura. Os executores gri tam uns
aos outros: "An hende 1Il1d an fus: hyndet em
strenge und reck et en nach. des cruezes lengc"
("Aman-em-no fortemente pelas mos e ps, e
estiquem-no ao longo da cruz") . Eles demons-
tram o esforo que precisam efetuar a fim de
esticar o corpo de Cristo ao longo da cruz, para
que cons igam pregar os cravos nos buracos
previament e abertos nos lenhos.
Do ator que represent ava Cris to exigiam-
se esforo s fsicos tremendos. Ele tinha de se
dei xar pux ar, empurrar, arrastar e bater, e so-
frer uma viol ncia no muito menor do que
era comum numa exec uo em seu prpr io s-
cu lo. XIV ou Xv. O pequeno degrau de ma-
dei ra que lhe der am na cruz para apoiar os ps
(suppedaneum i era lima pequena compe nsa-
o pelos maus-tratos recebidos anteriorme n-
te. de modo a impedir que o papel aca basse
matand o o ator. (O suporte dos ps j unto cruz.
muit as vezes encontr ado nas represent aes da
Crucifixo nas artes plsticas, no der iva dos
autos da Paixo, mas de princpios iconog rfi-
cos. um ltimo lembrete do fato de qu e a
arte crist primiti va tentou preservar a imagem
do rei entronizado mesmo na figura do Filho
de Deus sofredor . Terra. a terra, ou Ado, ajoe-
lhado, seguram o Cristo crucificad o, erguido
sob re o pequeno dcgrau.)
"Robusto e sensual prazer. comhinado com
uma fort e piedade" - essas eram as carac tcrsti-
cas das grandes Paixes cvicas nas regies de
l ng ua alem. Ao lado dos sitios da regio
l l5
24. o Mercado de Vinhos de Luccrna. vista oeste, no prime iro dia do auto pascal de 151:D . A fil eira de casas esque rda
mostrada apenas em planta baixa com as indi ca es dos nomes de seus proprietrios na poca. No fundo, direita. a
Boca do Inferno. Esboo de reconstruo de A. 3111Rhyn (do livro de Oskar Ebcrtc. Thecuer-grschichte drr innern Schwer,
Knigsberg. 1(29).
lWltDUVlOV
BUG/{ ' NA CH W ES TE N.
AVf Cif RVSTET' FVR'O EN ' ERSTEN.TAG
DES ' OSTERSpj ELS'VQN UB;l
A... " RtlY",.
AII'''l'I f H .' Y'
H s t o ri a M' u u d i u l d o Tea tro .
dos do sculo XV, Luc ern u. na regio de di a.
Ictos al ernnicos, tornou-se um centro de repr e-
se ntaes suntuo sas . Aqui . tambm, as peas
eram produz idas pel as irmandades reli giosas
de cidados. As represe nt aes da Pai xo de
Lucern a co ntinua ra m at o sc ulo XVI. Numa
poca em qu e o es prito da Ren ascena h
muito rompera co m as velhas tradi es, os ci-
dad os de Luccrna ainda se reuniam no Mer-
ca do de Vinhos da cidade pa ra devotar doi s
dias inteiros. da madrugada ao cai r da noit e. a
reviver a Pai xo de Cri st o, co m todas as suas
prefigur ae s e aros subseqentes de Reden-
o. O cro nista da cidade, Renward Cysat, pre -
parava e edi tava os libret os, ensaiava o elen co.
diri gia o espe t culo. negociava co m os artesos
enca rregados da cons tru o das plataformas e
int erpretava o pape l da Vi rge m. Ele tambm
proj et ou. com det alhes meticulosos, o palco
em doi s planos. A isso se deve o nosso conhe-
ci me nto da mon tagem da gra nde Paixo de
Luce ma de 1583. No prime iro dia, o rio Jordo,
cenri o do bat ismo de Je su s, cruzava diagonal -
ment e a rea de representa o; a "Haus zur
SOIlII e" ("Casa Frente ao So l"), situada na parte
mais alta e est reita da pr aa, rep resentava o
Cu. e. diante del a. no segu ndo di a, ergueram-
se as trs cruzes do G lgot a. Os loca dos dis-
cpu los. da s sa ntas mulheres, de Jos de
Ar imatia e de Herodes fi cava m ao nort e, os
do Templo de Jerusal m e da Svnagoga, ao
su l, e a Boca do Infern o de Lci fer e dos "al-
tos demnios " ficava abert a a oeste. junto da
manj edour a da Nati vidad e no pr imei ro di a. e
da co luna dos flagel os, no segundo.
A mesma dist ribuio fica evide nte no
c hamado plano c nico de Donaueschinge n. O
Paraso, o Getsmani c o G lgota es to na ex-
tremidade lest e do espao cni co, enquanto
os rep resent ant es do ma l c das trevas ficam a
oe ste, em frente ao pr-do- sol. Entretant o. pes -
qui sas rece ntes pr ovaram defi nit iva me nte que
o plano. ao co ntrrio do qu e sugere a denomi -
nao pe la qu al o conhece mos, no se refer e
iI Pai xo de Don aueschingen de 1485. mas,
tan to no que di z res pe ito ao co nj unto quanto
aos det alhes c nicos. ao segundo dia da Pai -
xo aprese ntada em 2 1 e 29 de maro de 1646
e m Villinge n, na Fl ores ta Negra. Essa reti fi -
ca o , que devemos a A. M. Nagler, no des-
cart a a possibili dad e de que um esquema an.i-
renano-hcssi ana, on de essas peas eram apre-
sent adas de sde muito ce do, elas eram comuns
especi almente ao redor de Viena. nas reas
alemnicas no sul do Tirol (Boze n), em SI. Ga ll
e Lucern a.
O aut o pascal vie nense " \'(l/I der besu-
cliunge dcs grabis und von di r ofi rstendunge
goti s" ("da Visita ao Se pulcro at a Res surrei-
o de Deu s" ). que pode ser datado de 1472 c
procede de um mosteiro de eremitas agostinia -
nos. co mea somente aps a Cruci fixo, El e
mostra ",,) . Christ ist erstanden \ '011 des rodes
bandin, und hat dy heiligvn veter irlost vou
der bi t/em hellin rost " ("como Cr isto escapou
dos laos da morte c lihertou os Sa ntos Pad res
das chamas do Infern o"), isto . a Ressurrei -
o e a descida ao Inferno. Aparecem Abrao
e Isaac, o arc anjo Gabriel e Ado e Eva imp lo-
rand o a salvao. A linguagem e os se ntime n-
tos esto imbudos da cordialida de do povo
simples e. nas cenas do Me rcator; transfor-
mam- se em far sa desenfreada. intimamen te re-
lacionada com as peas carnavalesca s. Em ter-
ras da Bomia. o ve ndedor de ungeruos. o
Mast ick ar, seg uiu o mes mo caminho - o do
heri grotesco e pro fano das pequenas fars as
independent es.
O dese nvo lvime nto da Pai xo viene nse
culmina com o no me de um mestre famoso .
que alca nou grande repu tao co mo escultor
e como dir et or teatral. Wi lhelm Rollinger. Foi
ele que m, no perodo de 1486 a 1495. criou os
paini s em rele vo dos famosos "a ssentos do
velho coro" na Catedral de Sant o Estvo, e m
Viena . (Eles fora m destru dos pelo fogo e m
1945.) Do total de qu arent a e seis ce nas, trinta
e oi to eram sobre a histria da Pscoa, come-
ando com o Do mingo de Ramos e term iuan-
do com a descida de Cr isto ao Inferno. Embo-
ra no fosse m uma c pia das cenas real mente
apresentadas na pea, os pai nis refl etiam se u
espr ito. Wi lhe lm Rollinger era um membro
da irmandade de Co rpu s Chri sti de Viena. qu e
respondia pel a representao anua l da Paixo
e pel o aut o de Corpus Chri sti . Em 1505,
Roll inger superv isiono u a prod uo completa
e a dirc o artstica de um espcuic ulo que, co m
seu elenco de mai s de duzen tas pessoa s. foi o
clmax e - luz da Rcforrn a iminente e do ce r-
co turco - tamb m () canto do ci sne da trad i-
o cios aut os rnedi cv ui-, em Viena. Em meu-
216
2f t)
O cspcuiculo de sele dias foi diri gid o pel o
pint or Vigil Raber de Sterzing, arti sta II1UilO
solicitado no Tir ol como dramaturgo. ce ngra-
fo. figurinista, di retor e atol. Hoj e existe 11111
esquete de Vigil Raber para o prl ogo da Pai-
xo de Bozen . que no foi aprese ntado na pra-
a do mercado. mas no conjunt o gtico da igre-
j a paroq uial. Os atores ent ravam em proci sso
solene. pela porta principal. a porta niagnu,
esquerda, dist ribudos pela nave e pelo tran-
septo, ficavam os loca de Caifs e An s, e a
casa de Simo, o leproso; direita, o Mont e
das Olive iras e, j unto ao coro , o es trado da Si-
nagoga ; do lado oposto, o Infern o. e. no c rcu-
lo do coro, o C u e os angeli CII IIl siletc ,
Fora um longo caminho atrav s elos sc u-
los, desde os pr imrdi os do auto da Pai xo at
a Pai xo de Bozen. Em termos de histr ia do
teatro. o desenvol vimento era igualment e con-
sistent e. tant o em seus aspectos int ele ctu ai s
quant o nos c nicos. A igreja c a praa do mer-
cado eram o local da representao, o cl ero e
os cidados . seus protagonistas. O princpi o
do cenrio simultneo se diversificava cm mo-
difi caes elabo radas, governadas pel as neces-
sidades pniricas e pelos efeitos visuais. Cada
parti cipante linha sua posio predet ermina-
da. seu lugar , variadamente descrit o co mo
locus. manso, sedes, casa, ou stcllinge. Quan-
do se u papel o exigia, ele desci a de se u pruri-
c.ivel pa ra o espao cent ral de repre senta o,
ou recebi a os outros atores cm se u prpri o "lu-
gar" quando o texto os fazia ir at ele.
A disposio dos cenrios podi a ser topo-
gr,fica. corno no mercado de vinhos de Lucer-
na; ou podi a seguir a seq ncia cronol gica
dos eventos, C0ll10 na Pai xo de Donauesch in-
gcn/Vlinge n: podia decorrer de co nsidera es
2 . Plano cnico da Pai xo d l' Don aucschinpcu . pruva vrhucutc para (I dia de rcprc scuuu..-O de I Cl.Hl. 1.'111
Vi ll i ngL" ll.
A Idade Mdi a
logo lenha sido usado para a riqu eza das ce-
nas grotescos e cru is de Don aucschingen . em
que. ant es da flagel ao, a cade ira de Cristo
puxada e. depoi s de sua inevi tvel queda. ele
novamente posto cm p - pel os ca belos . Po-
demos pre sumir que disposi es c ni ca s se-
melhantes lenh am existi do nos grandes aut os
da Pscoa e da Pai xo, que duravam vrios
dia s. em Erlau, na Hungri a; na pr aa do mer-
cado de Eger ; ou na cida de han seti ca de
Lbeck (que muit o provavelment e era tam-
bm o cenrio do aut o pascal do Red entor, da
Bai xa Alemanha).
Conhecemos com mais preci so a Iradi -
o c nica da Paixo do Tirol do SIII (hoj e a
provncia italiana de Bol zano) . que foi desen-
volvida tanto pel as ambies dos camponeses
da regio quanto pela dos cidados. Os ciclos
de peas amplamente planej ados, que eram
apresentados por prsperas cidades comerciais
como Bozen (Bol zan o), Brixen (Brscia) e
Stelzing, tiravam proveit o de uma tendncia
nativa para o drama e para a orgulhosa exibi-
o cvica. Cada vez mai s, ce nas foram adicio-
nada s ao cicl o de peas at que, como num
clmax, em 1514 a represent a o da Pai xo de
Bozen ( Bolzano) dur ou nada menos do que
sete di as. Comeava co m um prl ogo no Do-
min go de Ramos (entra da de Cristo cm Jeru-
salmI, continuava na Qu inta-Feira Santa . com
a lti ma Ceia e as cenas do Mont e das Oli vei-
ras, e apresentava a flagel ao e a Cruci fixo
na Sex ta-Feira Santa. O lament o das Marias e
um auto dos Profetas eram apre se ntados no s-
bado . a Ressurrei o no Domingo de Pscoa
c, na segunda-feira, a viage m a Emas. O ci-
cio terminava com a glori ficao de Cristo no
dia da Ascenso.
25. Plano cnico de Renward para o auto tI;:1 Paixo de Lucern a (primeiro dia), representado cm 1583.
.. 27. O auto da Paixo de 1583 representado no Mercado de Vinhos de Luccrna. Maquete de reconstruo de Albert
Koster, segundo planos cnicos do cronista de Luccrna, Rcnward Cysat. Na parte frontal, a "1Iaus zur Sonnc" (Casa frente
ao Sol), com o Cu entre suas duas sacadas, acessvel por uma escada; diante dela, as trs cruzes do Glgota. No centro,
esquerda, a rvore na qual Judas se enforca, c sua direita, o Templo representado por um baldaquino sustentado por
quatro colunas. Na plataforma erguida no primeiro plano, a fonte, cuja coluna foi usada para o flagelo (Munique, Thcatcr
Museum).
A Idade M da
28. Plano cnico de Vigil Rabcr para o auto da Pai-
xo de Bozen (Bolzuno). representado em 1514 na igreja
da parquia da cidade. Os atores entravam pela porra
lIJagna, o portal principal. Os lugares de Caifris, Aruis e
Simo, o Leproso ficavam esquerda; o Inferno, o Cu
(Angeli Cllm silete) e o lugar da Svnagogu encontravam-
se na cabeceira; o Monte das Oliveiras situava-se direi-
ta e o Templo de Salomo no centro.
estilsticas, como em Alsfeld; ou ainda, das
circunstncias locais, como na igreja de Bozen.
Os cenrios obedeciam regra inevitvel
do paleo em espao aberto, onde a viso livre
de todos os lados no poderia ser impedida por
nenhum muro. As casas de Pilatos, Caifs e
Anas, bem como o Templo de Jerusalm, ti-
nham de ser feitas apenas com um teto apoia-
do em quatro pilares. Um modesto elemento
de surpresa era s vezes introduzido por meio
de cortinas, que o ator - por exemplo, repre-
sentando Herodes em seu trono - abria na sua
vez de entrar em cena.
O espeteulo era anunciado e comentado
pelo praecursor. que pronunciava os versos
introdutrios e, freqentemente, dava explica-
es didticas durante a pea, resumindo os
eventos. "Hut und tret mil' aus dem wege, das
ich meyne zache vor lege!" ("Ateno, venham
a mim dos caminhos, que eu vos conte
lzminhas coisas!") - assim ele abre o auto de
Pscoa de Viena, com um apelo ao bom com-
portamento e ateno da assistncia. Pede
silncio aos "aldcn floucnaschin", pois "wir
wellin haben eyn osterspiel, das ist frolich um/
kost nicht vil" ("mantenham-se calados, velhos
tagarelas, pois vamos assistir a um auto pascal,
que alegre e no custa muito"), embora a
"alegria", neste caso, claramente no devesse
ser entendida como "terrena", mas, sim, de um
tipo espiritual, mais saudvel.
Os espectadores se distribuam ao redor
de todo o espao da representao ou senta-
vam-se em cadeiras dobrveis que levavam
consigo e, se a multido no fosse muito den-
sa, acompanhavam a ao, quando esta se mo-
via de um lugar a outro. claro que mal havia
essa possibilidade nas peas representadas
dentro das igrejas e nos palcos da praa do
mercado do fim da Idade Mdia. Porm, quem
fosse afortunado o suficiente para ser um vi-
sitante de honra da cidade. ou habitar uma das
casas que se abriam para a praa, podia des-
cortinar de uma janela todo o espao da re-
presentao.
Sempre que se anunciava uma represen-
tao, o povo das aldeias prximas vinha reu-
nir-se aos cidados, e mercadores, menestris
e letrados errantes chegavam de terras longn-
quas. Os artesos fechavam suas lojas e a guar-
da interrompia o acesso cidade, fechando os
portes. Todo o trabalho se paralisava quando
soava a ordem: "Nu swiget alie still!" ("Siln-
cio, todos!"). A frmula latina "Silete, si/ete,
silentium liabete" sobreviveu como um lti-
mo vestgio na drasticidade vernacular da lin-
guagem dos autos da Paixo do tardo Medievo
adentro. Em numerosas representaes, o ter-
mo silete veio a ser usado tanto para marcar o
final como para conectar as cenas individuais.
Introduzia a prxima fase da ao e acalmava
distrbios ocasionais entre o pblico, especial-
mente na medida em que este se movia para
acompanhar a ao. No caso de representaes
que se estendessem por vrios dias, o silete
assinalava a cesura para uma possvel inter-
rupo, at a prxima vez. Amide, entretan-
to, a apresentao de cada dia terminava com
uma nota deliberadamente didtica ou utilit-
221
I .
i
I
,
,
\.
!
ria. co mo qu ando os pusi l nimes c os c ticos
eram co nci tado s a se deixar converter de sua
compassio a uma nova promissio: ou. num pla -
no mais profano. qua ndo eram sol icitados a
recompensar os "pobres eruditos' co m co mi-
da e bebi da por seu es foro na pea; ou. ainda.
qu and o era dado o anncio. bastante agnidavcl,
de que era tempo de par ar " para uma boa cer-
vej a" .
De sde que a pea abando nara o recint o
da igrej a. sua dire o e organiza o haviam
passado cada vez mai s s mos do s cidados.
Escrives da cidade. professores de latim e fi-
na lmente "artistas livres" co ntriburam muit o
para sec ularizar cada vez mais as peas. Esse
desen vol viment o comeou logo qu e os desem-
penhos nas representaes for am confiados a
seminaristas. estudantes de lat im. letrados er-
rantes e. por fim. aos mimos qu e ofereciam
seus servios em todos os lugares. Os suces-
sores dos anligos joculatorcs aceit aram. com
alegria c co m a experincia dc se u ofcio, os
papi s de dem nios. de Judas e de verdugos -
todos repr esent ant es do ma l, que davam mu i-
to ca mpo par a a co mdia. mas com os quai s
um burgus respeit vel e estabe lec ido relut a-
ri a em ide ntificar-se .
incluso do mimo que a pa ixo da Bai -
xa Idade Mdia deve mu ito de sua exubcrn-
cia e da viso terr a-a-t err a. as sim como uma
vivncia reali sta do esti lo de rep resent ao que
nunca teria podido se desenvolver dentro dos
limi tes dos crculos laicos.
Os M i st ri os C O II/ Ce n rios
Simult neos /10
Pa Ico - P la tafo rt na
O grande mistri o da Pai xo do drama-
turgo e tel ogo francs Arnoul Grba n con-
tm uma cena muit o significaliva. Como fun-
do para a agonia no Hort o. h urna discusso
entre Deus-Pai e Iu stit ia sobre a necessidade
do sofrime nto de Cri sto. A idia escatolgica
co mea a atingir. alm da vida humana de Cris -
to. as premi ssas do ato da Redeno.
Par a a ment e racion ali st a francesa. era
algo natural tornar a histri a do Evangel ho, o
aqui e agora da Pai xo, co mo o cent ro da his-
tria do mundo, no s nas disput as eruditas
dos tel ogos. mas tambm no palco do espe-
222
H s t oriu M un d i a l (/ 11 Te a t r o .
tacul o reli gioso. Isso levou cada vez mai s il
incluso de part es do Velho Testame nto, as
predi es dos Pro fet as e, finalment e, de toda a
histria da Criao. Paixo com o tal foi subs-
tituda pel o Mysterc de la Passion (O Mi st rio
da Paixo). um espet cul o origi nado no se rvi-
o divi no e, ao mesmo tempo, fi rmemente
apoiado na int erpretao teol gi ca, com o Cu
e o Inferno constantemente present es em cada
palavra c imagem.
Isso no significava. entretant o. que o es-
pao da s representaes estivesse atado ao in-
terior da igrej a. Ao contrrio, o mai s anti go
dos dramas rel igi osos existentes e m lngu a
fran cesa, o Mys t re d 'Adam, da metade do s-
culo XII. j se reali zava fora do portal da Ca-
ted ral. Em trs grandes ciclo s tem tico s, ele
trat a do pecado e da rede no prom etid a hu -
mani dade: a Qu ed a. o assassinato de Abel por
Caim e os Profetas. s rubricas suge re m o uso
de uma armao de madeira adequadame nte
deco rada. que se apoiava na fachada da igr ej a
- co mo no espet culo atual do Jedennann ,
dia nte da Catedral de Salzburgo. O prtico er a
a Porta do Cu. De um lado ficava o Paraso,
sobre um tabl ado e levado: do outro, mai s aba i-
xo, a Boca do Infern o.
pal avra falada, os cnticos solenes (com
as partes do coro ainda em latim) c a anima da
a o pant ommica (Eva e a serpente) int egr a-
vam- se numa experinci a teatr al qu e deve ler
deixad o uma impresso profund a e dur ad ou ra
nos espectado res . Um co ntraponto modern o
o Misu' rio de EIC//(' rea lizado lodos os anos
e m 15 de agost o, na Espa nha. na cidade de
Elche, fa mosa por suas tamarei ras. O clmax
da pea, qu e uma combinao de co ro e pan-
tomima, d- se no mo mento em qu e um grup o
de cria nas, vestida s de anjos, desce - exnra -
ment e como se fazia no sculo XIV ..da cpula
da Igrej a de Sa nta Mari a at o coro, radiante-
ment e ilumina do por mi lha res de c rios . o
mesmo ac umulo de eleme ntos decorati vos e
psicol gi cos qu e encontra uma ex presso cs -
tonteante na arte das catedrais espa nholas.
Os mistri os franceses , igu alad os ~ I S ve-
zes . mas nunca ult rapa ssados em perfe io teu-
traI pe las mist erv plavs ingl esas. tive ram seu
mxi mo tlorescimento nos sc ulos XV e XVI.
O Mvster dI' la Passi on, de Arno ul Grhan.
co nta quase t rinta e cinco mil versos , e sua rc-
A I I/ 411ft' Mdi a
presentao exigia qu atro di as. Com uma efi-
cie nte altern ncia de cena s s rias e pat ticas e
for temente gro tesc as, co nta a histr ia de Ado,
a vida de Jesus na terra e a Sua Pa ixo c Res-
sune io, terminando com o mil agr e de Pen -
tecost es. O amor maternal de Mari a por seu
filho co nfro nta do co m o amor divino de Cris-
to pel a humanidade. O ma nuscrito inclui mi -
niaturas qu e do uma idia da rique za de ce-
nas e personagens e de sua adaptao teat ral
alta mente fun cional.
Um contemporneo ma is jovem e suces-
sor de Grban, o mdico e dramaturgo Jean
Michel , a mpliou e modificou o te xt o de
Gr ban, produzind o uma nova verso e m sua
cidade natal . Angers, em 14 R6. co m o ttul o
de A1.' SI1' I'C de III PlISSi Oll d,. IIOSlrc Saulve ur
Iltesncrist (Mistrio da Paixo de Nosso Sal-
vador Je sus Cristo).
A pe a contm urna ce na qu e altamente
relevante par a a controvertida qu esto da in-
flunci a recproca da pi nt ura e do tea tro na
Idade Md ia. Uma mulher. a "[ vressc H-
droit", forja os pregos para a Cruc i fix o. O
diretor de cena c miniaturist a Jean Fou qu et a
re tra to u, por vo lt a de 14 60 , nas Heu res
d 'Esticnnc Chevalier, como tambm havia fei -
to o iluminador de um manus crito ma is anti go
da Paixo de Mercad. Jean Mi ch el des igna a
mulhe r Hd roit como a "canaille de Jeru sa-
lem", mas a Bbl ia no a men ci on a. De acordo
co m uma lenda, obvi amente muito co nhec ida
na Idade Mdia. ess a "[cvrcssc H dro it" . uma
serva na casa do sumo sac erdote Anx e cu-
nhada de Mal chus, ca rregou a lanterna por
ocas io da traio no Gersrnani . Ela retra-
tada nos relevo s cm mr more do sculo XlV.
Mas co mo teria chegado a forjar pregos na
Paixo de Angcrs' Parece qu c devemos recor-
rer aos bufes, aos jocul utorr s, para uma ex-
plica o. A figura de Hd ro it ap ar ece numa
Passion dcs Jonglcurs , do sc ulo XII. e tam-
b m no poema narrati vo ingl s Thc S/O,.y c ~ r
lhe Holy Rood (A Hist r ia do Cruci fixo Sa -
grado, Harleian Library, I\Is. 4196 ). O que se
segue narr ado co mo tendo acontec ido ao
e ntard ecer do dia da C ruc i fi x o , cm Jerusa-
l m: trs homens for am ao ferreiro c lhe enco -
mendaram os pregos. O homem, porm. era
um seguidor sec reto do Naza reno e simulou
uma mo machu cada para se livrar da vergo-
nhosa tarefa . Em se u lugar, entret anto . a mu -
lher do ferreiro - H droit - pegou o martel o, a
tenaz e o fe rro e foi para a bigorna.
Jean Michel incorporou es ta cena ii sua
Paixo. Ex is te m paralelo s int cre ssant cs na es -
cultura. nas iluminuras dos livros e nas pintu-
ra s murais. No tm pano do prtico ce ntra l da
ala ocide ntal da Ca tedral de Estrasburgo ( 1280-
1290), uma jove m segura trs lon gos pregos
nas mos. a braando a cruz de Cristo: num
manuscrit o ingls de 1300, ela vista na bi-
gorna, um a velha agitando vi gorosamente o
brao; e, num afresco no moste iro Zemen, na
Maced ni u, um grupo inteiro de pessoas est
reunido c m volta da forj a.
O bufo, com seu repertri o ine sgotve l
de hi stri as. muit o querido e ao mesmo te mpo
vilipe nd ia do, conseguiu achar uma estrei ta
porta dos fundos para sua es timulante entra-
da, mesmo l aonde as autoridades estavam ce r-
tas de ter conseg uido bani-lo. Escondido nas
ent re linha s da tradio comumcnte aceita , ele
es pera, junto ao s seus semelhantes, pa ra de s-
mentir os ve lho s clic hs que sc refere m s tre-
vas da Idade Mdia .
Em 1547, os habit ant es de Valenc iennes
se reuniram para en tregar-se ao gr ande Mvstcre
de la Passion durante vinte e ci nco dias. Dian-
te de se us olhos di stribuam-se as cenas , su-
ces siva mente, ao longo de um eixo lon gitudi-
na l, como na scacnae [rons da Anrig idadc.
Os pr inc pios cni cos da Renascena tm li-
ga o com o pa lco de plat aformas com ce rni -
rios si mu ltneos das peas francesas do final
da Idade Mdia. Os modos de pe nsa me nto e
represent ao de outrora so assimilados nas
formas renovadas do por vir.
Com toda a riq uez a de se us ce n.i ri os e
durao dos espet culos, Valenciennes c nco n-
Irava ri vais nos cicl os dos Apstolos e do Ve-
lho Testamento de Paris, dil at ados de forma
giga ntes ca ( 154 1 e 1542), e nos dra mas de
qu arent a dias dos Ap stolos. de Bourges - acu-
mulaes inigual veis na hi st ria do teat ro
mundi al. Se esses monstruosos ci cl os ainda
permit iam um efeito coerente e a co ncentra-
o no cspc uic ulo, c em quc exte ns o, al go
qu e perm anece du vidoso. Uma miniatu ra de
Hubcrt Cailleau ret rata o palc o- plata fo rma de
Va le nc ie nn es, co m seus ce n rios m lti plos,
se us loca, hald aqu inos, tronos. pdios c inte -
223
Jesus levad o cida de 1.:011I0 prisioneiro.
29. Painci -,cm rele vo do velho cadeiral J o 0)[0 hit-:-. l ru do Pl.. ' )o r C l ~ l l em 1')1:' 1. proveniente tio final do Ik'r t.k.l o gl il.. ' o,
na Catedral de S;1I 110Eq':'\,;lo til' Viena: \.'II I ; d lk'S do (' il.: I" d a Pa i xfi u. 1..' 11l-l6 <.'l..' II;I.'i. I'cali l au os pelo escul t or e d ir ctor teat ral
Wilhel m Ko ll i n)!er, entre 1 , ~ X h t' 14\)).
Jesus en viado a Herodes por Pilatos .
I'"" ...
. "'"' v ;
;-0-.,) .......... _ 't- ......
, . . ...."" C"/f
... . .
.1c7 r;..ff...... .....
.... .......-
30. Pg.ina do texto c miniaturas do s t vstcrc '/f ' la t 'ass on ths Amou l Grbau . A repr esent a o do ;UIt O, COI11 quasc
3,5.000 verso<, est endeu-se por qunro dias. Aqui silo remi s tia infm-ia de Jesus. c. 1450 (Paris Bibliot h que de
I Ar sen al ).
:\ I d a d e !& f llin
riores acortinados, Na extrema esq uerda , en-
contra -se Deus-Pai entronado co m uma auro-
la, co mo o smbolo do Para so, e na ex trema
direita es t o Inferno, cercado por fogo c re-
plet o de demnios gesticul ando se lvagcme nte.
Al m da s tradicionais mandbul as de animal,
aqui o Inferno possui uma caract erstica espe-
cificamente francesa - uma torre fort ificada,
co mplementada por um poo, onde Sat ati-
rado depoi s de Cris to ter abert o os port es do
Inferno.
Os 'dramaturgos e encenadores dos mi st -
rios do fim da Idade Mdi a francesa pod iam.
com certeza, contar com tcni cas cnicas de
alto padro. Os conducte urs de secret (condu-
tores de seg redo) , os mgicos da produo tea-
tra l, nada ficavam a dever aos mechan opo ioi
da Aruigidade. Faziam com que pratic veis
envo ltos em nuvens baixassem flutuando para
tra zer Deus-Pai terra, ou conduzir Cristo para
o C u. Atinaram at com um truque, por meio
do qu al o Esprito Santo se tornava visvel . ver-
tendo -se sobre a cabea dos Apsto los, por
mei o de lnguas de fogo. acesas "art ificialmen-
te, co m a aj uda de conhaque" . Jean Mich el ha-
via insi stid o especialmente nessa represent a-
o visual do milagre de Pent ecostes par a a
representao de 1491 do se u Myst rc de la
Ressu rccti on .
Para a Boca do Inferno, no ba stavam so-
mente portas praticvei s de madeira; as pr -
prias mandbulas monstruosas pr eci savam abrir
e fechar-se segundo as nec essid ades. "Enfer
fa it en niani re d 'une grande gucu lc se cl ouant
et ouvrant quand bcsoin 1'11 cst' (" Infe rno fei -
to maneira de uma gra nde goela se abr indo e
fec hando quando for necessrio" ), o que le-
mos nas rub ricas do Mvst rc de l 'Incarnation
apresentado em 1474. em Rou en ,
Essa mostra de perfei o tcnica corres-
pondia ao estilo reali sta do espet cul o. A suges-
tiva drasticidade exibida nas tort uras de Sant a
Apo lnia rivaliz ava com a dos ver dugos do
auto da Pai xo de Alsfeld. A cena representa-
da numa mini atura de Jea n Fouquet , datada en-
tre 1452 e 1460. At rs da rea cnica ao ar livre,
em primeiro plano, as plataform as-palcos esto
disposta s num semicrculo hori zon tal - no alt o,
ii esquerda, Deus-Pai entrunado e rodeado de
anjos e msicos; embaixo, ii direi ta, a Boca do
Inferno. Os espectadores, densamente amontoa-
dos, sentam-se abaixo do nvel dos tablados, em-
bor a alguns per sonagens pri vilegiados. ev ide n-
tement e, ocupem lugares mais altos. entre os
atares.
Essa mini atura, amide reproduzida,
possi velmente respon svel pela noo err nea
do "palco de mi stri o em trs n vei s" . alto
Devrie nt concl uiu, a partir das rubri cas do
mi st rio francs - que prescreve um Paraso
"en hauteur", no alto - que o Inferno, a Terra
e o C u es tavam di spost os em tr s diferent es
nvei s ou andares. e. em 1876, mont ou o Fausto
num palc o como este, que ele supunha ser o
dos mistrios me dievai s. Quatro anos dep oi s,
estudiosos provaram que essa concluso era
falsa . mas a noo equvoca do " palco dc mi s-
trio e m trs nveis" ainda per si ste teimosa-
me nte.
A durao da s representa es e a riqueza
dos cenrios por si j exigiam um espao aberto
de gra ndes dimen ses - em Rou en, o palco
tinha ce rca de 55 m de comprimento , e em
Mon s, na Bl gi ca, 37 m de comprimento por
7 m de profundi dade. Mas. alm disso, sobre-
tudo em Par is, desde muito cedo h a tcnd n-
cia de transf erir o cs pct culo para um teatro
fech ado. O princ pio do palco- platafor ma co m
ce nrios simultneos era relativamente f ci l de
ser tran sp ost o para uma sala de exte nso e
amplitude se me lhantes. e no teatro ao ar livre
j haviam sido construdas fileir as eleva das de
assentos.
A Confrri e de la Pass ion, de Paris. re-
presentava desde o ano de 14 11 em inter iores
- a princpio no Hpital de la Tri nit . dep oi s
110 Ht el de Flan dre e, finalme nte, no H tcl de
Bourgogne, onde o teatro fran cs mais tard e
lanou as bases de sua brilhante carre ira co m
Moli re e a Comedir Ital icnnc .
As desp esas da pea e a responsabi lidade
por s ua produo e ra m di vid idas e nt re a
confrcrie, o conselho da cidade e os partici-
pantes. Do s en saios em si ocupava -se o 11I1'1Iellr
de jeu, que - como no conj unto do teatro medi -
cval - em geral tamb mdeclamav a o prlogo e
as passagens de ligao ou de escl arecimento,
mant endo a unidade de a o . At meados do
sc ulo XV, a di fcil tarefa de "dirigi r" o grupo
het crogneo formado de artesos. estudant es,
letrados e viaj ant es que trabulhavum numa
pea er a ge ralmente reali zada por clrigos e,
227
s vezes, por acadmicos ou patrcios ambi-
ciosos.
A miniatura de Apolnia, de Jean Fouquet,
mostra um clrigo como niagistcr ludens, usan-
do um chapu vermelho alto e uma longa tni-
ca azul com bordas brancas. Em sua mo direi-
ta erguida, segura um basto, e na esquerda, o
libreto aberto. O diretor cnico de Hubert von
Cailleau usa um barrete chato e uma beca roxa
sobre cales curtos e largos, e segura o rollet,
ou o rolo do texto. como podemos imaginar
que Jean Bouchet - promotor pblico por pro-
fisso, e por inclinao encenador de mistrios
e autor de agressivas sotties - tenha aparecido
como mencur de jeu. Quando enfrentou o p-
blico como narrador do prlogo, Jean Bouchet
exigiu de si a mesma rigorosa clareza de dico
que solicitava de seu elenco de leigos. Dialetos
eram proibidos, bem como expresses impr-
prias ou barbarismos. Uma dico cultivada foi
desde sempre uma regra da grande escola tea-
tral de Paris e seus cidados, com sua orgulho-
sa conscincia nacional.
Os Pageant Cart e o Theater ln
the Round Apresentam a
Histria da Criao
Na Inglaterra, o modelo formal dos mis-
trios encontrou uma expresso muito menos
rigorosa do que na Frana. O princpio de re-
presentao em estaes, utilizado para as ce-
lebraes de Corpus Christi, foi adotado para
os grandes ciclos de mistrios do sculo XV.
Isto significava dividir o texto numa srie de
pequenas sequncias dramticas, ou em peas
teatrais de um s ato de igual durao.
O ciclo de mistrios de York, conservado
num manuscrito proveniente mais ou menos
de 1430, contm mais de trinta dessas peas,
cada qual montada em seu prprio cano, or-
ganizados como numa fileira de domin. Em-
bora cada uma das peas devesse ser dramati-
camente concisa, havia uma certa repetio, a
fim de que a linha da ao no fosse interrom-
pida. O ciclo de York, que mostra sinais claros
de revises e adies feitas por vrias mos,
gasta cento e sessenta versos para cobrir a cria-
o do Universo, a revolta e a queda de Lcifer,
a confirmao da onipotncia divina e a cria-
228
Histria M'u n d at do Teatro.
o de Ado e Eva. A determinao de Lcifer
em se vingar, como o texto especifica, deve
saltar como uma fasca para o carro seguinte,
que comea ento a funcionar. Ado e Eva, ten-
tados pela serpente, so suas primeiras vtimas.
Os mistrios de Chester e York, bem
como os de Towneley, apresentados em
Wakefield, exibem um senso de humor auda-
cioso e em parte altamente original, que se
atribui a uma reviso do comeo do sculo
XV, feita por um monge do vizinho mosteiro
de Woodkirk. E l e ~ contm uma cena magis-
tral de dilogo, no episdio da Arca de No.
Reclamando feito uma megera, a mulher de
No se recusa terminantemente a entrar na
Arca: devia ter sido avisada do plano previa-
mente e, alm do mais, por que no salvar
tambm suas comadres? Somente quando a
gua realmente a alcana que ela se deixa
levar para dentro da Arca. Fazer essa cena
deve ter exigido muito dos atores, mas tam-
bm da capacidade do pblico para aceit-Ia.
As indicaes para os carros-palcos conten-
tam-se em ordenar que a Arca "seja demar-
cada por um crculo em redor e o mundo ani-
maI reunido beira esteja pintado".
O problema de como era possvel repre-
sentar com coerncia, num espao retangular
de pouco mais de 3 m por 6 m, a histria do
mundo e do Evangelho, subdividida em vinte
ou at mesmo quarenta peas de um ato, des-
de a Criao at a Ressurreio de Cristo,
algo inexplicvel para quem no pde estar l
para ver. Dos relatos de testemunhas oculares,
entretanto, fazem isso parecer bastante fcil.
Uma descrio do sculo XVI do arquidicono
Robert Rogers de Chester recapitula assim a
mecnica de uma representao pageant:
Iniciavam nos portes da abadia, c quando o pri-
meiro carro-tablado se havia apresentado, era levado para
a cruz alta diante do burgomestre. e da por todas as ruas;
e assim [as pessoas em] todas as ruas tinham um carro se
apresentando diante delas cm algum momento, at que
todas as apresentaes em carros marcadas para o dia fos-
sem feitas; [...1c todas as ruas tinham seus carros diante
de si. todos eles se apresentando ao mcsmo tempo.
Cada pea dispunha, portanto, de seu pr-
prio carro. E assim, em cada ponto da cidade,
urna sucesso de carros chegava, um aps o
outro, para representar as peas separadas,
31. Narrador do prlogo.
Miniaturas da Passion 'Arrus, por Eustachc
Mercad. Primeira metade do sculo XV.
32. A mulher Hcdroit forjando os pregos (Arras,
Hibliothquc Municipalc) .
231
o verdad eiro palco da a o, ond e agora os ato-
rcs ent ram e no qual di sp em de espao para
se mover, ge sticular e exibir sua habilidade dr a-
mtica. como no poderia oco rrer no inevita -
velmente exguo pag caut cart.
A engenhosa co mbinao de Wickham do
pa geant cart com o scaffold cart (os scaffolds
sempre foram co nsiderados apenas armaes c-
nicas co mpleme ntares) explica at mesmo COIllO
No pode ler di scutido com sua obstinada mu-
lher no palco da frente e, ao final, t-la post o a
salvo na Arca, sobre o carro principal,
frent e da fila de canos, a cavalo ou a
p, vinha o expo sitor, qn e inf ormava ao pbli-
co reunido nas dif er entes estaes c nicas o
significado c o curso da apresentao que ocor-
rer ia. As repr ese ntaes eram diri gidas pel o
chamado CO/l vc)' o r (condutor ), que dava o si-
nal para o inci o da pea, atuava co mo pont o
e, no final , fazia com que seu carro seguisse
adi ant e, de ac ordo com o progr ama. Em geral,
o cOIn'cWJr era um membro da corpora o que
havi a financi ado a ence nao e os ato res de
um co rtejo espec fico . Constitua um pont o de
honra para ca da cl asse de artesos part ici par
dos autos dos mist rios de sua cidade. O di-
nhei ro co rr ia solto, e nenhuma economia era
feit a, Se os ca rpinteiros se enca rr ega vam da
Arca de No, os our ives do carro dos Magos e
os co me rciantes de tecidos da aparnc ia di gna
dos Profet as. ento o pblico podi a esperar no
s ouvir, como tambm assi stir a coi sas me-
mor vei s. O preparo inadequado de um carro-
palco de lima corpora o pod ia acarretar lima
numa sequ ncia inint errupta - o que, entretan-
to, pressupe que todas as cenas durassem
aproximadament e o mesmo tempo, par a pre-
venir qu alquer atraso. Dur ant e a proc isso. os
atores permaneciam nos seus prpri os C:UT OS-
tabl ados, em atitude esttica, at a prxima pa-
rada, onde entravam em ao novamente . Cad a
um tinha seu lugar determinado, onde ficava
em p ou sentado. Poucos objet os pessoais e
c nicos co nstituiam o cen rio, A Boca do In-
fern o, prov avelment e, era a pa rte inferior do
carro, escondida por panos - de qu al qu er ma-
neira, co mo a descreve David Ro gers. filho
do arquidi cono Rogers. Mas Glynne Wick -
ham provou que David Roger s era, soh mui-
lOS as pect os, um cronista no muit o cunfi ve l.
As refl exes de Wickham ace rca da relao
ent re as ex igncias cnicas co ndicionadas ao
text o e as dimenses lim it adas do 1"l g CllI1t
lI' agoll o levaram a uma reconstitui o dos
palcos ambul ante s ingleses, e ess e mod el o nos
escl arece muit o.
O carro -palco reconstru do por Wickham
abe rro em trs lados. Ao longo da parede de
fundo , de tbuas, ele insere lima ti ring house
(camarim) estreita, ocultada por uma co rtina:
11 sua fre nt e, ficam os loca, co m os at or es ade-
quad amente agrupados durant e o traj et o de
uma estao 11 outra. Um segundo carr o, o
scaffold ca rt , levado s estaes onde as re-
presenta es acontecem e co locado em posi-
o imedi at ament e contgua ao ant eri or. Esse
segundo ca rro contm simplesmente um pdi o
vazio, da mesma altura que () pugca nt cart.
? 3. Auto de mi strio, repr esentando o martri o de Santa Apol nia. dir eit a, () nvagstcrludcns envergando urna lon ga
batin a e segurando na mo esquerda o libreto abert o e na direit a a batuta de rege nte. Ao fundo, o Cu com uma esc ad a
enco stada e dois anjos sentados nos deg raus ma is altos: direit a. Boca do Infern o povoada de dem nios. Miniatura de
Jean Fouquet , c. 1460. para o U1- 'I'O das Hora... de licn nc Chevali er (Chamilly, Mu se Conde).
34. Plano c nic o do My.rl t\ yt' de Ia l'assion de Valcnc iennes. 15-1 7. As esta es ind ividuais lk atua o s:io enfileirada..
num plano: esquerda, o Paraso Com Deli s Pai cm Gloriota: direita , ao fundo, o Inferno com Bocu do Inferno c torre da
fortal eza, c cm pr imeiro plano lima bacia COIll gua ("Ia Ince") para a pesc a de Pedro (Paris, Bibli othequc Nati ouale}.
sena reprovao dos vereadores, e at uma
pesada multa . Foi o que aconteceu ao grmi o
dos pintores de Beve rley em 1520, "porque sua
pea [...) foi ma l e conf usamente repre senta-
da , em desrespeit o a toda a co munidade, dian -
te de muitos estr ange iros" .
Embora os textos es tivessem estabelecidos
h temp os, sempre pre ci savam ser revisados e
adaptados aos grupos parti culares de ateres.
Al m da rivalidade entre as diferentes corpo-
raes, as cidade s estavam freq entemenre ten-
tand o superar umas s outras co m suas peas.
Os el aboradores de textos podiam brilhar por
sua erudio ou, melhor ain da, pel a originali-
dade das grotescas adie s de sua autoria. Foi
assimque o monge de Woodkirk, que fez acrs-
cimos ao ciclo de Towneley, teve a idia de
inserir, antes da Adorao dos Pastores, uma
farsa que pode tranqil amente ser comparada
s de Hans Sachs. O pastor Mak, astuto e pat i-
fe, rouba um carne iro dos outros pastores e o
leva para casa , para a mulher. Por tudo isso,
ela o repre ende ruidosament e. embrulha o ani-
maI (claramente treinado para o palco), colo-
ca -o no bero, de ita-se ela prpria na ca ma e,
quando os comp anheiros pastores de Mak che-
gam e revistam a cas a com desconfi ana. ela
lhes pede silncio, em cons iderao a si mes-
ma e ao novo beb. Mas quando um deles le-
vanta a coherta do "beb" , a fraude desco-
bert a, e Mak apanha. Exa ustos. todos caem em
sono profnndo, para ser em despert ados pelo
Gl oria in cxcelsis dos anjos .
As fontes da co leo de peas de 1.:I 6l\,
Ludus COl'elllriae - embor a parea no haver
nenh uma conexo com Coventry (Craig as atri-
bui ao cond ado de Li ncoln) - re montam a
Bizncio. Urna de suas cenas de maior efeito,
"A Volt a de Jos" , coincide qua se literalmente
co m o fragment o de um di l ogo at ribudo ao
Patri arca Germano de Co nstantinopla. A Igreja
Ori ental e o carro- palco se encontram, ao lon-
go dos sculos, na expresso dos sentimentos
dem asiado humanos de So Jos , dos quais
fonte s srias tinham fal ado abertamente e so-
hre os quais os int rpretes oc ide ntais haviam
solici tamente estendido o mant o da Imaculada
Conceio. Jos acusa Mari a de ter-Ibe posto
dl ifres e envergo nhado seu nome:
J OSEPH : Sey lI1e M u !".\' III is cl Ji/dy .\ It! \T ho j, ..
232
Hi s t orin M UI/d i al d o [ c arro .
t-.IO\ RY: Th s ctude is goddvs and ."0111:
]OSI' I' H: Goddys chi/di' fil ou lvis t i II fav
God drd e II c l 'J'r jap( ' .\"0 wth ma )'
And I cam II f' l"y r ther I t/art' \n' l .\ uy
vitt so n.r" thi boure
in v t lsev II'lIOO U C/lilclt' iothis.
M ARY: Goddys and youre I ."l '." i-lt'YS.
J OSH'I l: Yil ya ali olde me" 10 tnc tut:c tent
und wedd vth no lI y Jf n 1/0 kvnnvs \lYSt'
thu t a yongl' wench he myn a .\'(' 1ll
for dou tc and JUlie mui .\ \1"."(' '' ,,"cn'Ys(,
Alas alas my tl W I U.' is
al! l11l'n may me fi OU' dysl' yst'
mui seyn olde co1..wolt/ thi /JO H' is bem
1U , u-ly 1l()11 ' afit'r lhe [renscln: g vse.
J OSE: Diz e, Maria , quem o pai desse meni no '!
M ARIA: Esse menino de Deus c l eu .
Filho de Deus! Na verdade. lu mente s . Deus nUIIC' 1
me co nsi deraria to louco. c o uso dize r qu e eu nun -
ca estive assim [50 perto de ti. e por (c pergu n-
l n : de quem esse menino'!
l\ T\ RI.. v: fil ho de Deus e teu filh o, eu se i co m roda a
cert eza.
Jost.: Sim, sim! Que todos os velhos sejam preve nid os
de cas ar-se dessa man ei ra . qu e a mim foi co nfiada
uma do nzela fazer-me. se m nenhum medo ou
dvi da. cvvc servi o . Ai. ai, nome c sui dosou-
rad o ! Todos os ho me ns podem agora despreza r-
me e d izer: velho com udo, passaram-te a peru a.
como di zem os franccsc....
Conqua nto o carro- palco fosse uma forma
assa z ca racter stica dos mistrios ingleses, no
era a ni ea. Na regio da Cornualha, os cen-
rios mlt iplos, simultneos, era m tamhm uti-
liza dos no sculo XV, tanto num palc o circular,
que acomodava os loco ao nvel do ch o (como
na morali dade TI/(' Cast!c 01' Persevcrance - ()
Cas telo da Pcrseveruna ). ou num arco mais
amplo. remanescent e do antiteatro da Antigi-
dade. O texto das chamadas cornish plays in-
cl ui diagramas que assinalam, dentro de dois
c rculos concntricos, os loca dos atorcs. desd e
a Criao at a Asce nso de Cris to, e termin an-
do, no co m o solene Te Deum, mas co m uma
exo rtao aos menestr is para tocar e aos ato-
res e esp ecta dores para parti cip ar da dana.
Dois desses teatros circulares ou cornis li
rotuuls existem ainda hoje - um em SI. Just ,
em Penwith, e o outro em Perr anzabuloe, na
Corn ualha. Amhos so palc os medi evais ao ar
livre, de mais ou menos 3H m a 43 m dime-
tro, ada ptae s do anfi tea tro da Antigiii dad e
co nstrudas nas tempest uosas terras do Norte.
William Borlase, um antiquri o que pu blicou,
em 17.:15, suas OiJ.I' er \' olioll .l' 011 Ih" A llfi<j ll i l ie.l'
A l dud e Mdi a
Historica/ and Monumental of Cornwa ll (Ob-
servaes sobre as Antigida des Hi stri cas e
Monumen tai s da Cornua lha) , ass im os descre-
ve: " Nesses r ounds, c rculos co mpletos, ou an-
fiteatros de ped ra (no inte rro mpidos co mo os
ci rcos de pedra), os brit ni cos costumav am
reunir -se para ouv ir peas representadas", e
acrescenta qu e "o monument o mai s notvel
desse tipo fica perto da Igrej a de SI. Just , em
Penwith" . O fascnio do lugar mant eve-se at
hoj e - em montagen s retro spec tivas, muito
di stante s de todos os es tere tipos de festi vais.
Richard Southern c ita um espectador do sc u-
lo XX que assistiu a a uma representao:
S o plan o e m .l;r all ilO de St. Ju-a. vista do cabo
Coruwal l c do oceano tr.uispare ntc q ue: bate contra
le magnfico promonr no. se ria UIl1 teatro perfei to para
a exibio l...1da grande Histri a da Cr iao . da Queda
c da Rcdcnco do Home m [.,.}. O enorme aflux o de pes-
soa s de longe qu ase no parec ia uma mult ido
nessa regio er ma , OIl J C nada cre sce que limite Do viso.
sej a de q ue t ido fo r (.. . 1.
So uthern ac res ce nta. com ref er nci a s
"influncias mentai s da ex pectativa e da reli-
gio", que os espectadores origi nais er am
gente do cm11l'k) o u da s c idades iruc riornuas. de uma p oca
anviosu por qu al qu er di v,.-rvo, reunida cm mut -
rido cm meio a UllI ale gr e j og o de vestirne nta s. entr e
coli nav c ba ndei ra s. co m um fos-,o c uma barreira se pa -
rando-a do mundo do coti di ano de trabalho [ ...1. Devora
ou 11:10 . i"o de pe ndia de c ndn um . 111 :\ , a muni do COIllO
urn todo pcrt cncia a um u ciPOC I de form ato rl'l igioso do-
miuaut c: c a...... im sc ndo, pe nso L'lI , L' 1a estari a preparada
para ou vir o longo ar gume nt o de lin ha tcotogica que at rn-
vc ssnra Ioda a representa o .
A infinita amplitude da ter ra e do mar de-
se mpenhava seu papel , assim como o cu azul
de Ate nas. ainda que , e m lugar da cla ridade
grega, nuvens ci nze nta s e tempestuosas ser-
vis sem de abbada para o Juzo Final nessas
terras do Nort e.
o A u t o d e N a ta l
O tempo todo as Paixes, os mistri os e as
representaes das lendas foram acompanhados
pel os ofcios e ciclos rel aci onad os com o Natal.
Ori gin a ram- se do me smo Quem quaeritix
ora torial que o germe do auto pascal. "A quem
buscais?" , era a pergun ta dirigida tanto s trs
Marias, no domingo de Pscoa, como aos pas-
tores que chegavam manjedoura. na noite de
Nat al.
Tutilo de SI. Gall foi o pr imei ro a incluir
uma passagem dialogada no se u tropo de Na-
tal Hodi e Cantandus. A ce na presta-se por si
imedia ta dramat izao . Os past or es que se
aproximam so saudados por dois di conos
com longas e largas dal mticas. Eles represen-
tam as mulheres que, de aco rdo com o evan-
ge lho apc rifo de Ti ago, ou Protevangelium,
assi stiram Mari a no part o. Al m di sso, incum-
be-lhes a tarefa adiciona l de serem testernu -
nhas da imaculada co nce po e partenog nese
- um duplo papel que a arte medi eval lhes con-
fi ou muito cedo, especialme nte nos monumen-
tos bizantinos. Como obstet riccs (parteiras),
oc upa m-se da Me e do Me nino e ban ham o
rec m-nascido em bacias e clices de ouro.
Nas ve rses mai s a nt igas do officilll/l
pastorum, as quasi obsteiriccs agem vicaria-
men te em lugar da Sagrada Fa ml ia. As inf or-
maes mais ant igas sobre a "encenao" des -
sas ce lebraes de Na tal es to nos trop as do
s cu lo XI. Um dele s de St.- Ma rt ia l, e m
Limogcs, e o outro, de ori ge m des conhec ida,
encontra-se hoj e em Ox ford. A pergunt a intro-
dut ri a, "Q uem quarcr itis i II presepe , pos/(}-
n 's, dicitl'" ("A quem pr ocurai s na manj edou-
36. o teatro ar ena (/ ler n ll1 H U I/ I/ II ) d(" Pcr r:l ll l.:l bu-
loc, Cornualha. diltado do st.:l.:ulo Xv. ( iravura d l' 1758.
233
234
37. Ciclo cpifnico co m as personagens do auto dos Magos. Cpia de lima pintura mural no antigo coro oeste da
igreja da Abadia de Lambuch. junto ao Dan bi o. alta Au su-ia. sc ulo XI.
235
te dos autos, o ordo Rache/is faz parte, de qual -
quer modo, da liturgia de 28 de dezemb ro, o
dia dos Sant os Inocent es.)
Herodes se nte o seu fimaproximar-se. En-
trega a coroa a seu filho Arquelau, cai mort o
do trono, "consumido por vermes", e levado
pelos demni os em jbilo selvage m. Um anjo
aparece a Jos em sonho e lhe ordena que fuja
para o Egito. El e o faz, com Maria e o Meni-
no. A isso se segue um Ludus de Rege Aegyp ti,
. que fala da chegada da Sagrada Famli a ao
Egito e da qu ed a dos deuses do impri o do
Nilo - e part es desse dil ogo so tiradas do
Antichristo de Tegern see.
E ass im vri os episdios cobrem, de for-
ma abrangente, cada aspecto dogmtico da his-
tria do Natal, com todos os seus antecede ntes
e ramifi caes. Com alguns detalhes a mai s ou
a menos aqui e ali, podemos encontrar paral e-
los nas peas de Nat ividade de Nevers ( 1060),
Cornpi gn e. Met z. Montpellier e Orlans, no
mosteiro de Ein siedeln na Sua, no mosteiro
belga de Bil sen e, na Espanha, com o Au to de
los Reyes Magos, da Catedral de Toledo.
Com a expa nso dos idioma s vernc ulos,
o cart er dogmtico das peas foi gradualmente
perdendo terren o pa ra cenas popu Iares ,
centradas na manj edoura e no Menino no ber-
o, confor me sobrevivem at hoje em canes
e cos tumes locai s. Jos aviva o fogo e se oc u-
pa com foles e velas, prepara um mingau para
o infant e (co mo no Myst re de Grban), flert a
com as servas e alvo de muita zombaria.
Na cape la do cas telo de Hocheppan , um
pint or tirol s de afrescos do sculo XII ret rata
uma donzela ajoelhada junto ao fogo, com uma
frigideir a, experime ntando os habi tuais bol i-
nhos de massa da regio, antes que a pu rper a
receba os seus. Duzent os anos depois, no auto
de Natal de Hesse, uma alma gmea d um
tratament o se me lhante cena. Enquanto em
Hochepp an Jos permanece qui eto e entregue
a seus prprios pensamentos e Maria superv i-
siona a prepar ao dos bolinhos em seu di v
bizantino, no auto de Hesse ela est inteira-
ment e tomada pel a preocupao de fazer co m
que as recalcitrant es serviais cuidem da cozi-
nha. "Que quer es, velho barba de bode?" - re-
cebe como resposta. Ele as ameaa "com uma
esfrega no lombo" e elas, por sua vez, o amea-
am "e mpurr -lo sobre os carves" e mini strar-
A t d ad c M din
Acessos de clera e ameaas violentas, em
contraste co m a credulidade e a confiana ino-
cente, se mpre foram um tema de efeito teatr al.
Os autos de Natal so um outro exe mplo da
antiga int romi sso, desde muito cedo, do mimo
na solenidade da igreja. Por volta de 1170, a
abadessa Herrad de Landsberg reclamou da
bufon ari a qu e havia se prop agad o desm e-
dida mente, em especial nas cenas de Herodes.
Para mostrar a maneira adequada de trat-Ias,
apresent a, em seu Hortus Deli ciarum (des tru-
do num incndio em Estrasbur go, em 1870),
Herod es entronado com toda a di gnidade.
As peas, nesse meio temp o, seguiam seus
prpri os caminhos, em parte condenadas pela
Igreja, em parte promovidas pelo clero . As ce-
nas bsicas eram cada vez mais enr iquec idas
com detalhes epi sdicos, embora ao mesmo
tempo nenhumesforo fosse poupado para apre-
sentar provas teolgicas do milagre do Natal.
O auto de Natal da abadi a beneditina de
Beuren , includo nos Carmina Buran a do scu-
lo XIII , comea com uma disput a dos Profetas.
Aparece m Balao e seu asno, Santo Agostinho
e um episcopuspuerorum. O Bispo Criana, que
na Fest a dos Loucos fran cesa e na Fcs tum
Asinorum preside uma grande quantidade de
frivolidades clericai s, no auto da abadia bene-
ditina de Beuren apenas anuncia, precocemen-
te, que a questo do nasciment o virginal s
pode se r adequ adamente explicada por Agos-
tinh o.
A Anunciao Maria e a Visitao ba-
seiam-se na histria autntica do Natal. A es-
trela aparece aos Ires Reges no Or iente. Eles vi-
sitam Herodes, que os recebe em presena de
um mensagei ro. O anncio da Nati vidade aos
pastores contm um contraste teatral de gra nde
efeito na pessoa do di abol us, que faz o melhor
que pode para demolir a credibilidade da men-
sage m ang lica. Os pastores vo manj edoura,
adoram o Menino e na volta encontram os Trs
Reis, que por sua vez chegam ao prespi o e O
venera m. Avisados em sonho por um anjo , eles
in ici am a j ornad a para ca sa se m vo ltar a
Herodes. Mas Herodes ouve do Archisynogogus
e de se us sumos sacerdotes que a profecia se
realizou. Ele determina o Massacre dos Inocen-
tes. Nas co linas de Belm ressoam os lament os
das mes. Raquel, a me judia represent ati va,
chora por seus filhos: "O dul ce sfi lii ...". ( par-
l is t r i a Mundial do Teatro .
igrej a da Abadia de Larnbach, no Danbio,
que fora m co mple ta me nte resgat ad as e m
1967, so provavelment e um reflexo plsti co
do Officium Ste llae de Lambach, um auto dos
Magos tambm co nse rvado em latim. As trs
mulheres ao redor da Mad ona entronada so
as obstetrices, as primeiras a receber os Ma -
gos quand o es tes chegam manj edoura. Karl
M. Swoboda, em 1927, foi o primei ro a afi r-
mar que o pint or do af resco deve ter se inspi -
rado nas figuras do aut o latino dos Ma gos.
A ce na foi posteri orment e ampliada , co m
a incluso dos anjos anunciando, das alturas,
as boas novas (co mo em Orl ans). As galerias
em arcos das igr ejas romni cas e os tri fri os
das catedrais g ticas proporcionavam os loca
ideais par a esse fim.
O officiutn litrgi co tran sformou-se em
teatro no moment o em que aparece um anta-
gonista: o rei Herod es, a personificao do mal.
Sobre ele e sua corte, os compiladores de tex-
tos medi evais co nce ntraram livrement e tod a a
sua riqueza imaginati va. Sentado em seu tro-
no prpura e rodea do de escribas, Herodes re-
cebe os Magos, depoi s de um mensageiro ter
anunciado os visitantes ori ent ais. No ato de
Natal de Orl ans, o filho de Herodes, Arquelau,
est ao se u lado. Encolerizado com as revel a-
es dos escribas. Herodes j oga ao cho o li-
\'[0 dos Profet as. Em sa nha pant ornmica, os
atare s retr at am a fria do pai e do filho br an-
dindo suas espadas co ntra a estrela - pendent e
de cor da. ela puxada ao longo da igreja -
que anuncia o Rei recm-nascido.
ra, pastor es?") e a subsequente adorao so
seguidas , enquanto transio para o Alelui a da
Mi ssa, pela ordem: "Et lJIill C euntes di cite quia
natus est" (" Ide e dizei a todo o povo que Ele
nasceu" ). O texto do officium ainda muito
prximo do texto do Evangelho.
Por volta do sculo XI, a cena foi enriqu e-
cida com a incluso de novas personagens. Ao
retornar, 05 pastor es encontram os trs Reis
Magos que, escutando as boas novas, por sua
vez se aproximam do Menino, oferecendo-lhe
respeitosamente seus presentes. Nessas antigas
representaes, eles no se ajoe lham. Na arte
antiga tal como na do Medievo inicial , o ge -
nufl exio no era uma expresso de venerao,
porm de splica por misericrdia. A primeira
represent ao que mostra um dos Reis Magos
ajoelhado aparece no Antependium de KJoster-
neuburg, de Nicholas de Verdun ( 1181), que
sugere, com o vvido impacto de suas numero-
sas cenas, uma conexo com as peas represen-
tadas em KJostemeuburg, perto de Viena. Os trs
Reis Magos tamb ms ostentam coroa a partir
de meados do sculo XII; antes, apresentam-se
"sbios", como magos usando o capuz frigia.
At o sc ulo XIII, a prpri a Madona apa-
reci a co mo imagem esc ulpida , ge ra lme nte
como a Virgem entronada com o Menin o, no
altar decorado para representar a manj edoura.
O Menin o Jesus, prenunciando o futur o Panto-
crator, levant a a mo direita , em atitude de
bno. sua volta esto as numerosas perso-
nagens dos ciclos da Epifania. As pinturas
murai s rom nicas , do antigo coro oeste da
J8 . Cena do ('("("( ' homo. rep resentada nutu varru-palco illgll's . Pilatos cm seu trono; esquerda. a co luna do flagele c
o sen o com J bacia d.gtl:l . Gr avura de David J t:C" . Extrado de Th omas Sharp. A Dissertation 0 11' ' ' ( ~ Pugcan ts (lr Druma tic
Mvstcries "ud l'mly Pcrfonnc.t m Covcntrv, 1825.
39. O Nas ciment o de Cri st o. Ce na natal ina. com espectadores c m trajes co ntemporneos. Pintura ..II.' lIans Mul tschcr,
1.t7J ( Bcrlim-Dahlcm. Sta atli cbc Museen . Gcmaldcgaleri cj.
40. A mulher Hdroit forja os pregos, enqu ant o seu marido exibe a mo machu cada; esquerda, dois homens fazem
perfura es na cruz. Do manuscrito Ms. 666 Holkam Hall, c. 1300 (Bibliot eca do Lorde Leiccster) .
,
-+ 1. A Sagrada Pamiu com anjos . Painel pint ado por um artista do Reno, I ' , 14()().O realismo popular, a rique za de detal hes
c o prespio do tipo baldaqui no comhiuam com a ex ubernc ia narr ativa dos alllos de Nat al ( Bcrluu-Dahlcm. Suuulichc 1\111:-'(,' CII,
Gcml dcga lcr iej.
lhe umas bofetadas. Jos grita " '0"011"0. aj\ll k m-
me ,., e tud o o que consegue qu e as criadas
com os doi s cs talaj adciros se ponham a danar
lassivament e cm volta do bero.
Mai s ou men os na p oca do auto de Nata l
de Hcssc, Konrad vou Socst , o cr iador do mag-
nfico altar de Niedcrwildung, co m se u piso de
ouro . mostr a Jos, de barbas bran cas. ijoclhu-
do junto ao fogo, co zinhando prudenteme nte o
di sputa do mingau. O alt ar pode ser da tado de
1404, enquant o o auto foi escrito entre 1450 e
1460 . embora, provavelmente , j tivesse sido
ap res entado de sde o final do sculo XlV. Os
mo steiros de Hesse, mais partic ularme nte o dos
fra nci sca nos de Friedberg. era m not rios. nes-
sa poca. por sua " vulgaridade imprpria". Em
1485, os ed is foram levad os a ex igi r nos termos
mais ca tegricos que os dois mos teiros de fra -
des agostini an os e des calos passassem a COIll-
portar-se de maneira mais dec ente.
Nos autos de Natal , como cm outra s peas
reli giosas, o robusto prazer sensual e a piedad e
singela esto intima men te ligados . () monge qu e
escreveu o manuscrito de Hesse co loca urna es-
tranha cunriga de ninar nos I;bios do Meni no
Jesus na manj edoura: "Eva. e."a. tari licbc
mutter "'.\'11, sal ich \ ' 011 deli jodcn litcu grasse
pin" (''Ai de mim, ai de mim, Maria, minha me
querida, os judeus me faro sofrer to grande
do r"). Maria o conforta: " 5I1' ig<' libcs /':i(/(I"'.\'1I
icsu christ, 1>"11'<'."11 dein nutrtcl uirht ; 11 dicsrr
frist" C'Quieto, qu ieto . querido menino Jes us
Cr isto. no lament es agora a tua mort e de unir-
rir" ). A tosca comicidade de taberna rcpcnti-
nament e sobrepuja da pela premoni o infantil
da sua Pai xo vindour a.
Na Rcp resentacion dei Naci mirn to de
Nnestro Sel101; um au to da Na tivida de escrito
pe lo poeta espanhol Gomez Manrique em mea-
dos do s cul o XV, mostram ao men ino na ma n-
jedoura os instrume ntos da Pai x o: a ce na ter-
mina Com uma ca ntiga de nin ar, cantada e m
forma de salmdia e, a cada es trofe. apoiada
por um dupl o grito: "ii." dolor'"
O pin tor fla mengo Roger van der Weyden
inco rpo ro u. no seu ret bulo do s l\ la gos (Al u:
Pinakothrk , Mu niq ue), a idia da Crucifix o
ant ec ipa da na manj ed oura. Discr et ament e,
quase des per cebido. um cru cifixo csui coloca -
do junt o ii ar cada cent ral das ru nas da Nativi-
dade . ( Uma cpia cont empornea Jo I\kst re
240
l is t o ti n ,\I lt1/(li o l d o TCII / I""
de Sant a Catarina. que c m tod os os demais de -
talhes correspo nde ex.ua mente ao or igi na l, no
levou em co ns iderao esse Mctu: tcke l.,
O dr am a natalino mal necessit ava de equi -
pamentos tc nicos especia is. Nos pa ses de ln-
gua alem. eslava e ro m nica, ele man teve-se
dent ro das igr ej as, mesmo quando os aut os d'l
Paixo e J as lendas co mearam a ex pa ndir-se
pelos pt ios dos most ei ros e pel as praas dos
me rcados. Quando mais tarde se t ransformou
no elemen to imprescindvel dos gra nde s ciclos
da Paixo. obviamen te a "choupa na natalina"
leve seu lugar . corno no gra nde palco ao ar
livre com cen rios simult neos de Luccrna, em
1583, o u no s m ist ri o s a pre sent ados no s
pagcllllt carts ing leses.
Os autos dos Pro fet as, origi na lmente li-
ga do s ao ofcio de Na ta l. havia m se tornad o
independent es da ce na da manj ed oura j por
volta do sculo XII. Em vez da int erpretao
teol gica e didti ca do Evange lho , como a
introduzida pel os Padre s da Igr ej a sob a c pu-
la da Hagia So phia . em Constan tinopla. o nor-
te prefer iu as dan as de diabo s e as luta s de
es padas . s ve zes de rea lism o to c rue l q ue
alguns es pectadores men os av isados fi ca vam
tomados de horror. A crnica do bi spo Albert o
da Livni a registra. com satisfao questio-
nvel, qu e se us compatri ot as, de maneira al-
glllna covardes. fugi ram apavorado s do Ludus
Prnphetarnm Ornati ssimus, represent ado cm
1204 por c'!rigos de Ri ga .
Um au to proft ico levado do , ano s an te,
em Regen sburg (Rnu sbona) . e m I 1') --1 . no
ca usou pnico. embora abarcas se .1 cria o
anjos, a que da de L cifer e seu s sl' guidores, a
cri ao do homem e o Pecado Orig inal. Tal -
vez as reuumcs f O;-iSl"IH mai s modexta s - ou
talvez os habita nt es dessa c idade cosmopolita
do Danb io estivessem mai s famil iarizados
com os efe itos das pro fecias. pcl os Serlll(,es
que ouviam. Al m di sso. o povo de R,>gen sburg
vivia numa cncruz ilh.ula de intl uncias bi za n-
tinas e antigas: talvez conhecesse m no
nas as hi stri as ele Baluo c seu asno. dos tr:
jo vens na fo rna lha ardente e da s profecias das
Sibilas. ma s tamb m souhcssem como Virglio
devia aprese ntar-se na fu n o de tcst emunh u
da histr ia do mun do pr -cri st o .
O desenvolvime nto po sterior do auto de
Na ta l no foi. de modo alglllll . iuttu cnci. ulo
T
-t2. ( \ n;1de co m "a pro vadura de bo linho s" . uma ser va que prepara c ex perime nta () prato local para a part uri ente
Maria. Piuuuu mura l na (;IPc!' 1do cucte to de Hoc hcppan. sul do Tirol, sc ulo XII.
-13. ( )s Tr s Reis l\ la;.! us r um I lcrod cs. a cujo ps se cncouu um <enmndox If""S escribas . Min iatura .I II Codn ..\ 11I1"" .\"de
Eclm-mach . c'. 1020 INurc mbcrc. (i LTlIltl ni sl'!ll".'i Nntionulmusc-umL
45. Saltimbanco e S50 Joo Evangelista . Min iatura s de um co men trio de Bcat us sobre o Apoc alipse . Manuscr ito
espanhol do mosteiro de Santo Do mingo de Silos, c. 1100 ( Londres. Briti sh Museum).
por disputas teol gi ca s eruditas. Tend o se li-
vrado de todo o lastro do Vel ho Testamento.
el e co nser vou a magia da manjedour a de Belm
at hoj e, enriquecida pel os mai s diver sos cos-
tumes populares locais.
AUTOS P ROF ANO S
Jo c ul at ore s, Men e str is e
Errant es
Os mesmo s argumentos co m os quais o
est adista bizantin o Zonara defendia, por volta
de 1100, a reab ilit ao dos atures da cort e fo-
ram propostos mais tard e a um gove rnant e oci-
dent al por um outro interc essor afi cionado dos
autos. Na corte do rei espa nhol Alfonso X de
Castela (1252-1284 ), o trovador Giraut Riquier
pediu ao rei para estabelecer. co m a fora da
sua autoridade rea l, uma nomencla tura precisa
par a os menestri s, de modo que os artistas "no-
bres" e os "vulgares" pud essem ser diferencia-
dos uns dos outros. No era justo, ele argumen-
tava, trat ar os ma is altos represent ant es da arte
recitat iva, cujos ver sos bem-torn eados e can-
es divertiam a cort e, da mesma fOl111a que toda
a hoste de palhao s, buf es , comediantes.
charlates e domadores de animais que desem-
penhavam seu of cio na praa aberta do merca-
do, diante de qualquer um do povil u.
A decl arao rimada e cheia de benevo-
lncia que Riqui er afirmou ser a respo sta do rei
a seu ped ido prov avelment e partiu de sua pr-
pri a pena. O ni co regi st ro ofic ial que temos
uma ju stificao para os autos nas igreja s, con-
tida nas Leves de las Partidas, o cd igo de leis
compilado sob Alfonso X. Depoi s de censurar
severamente toda a "libertinagem bufa que di-
minua a dignidade da Ca sa de Deus", ele afir-
ma: " Mas h represent aes permitidas aos sa-
ce rdo tes, Como por exemp lo a do nasci mento
de Noss o Senhor Jesus Cristo.."
Essa s palavras no sa tisfizcram o orgulho
do ambic ioso trovador Gui rot de Riqui er, Ele.
porm, teve de contentar- se com o favor pes-
soal que alca na ra e. co m ele. as ce nte nas de
menestr is, cantore s e m sicos , extrema men-
te so licitados como poetas da corte. oruani za-
dores de fest ivais. conse lhe iros e ara uto-, da
2./2
Hist rio "' u uli i " l d o Te a t ro.
fama de seu prncipe. Muito viajados e ex pe-
rimentad os em toda cl asse de mi sse s deli ca-
das. puder am com frequ ncia co mpa ra r-se com
os melhores repr esentantes da nobre za e m ha-
bili dade diplomtica e cu ltura geral. " Eu vivo
na generosa famlia do Landgrave" , canta Wal -
ter vo u der Vogelweide a respe ito de si mes-
mo, " de meu feiti o estar se mpre e ntre os me-
lhore s" .
Crnicas, trat ados e editos da Igrej a refe-
rem- se aos cantores ambulantes - os ruenes-
tr i s . mini ster ales , nii nstrels , nuinest rel es ,
meurtricrs - e contam qu e el es " servia m" a
seus prncipes com o alade e as canes. Por
fim, e ssa designao acabou se fundindo qua-
se indistint amente com a de joculator , her -
dada da Ant ig idade , ao termo fr ancsjOllglell r
e ao alemo Spileman.
ve rda de que Afon so de Ca ste la - o rei
erudito, poeta e astr nomo - recusou a Riquier,
o mai s nobre de seus tro vadores, o rec onheci-
ment o legal que ele to fer vorosament e dese-
jara . No enta nto, os sucessor es do rei Afonso
se ntira m-se tanto mai s ansios os por se ver re-
tratados no Tratado de Bat allas como sobera-
nos de Oriente e Oc idente, ador ando a atitude
de prnc ipes clementes. rod eados de negrinhos,
bufes e smios burl escos.
Os bufes, saltimba ncos m sicos, dana-
rin os e domadores de animais da Idade Mdia
ce rta me nte no podi am reclama r de qu e sua
exi stnc ia fosse dei xada no esquec imento. Eles
sobrev ivem nos p rticos das igrej as. nos tm -
pano s e ca pitis, nos pa ini s dos coro s, em
cornijas. manuscritos e obj etos e smaltados e
de marfim - retratados nos ma is es me rados
detalhes e variedade.
No s sculos VII! e IX. o moste iro de SI.
Gal! conside rava um pont o de honra receber o
senhor feudal no apenas co m cnticos pi edo-
sos. ma s com msica, danarinos e acrobatas.
Seu s Natai s era m to famosos qu e. e m 9 11, o
rei Conr ad o I de cidiu vis itar SI. Ga l! par a v-
los pessoalmente. (Por outro lad o, So Lus, o
Pi o, no se interessava por es ses espeuic ulos:
seu cro nista Theganu s nos co nta qu e e le nun-
ca ri a . mesmo nas fest ivid ade s mais a leg res,
qu ando bufes e mimos, flautist as e tocadores
de c tara fazi am rir a todo s os prcsentcs.) A jul -
gar pela bi ografi a do erudito ar cebispo Bruno
de Colnia. escrita por Ruotger. a herana tea-
T
44 . Sa ltimba nco com maca co. Bai xo relevo rom ni-
CO o Catedral de Baycu x.
~ . ~ p
" ' ...io...
" . J ~ ..tl : -J:;' ,
/ .- ;.: " .
-l., Mcucsudi s coru d:IIl , ',Jl ilIU'i 1l1a\ l' ar ados c de- dom ad ores de ca val os , T\largens in fc.
riurc 'i urnunu-utadn s th- do I.i N/I I!/ u lI s 11"\//\ 1/11111"1'. XIV (M v. Hod lc-inu u 2(1:). O x urd).
T
"' ",
I
!
trai da Antigidade estava to em evidnci a nes-
se tempo quanto a comdia atelana. As far sas e
autos de mimos - ele nos conta - com os quais
OS outros sc torciam de rir, Sua Emin nci a so-
mente os lia com propsitos srios: na verdade,
ele pensa va muit o pouco no cont edo dessas
comdias e tragdias , e muito mais no seu va-
lor como modelo para figuras de oratria.
A Comedia Bile dos peixes falant es, uma
farsa popul ar de ventriloquia dos histrion cs do
final da Anti gidad c, tambm sobreviveu at
o sc ulo XV como um nmero de ' g'ala dos
mimos. Dan a s de animais. imitao de suas
vozes e a far sa de tipos como meio de crtica
soci al eram as fontes inesgot vei s do mimo.
Quand o, no sc ulo X, o Ecbasis Capti vi se ins-
piro u em Esop o, numa alego ria di vert ida qu e
zombava da vida monstica transpondo-a para
o reino animal. seu autor clerical bebeu da
mesma font e que os ousados mimos e j ocula-
tores. Quando o trouvcrc pari si ense Rut ebeuf,
em seu Dit ele l 'Erb crie , apresenta um mdi co
charlat o qu e se gaba das centenas de medica-
ment os qu e ex perimentou no sulto do Egito.
revive nessa personagem o curande iro da An-
tigidade, tant o quant o o Mc nator no auto da
Priscoa. Esse papel sempre do j oclI/ato r , tan-
to nas can es de nu'nestrcl e dos goliard i.
quant o no drama religioso.
Sozinhos ou aos pares. esses ar tistas apre-
sentavam suas cenas com trajes C' rnaquiagern.
Gest os vvidos e danas suge sti vas revelam o
joculator. por toda s as suas ambi es Iitcnirias,
co mo um sucessor di reto da art e decl arnut ria
dos mimos e pant omimas da Anti gu idade -
embor a e le tenha tomado a hi stria bbli cn do
Filho Prdi go do "poema dram.itico" francs
Courtois dArras, escrito e recitado por um
j onglcur por volta de 1200. De sua participa-
o nos mvst rcs miuu's no h:i d vida algu-
ma. Quand o Filipe, [)Justo, fez represent ar em
pant omima toda a Pai xo de Cristo em 1313 ,
durant e os festejos em honra do rei da Ingla-
terra, com ce rteza foram "ateres profissionais"
qu e se ocupar am da express ividade exigida
pel o auto mudo. E quand o o autor da Pai xo
4 7, Sa lll lll 1.L.1I1\' ;I di an te de He rode s. Miniutura do
Jl nrt l /\ I>dici ur i ulII de 1I1.'lT' H1 de l. nn-bcrg. \ CCll\O XII.
de Kreu zenstein, do sculo XIV (da qual s
restaram fragmentos) prescreve um bal for-
maI para Sal om e qu atro de suas don zela s,
decert o no pret endia que fosse interpr et ado
por desaj eitados monge s. Para isso. contava
com o menestrel erra nte e sua companheira de
ofcio, a spilwip, J no in cio do sculo XII, a
eremit a Frau Ava, que vivi a perto de Gttwei g,
junto ao Danbi o, escreveu um poema rimado
sobre Joo Bati sta, apresentando Salom co mo
uma sp ilwip; co nhecedo ra de toda s as arte s da
pant omima e da dana: " vil wol spilt di v nuigct .
Si bcgut tde 11'01 singcn. snacllichlichrn spring cn
niit herpliin vudc mil gigcn, mit orgel/ cl1 \,I1'!c'
mit h TCI/ " ("Co mo atua bem essa moa. Sabe
como ca ntar e da nar co m agilidade, ao som
da harpa e do violi no, do rgo e da lira" ).
Assim a Salom da regi o do Danbi o,
de 1120, que Frau Ava faz aparecer em "c lumi-
chlich em gaerwe"; em trajes reai s, a prpria
imagem da mima bizantina descrita por Cri ss-
tomo, por volta do ano 400.
Mas na vida mon sti ca do sc ulo XII! os
deuses sorriam at me smo ao mai s pobre ac ro-
bata. A lenda france sa Lc Tomb cur No tre Dome
conta uma hist r ia comovente. Um acrobata,
cansado de vagar pelo mundo, rene ga seu di -
nheiro. cavalo e roupas. c ingressa num mos-
teiro. Todas as noites, secre tame nte, ele desce
ii cripta, onde lui uma csnit ua de Nossa Senh ora
na capela. Ti ra seu h bito. veste sua camisa
fina e a vene ra, no com ora es. mas co m
danas ac rob tic as . Executa os sa ltos fran cs,
es panhol e bret o, " rodopia seus ps no ar",
caminha apoiado nas m os - at que . exaust o.
desmaia, O abade, adv ertido de seu estranho
comportame nto, o obse rva secretamente e tes-
temunha um milagre: Maria desce do C u e
aban a o acrobat a prostrado, Profundamente co-
movido, o abade o toma nos braos e o ad mite
.. 2-15
48. llusicnista. Pintura de Hierunymu s Bosch (St.-Gerl11ain-en-Layc, l\lusc Munici pal).
49. Tirerelros apresentando-se para li rei. Miniatura do It onus tsclcianun de Herrad de Land sberg. sc ulo XII (o
ori ginal foi destrudo pelo fogu cm Estra sburgo , cm I X70 }.
T
:\ t dodc M l /i l l
na co munidade dos fra de s. Mas orde na -lhe ele
qu e cont inue fazendo o " servi o" di ant e da
imagem da Virgem, a t que o " tumbeor Nostrc
Dame" morre em bem-a vcnturana. A pe ra
de Masse net , Lc Lon glcu r de Not re Dame
( 1902), baseada nessa velha len da.
Co nta-se que Santa Angs tia de Lucca re-
compensou um violinista com seu sapato de ouro
e que a Madona de Rocamado ur teri a baixado
uma lmpada do aliar sobre o instrumento de um
humi lde joculator qu c a venerava. E, como no
fim de contas a Igrej a no podia ficar atrs de
suas prpri as lendas, todas as interd ies no evi-
taram que os vagantes e "habi!idosos menestri s"
fossem empregados co mo m sicos nas igrejas.
Finalmente, tambm aos joculatores deve-
se agradecer a conservao de uma das formas
teatrai s mai s anti gas e populares : o teatro de bo-
necos e marionetes. As figuras art iculadas, movi -
das por cordis e varas, como retratadas no Hortus
Deliciarium de Herrad de Landsberg, gozavam
de tanta popularidade qu ant o os bonecos do imor-
tal espetcu\o Punch /I/Id Judy, nos quai s os ala -
res ficavam ocultos por uma cort ina atrs de uma
barraca. O palco dos bonecos podia, na ocasio.
ser esplendidamente trabalhado, como testemu-
nha uma miniatura no manu scrito flamengo do
sculo XIV, Li ROII/lI11S du Boin Roi Alixandrc ,
em que o palco equipado co m ameias e balce s
e os guerreiros esto ladeados por duas sentine-
las armadas com clavas e maas. A sociedade cor-
tes parece incitada a uma viva discusso pelo
contedo da pea. Um tema de to ampl as poss i-
bilidades e to rico em elementos lend rios e his-
tricos quanto o romance de Alexandre exigia
com cert eza do titerei ro medieval uma famili ari-
dade no menos por menor izada de seu ambicio-
so lema do que a exigi da do lI' aymlg indonsi o
ou do artista do bunraku j apons. Num aspecto.
entretanto, o titereiro medi eval levava vantage m:
no preci sava fazer co m que sua hoste de heri s
aluasse, sem interrup es, por horas a tio, nem
renunciar a uma boa refeio com os servos - ou,
se fosse aceit o como igua l. na mesa do senhor.
Do Prs t i t o d e Mscara ii Pea
d e Pa l co
O cronista normando Orderi cus Vitali s des-
creveu, por volta do fim do sculo XI, uma ler-
rve l ex perincia de 11m sacerdote. Certa noite,
no co meo da primavera. pa ssou junt o del e. no
ar. uma hoste sel vagement e mascarada. ulula n-
te e exaltada de demni os co nduz ida por um
giga nte armado com uma clava. Er a a caada
se lvagem dos arlequins. zfamilia Herlc chini.
Menos de cem ano s ma is ta rde , Peter de
Bloi s, na sua dci ma quarta epstol a para os
ofic iais da corte do rei ingls ( 1175) menci o-
nou os fe itos nefa stos do s arle q uins . Eles eram
filh os de Sa t, di zi a. imagem do g nero hu-
man o presa da vaidosa mundanidad e; seu l -
der, o arq ui dern nio. no tinha o utro obje tivo
sen o o de aco met er a Igrej a e todas as suas
obras e levar tent ao e ao pecad o at o ma is
virt uo so e sbi o dos homen s.
A amiga mesni e Herl equin fran cesa uma
das inmeras ver ses da caada se lva gem, cio
ex rc ito de almas pen ad as, do ex rcito dos
mort os - todos profundamente enraizados nos
c ulto s demonacos pag os. Se us atributos so
mscar as de animais apavorantes , lob os e ca-
chorros como acompanh ant es, o bimbalhar de
si nos, urros e fria. assobios e g ri to . Surgem
a ss i m e m muit os exe mplo s. de sd e a hoste
ge rm nica de Od in e suas mu it as deriva es
nos costume s populares. at os lobisomens na
sia Men or e, mai s tarde, na sile nc ios a apro-
ximao de um ha lo de neblin a no Erl k nig
(O Rei do s Elfos). de Goe the . O arquidem nio
Herlequin acabou empres tando seu nome ao
Arl ecchi no ela COIIIIIl Nlia deli 'rt rtr.
Adam ele la Halle. ex-telogo, apaixonado
defe nsor da justia, poeta e m si co . co nfiou um
impor tant e papel ao Hcrl ekin Croqucsot em seu
1<'11 de III Fcuill ce (Jogo da Ramada). Nesse auto,
qu e fo i apresentado em Arras. em 1262, a per -
sonagcrn Croquesot surge com uma m scara de
demnio peluda e de boca grande . "Me sied-il
bicn, li hurcpiaus'l", so suas primeiras pal a-
vras. com as quai s se apresent a ii plat ia, ao to-
q ue dos sinos da hoste de arleq uins que passa
ululando pe los ar es: "No me cai bem essa
mscara, essa careta desgre nhada'?" Possivel -
ment e tambm usava um ma nto vermelho com
capuz, que , como vestime nta comum ao diabo
e ao arlequim. ser ve para identifi car a ambos.
LI' Jru de la Fcuille de Ad am de la Hall e
pode se r cons iderado o mais antigo drama pro-
fa no fr an cs . Combina e le ment os cultuais.
C0 1lt ," de fadas e superst ies de uma manei-
247
50. Mencstris. Miniatura do poema satrico Roman de Fauvel, cujo heri representado pela figura de um cavalo. A
serenata a uma viva que deseja se casar corresponde ao Charivari. com instrumentos musicais e ruidosos, como era
costume nos cortejos de mascarados da "mesnic l Icrlcquin" francesa c nos cspeniculos das farsas. Manuscrito de Gervaisc
du Bus, anterior a 1314 (Paris. Bibliothcquc Nationale ).
r
i
- I
, .
,
-- r-'
H s t ora Mundial do Tc n t r.,
Os autos de Neidhart alemes tiram seu
nome do trovador alemo Neidhart von Reuen-
tha!, umcavaleiro e vassalo do duque da Bavria,
ano II. Por volta de 1230, Neidhart von Reuen-
thal tomou-se desafeto do duque. Mais tarde en-
controu refgio na ustria, onde rompeu com
as convenes poticas das minnesang, que na-
queie tempo haviam se tomado rgidas, trans-
formando-se no representante mximo do que
conhecido como "hfische Dorfpoesie", isto ,
"poesia das aldeias sob influncia da corte".
Mediante essa nova forma, uma ponte
construda entre os costumes da corte e os dos
aldees - expressa to bem na antiga cerimnia
popular da colheita anual das violetas, da qual
tanto os aldees quanto os cortesos participa-
vam. No antigo auto de Neidhart, a duquesa da
ustria promete ao Cavaleiro de Reuenthal
eleg-lo seu "amante de maio", se ele lhe entre-
gar a primeira violeta.
Precedidos por flautistas, os senhores e as
damas da corte dirigiam-se em cortejo festivo
ao campo, s margens do Danbio. Neidhart
acha a flor que contm tantas promessas. Ele a
cobre com o chapu e se apressa a contar
duquesa sua "grande alegria". Mas os campo-
neses, que tem contas a acertar com Neidhart
por causa de seus versos satricos, amargam
seu triunfo. Quando chega acompanhado da
nobre dama e com floreios levanta o chapu,
encontra sob ele algo bem menos aromtico
que uma doce violeta.
A primeira verso do auto de Neidhart est
conservada num fragmento de um mosteiro
beneditino de So Paulo, em Krnt (datado de
aproximadamente 1350). A pea provavelmen-
te deve ser recitada por dois menestris, e ela
teatro no sentido de que seu tema um festi-
val de primavera, em campo aberto; no obs-
tante todas as piadas rsticas, ainda um poe-
ma distinto e corts. No final, todos se renem
numa roda para danar e concluir a pea numa
atmosfera geral de dia de festa.
Na verso tirolesa, mais extensa, do auto
de Neielhart elo sculo XV, a recitao por duas
pessoas se transforma na riqueza elecenas e ato-
res elosautos da Paixo. O cenrio muda do pra-
do primaveril para a cidade. Nada menos do que
cento e trs atores participam da pea. Trajes
tpicos coloridos, gestos animados, episdios
humorsticos e grotescos, um contraste bvio
ra inspirada. Foi a despedida imaginativa e
espirituosa do autor de sua cidade natal, Arras,
antes de partir para Paris e para a universida-
de, certo de que sua platia entenderia perfei-
tamente as suas aluses diretas ou disfaradas.
A ruidosa e desenfreada festa dos arlequins
falava ao corao de sua poca e de sua cida-
de, assim corno a sua stira, repleta de alu-
ses lgicas, grosseria e encanto, malcia e pa-
lavras mgicas.
Vinte anos depois, com seu leu qe Robin
et Marion, uma graciosa pastourelle com
acompanhamento musical, Adam de la Halle
antecipou o modelo dos autos pastorais da
Renascena.
No decorrer do sculo XIV, a [amilia
Herlechini emancipou-se de uma forma das
mais prosaicas. Na Charivari, os arlequins
desmitificados transformavam-se em demnios
barulhentos, que saam s ruas fazendo mal-
dades e perturbando o sossego. A Charivari
era uma espcie de parada carnavalesca de
bufes; seus participantes assustavam os ho-
nestos burgueses com empurres e com o ba-
ter de panelas de cobre, chocalhos de madei-
ra, sinos e sinetas de vaca.
Sob a proteo de peles de animais e ms-
caras grotescas, a mascarada, que em Adam
de la Halle apresentava ainda um aspecto de
comdia e teatro, se convertera agora num fim
em si mesma, alheia a toda inteno artstica.
Demnio ou bobo, o mascarado podia estar
seguro de sua impunidade para todo o sempre.
A liberdade dos bufes a nica que a huma-
nidade tem preservado, da pr-histria at hoje.
Nenhuma regra de moralidade e decoro
punha limites s algazarras noturnas. No ad-
mira que a Igreja exortasse clero e leigos a "no
assistir nem tomar parte nas festividades cha-
madas Charivori, nas quais o povo usa msca-
ras de demnios e coisas terrveis so perpe-
tradas".
Os autos de Neidhart, desenvolvidos nos
Alpes austracos e no Tirol, pertencem tradi-
o ligada ao solstcio de inverno, ao Carnaval
e aos ritos da primavera. Remontam a costu-
mes como o da eleio de um rei e de uma ra-
inha de maio, na Festa de Pentecostes, lembran-
do a italiana "sposa di niaggio" e o "Lord and
Lady ofthe Mav", o equivalente ingls do Robin
ct Marim? de Adam de la Halle.
248
com as falas elegantes e co rteses e com as rou-
pas do s cavaleiro s tran sformam o romance
numa turbul enta comdia camavalesca. O In-
femo intei ro desata-se agora em tomo do inci -
den te da violeta, demnios entregam-se a uma
discusso barulhenta, ca mponeses com pernas
de pau danam sobre seu fantstico brinquedo
e velhas megeras lutam co m estalaj adeiros.
quase um prenncio de Han s Sach s que, em
1557, reescreve o tradicion al auto de Neidhart,
tran sform ando-o no carn avalesco Schwank.
A u t o s de Ca rl/ a va l
oconselho da Cidade Livre de Nuremberg
era compos to de homen s muito preocupados
co m o decoro e a or dem p blicos. E uma vez
qu e seus porta-vozes eram pessoas intel igen-
tes, sabiam que a primeir a co isa a fazer era
co ntrolar os entretenime ntos. Assim, em 19 de
ja neiro de 1486. ass inaram e selaram um do-
cume nto estabele cendo qu e er a permiti do ao
" mestre Hans, o barbeiro , e ao rest o do seu
grupo" apresentar-se num auto de Carnaval em
verso, desde que obse rvasse m decoro e no re-
cebess em dinheiro por e le.
O mestre Hans a quem era dada essa permis-
so era Hans Folz, nascido em Worrn s, mestre
ci rurgio e barbei ro, que vie ra para Nurem-
berg em l479, ficando logo conhecido como rea-
lizador e autor de peas carn avalescas dc robus-
ta comicidade. Suas atividad es encontraramum
ca mpo ideal em Nurernberg, com sua constitui-
o aristocrtica, sua riqueza. seu orgulho bur-
gus e arteso. seu culto s artes c as cincias.
250
H s nsr u .H u lf tl i Cl I (/(1 TClll r o
5 1. Nci.Ihart (' II \ oh' fCl. Xi logmvura . pnw<l vclmcn_
te de uma impresso de Augshllrg. Ante rior a 1.500 .
Seu pred ecessor , o funilei ro e armeiro de
Nure mbc rg, Hans Rosen pl iit, le vara a a nt iga e
tradi c ion al for ma de cortejo , com suas piadas
de di sfarce e desmascaramcnto de identidades
sec reta s, a um rude grotesco de anedo ta em
ver so, a chamada Scliwank. Han s Folz er a co-
nh ecido por seus contemporneos e compa-
nhe iros de ofcio como o "Schncpp erer" (o
sa ngrador). Ele no apenas desfe ri u poderosos
golpes na contenda entre o povo de Nuremberg
e o margravc de Brandemburgo. como tambm
exaltou a burguesia em seus Fast nuchts spcle,
ou autos ca rnavalescos nos quai s fa lava co ntra
os nobres cavaleiros pol tica e mor al men te de-
cadente s. Numa das peas a ele at ribudas, Des
turken vasna-chtspil (Aut o Carnaval esco Turco).
va i to lon ge a ponto de contras tar o Oriente,
"o nde o sol se levanta, e as coisas esto bem e
em paz" , :1corrompida situao de sua ptria.
Pa ra reforar o argumen to, o aramo. que pre-
side e apr esenta todo o co rt ej o de participan -
te s. inclusive o escudei ro turco. fa z um pro -
nunciamento evi dentemen te crti co: " Seu pas
c hamado Grande Turquia, onde ningum
preci sa pagar impo stos" . Segue- se e nto toda
so rte de di spu tas ruidosas e vio lentas a mea -
as e ntre os cavalei ros c os de legados do im-
perador, do papa e do gro -llIrco. q ue rep rova
os cristos po r sua "arrognc ia. usura e ad ul-
trio" . Os cristos respondem avisando ao mu -
ulmano qu e vo escnnho.i-lo com uma foice
e lavar seu rosto com vinagre.
Dois burgueses de Nure mbcrg tm de in-
terr o mpcr se u trabalho para assegurar um sal-
vo-condut o ao hspede malt rat ado. Ag radeci -
do. o turco parte com gratido e bn os de
prosp eridade. c o arauto anuncia uma muda n-
a para um lugar melh or. Essa um a concl u-
so fr equen te dos autos ca rn ava lescos, qu e
sugere. corno nas cen as origina is dos cortej os .
qu e tudo se repetir alguma s ruas adiante.
Uma antiga pousada ou tabern a. co m ce-
nri o adequado , podia servir co mo loca l de re-
prese nta o sem preparativos especiais. Um ta-
blado de madeira sobre ton is. uma pa rede
co mo fun do e uma port a pa ra as cnrrudas dos
atores. tal vez uma mesa ou cad ei ra se rvindo
T
I
52. O Rei Davi. seg uido pu r UIH vio linista c um locador
de alade. dana diante da Arca da Aliana, puxada por
lima junta de bois. Mini atura da Bblia do rei Venceslau
IV. Cor/ex vndobon, 2960. C. 1-1- 00. Os msi cos das cida-
des C lia corte bo mias j ento gozavam de grande fama
(Viena. srerreichiscne Nationa lhihliothck).
53. Gravura do Iromispfci o do auto ca rnava lesco O
Mercadorde Indulgncias. de Ni klaus Manuel. 1525 (Bcr-
na. Slaulbihtiolhck).
de barr a de tribunais, balco de loj a ou tron o -
tais era m os simples acessrios. Essas farsas so-
bre os cavaleiros, judeus e cl rigos, cannicos
e alcoviteiras, imperadores e abades, acusado-
res e acusados, mdi cos e pacientes. campo ne-
ses e damas da nobreza deviam todo o seu efe i-
to tirada de es prito e agudeza verbal. A vi-
talidade do povo da cidade e o alegre desfrut ar
da vida violavam todos os tabus. deliciando o
pbli co co m falas rudes e diretas, tanto no a s-
pecto sexual e fecal quanto no polti co e moral.
As velhas se convertem em j ove ns do nze -
las na rod a do s bufes: juzes de paz matr eiro s
ti ram vantagem de seus demandantes . pr inci-
palmente se forem mul heres; um pai de trs
filh os pIOmete sua herana ao filho que de-
monstra se r o ma is rematado caluniador c va-
dio; campo neses lasci vos tm de suportar pu-
nies cuj a obscenidade faria enr ubesce r um
soldado .
Um tema favor ito dos autos de Carna va l.
usado mais de uma vez por Hans Sachs. era a
histria de Arist teles e Fl is. O triunfo da as -
tci a femini na sobre a erudio um moti vo
que j havia sido exp lorado teatra lmente trs
mil an os ant es pel os sumrios . A resolut a e
epi gon al Fli s tenta agora colocar o mest re de
joelhos e faz -lo andar de quatro, apressando-
o co m o chicote de montari a.
Outro cntrctenimcnto que fa'zia part e das
divers es carnavalescas de Nurcmberg era a
Schembart lauf ou Schnbartlan], cujos ves t-
gios ainda so brevivem em cos tumes popula-
res da Bav ria. da ustria e do Tirol. Etimolo-
251
H s t or a l\ / lI ll d i Cl I d o Te a t ro
54. 1\ Mulher Atirada c u Mulh er Recatada . X ilogra-
vura de um carn aval esco. de Hans Fo!z.
(', 1480.
gicamente , a palavra tem razes ling sti cas no
vocbulo do alto- mdio al em o da Baixa Ida-
de Mdia, sche mbart, schenebart , urna masca .
ra barbuda. Goe the estava familiarizado com
ela como eptome de mascarada. "Mas diga -me
por que em d ias to bon s, quando nos livra-
mos de preocup aes c usamos bel as msca-
ras barbu das.:" - d iz o Imperad or. na segunda
parte do Fausto.
Em Nuremberg, o Schembartlauf, privil-
gio alternado das corpor aes, rivalizava violen-
tamente em cert os trechos co m o auto carnava-
lesco, Os dignssimos magnatas, por veze s de
uma idade mad ura, que se dedicavam com pre-
dileo a esses festejos permitidos oficialmente,
tentavam ocas ionalmente ofuscar o prestgio das
represent aes carnavalescas. Em 1516, o Co n-
selim da Cida de concedeu ao auto de Ca rnaval
uma licena limit ad a a do is dias. " para que a
SC""III1>or l no fosse desacr editad a" .
Nas reg ie s alpina s, os aut os de Carnaval
e a Scltc/II/)ar l/oq(manti veram seu es treito vn-
culo com os costumes popula res. As co ntro-
vr sias predo minant es entre a gente da cidade
e os camponese s era m men os ace ntuadas - ou.
ao menos. no to carac teri zad as - de mod o
que o Schwank tirols, ou anedo ta cmi c a,
baseava se u efe ito no bom senso inato e hu -
mor bon acho. E co mo o Sul se mpre ti ver a
uma fraqu eza pelo Norte , os autos passaram a
situar-se na co rte do rei Artur. A fama dos fei -
tos hericos do lend rio rei ce lta ha via se es-
pa lhado j : no c ur so dos sculos XI e XII pOI
interm dio dos rncn esrr is britn icos e bret es.
e seus cantares ( Iais) era m bem conhecido s nas
regi e s ale ms. Na Sua, o rei Artur, o mode-
lo do s rei s cava le iros, tinha por companhe iro
o Anticrist o. tran sformado em tema fa rsesco
no auto Des Entkrist VOSI/ (/ c!l 1 (O Carnaval do
Anticri sto).
Nenhuma da s impropriedades dos auto s
do sul da Ale manha. Austr ia. Tiro l e Sua in-
vadiram os c rculos de Lbcck, os chamado s
Zirkelgcsellscluftcn, A di gnidade da s maneiras
patrc ias pro ibia qualq uer piada indecente e
obscenida des. A tend n cia para a alegor ia 1110 -
T
I
I
)5. As salto ao Intern o Schcmban. Nurernbcra. 15J9. O Inferno representado por um navio sobre rodas. repleto de
mascar..rs de demn ios c de pssaros (do man uscri to Schctnbart, Nor. K. 44-i, Nurembcrg , St adtbibliothck).
:'6. Festa da A .WlO numa catedral francesa. representao provenie nte do sc ulo XV (Paris, Biblioth que de J' Arsenal).
nado. Escr ita por um aut or desconhecido. roi
rep resent ada pela pri mei ra vez por volta de
1465. Sua primeira edio. no dat ada. aponta
para Ru o como local de ori gem . O di logo
mor da z, as frases polidas a de sembocar em
bri ncadeiras grosseiras traem o co nhecimen to
do mei o profi ssi onal contemporneo dos ad-
voga dos. Autor es posteriores. de Rabel ais a
Gri mme lshnuscn, da Henn o de Reuch lin s
Kl e i ns tiid t e r (Os Pequ en os Cita d ino s) de
Kotzcbu e, apropriaram-se do tipo est pido c
co nfiante dessa farsa.
Mestre Pier re Pathelin um advogado res-
peitado, verdade iro orna me nto de sua profi s-
so. No entanto, no ape nas inescru pul oso
como enco ntra real prazer em enganar se u vi -
zinho, o neg oc iante de tecidos Gu il lau me,
qu anto ao preo de alguns metros da melhor
fazenda . Alm di sso. aceita defender um pas-
tor a qu em Guillaurne acusa de ter lhe rouba-
do carneiros. Porm, depois de conseguir a
abso lvio de seu cliente. Patheli n cnganado
na mesma moeda. Tendo oricntado o pastor a
fing ir-se de bo bo e s responde r " be-b " a to-
elas as quest es na corte, quando chega a hora
de pagar o advogado cxaramentc isso o quc
5K t\1:b ,,:ara de cam uval. 14X-4 . Esboo do armoria l
de Gc nl ld b lllha c h {St aat sarchiv. Zuriqu e )
ral j se fazia evident e no auto carnavalesco.
Os regi stro s admini str at ivos da cidade han-
se tica livre de Lbeck, dos anos de 1430 a
1515, mostram que esses c rcnlos fraternos,
constitudos por membros do pat riciado, de-
di cavam-se represent ao de pequenas co-
mdias fechad as. Seu palco era uma platafor-
ma so bre rodas predest inad a, j pela forma
externa de carro-palc o, a ir ao encontro das
aspiraes da pea de mor alidades.
.-\ Idllde Mdia
Farsa c So tti e
"Mas voltemos aos nossos carneiros" -
em outras pal avra s. tom emos o mui citado
corp us delict i co mo ev id nc ia de que tambm
o csp rit francs no dispensou o traj e de bufo.
Conta-se qu e as pa lavras " Revenous ii ces
II UJ 1l101l.1' '' fora m usadas pel a primeira vez num
palco perto do Sena, em Ruo. Elas derivam
de um gnero de represent a o cuj o aguado
es pecaar teatral deve tudo espirituosidade
gaulesa: a farsa.
Suas origens remontam tunto s festas dos
bufes quanto s recitaes dialogada s dos
agressivamente chistosos rncnestris. Sua bri -
lhante entrada na hi stria da litera tura e do tea-
tro foi marcada por Maist rc Pierre Pathelin,
uma obra que trat a de um trapaceiro trapacea-
do co m o negci o do carne iro acima meneio-
59. Maist re Pierre I'at hrlin, Xogru vu ru de uma cd i-
o de 1-190.
T
I
57. "Ari st teles c Hli s", tema que reaparece nos autos
ca rna valescos de Hans Sachs. mas que tambm pode ser en-
con trado numa pintura mural toscana do sculo XIV. cm San
Gimignian o. Xltogra vura de Haus Burgkm air ( Berlim.
Staatlichc Musccn, Kupfcrstichkabinetu .
255
aquele faz; tudo o que Path elin recebe, em ve z
do se u dinh ei ro, " b -b" .
O ncl eo da pea, natural mente, o j ul-
gamento, que se per de numa co nfu so de as -
suntos irrel evant es a ele. Em vo o ju iz te nta
trazer os litigantes de volta ao ponto co m o
seu "Revcnons ii ccs 1I IOII lOlI S" .
A crtica soc ial e a stira encontrara m um a
ben vinda v lv ula na farsa. Seus fundad ores
eram advogados e escritores, estudantes e asso -
ciaes c uicas de cidados, erud itos erra ntes.
mercadores e artes os. As melhores em astcia
e originalidade eram as associaes de ju ristas
conhecidas como Bas oches , que haviam se es -
tabelecido dura nte o sculo XIV em Paris c na s
provncias. Essas associae s real izavam reu-
nies anuais, em que se entret inham com pan-
tomimas e pequenos di logos farsescos, Possu-
am um estoque incrvel de cenas de jul gamen -
to, casos fictcios de direito e problemas de ju-
ri sdio, vistos ao espelho distorcido da s tira a
si mesmos. Sem dvida, o autor annimo do
Maistre Pierre Patheli n veio da Basochc, Ex is -
te uma prova hi strica de que a origem da farsa
remonta a um edi to do Preboste de Paris, de
1398, e q ue e la se desenvolveu a parti r da com
as represent aes das Basoches du Palaisde Pa-
ris, documentadas de sde 1442. Estas e ra m
marcadas princi palmente para a tera-feira gor-
da e. alcanando um pbli co bem maior do qu e
o crc ulo dos seus membros, eram muito aplau-
didas co mo di vert idas "butonarias",
A farsa no tinha escrpulos. Sua efic i n-
cia depe ndia da auto- ironia, da zombaria dos
abusos correntes. da impudncia com que as
polmi cas polli cas eram mordazmente dissi-
mul adas como a legor ias inofensivas. Qua ndo
o marechal Pier re de Rohan teve de pagar por
um processo de Estado contra a rainh a Ana da
Bretanh a com se u descrdit o na co rtc . os
parisienses puder am divertir-se com uma far-
sa de impac to certeiro. Um ferrei ro tentando
ferrar uma mula recompensado por seus es-
foros co m um pesado coi ce trasei ro. Todos
sabiam a qu e a grossa piada teatral aludia. A
anexao da Bretanha Frana. a ferradura po -
ltica, era a malograda idia diret riz de Roh an .
Entretanto, uma irrestrita disposio agres-
siva podia resultar num eplogo judi cial. mes -
mo na Fra na do sculo Xv, Em 14X6. as
Basoclies de Paris mo ntara m uma fnrsa na qua l
25fi
l is t o r a M'n ndinl d a Tru t ro 1Io
o jo vem rei Carl os VII I era representado ale-
goricamente como uma fonte cristalina "enla-
meada pel os corte sos, poi s podiam pescar
melhor e m g uas re vo ltas" . Era uma picada
num vespeiro. A te mpestade de protesto de-
sencadeouse de pront o. Eles mandaram pr en-
der o aut or e realizador da pea, Henri Baude,
e tambm os ate re s. Mas o Parl ament o no viu
razo para co nden -lo s e, quase em conivn-
cia secreta, os libert ou .
A farsa triu nfara. Mais tarde, mud ou de
pena e most rou at cortes. Quando
em 1499 o pal c io arquiepiscopal em Avignon
foi prepa rado para a visita do escandalosamen-
te not rio C sar Brgia, nenhum esforo foi
poupado par a co nquistar os favores do imprevi-
svel visitante. Assim, o sapateiro Jean Bellieti ,
um obscu ro precursor de Hans Sachs, foi in-
cumbido de montar uma farsa apropriada para
a ocasio. O cro ni sta cala-se sobre o sucesso
dessa empresa. De qu alqu er maneira, Csar no
saiu descontent e do pal ci o. E quando mais tar-
de Belli et i empo breceu, foi mantido por fun-
dos pbli cos, poi s "compensara a cidade, com
suas obras e farsas" .
Co mo se u pri mo-irmo, o auto carnava-
lesco, a far sa no necessitava de tcni cas c ni-
ca s especiais. Um simples pd io, com acessos
laterais ou por trs - co mo no palco de Terncio
- eram sufi cie ntes. A far sa vivia da astci a
verbal, no import ando se seu palco fosse mon -
tado numa sala p blica, num auditrio da uni-
versidade, nu ma casa part icular ou no palci o
arcebispal. Si tua es e personagens cmica s.
identid ades trocad as e planos para enga nar al-
gum oferec ia m es p l ndidas oportunidade s
para os dest aq ues de atuuo e torna vam-se
assim um incenti vo para qu e os mimos profi s-
sionais viessem aj udar os amadores e co nse-
guir apl ausos especiais.
O que podia fal tar ao elenco em tcn ica de
representao sobrava e m indumentria e m s-
caras. A barba cuida dosame nte penteada do
pomposo filisteu , as at itude s solenes do advo-
gado de peru ca e bec a, o ousado penteado da
coeotte, os cos tumes requi ntados dos cortesos.
o capuz de guizos do bobo identificavam as pes-
soas e o ambiente da farsa e de sua irm gmea ,
a sottic. Farsa e sottic di verti am p bl ico e ato-
res de forma to igua l que quase impossvel
determi nar uma diferena precisa entre elas. Os
-,..-
,'" "1
I
A I d a d e Md i ll
heris da far sa so trues em traj es co muns ou
co rt es os - os heri s da sottic so ge nte eomum
ou da corte em vesti menta de bobo.
A sottic estri intimamente ligada aos Enfants
S{I/IS Sal/ri (cri anas sem preocupa e s) de Pa-
ris e outros incontveis gruposde tipo semelhan-
te, que se espa lha ram pela Frana no sculo XV
Cada um po ssua seus prprios estatutos, seu
prprio rei dos bufes, scu prince des SOIS (prn-
cipe dos bobos) e sua m re des sot s (me dos
bobos). Em co nce ito e imagem, a so ttie era real-
ment e muito mais ant iga. J no sculo XII. um
entalhe de co nsolo na torre sul da catedra l de
Cha rtres most rava a me gorda e fe ia de um
bobo, cond uzindo um asno a locar lira.
O pr ncipe dos bobos e a me dos bob os
so os papi s-ttul o da pea mais co nhecida
do parisiense Pierre Gri ngoi re, aut or de sti-
ras e sotties. Seu l eu du Prince des Sots ct de
la Mere Solte foi apresentado na tera-feira gor-
ela de 1512 , em Pari s; era um ali ado ataque
Igreja, um panor ama da poca sob a roupa-
gem da bufon ari a.
Gringoire era membro dos Enfauts sans
Souci de Par is e. no toa, o favori to de Lu s
XII. O rei no pode ria ter desej ado propa gan-
dista melhor em sua co ntrov rsia com o Papa
J l i o II. A sottie, re present ada e m tr aj es de
bufo, foi o caba r pol tico do sc ulo XVI.
Alm de escrever souics, Pier re Gri ngoire.
como o se u conte mpor neo Jean Bou chet ,
ta mb m re prese nta va o magis te r lu d i nos
mi strios . Alm di sso, esc reve u uma pea
exaltando os fei tos de So Lu s. e foi tam-
bm um prod utor teatral de sucess o. Gringoi re
idea lizad o na nove la de Vic to r Hugo, O
Corcunda de Notre Dame.
So ttemiecn, KIucht e Peas
Campo nesas
O Falst aff de As Alegr es Comadres de
Wilzdsor teve mui tos precursores . na farra da
bebedeira. no parasitismo pimpo ii tripa forra
como bom companheir o, alegre parasita c at
60 . Pri uci pe e dos Tolos. tron ti... picio de .IC tl du
l'ril1n ' dcs ."lols c / ( /c la .\1 (' 1' <' SOf1<', de Pier re Gri ugoirc .
rep res e ntad a c ru Par i:-- 1.:111 15 12.
mesmo na ce na do cesto. No teat ro hol ands.
encont ramo s um de se us predecessor es e m
Mij nhecr Werrenbracht, embora aqui a histria
acontea ao revs. \Verrenbracht um respeit-
vel burgus, atormen tado pelo destino e por seus
queridos vizinho s. Ele se faz levar prpr ia casa
dent ro de um cesto, para surpreender sua mal-
vada cara-metade flertando co m um padre.
O Tart ufo de Mol i rc estava a caminho .
Mas. enquanto isso, havia as burl csqucs ho-
landesas, as farsas Sot tcrniren e Klucht, cru is
e robu stas, qu e faz ia m uma ponte entre a farsa
francesa e o Fastnaclusspiel alemo . Suas co-
res so fart as e firmes, seu humor vigoroso e
saturado daq ue la auto-ironia arredo nda, qu e
a marca do povo ca mpons na s pint ur as de
Piet e r Brueghcl, o Velho . A pea Kluclu qu e
est sendo levada em seu quadro A Quermes-
se, em mei o a uma multido feli z que co me,
beb e e dan a , po de se referir ao Mi jnheer
Werrellbracht. H uma mulher sentada mesa
com um gal a e nterne cer-se, enquanto um ho-
mem co m um pesado fardo s costas es t en-
trand o na cena . Claramente, as coisas no vo
acahar hem oNo fundo do pa lco. atrs da corti-
na. algu m est receb e ndo um escahclo. f-
cil de imagina r a confus o que cabe agu ar dar.
As farsas Sotterniciin e Klucht haviam sido
precedidas pel as " co mpanhias de bo bos"
vustenu vondgrap pcn, a verso holandesa dos
autos carnavales cos . co m suas mascarad as e
identidades trocada s. As cr nicas muni ci pais
de Dendcrmonde se referem. em 1-11 3. ao cos-
tume h mu ito estabelec ido de oferecer aos j o-
257
61. Palco de rua francs. c. 1540. Desenho (Ms. 126, Carubrai. Bibliothque Municipale).
62. Representao de lima farsa francesa em Paris, por volta de 1580. Gravura em cobre de Jean de Gourrnont.
63. Palco de rua na Holanda, c. 1610. Detalhe de uma gravao cm cobre com cenas de qucrmcse. Segundo urna
pintura de 1610 atribuda a David Vinckboons. no Koninklijk Muscum voar schcnc Kunsten, Anturpia.
64 . .Auto turscsco de Khu-ln numa qucrmcsc C, t Il IJli.Hl L'Sa <ln s2clIio XVI. Detalhe dI." uma pi nt ur a da Escol a FI;. .llllenga.
segun do ,I Itllha de Pctcr Brue ahet. (I Velho t Vicnn. KUIl"'lhiSlnriscl1es Muscum r
~
!
1
,
r\ I d a d e .\1d i ll
ve ns " peas divertidas" no Carnaval. "goedc
solaselikc spclc", como as apresentad as so bre
os carros-palcos.
Essas bufo narias usava m as mesmas for-
mas teat rai s do Corpus Christi e das re presen -
taes de lendas. As So ttcrnie n foram alm.
num parentesco an logo ao da pea sa trica da
Ant igidade . Formavam uma ret agu arda mais
aleg re de uma forma dramtica espec ifi camen-
te hola nde sa de teat ro, que su rgi ra no Bra ba nte
por vo lta de 1350 : os Abelespe le, produes
dra mti cas er udita s, que no s culo XV I se tor-
nariam a esp eci alidad e dos Rederij kers , Nos
sculos XIV e XV, na Hol an da, co mo e m toda
part e, no obstan te as elevadas regra s da poe-
sia. a fa rs a tamb m teve seu lugar reconhec i-
do . No fi na l do Abelespc le , os espectadores
era m co nvida dos a dar a sua ateno espec ial
tambm Sot ternie que se seguir ia.
Naquela poca, as burlesques e os autos
campone ses, que estavam no mesmo n vel das
Sottc rnieen e das far sas Klucht , comeavam a
tornar- se muito popul ar es por toda a Eur opa .
Na It l ia, os es tudantes da Unive rs idade de
Pvia levaram () Ianus Sacerdos em 14 27, e a
Conunedia dei Falso Ypocrito e1l1 1437, ambas
peas que combinavam a stira loca l com as
patu scad as eru di tas .
Um gru po siens, a Congrega de i Rozzi ,
ob teve tan to sucess o co m se us autos ca mpone-
ses que fo i con vidado a se apres en tar e m Roma
e no Vaticano. Um dos se us membros mai s ati-
vos era o aut o r, aror e empres rio Nicco lo
Ca mpani, cuj o ta len to o colocava na pr oximi-
dad e imediata do 1111111b O " Ruzzante" , Angelo
Beolco de P dua: ambo s fora m, cm sua obra,
os precu rsores da Connncdia dcll 'urtc. Campa ni
tomou-se tema de conversa na cida de de Roma
sob o nome de "Strusc ino" , se u pap el favorito
numa de sua s pr pri as peas. O papa Le o X
no lhe poupava se us favo res , c em 15 1S " Lo
Strasc ino" a par eceu num ca sa mento em Orsini,
no qual, dep ois da a presenta o de alguns ou-
tros comediantes . foi ac lamado como um intr-
prete soli sta ele se us prprios text os.
Por m. difere ntemente de se u conte mpo-
rneo " Ruzza ntc". cuj as peas aind a era m im-
pressas no sculo XVI, " Strasc ino" deixou um a
ma rca t o pequena na hi stria ela li tera tu ra
quanto a de todos os burlescos annimos e ato-
res camponcses quc, na tradi o dos mimos
da An tig idade , utili zara m (JS temas popula-
res do passado e elo presente - do ven dedor de
ungentos Mastickar da Bomia ao Karagii;
tu rco .
Tod os parti l ha vam do palco comum e
modesto - simples t buas so bre ba rr is ou pila-
res de madeira nas quermes ses e feiras, no
importando se os tr aj es dos ateres e do pbli -
co fosse m de c ampon e ses ou burgueses italia-
nos, es lavos ou hol andeses. Del es era a sabe-
dori a elos palha os e bobos, at emporal e
vo ntade em qua lquer lugar do mundo, O co me-
di grafo di namarqus Lud vi g Holberg, ao fi -
nai de sua obra Quarto de Parto, resumiu esse
fato : "E ag ora vo cs viram, mi nha boa gente,
como algu m que ali menta q uimeras torna-se
bobo e obj eto de riso" .
A l e gor i a s e Mora li d a des
No final da Anti g id ade , por volta do ano
400, o retr ico Pru dnc io es creveu uma obra
e m louvor Cri s ta nd ade , chamada Psycho-
ntachia. Seu lema - a batalha das virtudes e
vc ios pe la alm a do homem _. viria a se r o fa-
vorito do s autos de morali dade , mil anos de-
pois . Prudnci o fo i o primeiro a personi fic ar
os conce itos fundament a is da tica cri st . Ele
ha vi a falado da Ecclcs ia ( Igreja) e da Syna-
goga , do Prnc ipe dest e mund o e da Roda da
Fortuna. Desde e nto, os escultores e miniat u-
ri sta s medievai s do inc io do Medi evo os re-
present ar am. antes que o teatro reconhecesse
o se u valor cnico .
Igr ej a e Sinagoga, Hipoc ris ia e Her es ia j
hav ia m a parecido a nte s , no Anti christ o de
Tegernsee, c e sporadicamente em algumas
Paixes. ma s somente no sculo XV lhe s foi
da da uma fu n o d ireta na a o . Georg es
Cha ste lla in. cronis ta e diplomata na corte de
Fi lipe . o Bom. du que d a Bu rg ndi a, escreveu
e prod uziu e m 14 31 uma pea chama da Le
Concite de B le. Ent re s uas figur as alegricas
estavam no apenas a Igreja e a Heresia, mas
tambm a Paz, a J usti a e at o prp rio Co nc-
lio de Basilia (B lc ). E las no S:l O, co mo nas
Pa ixes e nos a utos das lendas, meros alicer-
ce s da superestru tura es piritua l e rel igiosa, mas
ativos protagoni stas da prpria pea.
A per soni fica o do mund o conce it ua !
corres pondia aos crescentes esforos do scu-
2M
66. Planta do teatro cm que foi apresentado O Castelo da Perseverana, 1425. Reconstruo de Richard Southcm.
lo XV no sentido de ver e descobrir por trs
das coisas a relevncia essencial da "moral".
Para o teatro, isso signifcava considerar o re-
presentado tradicionalmente de maneira abs-
trata no apenas como as respeitveis figuras
ambientais do Prlogo ou do Eplogo, mas
como o prprio tema das peas.
Os estudantes do College de Navarre de
Paris, em 1426, converteram numa moralidade
um sermo promtl1ciadopelo chanceler da Uni-
versidade e doctor christianissimus, Jean de
Gerson. A Razo aparecia como uma "baila
niagistra", e seus alunos eram os rgos hu-
manos dos sentidos, cuja tarefa era resistir s
tentaes terrenas e sustentar os ensinamentos
cristos da virtude. O centro da obra era a ine-
vitvel cena do julgamento, um exerccio de
disputa di aItica, nesse caso uma conseqn-
cia natural do prprio tema, sob os auspcios
da "bona magistra",
O palco e o cenrio das primeiras morali-
dades eram despretensiosos. J que os elemen-
tos teolgicos e pedaggicos dominavam, e a
representao servia corno experincia retri-
ca; s se fazia necessrio um pdio. A dico
clara era essencial, e, no caso dos espetculos
de estudantes, a declamao devia ser bem en-
saiada. Os figurinos tambm no precisavam
ser muito luxuosos. A "baila magistra" usava
uma longa beca de letrado. a Igreja, uma co-
roa. a Sinagoga, uma venda sobre os olhos, e
os eruditos eram identificados por seus capelos.
Por outro lado. a representao da mora-
lidade Bien avise, mal avise, em 1439, na ci-
dade de Rennes, fez considerveis exigncias
quanto aos gastos e o poder criativo. A rivali-
dade entre o "Bem-avisado" e o "Mal-avisa-
do" foi elaborada em 8.000 linhas e requereu
um elenco de sessenta pessoas. A Roda da For-
tuna tinha de girar no palco e, no momento de
sua morte, o "Bem-avisado" era levado pelos
anjos ao Cu. O palco da moralidade aprovei-
tava os apetrechos tcnicos da Paixo e, na
segunda metade do sculo, igualou-se a ela
tanto na durao do espetculo quanto na
riqueza de contedo.
O auto L'Honnne Juste et I'Hrmune MOIl-
daiu (O Homem Justo e o Homem Mundano),
representado em Tarascon no ano de 1476, du-
rou v.irios dias. Seu autor. Simon Bougoin,
valete de Lus XII, desenvolveu um "vcritablc
262
Histria Mund al do Te ct t ro
carnaval d'ollegorics". um verdadeiro carna-
val de alegorias. Mondain, o homem munda-
no, se entrega alegremente a todos os vcios
personificados, enquanto Juste, seu contra-
ponto, no lhes presta ateno, em renncia
crist.
Nesse caso, a apario das figuras aleg-
ricas pressupunha sem dvida alguma um des-
taque, por meio de figurinos originais. O mes-
mo se aplica representao de 1494, em
Tours, de L'homme pcheur, o pecador cuja
alma "ascende" no final, enquanto seu corpo
"apodrece" no cho, e tambm famosa Con-
damnation de Banquet, impressa em Paris em
1507, e sem dvida encenada nessa poca.
O autor e encenador dessa moralidade,
Nicolas de Chesnaye, esboa um panorama,
fundamentado em argumentos mdicos, da
higiene do corpo e do esprito, em parte pinta-
do com a irreverncia rabelaisiana e, em par-
te, com requintes de esprit. Diner (Jantar),
Souper (Ceia) e Banquet (Banquete) tentam
provar que o outro est errado e, com a ajuda
de Bonne Compagnie (Boa Companhia).
Gonrmandise (Gulodice), Passc-tenips (Passa-
tempo) e de personificados Brindes, culpam-
se mutuamente pelos males atentatrios boa
viela, incluindo Colic (Clica), Gout (Gota),
Janndise (Ictercia), Apoplexia e a Hidropisia.
O compndio mdico inteiro passado em re-
vista. Souper e Banquei terminam diante da
corte. Hipcrates e Galeno atuam como asses-
sores. Souper condenado a usar, da por dian-
te. "nianchcttcs de plonib" (algemas de chum-
bo) a fim de evitar qualquer recada na gula;
Banquct , porm, condenado a morrer enfor-
cado. Seu carrasco Diet, a Dieta.
Nessa obra ambiciosa, Nicolas de la
Chcsnaye oferece uma variedade de informa-
es sobre as maneiras e a arte de servir e pre-
parar a mesa, assim corno sobre a msica s
refeies. Ele descreve detalhadamente com
quais trajes suas personagens devem aparecer.
Moderation, Diet e todos os outros servos de
Dame Expcrience surgem vestidos de homem
e falam com voz masculina. porque exercem
funes na corre judicial e "se ocupam de coi-
sas its quais os homens se sujeitam mais a fa-
zer do que as mulheres". O bobo usa seu tradi-
cional capuz com orelhas de asno, um casaco
multicolorido, guizos no gibo e nos sapatos-
65. Planta do palco para O Castelo da Perseverana,
representado em 1425. Do manuscrito do Macro Morais.
....'-------- -
67. Te.uro d a J\ lIl igiiidadc. como con ce bido pel os hUIII41lli sl41 S. de Cahope COlHOnvuator e.
n.a me tade inferi or. o retrato do dmma turgo Ternci o. Mi nia tura do Tcrcncc dcs LJuCJ. incio do s culo XV
IParis. Blh llOtllCqUl' de 1-Arxeual j
de for ma no diver sa do que seu irmo nas
mi ni aturas do mi st rio de Sant a Ap olnia de
Jean Fouquei. ou do qu e toda a sua parent el a
represent ad a nas miniaturas dos manuscritos.
nos marfins. esma ltes. pinturas murais. na in-
fini ta variedade de representaes pi ct ricas
medievais.
Um scul o int eiro estava seg ura ndo um
espe lho di ant e de si e recebendo sua imagem
de volta, mil ve zes ampliada. O es pe lho refl e-
tia as figuras caricatas da libertinagem e da gula
confra o rico fun do de procl amas em par b ol a
da jurisprudncia, me dici na e filosofia - mas
tambm most ra, e m trao s mais di scre to s.
co mo dif ci l a honrados pais peq uen os-bur-
gueses lidar. " hoj e em dia". com se us fi lhos.
Esses fi lhos, Les Eufa nts de Mai nt enant, so
os filhos de um padeiro . Um deles, Fi ne t, ac a-
ba na forca, e nquanto o outro, Maldu iot, s
disciplinado pel a vara. Um espert o pedagogo
havia escrito essa pea despretensiosa, mas ins-
trutiva, para se r represent ada por es tudantes.
La Moraliu' e ra um instrument o de respo sta
to sensve l no es pao do di a-a- di a qu ant o no
cenr io maior e ma is rico em alegoria do cam-
po de bat alha.
No co ntine nte e uropeu. as mor a lidades
mostraram um ce ticisrno crescente: da " Ver-
dad e, co mo e la ex pulsa de toda parte" , da f.
que " procurada, mas nunca encontrada" , at
o Hens elyn de Ll ibeck. pea na qu al a sabedo-
ria dos bobos pr evalece uma vez ma is, em uns-
so no com o auto ca rnavalesco.
Ent reme ntcs. as morali dades se arraiga-
ram firme mente na Ingl aterra, que parti lha com
a Frana as honras de ser o bero clssico do
g nero . J e m 1378, John Wi cl if se refere a
um Play oftlic Lord 's Prover (Auto do Padre-
Nosso) alegr ico, aprese ntado em se u conda-
do natal de York. Em 1399, de novo, um docu -
ment o de Yor k menci ona uma Irmandad e do
Padr e- Nosso. qu e ce rta mente apresentava a u-
tos do Patcrn ostcr todos os anos. Outro s rc -
gistros simil ar es de Lincoln e Beverl cy esto
co nservados at hoj e.
As Virtudes e os Pec ados Mort ai s, Boa
Fama e Desgr aa, Pregui a e Avar eza , Astc ia
e Cincia medi am foras nas moralidades in-
glesa s. to ri ca s e m propsitos d idl icos e
ret ricos quant o as conferncias dram at izad as
sobre t ica. no cunti nente. A moralidade in-
glesa ati ngiu se u a ug e co m Tlt e Cas tlc of
Pcrsevemncc (O Castelo da Perseveran a),
represent ada em 1425. O ma nuscri to re ne ao
todo trs autos das chamadas Macio Morais . que
tamb m incluem um plano cnico detalhado
um dos pri me iros esboos, seno o primeiro , de
uma cenografia teatr al na Inglatena.
O manuscrito co ns iste em qu atro partes:
"The Banns " ("Os Proclamas") , um anncio
da obra e m forma de pr l ogo; a prpr ia obra :
uma lista de per son agen s; e, na ltima pgina.
o plano cnico. Richard Southem publicou uma
exaustiva pesqui sa sobre todos os aspectos das
tcnicas teat rai s utili zadas, em seu livro Thc
Medieval Theatre ii i l he Round (O Tea tro Me-
di eval na Are na) ( 1957), e. co m a aj uda do texto
e do plano. recon stru iu tod a a repr esent ao.
Dois po rta-estandartes anunciavam o au to
nas vilas e cida des pr ximas, uma semana an-
tes da representao. Despediam-se co m a es-
perana de volt ar a enc ontrar se us fairfriends
(bons amigos) no dia elo cspe tc ulo. co mo bons
ouvintes. Essa procl amao corres pondia a um
cos tume genera lizado entre as companhias de
teat ro (embora no ex istam outros textos me -
dievais comparve is), que a gente do circo con-
servou at hoj e.
O cenrio do Castelo da Pers everana,
e ncontrado pel o pub lico e m sua chegada. era
nico e sem parale los no Conti nen te: uma rea
ele re pres enta o de for ma ci rcul ar, circunda-
da por um fosso de g ua e uma barragem de
terra (ou pali ada ) da altur a de um ho mem.
No centro. erguia-se o "c astelo", uma torre com
ame ias e, na peri fer ia. fi cavam as plataformas
para Deus, o Mundo, Sata ns, a Carne c a Co-
bia. As plataformas, de acordo com a recons-
truo de Sout hern , eram construdas segun-
do os mesmos pr inc pios e assemelh ava m-se
ils "ntaus ions" da mini a tura de Sa nta Apol nia,
de Fouque t. Ca da uma das c inco platafor mas
era fechada por uma cort ina. A primei ra a se
abri r, no in ci o do esper culo, era a do tablado
do Mundo, qu e apresent a a si e a sua ge nte:
Valuptas (Volpia), Stulucia (Estuln ci ai e um
Menino. Em seguida, entram Sat tBelval, e a
Ca rne ( Cam). Eles a nunc iam qu e esto ocu-
pados, dia e noite. e m destrui r a Humani dade.
A pequena alma da Humanidade. "nasc ida esta
noi te de minh a m e" , que agora comea a
mover-se debaixo da torre central (que Southcrn
265
erige sobre qu atro p s altos. de modo que a
ca ma emba ixo sej a visfvel 1' 0 1' lod os ). <' sub-
metida a todo tipo de tentao. El a resiste muito
bem ao cerco. ma s na velhice . qu ando a pobre
alma muit o teuradaj se acred ita acima d" bem
e do ma l. os poderes da destrui o plancjam o
ataque final. Sat so lta fogo e fum aa . A Sa l-
vao par ece de rrotada. Mas a Mi seric rdia in-
ter vm e conduz a pobre alma do hom em ao
trono de Deu s. "Pala scdens in 11'0/1"" pro-
nuncia as palavras finais do alt o de sua plat a-
forma. lan and o-as sobre o pbli co e os alares
reunidos: "Assim terminam nossos jogos. Para
livr ar- vos do pecado, pensa i, desde o princ -
pio. em voss o ltimo moment o" .
H uma evidente ana log ia en tre o cenrio
ci rcu lar do Cast elo da P ers CI ' I ' I W I I/ e o das
Co rnish Rounds. Segundo se sabe, o tea tro de
ar ena era desconhecido no cont ine nte como
uma forma medieval distinta de teatro. Um
par al eli smo aproximado se en contra somente
em teori a, nas primitivas concep es humanis-
tas do palco de Ternci o. confor me cxempli-
fi cadas nas mi niaturas do Tcrcncc eles O Il CS.
dat adas de 1400. Os ateres. desi g nados como
joculutoirs . usam meias m scaras. c lara mente
reconhec ivei s, mai s pr ximas do es tilo cnico
da Conuncdia dell'artc do que do da Idade M-
d ia. Em ambos os caso s. entre ta nto, enco nt ra-
mos uma falia quase tot al de cc n.i rios, Os ges -
tos e os mov imentos tinham de se r extrema-
ment e habi lido sos para cri ar a iluso e no tor -
H s t riu M UII l l i ll l tio F e l/ l l' d
nar vis ve l o invi s vel. Entreme ntes. uma ou
ourra vez o a lo r med ieval podia abando na r seu
papel e vo ltnr ii vida cotidia na, co mo o " pobre
erudito" Johannes do aut o pascal de Innsbru ck
e as personagen s do teatro p ico do sculo XX
- por exemplo, a fa mlia Anirobus de Thurnton
Wil der em TlII' su ofOur Teeth (Po r um Tr iz ).
ou Seis P I'I'.I'I JIl ll g ('Il S li Procura de: 1/111 AIII(lI',
de Pirandell o.
Na ltima obra das trs Macro Morais in-
glesas, c ha ma da Mankind (Huma nidade) e es -
cri ta por vol tade 1475, um dos at ores d um
passo fr ente no moment o mais crucial da re -
presentao e a nunc ia qu e o arq uide m n io
Titivillus s poder fazer sua prometi da apari-
o "s e a cole ta qu e aca ba de se r iniciada na
plat i a junt ar dinhei ro suficiente" . O sa lto do
plano teatral para o da reali dade tem um obje-
tivo bem claro e sig ni fica tivo. O pequeno elen-
co da Mankind. co mposto de apenas cinco a
sete intrpretes, pro vavelment e no atuava em
conexo com os event os das corporaes. mas
ii cus ta do pr pri o bol so. Co m ce rtez a forma-
vam uma companhia ambulan te e tinham de
faze r de tudo par a garantir o se u d inheiro. an -
tes que o p blico se di sper sasse ao fin al do
cspct culo.
De vo lta ii socieda de co rte s e so b o s
auspcios de um pat rono influent e. a moral idade
Nature rum belo interldio da natureza" ) fo i
representad a em 1495 diante do ca rdeal Monon.
de Cantc rb ury, Fui escrita pe lo ca pe lo dc
Morton , Henry Medwull, autor tamb m da pri
me ir a pe a pr o fan a i ngle sa conhccida . o
interldi o Fulgcns (//11/ LI/CH'ce. No que se refe-
re ao tea tro , est co mpletamente esq uecido.
No est esq uec ida , por m , a ohra ele um
poet a an nimo qu e permanece viva at hoj e :
Evcrvnutn (Todo Mundo ). Enquanto os estu-
di osos di scut em se co nce de m prioridad e pri -
meira edi o ingl esa. surgi da em 150l). ou :1
publicada em Delft , na Hol anda. em 1495
iSpvcglic! der Sa lichcyt \ '(// 1 El ckcrlijlc), o tea -
tro conserva-se fiel a ela h quinhentos anos.
foi Hugo von Hofmannsth al quem deu ao
EVI'r\'I1I1J11 a forma verbal do Jcdcnnann sob a
S. Evcrv nunr , de lima t'di,'o de John
SI..II I. c. 1:'I21t
A Idtlt!c M d i l.
qual o mundo o conhece hoj e. E Sa lz burgo tem
sido a c ida de do 1:.' 1'1' /)'11/(/ 11 no sc ulo XX, gra-
as s suas represent a es na praa da Ca te-
dra l. II obra preserva um re fl exo do q ue fora m
os ce n rios das mor al idad es da Ba ixa Idad e
M dia - o car ter simult neo. a alcgoria de
bri lha nte co lor ido , as ra zes numa conce po
religi osa do mundo - mesmo q uando a pea
preci sava ser transferi da para o teat ro cobert o por
causa da chuva. Co mo o Evervnum ingls do pas-
sado, o at ua l continua reuni ndo os per egrinos
do teat ro vindos dos quat ro cantos do mundo,
mesmo q Ul' a lguns crticos conte mporneos
c ricos se pe rgunt em "se essa ing nu u e s in -
ge la s impli fi ca o do tema da culpa e ex pia -
o ai nda vri lida", e mesmo que a maioria do s
espec tadores no refli ta se , e em que extenso.
um lti mo repre sentante do teatro medieva l.
...
''''-
I
1
A Renascena
I NT RO D U O
Jacob Burckard r afirmou que as d ua s
molas propulsoras da Renasce na for a m a li-
ber ao do individualismo e o despert ar da
personalidade. Dan te c Petr arca . em sua so li -
tria altitu de literria. j haviam sonha do com
o renascime nto do homem. dentro do esprito
da Ant ig idade. En tre os pintore s. Gio tto ti -
nha encetado a desvi nculao do cdigo de
formas bi zanti no. No en tanto, somente no fi-
nai do sc ulo XV o novo ponto de vista se es-
prai ou. e a vis o de mu ndo escol st ica do
mcdievo foi fi nalmen te ult rapassad a. Infl un-
cias decisivas e manarum dos crculos huma-
nistas rom an os e flor entinos.
A qued a de Constant inopla torn ou as obras
dos escritores gregos acessveis ao Ocidente .
Mi lhares de eruditos e letrados bi zantinos. em
sua fuga para o Oeste. carregara m se us ma is
preciosos tesou ros. os manu scrit os da Antigi-
dade. No s most eiros. que deram asilo aos re-
fugia dos. empilhara m-se grandes riquezas es-
pirituais ii es pe ra de exp lora o .
O papa Paulo II inst alou o pri me iro prelo
em Roma, no ano de 1467. e publ icou obras
em grego. Seguiu-o. cm Veneza, a imprensa
de Aldo Ma nur iu s, co m a lon ga s r ie dos
"C ls sicos Aldi no s" . A Renascena tornou-se
a gr ande er a da de scobert a nos campos do in-
tele cto e da ge ogra fi a. Os navegador es ex plo-
raram no vo s contine ntes e mares dest a Te rra .
qu al . no mesmo momento. Coprnico nega-
va sua posi o cen tral no Uni verso, atribuin-
do -lhe a categoria de um as tro entre outros.
Pela pr imeir a vez . a Cr ista ndade viu-se co n-
fro ntada com a Antigi da de em largo plan o.
Nicolau de Cusa procurou conceber a idia
de Deus co mo " unida de de co ntrr ios". Os
papas mundanos do Re nasciment o no via m
pro blema algum em lanar pon tes sobre a apa-
rentemente irr edut ve l contradi o entre a f
crist no al m e o ap ego da Antigidade
terrenalidade. Si sto IV oferec ia suntuosos ban-
quetes com guarni es que se tornaram mi to-
lgica s. J lio II enc arregou o j ovem Ra fae l de
pinta r uma Escola de Atenas e m tama nho na-
tural. para os apo se ntos do Vatica no - uma ex-
press o pictrica do desejo de alcanar uma
sntese harmoniosa e ntre a Ant igu idade e o
cr istianismo, seg undo o ideal da Acade mia
Pl at nica. Ao pa lmi lhar em procisso () cami-
nho que vai do Vatica no Igre ja de So Joo,
Leo X passava por pedest ais encimado s de
es tt uas de Apo lo , Ga nimed es . Mine rva e
V nus. Ele pe rmitia qu e sua cri adagem travas-
se, co mo diver so ca rnava lesca. uma bat al ha
de lar anj as em frente ao Castel o de Sanr ' An-
gelo e as sinou. ao part ir para uma caada. a
bula de exco munho do monge agost inia no
Mart inho Lutero.
Os mer ce nr ios ale mes e espanhis do
impe rado r Ca rlos V invad iram a Cidade Eter-
na e. com sua pilhage m e saque dera m um fi m
'"
abrupto ao flor esciment o das arte s e extrava-
gnc ias . Embor a o vel ho trono de Pedro ca s-
se vtima desse saque de 1527. a vitalidade do
Vaticano n o foi abalada. Michelal1gclo rece-
beu o encar go de desenhar a grandiosa cpula
da nova catedr al.
J no desvanecer da Idad e Md ia. o mo-
naqui smo e a cavalaria ce deram seus pap is
de lid erana s classes mdi as emerge ntes .
Guildas , corpo raes e o qu e os test emunhos
conrernporneos chamam de academi as " vul-
ga res" , vernculas, torn aram-se fora s vitais
na vida cultural. O culti vo humani sta do dra-
ma, de um lad o, ia ao encontro do impulso
ldi co das classes populare s, de outro .
A Ingl at erra rompeu com o papado sob
Henrique Vl!l . A riva lida de entre s ua filha
Eli zabeth I e Maria St uart , rainha da Escc ia.
na di sputa pel o trono. foi um choque de poder
pol tico e ta mbm religioso: o protest antis mo
es pa lhava-se por toda a Europa se tentr ional.
Animado pel o sentimento de aut oval or do nas-
ce nte poder io mundi al ingl s. o teatro eliza-
beta uo fl or esceu s margen s do Tmisa ilumi-
nad o pel a es trela de Sha kespe are .
As corte s imperi ai s de Pari s e Viena co -
mearam a revel ar seus es plendores mon rqui-
coso Paris e Madri, sob Fr an cisco I c Fil ipe II.
tornaram-se novos centros da polti ca e uropia
de poder. Foi , entretanto. da It lia qu e o mun-
do receheu as di retrize s no domni o da s cin-
cias e artes. da literatura c di plomacia. da cul-
tura e ed ucao.
O or gulho dito porestativo do tempo do
impri o do s Csares, segundo o qual " todos os
caminhos levam a Roma" . mostrou pel a segunda
vez sua validade na histria do mundo. Enquan-
to no passad o as vitoriosas legi es haviam leva-
do a cultura do impri o roma no a trs continen-
tes, agora, as foras espirit uai s da Itl ia atraam
toda a Emopa para seu campo magn tico,
Se flsse mos escolhe r um mar co par a a
"Renascena" do teatro, a dat a seria 1486. o
ano em que a primeira tragd ia de Sncca foi
montada em Roma pelos humanist as e a pri-
meira comdi a de Plauto pel o duque de Ferra-
ra . E foi nesse ano tambm qu e saiu do prelo a
De Architectnra (Dez Li vro s so bre a Arq uite-
tur a ) de Vitr vio. uma contribuio essenc ial
para pl asmar o palco e o tea tro segundo o
mod elo da Ant igidad.
270
H s t oriu AIun d i a l cio T('(f! r o
o TEATKO DOS HUMANI ST A S
Qu ando o ainda j ovem Nicol au de Cu s.i
graduado e m lei s pel a Universidade de l\1ainz.
de scobriu e m 1429 os textos de doze com -
dias de Pl aut o , at ento conheci das ap en as
pe lo nome, sa udou o achado co mo um ganho
para a retri ca erudi ta e no como um ac rsc i-
mo para o teatro. Do mesmo modo. um come n-
tri o de Donat o sobre Terncio, e ncont rado,
pouco depoi s. pelo cardea l Giovanni Auspira,
na mesma cida de, cha mo u a aten o exclus i-
vamenre de e rud itos. Um certo mestre Johaun
Mandel . de Ambe rg , fez urna prel e o na Uni -
vers idade de Vien a. em 1455, so bre a pea
Adclphi (Os Adel fos) de Te rncio. Considerou
a matria co mo um tema para as humanidad es
e para a pr tica da linguagem lat in a - aspecto
qu e j os es co lsticos havi am enfati zado e que
ainda er a cruc ia l para Er asmo de Rot erd no
co meo do sc ulo XV!. "Sem Terncio" , de-
clarou ele. " ningum conseguiu ainda tornar -
se um bom latinista" .
Um fi l logo roma no e o pr ncipe renas-
ce ntista. de r-errara. foram os primeiros a res-
gatar o drama antigo de se u cr is ta liza do es ta -
tuto de mero obj cto de estudo c a reconvert-lo
em represen tao corprea e visvel. Pompni o
LeIO. em 1486. promoveu a a pre se nta o e m
Roma do Hipoli to de Snec a: ao mes mo tem-
po. Menaeclnni (Os Gm eos) de Pl aut o. fo i en-
cenada na corte dos Este de Ferrara. O qu e nun-
ca havi a oco rrido cm vida a Sn eca ve io a se
concretiza r mil e quinhent os an os de poi s, em
alt o nvel ac ad mico . Os mais renomados
humanist as de Roma tomaram part e na pro-
duo. Sulpci o Verol an o escreve u o pr l ogo.
e o pap el de Fcdra es teve a ca rgo de Tommaso
lnghi rami . di scpulo de Pomp nio e, mais tar -
de . favorito do pap a Alexan dre VI. O patrono
fina nce iro da realiza o foi o ca rde a l espanhol
Riari o. o encenador, Pompnio Leto e a pri mei-
ra apre se ntao, no Frum, A est a, seguiu-se
uma reaprcscntao perante o papa Inocncio
VIII , no Caste lo de Sa n!' An gel o. c o utra no
Pa l:ci o Ri ar io.
Ao eve nto dramt ico acresce u uma deli -
berada reconstruo do palco ami go . Sulp cio
Verolu no, que e s tava prepa rando a o b ra
" \ /'c h i / (' c l / lI '<l de Vi trvio para publ icao. for-
ncceu ao ami go informaes seguras sobre a
seC/WC[rons romana, descrita dctalhad amente
no quinto livro de Vitr vi o .
Com isso deu -se a definitiva refutao de
todas as vaga s e co nfusas concepes do teatro
anti go de aren a, qu e se encontravam em ma-
nusc ritos medi evai s. Os escol sticos acei tavam
que um le it or erudito reci tasse o texto. enquan-
to mascaradosj oell/awres o representassem em
forma pantommica . O ltimo e mai s es pln-
dido testemunho dessa vi so, baseado em par-
te cm erros de traduo e em parte em frti l
imaginao, o manu scri to fr an cs Terence des
Ducs, do in ci o do sculo X v, Suas miniaturas
de pgina int eir a, ce rcadas de ornamentos re-
busca do s, mostram, em vez da es pa osa are na
do teatro anti go. um cilind ro e strei to . Ao cen-
tr o, ladeado por m si cos, um rccitator, em uma
tenda cortinada , designada como scellll: sua
fr ent e, os joculatores repre sentam, ro deados
pe lo pblico, populus ronianus. O narrador
c ha mado de Calliopius , e m referncia com-
pl et amente infundad a ao g ra m t ico lati no
Calo po, do sculo !II, que j amais fo i conhe -
c ido por estar empenha do e m qualquer ativi-
da de teatral. Ele foi desi gn ad o para esse papel
si ng ular por uma t cit a co nveno pst uma,
cujas or igens so desconhecidas.
O palco "autntico". orie ntado por Vitr-
vio. para o Hip olvtus. era bem d iferente . El e
adotou o pri ncp io da scctuu:[rous ro ma na .
com s ua fi lei ra de po rt as de acesso . Em lugar
da s co lu nas ricam en te orname nt adas. um ta-
bl ad o s imples de madeira . Sulp cio Verolano
explico u na int roduo 'Io bra de Vi trv io,
publicada em 1486, logo aps a ap re sentao
qu e o palco fica va a um metro e me io de altu-
ra c e ra eq ui pado com uma " g r:lIl de va rieda-
de de e fe ito s de cor" . Trata- se pre sumi vel -
mente de par ede ou te lo de fuudo de um cc-
mirio-pa dro.
Comparad o pompa cni ca dos palc os s i-
mult neo s do Medievo tardio - corno por
exe mplo as esferas rot ati vas do mi crocosmo.
cons tru das em 1438 por Brunelleschi para a
SI/ cm Rapprcscntazionc da Festa da Anunc ia-
<; o e m Fl orena - . o teatro do s primeiros
humani st as par ecia mui to mode sto . O text o in-
tcrc ssava mais qu e qu aisq uer esforos artst i-
cos e m re la o aos efeitos do palco . S neca.
Te rn cio e Pl aut o era m dominantes. como me s-
Ires da linguagem lati na e do di scurso flu ent e.
prottipos de um modo culto de vida como pa-
dr o de tudo o que o drama tinha a contr ibuir
para a no va imagem do homem (em que Pl auto
era o model o da pronta e vivaz resposta de es -
prito e Terncio, de uma inteli gn cia urbana e
po lid a) .
Em 151 3, na Pr aa Capitolina (hoje Piazza
dei Campod oglio), PocII1I1IIs (O Jovem Carta-
gi ns) de Plauto fo i representad a. Para e ssa
engalanadn produo, toda a praa (e ntre o Pa-
lcio dos Senatori e o dos Conscrvatori ) foi
transformada em um amplo theatrum, cobe rto
por toldo .
A a o decorria em um pa lco aberto , com
cinco port as de acesso. Tomrnaso Inghirami ,
biblio tecrio do Vatican o co roado com a lurea
de poet a por Maximiliano l. supe r vis io no u a
en cenao, no s moldes preconi zad os por se u
mestre, Pomp nio Leto. Louvor parti cular cou-
be pron ncia culta do latim por seus at eres.
os "jovens mai s bel os da nobreza ro mana".
Durant e os tri nt a anos em qu e Pompni o
Let o devotou seu ensino da retrica e expe-
rin ci a tea tr al , sua sala de confer n cias era o
ponto de encontro dos j ovens eruditos euro peus .
Enquant o os as pirante s a juri st as dirigiam- se a
Bo lonha e os f uturos mdicos a Pdua, os estu -
dantes de filosofia e ret ri ca ac orri am a Roma.
Acad emia Pl at n ica de Pompnio Let o.
Konrad Celt is, human ist a germ nico e
profe ssor itine rante. ficou co nhecido e m Fer-
rar a e Ro ma por sua s reconstrues prti cas
dos clss icos a ntigo s. Jod ocus Badi us. fil l ogo
cl.issico e impor ta nte colaborador da ed i o
Lyons de Terncio, e m 1493. tambm encon-
trou-se com Pomp nio em sua viagem de es -
tudos pela It li a. Em 1497. qu an do o humani st a
Joh ann Reuchlin, de Pfor zh eim, mont ou seu
H euno, pea na tradi o da farsa fra ncesa de
Maitrc Pathclin, utilizo u-s e de tudo o que ha-
via vis to e a p re ndido cm suas vi sitas a Roma,
em 14 82 e 1490.
O pro fessor Ja cob Locher, da Universida-
de de Frei burg, fez bom proveito das i mpres-
s cs teatra is que co lheu em 1492 e 1493 na
It li a. mai s e specialme nte em ferrara . quan-
do , em 1497. veio a publ icar com sua Trag edia
de Thurcis ct SIIJd{// /(I, uma pea ao modo de
Celt is e qu e temati za a ame aa tur ca Eu ropa
crist.
271
o teatro dos humanistas desenvolvido a
partir da ati vidade de ensino e promovido po r
sociedades acad micas especialmente funda-
das para esse propsito. foi visto com alia co n-
siderao tanto ao sul quant o ao norte dos Al-
pes. Universidades e escolas latinas armaram
palcos improvis ados em seus ptios. Prnci pes
e cardeais comprazi am-se em ser patronos do
teat ro. Reis. imperadores e papas atraam para
suas cortes poetas. ata res e pintores para orga-
nizar suas festas.
A arte do di scur so dramtico. domestica-
do pelo teat ro escolar; para aplicao didtica
e pedaggica, er a co mbinada com os padres
da procisso e da homenagem no progr ama
das festividades cortess. Nas peas pastor ai s.
revestia-se de graa sentimental. Na tragdi a.
era submetida s regras rec m-redescobcrtus
das unidades ar istotlicas e, eventualme nte ,
ajudou que os primeiros temas histricos rel a-
cionados com a atualidade da poca ganh as-
sem a luz do palco.
Enquanto pintor es e escultores glorifica -
vam o aqui e ago ra. o teatro respondi a co m o
drama histrico, oferec ido no mel hor estilo da
tragdia - a nica form a "digna de homens s -
rios", como afirmou Jean de la Taille. O teatro
medieval . escreve u ele em seu tratado L'Art
de la Trag die (AArt e da Tragdia), havia des-
cido ao nve l dos servos e das pessoas de bai -
xa extra o - um spero j ulgame nto, que se
pode atribuir tanto arrogncia da aristocra-
cia intelectual francesa do sculo XVI. qua nto
ao tom freqcntemente vulgar dos lti mos mi s-
trios medi evais.
Para seus prprios dramas, entretanto, qu e
eram exemplares , seg undo pretendia m. Jean
de la Tail le elege u temas bblicos. Na introdu-
o ao Sau l Furieux (Saul Furioso) de 1560,
em forma de livro, faz uma interpretao das
trs unidades aristotl icas, reduz os m ltipl os
cenrios exigidos a apena s um e sublinha, es -
pecificamente, que o "Mo nte Gu il boa" e a
"grut a de Endor" devem ficar muito prximas
(iey p rcs ) , Inadvertidamente, utilizou-se da
concepo cenogrf ica do Medievo tardio
com seus ce nrios simultneos dispostos em
plataforma - para dar ao seu drama a requerida
unidade de lugar "s elon ror! et III 11/0"(, dcs
vicux authcurs tragiqucs" ("segundo a arte e o
estilo dos antigos autores ntigicos") . Para Jean
272
H s t or n 1l11111l/i (,I! (l u 1'('(11'-0
de la Taille, a tarefa do dr amaturgo era misturar
o bem e o mal. a paixo e o sentime nto, em com-
binao que deveria revelar uma ao claramente
defini da - no sentido renascenti sta - a fim de
representar "uma verdadeira imi tao da vida
humana, emque a dor e a alegri a seg uem-se uma
outra e vice-versa" .
Em Ar istt eles, os humanist as encontra-
ram a necessria autorida de antiga para o dr a-
ma, em harmoni a co m as regras de Vitrvio
para a form a do palco. Os problemas formais
e tempor ais do s dr amaturgos co ns tituam a
co ntrapartida dos prob le mas de es pao para os
outros artistas. O teatro dos humanistas tent ou
fazer j ustia a ambos . Envidou seus melhores
esforos para encarar a her ana medieval. re-
laci on ando-a co m a nova e co ntras tante teoria
da arte da Antigui dade, prepar ando, assim, uma
base intelect ual e teatr al para o novo esprito
da Renascena.
A Tr ag d i a Human i st a
o generoso patro no espanho l da pri meira
apresentao de Sneca em Roma, o cardeal
Riari o, passou s mos de Pomp nio Leto, em
1492 . um drama hist ri co. Estava particu lar-
me nte interessado na re present ao da Histo-
ria Baetica de Ca rio Verardi , uma vez que o
assunto era ext rado da hist ria contempor -
nea: a recente liberta o da cidade es panhola
de Granada do domnio mouro.
A pe a foi levada no Pal ci o Riario, em
honra ao hispnico prnc ipe da Igr ej a, o qual ,
co mo se compree nde facilmen te, estava em-
penhado no caso. Foi re presentada pelos es tu-
da ntes da acade mia de Pompn io Leto - com
sua devida autor izao, decert o, mas sem sua
parti cipao dire ta - como provou Max Herr-
ma nn em sua Entstehung der bcrufsmbigen
Schauspiclkunst itn Altcrtum und iIIder Nen zri t
(Or igem da Arte do Teat ro Profi ssio nal na
Antiguidade e nos Tempos Modern os) .
O tema da pe a, embor a de interesse ime-
diato, no co nse guia escamot ear sua inad e-
qua o literria aos olh os do humanis ta rom a-
no apreciador de teat ro. Pompn io Leto per-
manecia inarredavelmcnte fiel aos inigualveis
modelos da tragd ia cl ssica. As inovaes do
momento ficavam mu ito abaixo dos padr es
ace itve is para esse ex igente erudito.
A !?l'I11I SC e ll f o
A trag dia huma nis ta, entretanto. seg ui u
uma trilha so mbria. Na tentativa de punir seus
heris co m o desti no da antiga perdi o e ru-
na. chafurdo u em sangue e horror.
Enqua nto Trissino ainda se ori entava, re-
lati vament e, pelos padr es objet ivos da trag-
dia antiga, tanto em sua Arre Potica baseada
em Aristteles qua nto em seu paradigmtico
Sofonisba, dr ama de 1515, em Ferrara o profes-
so r de filosofia e ret ri ca Giovanni Batt ista
"Cinthio" Giraldi nutri a a ambio de so bre-
puja r os horror es da saga dos tridas. Sua tra-
gdia Orb ecche foi representada em 1541 . na
prpria casa do autor. Era um amontoado de
horr or es, Incesto. as sassinato do marido e dos
net os, parricdio e , finalmente. suic d io da
infor tunada princesa Orbecche, acumulavam-
se num pandemn io de Nmesis e das Fria s.
O horror e o medo dominavam a cena, apode-
ravam-se do pbl ico. "L 'orribilc" era a pala-
vra de ordem que Giraldi, em seu Discorso
dellc Commedi e e dell e Tragedie (Discurso so -
bre a Co mdi a e a Tragdia) de 1543. prescre-
via a si mesmo, com o apoio de Aristteles .
Co mo precursor do cl assici smo barroco fran-
c s e de Le ssi ng, ele usava a defi nio da
catarse aristotlic a co mo purificao das pa i-
xes por mei o do tem or e da compai xo.
Na constru o dra rnat rgica de suas tra-
gdias de horror, qu e mais tarde suavizo u um
pouco. Giral di at inha-se antiga unidad e de
lugar e de a o. Em Orbecche, a cena desen-
rola-se em frente ao Palcio. Os asssx i narr;
no interior do edifcio so descritos pe lo coro
e por me nsagei ros.
Giraldi desatou uma verdadeira inunda o
de drama s erudi tos e com suas novel as em pro-
sa abastece u os grandes autores da literatur a uni-
versal. Sua obra Moro di Verzezia (O Mouro de
Veneza) foi a fonte do Oleio de Shakespeare. O
tema do incesto pareceu to atraente a Sperone
Speroni, professor de litera tura e filosofia em
Pdua, que o levou a escrever a tragdia Canace,
inspirada em Orbccche. Ele eonseguiu, com essa
obra, despeit ar o interesse de seu compatriota,
Angelo Bcolco, que. como diretor de um grupo
de teatro, constru iu a ponte entre a conuncdia
erudita e a Couuncdia dell'o rtc profissional.
A dura di sp uta das Academi as provocad a
pel a publ icao da obra de Speroni. em 1542,
durou at depois de sua morte, mas o teatro
mesmo manteve-se co mpletame nte margem.
A corte e a Cria divert iam- se mais co m os
gracej os da co mdia do que co m o sombrio
furor da tragdia e dei xavam aos c rculos lite-
rr ios o encar go de desavir -se sobre os prs
ou contras dos princ pios arts ticos.
A tragedi e ii l 'antiquc , entretanto, encon-
trou na corte francesa maior res sonncia. Em
Paris, a Plyade, gru po de autores liderados por
Pierre de Ronsard, preoc upo u-se em remodelar
o palco segundo o mode lo clssi co. O movimen-
to de reforma foi fortalecido pe la proibio de
repre sentar Mistrios em 1548. tienne Jodelle,
em 1552, colheu o ap lauso unnime da ali sto-
cracia pari siense co m sua tragdi a Clcopatre
Captive (Clepatra Ca tiva), insp irada em Plu-
turco. O autor, poca co m vinte anos de idade,
representou o papel- tt ulo. O rei Henri que \I as-
sistiu mont agem no Htel de Reims e conce-
deu a Jodelle a honra, sempre relembrada, de
lhe ser pessoalment e apresentado: no est cla-
ro se como reconhe cime nto pel os ambiciosos
versos alexandrinos da pe a. ou como recom-
pen sa pel a co md ia mostrada e m seguida.
Eug ne. De qualquer modo, o Abade Eugnio,
personage m criada por Jodelle, rico em aluses
contemporneas e diret as. pode reivindicar a
condio de precursor imediat o do Tart ufo de
Mol ire.
A pea foi aprese ntada com um ce nrio
nico, em um salo, sobre um "magnifique
appareil de lo SCI C antiquc "("magnfico apa-
rato da cena antiga" ), que deixou Jodell e mui-
to satisfeito. Segui ndo es tr itament e as regras
de unidade de lugar e tempo. represent ou-se o
trgico fim de Clepatra, dian te da fach ada do
palcio, com a tumba de Antnio ao lado. onde
a rainha se suicida par a escapar ao cativeiro.
Em uma segunda aprese ntao, reali zada pou-
co de poi s no Co llege de Boncourt , Jodell e
qu ei xou-se da indigncia do ce nr io. Ma is
import ante, por m. do qu e essa pobreza, foi a
infl unci a que Jodell e conqui stou nos cr cu-
los acadmicos interessados em teatro co m sua
tragdia em cineo aros em versos alexandrinos.
Os colegas da Pl yade o ce lebrar am co mo um
promi ssor e jovem talen to, qu e apontava o ca-
minho para o fut uro da tragd ic, Ele satisfez,
inclu sive, as exig nc ias de Du Bel lay relativas
ao cultivo do idioma e, do mesmo modo, aos
idea is poticos de Ron sard. Barf e P ruse.
27.i
o xito de Jode lle e o cresce nte prestgi o
da Pl yade incit ara m o hi hl iot ed rio real.
Mellin de Sai nt-Ge lais, a traduzir para o fran -
cs a tragdia modelo de Trissiuo, Sofonisba .
Henri que II proporcionou uma pomposa re-
pr esentao de gala na cort e. As filh as do rei.
"faus tos amente vestidas", colabo rara m e, en-
tre elas, a pl'ometida do delfim, Mari a Stuart .
A representao de 1556 no Ca stelo de
Bloi s, animada por interl dios musicai s e mon -
tada co m grande pontpe, foi ape nas um entre
muitos ent retenimentos em uma srie de dia s
festi vos organizados em honra da jovem prin-
cesa da Esccia. Que significado poderia ter,
para ela, Sofonisba - a desgraada rai nha da
Nurndia - que precisa beber o ve neno da ta a
enviada pelo prp rio marido') Mari a Stuart ,
depoi s da apresentao, dano u co mo todas as
demais e com todos, sem pressenti r quo logo
ela prpria se tornaria ttulo e herona de uma
trag dia europia.
Menos de cinquenta anos mai s tarde, em
160 1, Antoi ne de Montchrestien escreve a pea
L'Ecos saise (A Escocesa ou A M Estrela) .
Esse primeiro drama sobre Mari a Stuart. es -
crito por um huguenote, surgiu trint a e trs anos
aps a sua morte e ainda dur ant e o reina do de
Eli zabe th I. Era a seg unda obra teatral de
Mont chrestien. Fora ante cedida por um tema
clssico: Sophonisbe.
A nrnesis da tragdia qui s que os ti os do
drama renascentista se enlaassem na Ingla-
terra tamb m com o destino de Maria Stuart.
George Buchanan, tradutor de Eurpedcs e au-
ror das tragdia s Baptistcs e Jcphtcs, foi tutor
de Maria Stuart at 1567; aps o assassinato de
Darnley tornou-se seu inimigo e. em 1572. pu-
blicou um sumrio de culpa - Dctcctio Mari al'
Rcginao - contra ela.
A tragdia humanista inglesa. ao contr-
rio do culto francs pelos alexandrinos. pref e-
riu o emprego do verso livre. O primei ro exem-
pl o desse est il o foi a obra dec lamat ria
Go rbo di: or Fcrrr : and Porres, inspi rada em
Snec a. surgida em 1561. Se u enredo trata da
lula pelo trono de doi s irmos inimi gos que
precip itam o pas no infortnio. Seu s dois au-
tores, Thomas Sack ville c Thomas Nort on per -
te nci am ao Parlamcnto e ao Iuuer Temp le
(Colegiudo Jurdico de Londre s). No mesmo
ano. Maria Stuart voltou ;1 Escci a. Nada
274
H s t o sio M u ndi a l d o TC (/ II" O
mai s tentador do que ver em Gorbodtu: uma
premonio da lut a pelo trono entre as dua s
rainhas. to difer e ntes entre si. Co ube. por m.
a Thomas Sack vi lle, Bar o de Buckhurst e pri-
mei ro Duqu e de Dors et, a tarefa de ir ao Ca s-
telo de Fother ingay anunciar a Maria Stuart.
rainha da Esccia , sua sentena de morte. Aps
ess e pr logo, no esti lo de Sncca , o drama
renascenti st a ingls emancipou-se da s regras
formai s. Shakespeare, do mesmo modo que os
espanhi s. preferiu o livre emprego do lugar e
do tempo. Apresent a um mosaico de momen-
tos que, pe la contnua mudana de ce nas e
cont raste entr e o trgico e o c mico , formam
um gra nde pai nel. Ele resolveu na a o o que
a tragdia francesa do Rena sci mento acu mu-
lava em imponen tes solos dec lamatrios. O
rel ato da mort e de Hip lito em Hyppolvtc, fils
de Th see , pea de 1573 de Robert Garnier,
tem mais de cento e setenta versos. o que pres-
supe. al m de um grande poder de concen-
trao do at or, uma sala de teatro fec hada. Os
vos or atrios de Garnier, precursor imed iato
de Cornei lle e Racine. exigiam proximidade
com um pblico livre de qualquer di stra o,
Co mo paradoxa l contraste. ess a exigncia fez
surgir na tragcdic classi que o mau hb ito de
reser var a es pectado res privilegiad os assen tos
sobre o prprio pa lco,
Na seg unda metade do scu lo XVI. o dr a-
ma renasce nt ista de es tilo clssi co comeou
a es palhar-se pcla Europa. O poeta e drama -
turgo polon s Jan Kochanowski esco lhe u um
tema da Il ada para falar conscincia de seu
rei_Se u drama pa trit ico O Desp edi ment o dos
Embaixadores Gregos , em cenrio ni co, alu-
dia inequi vocamente Polnia , ameaada por
Iv, o Terr vel. Qu ando no palco o troiano An -
tenor exortava o vacilante rei Pramo a agir.
respondia o p bli co com um aprovatrio ti-
nir de armas. Essa represen tao de j an eiro
de 1578 celebrou o noivado do chanceler po-
lons Jan Zamoysk i com Chris ti ne Radziwill ,
princesa da Lit unia, no Castelo Ja zdowo,
perto de Var svia, e cumpriu seu duplo obje-
tivo: deu aos jovens acadmicos no palco o
es perado ap lau so e troux e aos impacientes pa-
tr iotas na pla ti a a aprovao do rei Est vo
Bathor y da s medidas de def esa que eles ar -
den temente advoga vam - medidas que este
Vaivoide da Transil vnia, eleito rei da Polnia
"r
i
,
l . Inicial com cenas teatrai s de Hcrcu les [urens ,
de Sneca. direita, no alto e embaixo. os especta-
dores. D(l Codcx Urbin , sculo XIV (Lar. 355 . Roma,
Bibli oteca do Vaticano) .
2. Palco humanista, por volta de 1550: pro vvel -
ment e cena de um mon lo go de II l'd l cgrill o. de
C;i rolall)o l' urubosco. Pri mei ra edi o em V l "Il CI. :l .
I ~ .
b. Xitogravura para Fnnia, comdia de Terncio. Da cdio de t.yon de 1493.
3. Cena da comdia /\Ill/rja. de Terncio. Xogravura
de lima edio das obras de Terncio, Veneza, J '+07.
apenas dois anos antes, teria dispensado de
bom grado.
A Comdia Humanista
Os prncipes da famlia Este de Ferrara
sabiam manter a posio de mecenas da co-
mdia literria renascentista. A retomada do
drama clssico, iniciada em 1486, com Me-
naechmi (Os Gmeos) de Plauto, foi seguida
por numerosas representaes em italiano. Em
1491 representou-se Andria e, em 1499, Eu-
nuchus (O Eunuco) de Terncio.
A corte ducal de Ferrara atraiu humanistas
e poetas. Quando Isabella D'Este mudou-se para
Mntua aps o seu casamento e ali promoveu a
produo dos Adelphi (Os Adelfos) de Terncio,
em 1501, auxiliando os duques de Gonzaga a
entrar para a histria do teatro, em Ferrara apa-
recia uma nova estrela: Ludovico Ariosto.
Na verdade, no incio de sua carreira, do
mirrado poeta, dotado de luxuriante fantasia,
mas vivendo em circunstncias apertadas, mal
se ofereceu a oportunidade de colher a man-
cheias. E por isso mesmo sentiu-se tanto mais
incitado a enriquecer as festas cortess com
comdias de sua lavra. Assim, em 1508, es-
creveu Lo Cassaria (A Caixinha) e, em 1509.
sua obra teatral mais famosa, I Suppositi (Os
Impostores), diretamente inspirada em Plauto,
tanto nos tipos quanto na tcnica cnica. A
forma do palco em Ferrara, desde a primeira
representao em 1468, era urna fachada pla-
na de rua, com cinco casas, cada urna com uma
porta e uma janela.
O princpio elo palco elevado, com urna
fileira de casas - uma adaptao reduzida da
clssica sccnae jiYJ11s romana - tornou-se ca-
racterstica elo teatro dos humanistas. Aparece
em gravuras de muitas edies de Terncio e
era realizvel mesmo com os modestos meios
do teatro erudito. Em sua forma mais primiti-
va, se hou vesse necessidade, era dividido em
gabinetes, com cortinas ele correr, "parecidos
com cabines ele banho em vestirio ele pisci-
nas" (Creizenach). No incio do sculo XX,
276
Hs t ria All1l1di(l/ do Tc cnro
cunhou-se o termo "cabine ele banho" para des-
crever esse tipo de cenrio.
A pea I Suppositi levou Ariosto ao salto
para Roma. Em 1519, ela foi apresentada,
como espetculo de gala no Castelo de Santo
Angelo, diante elo Papa Leo X. Ningum
menos elo que Rafael elesenhou os cenrios.
Estes, "fiis natureza da arte ela perspecti-
va", representaram a cielade ele Ferrara corno
o local ele ao da comdia. Para assegurar
sua obra-prima cnica o necessrio efeito ele
surpresa, Rafael ocultou o dcor atrs de uma
cortina, que no incio da representao - ao
antigo estilo romano - caa num fosso aberto
diante elopalco. Ariosto e Rafael foram igual-
mente celebrados. Entretanto, o secretrio da
embaixada ferrarense Paolucci no fez men-
o ao nome de Ariosto, ao informar seu prn-
cipe sobre o Carnaval romano ele 1519: "No
se falava de outra coisa a no ser ele mascara-
elas e comdias [... ] e do aparato cnico de
Rafael de Urbino construelo para as mesmas".
Mas Os Impostores fizeram carreira nas
festas da corte, na Conunedia deli 'arte e pelo
teatro ele escola. Antonio Vignali, membro da
Academia degli Intronati eli Siena, encenou a
pea em Valladolid, em 1548, como contribui-
o teatral s festividades de npcias de
Maximiliano da ustria com a infanta Maria,
filha do imperaelor Carlos V. A Commedia
deli 'arte reportou-se figura elo sarraceno
Rodomonte do Orlando Furioso, de Ariosto:
as fanfarronadas bombsticas das quais se gaba
o Capitano, endossado por outros valentes,
receberam o nome de "rodomontadas".
Entre 1518 e 1521, pessoas ilustres rivali-
zavam como autores ele comdias, encoraja-
dos pelo papa Leo X, cujo Gaudeamus (can-
to litrgico) de alegria terrena estendia-se tam-
bm ao teatro. Um homem de intelecto e cul-
4. Ilustrao panormica da ndrio de Terncio, im-
pressa em Estrasburgo, 1496. O gravador criou UIll cen-
rio imaginrio para eventos que aparecem no texto sob a
forma de relato. e indicou a relao entre as personagens
por meio de linhas que as conectam.
5. Apresentao de Fortnio, de Terncio. Xilogravura de
Albrecht Drer dcsunado ao frontispicio de uma edio ilus-
trada que no chegou a ser publicada das comdias de
Terncio, c. 1492 (Basilia, Kupfcrstichkabinctt)
tur a devia mostrar igualment e, co mo part e do
bo m- to m, dom nio da lingu agem po lida en-
qua nto dramaturgo . J Enas Si lvio Piccol o-
mini . mai s tarde Papa Pio Il , baseou sua com-
dia Clirvsis , de 1444, em leituras de Terncio
feitas na ju ventude, quando est uda nte em Vie-
na. O pintor e artista Leo Bati sta Alhert i es-
cre veu a comdia latina Philodoxeos e , em
1582, Gior dano Bruno ainda fazi a sua ten tat i-
va co m l/ Candclaio, stira aos alquimistas em
com dia esc rita segundo as regras.
Antes de sua partida para a Fr ana como
enviado papal , o cardeal roman o Casenti no
Bibbi cna, em 1518. organizo u e m Roma um a
di spendiosa represent ao de ga la - em ho-
men age m ao Papa Leo X - de sua Cnlandria,
explor ando o tema dos irmos g meos . con-
forme o modelo de Plaut o. repetind o o x ito
que a lcanara na estria de 151 3, em Urb ino
(trint a anos mai s tarde. em 1548. a pea foi
e sco l h ida co mo co ntr i bui o da col ni a
florent ina de Lyon il recep o em honra do rei
He nr ique II e sua j ovem noiva, Catarina de
Med ici ).
Ao autor- car dea l j untou-se, e m 1520. o
a uto r- pol rico, na fi gura de Nicolau Ma-
quiavcl, outro adapt ador de Tern cio. Sua co-
mdi a Maudragola (A Mandrgor a), represen -
tada cm Florena e pouco depois em Roma .
superava de longe todas as suas predecessoras
em or iginali dade, atreviment o e esprito . Os
cr t icos modernos da lit eratura italiana vo
alm, ao considerar a pea "o bra -prima dra -
m tica no somente do Ci ll 'lI Il' CCII( () . mas de
todo o teatro italiano" (G. Totfanin).
So me nte Pictro Aret ino, amigo de Tici ano
e mes tre da chronique scandalcusc (crnica es-
candalos a) venez iana, co m sua cumdia L"
Cortigiana (A Cor tes). p" d<: - com reservas
278
H vnsriu Mund o d o Tca t ro
7. Cena d" Ac/ude' '1"(' .\l' /i ,,,,,, ,.a ti .\1 ..\ln
m o Xilogravuru de n lil, :;-h)
das obra... til' Ter nc io. Ve..' Ul'l. a . 156 1.
_. compa rar-se a Maquia vel. Sua mordac ida-
de, entretanto, custo u-lhe os favore s da C ria.
La Cortigiana ce deu seus direi tos c ni co s it
"Co rtes" da Conunedia deli 'urte, ao passo que
seus co nhec ime nto s de ofcio Are ti no os reto-
mou em / Ragioncuncnti (Os Arg ume ntos ).
Em geral. na poc a da Renascen a. os au-
tor es de co md ia no pod iam qu eixar-se de
uma falt a geral de magn animidade. O Papa
Leo X perdoava ao esprito polido at os at a-
qu es abe rto s iI sua pr pria corte. Torres Na -
barro, pr ecursor das co mdias es panho las de
capa e esp ada, familiarizou-se em casa de seu
amo em Roma com a intri ga e o cabo-de-guerra
por poder e influn ci a, benefcios e sinecuras.
Deu largas a seu des agrado em uma comdia
chamada Tinclariu, um afiado ataque s intri -
gas da s ant e-sa las t t i nel os) de um ca rdeal. No
prl ogo, o au tor ad verte: "o que aqui vos faz
rir podei s castig ar cm ca sa" ; nas pal avras fi-
nai s vo lta a ad vert ir qu e esses ahusos no be-
nefi ci avam Suas Emi nncia s.
A o us ada co m dia foi represent ad a cm
1517. na presen a de Leo X e do carde al
Giulio de Med ie i, que. mai s tard e. seria o Papa
Clem ent e VII. Os excelsos se nhores no ve s-
tiram a carapua e divert iraru-xe C0l11 II
tesco pa r lapat r io desen cade ado pel o .uuor.
Para eles. era COl H o 1I11\ regi stro - C0 0 10 fI
se UI11a - ti l' 1I1l1a asse mbl ia de to -
do s os rin c es do gloho. No pal co. huvia a
me sma ba bel de dialetos espanh is, france-
ses, ale m es e ita lianos. intensific ada nas CL' -
nas de bebed ei ra . a pon to de assumir o aspec-
to de um ve rdade iro sab;i de bru xas . I.d o X
ficou to e ntusiasmado que co ncede u a '1'0 1'-
rcs Naharro um privi l giode dez anos pa ra a
impress o de suas comd ias . At o cardeal
Bernardino de Curvuj al. cuja casa era referida
na Tincl aria. aceitou. sem ofender-se. a cdi -
o a ele dedi cada. Torr es Naharro conseguiu
seu int ento. ao incluir, intcli gent cmeurc. a Ill'\; a
entre suas comedi as " 1I00ici {I. comdias de
observn o. di stint as das comedias li [an ut -
siu, eve nto s fi cu ci os com mera apa rnc ia ,k
realidad e.
X. Ce nas da co m dia Gl l nganni, de Curvi c Go nvaua.
Xl logruvura de uma edio impressa em V,-' Ih.. ' Z.l. ISl)2.
Logo a segui r, sem que se saiba o nome
dos autores, duas com d ias famosas do Renas-
cime nto encetaram sua marcha triunfal por
toda a Euro pa: a espanhol a La Celest ina (A
Ccl estina) e a sienensc Gli Ingannati (Os En-
ga nados). A pe rson agem Cc lest ina, que d
nome primeira obra (hoj e atri buda a Fer-
nando de Roja s), uma alcovitei ra de alto n -
vel, com um sutil co nheci me nto dos prob le-
mas de seu ofcio. A pr imeira edio que veio
a pblico de 1499, surgida em Burgos. Vinte
anos mai s tarde j circulavam tradues italia-
nas, francesas, inglesas e alems. A com dia
dos Ingannati foi representada pela prime ira
vez em 1531, pela Acade mia degli Intronati di
Siena, e impre ssa anonimamente cm 1537. O
espanhol Lope de Rueda , autor dramtico e
diretor de uma companhia de teatro ambulan-
te, representou-a em ruas e ptios sob o nome
Comdia de los Enganados.
O profcuo tema dos dois irmos e seus
disfarces, com a decorrente potencialidade dra-
mt ica, foi adotado por Sha ke speare e m
Twclft l: Ni gl u (Noite de Reis). Uma traduc o
francesa de Charles Esticnne , publicada cm
1540 e dedi ca da ao de lfi m, regi str a cons-
eienciosamentc a orige m da pea : "Ingannati:
comdia segundo o est ilo e temtica dos An ti-
gos, chamada Os Enganados. Composta pr i-
meiramente em lngu a toscana pelos profes-
sores da Academia Verna cu lar de Siena, de
nome Intr onati, e trad uzida para o nosso idio -
ma francs por Charles Est iennc".
Ape sar da cuidadosa referncia s fontes,
Estiennc se considerou criador de uma nova e
orig inal comdia francesa. No prlogo, o au-
tor afirma ter superad o a far sa primi tiva medie-
val, e recomenda com insisr nsia que a nova
280
lii s t ria Al 11 ll di a l d o Te a tr o .
ar te seja provida de "uma nova ca sa l...) Com
asse ntos confortveis, di spostos em anfiteatro
par a que mesmo um pbl ico exig ente se sen:
risse vontad e".
Apesar da solicitao , vrias dcadas se
passar am antes que isso ocorresse. So mente
com o advento da pera, pa ssou o pbli co a
deliciar-se com as mgi cas tra nsformaes de
cenas por meio da maqu inar ia teatral e a des-
fr utar teat ros SUl1l uosos e confo rtveis. A coo
media erudita do Rena scimento prosseguiu par
v rias dcadas em cen rios ni cos , fiel s rc-
gras, ai nda que benefici ad a pel a util izao da
perspect iva em seus ce nrios, alm da orna-
me ntao de estuque. Os cro nistas da poca
qu alifi caram de "suntuosa produo da corte"
a comdia Le Brave (O Br avo) de Jean Antoinc
ele Baif , verso fra ncesa do Miles Gloriosu
(O Soldado Fanfarro) de Pl au to, representa-
da em 1567 no Htel de Guise em Paris . Os
elog ios , porm, devem tal vez se r creditados a
Ronsar d e outros poet as da Pl yade, respon-
sveis pel os interl dios com ver sos em home-
nagem aos convida dos. o rei Carl os IX e Cata-
ri na de Med iei,
A influncia direta da comdia romana
e vide nte no dra mat urgo Mart i n Drzi , de
Dubrovnik, viaj ante inc ansvel e aventureiro
ancestral do teatro iugoslavo. Se u Dundo Maroj
colocou em cena um avarento qu e - situado
e ntre Plaut o e Moli re - , em ricoch et eantes si-
tuae s cmicas, mostra j suas relaes com a
co mdia de caracteres. A ce na de Dundo Maroj
( 155 1) Roma, para onde um pai viaja atrs de
se u frvolo fi lho, I; encontrando ape nas com-
pa triotas da Ragusa (Dubrovnik) nat al do au-
tor. A pea reflete a moral da poca. em nvel
compar vel Tinclaria de Torres Naharro.
Na mesma linha acha -se tam bm Mo thcr
Boinbie, surgida em 1594, obra do dramatur-
go ingl s John Lil y, qu e ofe rece um qua dro
rea lista do cotidia no da poca eliza betana, ins-
pirad a em temas de Ternci o. Na mesma d-
ca da, porm. aparece u em Londr es a estrela
de Shakcspeare. Mother Bombi r foi ecli psada por
Romeu e Julieta c Sonho de I/ma Noite de \0rtio.
9. Cen a da comd ia La Celest ino , Frtmt ispfci o da
l' d i\';:i(l es panhola, Toledo. 1538.
A R (' l l l /SC C ll o
A Pea Pa s t o ral
"A Idade do Ouro, para onde fugiu ela'?",
lamentava- se o Tasso de Goethe, evoca ndo a
imagem daquel es Campo s Elseos tambm
cantados pel o Tasso hi st rico: " reino da bele-
za, livre de erro" , onde her i s e poet as convi-
viam harmoniosament e, onde faunos e ninfas ,
pastores e pastoras cortej avam-se com gracio-
sos versos . O ar fresco da sapincia huma nista
e as inescru pulosas lut as pol tica s pel o poder
levaram- como outrora nos tempos de Tecrito
e Virglio - fI fuga para o outro extremo, bus-
ca de um irreal e ideali zad o mundo de "pura
humanidade", um mu ndo " no corao da na-
ture za" .
Desde o inatingido am or de Da nte por
Beatriz e desde os lr icos sonetos de Petrarca
dedicados a Lau ra co me o u a soar o novo e
sensvel acorde. Pintores, poet as e cortesos
rendiam preito be leza e j uventude. Lou -
reno de Medi ei, em sua s canes de Carna -
val, exor tava a gozar a fug iti va e bel/a giovi -
ncr:a e, em louvor for mo sa Si mone tt a
Vespucci, organizou um conc urso teatral que
duro u vrios dias. Angelo Polizian o aprovei-
tou a ocas io para compo r um longo poema
panegirico, e Bo n icclli inspi rou-s e para pintar
o alegric o Nnscimento de \ ''''111-'. Lor en zo
Lott o descreveu () Sonho de /111[(1 .f<Jl"CIII como
rom ntica pa isa gem rupestre co m font es e
stiros. A felicidade do po eta alcanava seu
pice quando a da ma de seus sonhos lhe e n-
tregava a co roa de lour os, em meio a um ca m-
po florido.
A nostalgia - liter ariamente cult ivada - do
homem urbano po r um idl io bucli co havia
encontrado em Ferrara . na corte dos Este, um
centro de cultivo afa mado pelo mundo afora;
uma Arcdia como celebravam Boj ardo em suas
clogus, Ariosto em suas estncias, Tasso em
sua pea pa storal Amimo. Mas, no caso de
Ariosto, j; havia sinais de dvida - perceb ida
nas entrelinhas - sobre se esse nobre e herico
esprito ainda deveri a ser levado inteirament e a
srio. Dura nte sua poc a de organ izador de tea-
tro e das festas da corte de Ferr ara, um novo e
mais prosaico elemento comeou a invadir a
pea cortes, t r az ido pe la companhia de
Ruzzante, com scus di logos camponeses de Pii-
dua. No incio, cm 1529 e 153 1, os atores de
Ru zzant e recitavam se us mad ri gai s e conver-
saes como entretenimentos de mesa. Por vol-
ta de 1532, entretanto, uma ence nao parece
ter sido planej ada. porqu ant o Ru zzante pediu
de antemo a aj uda de Ari osto, que tinha con-
sumada expe rincia em arranj os teatrai s.
Tasso, tamb m, se encarregou pessoal-
mente dos ensaio s de sua pea Ami ma. Por
toda a Europa, esta e mocionante histr ia de
amor , com sua louvao Idade do Ouro, con-
ve rte u-se em modelo, mu itas vezes copi ado,
da pe a pastoral. Em sua est ria em 15'73, na
peque na ilha de Bel vedcre, do rio P, na casa
de ca mpo dos Este, o elenco inclu a no ape-
na s membros da soci ed ade pal aciana, mas al-
guns ate res profis sionai s da j famosa com-
pa nhia dos Co mici Gelosi .
A ao de Amima re ne todos os elemen-
tos da alegoria bucl ica: o prl ogo apresen-
tado pel o Amor, em traj e past oril. O pa stor
Ami nta. neto de Pan, corteja em vo a fria ninfa
Slvia. A prestativa int er veno de Dafne - as-
sim co mo a de animai s, a de um stiro imper-
ti nente e a de um provide ncial ar busto de es-
pinhos - aj udam o fiei Ami nta a con quista r sua
felicidade, to ard uamente porfiada.
Gia mbattista Gu arini , sucessor de Tasso
na corte de Ferrar a. tent ou sup er -lo com to-
da s as complicaes poti cas ima ginveis: o
pob re pastor Mi rtilo, heri e personagem pr in-
cipal do Pastor Fido , tem de pel ejar contra um
labi rinto de cimes e intrigas , an tes de ganhar
a mo da bela Amarlis. O Past or Fido foi en-
ce nada pel a primeira vez em Crema, em 1595,
mesmo ano da morte de Tasso. Con sti tuiu o
ponto culminante e o canto cio cis ne da pea
pa stora l do Renasciment o itali ano, que come-
a ra. exatamen te cem anos an tes sob Lorenzo
de Mediei, com a past oril Favola d 'Orfeo (F;-
bula de Orfeu) de Angelo Poli ziano, o primei-
ro drama profan o it al ian o, c uja co nce po
es tilstica ainda est inteira ment e comprorm-.
tida com a sacra rapprcscntazione,
Nos ccrn anos que separa m o per odo do
Orfeu de Po!iziano e o Pastor Fulo de Guari ni,
Floresceu por todo o mundo ocidenta l uma
profuso de idli os pa sto ris. que, transpondo
tod as as fronteiras, lou vavam e m har monia l-
rica os bos ques da Arc dia.
J uan dcl Encina, tal ent oso precursor do
teatro espanho l, prefer ia leva r sua s rcprc-
281
10. r. Lcc lere: I \
cen as ( c .' minta, de 'Iusso. Gravura s impressas em Amsterd, 1678.
Gra\":I' ":'o CIII rolu c para a pea paxto rai /'t u -
tor Fido, de (ji amh:H1bla Gnarini . Vencia. l 02.
A Rcnns ccn c u
12. Xi logra vu ra do ;' lI11 I.l!O LImo ."opie'! .te Tctt, 15-1 5.
;\ hi s(lia de Cuilu-nuc Tetl de Ut i l'ra co nh,.. -cida lia
SlI..;a a pnuir <1.1 metade do s culo XV. O ant igo I/ ,."C,.
SI,id toi uprcseut ad o pel a prim cira \'(,./. t' 1lI ,.\ lt dlll f. cm
12.
Sl'll/lIcicH/('S e clogas em ambie ntes rurai s.
com past ores e figura s mitolgicas. Seus in-
tr prete s enve rgava m traj es past oris. mesmo
na apre se ntao de ga la de sua Egloga dei
Amor. em 1497. na festa de casaurento do prn-
c i pe D. J o o de Ca stela com Marga rida
D' us tria. filh a do imperador Maximiliano.
Na encenao de sua Eglos; de Pl ci da y
VilOr i"I/o. na casa do ca rdea l Arborea em
Roma. foi utili zado um cenrio de bosques e
flores tas. Pre sumi velment e. o au tor es teve pre-
se nte a essa apre sent ao. poi s. se ndo agora
arquidicono em Mlaga. desde 15m;, reno-
vou vrias ve zes o co nta to com Ro ma.
Gil Vicente. organizador de fest ividades
na co rte de Portugal e maior dramat urgo do
pas . tambm prefer ia o ambiente pastoril. A
Deu sa da Fama. em seu A IIIIl da Fama. de 1510.
surge cu mo uma alegre pastora,
Do outro lado dos Pirencu s. co mo em lodo
lugar. peas pastorais eram apresentada s nas
salas teatrai s dos pal ci os e nas casas de no-
br es . No s meados do s c ulo XV I. o id l io
bu c lico tambm se tornou parte do repert-
ri o d:h trupes ambulantes. Lope de Rucda -
autor c diretor que. de 15-1-1 a 1565. percorreu
toda a Espanha com sua companhia - trcqen-
temen te escol hia roupa s de pastores para re-
presentar ce nas da vida popular. Seu acervo
teatr al. co nforme registra Ce rvantes . co nsi stia
em "quatro pe lego s bra nco s. guarnec idos de
co uro dourado, quatro bar ba s e ca be le iras e
quatro cajados - mais ou menos. As pe,,' as era m
colq uios ou estrofes ent re dois ou trs past o-
res e uma pastor a: as fun es eram en fe itadas
e completadas por doi s o u tr s cntrcmczcs.
acerca de uma negra. um rufio. um idiota ou
um basco: essas quat ro per sonagen s e muitas
outras fazia esse tal Lope com ma is habilida-
de e excelncia que se pode imagina r..." Cer-
vantes acre scent ava que ,I palco co nsis tia me-
ramente em quatro banco s di spostos e m qu a-
drado. quatro ou seis tbuas em cima, de modo
qu e o tabl ado se alava do cho ce rca de qu a-
tro pa lmo s: a nica decorao era uma vel ha
manta. pendurada em cor dis, que servia de ca -
mari m e atrs do qua l es tavam os msicos.
O acompanha me nto musical era part e in-
di spen svel da pe a pastoral. pois um infeli z
pastor qu e ama sem se r correspondido e uma
j ovem rs tica e bela. naturalmente. preci savam
ca ntar para e xpressar suas emoes. Da pea
pastoral e da pea mu sicada ii pera havia soo
men te um peq ue no passo a ser dado. Ma s se u
caminho atravessa va prime iro o ce n rio da s ho-
menag ens corteses,
O poeta ingl s George Pede. um bo mi o
que combinava um dom lrico e panegr ico com
uma educa o uni versitria. alcanou os tuvo-
res da rainha em 15:-: -1 . co m TI/{' Armigl/lll cl/ l
4 Pari s (O Ju lgamen to de Paris).
Par is. qu e aparec ia vestido de pa stor . to-
cando tl auta. e m ver sos muito bem compos -
tos. saudava a beleza de Vnus. a maj estad e
de Juno e a sabedor ia de Palas Are na. A ma
dourada. entre tanto. caberia a Eli zabeth I. "a
nobre fnix de nossa poca. nossa fada Elisa .
nossa Zaheta fada" . Diana e suas ninfas e ntre-
garum-l he o fruto. enquan to V nus, Jun o e Pa-
las Arena confirmava m o prmio:
Es te premi o do " ccu-, e de celestes deusa".
Aceuu-o agora. ' !'!" te' I: devido por Diana.
louvor da vabcdoria. beleza c poder.
qUL' melh or (011\:0 111 ii tua incomp ar vel
Todavia. a pe.,-a pastoral somente e m apa -
rn ciu era f ericn. poi s no perdia tot al mente
de vista suas in ten es amide mui to rea lis-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ . -
..'
'Z.. __.
14. Bald assarc l'cruzzi : desenho de ce nrio cm
perspectiva, C'. 1530 ( Florena, Un i/ i).
. \ ~ < r . ~
~ ~
= = ~ . - .
13. Scbastiano Sc rfio: sccna ( omica. Cenrio arquitet nico fixo para comdia . desenh ado em 15..t5. Xtogravur a do
Libra seco ndo di Perspett v da Architct tura de Serl io. Veneza . 163.
H s t ori o " Ium/ial ./ 0 Teu t rn
mai s baixa e partindo de seu centro, um c r-
culo possa ser descrit o e, dentro del e, quatro
tr ingulos eqilaterais c eq idistantes. Esses
tringulos tangenciam o cr culo, maneira dos
astrnomos quando det erminam os doze sig-
nos do zodaco, de acord o com as lei s musi-
ca is das esferas.
Geometria, matemtica, as tro no mia e
msica - de fato, Vitrv io apresentava creden-
ciais not vei s para a aparncia modesta e oca-
sionai do teatro. A edio de Virr vio de 1486,
preparada por Sulpcio Verolano, servi a ant es
de tudo para estudos eruditos e, na medida em
qu e assuntos teatr ais estavam implicados, ra-
ramente para a apli cao prti ca. As prescri -
es de Vitrvio no exe rce ram influncia em
crculos mais ampl os at a nova edio de
1521, suprida de desenh os de Cesari ano e, ain-
da mai s importante, a edi o co mentada de
1556 em italiano , feita por Dan icle Barbaro,
patri arca de Aquil ia,
No primeiro per odo da Ren ascena , as
representaes em Roma e Ferrara pre su-
mi velm cntc ainda adoravam ce n rios relativa-
men te modestos, em forma de ruas achatadas
- ou ass im cabe supor. j que eram descrit os
co rno pictu rat ae S CCI1( /l' (ce nrios pint ados ).
Mas, por volta da poca em qu e a Calandra
do cardeal Bibbiena era levada em Urbi no, em
1513 , o cenrio ganhou alguma profundidade
em per specti va. Nessa mont agem foi mostra-
da no palco, confor me Buldassa rc Ca stiglionc
escreveu cm uma ca rta ao conde Ludovico
Ca nossa . "uma cidade com ruas, pal ci os, igre-
ja s C torres, tudo em relevo".
Para a rcapresent ao em Roma, promo-
vida por Bibbiena em 15I8, perant e o papa
Leo X. Baldassare Peru zzi criou um cenrio
to bcm-feit o, como rel ata Vasari , que parecia
" no se r de faz-de-conta, mas to verdadeiro
qu ant o poss vel, e a praa no uma coi sa pin-
tada e pequena , mas real e muit o ampl a".
Peru zzi havia transformado o bastidor unica-
mente pintado de fundo em uma ut ilizvel rea
de atuao a projetar uma profundidade real.
Isso foi conseguido pela combina o entre 11m
ce n rio com prati c veis no prosc nio e uma
parede de fundo pintado em perspectiva plena.
Em sua Archit cuura (publicada em Veneza
em 1545), Sebastiano Scrl io, o grande ter ico
e urquiteto que fora di scpulo de Pcru zzi, dcs-
A perspec ti va fo i a grande pai xo do
Quattrocent o. Ao ideal human ista da harmo-
nia do universo corres pondeu a sistematizao
matematicamente preci sa da art e e da cincia,
a co nstruo de um equilbrio harmoni oso en-
tre o detalhe e o todo. As prop ores de um
rosto ou de uma laa eram submetidos a cl-
cul os no menos complicados que os da fa-
chada de um prdio, ou das medidas de uma
co mposio pict ri ca monumental.
Bruncll eschi, Al bcrti e Bramante deram
expresso em arquitetura iluso de pers-
pectiva do espao: Piero della Francesca. em
pintur a: Ghiberti c Donatell o, em escultura. To-
dos eram tant o artistas como cientistas. Simi -
larmente, uma apl icao proveitosa do captulo
sobre teatro, no qu into livro do De Arrhitect u-
ra, de Vitrvio, pressupunha um construtor ex-
peri ent e. O forma to de um teat ro, explicou
Vitrvio, deve ser planej ado de modo que, de
acordo com comprimento do di metro da rea
o Des en vol viment o d o Pal co
e m Perspe cti va
284
tas. A floreada homenagem. no mais das ve-
zes. era endereada a um recept or muito con-
creto e perseguia obj et ivos muit o concretos:
poderia ser uma mulher, uma rainha, uma ci-
dade - e o obj etivo cra obter favor.
O poeta servo-croata Gji vo Franje Gunduli,
humanist a de famli a tradi cional e admirador de
Tasso , glorificou em 1628 sua cidade natal ,
Dubrovnik, com a pca pastoral Dubravka. Um
patrcio de Nur embcrg, George Phil ipp Hars-
drffer, glorificou, cm 1641, a laboriosidade do
povo da cidade sobre o rio Pegnitz comsuacom-
posio Pegnesisches Sc hfe rgcdicht, uma pas-
torai de exuberncia alegrica anacrentica, um
artificial conglomerado de dilogos, poesia lri-
ca e interldios musicais , que no tinha nada
mais a ver com o teat ro.
O cenrio da pea past oral. porm, acom-
panh ado no romance e na poesi a lrica, sobre-
viveu por sculos, plasmando ainda Bast ien
und Bastienne, de Mozart , e Die Fischcrin (As
Pescadoras) e Di e L (/1I1I e des Verli cbten (O Ca -
pricho do Enamorado), de Goethe. Em 1545,
Se bastiano Serlio, em sua L' Architettura. deu-
lhe como model o osico a scena satirica, com
grupos de rvores , grutas c cararnanches .
15. Interior do Teatro Olmpico de Vicenza. construdo por Andrea Palladio e concludo por Vincenzo Scamozzi.
Inaugurado em 1584 com edipus Tyrannus de Sfocles.
16. Joseph Furucnbach: palco de um pakicio prin-
cipesco. Extrado do Archtcctura Cvils, tlim, l2X.
Gravaes em cobre de Jacob Custodis.
..\ I\CI10.\(("II('U
creveu como, mediante a ajuda de bastidores
em ngulo, era possvel construir toda urna
vista de ruas com colunatas e /oggias, torres e
portes. Bramante, os irmos Sangallo e o pr-
prio Peruzzi, antes de sua inovao, sempre
haviam fixado a perspectiva principal e seu
ponto de fuga dentro do quadro de pintura, tan-
to em seus afrcscos monumentais quanto em
seus desenhos para o palco. Serlio agora pro-
jetava isto na distncia, para alm do prospec-
to pintado, ou seja, para alm da parede de
fundo do palco. Visava com isso frear a rapi-
dez de reduo no plano do escoro c desta
profundidade ilusria ganhar algum espao
real de atuao no palco.
De acordo com as trs categorias do tea-
tro humanista, Serlio estabeleceu trs tipos
bsicos de cenrio: uma arquitetura de palcio
para a tragdia (scena tragicai: a vista de uma
rua para a comdia tscena comica) e uma pai-
sagem arhorizada para a pastoral (scena
sotiricav. Ele as moldou como prescrevera
Vitrvio: "Os cenrios trgicos so dotados de
colunas, esttuas c outros acessrios reais. As
cenas cmicas mostram casas particulares com
janelas, segundo a disposio das residncias
comuns . .:\s cenas satricas so decoradas com
rvores, cavernas, montanhas e outros elemen-
tos rsticos, ao estilo da pintura de paisagens".
Giacomo Barozzi de Vignola, autor do tra-
tado Lc Duc Rego/e delta Prospcttiva Pratica,
publicado postumamente por Danti em 1583.
visa a um palco praricve l composto em pers-
pectiva at a terceira rua, isto . C0l11 entradas
para o palco to recuadas quanto a distante
vista pintada. Ele recomenda que os bastido-
res em ngulo sejam substitudos porperiaktoi
moldados conforme os modelos da Antigi-
dade. A cena deve ser formada por cinco pris-
mas triangulares cqilteros de madeira, que
podem girar em pinos, com dois prismas me-
nores, tambm de madeira, de cada lado, como
limites laterais, e outro, trs vezes maior. atrs.
O problema de como enfrentar as dificuldades
tcnicas decorrentes da inclinao (rampa) do
palco foi cabalmente investigada. cinqerua
anos mais tarde. pelo terico de arquitetura
alemo Joseph Furttenhach, em Ulm.
O melhor exemplo ainda hoje cxistcute de
um teatro rcnascentista italiano o Teatro
Olmpico de Vicenza. Foi construdo por
Andrea Palladio. que, aps colaborar com
Barbaro na edio que este fez de Vitrvio,
props-se a tarefa de reconstruir um teatro ro-
mano antigo. Ele se manteve estritamente fiel
a Vitrvio no que diz respeito ao formato do
auditrio e das scac!/ac [rons. Trs portas de
acesso integram-se na elaborada arquitetura
das paredes do palco, feitas de madeira e es-
tuque, e com uma porta de proscnio de cada
lado. O auditrio serni-elipuco, com treze fi-
leiras, diretamente ligado s paredes do pal-
co c coroado por uma galeria e uma colunata
com esttuas. O conjunto constitui uma cpia
proporcionalmente reduzida dos enormes tea-
tros tardo-romanos de pedra ao ar livre, trans-
posta para dentro do espao fechado de uma
encantadora caixa de brinquedos. Presumi-
velmente, o projeto original de Palladio pre-
via que as entradas das scacnae frons se apre-
sentassem fechadas por prospectos pintados,
mas ele morreu pouco antes que o teatro fos-
se acabado, e seu sucessor Vincenzo Seamozzi
transformou as vistas pintadas em vielas pra-
ticvcis. Seguindo Serlio, ele situou o seu pon-
to de fuga para a perspectiva alm da cena,
nas telas de fundo vistas atravs das trs en-
tradas. intcnsi ficando assim a iluso de pro-
fundidade.
O teatro havia sido encomendado pela
Academia Olmpica de Vicenza, uma das nu -
merosas academias teatrais humansticas. para
cujas apresenraes Palladio erguera, em v-
rias ocasies anteriores. palcos provisrios no
saguo da baslica em Vicenza. A nova casa de
espetculos foi inaugurada em 1584 com o
1:.'di/JO Rei de Sfocles. O teatro utilizado ain-
da hoje para cspetculos em ocasics festivas.
No incio do sculo XVII. ningum que
viajasse pela luilia e tivesse interesse em ar-
quitetura ou cm teatro deixava de visitar o Tea-
tro Olmpico. Joseph Furttcnbach o inspecio
nou em 1619, em seu retorno de Florena para
a Alemanha. e anotou apreciativamente cm seu
Itincrarinm ltaliae que, embora "feito simples-
mente de madeira, o cenrio era construdo
com perfeita beleza. conforme a arte da pers-
pectiva". Ele conjectura que 5.400 espectado-
res poderiam assistir ils comdias nesse teatro
sem ter a viso obstruda. mas esta uma su-
percstimarivn grosseira da capacidade do tea-
tro. que mal ultrapassa 2.000 espectadores.
2X7
I.
I
17. Vincenzo Scamozzi : desenh o de um cenrio de rua (Fl oren a, Uffizi).
18. Interior do Teatro de Subb ioneta, construdo por Vincen zo Scam ozzi para Vcspasiano Gonzaga e m 1587. Foram
instalados novos bancos no auditor;"," oval, mas a colunata. esttuas c decora es murais ori ginais foram prese rvada s.
9: e cenrio do Teatro Olmpico de Vice nza, projciados por Scamoz zi. com vistas cm perspectiva para ruas
prancavcrs. O li: fuga est atrs do cen rio. No ce ntro, a por/a regia, mais tarde transfor mada e ampliada no palco
pecp-show do teatro Far uese de Parma.
20. Corte IOllgillldi nal do Teatro Ol11lpil.'o de Vif..' l' llI"a , Aesquerda . o ce n rio rua central no ilnglllo do palco: ;'1
direita, os acentos uivei s. ;1 ma neira dI..' UII I anfit eatro
A Renas ccna
Trs anos depois da concl uso do Teatro
Olmpico, Sca mozzi construiu outro teat ro cm
Sahbionela. Vespasiano Gonzaga, o l t i mo des-
ce nde nte de um ambicioso ramo da ca sa
govemanle de Mntua. estava transformando o
povoad o de Sabhioneta, no sul de Mntua, em
sua sede de governo. O trabalho de constru o
levou trinta anos, e o local emergiu antes como
um dos modelos de "cidade idear ' de Anunanati
e Vasari , proj etado com rgua e compasso, ele-
gantcmente encravado numa espcie de forta-
leza pentagonal . Um edifcio simples e se m
adornos co ntm o teatro. Este menor que o
Teatro Ol mpico de Vicenza e tem o estilo de
uma elega nte casa de espet culos part itular. Gra -
as disposio orgnica de suas entradas c salas
laterai s, d a impresso de constituir-se numa
pea nica . Mesmo as pinturas e os bustos "cls-
sicos" dos nicho s nas paredes foram projetados
pelo prprio Scarnozzi. enquanto o Teatro Olm-
pico de Vicenza ganhou suas ltimas esttuas
to-somente depois de 170(). No que diz res-
pei to s propores, Scamozzi seguiu as regras
de Vitr vi o mai s fielmente at do que se u mes-
tre Palladio havia feito. O model o de cidade do
duque Vespasiano no admitia conces ses. Aps
a morte do duq ue, o stio recaiu cm seu isola-
mento rural; mas o teatro de Scamozz i existe
ainda e conservado com muito carinho.
Do sc ulo XVI em diante, os teatros em
palcios assumira m import ncia. tanto do pon-
to de vista da histriu cultural quanto do da
urquitc tura. Em Florena. Bernardo Buonr a-
lenti expressou o esplendor dos pr ncip es de
Mediei nos arranjos decorativos e teatrai s das
festividades. Em 1585, Buontalenti co nstruiu
o famoso grande palco da corte no lado leste
das Uffizi. e ali foram encenados suntuos os
int crnrcdii e comdias dur ante o inverno de
1585-1 586. A sala media mais de 46 m de
comprime nto e 18 m de largura, e seu ei xo
longitudinal era s ufic ientemente inclinado
para permitir uma boa viso a todos os especta-
dores. O palco ficava na extremi dade inferior,
e os tronos par a a famlia gove rnante encon-
travam-se imediat amente :1 sua frent e, sobre
::! I . Pl an ta di I Tea tro ()I lllpi l.'t) de Viccu za. Cousu'ufdo
pt 11- Andn-a Pallndio e co ncl udo l'1I1 ISXl pln Viuc-cnzo
SClIIlO/ 1'I
um labiado. Quatro anos mais tarde, cm 1589,
Buontalc nti remodelou o audi trio, converteu-
do-o num anti teatro com cinco fileiras conc n-
tricas de cadeiras, divididas por passagens com
escadas, no es tilo do teatro romano anti go.
Em Floren a, no incio do sculo XVII
(como con fir ma m as plantas e esboos das
obras de arqui tcturu de Joseph Furttenbach),
o grande salo do Pal azzo Pitti era usado ex-
pressamente para torneios. justas, danas e co-
mdias. Buont alenti estava familiarizado co m
todos os mecanismos tcni cos; ele foi o pri-
meiro a providenciar efeitos decorativos para
o palco, tai s co mo os que o teatro barroco efe-
tivamente adorou em larga escala. No se sabe
como Buontalc nti planejo u as transformaes
cnicas, Supe-s e, tod avia, que tenha empre-
gado os pri smas giratrios de madeira, desen -
vol vidos por Sa ngall o, Barbaro, Vignol a e
Danti - os quais, no incio do sculo XVII,
foram substitudos por um sistema de rotundas
planas e deslizantes.
No decorrer de um sculo, o teatro renas-
centista viveu uma repetio em c me ra r.ipi-
da do teatro romano. Qu anto mais suntuoso o
palc o se tornava e quanto mais ate no era
di spensada a se us aspec tos visuai s, mais des-
valorizado ficava o co ntedo literri o. Poi s
agor a. antes e aci ma de tudo, o pri ncipal man -
damento para os atorcs era subordinar seu mo-
vimento e co mposio ao clculo tico do ce -
nr io. As sim c o mo a monumenta lid ade
arquitetnica das lt imas scaenaefrons roma-
nas no havia deixado espao para um drama
de qua lidade semelhante, as decoraes cada
vez mais elabo radas do fim da Renascena re-
legaram de fato a pa lavra a uma funo se-
cund ria.
291
o palco, com seus bastidores em ngulos
ou pri smas rotativos de madei ra, era, na me-
lhor das hipteses, aproveit vel para a atua-
o somente at a altura da segunda rua trans-
versal e raramente para entradas na altura do
prospecto pintado. Os at or es deviam ficar lon-
ge desta rea, porque o tamanho natural de seu
corpo chocava-se com a iluso de perspectiva
e destrua a perfeio do ce nrio, concebida
pela matemtica de prin cpios estticos . A re-
gra suprema da pintura renascenti sta, segundo
a qual o olho no de veri a se r ofendido por
sobreposies discordant es, aplicava-se tam-
bm ao arranjo das pessoa s no palco.
O tipo de pea encenada e o conseqente
tipo de decor ao tambm determinavam a
escolha da indurnent ria. Qu ando o Teat ro
Olmpico de Vicenza foi ina ugurado em 1584
com a encen ao do di po por Angelo ln -
gegneri, este escreveu:
preciso considerar em que pab "Cpassa a a o da
pea a ser encenada. e os ato rc... estar vestido...
modo desse povo. E se a pea for uma tragdia . os trajes
de vem ser ricos e sunt uos oc: :'>C for uma co mdi a. co-
muns. porm elegante s: se. finalm ent e. for uma pastor al.
humi ldes. mas de bom corte c graciosos, o que vale !<IlHO
quant o a ostcma o. No lt imo C3"' O. se (ornou con -
tante a prtica de vestir as mu lheres :, maneira de ninfa<.
mesmo se forem simples pastoras
Ingegneri empreendeu esta produo com
membr os da Academia, ant es de tudo como um
exerc cio cor eogrfico. "Foi uma maravilha
como todos dominaram suas posies e movi-
mentos e o quo acurad amente se colocaram".
relatou ele. O piso do palco havia sido disposto
em quadrados, como um tabuleiro de xadrez, e
cada qual sahia em quantos quudrad. deveria ir c vir. c
depo is de quantos quadrados deveria parar. E quando o
nmero de cm cen a aumentava e tornava-se 1Il.' -
ccss rio trocar de po-, h los mosrrava m estar bem
instrudos COHl rcl ao a qu al fileira 011 a qua l cor de tina
dra do Se recolher : avvim, todos aprendiam se m
di ficuldade a fazer SUa pane,
Cem anos haviam se passado desde as
primeiras aprcsc ntaes oferecidas pela Aca-
demia Pomponiun a em Roma, desde sua pro-
duo do Hipolito, em 14R6. A inaugurao
do Teatro Olmpico de Vicen za foi o 11m de
um processo que co mea ra COJll O uma ilustra-
o de textos, a transposio de temas cl sxi-
292
cos, expr essos apenas em pa lavras, para sua
representao corpor al e palpvel. Tomrnas.,
Inghi rami . como ator em Fcdra, sobressaiu por
sua macstri a no latim . Um sculo mai s tarde
no era mai s a palavra que predominava, ruas
a organizao cnica. O qu e importava a An-
gelo Ingegneri era a perfeio do agrupamen.
to esttico.
Os F ESTI VAI S DA C ORTE
Maqu iavel conside rava ma is va ntajo so
para um prncipe ser temido do qu e amad o.
Contudo. uma de suas recomendaes em O
Prn cipe era de que este , "nas estaes conve-
nientes do ano, deve mant er o povo ocupado
com festivai s e mostra s", uma prti ca que foi
abundante no tempo da Renascena.
Os prnc ipes jogavam o jogo do poder com
igual per cia tanto dentro do espl endor da corte
quanto nas teias da conspirao. Quando o amo
bici oso Ludovico Sforza , "o Mouro" , organi zou
uma enorme apresenta o aleg rica na corte de
Mil o em l4'Xl, seu objetivo era obter os favo-
res da j ovem Isabella de Ara go, a recm-che-
ga da noi va de seu so brinho Gian Galea zzo
Sforza. A celebrao do casamento oferecia a
melhor oportunidade para adular a "duquesa
boneca" . Pouco tempo depois. Lud ovico des-
posou Beatri z d'Este, outr a ocasio a ser cele-
brada com grande pompa e ostentao. Os poe-
tas da cort e torneavam em incessant e produo
hiprboles panegricas em rima elegante.
() prpri o Ludovico planej ou uma grano
de II/asque alegrica que culminava numa ho-
menagem a Isabell a. Ela foi escrita pel o poe-
ta da co rte florentina Bernardo Bell incioni e
or ganizada por Leona rdo da Vinci, que nessa
poca trabalhava na cort e de Mil o co mo en-
ge nheiro militar. inventor, co nstr utor de ca-
nais, pint or e organizado r de festivais. Leo-
nardo desenh ou um sistema planet rio mvel ,
trajes pitorescos para deuses e deusas, msca-
ras represent ando selvagens e fant sticos ani -
mais de fhula. Os versos de 8 el1 inc ioni mer -
gulhava m em elogios arrebatadores: Apolo d.i
as boa s-vindas a Isabella co mo o novo sol en-
tre os pl anet as, os gove rna ntes do cu e da
terra mandam mensagens em sua honra, e at
mesmo Vnus curva-se ant e () esplendo r da
nova duque sa. Apol o oferec e as sete virtudes
a lsabella, e, em concl uso, entrega-lhe um
livro contendo o text o co mpleto de Bellincio-
ni, Festa dei Paradiso. Com esta apresenta-
o, Ludovi co o Mouro reforou sua posio.
Os engenhosos mecani smos de Leonardo,
exibidos no cintil ante festival de Milo, asse-
guraram-lhe um lugar na hist ria da decora-
o cnica. Bellincioni gabou- se por muito
tempo de sua col aborao com Leonard o nes -
ta ocasio festiva: na posterior edi o impres-
sa de sua Rima, introduziu a Festa del Paradi so
com a seguint e explicao:
A seguinte obra de Messer Bernardo Bellincion i
uma pea-festi val o u unte s um csper c ulo ( rappre-
sentaZ;one ). intitulado Purudiso, que o senhor Ludovico
mand ou or gani zar cm honra da duquesa de Mil o.
Intitula -se Paradiso por que. pel o grande dom de inven-
o c pela arte do mestre Leonardo da Vinci de Florena,
construiu-se o Paraso com todos os sete planetas giran-
do num crcul o. os planetas sendo represent ados segun-
do as personagens c vesrimentas de scritas pelos poet as.
"O Paraso qu e gira num c rculo" o fa-
moso primeiro exemplo de um palco girat-
rio, do qual , alm da descri o de Bel1incioni ,
possumos tambm al guns esboos de Leo-
nardo. Estes nos do algumas indicaes de
co mo o mecani smo deve ter funcionado . O
engenhei ro itali ano Roberto Gualelli o recon s-
truiu para uma mostra sobre Leonard o cm Los
Angeles, em 1952. George.J. Altman. por cuja
incitao est e mod elo foi exe cut ado, cita a de-
clarao de uma testemunha ocular de como o
ori ginal funcion ava: "O semic rculo era di vi-
dido ao mei o. Os doi s quartos de crculo roda -
vam par.! a frent e e voltava m a fechar-se, e o
palco era subit amente tran sformado em cume
esc arpado de montanha" . Leonardo utili zou
seu palco gi ratrio por uma segunda vez em
1518, no Chtea u Cloux pert o de Amboise.
onde organi zou outra apresent ao de Paradiso
para o casamento de uma da s sobrinhas do rei
Francisco I e do duque de Urhino. Galcazzo
22. Leonardo da Vinci : desenho de um palco girat-
rio para a Festa dei Paradi so no Pao til: Mi lo. janeiro
de 14lJO, Embaixo, v -se J piter se ntado no trono, rodou -
do pelos sete planeta s: o cenrio uma espci e de grut a.
que pode ser fech ada por segmentos circulares m veis.
Visconti rel ata que a apresentao foi organi-
za da da me sma maneira que a do Ca stello
Sforzesco.
Seri a, porm, subestimar as foras moti-
vadoras dos grandes festi vai s da Renascena
inte rpret-las meramente como uma ex presso
do prazcr das cort es em representar. Por trs
da dispendiosa propaganda pessoal escondia-
se a reivindicao de poder poltico. a expres-
so de medidas ttic as e razes de Est ado . Isto
pod e ser levado muito alm, no exemplo de
Lud ovi co Sforza. Nas festividades promocio-
nais em P via, em 1492, por exemplo, logrou
neut rali zar elegant emente o se ntimen to hostil
da famlia de Beatriz co ntra el e. Nessa oca-
sio, havia encarregado Bcllinci oni de esc re-
ver uma co mpos io proclamand o Bea triz o
" novo sol" e as cortes de Ferrara e M ntua, os
campos elseos da arte e da erudio. O poe-
ma tambm fest ej ava, em elegias loquazes, o
duque Ercole d' Este de Ferrara e sua segunda
filha Isabella, duquesa de Mntua. que estava
tambm present e. Int en es similares podem
se r det ectadas IIOS inumerveis co rtejos ale-
g ricos e proci sses. por mei o dos quais du-
293
, ~
I ; ,
23. Francc vco dei Ce ssa: Carruage m festiva do Trumfo (Ii Apollo. Mur:11 pi ntado cm 1470, representando o ms de
Maio. no Salon e dei Mcsi do Palazzo Schi tanoia. Fer rara.
2.... Ber na rdo Buontalcnu: figuri nos p.U:I os inte rmrdii do grande festival de teatro do s
Medi ei . organizado e m 1589 no salo de tea tro da Uffi zi , Fl or ena (Londres. Victoria and
Albert Mu sc nm L
25. Cen a de torn eio. assistida pd o rei e sua corte. Decorao cm uma arca . c. I..tXO.
Atr ihufd a a Domen ico Moronc (Lon dr es. Na nona l Gall cry).
ques e reis, usurpadores e governantes paga-
vam-se tributos, buscando persuadir ou tapear
uns aos outros.
Como forma especfica desses festivais da
corte, a idia da triunfal procisso romana foi
revivida e transformada no esplendor reluzen-
te dos trionfi da Renascena. Enquanto o tea-
tro processional do final da Idade Mdia em
geral satisfazia-se com o princpio nico da
seqncia, ou seja, com uma nica passagem
pelos espectadores enfileirados ao lado de ruas
e praas, o novo empenho era "apreciar a pro-
cisso no apenas em suas sees separadas,
individuais, como o faro os espectadores
posicionados na periferia, mas antes em sua
totalidade: de cima e, se possvel, at mesmo
no eixo da procisso" (Joseph Gregor).
Os trios dos palcios, com seus arcos e
galerias, as praas das cidades com suas arca-
das e balces, ofereciam uma oportunidade
para que convidados de honra assistissem aos
trionfi literalmente colocados no alto, em cima
- enquanto o cortejo passava num curso circu-
lar. Em Florena, a Piazza Santa Croce, com
seus balces e tribunas de honra especialmen-
te construdas, e o ptio do Palazzo Pitti eram
locais favoritos para os famosos festivais dos
Mediei, nos quais Buontalenti fez valer toda a
riqueza de sua fantasia alegrica. Desenhou
trajes para os planetas, para as virtudes, para
ninfas e deuses: delfins com rodas e trites flu-
tuantes - at mesmo barcos de gala, usados
quando os trios ou praas eram inundados,
para intensificar o efeito. Idealizou tambm tra-
jes para gnios alados, drages que cuspiam
fogo e querubins danarinos que mergulhavam
em cornucpias douradas para espalhar flores
perfumadas entre os membros da sociedade da
corte.
O povo maravilhava-se com a pompa tea-
tral de seus governantes, ou a pressentia, na
medida em que conseguia captar algum vis-
lumbre dela. No raro, a aparentemente des-
preocupada magnificncia representava o l-
timo e eufrico lampejo de um poder h muito
debilitado.
Quando Henrique III da Frana celebrou
em 1581 as npcias do duque de Joyeuse com
pretensiosa pompa teatral, toda a sua corte, po-
liticamente em extremo perigo como estava,
foi mergulhada num frenesi festivo. O progra-
296
H st r o MIII/diul do Tc ot ro
ma comeou, no estilo italiano, com trionfi mi-
tolgicos e alegricos, ou antes C0I11 seus cor-
respondentes franceses, as cntrces solcnellcs,
e culminou com o internacionalmente famoso
Ballet Comique de la Rovne, uma combina-
o de nmeros de dana, recitaes, rias e
pantomimas em homenagem rainha.
O grande salo Bourbon do Louvre, em
Paris, resplandecia em ouro e fulgia com can-
delabros, enquanto Versailles, na poca, ainda
era apenas um vilarejo nos campos e havia sido
contemplada com um nico pavilho de caa
por Henrique IV. Quo extraordinrio deve ter
sido o efeito do cenrio com um jardim em
perspectiva como locao para os entreteni-
mentos que o rei pedira a seus colaboradores
mais prximos para projetar: seu chamberlain
Balthasar Beaujoyeulx encarregou-se da en-
cenao, seu conselheiro dAubign da admi-
nistrao e o poeta da corte de la Chesnaye
providenciou o texto.
O Ballet Comique de la RO\'l1e. expresso
de uma monarquia enganosamente confiante
em si, marcou o declnio de uma dinastia qual
o pas arruinado e dividido perdoou tanto me-
nos essa dispendiosa [ata niorguna teatral. O
duque de Joyeuse foi derrotado em 1587 e. em
1588. Henrique III no conseguiu reprimir as
barricadas em Paris, nem suprimir os tumul-
tos. Teve que fugir e morreu em 1589 retalha-
do pela faca envenenada de um dominicano.
Mas o novo gnero teatral-danante sobrevi-
veu, e oitenta anos mais tarde floresceu de novo
na corte. graas a Molicre e Luly e sua come-
dic-ballet.
A arte do festival alegrico sobreviveu a
catstrofes e dinastias. Foi cultivada. de norte
a sul dos Alpes e de ambos os lados dos Pire-
neus. Quando, em 1581, o rei Filipe II uniu as
coroas de Portugal e Espanha. os padres do
Colgio Jesuta de Santo Antnio, em Lisboa,
o receberam com a Tragicomedia dei Descubi-
micnte Y Conquista dei Oriente. encenada
numa armao de trs andares ao ar livre, se-
melhante ao da Antiguidade. Joo Sardinha
Mimoso o descreveu em sua obra Relacion
(1620) como um palco guarnecido de damas-
co colorido e ricamente adornado com "pi-
lastras. cornijas e arquitraves". direita e il
esquerda foram construdos portais de acesso
aos bastidores. semelhana das entradas do
2. l-csrn teatral aqutica (Naumachia t IlO parque do castelo de Fontaincblcau: gUl"I"l"ciros, bordo de barcos ornamen-
tados. assaltam uma ilha: cm primeiro plano, ii direita. o rei Henrique III c sua e S p \ l ~ a . Tapearia mural do sculo XVI
(Florcnu. Uffizir.
Atrae s festi vas par:l a celebrao do cuxamento Jo prncipe herdeiro Wilhclm da Bavi er a e de Renata de Lorena, cm
Munique. 15(1R. Gravu ras col ori das de Nico ln-, Solis.
27, Tornei o de cavaleiros no grande salo da Rcsidcn z em Munique .
.'
28, Kibrlstrrlren (justa) na l\1aricllpb ll.. O eixo h-... ll' - OCQ C da pr ua cs(; a... viua ludo pur doi s ;.][(: 0 ... til' triunfo (Muni -
que, Stadtmuxcum ).
A Rt'lI l l. \( f' n a
palc o da s paraskcnia gregas. Nesta pr oduo.
o rei portugus Emanuel e seu squito entra -
vam no pal co pel a di reit a. c scus oponentes
mouros. pela es querda. Dois nichos no pavi -
ment o superior representavam a casa de Eol o,
deus do s vent os. c a boca do inferno; bem aci-
ma. ficava o tron o do s anjos. Aqui. vestgios
dos mltiplos cen rios do final da Idade M-
di a combinavam-se com as caracte r stic as
arquiteturai s da s anti gas scaenac frons num
estilo altament e original de homenagem cor-
tes. antecipando as futura s formas do teatro
j esutico.
Alegorias cc mc as e arr anj os si milares
eram comuns nos festivais ulicos da Renascena
inglesa. os interhdios. Com as mascar adas da
cort e, populares entretenimen tos de me sa,
constituam uma variante aut noma da idia
antiga do tri onfo, Um dos interldi os de maior
sucesso de John Heywood, Pia)" ofth e !Veatller
(Auto do Tempo), foi encenado em 1533 para
a corte real num palco de dois anda res. com
Jpit er no 10p O, ouv indo as quei xas proferidas
contra o di spen sador dos ventos Eo lo, c o da s
chuvas. Foibe . Os mercadores do mar pe de m
ventos favor veis. exata rn ent e como os na ve-
gado res de Vasco da Gama na Tragicomcdia
portuguesa. No ano deci sivo de 15i111. Eol o
estava do lad o da Ingl aterra quando fez com
que os re ma nesce ntes da denotada Inven c vel
Armada espanhol a afundassem nas tempesta-
des do golfo de Bi scaia. Enqu anto os poetas
corteses de naes navegantes pr eferiam ex -
trai r seus temas e al egorias do reino de Netuno
e Saturno , se us companheiros sem acesso ao
mar preferi am a imagem das videiras e da ca a.
Di ana dava se u nome a muitos dos es pe tac u-
los de corte; um do s primei ros a ela devot ad os
foi esc r ito pel o humani st a ale m o Konrad
Ccltis.
Esse alemo oriundo das margen s do Main
levou sua pl at i a de volta no tempo e para a
Itli a, a origem do triunfo e do panegi rico da
co rte. Ele comeara a interessar-se pelo teatro
em Roma e Ferrara c, em mar o de 150I le-
vou it cena o primeiro exempl o fam oso de um
paneg rico-trioll /(' ao nort e dos Alpes. Junta-
ment e co m seus amigos da acad emi a humani s-
ta viene nse Sodalil as Littcrar ia Danu bi an a, or-
ga n izou um a uprc se nt a o de s ua Lu d us
[) ;{I/ /{ I<' e m cinco aros. no castelo de Li nz, no
Danbi o, cm honra de Maximiliano I. O im-
per ador havia instalado sua co rte em Linz para
as semanas de Carna val. e rodeara-se dos leais
hum ani stas vienense s. to dedi cados a ele ,
O que pod eri a se r mai s adequado e m tal
ocas io do qu e homenagear a Sua Majestade
co m deuses, ni nfas. faunos, sti ras antigo s,
com verbosos pan egricos a pintar a glria do
imp rio , coroados co m o louvor do vinh o do
Da nbio - que era despejado em "taas e tige-
las de ouro" ao estmulo de um Sileno bbado
e ao som de tambores e trompas?
No final , Dian a tomava a palavra. Prome-
tia ao casal imperi al todas as boas graa s dos
deu ses, desej ava a Maximiliano e sua es pos a
itali ana Bianca Sforza muit os filhos espludi-
dos, reunia todos os pa rtic ipantes em torn o de
si e declarava, num lti mo qu adro vivo com
acompanhame nto musical. qu e agora retor-
nari a aos bosques de Wachau. No dia seguin-
te, como informa a edio impressa da pea
(ma io do mesmo ano), a "divino Maximiliano
ofereceu um banquet e real a todos os partici-
pantcs [que per fazi am um tot al de vinte e qu a-
tro] e os presenteou co m ddi vas reais" .
Konr ad Ce lte s c os humani stas de Viena
agradeceram- lhe co m um sem- n mero de j o-
gos similares de homen agem quc variavam de
urna ode poli fn ica ao texto lat ino da Ma rcha
Tr iunfal de Maximil ian o - engenhosamente
idealizado; co nstru es bomb st icas de pa-
lavr as. que hoj e j azem enterradas em bibli o-
tecas e arquivos. De h muito esqueceu-se
qu e o abade Ben edi ctu s Chclidoniu s (que cos-
tumava organ izar apre se nta es de Ce ltes na
escola latina de Vie na , cha mada Sc ho uc n-
gymnasium) exaltou Ma ximilianus triuntpha -
tor em verso s eruditos . No for am esquec idas.
porm, as ob ras de art e que o inspiraram: a
magn fi ca xilo gra vura de Albrecht Dre r,
" Ehrcnpfon e des Kaisers Ma ximilian" ("Por-
ta de Honra do Imper ad or Ma ximiliano") de
1515, e seus esboo s de 1522 do "Tr iumph-
wagen" ("Carro Tri unfal" ) - uma glor ificao
pstuma de Maximil iano, o "ltimo dos cava-
leiros", que falecera e m 1519.
O Barroco. co m sua incan svel riqueza
c nica e decor ati va, pagari a o mais suntuoso e
ltimo tribut o ao Sacro Impr io Romano. nas
LI/di Cacsarei ence nadas nas cortes de Praga
e Viena.
!Y9
o DRAMA ESCOLAR
o estudante de filosofia e teol ogi a Chr is-
toph Stummel, de Frankfurt sobre o Oder, mal
contava vinte anos qu ando chegou a uma ines -
perada fama dramtica. Em 1545 , foi celebra-
do em Wittenbcrg como autor de uma pea que
"agradou grandement e" aos doutos erudit os .
Era chamada Studentcs, sem d vid a inspirada
na comdia do mesmo ttulo de Ari osto, e tra -
tava -se de uma descrio alegre e sem rodei os
da vida estud antil da poea e de todos os pra-
zeres e peri gos que espreitavam o j ovem estu -
dant e, entre a severa Filosofi a e a convidativa
filia hospitalis. Ao final de cada ato, o coro
profere bons conselhos, sem dvida bem a pro-
psito, aps as bebedeir as, br igas barulhentas
e aventuras noturn as precedentes. Finalmen-
te, os pais dos jo vens irrompem em cena al ar-
mados e decidem resg atar os respecti vos filhos,
com um "mergulho" na bo lsa de di nheiro e
um forad o "s im" ao matrimni o.
Stumrnel - que havia es tuda do a tcni ca
dranuitica com seu mestre. o comentador de
Terncio Jodocus Willi ch - pos sua quer o dom
para a observao astut a. qu er bom senso sufi-
ciente para percebe r qu e o xi to nos palc os
esco lares requeria prova de aplicao moral
profund a.
Studcntes de Stummel foi apresentad a
duas vezes em Wiu enb er g. Entre os convida -
dos de honr a estava Mel unclu on, que lhe con -
fer iu o atributo de "el egantssima " . elogio qu e
se referi a tant o aos di l ogos latin os ao estil o
de Terncio e Plauto. como ;1erudio que o
autor demonstrava. Isto, na verdade, se evide n-
ci ava j na lista de dtani atis pcrsonae. Um dos
estuda ntes tinha o nome de Acolostus. o dis-
soluto - uma rever ncia au dramaturgo pro-
testante holands Gnapheus. que em 1528 ha-
via escrito. no gnero para escola. uma pea
so bre o filh o pr di go, chamada Acolastus,
Eubulos, o bom co nse lhe iro. mostra va qu e
Stummel est ava familiarizado com os escritu-
res greg os de comdias. Eleuthcria, a sem pre-
conceitos, testemunhava seu co nhecimento da
mit ol ogia anti ga.
Os histori adores do teat ro no concordam
quanto ao tipo de pal co usado nessas cucenn-
es. Alguns , como F R. Laclun.m, visualizam
uma cena feita de diver sos conj untos de co ru-
300
H s u rriu tu n d a (lo T Ct1t r o
nas; outros, um cenrio neut ro e simples , do
tip o "ca bine de banho" . A contra po nts tic a
troca de local entre uni ver sidad e e ci da de na-
tal dos es tuda ntes, tudo num ni co ce n rio,
ainda influenciada pelo princpi o da suc es-
so da moralidade do Medievo tardio. Tr au-
s ies desse tipo era m freq entes no dr ama
escolar. e ainda for am usad as. por e xemplo.
na pea l.aurentius , representada e m Col -
nia,em 1581.
No obstante todas as tentativas de vivi-
fica o c nic a. o palco escolar era um pdi o
para a a rte da declamao. Professores, mes-
tres e reitores atuavam como auto res , adap-
tadores ou tradutores de pea s. Seus nomes so
uma legio, do alsaciano Jakob Wimpheling e
sua co m dia Sylpho ( 1494) , a Johann Rcuchlin
c sua H el11/{}, ence nada em 1497 por es tuda n-
tes e m Heidelberg, e da Tragedia de Thurcis ct
Suldano, de Jakob Locher, a Philipp N. Fris-
chli n. A este ltimo a comdia escolar latina
prot estante deve o fat o de qu e " no morreu de
fraqueza e td io. ma s foi absor vid a na s novas
formas de art e dramti ca, rep resentadas, de um
lado, pelo al uno de Frischlin, Heinrich Julius
von Br aunschwei g e Ayrer , e, de outro. pel o
drama jesuta" (G. Roethe).
Philipp Melancht on, o Praeccpt or Genna-
nia e e grande reformador do sistema educacio-
nal e es colar, empree ndeu intensos esforos
para reviver o drama da Antigidade. Em sua
academia parti cul ar. em 1525, foram en cena -
das Hccuba de Eur ipedex. Ties tcs de Sneca.
Miles Glorios us de Plauto e muitas da s com -
dias de Terncio, tod as com prlogos do pr-
prio l'vI elanchton.
Martinho Lut em admitiu qu e o teatro po-
deria exercer urna influnci a benfica , como
test emunha a se guinte pas sagem de se u
Tisch rcdcn:
Com di as encenada s no deveriam se r proi bida ,
ma-; cm convideru o aos rapa zes da escola, permit ida ..
c tolerndas. Em pri meiro porque boa prt ica. p;lra
e les. da l.uina: cm sec undo lugar. porque nas (;'0-
mdi as h.i pS KI S criadav, des crita s c rep resent ada ... ctuu
"1"11..", de modo a inst ruir o PO\"\l e recordar il cada 11111 ' lia
vit uao t.: o fcio. lembrando II que- adequad o para UIIl
servo . um mest re. um j ovem ou 1lI1l ve lho. c o YUL' e le
dt' \ c fn zcr. Na \ ctcladc . to rna m c laro l' e vid e nte cor no
num c_'pL'lho a posi,";10, o.. .u pao e o "" de I(ldo""
l h di gni tr ins c ,,'01110 ca da qunl se deve comportar c .. .on-
d u/.ir sua vida pb lica c ru "lia PO:-i\- ' <111 ... 1l1...i;t1 .
:\ Rcn a sc cn a
A Ref orma no apenas acrescentou pro -
fundidade ao co ntedo do teat ro escolar, ma s
tambm lhe deu uma nor a co mba tiva. Porm .
tomando partido nas controvrsi as reli gio sas.
entrou em conflito com a inteno pedaggi-
ca . Quando Agr cola. em 1537, comps uma
r spida acusa o em sua Tragdia de Johunnis
HII.I"S, Lut ero o ce nsurou por se r tendencioso
demais. Isto, afirmou Lutero, no era hom para
a pea escolar.
Da Sua, tambm, vieram violentos ata-
ques contra Roma. Em 153 9 Jakob Ruoff,
talhadeira e cirurgi o de Zurique, escreve u
Weillgllrlellspiel. uma pea qu e acu sava os
taberneiros pelo as sassinato do Filho de Deu s
e os apr esentava como papi sta s.
Thomas Naogeo rgus, e m sua Pa/1/lII a-
chius ( 1538), aproveitou o tema do Ant icristo
e e laborou uma co mplexa construo intelec-
tual cobrindo um milnio de hi stria da Igr e-
j a. A pea deve o se u ttulo figura do bi spo
Pammachius, um co nte mporneo do impera-
dor romano Juli ano. o Ap st at a. Numa cena
gro tesca no inferno, el e recebe a tiara de Sat .
O ruidoso festim onde o papa Anticrist o
Pammachius e Sat an s ce lebra m sua vitria
int errompido pel as not cias de qu e Lutero
pr ega va suas Te ses no portal da igr eja em
Wittenberg . No eplogo. anuncia-se que a ba-
talha do Anticrist o contra Lutero ainda vio-
lenta, e que seu resultado no seria decidido
at o Dia do Ju zo.
Naogeorgus dedi cou seu drama ao " ma ior
prn cipe antipapista da igreja da Inglat erra", o
ar cebispo Thomas Cranmer de Cant crbury,
Cranmer estabe lec era conratos pessoai s com
os partidri os da Reforma durante uma vi a-
ge m Alemanha e desposara uma sobrinha do
pr egador evanglico de Nurcmberg, Osiander.
Presume-se que Pammachius foi representada
na casa do arcebi spo, e m Canterbury, Mas sua
primeira encena o document ada ocorreu em
maro de 1545 , no Christs College da Univer-
sidade de Cambridge.
Cranmer cuidou tambm ele lixar o dra-
ma escol ar prot est ante na Ingl at erra. Enco-
raj ou John Bal e. um dramaturgo ingl s in-
fluenci ado por Naogcorgus, e aj udou a levar
seu drama hist rico-al eg rico King John em
palcos uni versit rios . Naogc orgu s desde ()
inci o havia e nca mi nhado sua pol mi ca di re-
tamente pel o co nfro nto com o Anticri st o.
mas Bale seg uiu por um ca minho indiret o,
com fi guras alegricas a assumi r as per sona-
ge ns reai s. de modo qu e o Poder Usurpado
veio a ser o Pap a.
Enquanto as controvrsia s reli giosas se
tornavam mai s e mai s vee me ntes. a rainha
fr an cesa Margarida de Nav arra tent ou trans-
por os co nfl itos com o seu Miroir de [',\1/11'
Pchcressc (1531). Mas seu escrito foi quei-
mado co mo "protestante" em 1533 pela Fa-
Catlica da Un iversidade de Pari s.
Como Cal vino esc reve u em outubro de 1533
aos seus amigos em Orl ean s, os professores e
alunos da Faculdade Catlica de Navarra sen-
ti ram- se ultraj ados com a atitude pr-protes-
tant e da rainha. As tent ati vas de med iao de
part e dessa int eli gent e. sensve l e c ultss ima
humani sta , cuj as pe as reli gi osas aleg ricas
testemunham profunda devoo, for am irre-
mediavelmente afogadas numa onda de d io
mtuo. Os ant agoni stas reli gi osos invocavam
o direito de expresso livr e e individual de
opinio tal como entendido na democraci a
anti ga, mas esqueciam o segundo e crucial
ingrediente: a tolerncia.
Ao mesmo tempo os princi pai s reprcsen-
tantes do drama escolar esta vam assim empe-
nhados num agressivo cruzar de es padas; para
consumo interno seu s praticantes recolhiam-
se a um terreno co nfess iona l mai s neut ro.
Como qu e num aco rdo secreto. c no ra ramen-
te mesmo e m rela o diret a. materi al do Velho
Testamento emergia como temas favoritos por
toda a Europa, com Su sana. Jac e Tobias
frente.
Si xt Birck de Augsburg produziu. em
1532. primei ramente uma ve rso alem, e
cinco anos mais tard e uma verso latina, de
S IlSaI/IW. Em Estrasburgo, em 1535 . por oca-
s io da inaugurao do novo Gvninasium (es-
co la secu ndr ia), constitudo de trs es co las
latinas, Johannes Sturm es colheu o tema de
L zaro para sua pe a. Na pequena cidade
universit ria de Steyr sobre o Enn s. na us-
tri a, o dramaturgo evang l ico e reali zad or
Tobia s Brunncr en cenou um Jakob e um
Tobias . Em Praga. Mathias Collin, um di sc-
pulo de Melanchton e professor de filologia
clssica. ganho u os favor es do rei co m 51/-
Sa l/ I III. t\ pr imeira apresent ao. fe ita e m
.101
29. Xilogravura para a Tragediu de Thurcis et Sitie/ano, de Jacob Locher, rcprcsentan-
do a cena dos sultes: "Consult atio baiazeti et suldani " . 0 0 Libri Philomus, Estrasburgo ,
1497.
30. Desenho de cenrio para o auto de Laurcntius. de Stephan Hroclm an. Colnia. J5RI. A pea foi apresent ada no ptio do
Laurentianvr Bursc: li palco co n... uu fdo ao fedor de du as :h \ orl.:"(Col nia, Srnduu useunu .
A Rrn as ccnn
1543 no Collcgium Recek, teve de ser repet i-
da. con forme o desejo expresso de Ferdinando
1, no cas telo. em presena de toda a co rte : a
rainha Ana e os dois prncipes. Maximiliano c
Ferdinando, enco ntravam-se no camarote real.
prximo do rei .
Na Hun gria. na escola cl ssica de Ba rt-
field, Lconhard St cke l levou uma Historia de
Susana como "u m exerccio pblico de orat-
ria e de co mporta me nto moral " para a j uvcn-
tude.
Outra SI/sana apa rece u na Dinamar ca,
escrit a e encenada por Peder Jansen Hcgel und
e basead a na obra de Sixt Birck. A pea co nta-
va com um interl dio chamado Calumnia, no
qual a virgiliana figura simblica da calnia
de muit as lngu as. Fama Mala. surge no palc o
num figurino pit or escamente cos tur ado com
lnguas de pa no.
A escolha de um tema do Velh o Tes ta-
mento ou da Antigidade colocava prof es so-
res e alunos a sa lvo, do campo esco rregadi o
da co ntrov rsia co nfessional e pol tica. Quem
ousass e apartar-se tinha de pagar caro por sua
agressividade. O va lente su bio Phi lipp Ni-
kodcmu s Fri schl in - que havia recebi do a co-
roa de poeta do imperador Ferdinando em
1576 e favor ecera o teatro escol ar co mo rei-
tor das escolas latinas de Leihach (Lj ubljanu)
e Braunschwei g, - foi longe demai s em sua
obra principal . Jul ius Redivivus . Nessa pea,
combinava o louvor s reali zaes tcn icas
alems com a culpa por suas fraquezas nacio-
nai s. Frischlin morreu em 1590, pr isi oneiro
no castelo de Hoh enurach. por " insultos co n-
tnu os s aut ori dades".
Na Su ci a, no perodo de 1611-1614. o
viaja do jurist a Joh ann es Messeniu s, professor
na Uni ver sidade de Uppsala, procurou des per-
lar o interesse hi st rico de seus alunos co m
apresent aes de episdios histri cos em di-
logo. Mas seu s proj et es teatrai s levant aram sus -
peit as; ele foi acus ado de conspirao com os
polones es e levado a jul gamento. As sim. as
ramifica es do teat ro escolar, cuja orige m cstri
na inofensi va decl amao latina. per der am-se
em pol mi cas reli gi osas e, finalment e. termi-
naram no fogo cruza do da polti ca.
O dr am a escolar foi represent ado em p -
tios de colg ios, em salas de aula. audi trios
de conferncia em univer sidad es, prefeitur as.
sedes de grmi os. salas de dan a ou em pra-
a s pb licas. qu and o o tamanho da audincia
assi m exigia . Em Eger, o cant or Betulius pe-
diu permi sso ao consel ho da cidade, em 1 5 . ~ : ) ,
para encenar sua co mdia De Virtutr ct Hllul' -
lat e no mercado, depoi s de ter sido apresenta-
da "vrias vezes antes. na escola e no Deuts-
cher HoJ, e. domingo retrasado. tamb m na
prefeitura".
O palco simples. de um ni co cenrio, er-
guido sobre vigas cruzadas ou sobre barri s, no
necessitava de nenhum equipame nto especi al.
Um recurso popular e t il para segu ir a a o,
com seu elenco frequ ent ement e numeroso e
co m suas compl ica es. era a prtica de es-
creve r os nomes das personagens no alto de
suas "casas" , em let ras claras e leg veis. Quem
so as per sonagens que es to falando? De onde
v m? Para onde vo" Essas eram perguntas
para as quais o pblico lei go, que no sabia
lat im, prec isava de algumas indicaes. Havia
muitos prec edentes di sponvei s nas numero-
sas edies de Terncio. cujas ilustraes em
xi logravura apadrinhar am . da mesma ma nei -
ra, o palco "cabine de banh o" . Se algum aces-
srio de palc o fosse ne cessrio . os carpintei-
ros locai s aj udavam.
O teatro esco lar buscava exe rcer seu e-
feit o mai s pel a pal avra do que pela imagem
visual. (O drama barroco encenado pelas or -
den s religiosas uti lizou o ca minh o oposto.)
Er a pela declamao alta e aud vel em latim -
mais tarde. na lngua na cional - que os peda-
gogos demonst ravam suas int en es did.iti-
cus aos pai s e autor idades pbli ca s. A ate n o
do pbli co era chamada para o fat o de que " 0
que no represent ado na realida de est des-
cr ito nos ver sos". co mo Tobias Brun ner indi-
co u no prl ogo de s ua pe a Jakob ( 156(,).
Apesar do despr endimento, o mestre-escola
de Steye parece te r condesc end ido com o
luxo de um palco co rt inado. Ele fala de uma
"c or tina". necess ri a em pa rte para ocultar a
ce na e, em part e. a fim de "puxar para a fre n-
te" no curso da pea.
O Mcistcrsiugrr e dramaturgo alsaciano
J rg Wickram sem d vida enceno u seu Tobias
de uma maneira similar. quando foi represen-
tado por "cidados res peit vei s" em 1551. na
praa do mercado de Kolmar. c o mesmo sc
aplica ii apre sc nta o de 1573 de Spicl ""11 der
.111.1
l is t r ia M UI/ di a / do Te a t ro.
3 1. Duas cenas do Spiel vou der Kiuderzuchr, de Johann Rasscr. Xilogravur as de umaedio impressa cm Ensisheim
1514.
idi as da Re forma, como por exemplo, e m
1539, na assemblia Redcrijker em Gand,
quando o motto esco lhido par a o dramtico
Spccl " {II/ Sim/ e foi: "O que d mais conso lo a
um homem que est morrendo?"
Quando os "Violetas" de Anturpia esta-
vam preparando seu grande landj uwc cl em
156 1, dei xar am a escolha final do assunto para
a regente Margarida da ustria, duqu esa de
Parma. Dos vinte e quatro ttul os a ela propos-
tos, Margarida considerou trs: A sabedo ria
ma is es t imulada pela experi nc ia o u pelo
aprendizado ? Por que um avarento rico deseja
mai s riquez as? O que pode melh or despertar
um homem para as artes liberai s? Os "Viole-
tas" finalmente optaram pela ltima qu esto,
um tema qu e oferecia maior liberdade de ao
sua tradi ci onal preferncia pelas alegori as na
retr ica e na decorao. O convite envi ado pela
"Camer van den Violiercn" , na forma de uma
xilogr avura, antecipa o conj unto das vir tudes
iluminadas pelo sol, de um lado; a desor dem
dos vcios, do outro; e, entronada no meio, a
Retr ica.
A "Peoen-Carnere" em Ma lines imprimiu
o programa co mpleto de todos os nmeros fa-
lados e cantados cm seu festival de 3 de maio
de 1620. Ele foi publicado em J62 1, ilu strado
co m xi log rav uras, sob o pre ten sioso ttul o
" Uma Arca do Tesouro dos Filsofos e Poe-
tas" .
Eruditos e artistas acorriam em massa s
Rederij kcrs. Prncipes governantes aceitavam
32. Grupo alegrico de 11 11I "Sp('L' 1\ '; 1Il Sil1lh.. -". Xi logravura num co nvi re )l 'II "1<' 1 Landj uwccl apn.':-.cnl :ula pela Canil.. -r
vau den Viohe mn. Autucrpi.r. I ':=; I .
A R r ll11SCC II{/
pedao de papel, com visvel esforo, pontua-
do pel o indicador erguido de seu vizinho, um
terceiro apont a di spli cen temen te, com uma
j arra de cervej a vazia, para uma tabuleta na
parede com a inscrio " in lief dc bloeinde"
("florescendo no amor") sobre um vaso flori-
do. Trata- se de membros da famosa Rcderij ker-
Kammer "Eg lantinc", de Ams terd. Ela se re-
fere no apenas ao seu ofc io. mas igualmente
arte do teatro, que as guildas holand esas pra-
ticavam com cresce nte devoo do sculo XV
em diante.
Tomados pelas aspiraes culturais huma-
nistas, resgataram as ltimas mor alid ades me-
dievais e canalizaram-nas par a a arte da retri -
ca volvel - de acord o co m seu nome, que
deri vado do francs rhetori qucur . Eram o
contraponto das Meistersinger alems, no que
diz respei to sua or igem nas guildas, seus
objetivos, e tambm quant o sua orgulhosa
hierarquia, que ia do pat rono, pas sando pelo
deo, o porta- estand arte e o poeta , at o sim-
ples membro. No sc ulo XV I, todas as cida-
des de mai or tamanh o. na rea entre Bruxelas
e Ams terd, possuam sua prpria c mara de
retr ica. O clmax de suas atividades dra mti-
cas e teatra is era o landj uwcel anual, um festi-
val para o qual as c maras co nvidavam umas
s outras. Esses festivais duravam vrios dias.
incl uam proci sses alegricas e tablea ux
viva nts ( Verroon ing e) , e cu lminavam numa
competio de peas alegricas morais e re-
ligiosas. A tambm apareciam as primeiras
As R EDER IJ KERS
Existe uma pintura, da ofi ci na do pintor
Jan St een . de Leyden, que mostr a um grupo
dc probos mestres de ofcios numa j anela. Um
homem idoso e barbado l alguma coisa num
Em ocasies mais modestas, um pano ati-
rado sobre os ombros fazia as vezes de uma
toga romana, alguns atributos bv ios identifi-
cavam os deuses ou figuras alegricas, e um
emblema corporati vo servia como indicador
de status profi ssional. Um penacho no cha pu
significava um nobre, uma clave indicava um
lansqnen, uma barba branca indi cava um ve-
lho e uma fai xa em torno da cabea, um tur co.
O que o emrito professorado esperava
do teat ro escolar enquanto mei o de expresso
e ges to pod e se r apr endi do no Liber de
Prononciat ione Rhetorica. de Jodocu s Willich,
que o texto das prelees por ele proferidas
em Basilia e Fra nkfurt sobre o Oder. Cabe-
a. testa, lbi os, sobrancelhas, nuca, pescoo.
brao s, mos, pontas dos ded os, j oelho s e ps
-. tud o tem seu papel predeterm inado na in-
terpretao "iII theatro aut in theatrali bus
ludis ", Dificil mente pode-se considerar Jodo-
cus Willich um especialista em es tudos indo-
lgicos. Ele ficaria irritado se soubesse quo
literalment e perto chegou do Natya sastra, o
grande manu al indiano de dana e atua o. O
que ele escreveu, sem pensar nas artes eleva-
da s, somente para o uso de escolas, ainda iria
oc upar Ri ccob oni na Frana, Goethe cm
Weimar e St ani slvski em Mo scou, muitas
geraes e sc ulos mais tarde.
Kinderzucht (Auto da Educa o das Crianas)
do ped agogo Johann Ra sser, na vizinha
Ensisheim.
As possibilidades cnicas dos ptios es-
colares (Estrasburgo j possua um festival
theatrum em 1565) so ilustradas por um es-
boo da pea de Laure nt ius, em Colnia .
Seu autor, Stephan Broelman, era professor
no Laurentianer Burs e. Entre 8 e 12 de agos-
to de J581, seus alunos organizaram. em ho-
menagem a seu santo padroei ro, quatro apre-
sentaes do drama latino no arborizado p-
tio. e duas das rvores foram habilidosament e
incorporadas ao ce nrio. O pi so da rampa
consistia em tbuas unidas pelas extremida-
des e apoiadas em slidas vigas alinhadas.
suport adas por barr is de vinho. Paini s de
lona verde emolduravam o palco como numa
lanterna mgica. Os adereo s para as vrias
cenas de ao - portas inseridas. um obelis-
co, um trono imperi al e uma cadeira cur nl
para o pretor, uma priso gradeada (crcere)
e um aliar de sacrifcios pago caracterizam
as cenas das peas - ordenadas de maneira si-
mult nea como nos aut os "de lendas" do Me-
dievo tardio.
O manuscrito de Broel man, que foi en-
contrado pelo estudioso de teatro Carl Niessen,
de Colnia, contm no somente o texto de
sua pea e um esboo colorido do palco, mas
tambm numerosas notas sobre indumentrias,
gestos e o curso da a o. O heri e mrtir ves-
te um" longa e folgada tni ca e uma capa ama-
rela ornamentada com motivos vegetais. Faus-
tina aparece em um manto negro e com um
penteado alto; seu nome est afixado em le-
tras prateada s no seu ombro.
~
I
304
305
15. 'l ublru vi vant num carro- palco : Judit e c l lol otcmcs. 1>0 c-ortejo COII Ic-morutivo para a recep o de Joana de
em Bruxel as. no uno de IN 6.1 >c...cuho co lori do ll h-rli m. Staai li..-bc Mu-ccu. Kup fcrstnhkabinct tj.
I
V
33. Grupo da Rcde rikker -Kanuuer de Amslcnl
retratado com seu morto " in liefde blocinde".
rado numa pintura da es co la de Jan Stcc n. sc ulo
XVII.
1 1
,
34. Palco de rua, no mercado de cavalos de Bruxela s. Pint ado por Adam Frans van der Mcu lcn . c. I(l )O (Vaduz. Gale ric
Liechtcnstei n)
de bom grado a qualidade de membros hononi-
rios, e a c mara amsterdamesa Eg lantine podia
orgulhar-se de ter recebido sua Ilmula do im-
per ad or Ca rlos V em pessoa . De se u mbito
emergiu o dramaturgo Pieter Corncliszoon, fi-
lho do prefeito de Amsterd. A aprese ntao de
Achilles en Polyxena deste autor, em 1614, inau-
guro u o reflorescimento do clssico ant igo nos
Pa ses Bai xos. Sua pea pastoral Granida foi
inspirad a pelo Pastor Fido de Guarini , e sua tra-
gdi a Geeraerd vall I'e!sell , embo ra formalmen-
te na tradi o de Sneca, tirou se u tema da pr-
pria histr ia de seu pas de ori gem e, assim, foi
o primei ro trabalho no palco hol ands a respei -
tar a regra aristot lica da unidade de lugar c tem-
po. O co ntemporneo de Hooft , G. A. Bredero,
membro dos Eglantines de Ams terd , famoso
pel as farsas e comdias popul ares e realistas,
ric as em tipos reminiscentes de Pl aut o e
Brueghel. Elas eram encenadas principalmente
nos palcos camponeses iKluchn, mas s vezes,
co mo por exemplo Spaanchen Bra bander em
1617 , tambm por membros da prpri a cmara
de retri ca do autor.
Pel o incio do sculo XVI. o palc o Rede-
rijker havia adquirido eminnci a representati-
va. A co mbinao da pea dramti ca e ret ri ca
e dos Vertoo ninge didt icos e decor ati vos exi-
gia uma moldura que fizesse ju sti a a ambos.
E assi m, um palco arquit etural recu ado foi de-
senvolvi do para encerrar a rea de atuuo: esta
divi so era orna mentada com co luna s e arca -
das, s veze s doi s andares acima e assim po-
di a fornecer a locali zao par a os tublcaux
vi vants dos l'erlOollillge. O derradeiro teat ro
Rederijkcr, instrudo na erudio humanista e
influe nciado tant o pel a tradi o teatral nativa
dos artfices quanto pelos atures ambulantes
ingl eses, usava uma forma de pa lco no qual as
relquias da s antigas scacuac [ rons fund iam-
se co m elementos do palc o elizabetano .
Os M EI S TERS I N G ER
Os Mcistcrsingcr alemes di videm com as
Rederijkers holandesas o mrit o de ter em pre-
servado a continuidade entre as art es da atua-
o e recita o do final da Idade M dia e o
mundo da Renascena . As or ig e ns dos
Mci st crs iugcr remontam ii cu ltura c vica do
308
Hs t r a Mund a l tio T'ca t vo
s c ulo XI V. e se us pr ecursores foram os
Miuncs ng cr: O perodo de seu mai or flores-
c ime nto e m Nure mberg, na poca de Han s
Sachs. foi imortal izado na pe ra Os Mest res -
Cantores de Ri chard Wagner.
Enquant o as "escolas de ca nto" dos Mcis-
tersinger ensinavam as leis e regras de sua arte.
est ritame nte de acordo eom o Tabul atur, e en-
quanto as peas carnavalescas entregavam-se a
dsticos rimados conheci dos como Kniuel vcrsc,
Hans Sach s. sa pa teiro e poeta, buscava fami -
liarizar se us camara das artfi ces tambm co m
a mai s alt a her ana do humanismo. El e se a-
venturou no drama erudito e, alm da s far sas.
escreve u volumo sos dramas e tragd ias para o
palco Mrist ersinger; Se us temas er am clssi-
cos e medi evai s, bem como frequentement e
bhlicos, o qu e explica co mo puderam ser fei-
tas apresentaes na Igrej a de Santa Marta de
Nurernberg, conforme se tomou praxe a partir
de 1550, e comear com Enthauprung Johan-
nis (A Decapitao de So Joo). Um pdio
de quase 9 m de altura foi erguido abaixo da
abbada g tica do co ro, fechado no fundo por
uma co rtina, co m entradas por tr s e tambm
iI direita, pela port a da sacristia. Foi assim qu e
Ma x Hermann recon stituiu o palco Mei s -
tcrs inger , no se u Forschungen rur deutschrn
Th catergcs ch iclue des Mit tel alters un d der
Rcnaissa ncc (Investig ao para a Hi st ria Te-
atra l Alem da Idade Mdi a e da Renascena )
( 1914 ). Albert Kst cr, em contrapartida. de-
fendeu o pont o de vista de que o palc o teri a
si do cons tru do na nave. A co ntrovrs ia foi
ac irrada e permaneceu sem soluo. Os arq ui -
vos de Nurcmberg nada co ntribura m para II
esc lareci me nto da qu est o, mas a Igrej a de
Santa Mari a a inda ex iste - e dei xa abert as
co njectur as sobre ambas as possibilidades.
Podemos ter certeza de que, no geral, o ta-
blado dos di as de festa dos Mestres-Cantores se
contentava com a decorao verbal. Por outro
lado , Hans Sa chs tampouco renunc iou a ter um
navio que era rolado para dentro da cena, como
acontecera na corte de Ferrara. na apresenta-
o de 14R6 do Menaccluni. Nas instrues
cnicas de sua BailO/II, rep resentada em 1559.
lemos: "Ela beija o rapaz e desce do navio.
Ele s part em no navio". Cump re co nfiar na s
guildas de Nure mbe rg. e m que e las foram Io
cr iativas qu ant o os i ll gegllier i itali anos.
3{). "R he torica", a ret ri..-a per sonifi cada . corura um palco de rua, ao fum.Ju. Aquarel a
do ca derno de esboos de Hans Ludvvig Pfinzi ng, Norcmbc rg, c. 151.)0 t Msc. Hist. 176.
Staat stub tiothek) .
37 . () Juzo dr Sulomo. encenado na pra,';! titl mercado de.' Lou vain. 1) 9..J . A part ir de um desenh o de Guill aume
Booncu . 1594 : copiado por L van l 'crcchc m. I X(d rl.o uvain. Museu da Cidade ).
b 40. Um ator. Bico d
urgo, Kunsthalle) - e-pena de Rembrandt (LI
J am-
1iR::": r,\\ .:\ K I ,\
EN I :'(" llZANS VA
L'\ i EN TEl' C'\ . N BRVS
' > '_... " MEREN \ -.'
A grande "On
da pmturn, a rainh: (Prociss
carros alegricos :' das Amazonas e s em Bruxelas. '
Museum ). ' c grupos de temas S.cqUJ10 a cavalo do carro alesn .'
e ublicos c . pI oel 'C gOllCO dr N . se mitolaico . SS.IO dos grrnios .1 atividadc N o s. Pintado por D> . os e corpora > a margem inf .
cms van AI" cs compreendi. enor
.... oot. 161') (I _. Ia numerosos
_ ... xmdre s, Victoria and
o TEATRO ELIZABETANO
Londres possua trs teatros pblicos
quando o jovem Shakespeare chegou cidade
em 1590. Nos subrbios setentrionais, bem
prximos um do outro, ficavam The Theater e
The Curtain, e no bairro das diverses, ao sul
do Tmisa, entre as arenas de bear-baitiny e
bull-baiting", A Rosa. Os barqueiros tinham
muito trabalho, quando a bandeira tremulava
no telhado, indicando que nesse dia uma pea
seria apresentada - uma bandeira branca para
comdia, uma preta para tragdia.
O teatro tornara-se uma instituio na vida
da cidade. Qual uma lente convergente, ele cap-
tava as radiaes literrias do Continente e as
focalizava em cores vivas, !1orescendo com a
recm-despertada conscincia nacional. O
tema principal da Renascena, o indivduo
consciente de si mesmo, alcanou seu znite
de perfeio artstica no teatro elizabetano.
fora de seus dramaturgos correspondia a res-
posta criativa da audincia. O teatro deu ex-
presso confiana em um poder mundial as-
cendente, cuja esquadra havia derrotado a
Invencvel Armada. Os atares tomaram-se, nas
palavras de Hamlet, "as abstratas e breves cr-
nicas do tempo".
Sob Elizabeth I - filha de Henrique VIII
e Ana Bolena, que desprezava o papado e era
antagonista de Maria Stuart - meio sculo
ganhou seu semblante. Nesse perodo, tam-
bm o teatro encontrou seus pressupostos ar-
tsticos, seus temas e seu estilo. O novo lema
da Inglaterra elizabetana era: livre da Frana,
livre do papado, um orgulhoso reino insular
"em um mar de prata".
Em 1589, Richard Hakluyt publicou sua
grande obra The Principal! Navigotions,
Voiages and Discovcries ofthe English Nation.
O Tamburlaine de Christopher Marlowe rego-
zijava-se com os recm-descobertos tesouros
do mundo terrestre, os "mimos de ouro, dro-
gas inestimveis e pedras preciosas", e com a
expectativa do que estava para ser conquista-
do "a leste do plo antrtico",
Ao aceno da distncia correspondia a re-
flexo sobre os heris da histria nacional.
Arena de aularucnto de ces contra urso-, c lou-
ros acorrentados. (N. da T.)
312
Histria M'un d iu l do Te a t rn
John Bale foi o primeiro com seu King John
em 1548. As Chronicles (l5n) de Raphael
Holinshed constituram uma fonte inesgotvel
de material. Shakespeare e seus colegas dra-
maturgos encontraram nelas tudo aquilo de que
precisavam para seus dramas histricos.
Ao mesmo tempo, influncias clssicas
ainda emanavam do continente. John Lyly es-
colheu temas mitolgicos para suas comdias;
o poema Hera and Leander, de Marlowe, que
deu ao frio e ctico Thomas Nashe oportuni-
dade para zombaria, uma adaptao livre de
Musaeus. Mesmo Titus Andronicus de Shakes-
peare est ainda embebido na paixo da vin-
gana e do horror de Sneca. O tema dos
Suppositi de Ariosto volta uma vez mais em A
Megera Domada de Shakespeare. Romeu e
Julieta, em seus dilogos de amor, no negam
seu dbito para com o Canzonierc de Petrarca,
e com o jogo de esconde-esconde de Rosalinda
na floresta de Arden, Como lhes Apraz con-
serva ainda um p na tradio pastoral.
Mas, em suas peas histricas, Shakes-
peare mergulhou na histria da prpria Ingla-
terra e posicionou-se apaixonadamente em re-
lao aos problemas do poder e do destino.
Ascenso repentina e queda abrupta, a embria-
guez do poder, crime, vingana e assassinato
do vazo s imagens plenas de linguagem e,
na rpida mudana de cenas fragmentrias,
culminam numa brilhante sntese. Enquanto a
batalha se intensifica, uma luz lanada sobre
ela, ora do campo do rei, ora do campo inimi-
go. A ao salta como uma fasca de cena em
cena. A ltima retirada de Ricardo III o leva a
seu fim num combate sem palavras.
O hlito ardente dos acontecimentos, que
a tragedie classique francesa aprisionou nos
grandes monlogos do drama com unidade de
lugar, explodiu com Shakespeare em dilogos
curtos e poderosamente delineados. Cada ocor-
rncia transposta para a ao. "Um reino por
palco", almeja ele no prlogo do drama real
Henrique V, em vez do "indigno tablado" e in-
voca as "foras da imaginao" do especta-
dor: "Imaginai que no cinturo destas mura-
lhas / Estejam encerradas duas poderosas mo-
narquias [... ]. Porque vossa imaginao que
deve hoje vestir os reis, transport-los de um
lugar para outro, transpor os tempos, / colo-
cando a realizao de acumular numa hora de
A Rcn ascen a
ampulheta os acontecimentos de muitos anos"
(trad. Oscar Mendes).
As peas de Shakespeare oferecem ali-
mento abundante para a transformadora capa-
cidade da imaginao, da magia potica do
Sonho de Uma Noite de Vereio loucura do
Rei Lear na charneca tormentosa. Ele saltou
por cima das regras clssicas pela fora de seu
gnio potico. Trouxe vida perodos e luga-
res, ternura e rudeza na "arena" do teatro.
Shakespeare no tomou partido na con-
trovrsia a respeito das regras tericas, embo-
ra ela tenha se inflamado tambm em Londres.
Sir Philip Sidney, nobre letrado altamente es-
timado na corte como sobrinho do conde de
Leicester, havia defendido as unidades aristo-
tlicas - em sua Apologie for Poetry (escrita
por volta de 1580, mas impressa postumamente
em 1595) e denunciado seus compatriotas por
no lhe dar a devida ateno. Mas quando, em
1603, Ben Jonson se apresentou com sua tra-
gdia romana Sejanus, construda estritamen-
te segundo as normas, foi um fiasco. Sua fora
residia no terreno da comdia crtica contem-
pornea, realista, no qual de fato tambm res-
peitou as trs unidades clssicas, em protesto
contra a indisciplina dramtica de muitos dra-
maturgos da poca.
Shakespeare divertiu-se arrolando um ir-
nico catlogo dos gneros exemplares de dra-
ma. Quando Polonius anuncia a Hamlet a che-
gada dos atores, exalta-os como "os melhores
atores do mundo, tanto para a tragdia. como
para a comdia, a histria. a pastoral, a pasto-
rai cmica, a pastoral histrica, a histrica tr-
gica, a pastoral tragicmica-histrica, a ao
indivisvel ou o poema continuado. Sneca no
pode ser demasiado triste para eles, nem Plauto
leve demais. Para o que est escrito e para o
improvisado, eles no tm quem os iguale"
(trad. Oscar Mendes).
O jovem Shakespeare irrompeu no palco
elizabetano numa poca em que o ato r profis-
sional j tinha uma posio segura na estrutu-
ra da sociedade. Sobre suas qualidades como
ator no se sabe nada que seja confivel. Su-
pe-se que ele tenha aparecido na comdia
Every Mali in His Humour etu 1598 e, presumi-
velmente, haja desempenhado o papel de Ado
em sua prpria comdia COIlIO lhes Apraz . Seu
bigrafo Nicholas Rowe julgou no entanto que
o melhor papel de Shakespeare foi o de Es-
pectro, em Hamlet. Aparentemente, ele no
mais aparece no palco depois de 1603, pois
seu nome no est includo em nenhuma das
listas de atores impressas para cada pea. Pes-
quisas sobre esse assunto, embora abundantes,
so muito dificultadas pelas repetidas mudan-
as de nome de sua companhia, sucessivamente
conhecida como Lord Hunsdon's, Lord Cham-
berlain's e, finalmente, The King's Men.
Os nobres patronos conferiam s com-
panhias de atores que patrocinavam no so-
mente a licena para atuar, mas com muita
freqncia seu prprio nome principesco. Da-
vam-lhes proteo legal, grandemente neces-
sria aos atores naquela poca, dada a hosti-
lidade do clero puritano.
Na corte, entretanto, sempre foram bem-
vindos. Ricardo, duque de Gloucester, tinha
atores a seu servio antes de subir ao trono
como Ricardo III. O rei Henrique VIII manti-
nha uma companhia e, de tempos em tempos,
permitia que excursionasse, o que lhe poupa-
va a despesa de habitao e comida, e era bom
para a moral pblica. A rainha Elizabeth mos-
trou bem menos propenso para a bela arte da
representao. Apesar disso, Lorde Leicester
conseguiu obter dela, em 1574, para sua prpria
companhia de teatro, uma licena real auto-
rizando seus prprios homens "a usar, exercer
e ocupar-se da arte e da faculdade de encenar
comdias, tragdias, interldios, espetculos
e similares [... ] tanto dentro da nossa cidade
de Londres e seus arredores, como tambm cm
todo o nosso Reino da Inglaterra".
Mas as peas a serem representadas de-
viam primeiramente ser submetidas ao Mes-
tre-de-cerimnias, Master of the Reveis, um
funcionrio que supervisionava as festividades
reais. Em 1581 outra carta-patente estendeu
esse servio de censura aos programas de to-
dos os palcos pblicos. O Master oflhe Rcvcls
adquiriu ento o controle todo-poderoso e cen-
tralizado que governaria o destino dos teatros
e seus dramaturgos por quatro sculos. Ainda
no sculo XX, jovens dramaturgos, em que se
salienta a crtica de poca, encontraram fecha-
do o caminho para o palco quando o Gabinete
do Lorde Camareiro negava sua aprovao;
John Osborne e Edward Bond tiveram de in-
cio que se contentar com apresentaes em
313
I:
I
~ l > . - . _
THAME S\
~ . ~
41. Mapa de Londres em 1616. de J. C. Visscher: det alhe do panorama, mostrando a margem Banksidc do Tmisa
poca de Shakes peare; frente e ao centro, o Globe e o Bea r Gurde n.
42. Detalhe do mapa de Londres de:Ralph Agu. 15691590 (ed. 1631): Bairro das diverses no Bunksidc com arenas
para touros e ursos. precursoras dos teatros elizabctnnos construdos aps 1587 na margem di reita do Tmi sa.
43. Mascaradn Nupcia l na casa de Sir Henry Unto u. c. 1(,00: co m os co nvivas ii me.... ;j do ban quete . nui sicoc c:dan a de
roda . Detal he de uma pintur a annim a reprcsentaud os eventos ma is import an tes da \"iJa de Sir He nry Untou (Londres
Nnno nal Poruuit G attcry j .
sua tolerncia e ca pac idade de jul gament o o
fato de el e ter dei xad o pas sar stiras bri lhan-
tes e custicas como volpo nc e O Alquimista
de Ben Jonson. O Master of lhe Reveis Til ney
tal vez tenha si do a figura mais imparcial no
cabo-de-gu erra pela autoridade em questes
de teatro. Os edi s londrinos se mo straram
exageradamente suscetveis a panfletos pol-
micos co mo Playes Confuted in Five Actions
( 1582) de Stephen Gosson, e chegaram a opor-
se ao teatro como um antro de iniq idade que,
nas pal avras de Thomas White (1577), "inci-
tava ao roubo e prostituio; orgu lho e prodi-
galidade; torpeza e blasfrnia". Por m, nen hu-
ma restri o ou represlia pod eri a reduzir a
importncia e a flor escncia do teatro eliza be -
tano. De err antes e proscritos sem direito, os
comedi ante s tinham-se torn ad o homens de
urna profi sso respeit vel e s vezes de consi-
derve l riqueza. As co mpanhias avulsas eram
organiz adas em forma de cooperativa; os pro-
prietrios de casas de espet culos possuam s
vezes vrios empreendimentos comerciais, parti-
cipavam das receit as de bilheteri a e astutame nte
aumen tavam suas font es de renda.
James Burbage , construtor da primeira
casa de es pe tculos pblica permanente de
Londres, er a conhe cido sobret udo como mem-
bro pr ivi legiado da co mpanhia do conde de
Leicester. Quando, em 1576, ele ab riu su a
Pi a)' House (Casa de Espet c ulos) em Shor e-
dit ch , for a dos limit es da cid ade e ao norte de
Bishop sgate. or gu lhosament e deu-lhe o mai s
di reto dos nomes: Th e Theat re. Escolhendo
um local no s subrbios, prudent emente colo-
cou-se fora da j ur isdio imedi ata do Lord
Mayor (Pre feito). Th e Theatre era uma cons-
truo circular de madeira com galerias e ca-
marotes e causou sensao. At o severo pre-
ga dor John Stockwood el ogi ou- o ao de scr ev-
lo co mo " magn fico local de atuao".
Um ano mai s tard e. outra casa de espet-
culos foi const ru da na vizinhana. Foi cha -
mada Th e Curtain (A Cortina) . Co m suas trs
fileiras de ba lces, o Curtain era mu ito seme-
lhante ao Theatre, assim como todos os futu-
ros teatros de arena ao ar livre da Lon dres
cliz abe ta na. J era , evident ement e, um fal o
muit o co nhe cido qu e um teat ro nesse di stri to
pod eria atra ir grandes mullides. O pr prio
James Burbage aluara no Cross Keys, uma es -
A l?e l1(1Se Pll n
clubes - j que o cl ube ingl s sacross anto e
livre de interferncias, mesmo da Coroa. Foi
so me nte em 1968, e aps vigorosos protestos
por parte da vanguarda, qu e Elizabeth II abo -
liu a ce nsura teat ral, originalmen te exercida
pelo Master 01lhe Reveis,
O servio de control e rea l foi duplamente
opre ssivo para o teatro elizabe tano do fina l do
sc ulo XV I, pois o Co nsel ho Muni cipal
(Common Council ) de Londres sentiu-se pre-
terido em seus di reitos de ce nsura , e estipu-
lou , de sua par te, restries. No poderi a ha-
ver espet culos aos domi ngos, e j amais quan-
do houvesse peri go de pest e; fez tambm ob -
j c es s desordens decorrentes de apres enta-
es em "estalagens, havendo aposent os e lu-
gares secretos anexos a seus palcos abertos e
galerias" ,
O primeiro a exerce r o poder de censura
abs oluto foi Edmund Tilney, Mastcr of lhe
Reveis por trinta anos, de 1579 at sua mo rte,
em J6 1O. Por suas mos pa ssaram as obras-
primas dramti cas do teatro eliza betano. as-
sim co mo a torrente das produes efmeras
boas, ruins e indiferentes. Ne nhum dos rcgis-
tros oficiais de Ti lney foi co nse rvado , ma s pos-
sumos o regi stro das licena s emitidas por um
de seus sucessores . Sir He nry Herbert, qu e
as sumiu o cargo em 1623. anotou cuida dosa-
mente no apenas o ttul o e autor de cada pea,
corno tambm toda s as obj c es - fre q ente-
mente tol as - e cortes ex igidos .
Os in-flios de TihH: Y. co mo o prpr io tea-
Iro, podi am bem ser descri tos, na s pal avras de
Shakespeare, co mo "res umos e breves crni-
cas do tempo". Suas entradas eram um inven -
trio vivo. Elas registravam os dil ogos de Lyly.
modelos de refin ada e elaborada lisonja em
versos polidos, e certament e to irrcpreensveis
qu anto as pastorais alego rica mente enfeitadas
de George Peel e; mencion avam as pea s de
maior sucesso de Th omas Heywood e Thomas
Dekker - A lI'onulI/ Kill cd with Kindness, do
primeiro, e The Honest 1I'/lOrc, do segundo -
ambas precursor as da tragd ia burguesa; fala -
va m sobre os mi lagres sat ricos de Ro bert
Greene e sobre as sangrenta s tragdi as em ver-
so branco de George Ch apman. e, finalme nte,
ci tavam como mai s import ant es. no c mputo
ge ra l, todas as peas de Shakes pe are. qu e
Ti lney foi o primei ro a le r. Demonstr a hem
45 . Xi log rav ura do h onti sp ci o da Span is h
Tragedv, de Th om as Kyd. esqu erd a. no ca ra-
munc h o . H or ci o eufo r cudo p O I' acvns xi nos ;
Hicron imo (pai de Hordci or . Bclimp ri a e Lo reuzo
precipiram-se para a cena. De uma edio de 1633.
"'6. Xi fogra vuru da Trugical Historv orDocm r
Fi.wSIIl.\'. til: Christopher Marfowe, c. 1(120.'
,44: Cena de Tit us Andronicus , 1595. nico desenho da poca conservad o de uma pe a de Shakes peare.
at ribufdo a Henry Peacham (Cole o da Marquesa de Bath, Longleat).
317
talagem em Gracechurch Street, que cm 1594
ainda servia como quartel de inverno aos Lord
Chamberlans Men (Homens do Lorde Ca-
mareiro), grupo de que Shakespeare era mem-
bro. No Buli (o Touro), perto de Bishopsgate,
Richard Tarleton, o grande clown e impro-
visador dos Queens Men (Homens da Rainha),
lotara as dependncias das estalagens, dez anos
antes, com multides amontoadas.
Outro bom ponto era Bankside, ao sul do
Tmisa. Aqui os melhores locais de entreteni-
mento eram uma arena de touros, onde se pra-
ticava o bull-baiting; indicada nos mapas de
Londres desde 1542 como Buli Ring, e um
bear garden, em que o urso era o objeto do
bear-baiting, para no falar dos acrobatas,
funmbulos, prestidigitadores e atores am-
bulantes.
Aqui Philip Henslowe, pintor e agiota,
construiu seu primeiro teatro em 1587, "The
Rose" (a Rosa). Este provou ser um negcio
lucrativo, a julgar pelo dirio e cmputos de
Henslowe, que chegaram at ns. Henslowe
fundou outros dois teatros, The Fortune (A For-
tuna) por volta de 1600, em Finsbury, a sete-
centos metros do Curtain, e The Hope (A Es-
perana) em 1613. The Hope ficava no local
do bear garden, que havia sido demolido, e
foi a ltima das casas de espetculo londrinas
o 318
Histria Mundial do Tc a n-.,
ao ar livre. A rendosa margem direita do T-
misa tornou-se o centro do mundo do teatro
elizabetano. The Swan (O Cisne), construdo
em 1595 por Francis Langley, foi seguido em
1605 pelo Red BulI (Touro Vermelho).
O holands Jan de Witt, que visitou Lon-
dres cm 1596, descreveu o Rose e o Swan como
os melhores dentre os quatro teatros da Lon-
dres da poca. Do Swan, o maior, ele mandou
confeccionar um desenho, que mostra o inte-
rior com o palco e o nico registro grfico
conservado de um teatro elizabetno, com ex-
ceo dos mapas.
A estrutura cilndrica acomoda trs gale-
rias de espectadores, sendo a mais alta prote-
gida por um telhado inclinado para dentro. O
crculo fechado do auditrio acessvel por
dois lances de escadas pelo lado de fora, dentro
eleva-se acima da estrutura do palco. O amplo
pdio de atuao, denominado proscaeninm;
projeta-se na arena interna descoberta. Duas
portas levam ao mimorum aedes, camarins e
contra-regragcrn. Em cima h uma galeria co-
berta por um toldo suportado por pilares. Esta
poderia ser ocupada por msicos, tornar-se
parte da pea como um palco superior ou ser-
vir de camarote.
Acima dessa galeria eleva-se um estreito
tico com duas janelas e um balco direita.
Dali o corneteiro anunciava o comeo da apre-
sentao (que de Witt, por convenincia, mos-
tra j em plena atividade).
O esboo de Witt pode ser visto em con-
juno com um mapa de Londres de Visscher,
publicado em 16 I 6. Este mostra o circular
Swan como um dodecgono eqiltero.
A reconstruo do Globe feita por George
Topham Forrest similar na forma. A parede
de fundo do palco pode servir de sala interna,
a galeria central de palco superior. Existem ca-
marins nos dois lados do "Inner Stagc" (palco
interno). Acima deles, no andar superior, es-
to os "Lords' Roam", reservados aos nobres
da platia.
Esse modelo bsico, excetuando-se algu-
mas variaes, foi provavelmente o mesmo
para todos os teatros redondos ou poligonais
47. Vista interna do teatro de Swan. em Londres.
Desenho baseado l'lIl notas de Jean de Wi. I.')Q6.
A Rc n asvcn o
ao ar livre da era elizabetana. (Depois de 1620.
somente salas de teatro fechadas foram cons-
trudas.) Os espectadores pagavam umpellll)'
no porto externo, que dava acesso ao ptio in-
temo - a famosa arena (Pit) - onde os ground-
liugs" elevavam suas vozes em aprovao ou
desaprovao. muitas vezes selando irreversi-
ve\mente o destino de uma pea. A origem
desse emprego do termo groundling no co-
nhecida. Talvez a proximidade do Tmisa suge-
risse a transferncia do termo "peixe de fundo
de rio" para os ocupantes da arena. Aqueles
que pudessem custear um assento pagavam um
suplemento entrada da galeria apropriada.
A receita da bilheteria ia para um fundo
comum do qual cada ator recebia sua quota
contratual. Essa distribuio nem sempre era
pacfica, porm este primeiro sistema de par-
ticipao nos lucros do teatro sobreviveu por
sculos. Em regra, pouca remunerao cabia
ao dramaturgo, a menos que ele fosse um mcm-
bro permanente da companhia e como tal ti-
vesse participao em todas as receitas. Caso
contrrio. ele vendia sua pea a um direior. que
ento tirava tanto proveito quanto possvel das
apresentaes. Conta-se que tudo o que Tho-
mas Heywood recebeu por sua pea mais po-
pular, A Womall Killed with Kindncss, foi seis
libras, enquanto Hcnslowe no pagou menos
do que seis libras e treze shillings pelo traje de
veludo negro da primeira atriz.
Em geral, as motivaes dos dramaturgos
eram as "panelinhas" e a rivalidade mltua.
Enquanto Shakespeare estava ocupado refor-
mulando o Hamlet original de Thomas Kyd -
hoje desaparecido - em seu prprio heri trgi-
co, Ben Jonson se debruava sobre uma tarefa
similar. Ele estava adaptando o principal tra-
balho de Kyd, The Spanish Tragcdic, que tam-
bm envolve um tema de vingana. a apario
de um fantasma e uma pea dentro da pea. O
Hamlet de Shakespeare foi encenado no Globe
no vero de 1600. A pea conquistou Londres
c acabou fornecendo o mais representado he-
ri do teatro mundial. O esforo de Jonson
chegou tarde demais e caiu no esquecimento.
O poder de atraco de uma pea prepon-
derava grandementc sobre a questo de sua ori-
teatro.
gcm literria. O que importava no teatro
elizabetano, corno em outros, no era a inven-
o de uma trama, mas sua elaborao criati-
va. Frequentemente, vrios autores se junta-
vam para uma produo conjunta. Francis
Beaumont e John Fletcher escreveram juntos
umas cinqiienta comdias populares nos anos
de 1606-1616. contribuindo Fletcher com seu
esprito frvolo e viva fantasia, e Beaumont
com seu talento dramtico.
Podia-se ganhar muito dinheiro no teatro.
Philip Henslowe fez fortuna com suas trs ca-
sas de espetcu\os. Edward AIleyn, ento o
mais famoso membro das companhias Lord
Admiral's e Lord Chamberlain's e ator princi-
pal e empresrio das peas de Shakespeare. re-
tirou-se do palco aos trinta e nove anos, como
um homem rico. Dedicou-se ento s suas in-
clinaes filantrpicas e fundou um college .
Richard Burbage. decano da mais famosa
famlia de atores da Inglaterra elizabetana, dis-
punha, segundo alguns. de uma substancial
renda proveniente das propriedades que pos-
sua. Em comparao, a casa em Strarford-on-
Avon para a qual Shakespeare se retirou em
1610 - agora um homem de renome c de situa-
o financeira confortvel - parecia bastante
modesta.
As troupcs de meninos, dirigidas por mes-
tres de coro e professores diligentes, eram vis-
tos mais como um estorvo pelas companhias
profissionais elizabetanas. Grupos como Thc
Children 01' thc Royal Chapei e The Children
01'SI. PauI's constituam-se de rapazes canto-
res originalmente treinados para cantar no of-
cio divino. No decorrer do sculo XVI. eles
apareceram diante do pblico em apresenta-
cs teatrais. Atuavam no Convent 01' the
Blackfriars na cidade, e por volta de 160(), num
teatro prprio. Seu pblico consistia em um
crculo de patrocinadores e amigos, e eles
gozavam da estima tanto da corte corno dos
magistrados. Christopher Marlowe, cujos Tani-
burlaine tlic Grcat c Doctor Faustus foram
encenados pela primeira vez pelos atores da
Lord Admirals e da Lord Charnbcrlains, de-
sentendeu-se com os atores profissionais a res-
peito de uma referncia s companhias de me-
ninos e, a certa altura, pensou em confiar sua
Dido aos Chi ldren - uma idia no muito pru-
dente, em vista da paixo amorosa suicida lI<!
oil'l
herona. Mas as companhi as de crianas po-
di am ser bem aproveitadas na ac irrada disputa
par a cau sar efeito. At Ben Jon son, na poca
de sua cont enda com Shakespeare , houve por
bem suprir os "fedelhos' com ve rsos que ridi-
cul arizavam o teatro de Shakespeare.
Mas Shakespeare . de sua part e. revidou,
em Hamlet: "aparece u uma ninhada de crian-
as. pintos na casca do ovo. cujas vozes de
falsete se eleva m tanto mai s alto quanto mais
so aplaudidos . Esto agora na moda e de tal
modo vociferamcontra os teatros vulgares (as-
sim os chamam eles) que muita ge nte de espa-
da cinta ficou com medo da c rtica de certas
penas de ganso e mal se atr eve a pr ali os
p s' :".
O medo das "penas de ga nso" conti nna a
importncia atribu da pa lavr a fal ada e dic-
o clara , sej a no verso potico ou no polrni-
co oAs rubricas sugerem uma art e de represen-
tar sutilmente refinada. Mas a declamao
grandil oqente sem d vida tambm estava l.
O palco descoberto. as gal eria s apinhadas e a
multido de groundlings no fosso exigiam o-
brigator iamente do ato r uma voz penetrante c
gestos amplamente visveis.
James Burbage era famoso por seus po-
der es de expresso mesmo e m pant omima.
Mas. para ele. assim como para Edward Alleyn,
o grande momento chegava qu ando avana-
vam at a beira do palco e lanavam-se em um
gra nde solilquio. "Afogar o palco em lgri -
mas e fender o ouvi do comum com terrvel
discurso", tal era a amhio do ator elizabe-
tano, Edward Alleyn, di sse Bcn Jonson, havia
dominado to perfeitamente essa arte, que nada
jama is se afigurava exage rado ou artificial, e
ele parecia totalmente tomado pelo espito de
sua personagem.
Shakespeare usou o prpri o palco par a
criticar o exees so pat tico , quando Hamlet ins-
trui os atores:
DiZe. por favor. aquela tirada tal co mo a declamei,
co m desembarao e naturalidade. mas se gritares. como
de hbito cm muitos de teus atere s, melhor seria que eu
desse meu texto para que o pregoeiro publ ico O apregoas-
se. Nem serres muito o ar com a mo, de.. .re je ito. S. em
* Extrado da traduo de F. Ca rlo s de A. C.
Mede iros. e Oscar Mendes. Edi tora Nova Aguilar, I t . ) ~ t ) .
(N. da T. )
320
l is t r a M UI/d i a l do T e atro .
ludo moderado. pois at no prprio meio da caudal. rem,
pc stude e. poderia dizer , torvelinh o de tua pai xo. deves
man ter e mo st rar aquela tem pe ra na que torna suave e
el egante a e xpresso. Oh!. fere -rue a alma ter de ouvir
UIIl robusto ca marada . com urna enorme pe ruca, despe-
daar uma paixo at convert -la cm fra ngalhos, cm far-
rapos. fe nd endo os ouv idos do baixo pov o. () qU<.I I. na
maior parte. s se deixa comover , hahitualmente por in-
com preensveis pantomima c baru lhad a. (...] Ne m tam-
pouco sej as tm ido demais; por m de ixa que teu bom
senso sej a teu guia. Que a ao res ponda palavra e a
palavra a o. pondo especial cuidado em no uhrapas-
sar os limit es da simplicidade da nature za. porque tudo o
que a ela se ope. afasia-se igualmente do prprio fim da
art e dramt ica. cujo objc tivo. tanto em sua origem Como
nos tempos que COITem, foi e aprescmar. por assim d i ~
ze r, um espe lho vida: mostrar It virtude suas prprias
feie s. ao vcio sua verdadei ra imag e m e a cada idade c
gera o sua fi sionomia c caractersticas. 1... 1 td., ih id.)
Para efe ito externo. os ateres podiam con-
tar com trajes colorid os c freqen tcmente sun-
tuosos, e com os ade reos pessoais e acess-
rios de palco necessri os. qu e poderiam ser
trazidos para o proscni o durante a pea e reti -
rados novamente. Nos bastidores, um interior
e um balco er am providenci ados. Se preci so,
guindas tes e ala pe s estavam di sponvei s.
Este s eram indi spen svei s, tant o para Shakes-
peare como para Caklcr n: ge ralme nte entra-
va m em ao co m o aco mpa nha me nto de um
so m de tro vo, que no s aumenta va a tenso,
mas tambm encobria o rangido do maquin rio.
Mas o "c enrio cli mtico" preci sava ser criado
pelo pr pri o ator, interpretando aS pal avras do
dr amaturgo. Ele tinha de evoca r a hor a do di a.
o so l qu e tinge o cu notu rno de vermelho. "a
aurora, envolta num manto ave rmelhado" (Id. ,
ibid. ) sur gindo atr s das mont anh as do Leste e
as es trelas bri lhando no c u - apesar da plida
e ene voada tarde londrina (as peas eram em
ge ral ap resentadas entre trs e seis horas). no
ob st ante as nuvens carregadas a tro veja r e o
barulho inoportuno do T mi sa,
O "cenrio falado" um trao esti lstico
crucial do palco clizabetano. Shake speare ma-
nipula-o com gnio. Os es panhis Lope dc Ve-
ga e Caldern no lhe ficaram atrs . revelador
qu e me smo um te rico da tragcdic classiquc
francesa. que obedecia a lei s tot almen te dife-
rentes, reconhecesse a necessidade da conju-
rao poti ca do cenrio. Em se u trat ado La
Pratique du Thciur, o abade d ' Aubignac exi-
gia que o d cor fosse explicado nos versos , "para
4 X. Palco da casa de cs pct culos Red Bul l. e m Londres . Pron tispi cio de 11Jt' \l l a . de Francis Kirkman . I72.
assim conectar a a o com o lugar e os even-
tos com os obj etos, e assim ligar todas as par-
tes para formar um todo bem ordenado".
Seri a um choque atroz se ocorresse a al-
gum encenador combinar um canto de pssa-
ro com as suaves palavras de amor: "Foi o rou-
xinol e no a cotovia" . s vezes, Shakespear e
recorre msica quando quer acentuar um
contrast e no clima. Em Romeu e Julieta, os
msicos param abruptamente, quando a "ale-
gria de casamento" transforma-se em "triste
velri o". Em A Tempestade, Ariel entra, invi -
svel, tocando e ca ntando, msica solene e es-
tranha envolve Prspero; o banquete desapa-
Hi st ri a /U ll ll dia / cio Teo t ro
rece em meio a raios e troves e um estrondo
surdo e confuso per segue as ninfas, que dan-
a m. O poet a di z adeus ao pa lco, que era seu
mundo .
"Agora os meu s sor tilgios esto todos
desfeitos", diz Prspero com sabedoria melan-
clica, e soli cita ao espectador a sua prece e a
sua graa, "que assalta / at mesmo a merc
mais alta, / apagando fac ilmente / as faltas de
toda gent e. / Como querei s se r perdoados / de
todos vossos pecados, / permite que sem vio-
lnc ia / me solte voss a indu lgncia".
Estes foram os ltimos versos escritos por
Shakespeare.
o Barroco
322
I NT RODU O
O hi stori ad or de art e suo Heinri ch
Wlfllin carac terizou certa vez o barroco co mo
"a convulso das formas renascentistas". A ob-
servao literalment e con firmada pelos gran-
des botar us com volutas da Igrej a de Santa
Maria deli a Salut e em Veneza. Na era barr oca
a linearidade cl ara e clssica da Renascena
adquiriu apelo emocional, a linha reta - tan to
nas estruturas quant o no pensament o - di sso l-
veu-se no ornamento, a clareza deu lugar
abundncia, a autoconfiana, hiprbole. Os
conceitos vesti ram os trajes da alegoria , e a
realidade perdeu -se num reino de iluso. O
mund o se torn ou um palco, a vida tran sfo r-
mou- se numa represent ao, numa seq ncia
de transformaes. A iluso da infinitud e pro-
curou exorci zar os limites da breve existncia
do homem na Terra.
O barroco reviveu a abundncia alegrica
do fim da Idade Mdia e a enr iqueceu co m o
mundanismo se nsual da Rena scena. Ma s, ao
fundo da ce na, a areia do tempo estava cor ren-
do, e o memento mori da Dana da Morte soa-
va de novo. Os prazeres do mundo c a sombra
da morte . coi sas terrenas e coisas celestiais,
fluam juntas teatral e espiritualmente, num
grande crescendo. Uma era estava ence nando
a si mesma.
Nunca , ant es ou depois, uma poca pin -
tou sua prpri a imagem emcores to exuberan-
tesoE assim como a arte barroca desabrochava
em teatra lidade resp landecente, do mesmo
modo o absolutismo lut ava por uma apoteos e
grandiosa da soberania , e a Contra-Reforma
invoca va todos os me ios ticos e intelect uais
da arte do palco - ass im tambm o teatro vivia
um mome nto de ext raordinri a ascenso.
Pal avra , rima, imagem, representao,
fantasmagoria e aplicaes pedaggicas uniam-
se agora msica, que emergia, de mero ele-
mento de acompanhamento do teat ro, para uma
art e autnoma. O barroc o viu o nasciment o da
pera. Das cort es da Itlia, a pera seguiu em
marcha triunfal , levada pelo patroc nio de pa-
pas, prnc ipes, reis e imperadores. Pintores e
arquitetos se lhe entregavam. Romain Roll and
descreveu o teatro musical do tempo do papa
Cle me nte IX c o mo uma pa i xo doe nt ia
(passion maladive), que exibia todos os sinto-
mas de uma loucura co letiva:
Um papa co mpe peras e envia sonetos a prima-
donas. Os cardeais fazem o trabal ho de libretistas c cc-
n grafos; desenh am figuri nos c organizam apre sentaes
teatrais. Sulvaror Rosa utua e m co mdi as . Bcrnini cscre-
vc peras. para as quais pinta cenrios, esculpe es t tuas.
invent a maquinarias , esc reve o texto, com pe a uni vicu c
constr i o teat ro.
Nos ltimos dias da Rena scena e nos pri-
mei ros dias do per odo barroco , a sala de es-
petculos tornou-se um dos mais import ant es
espaos de representao de qu alquer palcio.
Foram erguidos palcos no Vaticano em Roma,
no pal cio Uffizi em Florena, no Palais Royal
em Pari s. Cercado pelo esplendor do castelo
de Versaill es, a gra a cadenciada da dana cor -
tes deu origem arte do bailei. Lus XIV apa-
receu num figurino dourado de raios de so l
como o jovem Roi Soleil, muito antes da hi s-
tri a ter-lhe out orgado este nome. Rainhas fa-
ziam o pape l de ninfas, prncipes e princesas
vestiam-se de querubins - tanto no palco quan -
to nas telas dos pintores. Para agradar rainha
Cristina da Sucia , o filsofo Ren Descartes
escreveu um bal chamado O Nascimento da
Paz, que foi enc enado no Castelo de Estocol-
mo em 1649, logo aps o trmino da Guerr a
dos Trint a Anos. Enq uanto isso, os atares am-
bulantes e a Commedia dell 'urt c serviam de
ponte entre os campos inimigos.
Partindo da improvi sada sala de espet -
culos dos patronos da arte, o passo seguinte
levou casa de pera independente e aut no-
ma: o teatr o arq ui tetonicament e ornamenta-
do, com seu auditrio de fileiras e galerias,
com um ca ma rote do soberano e articulado
de acordo co m a hierarquia ulica dos espec-
tador es. O palco assumiu a forma de lantern a
mgi ca, emoldurado por um espl ndido arco
no proscn io. Caritides s uport avam a r-
quitraves, querubins seguravam co rtinas de
estuque. O recm-desenvol vido si stema de
bastidores latera is alternados possibilitava a
iluso de profundidade e as freq en tes trocas
de cena.
Trans formao a palavra mgica do bar-
roco . A met amorfose tornou-se o seu tema fa-
vorito, inexaurvel em suas potenci alidad es de
exaltao glorificante. Vendo a Natur eza como
a grande manifestao de Deus, nas pala vras
de Giordano Bruno, o Homem agora emergi a
como o encenador de si mesmo. Porm, "a
Vida Sonh o". O univer so o grande teatro
do mundo cujos papis so distribudos pelo
mais Poderoso dos mestres de cena . Cald ern
desn uda o avess o da hvbris do barroco, num
smbolo apropriado de' sua era: a imagem do
teatro no tea tro. Quando seu mendigo recl a-
ma que s a ele fora adjudi cada "a obri ga o
da pobreza" , que ele no recebera nem cetro
nem co roa , a respo sta vem das mais profun-
das convices da cos moviso crist: "Quan-
do um dia a co rtina cair, voc (e o soberano)
sero igu ais" .
324
Hts s ri a Mn ndi al do Te a t r o.
PERA E S I NGSPIEL
No ano de 1531, quando Gali leu Galilei,
aos dezessete anos, matri cul ou- se na Uni ver-
sidade de Pisa, seu pai Vincenzo publicou uma
obra altament e erudita sobre teoria da msica,
Dialogo della Musica An tica e della Moder-
na. Vincenzo Galilei , um matemtico, era alm
di sso um UOIl IO uni versale no sentido comple-
to do ideal clssico. Foi ele quem deu o passo
ousado que Vitn vio apenas ensaiara, ou sej a,
partir da lgica dos nmeros para calcu lar o
segredo das nota s musicais.
Vincenzo pert encia ao cenc ulo flore n-
tino de conde Giovanni de' Bard i, um crculo
acadmico. Seu s membros passavam longas
horas conversando sobre a doutri na aristotlica
da msica co mo parte essenci al da tragdia.
Ness as discusses, embora pro curassem de-
mo nstrar com exemplos prticos a "dramati-
zao da msica" , tam bm tinham por certo
em alta cont a a art e da comdia. Bardi , com
seu AlIlico Fido (O Amigo Fiel) encenado em
1585 por Buont al ent i, foi aclamado por toda
Florena. Este amigo e patr on o esc olh eu
Vincenzo como seu interlocut or no animado
deb at e sobre a po lifo nia co ntempor nea e
co mpos io in strumental. Enquant o Bardi
defendeu a posio mai s moderada nesse di -
logo , poi s, afina l, dev ia a se us amigos, os m-
sicos florentinos, a msica festiva e os inter-
mdios de dana de seu Amico Fido, Vincenzo
atacou com palavras duras a msica corts
de seu tempo. Acusava-a de impropriedade e
chamava-a de " prostituta depravada e sem pu-
dor". Exigiu a subordinao da msica poe-
sia e, como exe mplo do qu e pret endia dizer
co m stilo repp resent at ivo da co mposi o do
futuro, musicou algumas pa ssagens da Di vi-
lia Comdi a de Dante e as lament ae s de
Jeremias.
Em 1594, trs anos depoi s da morte de
Vincenzo Galilei , a pri meira obra no novo es-
tilo dramtico foi encenada di ante de um cr-
culo pequeno e seleto em Flor ena. Foi esta a
famosa primeira pera do mundo, Dafne, com
msica de Jacopo Peri para um text o de Ottavio
Rinu ccini e int ermdios cantados de Giuli o
Cacci ni.
Em 1597, numa reap rescnt ao no pal -
cio do erudi to flor entino Jacop o Cors i, o anfi-
O Barr o c o
trio, O compo sitor e o libreti sta for am feli ci-
tados por uma plati a ilustre a prop sit o de
sua " revivificao do drama anti go no esprito
da msica".
O produto erudito de arte tinha, porm, afo-
ra louvveis intene s, pouco em co mum com
o drama da Antigidade. Mas, no fundamento
de seu teor lr ico-dramtico ia ao enco ntro dos
esfor os da pea pastoral, dos intenncdii e dos
trionfi . Com sua graciosa pintura sonora, tran s-
figurou os ca mpos eliseus de pastores e ninfas
e absorveu suas canes corai s, origina lmente
independentes, no novo sti!o reppresentativo.
Orfeu, o bardo da Tr cia que lanava seu en-
cantamento sobre rvores, rochas e animais sel-
vagens guiava a nova arte corn sua li ra .
Peri e Rinuccini cooperaram mai s uma vez
numa "tragedi a di musica" conjunta. pa ra o
cas amento de Maria de Med iei e Henr ique IV
da Frana. Eles escolheram o tema de Orfeu e
chamaram sua segunda pera de Euridice , Ela
foi encenada co m gra nde esplendor em 9 de
fevereiro de 1600, no salo do Palazzo Pit ti.
Cacc ini novament e co ntribuiu com al gumas
inseres cantadas , como havia feit o em Dafne .
Jacopo Peri ca ntou Orf eu , o pa pel de
Eurdice foi int erpret ado por Vittoria Arc hilci.
a ce lebrada soprano coloratura da poca. Pas-
tores. ninfas e es pritos do infcrno estava m re-
pre se nt ados no coro. en cabead o por um
coreuta pr inc ipal. co nfor me o exe mplo da
Ant igidade. Rin ucci ni seguiu risca a pea
pastoral Orjco de Poli ziano, mas uma vez que
sua " tragdia" pretendia ser uma celeb ra o
nupcia l. e le co ncede u-lhe um final fel iz: Orfe u
faz Plut o enternecer-se e aut orizad o a tra-
zer Eurdi ce do Had es, de volta ii vida.
O ce ngrafo de sta apresenta o de gala,
provavelment e l3uontalenti . tinha a tarefa de-
safiadora de co nt rastar o cen rio past or al dos
"maravilhosos campos" co m os sombrios hor -
rores do inferno, qu e, no final , so rerransfor-
mudos e voltam ii linda cena pastor al. "Si ri-
volgc la SCI'I /(/ , I' tom a cont e prima " ("A cena
se trans forma, e volta a ser como antes"), co n-
forme Rinucci ni espec ifica em suas in stru es
cnicas . Cabe supor que Buouta lcnti tenha tra -
balhado co m os pri smas rotatrios de mad ei-
ra. j utili zados c m 1535 no Amico Fido.
Trs di as depoi s de Euridi cc. outra pera
foi encenada na sala de espc t.iculos do Uffiz i.
Era fl Rapi ntento di Cefalo, de Gi ulio Caccini ,
qu e desta vez citado co mo nico composi-
tor. Gabriele Chiabrera havia escrit o o libreto.
e Buontalenti mai s uma vez criara os cenrios.
As despesas for am c us tea das pela cidade de
Florena. Perto de quatro mi l convi dados, de
aco rdo com a gener osa co ntagem dos cronis-
tas, admiraram os mil agres cnicos revelados
quando a cortina de se da vermelha ornamen-
tada se abriu: a ca rruagem dourada de Hlio.
o trono magnifi cent e de Jpiter, mont anhas que
desapareciam no cho, bal eias surgindo aqui
e ali. terremotos ass us tadores e prados ador-
veis rescenelendo a perfume.
Lanava-se a pe ra em sua marcha triun-
ta l. co m toda a luxuosa extravag ncia c nica
da arte da tran sformao c nica do palco no
inci o do barroco. Se us cengrafos e ence na-
dores mos traram- se incansveis na inveno
de meca nismos sempre novos, de puxar, voa r
e desli zar para movimen tar a mult ido de fi-
guras aleg ricas que sufocavam o verdade iro
tema da pe ra.
Levand o- se em co nta a variedade de te-
ma s da Antiguidade. sur preendente a mo-
not onia co m a qu al os pr imei ros composito-
res de pe ra s se fixaram nos mesmos pou cos
te rnas . Se m d vida, os pi on ei ro s do st ilo
rupprcscntativo percebiam o quanto era ques-
rion.ivel sua int erpret ao mu sical do teatro
cl ssico. Por dcadas. agarraram- se aos dois
temas que no podi am ser contestados por-
qu e ningum conhec ia nenhum melhor, ou
sej a, Orfeu e Dafn e . Ne nhum texto teatral a
respe ito de ambas as perso nagens nos foi
transmitido pel os dra ma turgo s gregos ou r o-
ln anos antigos.
A Dufn de Rinucc ini foi novame nte
musicada em J O ~ . desta vez pel o mestr e-de-
capela fl oren tin o Marco da Ga gliano. A nova
obra foi ence nada a pedido do Duque Vince nzo
Gonzaga na cort e ele Mntua, ond e prevalecia
um alto padro no cultivo tanto do teatro qua n-
to da msica. J em 160 I o pr ncipe havia in-
dicado. co mo 11/(1(' .1' 11'0 di cappclla de sua cor-
te, o violista e cantor Claudio Mont everdi de
Cremona. Nas festi vidades do Carnav al de
160 7. Monte ve rd i s u rg i u pel a primeir a vez
co mo composi tor. Orfco er a o tema e o ttnlo
de sua obra. O texto , de Alessandro Striggio,
conservava o desfecho origi nai. Orfeu olha para
325
trs ao dei xar o Hades; Eur dice est perdida
par a ele. Apol o o consola com a promessa de
qu e os dois se encontraro novament e no ou-
tr o mundo. O espetculo e ncerr ava-se com
uma dana mouri sca .
Os primeiros admiradore s da obra foram
os membros da Accademia degl i Invaghit i
(Academia tios Apa ixonados), que costuma-
vam marcar seus encontros no pal cio do du-
que e que haviam recomend ado a encenao.
Confor me o desejo do duque, Orfeo foi reapre-
sentada na corte em 24 de fevereiro e em IQ de
mar o daquele ano. A Itli a inteira falava de
Monteverdi . Os admiradores do mestre esta-
vam entusiasmados ; era imposs vel , afi rma-
vam, dar melhor expresso aos sentimentos da
alma na harmoni a da poesia e da msica do
que havia sido fei to em Orfe o.
O grande lamento de Ariadne na segunda
pera de Monteverdi , Arianna, tornou-se a mais
famosa ria herico-dram tica de seu tempo. A
primeira a int er pret ar o pap el foi Virgi nia
Andrei ni, cuja expressiva inter pretao, como
lembr am os cronistas, con tribuiu muito para o
sucesso da apresenta o inici al em ]603. Aera
da prima donna estava prxi ma .
Por ci nco anos aind a, a estrela do nome
de Monteverdi br ilhari a sobre a cort e de
Mntua. Em 16 13, ap s a morte do duque
Vince nzo Gonzaga , Mo nteverdi ace itou um
convite de Veneza, onde, como dire tor de rmi -
sica em S. Marco. testemunhou, em 1637. a
abert ura da primeira casa de pera pblica. o
Tea tro di S. Cassiano. Seu fundador foi o m-
sico, compositor e libret ista Benedetto Ferrari,
que havia escrito o text o para o espet culo de
abertura, uma pera chamada Andromeda. com
msica de Manelli .
A nova arte da pera - teimo usado pela pri-
meira vez pelo discpulo de Monteverdi, Francesco
Cavalli - irnediatame nte co nquistou Veneza.
Constru ir casas de pera tomou- se um negcio
lucrativo. Ingressos baratos atraam multides de
espectadores. Quem quer que se desse alguma
importncia alugava um camarote e fazia-se de
patrono. Dentro de poucos anos, Veneza possua
meia dzia de casas de pera, que eram muitas
vezes abertas simultaneamente durante a princi-
pal estao cnica, as semanas do Carnaval.
Npoles inaugurou sua pri meira casa de
pera em 165 1, com urna produo de Monte-
326
H st r a M u n d a l d o Te a tr o .
verd i, L'lncoronazione di Poppea (A Coroao
de Popia). Florena, Roma, Bologna, Gnova
e Mdena logo seguiram o exemplo.
Ao norte dos Alpes, Salzburgo, Viena e Pra-
ga adoraram a nova forma de arte, inicialmente
no qu adr o do teatro dos festivais da co rte e com
ele ncos de cantores predominantement e italia-
nos. Ao poet a Martin Opitz e ao co mpos itor
Heinrich Schtz coube a glria de terem levado
a pr imeira pera em lngua alem - Dafne, ba-
seada nas obras de Rinuccini e Peri, e e ncenada
110 castelo Hartenfels perto de Torgau, por oca-
sio do casamento da princesa Lui se da Sax nia
e do land grave Georg de Hesse-Darmstadt.
Na corte de Viena, estrei to s laos de fa-
mlia com a Itlia asseguraram pera urna
recepo hospit aleira. A imper atriz Eleonora,
es posa de Fe rdinando II, que per ten ci a casa
ducal dos Gonzaga em M ntua, receb eu as no-
tcias do s ltimos acontecimentos musica is em
pri meira m o, por assim di zer. Em 1627, ela
patrocino u a encenao de um dranuu a per
mus ica co m person agens d a Co mmc di a
d eli' art e, apresentada no gr ande s alo do
Hofburg em Viena. Mont everdi foi homena-
geado com uma encenao de sua Arianua.
Francesco Ca valli dedi cou sua pera Egisto
dinasti a dos Habsburgos. O msico ita liano
Antonio Bert oli foi nomeado regente do coro
da ca pe la da corte imperi al.
Mas a magnificnci a cnica da cas a de
pera de Viena deu- se com Giovanni Burna cini,
um arquiteto e desenh ista que provara seu g-
ni o em Veneza e Mntua, e que Ferdinand o III
chamara para sua cort e em 165 1. Burnacin i
fez sua estria em 1652, co m a montage m de
uma pera chamada Dofne , pr ovavelmente a
ver so de Rinu ccini-Peri . Um ano mais tarde,
impress ionou a Dieta de Regen sburg com uma
construo impro visada para o fest ival, "um
tea tro eri gi do si mplesmente com tbuas, nas
di me nses e altura de uma igr ej a de tamanho
mdi o" . Foi ajudado por seu filh o Ludovico,
que logo em seguida sucede u ao pai em Viena
e igualou- se a ele tanto em ha bilidade quanto
em fama.
Ludovico Bumacin i de sen ho u cen rios,
maquinaria de palco, carros alegricos e fi guri-
nos par a mais de cento c cinquenta peras, alm
de festi vais aquticos no lago do castelo Favo-
rire, e de bals a cavalo, no estilo fl orentino.
I. Interior da casa de pe ra de Mun ique. na Salva torplma. co nstruda por Francesco Santurini e inaugur ada em I65.t.
O camarote: real foi acrescentado cm 1685. por Dornenico e Gasparo 'Ma uro. Gravura de Michael \ Vening. 1686.
2. Apresentao ao ar livre da grande pl'ra Angel ica. v nctrt cc di Alcino. de J. J. Fux. no Parque Favorit e de Viena.
17 16. Criao de cenrio de Ferdi uando c Gi lhCppC Ga lli-Hibieua: gravur'l de F. A. Dictcl .
3. Ludovico Burnacini: projet o de cenrio para a pera II Pomo d'Oro de Ccsti e Sbarra, Viena. 1668. Boca do inferno
co m o barqueiro carente. Gra vur a de Mathus Ksel.
4. Espcrculo de gala de /I Pomo d 'Or o na nova casa de pera de Viena, construda por Ludovico lt umacini em 166X.
Na primei ra fileira da pl atia. o impe-rador Leopoldo I t,.' Margareta COI11 seu squito. Gravura de Pran s Cidl cls lo edifcio
foi destrudo em 17831.
5. Acis et Galatlu'e. pe ra de J, B. Lully, levada e m ve rsai llcs, 1749, co m a Madame de Pompadou r e o Visconde de
Rohan nos papi s principais. Bico de pena de C. N. Cochi n. O Jovem .
6. L'Upcra Ser ia IIUI11 rc.uru ve ne ziano do sculo XVII I. Pintura da c,.'st,."o la de Pieu'o I. ongh i lt\ l il;-IO. 1\111sc o Tca tralc
alia Seala) .
K. Tornei o na corte de Lor ena. cm Nancy. Jacques Catlor: I . ~ Cornb.u i} la Barri re". 1627.
A nova casa de pera de Viena foi aberta
em junho de 1668 com o pro vado terna do
trionfo , de Paris e seu pomo de ouro. Nesta
ocas io, Burnacini superou a si mesmo - e
obra musical tambm. Apresent ou um gigan-
tesco desfile de coros de deu ses, pit ore scamen-
te agrupados ; nuvens maci as que recuavam
par a um fundo infinito e finalment e desliza-
vam para os lados, para revel ar Jpiter em seu
trono; onda s sobre onda s espumant es de um
mar coal hado de navio s; terrveis monstros
marinhos e ninfas de licadas - tudo isso sem
dvida prendeu mai s a ateno da admirada
assistncia festiva do que os esforos compa-
rativamente modestos dos cantore s e da orques-
tra. O ator que fazia o papel de Pris teve a
honra de descer do palco, na apoteose final, e
entregar o pomo de ouro j ovem imperatriz
Ma rgareta. Ela o aceitou com um sorri so, no
me nos lisonjeada do que a rainh a Eli zabeth da
Inglaterra se sentira um sc ulo ant es, na apre-
sentao da pea pastor al de George Peele.
A pera, nesse meio tempo, havia chegado
ao pont o em que o prprio teat ro, pretensa-
ment e seu servo, fazia- se seu mestr e. A pera
era um meio par a um fim, uma oportunidade
par a a exibio da magia da decorao e ma-
quinaria barrocas. Quand o 1/ Pomo d 'Oro foi
apresentada em Viena em 1668, sua msica,
co mpos ta por Marc Antonio Cesti, e se u
libreto, de autor ia do j es uta Fran ccsco Sbarra,
tiveram um papel secundrio, diant e do suntuo-
so cenrio desenhado por Ludovico Bumacini,
sob cujo nome o espet culo encontrou seu lu-
ga r na histria do teat ro.
o BALLET DE COUR
Plutarco, que certa vez descreveu a dana
como "poesia sem palavras", foi urna das prin-
cipais autoridades invocadas por Baif e seus
co laboradores em seus esforos para reviver o
drama antigo. Na sua viso , a combinat ria das
quatro grandes formas de arte - msica, poe-
sia, dana e pintura - ofereciam a nica possi-
bi lidade legtima de "expressar tudo, represen-
tar tudo e ilustrar tudo, at os mais profundos
segredos da alma e da natureza" .
Na Frana, essa idia re nascenti sta de "fu-
so das artes" gerou uma forma de teatro es-
330
Hi st or ia /II/1 I1 c1 i <t 1 cio Fc u t rn
pecificamente adequada corte e alt a socie-
dade. Ne st a nova forma teatra l a part e princi-
pal dizia respeito dana: o ballet de cour,
Ele respondia ao reclamo de pompa da corte e
abria um infinito campo de a o par a home-
nagens magnificamente enc en ada s. Ao me s-
mo tempo, dava ao rei uma oportunidade de
exib ir-s e em sua mai s adorvel facet a, como o
destinatrio e patrocinador de todos os suntuo-
sos cortej os , masqu es, inten nezri e dan as or-
ganizadas para o prazer da co rte, em ltima
instncia, do povo.
O ab so lutismo encontrou no cortej o tea-
tral uma forma congenial de expr esso. "Foi
um remoinho e um xtase - muita be leza e
cultura, uma gra nde esp irituosidadc e pr o-
digalidade de riqueza e car ter", escreveu o
his tor iador Veit Valentin , "a mgica total da
ave ntur a, da vida improvi sada, do espetculo
despreocupado com as questes mais sri as: a
sedutor a at raco do mal envolvia essas cortes
governadas pelo absol utismo, e por isto que
elas eram sempre censur adas pe los telogos,
ma s admiradas e amadas pel os arti sta s".
Quando Ortavio Rinu ccini e Giulio Cacei-
ni . os doi s pioneiros da pera itali ana, chega-
ram a Pari s em 1604, tiver am de co mear a
pen sar em termos completamente diferent es.
O rei Henr ique IV no desej ava recitativos
es tatues co s, mas, si m, a graa da dana . Ele
amava as "ma scaradas-bal" , bail es fantasia
dos qu ai s toda a corte participa va.
Ne m Rinuccin i nem Caccini po deriam
vencer na vida teatral francesa co m se u drama
pcr mu si ca. Contudo. foram bem-sucedi dos ao
inlercalar recitati vos em estilo itali ano no bal
da co rte - primeiramente, nos versos recita-
dos pela feiti ceira Alcine no ba l do duque de
Vend rnc, encenado em janei ro de 1610, uma
oca sio lembrada como event o teatral e corte-
so memorvel no reino de Henrique IV.
Mas o prprio nome que aparcce no tt ulo
desse bail e noturno s margen s do Se na mos-
tra que o eve nto corre u mai s sob a estrela da
graa real do que sob o signo de uma arte ca-
paz de marcar poc a. O duque de Vendme -
fi lho legi timado de Henrique IV e Ga br ielle
d'Estres. um homem elegante, int cligente e
ambici oso - dirigiu ele prprio o hal , com
trs aprese ntaes e111 uma se mana. Aprimei-
ra aprese ntao no gra nde salo de hai le do
7_Ball et Comique de la Rovne em Paris. Apre-
sentado em 1581. Gravu ra do progr ama, Pari s. 15RL
9. Representao de gala da pera Alces/e, de Lully e Quinault, no ptio de m rmore de Versailles, na abertura do
festival de corte organizado ali por Lus XlV, emjulh o e agosto de 1674. Gravura em cobre de Le Pautre . 1676.
10. O teat ro do castelo do Pr ncipe Schwarze nberg em Ce sky Krumlov, decor ado ror J. Wetsch cl e L Mer ke! ( 1766-
1767). Palco com cenrio de bastidores representando uma cidade e pano de fundo pintado.
II . Teat ro do Ca stel o cm C \ . ' ~ k y Kn unlov: vista dos bastidores do lado esquerdo do palco.
"
,: f
. ,
i
Lou vre, em 12 de j aneiro de 1610. seguiram-
se out ras du as nos dias 17 e I Xdo mesmo ms,
no Ars enal. O du que de Sully, supe rintende n-
te de finanas. no quis ser lembra do por suas
medidas de po upana nessa ocasio e man dou
gu arn ecer o salo com dois palanques para
espect ador es e outros arranjos para o espet -
culo de bal .
O rei e toda a sua cor te homenagearam
Monseign eur le Duc com sua presena:
SU.I Majestade cm seu trono, a rainha Mari u de
Med iei e a rainha precedente. Margucrit c. ao seu lado. O
del fim aos seus ps. c por toda a extenso do salo, todos
os pr nci pes e princesas de sangue real . e outros prnci -
pes e princesas do reino. funci onri ov da coroa, duques.
marqueses. co ndes. ba re s. cava lheiros. nobres. as da-
mas da corte - todos coloca do... .Je acordo com sua pos i-
o e m rito. Os capi tes da gU;Jrd:t ;'is cos tas de Sua Ma-
je stade. c un-as deles . os arqueiros armados : oficiai s de
pol ci a O Ill os mestrcv.dc-ceri mnia prximos s pa re-
des. para impedir qualqu er perturba o ou confuso.
O ba l do duque de Vend rne foi um dos
ltimos grande s festi vais de tea tro orga niza -
dos no reino de Henrique IV. que morreu as -
sassinado em 14 de mai o de 16 10.
Se u filho Lus XIIl a princp io dei xou as
am bi es teatra is par a sua me , Mar ia de
Mediei - qu e foi sua tutora e logrou tambm
fazer -se regente - c, mais tarde. para o cardeal
Ri chel ieu , q ue. em 1624. tomo u as rdeas do
desti no da Frana.
Ri ch eli eu encenou o suntuoso Ball et de
la Prosp rit dcs Armes de la Fraucc (Ba l
da Prosperidade das Arma s da Frana) em ho-
men agem ao casal real. O espe uiculo foi apre-
sen tado no recm-co nstr udo tea tro do Pal a is
Cardi nal, e pe la primeira vez a ao aco nte-
ce u excl usi va me nte no palco, dei xand o a pl a-
ti a para os espec tador es. O cenrio foi mon-
tad o a partir dos bastidores lat erais, seg undo
o model o italiano, e algumas das mquinas,
util izadas pa ra a abertura um ms ant es. com
o dr am a Mi ramc, for am dessa vez utili zad as
para o bal . Como resultado, o ballet du co ur
adquiriu uma forma intei rament e nova. Dora-
vant e seria encenado exclusivamente no pa l-
co e, assim, se parado do piso pr incipal da sa la.
o que s ignifi cava uma divi so e ntre a dana
no palco e a da na .iulica. Foi a prim eira a-
bor dage m da dana profi ssion al e do " ba l
clssico" .
334
H s t ri n AIII"diul do Teat ro.
Na verdade . e m 1653, Lu s XIV, ent o
com 15 anos, pa rti cipo u de uma pea-danca
da corte. intitulada Ballet de la NlIit (Bal da
Noit e). em qu e se apresenta va co mo "o Rei-
Sol" flamante de o uro . mas em seu reinado,
Jean Bapt iste Lully e Moli re desenvolveram
uma nova fo rma de arte, na qual a dana esta-
va mai s intimamente do que antes ligada
palavra. Era a contedie-hallet, uma tent ati va
bem- suced ida de fundir o esprito da comd ia
com a graa cortes do bailei. de cour, e. par a
Moli re e sua co mpa nhia, uma cha ve para a
bene vol nc ia de Sua Maj estade. Um grande
festival de teatro aconteceu em Versailles em
mai o de 1664 . Sob o lema de Plai sirs d ' Lslc
Enchan u'e (Prazere s da Ilha Encantada ), su-
cederam-se duas se manas de torneios, banque -
tes, cortejos, fogos de artifcio, bals e pa sto-
rais. Nesta ocasio Moliere contribuiu com as
comcdie- ball cts Les Fcheux in Vallx (Os Im-
pertinent es em Vaux), Le Mari age Ford (O
Casame nto Fora) e La Princesse d 'Elidc (A
Princesa d'Ellde).
Quando. e m ou tubro de 1670. Lu s XIV
expre ssou o desejo de ver e ncena da uma
turquer ie - tudo o qu e era turco estava alta-
mente em moda na poca .- Moli re o obse -
qui ou com uma comdie-ballct, Le Bourgeois
Gentil-honune (O Burgu s Fidal go), a qua l,
com seus e leme ntos da Commedia dell 'art c,
uma sequ ncia cintilante de pardias de atu a-
lidades sobr e presuno de cultura e moda, es-
tupidez e vaidade. cano pastor al e minuct o
na casa bu rgu esa e, so bre tudo. sobre os ef ei-
tos secundrios do es tabelecimento da embai-
xada otoma na, cuj a e ntrada em Par is po ucos
anos ant es havia provocado uma onda de pit o-
resca s abe rra es de go sto.
"O Senhor sabe qu e o filho do Gr o-Tur-
co est na cidade, no sabe?", o criado Co vie llo
pergunta a Jourdain, o " burgus fidal go", cuj a
filha ele co nquista para o seu amo graas a uma
desenfreada masca rada. "Como, o Senhor no
sabia? El e trou xe um squito esplndido, e todo
mundo foi l para saud-lo, e ele foi recebido
por aqu i no pas co mo con vm a um grande
senhor ".
O re i divert iu- se muito com esta obra- pri -
ma da comdia e no se ofendeu com as indis -
Iaradas aluse s de Mol i re sua prpria di-
plomacia pr-tu rca. No final, uma lembrana
O Barro c o
do ba llet de cour, um peque no ba l de call-
cioncs espanhola s. duet os it ali a nos . c o m
Arlecc hino , Scaramucc ia e Trivellino. Ist o per-
mitiu um a tran si o ao festival de corte e deu
a Lull y, par ceiro de Molire, a opor tunidade
de contribuir co m os ingredien tes musi cai s e
de dana para a be m- sucedida aprese ntao.
B ASTIDORES D ESLI ZANT ES E
M AQUI NARI A DE P AL CO
Os bast idore s em nvel e deslizantes co ns-
titu ram a grande novidade do teatro barroco.
A nova forma de decorao de palco ve io da
Itl ia. e a parti r de 1640 ap roxi mad amente es -
palh ou- se por toda a Europa . Sua inve no
cr editada a Batt ista Aleotti, arquite to da corte
de Ferrara, que desenvolveu um siste ma de
mudana de cenrio que diferi a dos bastido-
res e m ng ulo e dos prismas girat rios de ma -
dei ra usad os ento , oferecendo possi bilidades
mai s ricas do que os hab ituais tr s cen rios
padr o do palco da Renascen a. Este novo
ce n rio consis tia em uma srie lat eral de mol -
duras de ripas reve st ida s de tel a pintada qu e
deslizavam so bre trilhos . Sabe-se q ue fora m
usadas no Teatro Fa mese em Par ma. co nstrudo
por Al eotti em 161 8. Em 25 de julho . I' regis-
trado, "a sceua tragica ali estava. co mpleta".
O bastidor em nvel havia ch egado. O pbli -
co, todavia, no conseguiu ver a inovao se-
no dez anos dep ois. quando o Teat ro Farn ese
lhe fo i tardi ament e aberto. e m 162X.
Possivelmen te. Aleo tti insta lou um siste-
ma simila r de troca de ce nrio no teat ro qu e
constru iu em 160 6 par a a Accademia degli
Intrepi di (Acade mia dos Intrpidos> de Fer-
rara, qu e gozara a fa ma na poc a de se r o mai s
bel o teatro barroco da It lia. Ele pegou fogo
em 1679, e os croqui s que chegaram at ns
no fornecem indicao corret a do me cani s-
mo da cenografi a de palco.
O ma gn fico cdi fcio de madei ra du Tea-
tro Farnese em Parma. qu e fui bombardeado
na Segu nda Guerra Mu ndi al. cons istia numa
sa la de e spec tado res em forma de ferrad ura
diante de um pa lco , onde a porta regia central
se al argava a fim de fo r ma r um a rco de
proscnio para um palco interior. (111 do ti po
lant erna mgica , atrs do qual se esca lonavam
se is pa res de basti dor es de sli zantes. Assi m
Aleotti foi o primei ro a aumentar a rea de at ua -
o cm profun didad e at a parede de fundo do
palco, ca racter stica do melh or perodo do tea -
tro barroco e decis iva ruptura formal com a
rea de ao tr an sversal do prosc nio da Re-
nascena.
Sei s anos aps a morte de Ale ott i, Ni cola
Sab batt ini, arq uiteto de palcos em Pesare. pu -
blico u um trabalho pion ei ro em maquinar ia
teatr al , chamado Pratica di Fabri car Sccnc e
Machi nc ne' Teatri (Prtica de Fabricar Cen-
rios e Maquinar ias no Teatro ) (163 8). Recor-
rendo sua prpri a experincia, ele requer .
como primei ro pre ssuposto para uma troca de
cenrio funciona l, um palco co m bastante es-
pao, de maneir a q ue "a trs. ao lado, e m c ima
e abaixo do fu ndo da cena e do cenr io haja
espa o suficiente para todos os tipos de maqui-
naria que devam ser usad os par a o aparec ime n-
to de c u, terra, oceano e mundos inferna is,
bem co mo para os ncccss nos afasta me ntos e
aprox imaes". Em un ssono co m os ba stido -
res mveis. e le tambm modifi cou a corti na
de fundo co m sua pintu ra em perspec tiva, sus-
pende ndo -a ou abaixando-a de ntro de um poo
atr s do pal co.
Giacomo Torc lli , qu e esta belecera o sis-
tema de ba stid ores ni ve lados e desliza ntes . foi
celebrado em Veneza. Paris e Versaill cs co mo
o "grande m gi co" do cenrio barr oco. Te cni-
came nte, a mgi ca de Turelli residia no siste-
ma invent ad o por Aleo tt i e desenvolvi do pelas
tcn icas de Sabbatti ni. Em Florena . Alfonso
Parigi rea lizou uma obra importante com ce-
nas fantsticas em ba sti dor es. Seu dccor par a
La Flora (A Fl ora ) I 1( 28) e t N o ~ ~ i degli Dei
(As Npc ias dos Deuses) (163 7) introduziu no
teatro barroco as vi s e em profundi dade que
Ludo vi co Burnac ini levaria per fei o na
pera de Viena.
Enquanto isso, e m Ulm, Joseph Furt tcn-
bach continuava usando o "mtodo co rre to de
transformao do pa lco", o confi vel si stema
trla ri qu e havi a ap rendido em Fl ore na (po r
volta de 1(20) com Giul io Par igi ( pa i de Al-
fonso l. O teat ro por e le co nstruido e m 16-11
no Bi ndc rhof. e m ll l m. que descrit o e m por -
menor no se u Maunhu fftcr Kuntspicgcl (pub li-
cado em 1663 l, po ssua trs pa res de prismas
335
i.
,
12. Pr ojet o par a uma sala de com quatro pakll s, por IOSL' ph Furu enbach. Gravura do Munnl tuttrn
Kunst sprg rl, Au g:sburgo. I ( l( l .1.
,. O Barroco
de madeira, um para cada tipo conve ncional
de ce na, segundo Se rl io. Apesar desse "retro-
cesso", Furt tenbach guarneceu se u palco com
navios c monstros mari nhos, que era m movi-
dos no fundo, ao longo de um poo moda
tpica barro ca, com sofitos pen dent es que re-
presentavam nuven s, com pro spectos mveis,
na par te de trs do palco, com luzes que po-
diam ser diminudas para efeitos de ilumina-
o e mquinas voadoras. Out ra das idias de
Furttenbach, inteiramente no es pr ito do con-
cei to barroco da necessri a iluso de profun-
didade, foi seu dispositi vo para, em casos es-
pec iais, iluminar os espaos dos camarins atrs
do prospectos do fund o do palco e inclu-los
no quadro c nico para efeitos espetaculares,
Modesto como parecia ser por fora , es treito
como era por dentro e mobil iado somente com
cadeiras planas e lil eiras de bancos, do ponto
de vis ta de seu construtor era comparvel aos
teatros posteriores das cortes de Schwetzi ngen,
Hannover e Ludwigsburg do fim do harroco.
O teat ro de Furttenbach foi , na verdade, a
primeira casa de es pet culos civil da Alemanha
(co nstru da nas redo ndezas de onde outrora
exis tira um monastrio domin icano): perten-
cia aos muncipes da cidade . Servia ao teatro
esco lar e aos Meistcrsinger. co mo tambm a
atores ambul ant es ingl eses e alemes. Em
1652, Furtt enbach vende u todo o seu equipa-
mento de palco para urna soci edade de come-
dia ntes da sua Leutkirch natal, "tclari , apare -
lhos, mquinas, figurinos, e, para resumir, tudo
o que lhe pertencia, por um preo baixo", como
sabemos por seu di ri o manuscr ito. O edifcio
fo i utili za do mais tarde para outro s fins e
dest rudo na Segunda Gu erra Mundial.
Enqu ant o Furtt enbach se most rava to ge-
ner osament e infor mativo , outros ce ng rafos
guardavam se us seg redos co m mais ci mes .
Isto se evidencia numa carta qu e Furttcnbach
rece beu em 1653 de Regen sbu rg, datada de 17
de fevere iro e ass inada pel o engenheiro de
Frankfurt, Georg Andreas Bii ckl er. Refere-se
famosa construo do teat ro, erguido cm Re-
gensburg por Giovanni Bu rnacini com ajuda
de se u filho Ludovico. A instal ao teatr al ha-
via sido encomend ada pel o imperador Fcrdi -
nando III em homena gem Di eta e. depois de
terminada a celebrao, foi cuidadosamente
desmontada , carregada em barcaas c despa-
chada rio abaixo at Viena , onde a util izar am
posteriormente em apres entaes populares.
Foi o qu e Bckl er relatou ao cxpcrt em mat -
ria teatr al , Furtt enbach, sobre o "Teatro" de
Bu rn acini :
Em 12 de fevereiro, Sua Majestad e Imperial fez COIll
l}1Il.: fosse encenada uma comdia extrema mente be la. na
qu al mais de duas mil e qu inhentas pessoas tomara m par -
le . O teatro espaoso e eq uipado com ci nco troc as de
cen a muito bonit as. e, segundo se alcgu. custo u 16.000
coroas . O mest re que o construiu c ha mado Jo hann
Buru acini . um ualiano. Dado que os italianos so muit o
sigi losos no que diz respeito a seus pr eciosos intere sses
prpr ios. no pude ver o equipamento. Mas, 1.: 0 1110 sei
qu e o Sen hor um perito nestes assu nto s. imp loro -l he
qu e me expliqu e de que maneira as pessoas vo t o rapi-
dament e de um lugar para out ro. do palco para den tro
das nu ve ns. Constr u um di spositivo mov ido po r um ba-
lano. Porem. no sei se o seu funciona do mesmo modo.
Os miracul osos truques da tcn ica c nica
no era m compreendidos nem mesmo por co-
legas de ofcio. Isto no somente explica por-
que Furttenbach se limit ava to conser vadora-
ment e aos se us te/ari. mas tem um paralel o
nos pr ojete s cnicos do ingl s Ini go Jones,
Jones es tivera em Florena mai s ou men os ao
mesmo tempo que Furtt enbach e tambm ha-
via es tudado com Giul io Pari gi . Assim co mo
Furttenbach, Inigo Joncs obedeceu, por dca-
das, ao si st ema ren ascenti st a it ali an o dos
periakt oi . Ap s 1640, entretanto, abando nou
o esquematis mo rgido dos prismas giratrios
de madeira com cenas diferentes em cada face.
Passou a desenhar cenrios de florestas revol-
vid as por um olhar impressioni st a, que inl1u-
enciaram, a partir do palco, o dcsenvol vimen-
lO da pintura da paisage m ingle sa.
Outro arq uiteto de teatros de suces so des-
te tempo foi o venezi ano Francesco Sa nturi ni.
Em 1650 ele foi chamado pel a co rte bavari ana
em Munique, onde comeo u sua carre ira ao
co ns truir uma casa de pera em esti lo itali ano
no lugar de um celeiro na Salvator, que
fo i inaugurada em 1654. Santurini tambm
proj etou os cenrios, embora tenham sido con-
feccionados por Francesco Mauro, o "mestre
de maquinari a" do novo teatro . Mais tarde, os
filhos de Fr an ccsc o Maur o, Do me nico e
Ga sparo. por sua vez, aplicaram bem o co nhe-
cimento de tcnica teat ral transmitido pel o pai,
no teat ro de Munique. Alessa ndro , neto de
France sco Mauro, veio a Drcsden, onde .Iohann
.lJ7
Oswald Harms, o "pintor da corte e o mais
importante pintor de teatros" nascido em Ham-
burgo, trouxera fama para o Teatro Saxo Bar-
roco com seu suntuoso cenrio de pera e bal.
Alessandro Mauro aumentou o renome de
Dresden com suas espetaculares e suntuosas en-
cenaes de gala, gigantescos fogos de artifcio
e festivais aquticos. No esprito do alto barroco,
a caracterstica dominante de todas essas produ-
es era o efeito sensvel das mudanas de luz.
A arte do cenrio em perspectinva barro-
co - e sua exposio na escrita e na ilustrao
- atingiu seu znite nos trabalhos do jesuta
italiano Andrea Pozzo. Em seu tratado Pers-
pectivae Pictorum atque Architectorum (Pers-
pectiva na Pintura e Arquitetura), publicado em
Roma em 1693, ele estabeleceu os preceitos
para os artistas do barroco e do rococ nas-
cente: a perspectiva ilimitada, contnua, que
dava a iluso de expanso infinita do espao -
a ser conseguida por meio da pintura. Andrea
Pozzo aplicou tais preceitos em afrescos, em
altares e, em Viena, nos projetos de arquitetu-
ra para as celebraes jesutas das grandes fes-
tividades da Igreja.
Na arte dos teatros e dos palcos. este pre-
ceito foi realizado genialmente pela famlia dos
Galli-Bibienas. Mestres consumados na apli-
cao da perspectiva diagonal e no uso de com-
plicadas escadarias, arcadas e na arquitetura
de palcios. criaram projetos de palco de pro-
fundidade ilimitada. superlativos na tradio
do palco ilusionista, levada at o sculo XIX
adentro, graas a artistas como Quaglio, Ga-
gliardi e Fuentes.
Giuseppe Galli-Bibiena, o mais famoso
representante da famlia, desenhou cenrios de
pera em Viena, Dresden, Munique, Praga,
Bayreuth, Veneza e Berlim. Em seus imponen-
tes cenrios ao ar livre, ele replasmava o jardim
que lhe era dado ou a locao arquitetural numa
apoteose em perspectiva na qual realidade e ilu-
so se fundiam harmoniosamente. H uma s-
rie de gravuras de seus cenrios para a pera
Constanza e Fonerra (Constncia e Fora). que
foi encenada em 1723 no parque do Castelo
Imperial de Praga, em honra ao imperador
Carlos VI: compunham uma polifonia tica cuja
grandiosa auto-suficincia tomava quase para-
doxal esperar que uma orquestra e cantores pu-
dessem ainda impor-se em tal cenrio.
338
Hst ori a Mundial do Teatro.
Em 1748 Giuseppe Galli-Bibiena foi eha-
mado a Bayreuth. Ali, juntamente com seu fi-
lho Cario, executou o projeto do interior, mo-
blia e decorao da pera de Margrave. Na
reforma da pera de Dresden, em 1750, ps
em ao seu ideal de fuso da sala de especta-
dores e do palco. Em 1751, Frederico o Gran-
de o chamou a Berlim. Ali. em 1756. Giuseppe ,
Galli-Bibiena morreu, enquanto trabalhava
numa pera em colaborao eom o composi-
tor Carl Heinrich Graun. Sua morte ps fim
grande era do cenrio teatral barroco.
Trs anos antes, "a mais preciosa jia do
rococ" era concluda em Munique: o Residenz-
theater de Franois Cuvillis, resplandecen-
do em branco, dourado e vermelho.
o TEATRO JEsuTA
A consagrao da Igreja de So Miguel em
Munique culminou, em 1597, num espetculo
de massa como nunca se havia visto antes na
Baviera. Ao som de tambores e trombetas, cen-
tenas de participantes, em pane a p e em parte
a cavalo, uniram-se durante horas num gigan-
tesco desfile de grupos alegricos: representa-
vam o Triunfo de So Miguel. Enviados do cu
e drages das profundezas, idlatras, apstatas,
hereges e dspotas imperiais podiam ser vistos.
A mostra conclua com urna cena tumultuosa.
na qual trezentos demnios, dotados de msca-
ra e cauda, eram arremessados ao inferno. Esta
memorvel festa de consagrao da nova Igreja
de So Miguel foi organizada pelo Colgio Je-
suta. Imponente igreja, inspirada pela 11 Gesu
de Roma, ela foi a primeira construo do bar-
roco inicial ao norte dos Alpes. Ela conferiu ex-
presso cfetiva ao poder da Companhia de Je-
sus (fundada por Incio de Loyola em 1540) e
tornou-se um baluarte da Contra-Reforma. O
teatro, to comprovado em seu servio da reli-
gio quanto condenado como um perigo para a
f quando enveredado por trilhas erradas, en-
contrava patrocinadores decididos nos jesutas.
Em toda pane, nas escolas latinas secund-
rias. nos colgios da Societas Jesu, a arte da
retrica, a disputatio na eloquncia, era posta
prova no palco.
O drama escolar protestante. em sua ma-
neira modesta, havia ajudado os defensores da
13. Projeto de cenrio de Inigo Jones para a pea pastoral Flormnc, c. 1625 (Coleo do Duque de Devonshire,
Londres, Courtauld Institute of Art).
14. Giuseppe Galli-Bibicna: apresentao de gala da grande pera Constanza e Forte zru, de J. J. Fux, no Castelo
Imperial de Praga, 17'2:'. O palco ao ar livre, ladeado por duas torres e limitado por nove bastidores, abre-se em perspectiva
ilusionista cm profundidade. As construes arquitetnicas, no plano de fundo, podem ser alteradas para combinar com a
tripla troca de cenrios (Munique, Museu do Teatro).
15. Giuseppc Galli-Bibiena: cenrio cm pcspccuva diagonal para uma apresentao de gala para a celebrao do
casamento do prncipe eleitor da Saxnia (mais tarde Rei Augusto III) e da princesa austraca Maria Josepha, em Dresden.
1719. Gravura de 1. A. Pfcflel.
16. Ferdinando Galli-Bibicna: desenho de um cenrio, com duas escadarias ornadas com esttuas c urn teto quadricu-
lado projetando a iluso de profundidade barroca (Londres, Victoria and Albert Museum).
O Borroco
Refonna a afiar ofio de sua navalha verbal. Ago-
ra o teatro jesuta, por outro lado, procurava
deliberadamente efeitos cnicos e endossava as
artes que falavam aos olhos e ouvidos, mente
e aos sentidos. A palavra simples do plpito foi
superada pela representao viva no palco. O
poder do jbilo, ao qual a arquitetura da igreja
barroca devia to decisivo estmulo, provou es-
tar "em primeiro lugar em efeitos frutferos".
Assim lemos no prefcio da edio de
1666 das peas de Jakob Biderrnann, um jesu-
ta e dramaturgo do sul da Alemanha:
sabido que CenO(/OXIIS, que como quase nenhu-
ma outra pea sacudiu a platia inteira com lima garga-
lhada to festiva a ponto de os bancos quase desabarem,
causou, apesar disso, uma grande movimentao de pie-
dade verdadeira no esprito do espectador, de modo que
as pOllcas horas devotadas a esta pea fizeram o que uma
centena de sermes dificilmente poderiam ter feito. Por-
que catorze homens da mais eminente corte da Buvna e
da cidade de Munique foram unidos por salutar temor a
Deus, o severo juiz dos atas humanos, e no muito de-
pois de a pea haver terminado, retiraram-se conosco para
os exerccios inacianos. e, como resultado disso, muitos
deles experimentaram urna converso miraculosa f...l. En-
tre aqueles que se retiraram para os exerccios. estava o
homem que havia feito o papel de Ccnodoxux excepcio-
nalmente bem. Foi recebido em nossa Companhia no
muito tempo depois. e viveu nela por muitos anos lima
vida to sem pecado c santa que conseguiu a vitria eter-
na e agora habita entre os anjos sagrados.
O objetivo pedaggico e propagandstico
fora atingido: catorze ulicos renunciaram ao
mundo. A Comico-Tragocdia de Bidermann
sobre a vida vaidosa, a danao e a converso
do letrado Cenodoxus, que mais tarde fundou
a ordem eartusiana como So Bruno, tem o
apelo da perfeio real e suprema. Elementos
da comdia antiga misturam-se alegoria crist
num todo eficaz. A pea .- encenada pela pri-
meira vez em Augsburg em 1602 e reaprcsen-
tada em 1609 no Colgio Jesuta cm Munique
com o sucesso missionrio acima relatado -
foi o prottipo da forma barroca da tragdia
de mrtires. Personagens da Bblia, especial-
mente do Antigo Testamento, da histria da
Igreja e as lendas dos santos forneciam mate-
rial que demonstrava a futilidade de todas as
procuras terrenas diante da ameaa da dana-
o eterna; aqui o espectador era dispensado.
corno em Cenodoxus, com a admoestao:
MUI/di disperite gaudia!
O bvaro Jakob Balde, pregador e tutor
da princesa, foi o autor de uma tragdia cha-
mada Jeftias, apresentada em Ingolstadt em
1637. A narrativa bblica e a herana cultural
humanstica entrelaam-se com as idias mis-
sionrias da Contra-Reforma, e o tema apa-
rentado com o de Ifignia apresentado de
modo a apontar simbolicamente para o sacri-
fcio e a morte de Cristo. A caracterizao ha-
bilidosa da obra e sua construo dramtica
so tais que, mesmo na poca de Herder, ela
mereceu comentrios apreciativos.
Em Praga, os estudantes jesutas do
Clementinum encenaram um drama intitulado
Maria Stuart, em 1644, que, com a ajuda de
uma rica alegoria, demonstrava quo vergo-
nhoso era esse julgamento aos olhos dos cat-
licos. No argumentum, um programa em ale-
mo que explicava o significado e histria das
peas jesuticas para o pblico, a pea era cha-
mada uma "Tragdia Real", ou "Maria Stuart,
Rainha dos Escoceses e Herdeira do Reino da
Inglaterra, que Elizabeth, a Rainha Regente da
lnglaterra, mandou decapitar por dio reli-
gio catlica e por ambio". A. A. Haugwitz,
o dramaturgo do alto barroco silesiano, tomou
o mesmo terna em 1683 em sua tragdia Ma-
ria Stuart, baseando porm seu tratamento nas
herinas de Gryphius e Lohenstein, que, em
nome da f, passam por duras provaes, sem
discutir a questo da culpa.
O tratado terico Ars Nova Argwztiartll11
(1649), de Masenius, um professor jesuta a-
tuante em Rhineland e na Vestflia exerceu
enorme influncia no drama jesutico da se-
gunda metade do sculo XVII. Jakob Masen
ingressara na Companhia em 1629, e seus pr-
prios dramas contriburam muito para o
florescimento do teatro jesuta na Alemanha
setentrional. sua tragicomdia, Andro-
philus, foi concedida a honra de ser encenada
nas negociaes de paz no fim da Guerra dos
Trinta Anos, em Mnster, na Vestflia, em 1647
e 1648. Sarcotis, outra pea deste autor, influen-
ciou Milton na execuo de seu grande pico
religioso Paradise Lost (Paraso Perdido).
Ao lado dos jesutas, as ordens dos piaris-
tas e beneditinos promoveram o drama cm gran-
de escala. A Akademietheater cm Salzburgo e
o monastrio beneditino em Kremsmnster tor-
naram-se grandes centros do teatro monstico
341
. \ 1 H;
h J) II ": -11 -"
no alto barroco. sob Simon Rencn bacher, El e
prprio. qu and o era professor de gin sio, es-
cre veu e comps a msica par a cerca de vi nte
dr amas em latim. dos quais apenas uns pou-
co s foram impress os.
Como as orde ns religiosas pretendi am que
seus dramas falassem no tant o mente por
mei o da pal avra. mas aos sentido s pela ima-
ge m, os limites nacionais e de linguagem no
eram obstc ulos. Se a apresent ao era em la-
tim, o espectador podi a segui r a ao com a
aj uda do Argumentum, escrito em sua prpria
lngua. Alm disso, flexveis co mo eram, os
j esu tas se mpre tent avam enco raja r talentos
locais para suas prop ostas mi ssionrias. Ist o
se apli ca mais particularment e ao drama esco-
lar. Os ginsios jesutas em Liubl iana, Kruml ov
e Ch omutov na cidade da coroao hngara,
Pre ssburgo, hoje Bratislava na Eslovquia, e
na Pol nia, logo atraram os dramaturgos lo-
ca is. Por volta de 1628, for am encenadas pe-
a s em latim em Pressburgo, inici alment e num
palc o simples ao ar livre. e mais tarde em re-
cint os fech ados; em Tirnau, hoj e Trn ava, por
outro lado, a lngua hngara foi usada no pa l-
co do Co lgio Jesuta j em 1633. Na Pol ni a,
o j esu ta Gregrio Cnapius dir igiu seu mart irio-
lgico e moral izant e Exemplo Dranuuica; ini -
ciou o desenvol viment o de um es ti lo tnico ,
di stinto, do drama polons, <juc se espalho u
at ci dade s di st ant es como Pult usk. Vilna e
Poznam.
Enquanto nas terras distantes o drama mo-
nstico se contentou por um longo tempo com
um palco neut ro erguido no ptio do colgio, na
sala de reun ies (aI/Ia) e s vezes at mesmo
numa igreja, o teatro jesuta na terra natal da
Companhia logo proveu a si mesmo de todos os
meios existentes de ilusionismo.
Em Viena, Nikolaus de Avancini escreveu
alego rias e milagres par a os qua is exig iu a
magia completa da decorao e transforma o
cnicas do barroco: iluminao e fogos, deu-
ses, fantasmas e demnios, co m interldios de
msica e insertos de bal, e out ros vecul os do
barr oco. Sua pea Pielas vi ctrix foi apresenta-
da di ant e do imperador Leopol do I , em Viena,
em 1659. Esta apresent ao foi o cl max da
co ntribuio da orde m jesuta para o "eston-
teant e esple ndor do catolicismo barroco ", den-
tre todas as pea s imperiai s panegfricas (Ludi
342
Hs t or o Afll l/ d i o/ do [ ('(//1" 0
Cae sarei ) qu e, a parti r da metade do sculo
XVII , exalt aram a dinastia de Habsburgo no
teatro. Tai s proj et e s levaram o drama j esutico
muito alm dos limit es do teatro de colgio e
escol ar. A glor ifi ca o da dina st ia reinant e
havia garantido o ge neroso apoio desta lii-
ma . Para Pictas Victrix. a corte providenciou o
dinheiro. part e dos figurinos c - a mais impor-
tante de tod as as ambicios as fant asias cnicas
de Avancini - os se rvios do nrquiteto de tea-
tros Gi ovanni Burnacin i.
O tem a da Pi el as Victrix de Avancini a
vitria do imperador cristo Constantino so-
bre o " imperado r pago" Maxncio. Amb os
os governantes so guiados por vises em so-
nhos; Pedro e Paul o fort alecem Co nstant ino,
o esprito do fara inci ta Maxncio contra o
povo de Jeov. A batalha de Roma em 312 faz
parte do enred o. as si m co mo o sonho de
Constantino ant es da bat alha, no qual, de acor-
do com a lenda. ele v uma cruz incandescente
no cu com as pal avras "Hoc signo Victor "ri s"
- acontecend o direi ta do palco. Anjos emer-
gem de colunas de fogo, os es pritos do infer-
no inter vm na bat alha, chamas bru xulei am no
Tibre. Os soldados de Constantino co nstroem
escadar ias viva s, que seus companheiros es-
cal am at o topo dos I\lIlfOS da cidade , enq uanto
no outro lado do palco uma batalha naval rai-
vece no Ti bre. Mesmo para um tcn ico de cen a
exper ient e como Gi ovanni Burnaci ni isto no
era um trabalho fcil.
Of urioso da s din micas de palco de Ava n-
cini era estilistica mc nte signifi cante. na medi-
da em que trab al hava de 111 0do co nsiste nte com
o deslocam ento tipi camente barroco da frente
para o fun do do palco. /\ viso onrica de Co ns-
tantino aconteci a na ret aguarda do palc o c. ao
acorda r, ele caminhava para a frcnte a fim de
proferir um gra nde monlogo: enq uant o isso.
a cortina caa para esconder a transformao
que ocorria atrs. Es te rit mo espantosame nte
teatral de "frent e" e de "trs" pode ser traado
ao longo de tod a a pea.
Pictas Victri x termin ava com uma apoteo-
se barroca no estilo das Ludi Cacsarci. mo s-
trando o imper ad or Constantino entronado
como venced or, ro dea do por seus s d itos e
abeno ado por um anjo que flutua va nu ma nu-
vem. O arco tr iun fal de trs port ais atrs do
trono, decorado com a dupla ;guia dos Hahs- 17. 1'IIlI .mlel D onvsavum, 1111 cvtilo dos I .IIll ; ( 'tll',wu romanos, na co rt..- nupc ria l de Pr<J ga, cm 16 17.
burgos, tornavam a quintessncia da pea cla-
ra at mesmo para aqueles que no eram capa-
zes de compreender a totalidade do texto em
latim: o imprio cristo dos Habsburgos basea-
va-se na vitria de Constantino. Nove gravu-
ras de cenas da Pietas Victrix esto conserva-
das e mostram o quanto este drama, com seus
interldios de coral e bal, estava prximo da
pera barroca.
Na Frana, o teatro jesuta harmonizava,
no princpio, com o gosto da corte pela pera e
bal. A densa rede de escolas e colgios da Com-
panhia de Jesus garantiram o grande alcance de
sua influncia no desenvolvimento do teatro. Al-
gumas das obras tericas fundamentais foram
produzidas em crculos jesutas. O padre
Mnstrier escreveu a primeira histria e
metodologia do bal francs, e a Perspective
Pratique (Perspectiva Prtica) do padre Jean
Dubreuil foi uma importante contribuio para
o desenvolvimento da perspectiva de palco.
Mais do que isso, da escola da influente
Societas Jesu, vieram os maiores escritores
clssicos franceses: Comeille, Molirc, Voltaire
e Le Sage.
FRANA: TRAGDIA CLSSICA E
COMDIA DE CARACTERES
Desde que Aldus Manutius publicara o
texto grego original da Potica de Aristteles
em sua prensa veneziana em 1508, o afluxo
de comentrios eruditos a respeito desta obra
nunca cessou. Na Frana do sculo XVII, as-
sumiu propores torrenciais. O problema mais
discutido e controvertido era o apresentado
pela regra das trs unidades, que Aristteles
de modo algum havia estabelecido to incqui-
vocadamente quanto seus intrpretes posterio-
res alegavam. Todos concordavam sobre a
requerida unidade de ao - porm, em rela-
o unidade de lugar e a unidade de tempo -
"uma revoluo solar ou pouco mais" -, no
se sabia se deveriam ou no, e em que exten-
so, ser consideradas igualmente obrigatrias.
Esta ltima questo estava no cerne dos deba-
tes tericos que formavam o clima intelectual
no qual a tragedie classique francesa se de-
senvolveu.
344
H s t r i a Mundial do Teatro.
A questo do tempo que o dramaturgo
pode conceder ao dramtica e a do lugar
da cena discutida com grande mincia na
Pratique du Thcatre (Prtica do Teatro) do aba-
de Franois Hedelin d' Aubignac. O cardeal
Richelieu, no menos meticuloso como admi-
nistrador do capital intelectual do que o era
em relao aos bens econmicos, fundou a fa-
mosa Sociedade dos Cinco Autores, para in-
vestigar e experimentar as regras tericas em
um trabalho conjunto. Entre os indicados por
Richelieu para formar esta sociedade estava um
jovem advogado de Rouen, que conseguira seu
primeiro sucesso teatral em Paris, em 1629 -
Pierre Corneille.
Um ano antes, Corneille havia encontra-
do, em Rouen, o ator e empresrio Mondory,
que l realizava espetculos sob uma licena
provincial concedida por Richelieu. Mondory
comeara sua carreira como membro da com-
panhia de Valleran-Lecomte e, tal como o seu
antigo patro, representava um vnculo entre
os teatros tardo-medieval e humanista, e a
irrupo da grande poca do drama clssico
francs. Em Paris, Mondory partilhou de in-
cio com os comediens italiens o tradicional
teatro do Hotel de Bourgogne, que pertencia
Confrrie de la Passion, mas, em 1634, trans-
feriu-se com sua companhia para uma sede
prpria, na Vieille Rue du Temple no bairro
do Marais, em Paris. Este novo Thtre du
Marais estava destinado a tornar-se um dos trs
esteios da vida teatral parisiense.
O repertrio de Mondory consistia em
pastorais e tragicomdias, do prolfico escri-
tor de peas Alexandre Hardy, de tragdias ins-
piradas em Sneca, de autoria do advogado cri-
minal Robert Garnier, de adaptaes de Plauto
e Terncio e, finalmente, de peas alegricas
bblicas. Era um conjunto que correspondia ao
programa do teatro da corte e do teatro ama-
dor acadmico. Quando, em 1628, o advoga-
do de vinte e oito anos, Pierre Corneille, lhe
ofereceu em Rouen uma comdia que havia
escrito, Mondory concordou imediatamente
em estre-Ia em Paris. Chamava-se Mlite ou
les Fausses Lettres (Mlete ou as Cartas Fal-
sas), e era uma pea inteligente e elegante
moda espanhola, de acordo com o gosto da
poca. Seu sucesso abriu ao jovem e promis-
sor autor as portas da aristocracia parisiense, e
o Barroco
trouxe-lhe a honrosa indicao para a Socie-
dade dos Cinco Autores, de Richelieu.
Richelieu encarregou este grupo de escre-
ver em conjunto peas sobre um tema dado,
cada autor um ato, e estritamente de acordo
com a regra aristotlica das trs unidades.
Corneille obedientemente contribuiu para a
Comdie des Tuileries, que foi elaborada em
1635 por este mtodo. Ele tinha grande espe-
rana de vir a ocupar uma cadeira na Acad-
mie Franaise, que havia sido fundada por
Richelieu. Sua primeira tragdia, Mde
(Media), tambm se mantinha fiel ao esque-
ma clssico. Porm, um ano mais tarde, Cor-
neille viu-se privado das poderosas graas do
cardeal devido a um acesso de gnio dramti-
co. Ele ps em cena um tema que transgredia
todas as regras acadmicas. De uma fonte es-
panhola, Mocedades dei Cid, Corneille criou
Le Cid, o jovem heri ideal, ardente de amor e
paixo, coragem e esprito de luta. Nenhum
palco francs ouvira antes linguagem potica
de tal fora.
Le Cid tornou-se o dolo da gerao jo-
vem. O teatro rompeu sua casca de esteticismo
conservador, e voaram fascas. O drama de
Corneille, que foi montado pela primeira vez
em 1636 no Thatre du Marais, desencadeou
uma onda de entusiasmo. Ajeul1esse de France
viu sua prpria glorificao na postura resolu-
ta de dom Rodrigo no fatdico conflito entre a
honra e o amor. O Cid espanhol tornou-se o
heri nacional francs.
Mas Corneille foi severamente censurado
por seus colegas dramaturgos. Eles o acusavam
de ofensas imperdoveis s leis da moralidade e
da verossimilhana. As temerrias mudanas de
cena, a unidade de lugar e de ao ditada no
por um princpio, mas por uma disposio po-
tica, contradiziam toda a sua penosamente pra-
ticada arte regrada. Amigos e adversrios toma-
vam partido na disputa. Uma caudal de panfle-
tos manteve a controvrsia acesa por meses. Em
nome de Richelieu, a Academia Francesa con-
denou o dramaturgo e sua obra.
Desiludido, Corneille retirou-se para
Rouen. E assim deixou de figurar entre os con-
vidados de honra no mais resplandecente dos
eventos teatrais da Paris de sua poca - a abcr-
tura da nova sala de espetculos no Palais Car-
dinal em 1641. Richelieu convocara o arqui-
teto Le Mercier para equipar o palco de seu
pala is urbano com todos os mecanismos trans-
formadores da maquinaria cnica barroca.
Uma dispendiosa cortina de tecido escondia o
dcor de bastidores escalonados em perspec-
tiva que, ao ser suspensa, revelava o cenrio
de George Buffequin em atmosferas variadas,
com iluminao mutante de acordo com a hora
do dia desejada. A pea era Mirame, hoje es-
quecida, assim como o grupo de dramaturgos
recrutado para escrev-Ia. Diz-se que o pr-
prio Richelieu teria assinado como autor. Na
apresentao de bal que se seguiu a Miramc,
relatam os registros, o novo teatro exibiu seus
assombrosos e engenhosos dispositivos de
transformao.
Corneille precisou esperar o devido reco-
nhecimento at 1647, quando finalmente foi
admitido na Academia Francesa. No entre-
meio, escreveu os dramas histricos Horace,
Cinna e Polyeucte, nos quais se submeteu aos
princpios acadmicos da forma. Sua Andro-
mede foi encenada em Paris no Petit Bourbon
durante as semanas do Carnaval de 1650, com
os mui afamados bastidores em cena criados
por Torelli em 1647 para a representao de
Orfeo em Paris. O privilgio do reaproveita-
mento de adereos de pera sugere que mes-
mo em Paris uma eventual economia de recur-
sos no era desprezada no campo das artes.
Mas havia a contradio de estilos. A pera da
corte da Frana trazia a marca da arte teatral
do barroco italiano. A tragcdie classique. por
outro lado, era, do ponto de vista da lingua-
gem, um temperado em linhas classicistas.
como nas pinturas em antique de Poussin. Sua
fora emocional era expresso, no de senti-
mentos transbordantes, mas de uma escala cui-
dadosamente graduada. "Espectadores glaciais
de sua prpria fria. professores de sua pai-
xo", definiu Schiller certa vez as personagens
da tragdie classique francesa.
As regras do verso alexandrino (a linha
imbica de doze slabas, cujo nome se origina
dos versos utilizados num velho romance fran-
cs sobre Alexandre, o Grande), com sua rigi-
dez antittica, determinavam o ritmo do ver-
so. Por uma regra correspondente, o nmero
de atos devia ser obrigatoriamente cinco, sen-
do o terceiro seu eixo central. A ligao das
cenas era indispensvel: quando uma perso-
345
f
i
I
nagem dei xava o pal co, tinh a de estabelece r
uma conex o com a cc na seguinte, mesmo qu e
fosse com frases to banai s co mo: "Mas quem
vejo chegar? A rainha se aproxima. preciso
que eu me v rapidament e".
Corneille e, melhor ainda, seu jove m con-
temporneo e rival Jean Racine conduziam o
verso alexandrino com eleg ncia soberana. Por
vinte anos, di sputaram entre si quem seria o
mestre da rragdie clas sique. Quando Racine
estreou em 1664 co m sua pea La Th baid c
(A Tebaida), Cornei lle havia comeado a re-
gi strar a colheita de sua exper incia anterior.
Em Discours des Tm is Units (Discurso das
Trs Unidades) e na autoc rtica Examen inclu -
da na edio de 1660 de suas obras completa s,
curvou- se reprovao por ter feito muda n-
as de cena demais e muito arbitrariamente em
Le Cid. Quo afastado est ava, ent o, de Lope
de Vega, que zombou dos ped antes magsteres
e desafiou as regras aristotli cas - e quo afas -
tado estava, tambm, de Le Souli a de Sat in
(A Sapatilha de Cetim) de Claudel, que to
imaginativamente se del eita va na plenitude c -
nica do drama es panhol bar roco. Apenas o ab -
solutamente essencial dever ia ser mostrado no
palco , declarou Racine no prefc io ao Mithri-
dare.
A coe ro auto -imposta de linguagem e
lugar da trag die classique, qual mesmo Vol-
taire ainda se se ntia obrigado, tinha seu co n-
traponto na estilizao del iberada do mundo e
da imagem humana, que s ela parecia apro-
priada exigncia tica. "Doravante, as per-
sonagens do palco clssico francs so atrela-
das como trabalhadores da emprei tada ao es-
quema de tempo da ao e, acorrentadas es-
taca de suas prprias crises , devem deixar sua
alma nua" (Karl Vossler).
Em que st es tcni cas, Cornei lle sempre
se submeteu ao si stema do palc o barroco. Ape-
sar de toda a sua atrevida irregularidade, mes-
mo Le Cid atm-se ao prin cpio barroco do
palco frontal e posterior. O pal cio imperi al
ao fundo permanece constante, enquanto a pl a-
taf orma livre sua frente perm ite Iodas as
mudanas necessrias de cena. "Os j uri sta s
admitem cer tas fic es de lei", Corneille es-
creveu em seu di scurso sob re as trs unidades
aristotlicas, "c eu pretendo seguir seu exemplo
e introduzir cenas fices de teatro, de maneira
346
H s t ri u Il fltlld illl d o TClItro
a criar um lugar no palco que no seja nem o
quart o de Clepatra, nem o de Rodogune na pea
com ttul o, nem o de Focas, Leontina ou
Pulqu rio em Heraclit us (Hcniclio) , mas um
espao sobre o qual estes difer ente s aposentos
se abram.."
Tant o as figur as dr amticas de Co rneille
como as de Racine foram domi nadas pela sun-
tuosidade dos figur inos barr ocos. Entravamem
sapatos de crinolina e co m fivel as, Pol yeucto
tir ava o chapu emplumado para rezar. e ser
pre ciso Diderot par a que algum enco ntre en-
sejo para louvar uma atriz - Mlle Clai ron -
pel a tentativa de represent ar reali sti camente o
desespero . Alm disso, na poca da tragdia
cl ssi ca francesa, ganhou terreno o hbit o no-
ci vo de dar a espectadores dispost os a pagar
lugares privil egiados no palc o, um abuso do
qual ningum antes de Volt air e conseguiu se
livrar.
Jean Racine , filho de um advogado e dis-
cpulo dos janseni stus de Port-Royal, deve seus
primeiros sucessos no pa lco - La Thebcde (A
Tebaida ) em 1664 e Al exandre le Grand (Ale-
xa ndre, o Gr ande) cm 1665 - a um empres-
rio teatr al e colega dr amaturgo cujo nome co-
nheceu uma subi da met er ica como o do pr-
pri o Racine: Molire. Controvrsia s pessoais
e rivalid ades pelos favores da atriz Du Parc le-
vara m Racine a entregar s ua Andromaque
(Andrmaca) e os dra ma s subsequentes aos
r ivais de Mol ire , a companhia do Htel de
Bourgogne. Foi aqui, no vene rvel e ancestral
bero da tradi o teatral de Paris, que o gran-
de estilo declamatrio da trag di classique
se de senvolveu. Este foi o solo no qual se en-
rai zou o "s ublime ai!" que Racin e ex igia de
suas personagens em um gr ito metri camente
temper ado. Racine no via a regr a aristotlica
da s trs unid ades como uma impos io rida.
formal , a ser ace ita de m vontade - mas como
uma estrita concepo dra ma trgica que o
pressuposto necessrio para a intensidade psi -
colgica.
O conflito de conscinci a de Berenice. o
tormento dalrna em Mit hridate. ambos decla-
mados em grandes e arioso s monlogos, difi -
cil mente requ er iam algum cenrio. At hoje
fasc inam qualquer freq entador de tea tros em
Pari s. preservados das agr ura s do tempo como
estu, no grandiloqe nte es tilo da Co mdie
O Ba rr o co
Fr anai se. Nenhuma outra ln gu a, nenhum
outro dramaturgo, j amai s fez o met ro alexan-
drino obt er poder t o maj est oso.
Em sele prodi giosas tragd ias, co ntando -
se de Andromaqu e a Ph dre (Fedra) , Racin e
percorre a gama de sua ex peri ncia moral e
artstica. Sua admisso Acad rnie Fran aise
re foro u o se u prestgi o pblico, mas sua
autoconfiana foi minad a por viole ntos atritos
com os janseni st as, qu e det estavam o teatro.
Aps uma intriga de co rte que rest ringiu sen-
sivelmente o sucesso de sua Ph dre, pel a apr e-
sentao de uma pea rival de mesmo ttul o, e
aps seu rompimento com a at riz Mlle de
Champmesl , ele se afa stou do teatro por doze
anos.
Um novo int er esse por questes religio-
sas reconciliou Ra ci ne co m Port -Royal. A ati-
va Madame de Maintenon, esposa morgantica
do envelhecido Roi Sol eil , co nseguiu finalmen-
te reconquistar Ra cin e para o palco. Em 1689,
ele escreveu a tra gdi a bblica Esther para a
Maison de Saint Cyr , pen si on ato fundado por
Mme De Mai ntenon para a educao de meni-
nas pobres da nobreza arr uinada, e, doi s anos
mai s tarde , At ha lie , uma tragd ia baseada no
Livro dos Reis. co m um pa pel- ttulo que,
poca de Volta ire, ainda era co biado pel as
atrizes trgicas.
Ao longo de poucas dcadas. a rragdie
classique havia erguido a fama do teatro bar-
roco franc s a alt ur as liter r ias estontea ntes ,
que levou tamb m Moli ere a arr iscar sua pena
no gnero . Em 1661 el e es creve u um dr ama
herico chamado D OII Garcia de Navarre ou
Le Prince Jal oux. A pea teve urna pobre car-
reira de sete apresentaes e ensinou-lhe que
sua fora residi a e m outro campo.
No mesmo ano, 1661 , o rei cedeu a Moli -
re e sua co mpa nhia o teatro do Pala is Royal ,
outrora o Pal ai s Cardina l de Richel ieu, em re-
conhecimento aos lon gos e duros esforos a
servio do teatro. Fo i aqui que a contraparte e
pendam da tragedic classi que dese nvolveu-se
como a hautc comcdic, a co mdia clssica fran-
cesa. Seu gnio sobe rano foi Moli ere . Desde
1643, Jean Bapti st e Po q ueli n, filh o de um
tapeceiro c valete real, disc pul o dos j esutas e
estuda nte de di reit o graduado, dedicava -se ao
teatro. Fun dou a co mpanhia L' Illustrc Th tre
(O Teatro Ilu stre ) junt ament e co m a atr iz
Mad el eine Bjart e ass umiu o nome artstico
de Mol ire. Represent ou num sa lo perto da
Porte de Ni sle e em uma quadra de j ogo de
p la , foi det ido por d vid a em uma pr iso para
deved ores e mant eve viva sua pai xo pel o tea-
tro ao longo de anos de pobreza enquanto ex-
cur sio nava pel as provn ci as.
Em 24 de outubro de 1658, ve io a grande
opo rtunidade com a qual qualquer dir et or de
co mpanhia sonhava: Mol i re e seu conj unto
apresentaram-se no Lou vre diante do rei . O
program a co nsistia na Nicom de de Co rne illc,
seguida da far sa do pr prio Moli re, Le D pit
Amoureux (A Decepo Amorosa). A pea
principal redundou em um fra casso, mas a di-
ve rt ida intriga que se lhe seguiu e seu autor - e
int rpr et e - foram caloros amente aplaudidos
por Lu s XIV e sua cor te.
A feliz ocasio trouxe uma conseq ncia.
O j ovem rei , ainda sob a tutela de Mazarin nas
qu est es de Estado, agradou-se em ser patrono
do teatro. Mol ire e sua troupe tornaram-se
um a co mpanhia de atores oficiais de "Mon-
sie ur de frre unique du Roi " , e receberam pri-
mei ro o pal co do Petit Bourbon e mai s tarde,
em 1661 , o Pal ais Royal. So b o so l da benevo-
ln cia real , Mol ire co meou a colaborar co m
Lull y, e j untos criaram a comedie- ballet par a
o divert imento da sociedade da cort e. O "esprit
ga ulois " (esp rito ga uls) co m o qu al Moli re
co ntrib ua par a essas bri ncadei ras de co me -
dian tes serviu de abe rt ura para a arte elevada
da comdia de carter.
Em cole des Ma ris (Esc ola de Mar idos),
em 1661 , Moli re extrai seu tema do Adelphi
de Ter ncio, mas um ano depois, na pea que
lhe faz par L'cole des Fenun es (Escola de Mu-
lher es), ele usou co mo model o e co nfio u in-
teirament e em sua pr pria perspi ccia, quant o
cr tica de poca. Durant e dez criat ivos anos,
numa obra-pri ma aps outra, Moli re decl a-
rou guerra aos hipcr itas, fanti co s e invej o-
so s, ou a quem mai s a carapua servisse . Dois
an os ant es, em 1659, Paris inteira havi a per ce-
bido, em Les Prccieuses Ridicules (As Pre cio-
sas Ri dcul as), a stira subjacente ao af et ado
c rc ulo liter r io do Htel de Rambouillet. Ele
no poup ou nem sequer seus atores rivai s do
Ht el de Bou rgogne, como de scobriram em
166 3 por ocasto do L'Impromptu de Versaill es
(O Improviso de Versa illes) .
347
:L E S PRE CIE US E S RIDI CULES
--_.._ ----- - - - . _ . _ - - - - - - - ~ - - - - -- ~
crtica social e moral , mas tambm os desen-
ganos pessoais de Mol ire, O casa mento ins-
tvel comAnnande Bj art, filha de Madeleine,
solapou sua sade. A proposta de eleio para
a Acadmie Fra naise no foi adi ante, porque
significaria aba ndonar o palco, e isto pareci a-
lhe um preo alto demais pela honra. Era to
apa ixonado co mo co mediante quant o co mo
comed igrafo. Como autor, escrevia para o
ator; como ator, guiava a pena do autor.
Molire foi profunda mente influenciado
pela comdie italienne, Baseava sua atua o
emTi berio Fiorilli , o famoso Scararnuccia; sua
troupe e os itali anos representaram durant e um
per odo o mesmo teat ro, e a linhagem de tipos
da Commedia de//'art e forneceram-lhe co n-
tornos, e s vezes at nomes, de suas prpri as
persona gens. Moli re, porm, o cri ador da co-
mdia de carac teres, deu-lhes uma vida nova,
individual. Colocou no palco figuras que era m
mais que meros pret ext os para situaes en-
349
19. Cenas de Le Bourgeos Gcnti ltionnnc de Moli rc e Lcs Pr c cuses Ridi cul cs. Gravura em cobre de P. Hrissart .
subseqente edio de Paris de 1682.
A competio era aguda, e no foi fcil
para a co mpanhia de Mol irc ma nter-se em
face das du as comprovadas casas teat rais, o
Ht el de Bourgogne, onde a grande tragdia
clssica imperava, e o Th atre du Marai s, co m
suas co mdias recreat ivas. Em ad io, havia a
com die italienne ; adaptao fra ncesa da
Commedia de //'a rte, tambm autorizada a re-
present ar quatro vezes por semana.
Moli re exps-se hostilidade dos crcu-
los cleri cai s e literri os. Os ataques mais vio-
lent os foram diri gidos a Le Tartuffe (O Tartu-
fo). Intri gas de corte e rivai s, ms-ln guas e
irrit adas reaes dos ofendidos result ar am na
proibi o de aprese nt-lo ao pbli co; s de-
poi s de vinte an os de um cabo-de-gue rra
exas perante conseguiu Moli re mostrar a pea
s plat i as em geral.
A profunda e vulnervel tristeza por trs
do Tartufo, do Misantropo, do Avarento e tam-
bm do Doente Imaginrio refl ete sem dvida
O Barroco
18. Sala de teatro do Palais Cardinal em Paris - os convidados de honra. incluindo o Cardeal Riche lieu. o Rei Lus XIII,
a Rainha e o De lfim. Gravura de Lochon. anterior a 1642. segundo uma grisaille (pintura escura ou cinzenta) agora no
Muse dcs Arts Dcoratifs em Paris.
, I
, ~
I;
I.
I
20. Cena de O Doente Imagin rio de Mol ire, Pintura de Cornelius Tro ost , 1748 (Berlim. Stanicbe Mu seen).
2 1. O Doente Imaginr io de Mofierc cm Versailles. 1674. Gravura cm co bre de Lc Pautre, 1676.
22. Lcs Comedens Frana s. Pintura de Ant oine Watteau. c. 1720 (Nova York, Met ropolit an Museurn of Art ).
graadas. Seu Scapino e seu Sgan arell o, o
guardio Arnolfo em Escola de MI/1I1eres c a
piada do cli ster no final de O Doent e Imagi -
nrio no negam sua origem na COII/II/edia
dell 'arte, mas revelam maior diferenciao e
sensibilidade. Moli re deu forma literria a
personagens derivados do repert rio de tipos
da pea de improviso.
De inci o, Molire utili zou tambm a
gama de mscar as dos italianos. No papel de
Sganarello, simplesmente escurecia suas so-
brancelhas e bigode, como bem mostrado na
conhecida gravura de Simonin. Algumas per-
sonagens que ele tomou deliberadamente da
commedia , tais como os dois pais em As Ar ti -
manhas de Scapino, ou os filsofos em O Ca-
samento Forado, continuaram em sua troupe,
para surgir com as tradicionais mei as msca-
ras de couro.
Moli rc atuou em mai s de trinta papi s
em suas prpri as peas , at o fatdico dia 17
de feverei ro de 1673, quando, na pele de Argan,
em O Doente Imaginrio, teve um colapso no
palco e morreu.
Sua co mpanhia, agora sem patr o, uniu-
se, sob o atar La Gr ange, ao elenco do Thatre
du Marais, e toda esta nova troupe uniquc
mud ou-se par a o H tel Gunegaud. A pea
apresent ada no espct culo de abertura, em 9
de julho de 1673, foi a obra mais violentamente
atacad a de Mol i re: Le Tartuffe.
Sete anos mais tarde, a Comdie Franaise
nascia, por uma proclamao de Lus XIV, di -
tada num campo militar em Charleville. Este
famoso document o, que traz a data de 13 de
agosto de 1630 , e contra- assin ad o por
Colbert, decla ra:
Sua Maj estade dec idiu unir os do is grupos de a IO -
res estabelecidos no Htct de Bourzoane e na Rue de
Gucnegau.j e providenciar para que ~ o "' f uw ro prossigam
como um ~ empreendi mento, com o objetivo de chegar
a atua cs ai nda mais perfei tas.
La Grang e foi nomeado diretor das duas
companhi as unidas. A nova Comdie Fran-
aise per maneceu no comeo no H tel Gune-
gaud. com a comdia predominando no vero
e a tragd ia no inverno. Mas a prot eo do rei
no conseguiu evitar que os profe ssore s do vi -
zinho Co llege des Quatre-Nations (fundado
por Mazarin) reclamassem que o zelo acad-
352
l ist ri a l\t Ulll f i a f </0 Te u t ro .
mico de seus es tuda ntes estava sendo posto em
risco pelos "costumes livres" dos Comedian-
tes. La Grange tran sfer iu ent o sua troupe para
o leu de Paume de I' t oil e desocupado, uma
quadra de pl a com uma rea es paosa o sufi-
ciente para abri gar o palco e uma platia para
mil e quinhentas pessoas, construda pelo arqui-
teta Franois d' Orbay. O novo teat ro foi inau-
gurado em 1689 e logo se tornou o centro dos
crculos literri o, artstico e galante de Paris.
mai s ou menos desta poca, tambm,
que procedem os primeiros registros de paga-
mento de percent agem na Comdie Franai se.
Eles rezam que ao autor cabia um nono da re-
ceita, e concedi am em contrapart ida ao elenco
o direito de riscar do programa uma pea que,
abaixo de um cert o per centual mnimo de cai-
xa, no ma is rentvel. A quota mnima foi
originalmente fixada em trez ent os livres no ve-
ro e quinhent os no inverno, sendo mais de
uma vez subseqentemente alter ada e aumen-
tada. Os dramaturgos procur avam melhorar seu
status legal. Em 177 5 Beaumarchai s pediu
vistas dos bal an cet es de bilheteri a quando a
Comdie Fran ai se qui s tirar do repertrio O
Barbeiro de Sev ilha , de sua autoria. Ele fun-
dou a Socie t des Auteurs Dramatiques (So -
ciedade dos Autores Dramticos), a primeir a
assoc iao par a a pr ot e o dos direitos dos
autores da Eu ropa. Ma s ela foi arrastada pel a
Revoluo Francesa, e mai s uma vez a nica
oportunidade de o autor prot eger-se. tanto fi-
nanceira como art isticamente, era o contato
pessoal com o teatro.
A mort e de Lus XIV, em 1717, marcou o
fim de uma er a. Os Co mdie ns du Roi esta-
vam estabelecid os em Pari s em seu prprio
teat ro, do qual nen huma calnia maldosa con-
seguiu desaloj-los. porm a esca ssez de es -
pao forou- os n migrar duas gera es mais
tarde.
A Sall e Richeli eu , onde a Co m die Fran -
aise ainda hoj e representa, deve sua destina-
o a uma orde m emitida por Napoleo em
1812, s port as de Moscou - uma anal ogia ex-
traordinri a com o edito de fund ao que Lu s
XIV expediu no ac ampame nto de Cha rle -
ville. A Comdi c Fra naise ainda rel embra
com org ulho es te "a to que redunda na fama
eterna de Napoleo que. mesmo no campo de
batalha, e corno Lus XIV antes dele. se preo-
O Bcnroc o
cupava co m o destino de seus comediantes".
No poderiam desej ar melhor lema do que as
to citadas pal avras de Napoleo: "O teatro
francs a glria da Frana, a pera. mera-
mente uma expresso de sua vaidade" .
COMMEDIA D ELL 'ARTE E
T EATRO POPU L AR
Commedia dell'arte - comdi a da habili-
dade. Isto quer dizer arte mimti ca seg undo a
inspira o do moment o, improvisao g il,
rude e burlesca, j ogo teatral primitivo tal como
na Antigidade os atelanos haviam apresenta-
do em se us palcos itinerantes : o gro tesco de
tipos segundo esquemas bsi cos de co nt1itos
humano s, demasiadamente humanos, a ines-
gotvel , infinitament e varivel e, em ltima
anlise , sempre inalterada matria-prima dos
comediantes no grande teatro do mun do. Mas
isto tambm significa domnio art stico dos
meios de expresso do corpo, reser vatri o de
cenas prontas para a apresentao e model os
de situaes , co mbinaes engenhosas, adap-
tao espont nea do gracejo sit uao do mo-
mento.
Quando o conce ito de Conunedia de li'arte
surgiu na Itl ia no comeo do sc ulo XVI , ini-
cia lme nte significava no mais que uma deli-
mitao em face do teatro literri o culto, a
conuncdia erudita. Os atores dellarte eram,
no sentido ori gin al da palavra, artes os de sua
arte. a do teatro . Foram, ao contr rio dos grupos
amadores aca d micos, os primei ros atar es pro-
fi ssionais.
Ti veram por ancest rais os mimos ambu-
lant es. os prestidigit adores e os improvisadores.
Seu impul so imedi ato veio do Camaval. co m os
cortejos mascarados, a stira social dos figuri-
nos de seus bufes, as apre sent aes de n-
meros ac rob ticos e pant omimas. A COI11I11C-
dia de li 'arte estava enraizada na vida do povo,
extraa dela sua inspirao, vivia da improvi-
sao e surgiu em contraposio ao teatro li-
terri o do s humani st as. Em se u li miar e n-
contra -se An gel o Beolco de Pdua, apel idado
II Ruzzante. por causa da personagem do es -
perto ca mpons que criou e int erpret ou . Ele
escreveu peas baseadas na observao da vida
cotidia na no ca mpo, de in cio com resson n-
cia da pea pastor al, ao passo que suas lt i-
mas obras La Pi ovanna e La Vaccar ia so
adaptaes de Pl aut o. " refor mado para vesti r
os vivos".
Ruzzante apres ento u-se pel a primei ra vez
com SeUpequeno grupo em Veneza, durante o
Carnaval de 1520. AlUOU em residncias par-
ticulares, ganhou aces so a crculos erudit os por
intermdio do aba st ado patrcio Alvi se Cor-
naro, a quem conheci a de Pdua, e em 1599
foi cha mado a Ferrara pelo duque Ercole
d'Este. Ruzzante tinha um p no teatro huma-
nista e o outro no teat ro popular. Pela forma
em cinco atas de suas co mdias, ainda pert en-
cia conunedia erudita; mas com seus tipos,
que caracterizava por diferentes dialetos, abriu
a porta para o ext en so campo da Commedia
dell 'arte. Seus ser vos e a gente do campo fa-
lavam o dialeto de Pdu a ou o bergamasco; os
patres, o dialeto veneziano ou o toscano - um
expedi ente desenvolvido mais tarde por Andrea
Calmo.
A fixao de tipos pel o dialeto tornou- se
trao caracterstico da Conuncdia delt 'anc. O
contraste da linguagem , status, sagacidade ou
estupidez de per sonagen s predeterminadas as-
segurava o efeit o cmico . A tipifi cao levava
os int rpre tes a es pecializa r-se numa perso na-
gem em particular, num papel que se lhes a-
justava to perfeit ament e e no qual se movi-
ment avam to naturalmente, que no havia
necessidade de Ulll texto teatral consol idado.
Bastava combinar, antes do espetculo, o pla-
no de ao: intri ga, desenvolviment o e solu-
o . Os detalhes eram dei xado s ao sabor do
momento - todas as piadas e chistes ao alcan-
ce da mo, os trocadilhos, os mal -entendidos,
j ogos de prestidi git ao e brincadeiras pant o-
mmicas que sus tentaram os improvisadores
por sc ulos . Agor a entrava m na Conunedia
dell 'arte como lazzi , ou sej a, truques pr-ar-
mados ou repertr io de tramas. Os lazzi adqui-
riram uma funo dr amatrgica e tornaram-se
as principais atraes de determinados ate res.
O lazro da mosca , hoje, a obra -prima pan-
tommi ca de Arlecchino, Servitore di DI/e
Padroni (Arlequim, Se rvidor de Dois Amos).
na encenao de Giorgio Strehler da obra de
Go ldoni no Piccol o Teat ro di Mil ano. E quan-
do Charles Chapl in, em silencioso esquecimen-
to de si mesmo, come os cor des dos sa patos
.153
23. Personagens da Commeda detanc: Pant aleo. ti
jo vem heri (ou Ca pitano ) e Zanni. guas-fone s de
Jacques Calku. Horena, 1619,
O 8 (/1"'-0 ("0
em vez de macarro, est saudando o brilho
do s l a ~ da Commcdia dcllartr, da mesma
forma qu e o ator qu e fi nge ler um ca belo na
boca - e por isso elogiado por Sta nisl vs ki.
Na represent ao de qu alquer pea, os ato-
res seg uiam o scenario, ou soggeto (rot eiro),
do qual duas cpias eram afixad as atrs do pal-
co , uma di reita e out ra esquerda, par a in-
formar os participantes do c urso da ao c da
sequncia de ce nas ,
O esteio do eleme nto c mico era m os Zanni,
as figuras c servos provenient es de B rga mo , (As
variantes de seu nome, Zanno ni, Zan ou Sanni
su gerem tr at ar -se de uma f(\lima do dia leto
veneziano para Gi ovanni: outra teo ria, que faz
remontar a etimo logia at a Autig idadc, liga-o
pa lavra grega S W lI lO S , bobo , e ao latim sanni o,
pantomimciro.) O Zanni gera lmente aparece em
parelha. esperto e malicioso, ou bonacho e
est pido c, em ambos os casos, gluto, Usa uma
mei a mscara feita de co uro, bar ba descuidada,
um chapu de abas largas e , no cinto de suas
ca las largas e bufantes, uma ada ga de madeir a
sem fio, Os sucessores de Zanni constituem le-
gio - Br ighell a c Ar lec chi no , Tu ffal dino,
Trivellino, Coviello, Mezzet iuo, Fritell ino e
Pedrolino. So Hanswu rst . Pickle-herring e
Stock fish, e lodos os iuumer.i vei s tipos locais
de bufes do campo ou da cidade, O Pulcinclla
de Accrra transformou-se cm Punch na Ingla-
terra , Pol ichin ell e na Fran a . Pe tru shka na
Rss ia, c .ilgurnade suas caractersticas sobre-
vivem no Kasperl alemo.
O alvo e o ohjc to dos j og os c micos s:io os
tipos pas sivos , sempre t rapaceados, qu e se tor -
nam caricaturas gro tescas de si mesm os. So
encabeados por dois pa p is pat ernos, Pant a-
lon e e Dotr ore. Pant all one, o senil. rico e des -
confiado mer cador de Ve neza, o Signor Mag-
nifi co com o cavanhaque hr an co e o mant o
negro so bre o ca saco ve rmel ho , possui ou uma
filh a caxadoira, ou atrai a goza\'o por ser ele
prprio um cortej ador tardi o. Seu criado Zanni
o prec ipita em aventura s, nas quai s Pant alone
leva a pior. Zanni, na melhor das hipteses, ga -
Ilha alguma coisa para co mer, porm, co m mais
freq u ncia . leva uma sonora surra.
O Douorc de Bolon ha , luz erudita de to-
das as facul dades, usa uma Ioga pr et a com go la
br an ca, capuz pret o apert ado sob um chapu
pr et o com as abas largas viradas para cima.
Vomita c itae s em latim, cria uma confuso
desesperadora, toma as Graas pel as Parc as e
hr ilh a pela mai s cndida lgi ca - por exe m-
plo: " Um navio que no est no mar, obv ia-
mente est no porto" ,
O terce iro na liga dos enganados o Ca-
pitano, um tip o miles glori osus , um fanfarr o
pusi lnime e um covarde quando as coisas se
co mplica m, Originalment e uma caricat ur a de
o fic ial espanhol, torn ou -se em seguida un iver -
salmente inter cambi vel como va lento e fa-
lador. O mais conhecido representante dest a
figura foi o at or France sco Andreini do grupo
dos Co mic i Gelosi. El e publicou sua s i mpro-
visa es c nicas em 1624 . num livro intitul ado
Lc Bravu rc dei Capitan Spa vcnto (As Bravu -
ras do Capito Spavento) . Um dos sucess or es
do Ca pitano foi o Sca rumuccia, q ue fic o u fa-
moso e m toda a Euro pa na pessoa de Ti her io
Fiorill i. o astro da comedie italicnnc em Pari s,
professor de Moli ere e cele brado como " o
maior dos palhaos" e "o gra nde excnt rico
do teat ro cmico" ,
O filh o e a filha do Dottore ou Pant a lone.
os ama ntes (innamorati v. corte sos e a lcovi -
teiras pa rtic ipavam do elenc o de per sonagen s,
se neces sri o. Estes tipos eram men os fi xa dos
- mai s de fi nida , tal vez. fosse a criada Colom-
bi na ou Smeraldina, como par ceira . amante ou
es po sa de Arlecc hino - c e m ge ra l no usa vam
m.iscara s.
Uma da s ma is fa mosas int rpret c s da
Conun cdin dcl l 'ortc foi Isabell a And re ini , cs-
posa do ato l' Francesco Andrei ni. Era - como
larga ment e estampado na p,gi na-t t ulo da
ed io de s uas Cortas por seu mar ido - intc-
gra lHe da Accad ernia dei Signo ri lnt ent i. rece-
hia so ne tos de Tasso c respondi a-lhe em ve r-
sos igualmente bem-feitos . Seu papel de maior
hrilho fo i em Lo Parzia, um tour de [orce
ling fstico . " Bel/a di nome, bclla di corpo c
bcllissima d' an imo" - "bela no nome. bel a de
co rpo e belssima em esprito" - assim era e la
aclamada na Itl ia. Qu ando, no sculo XVIII,
Bust elli cr iou as suas figuras da Conimcdia
drll 'ortc e m porce lana de Nymphenb urg . deu
o nome de Isabella ;1mais gra c iosa das esta-
t uc tas femininas.
Na metade do sculo XVI. a Conmu-dia
dr ll 'arte co meo u a expandir-se para os pa-
scs ao no rte dos Alpes . Os comed iantes it ali a-
355
O prncipe herdeiro Wilhelm e sua noiva le-
varam com eles os comediantes para o Castelo
de Trausnitz, em Landshut, onde, por dez anos,
" muito aficionados a diverses e co isas es-
trangeiras", deleitaram-se em ser os patronos de-
dicados dos atores nesta alegre e festiva corte.
Final mente, ordens paternas de Mu nique deter-
minaram medidas de economia e deram fim
prosperidade dos comediantes. Desta forma, o
prncipe herdeiro Wilhelm viu-se obrigado a dis-
pensar os intrpretes da conunedia; uma coisa.
porm, ele logrou preservar: um retrato, em ta-
manho natural, de seus atores. Esta pintura de
Alessandro Scalzi, conhecido como Padovano,
guarnecia totalmente a "escadaria dos palhaos"
no Castelo de Trausnitz, da adega ao quarto an-
dar. com afrescos ilusionistas mostrando vari a-
e s dos tipos bsicos e situaes da Conunedia
deli 'arte. Este o seu primeiro testemunho pie-
t rico ao norte dos Alpes. Correspondem s des-
cries de Massimo Troiano, mas no so cpia
do espetculo de Munique.
Afrescos das per sonagens da Conuncdia
dellarte, pint ados por Lederer em 1748 e ar-
tist icament e mais ricos e mais festi vos, podem
ser encontrados no Cas telo de Kruml ov na Bo-
mia. Vinte anos mais tarde, a famr1i a Schwar-
ze nberg, ent o vivendo em Kru mlov, contra-
tou os pintores Wetschel e Merkel para deco-
rar o teatro do castelo com um novo e enge-
nhoso cenrio de bastidores alt ernados.
Pari s afrancesou a Conuncdia deli 'ar/e,
que se tomou a comdic italicnne, adorou a ln-
gua do pas anfitrio e adaptou-se sua exi-
gncia de "maior plausibilidade, regularidade
e dignidade", como coloca J. B. Du Bos. En-
26. Cenas da comedir italienn e na poca de Henri que III . Sries de xilograv urus. pub licadas por Fossard. Paris c.
1575 (da coleo Recuei ! Fossard, Drot tningholm Theater Muscum).
USc;;m... H OIJ"h..
nos apar eceram em Nrdliugen em 1549, e
logo depoi s em Nurember g, Estr asburgo,
Stuttgart, em todo o sul da Al emanha, e mai s
particularment e em Linz e Viena. Os Cornici
Gelosi, os Confidenti e os Fidelli foramhospi-
taleiramente recebidos na corte de Viena. Em
Munique, onde Orlando di Lasso regia a or-
questra da corte, a Conunedia dell 'arte j em
1568 granjeara a maior popularidade. Neste
ano o duque bvaro Albrecht V organizou um
programa de festividad es que durou vrias se-
manas, para comemorar o casamento de seu
filho Wilhelm com Renata de Lorraine. O pro-
grama incluiu uma srie de torneios, concer-
tos e apresent aes teatrai s, e fechou-se, em 7
de maro, com uma " Conunedia ali 'improviso
alia italiana". Orlando di Lasso dirigiu a en-
cenao e fez o pape l de Pantalone. A ao
compunha-se de elementos do Carnaval burles-
co veneziano. Correspondia aos soggetti habi -
tuais e est descrita em detalhe no livro do festi-
val, escrito por Massimo Troiano para o noivo
e prncipe herdeiro Wilhel m.
A trama pode ser considerada como tpi-
ca da Conunedia dell 'orte. Um rico veneziano
entra e exalta as alegrias do amor. Recebe uma
carta que o afasta instantaneamente da com-
panhia da bela cortes. Pant alone e seu servo
Zanni cortej am a beldade abandonada. Um
nobre espanhol aparece e emerge como um
rival preferencial. Cenas de equ ivocadas iden-
tidades e pancadaria, serenatas trocada, e due-
los qui xotescos precipit am-se umas sobre as
outras. Tudo ter mi na em reconciliao pacfi -
ca. e ateres assim como espectadores partici -
pam de uma dana italian a.
O Ba rr o c o
24. Commedia de l'a rte e Carn aval na Piazza Navona cm Roma. Tendas de ateres ambulantes; direita. j unto a fonte,
um cantor de baladas macabras ; deta lhe de uma gravura em co bre de Petrus Schenk, Amsterd. 1708.
25. Conunedia delt 'artc com figuras simplrias de campone ses. Prximo ;IS criadas corn mscaras, dir eita, um Za nni
e Pantalc o. Pintura annima do s culo XVI IJ (Milo, Mu seu Tea tral all a Scnl.u .
357
tret ant o, a jul gar pela coleo de cenas e di .i-
logos publi cados por volta de 1700 por Eva-
risto Gherardi sol> o ttulo LI.' Thet re Itulicu ,
o co ntrrio estava mai s prximo da verdade .
A com dic itali enne pre stava-se muito bem no
apenas crtica moral ge ral, mas tambm ii
pardia hilariante de se us rivais franceses. Ar -
lequim (um sucess or do Harlequin medieval.
co m a mscara peluda) entrava como Vulcano,
operi sticamente aparelhado num traje alegri-
co; Pierr ot, como Mercrio; Colombina, como
Vnus; arrastavam Pgaso, encarnado na figura
de um burro, e pass avam a apresent ar o
Arlequin Prote (Arlequim Proteu), uma pa-
rdi a da grande tragdia de Racine, B rcnice .
O mote dos atores da com die italiennr
era "Castigai ridendo mores" ("El e cas tiga os
cos tumes pelo ridculo"), quc havi am aprcn-
did o tanto com Moliere quanto Moli re co m
eles.
A comdie italienne atuou, nos anos de
1658-1673, no Petit Bourbon, depois no Htel
Gunegaud, e mudou-se, aps a fuso da tra-
g d ia e co m d ia fr ance sa s na Co m die
Franaisc em 1680, para a sala de cspet culos
do Htel de Bour go gne. No Htel de Bour-
gogne, co m suas venerveis tradi es, viveu
os moment os de sua mai or glria. E aqui, em
1697, ela prpria co rtou o fio de sua vida. Urna
stira insuficientemente di ssimul ada atacando
Mme de Maintenon , a co mdia La Falisse
Prudc (A Falsa Pdi ca), ii maneira de Saint-
Simon, provocou o fechament o instant neo do
teat ro por Lus Xl V. Os comediantes italianos
tiveram de deixar Pari s.
Watt eau regi strou a Partida dos Come-
diantes Itali anos numa tel a, a part ir da qual o
ilustrador Louis Jacob cri ou um souvcnir im-
presso: a ltima revern cia de Mezzetin an tes
de partir, um adeus pesaro so das dama s da
co mpanhia, mulheres assistindo das jan elas
vizinhas, um jovem afixando o decret o real de
proi bio na parede da casa.
Dezenove anos mais tarde , em 1716, os
comdiens italiens estavam de volta a Paris .
Encabeados por Luigi Riccoboni, consuma-
ram a tran sio da pea improvisada para a
escrita. Riccoboni , que ant es, em Veneza e nas
cidades da Lorubardia, fora ativo reformador
da tradio nativa da connncdi italiana. agora
ace itava dramas fran ceses em seu repertrio.
358
H i st r i a MII Ud illJ eo Teat ro.
A pea improvi sada aut ntica , como nos
vel hos tempos, retirou-se para as feiras e, em
Pari s, para II Th tre de La Foire. Ela agora
procurava o seu pbl ico entre o povo. Seus
principais centros eram Sa int-Germain e Saint -
Laurent. De acordo com o esc ri tor dinamarqus
L. Holberg, que esteve em Paris por volta de
1720, pardias "extremamente felizes e fii s"
dos gestos e voze s dos intrpretes franceses
podiam ser vistos neste s palcos. Mas, prosse-
gue ele, prejudicava esse tabl ad o a sua exce s-
siva multiplicao, poi s "ta is pardias eram le-
vadas pela cidade intei ra, nos subrbios, em
todas as praa s pbli cas e palcos " ,
Em un ssono co m o se u incio em Paris,
sem muita adapt ao arts tica especfica, a
Commedia de/I'art e tamb m se dirigiu para o
leste. Em sua forma origina l, ela chegou a Var-
svia, Cracvia, Vilna e Gdan sk. Em 1592, no
Castelo de Cracvia, o "fiel ao original" Zanni,
em triplicara, tomou part e no int ermedii musi-
cai, apresentado na celebrao das npcias de
Sigismundo III e Ana da us tria. Em festivi-
dades em Varsvia, na co rte de Ladisl au IV, a
Commedia dell'artc foi uma da s atra es fa-
vor itas, pois o rei havia vi aj ad o pela Itlia e l:
apreciara o teatro popul ar e improvisado. O
j ogo de tipos de imp roviso era capaz de supe-
rar as limitaes da lngu a, cl asse social e co n-
ven es . Poucas dc adas ma is tarde , a
Commc dia dell 'art e atr avessou o oceano. Em
fever eiro de 1739, os co nvida do s do Mr. Holt 's
Long Room em Nova York puder am apreciar a
primeira pantomima arlequina da qu e se sabe
ter sido apresentada em solo amer icano. Foi
anunci ada como "Uma nova Di verso Pant o-
mmica, com Personagens Grot esca s, chama-
das 'Aventuras de Harlequim e Scararnouch ou
II Espanhol Enganado' :' .
Viena, na poc a o ce lei ro da cult ura da
Europa Central , abrira suas portas Commedia
dcll'arte por volt a de 1570. Os intrpretes dos
"Iazzi estrangeiros", Zanni e seus comparsas,
foram entusiasticament e recebidos; porm,
logo se confrontaram co m um rival nascido em
solo austraco: Hanswurst.
O titereiro Josef Ant on Strantzky destro-
nou Zanni, Arlecchino e Brighella. Criou a fi-
gur a de Hanswurst, o ancestral de muitas ge-
raes de irrcprimveis tip os teatrais popula-
res, chegando at Nestro y e Raimund.
27_Ce na da Connncdia dcli 'uru', por Alcssa udro SL-;II /.O_ch ama do ti p.tdm-;u}\). lI .: se us mur ai s. na esca da ria do.... bobox
no Castelo Tr ausn it z cm L lIltlshu l ( 157XI: 1\1II1:lleo e Za uni fazendo sere nata: ;1janel a. um gato. no lugar da dama
co rteja da.
, r" -ih tidos atrnvex do ;:- 'C Rovnt em Paris. 1670. Aesquerda. (ISUI LI _.'. "ollcction
2R Os Farn'III.I" [rancnis ct italrns, no . ' 'di / '//'tlrte Pintura a nico annima (PaI 1''- Collc
palco, .sozmhas ou em grupos. as pCTSOlla,QCIlS afrnuccx.tdux da Canunc, /(/ i c .
de la Comdic h'all(,;aist').
29. Palcos nas feiras anuais de Pari s: Tb tre de la Foire. na Place Vendme. Este, e ainda Saint-Gerrnain e Saint-
Laurent , deram abrigo Comdie Italienne, a Commcd a de l 'arte afrancesada, aps a interd io real de 1697. Estampa
colorida. sculo XVII.
30. Arlequi n Grand \'1. '0 ;'; Comeai e Nouvcllr, de Fuze licr. ence nada pela Ancien ne Tro upc de la Co m die hali enn c no
palco do Htel de Bourgogne em Paris. provavelmente em 16R7. No papel-ttulo. Domeuico Hiancolelli. o famoso Dou uuique
da troupe , que morreu em 1688. Gravur a de Bonu at , tio Ahnanach de Pari s de 16X8.
3 1. Investidur a do novo Harlequin da Comdic ltaliennc no Htcl de Bourgog ne. aps a mor te de Domcnico Biuucolelfi
(Du ru iniquc ). cuj o sarcfago c a vi va . ao s prantos, podem ser vistos ao fundo, Alma nac h de Pari s para u ano de 16RlJ (de
o. Klinger Dir Comcdie -ltoticunc iII l 'ans nuch de r Sammlung nUl Gherardt. Estrasburgo, 19( 2).
O Barroco
33. Palco com figuras-tipo da COIIZ11Jcdia detane, Agua-forte, frontispcio para o B{/1Ii di Sfessania, de Jacques
Callol, 1622.
Hanswurst de Strantzky anunciava: "Com os
diabos, minha bunda est balanando como ba-
n.ha de porco". E quando o rei da pea indul-
gentemente o perdoa por sua lngua solta, di-
zendo: " preciso levar a bem a tolice dos bo-
bos", Hanswurst replica: 'Tambm penso as-
sim, caro colega".
Mas quanto mais tosca a improvisao,
mais vulgares as piadas e mais obscenos os
assuntos se tornam, mais prximo est o peri-
go da decadncia, da degradao na mera vul-
garidade. Nem a Commedia dell 'arte. nem o
teatro popular foram capazes de evitar esse pe-
rigo. Fossem Zanni, Arlequim ou Hanswurst,
Stockfish ou Pickle Herring - nenhum deles,
no final, teve o poder de dar vida nova a pia-
das gastas. Em Viena, o sucessor de Strantzky.
o jovem Gottfried Prehauser, manteve-se na
altura da esperta malcia; em Leipzig, Hans-
wurst foi expulso, com todas as desonras, do
palco da adorvel Karoline Neuber.
Na Itlia. Goldoni e Gozzi tentaram tra-
zer o teatro popular improvisado para o reino
da literatura. Goldoni reduziu o nmero de ti-
pos cmicos da Commediu deli' arte para qua-
tro ou cinco, e ajustou-os a ambientes solida-
mente estruturados ou comdias de costumes.
Colhia seu material da vida cotidiana de Veneza
Em 1707, no mesmo ano cm que o estu-
dante de odontologia Strantzky era aprovado
em seus "examen dentifraguli dentiumque
medicatoris" na Universidade de Viena, o co-
mediante Stranitzky, co-diretor dos Comedian-
tes Alemes, tirava seu chapu verde e pontu-
do com devoo grotesca no palco do Ballhaus
na Teinfalstrasse. A seus ps rejubilava-se uma
entusiasmada platia suburbana, para quem ele
havia apresentado o prottipo do homenzinho
simples e astuto, na pessoa de Hanswurst, o
campons de Salzburgo que vinha instalar-se
em Viena.
O Hanswurst de Strantzky, nascido da
inventividade teatral individual e alimentada
pela esperteza materna nativa, tornou-se a figu-
ra nuclear do teatro popular austraco. A
Commedia dell'arte foi sua madrinha. Suas ca-
ractersticas extemas eram uma jaqueta verme-
lha curta, calas amarelas, um chapu pontudo
verde e uma gola branca de bufo. Como espe-
cialidade particular, desenvolvia piadas sexuais
e escatolgicas grosseiras, que logo ultrapassa-
ram em crueza seus predecessores italianos.
Quando, por exemplo, o Zanni da Conuncdia
dell'artc, conforme o cenrio pendurado, de-
via representar o "medo" e para isso choramin-
gava: "Oh, meus joelhos esto tremendo", o
32. ~ s Comedicns Ltatiens. Pintura de Antoine Watteau, 1720. No centro da trempe, Pierror ou Gilles ; sua esquerda,
Harlequin com mscara negra. (Washington, National Gallery, Kress Col1ection).
365
34. Tr oupe de saltimbancos num tabl ado erguido
sem cenrios. Um charlato apr egoa Suas mercador i-
as; prximo a d e, um comediante em costume de
Za nni, uma ca ntora co m a la de e dois msi cos.
Bufes nas feiras anua is eram uma forma pri mitiva
da Commcdia de l'ortc, Aqua rela anni ma, do incio
do sculo XVI (Ila mberg, St aatsbibl iothek).
35. Fol ia masca rada co m figu ras de Pulci nella da
Commed a del iurtr, Pintura cm par ede:de Gi ovanni
Domenico Tiepoto ( 11' 26- 179 5), da Vill a Ziani go
(Veneza , Mu sco Ca' Rezzonico )
O Bar roc o
e escreveu O Servidor de Dois Amos par a o
grupo do famoso int rprete de Truffaldino, o
ator Antonio Sa cchi. Com suas peas. Go ldoni
realizou a to tardi a renovao do teatro italia-
no e repetiu o processo de fuso que, um sc u-
lo antes, Mol iere havia efetuado em Paris.
Gozzi rej eit ava a imitao da natureza pre-
gada por Gol doni . Ele negava a necessidade
da comdia de cos tumes e mostra va a magia
mul ticolorida de suas Fiabe , suas comdias de
conto de fadas, que ele povoa va de feiticeiras,
fadas e magos. Em sua violenta controvrsia
com Goldoni, defe ndia o teat ro improvisado,
alegando que Go ldoni o havia maltr at ado. Mas
embora Gozzi desej asse insufl ar vida nova
improvisao, exigia que os intrp retes se man-
tivessem fii s aos textos que escrevia. Por vin-
te e cinco anos, trabalhou em estrita colabor a-
o com o grupo de Sacchi. A admirao pelo
ce lebrado int rprete de Truffaldino, Sacchi,
que viajara at mesmo a Portugal com sua com-
panhi a, era o nico pont o onde Go ldoni e
Gozzi conco rda vam unanimemente. A fora do
tea tro vivo recon cili ou -- e incorporou - as
int ene s opostas destes dois antagonistas e
reformador es.
A herana de Goldoni e Gozzi influiu, por
sobre a fri a razo do Ilumini smo, no teatro po-
pular de Viena do sculo XIX: na figura do
Kasp erl e de Laroche, nas co mdia s parod s-
ricas fabulosas do perodo do Buerl e (peque-
no campons), no grande rein o romntico da
fant asia de Rai mun d e no mundo Biedermeier"
c tico e irn ico de Nestroy.
Em suas obras de j uventude, Goethe de u
eho para Sca pino e para o Dott ore; Ludwig
Tieck convocou Scaramouche. Pierrot . Pantalone
e Truffaldino para a amarga e irnica crtica de
sua poca; Grillparzer tirou suas melancli cas
e sagazes fig ura s de criados do rese rvatrio de
tipos da Conuncdia dell 'artc: Hoffmann esc re-
veu uma su te de bal chamada Arlequino e a
gro tesca e teatral mente jocosa Phan tasi esui -
ckc iII Callots Mani cr (Fantasias Moda de
Callot): Richard Strauss conc ebeu sua Ariadnc
auf Naxos como uma pea improvisada ii ma-
neira itali ana: G rki, no exlio em Capri, inte-
ressou- se pel as improvisa es da Co nuuedia
dcllartc napolit ana: mais tarde. tent ou inflama r
c " Bicdc nucier": estilo IJt'qUl' Il O
a imaginao de Stanislvski com a idia de um
palco de improvisao, no qual os "prprios ato-
res criam as peas" .
A Conunedia dcll 'an c o fermento da mas-
sa azeda do teat ro. Ela se oferece como forma
intemporal de repr esentao sempre e quando o
teatro necessita de uma nova forma de vida e
ameaa paralisar-se nos caminhos batidos da
conveno.
o TEATRO B ARRO CO E SPANHOL
O Dom Quixot e de Cerva ntes encontra um
di a um es tranho ve culo na estr ada. Parece
"mais a barc a de Ca re nte do que um carreto
comum" , e puxado por mula s condu zidas por
um horrvel demni o.
A primeira figu ra qu e Dom Quixote viu [neste estra-
nho veculo] foi a da prpria morte. com rosto humano;
ju nto de la vi nha U111 anj o co m gr andes e pint ad as asas:
dum lado esta va um i mperador, com uma coroa, que pare-
cia de ouro. na cabea: ao" ps da mort e vinha o deus que
chamam Cupido . se m venda nos olhos, mas co m o seu
arco , aljava c seta s: vinha tambm um cavaleiro armado
de ponto cm branco. ruas se m mcn'io. nem ce lada, e em
vez disso um chapu che io de plumas de divers as cores '"-.
Alarmado . Dom Qu ixote barr a o caminho
do carro e pede informaes sobre aquele es-
tranho carregament o. E ouve a resposta .
Se nho r. xom o s c omcdi aru c s da co mpa nhia de
Angulo. o Ma u: rep resc ntumos hoj e, l na alde ia. que
fica atr s da colina , port anto ap s a oitava tio Corpo de
Deus. o au to do Cone da Al ortl!. e havemos de (I repre -
sc nrar cstn tarde naqu el a outra aldeia que daqui se avista:
por estar to prxima , e pa ra pouparmos o trabal ho de
nos de spi rmos e de nos to rnarmos a vestir. co m os
me-anos fatos co m "lHe havem os de entr ar cm ce na d.,
i !Jid.)
o incident e descrit o por Cervantes, que
obviamente co nduz a uma qui xotesca bat alha
com o "demnio" , caracteriza a situao do
teatro espanhol no inc io da era barroca: o espi-
rito resoluto dos come diantes de troupes am-
bulantes. a mist ura da Antiguidade e do cristia-
nismo na ale gor ia de s uas apresentaes, o
Don Quixote, Mi guc ! de Cervantes Saavcdra . t ra
duo de Visconde de Ca stilho e Az evedo, \'01II. Crculo
du Livro.
36 7
tradicional ouropel de seus figurinos c, no me-
nos, o fato de que no necessitavam de grandes
prepara tivos para at uar em mui tos lugares num
mesmo dia, espec ialmente durant e a "tempo-
rada de teatro", que aco nteci a por volta da fes-
ta de Corpus Christi .
O contraste entre a mais alta esfera misteri-
osa da f e a mais primit iva realidade no pre-
j udicava, de maneira nenhuma, a intensidade
do efeito : o milagre da Eucaristia projet a-se
alm do crepsc ulo da ca tedral, sobre as tbuas
rangentes de um palco mambembe. Os atores
ambulantes, ainda situados pelo legislador jun-
to aos ladres e assassi nos, cumprem uma mis-
so dogmtica na pea de Corpus Christi.
A exube rante alegoria do retbulo espa-
nhol repete-se no denso simbo lismo do auto
sacramental, que, ao contrrio dos "mistrios",
diz respei to no representao da Paixo mas
transfigurao simblica do sacramento da
Eucaristia. O fantstico, o metafrico e o espi-
ritual combinam-se, seja na mais modesta pea
teatral, ou no mais suntuoso cortejo barroco.
Ambos deviam serv ir aos prop sitos tanto da
edificao religi osa quanto da propaganda da
Contra -Refor ma. O teatro espanhol, com sua
retrica aguada pelo esprito do conflito cen-
tenri o com o Isl, forneceu a imagem para o
conceito. Vesti u o sacramento da Eucaristia
com o colorido da fbu la. Interpretaes mora-
lizantes haviam removido largamente o "pe-
cado" da heran a es piritual da Renascena.
Mais de quatro sculos se passaram desde que
Bernardo de Morlaix den unciara o int1uxo de
idias da Antigidade na literatura teolgica,
como "beij os indecentes trocados por erudi-
tos cristos com Zeus".
Agora, assi m como os generais espanhis
estavam lutando pelo ouro e os missionrios
jesutas, pelas al mas dos ndios, o teatro tam-
bm no ficava at rs. Lope de Vega, em sua
pea de Corpus Christi, Aral/cana, caracteri -
zou o Filho de Deus como um chefe indgena
sul-americano e, com certeza para impressio-
nar a platia indgena, O fez exibir sua destre-
za muscular na luta e no salto em altura.
Atrs do esconde-esconde espiritual com
seus desnorteadores disfarces, entre tanto, en-
cont rava-se o inv iolado poder da Igrej a e,
como disse uma vez Karl Vossler, "a certeza
muitas veze s de uma insolncia quase jocosa
368
His t r i a Mu n d i al d o Teatro .
do crente em suas relaes com De us" - por
exemplo, quando em El Cabal/e m de Olmedo
(O Cavaleiro de Olmedo), de Lop e de Vega,
uma prost ituta gri salh a ves te o hbito de uma
freira e ensina a urna j ovem da ma da nobreza a
tabuada do amor, ou quand o o mesmo autor
mobil iza a famosa operadora de mi lagres, a
Ma do na de Guada lupe, para promover uma
"cura" miraculosa com a qual uma bela viva
esconde um lapso muito mundano.
Todas essas comdi as foram impressas -
j untamente com os inte rldi os t entremesesy e
loas , or igi nariamente prlogos curtos e, mais
tarde, peas independentes - na poca de sua
apresen tao , e distribudas em centenas de
exemplares, e todas tinh am de pas sar pela cen-
sura da Inquisio. Contant o que todavia os
escritores no se subtrassem ce nsura oficial ,
conseguiam sair-se com falas ma lic iosas so-
bre o clero, as instituies es tatais e at mes-
mo sobre o fanatismo religio so.
As pesqui sas cientficas tm mos trado que
a influncia da Inqui sio na literatura, arte e
teatro foi incrivelmente pequ ena. De qua lquer
maneira, o pulular exub erante da fantasia no
sofreu a menor perda. " No repare Vossa Mer-
c em ninharias, Senh or Dom Qu ixote, nem
queira levar as coi sas tant o risca. No se re-
presentam todos os dia s por a mil comdias
chei as de impropriedades e de disparates, e
com tudo isso elas percorr em felicissimamente
a sua carreira e so escuta das no s com aplau-
sos, mas com admirao')" Ass im me stre Pe-
dro , o titereiro, defende o nonsensc extrava-
ga nte de seu mundo encan tado mouro-cristo.
"Anda para diante, rapaz, e dcixa dizer que,
tendo eu enchido a bolsa, pouco importa que
represe nte mais impropriedades do que tomos
tem o sol." (Manuel de Falia homenageou este
episdio de Dom Quixote em seu adorvel bal
/l Retallw de Maestro Pedro - O Teatro de T-
teres de Mestre Pedro.)
O olhar para a bolsa de dinheiro foi, por
fim, tambm o que aj udou a levar as com-
panhias itinerantes espanholas a locais per-
man entes de atuao na seg unda metade do
sc ulo XVI. As irmandades rel igiosas reco-
nheceram as vantagen s de explorar a an un-
cia do pbl ico com propsit os caridos os. Pu-
nham os ptios de se us hospitai s (corrales )
di sposio da ge nte de teat ro, cuidavam da
O Barroc a
licena local para a apresen tao da pea e,
sej a como orga nizadores ou arr endadores, di-
vidia m os lucros co m co mediantes e autores.
Assim o teatro enco ntrava sua sede, e o
caixa do hospi tal, uma rend a extra. E as auto-
ridades con seguiam co ntrolar os comediantes
sem problemas, mant end o-os dentro da ordem.
Em Mad ri, a Confradia de la Pasi n man teve
esses corrales a partir de 1565, um na Ca lle
deI Sol e outro na Call e dei Prncipe; em 1574
a Confrada de la Soledad abriu seu Corral de
Burguill os. Val ncia tinha um teatro- corral
desde 1583, e em Sevi lha h regi stros de se-
guidas represen taes num CorraI de Dona
Elvira, de 1579 em di ant e.
Por volta desta poca, em Londres, o pal -
co elisa betano comeava a tornar forma; mas,
em co ntrapartida, o teatro-corral espanhol
mantinha seu ca rter provisri o. A era de gran-
de florescncia do drama espanhol, o siglo de
oro, de 1580-1680, ocorreu na modesta estru-
tura de um palco ao ar livre rodeado pelo s mu-
ros das casas , um palc o que podi a ser armado
num dia e desmontado no outro.
O tabl ado erguia-sejunto fachada do p-
tio pavimentado. Uma cortina escondia os ca-
marins dos intrpretes ao mesmo tempo que
servia de pano de fund o para o palco. Os bal-
ces e galerias da frent e da casa formavam lo
alt o dei teatro, o palco superior, que era to
indispensvel quant o o alapo.
As j anelas e ga lerias das casa s vizinhas
serviam de esplndidos ca marotes para as se-
nhoras da platia . enquanto os cava lheiros sen-
tavam-se em fileir as de bancos. No sculo XVII
uma galeria es pec ial s para mulheres (ca -
Zl/ela) foi acrescent ada ao lado.
Ma s os que podiam, e no se furta vam de
faz- lo, con sagra r ou destruir uma pea eram
os niosqueteros, homens do povo que lotavam
a areua. Externavam suas opinies com o po-
der vocal de mosqueteiros, e eram temidos
pelos dramaturgos espanhis no menos do que
o eram os groundl ings pelos colegas autores
na Inglaterra elizabetana.
Foss e nas longnquas encostas dos Pire -
neus, alm do Canal ou. na verdade. em qual-
quer outro lugar ond e existissem palcos ao ar
livre sem instalaes de iluminao, os espe-
tculo s aconteciam iI tard e, ante s de escure-
cer. Nas cidades , as pe as de Corpus Chri sti
muitas vezes ainda uti lizavam os carro es-
pal co do teatro processio nal do fim da Idade
Mdia. Dispostos lateral mente ju nto ao tablado
do co rral, completavam o palco. ou coloca-
do s atrs, serviam de espao interno do cerni-
rio. Alm disso, podiam tambm ser utili za-
do s como vestiri os para os atores.
O mais importante acessrio cnico era uma
escada, que conectava o palco de baixo, o princi-
pal e o superior. Sua indisfarada visibilidade
no prejudi cava de modo nenhum a magia do
sobrenatural. Em data to tardia quanto 1675,
Marie-Cath rine d' Aul noy, viajante francesa na
Espa nha e autora de uma das mai s import antes
e divertidas descri es do teatro-corra/, escre-
veu de Madr i: "Na cena em que Aline conjura
os demnios, estes sobem do inferno assaz con-
fort avelmente por meio de escadas" .
Ma s o teatro es panhol barroco estava di-
ret ament e ligado trad io do medievo tardi o
no somente por suas tcnicas de representa-
o, mas tambm por se us temas. Quando Lope
de Vega, aos trinta anos, principiou a escrever
para o palc o em 1575, teve, de certo modo,
" de simplesmente abrir as comportas da repre-
sa". A riqueza contida nas epopias e roman-
ces, a histria nacional. mi tos e lendas supri-
ram-no de materia l temtico. El e encontrou,
co mo coloca Grillparze r em se u belo poema,
para ludo I.) que a humanidade de sde se mpre havia cxperi -
ment ado. uma P .l !JVI";l , tuna ima gem, tuna rima e Hill fi nal .
Por quarent a anos, Lope de Vega foi o so-
beran o incont estvel do palco espanhol. Seus
contemporneos chamavam-no "Monstruo de
la Naturaieza" (Monstro da Na tureza) e "Fenix
de los lngenios" (Fuix dos Engenhos). Ele pro-
duzi u nada menos que mil e quinhentas obras
dra mtic as, das quais quinhen tas, aproximada-
mente, es to conservadas, incluindo peas para
o Co rpus Christi, comdias e comedias de capa
y espada . Por trs da doida alegr ia da infatig-
vel esc ritura de assent amento, encontra-se, po-
rm, semp re, em Lope de Vega, a consc inci a
de sua pertena naci onal. J em urna de suas
primeiras obras, Jorge Toledano, exaltava a co-
ragem e () orgulho es panhis: "Ac ho es tranho
que Alexandre sej a na tural da Maced nia, e
no da Espanha".
Nas assim chamadas peas de honra, um
irmo ou pai vinga-se da virt ude ultrajada de
369
uma donzela; as de capa e espada so ricas em
vivos duelos verbais e de armas, intriga s sutil-
mente urdidas, dissimulaes. e raramente dis-
pensam umservo esperto e confidente (gracio-
so) como figura de contraste cmico.
Nas pegadas da "fnix" radiante que era
Lope de Vega trilhava o mon ge merc edrio
Gabriel Tllez, que comeou a escr ever peas
em 1624 e as publicou sob o pseudnimo de
Tirso de Molina. Assumiu a tcnic a teatral de
Lopc de Vega e triunfou pelo cuidadoso desen-
volvimento psicolgico de suas personagens. Es-
pecialistas em Tirso dizem que o confessionrio
aguou o seu conhecimento da natureza huma-
na. Uma de suas peas mais brilhantes Don
Gil de las Calzas Verdes (Dom Gil dos Cales
Verdes) - na verdade, Dona Diana disfarada,
uma jovem adorvel e inteligente que resoluta-
mente desafia a educao convencional femini-
na e sai em busca de seu noivo infiel.
Com El Burlador de Sevilla (O Burl ador
de Sevilha), pea que retom a duas velhas sagas
espanholas, Tirso de Molina troux e pela pri-
mei ra vez a figura de Don Juan Tenorio para o
palc o. Ele seria o prottipo de muitos suces-
sores - do scenari o da Commedi a dell 'arte ao
Dali Juan de Moli re, do Don Giovann i de
Mozart a DOII Juan, ou o Amo r ii Geometria
de Max Frisch. E a elegante mxima de Tirso
de Molina, "a misericrdia de Deus adapt a-se
nossa natureza e a enobrece sem destru-l a",
encontra eco na epgrafe de A Sapatilha de Cc-
tim de Claudel: "Deus escreve certo mesmo
que por linhas tortas". Com seu subttulo "dra-
ma espanhol em quatro dias", Claudel retoma
o esquema formal do teat ro barroco espanhol.
Dividia as peas no em aros, mas, sim, em
j ornadas de um dia, o que forneci a a possibi-
lidade ilimit ada para a troca alternada atravs
dos tempos e dos espaos, e deixava um cam-
po florido ii poesia , que nele vicejou em luxu-
riantes entrel aamentos de liri smo, aventura,
burle sco e misticismo.
A grandiosidade do drama barroco espa-
nhol est na fora da palavra poti ca. Embora
modesto, o palco-coI Tai era suficiente. Alguns
acess rios cnicos, um palco superior e um
alap o era tudo de que se necessit ava; todo o
rest o - a atmosfera sugerida pela iluminao.
a imagina o cnica e a troca de cenrio - era
criado pela palavra falad a. De que out ra for-
370
Hi s t ria MUHe/i al do Tc n t ro
ma teria sid o possvel encenar uma pea como
Las Mocedades dei Cid - a mai or obra de
Guill n de Castro, e modelo para o EI Cid de
Corne ille - um drama pico com tamanha ri-
queza de locaes? (O teatro cl ssico francs
resol veu o problema com o sistema do palco
longo e do curto. O fundo do palco exibia o
pal ci o do rei, a boca de cena era essencial-
ment e neutra e acomodava as mudanas de
cena. ) Um segundo contemporneo de Tirso
de Molina, Juan Ruiz de Alarc n, foi o ini cia-
dor da comdia de costumes na Es panha. Sua
principal obra. La Verdad Sos pecltosa (A Ver-
dad e Suspe ita) tornou-se um sucess o perene
no palco, graas adaptao de Goldoni e da
ado o anterior do terna por Corneille cm seu
Le Menteur (O Mentiroso, 1644).
Co m o desenrol ar do sculo XVII, as avan-
adas tcnica s da transformao c nica barro-
cas, ento comuns nos teatros das cort es de
toda a Europa, apar eceram tambm na Espa-
nha. O arq uitet o florentino Cos irno Lotti ins-
talou um teatro na ala leste da residnci a real
de vero . Buen Reti ro. a leste de Madri . e seus
disp ositivos tcnicos eram comparveis aos de
Florena e Viena. A par ede de fundo podia
abrir-se para mostrar a vista do j ardim. Lope
de Vega, no entanto. no se agradou das artes
do mago Lotti . Quando, em 162'J, sua La Sei-
va sin Amor (A Sel va sem Amor) foi enc enada
diante da corte no palcio de Zarzue la com um
rico ce n rio de Lott i, ele ficou desa pont ado.
" Meus versos eram a nfima part e de tudo".
di sse. " Diante do esplendor visual do ce nrio
de Lotti. o sentido da audi o teve de ret irar-
se: ' O velho Lope de Vega achou difcil ent re-
gar- se ao moderno "varal para rou pas e pr ega-
dor es" em que o teatro estava se des integran-
do. Seu corao pertencia ao despretensio so
palco- corraI, onde a fantasia da linguagem e a
sagacidade verbal reinavam supremas.
Porm. assim corno na Itli a, na Frana e
por toda a Europa do barroco. a sociedade da
cort e deleit ava-se com os elabora dos mccauis-
mos do palco de transforma o dos bastidores
laterai s. Os sucessores de Lotti . Bacci o dei
Bianco e Francesco Ricci cuidaram de que os
figurinos no palco no fossem menos suntuo-
sos do que os trajes de veludo e brocado da
plat ia. e de que as palavra s. falad as ou ca nta-
das. foss em di stribudas em uma "armao"
36 . Teatro co rral espanhol do sculo XVII: apresentao no Corr aI dei Prncipe, Madri. Desenho de reconstruo de
Juan Comba y Garcia (1888).
37. Corral de Almagro. Ci udad Real . O ptio foi restaurado e hoje utilizado para espetaculos no estilo do "Siglo de
Oro",
38. Carro-palco tripartite, trazendo uma apresentao da comdia La Adultera
Perdonada, de Lope de Vega, em Madri, 1608. Reconstruo de Richard Southern (1960).
39. Cortejo festivo com grupos alegricos em Barcelona, na recepo do Arquiduque
Carlos de Hahshurgo, pretendente ao trono espanhol (como Carlos III). Litogravurn da
poca (Paris, Bibliothque de I' Arsenal).
O Barroco
capaz de fazer o autor sentir-se tanto lisonjea-
do quanto sobrepujado.
Durante esta poca urea, mais de trinta
mil comedias foram escritas na Pennsula Ib-
rica. Seu clmax e canto do cisne esto ligados
ao nome do grande dramaturgo espanhol,
Pedro Caldern de la Barca. Sua origem aris-
tocrtica deixou marcas em sua vida, persona-
lidade e obras dramticas. Ele no necessitava
dos mecanismos cnicos, mas no os despre-
zava. Nas produes de seus grandes autos
sacramentales - com suas solenidades cerimo-
niais, sua sublimao da matria, de um lado,
e sua personificao de conceitos abstratos, de
outro - ele se utilizou de bom grado dos aces-
srios tcnicos da magia cnica, sem tomar-se
dependente deles. "Suas peas so completa-
mente adequadas ao palco", enalteceu-o
Goethe mais tarde, "no existe nelas nenhum
trao que no seja calculado para obter um efei-
to deliberado. Caldern foi um homem de g-
nio que ao mesmo tempo possua uma inteli-
gncia superior".
Mas ao entendimento acrescentava-se o
poder de uma imaginao soberba e criativa,
atravs da qual capturava o transcendental, e
"da plataforma da eternidade refletia a vida
como um sonho, antes do despertar do homem
em Deus (La Vida es Sueiio - A Vida So-
nho)". Caldern via o significado e o propsi-
to de sua prpria vida como um servio de
honra Igreja, nao e ao rei. Em 1640, du-
rante a rebelio catal, quando a Ordem de
Santiago, da qual Caldern era membro, cha-
mou s anuas todos os seus cavaleiros, Filipe
IV tentou impedir seu poeta por meio de or-
dem real: insistiu em celebrar o festival em
Buen Retiro conforme havia sido previamente
combinado. Caldern terminou a pea em uma
semana - e correu ao campo de luta.
Comparada profusa fecundidade de
Lope de Vega, a produo de cento e vinte co-
mdias, oitenta autos sacramentales e vinte pe-
as menores pode parecer "uma limitao a um
crculo muito restrito de motivos", como decla-
rou uma vez Adolf Friedrich von Schack. Mas
Caldern foi nico na preciso impecvel com
que as engrenagens de seus enredos se articu-
lam. Sua fora motriz o inexaurvel estratage-
ma dos disfarces e identidades trocadas que so
a marca de qualidade da comdia de capa e es-
pada, juntamente com os espirituosos peque-
nos interldios conhecidos como "lances de
Caldern".
Mas, alm da requintada rede de intrigas
em A Senhora das Fadas, o inflexvel cdigo
de honra de O Juiz Alcaide de Zalamea e o
melanclico auto-sacrifcio de O Prncipe
Constante, Caldern verte todo o seu poder
criativo nos autos sacramentales, a celebrao
teatral da reconduo do homem ordem di-
vina do mundo. O poeta sublima e estiliza emo-
es e reduz o destino terreno concepo fun-
damental de Deus e do homem.
Em EI Gran Teatro dei Mundo (O Grande
Teatro do Mundo), Caldern tira a soma me-
tafrica da "mquina de los ciclos", do gover-
no divino que administra as rbitas das estre-
Ias e da distribuio do quinho de cada ho-
mem. Este tambm o ttulo de uma de suas
maiores obras, encenada em 1675 no teatro do
palcio real de Buen Retiro, com Caldern su-
pervisionando pessoalmente a encenao. Nas
palavras da pea soa algo da suntuosidade bar-
roca que adjudicada ao cenrio e aos figuri-
nos desta obra de gala: "Provede adornos, e os
ostentai".
E quando se diz que a criao do mundo
se apresenta num "jardim com os mais gracio-
sos contornos e maravilhosas perspectivas",
pode-se imaginar prontamente a maquinaria
barroca dos bastidores entrando em ao para
abrir viso os verdejantes jardins do palcio
de Buen Retiro.
Em Caldern, a corte real espanhola en-
controu um diretor teatral extremamente ver-
stil que fornecia no somente o grande dra-
ma pejado de pensamentos filosficos, mas
tambm a alegre comdia musical. A ele re-
monta a zarruela, a forma especfica de co-
mdia musical da Espanha do sculo XVII, que
recebeu este nome por causa do pavilho de
caa real, Zarzuela, prximo de El Pardo, nas
encostas ao sul das montanhas de Guadarrama,
onde o rei Filipe IV e o infante dom Fernando
gostavam de assistir a entretenimentos musi-
cais. Caldern escreveu por encomenda tex-
tos de peas musicais lricas em dois atas (cujas
partituras, de compositores annimos, se per-
deram).
Por volta de 1657, quando a "cloga de
pescadores" de Caldern, EI Golfo de las Si-
373
H s t r a t u n d a ! da T e cu ro
-i . Desenho de cenrio para lima pea lrica de Caldcrn. De lima s rie de desenhos de cenrios de I lJO ( Madri.
Bibli oteca Nacional).
trai ulica de sua pr opri edade. O pr pr io du -
que escreveu em torno de dez peas em prosa.
fort emente morali zantes mas teatralment e de
efeito, co ntando em part e com a habilidosa art e
de clown de Sack ville.
O chefe de co mpanhia, Robert Brown e,
por outro lado, era um daq ueles que torn avam
as co isas difceis para si mesmos . Sua ambi-
o era oferec er teatro literrio, embora tem-
perado pe lo anncio de que ele e suas Act ion es
assegurariam "es plndido oblectamentum con-
veni en te a todos e, par a os melancholicis, um
divert imen to muito agr advel". Uma part e de
sua ge nte foi contrat ada pel o land gra ve Moritz
de He sse, em cuj a cort e atuava o orga ni sta
Heinrich Sc htz. Br ownc ret ornou Ingl at er -
ra, deixando seu grupo sob a administra o de
se u bem-s ucedido e ambicios o clown John
Green.
Alguns anos mai s tarde, em maio de 16 18,
Browne voltou ao Co ntinente, com um novo
grupo e novo repertrio. Em Praga, contribuiu
co m vrias "comdias , tra gdias e hist rias
bem-feitas" para a breve glria real do "rei de
inverno" , o outrora eleitor palatin o Frede ric k.
e para sua rainha, a pr incesa inglesa Eli zabcth.
Depoi s di sso, as pegadas de Browne perder am-
se na confuso da Guerra dos Trinta Anos.
Outro ingl s, John Spencer, um hbil tti -
co c homem de muit as pr ticas e versatilida-
des, crio u fama em Leiden e Hai a por volta de
1605, vi aj ando ent o muitos anos, via Drc sden.
a lugar es to dist antes quanto Kouigsberg e
Gd ansk. Em 161 5. co nverteu-se ao catolic is -
mo em Colnia, adquirindo destarte o pr ivi l-
gio de representar "a ctiones religi osas, respei -
tvei s e aprovadas" , mesmo na temporada de
Quares ma .
em conexo com a troupe de Spencer
que pod emos ter uma das poucas indicaes
preser vadas de como teri a sido o palco dos co -
mediantes ingleses no Continente. Para a apre-
sentao de uma " Comdia sobre o Triunfo
Turco" , Die Ei nnahnic von Konstantin opel, er-
gueu- se uma di spendiosa construo de ma-
deira em Regensburg, claramente inspirad a no
model o elisabe tano , ma s, nesta forma parti cu -
lar, mai s provavelment e na exce o do qu e na
regra. Era " um teatr o onde os m sicos loca-
varn mai s de dez gneros dif erentes, em tod os
os tipos de instrumentos. Sobre o pa lco havi a
do Continente. Eles eram aplaudidos em to-
dos os lugares. Em bre ve, pa ssaram a aceitar
atares locais em seus co nj untos , ado rando a
lngu a local e assim exe rcendo inllun cia per-
manente sobre o teatro dos Pa ses Ba ixos, Di-
namarca e espe cialmente da Alemanha.
Enquanto a Commedia deli 'arte bri lhava
com o c mico das sit uaes da comdia dos
tip os, os dir etores ingleses gabavam-se de pre-
se ntear sua plat i a com "belas, magnfica s, a-
lcgres e co nfortadoras co mdias tiradas de
narrativas hi stri cas" . E como nos pa se s pro-
test antes do Nort e a lio de moral co ntava tan-
to qu anto a art e da atua o perfeit a, Rob er t
Browne, ao solicitar ao Co nselho da cida de de
Frankfur t permi sso par a atuar, em 160 6, deu-
se ao trabalho de acentuar que sempre for a seu
mai s "srio esforo" proporcionar ao s honra-
dos es pectadores "motivo e oportuni dade para
seguir a probidade e a vir tude".
Mas no final das contas o pblic o deseja-
va um pouco menos de edificao e um pou co
mai s de divertiment o. Nesta brech a entrava o
bufo e o palhao. Ele era o primei ro a saltar a
barrei ra da lin guagem co m um a es piri tuo-
sidade verbal diret a e sem rod eios. Rel at a- se
que havi a um gru po de co me di antes ingl eses
em Munique j em 1599 qu e co ntava, entre
seus int rpret es, com um palhao "que profe-
ria muitas arengas e asneir as em al em o" .
A rival idad e entre as pretenses literrias
e a bufoncria de Hanswurs t, que iri a alcanar
o seu ma nifesto ponto alto em 1737. nos dias
de Karoline Neuber, j se des enhava no pri -
meiro es tdio da cena itinerante. Um dos co-
med iant es mai s populares foi Thomas Sac kvi-
lIe. pai esp iritual e criador de uma per son a-
ge m cha mada vari adament e com der ivativos
das pal avra s cl own ou posset (grogue) , eve n-
tualmenie conhe cido pelo nome artstico de Jan
Bou schet. Sackvill e era membro de uma das
mai s anti ga s companhias ing lesas qu e viaj a-
ram atravs do Contin ente, e chegou , ap s uma
es ta da em Copenh agu e. it corte do duque
Heinrich Julius de Brunswick, em 1592 . O du-
que casara-se com uma princesa din am arque-
sa e tinha inform aes prvias, vindas de Co-
penhaguc, sobre a repr esen tao do grupo vi-
sitante . Ele gostou tan to de Sackville que o
mant eve em sua corte em Wol fenbucl de 1593
a 159l) como diretor de uma co mp anhia tea-
() Ba rroco
grande era da trag die classique e a Conunedia
deli 'arfe e ncont rava port as abertas em todos
os lugares, a Europa central era atormentada
pela Gu erra dos Trinta Anos. Como sempre e
em qualquer parl e, bufes e ater es ambulantes
seguiam na ret aguarda dos corpos do exrci-
to. Onde qu er que houvesse luta ou onde a ba-
talha esti vesse ence rrada, eles podi am es tar cer-
tos de serem bem-vindos, fosse sob a bandeira
imperial (catlica) ou a sueca (protesta nte) , na
corte ou nas cidades, na praa do mercado. nas
feira s e nas es talagens dos vilarejos. Os ateres
ambulantes era m capaze s de lanar pont es en-
tre pase s c ujos governantes estavam em guerra.
Via Dinamarca e Holanda, os co median-
tes ingleses haviam perambulado at bem ao
Sul, como a Sax nia e Hesse, por volta do fi-
nai do sculo XVI. A int ensa competio cm
seu prprio pas, e mais ainda , os volveis fa-
vores da rainha Eli zabeth, que podi a ora pro -
mul gar proibi es, ora di stribuir privilgi os.
obrigara m muit os grupos profi ssi onai s ingl e-
ses a emigrar. Carl as de recomendao de uma
cor te a outra facilit aram sua trajet ria atravs
rena s (O Golfo das Serei as), foi encenada, e
onde "a senhora Zarzuela" era uma das perso-
nagens al egri cas, a designao m rzucla tor-
no u- se comum para conceituar o gnero. O
texto da zarzue la era uma variant e do aprecia-
do tema de Odi sseu-Circe, que as pe as pasto-
rais de toda a Europa con sumi am. O prprio
Caldern j lhe dedicara em 1637 a sua com-
dia El Mayor Encanto Amor (Amor, o Mai or
Feiticeiro). A encena o de O Golfo das Se-
reias no palcio de Zarzuela em 1657 deve ter
sido, levando-se em cont a a sua fama, uma da s
mai s cara s na poca de Caldern . Teria custa-
do 16 O()O ducado s. A zarzuela, com seu car-
ter original e quase intocada pelos desenvolvi-
mentos da msica ocident al , sobreviveu no
sc ulo XX .
Os ATRES AMBULANTES
Na primeira metade do sculo XVII , en-
quanto no alm-Pireneus o drama barroco es-
pa nhol fl orescia, a Frana contribua com a
374
375
I
l
,
um segundo tablado, erguido a dez metros so-
bre seis grandes pilares; em c ima de tudo isto
foi co nstrudo um telhado e, embaixo, uma
boca de cena aberta, onde reali zavam actioncs
maravilhosas".
Spencer era versti l no apenas emassun-
tos religiosos. mas tambm nos artsticos. Ele
ofereceu a seu pblico um novo tipo de c/mm ,
aprese ntado em 1617 em Dresden e, em 16 18,
na cort e de Brandemburgo co m o nome de
St ockfi sh - um cont r apo nto par a o J an
Bouschet de Thomas Sackeville e para o PickJe
Herring criado por Robert Rein olds, um atol'
que pertencera originalmente co mpanhia de
Robert Browne e que mais tarde se tornou, ele
prprio chefe de uma companhia .
A origem inglesa permaneceu at a meta -
de do sculo XVII uma garant ia da qualidade
dos intrpr etes, que foi aceita em toda a Euro-
pa central e at na ori ent al. como por exemplo
em Elbing, Varsvia e Graz. Comedi antes In-
gleses do Landg rave em Ca sseI era o ttulo de
honra outorgado por Moritz de Hesse sua
companhia de teatro da corte. que teve o privi-
lgio de representar no primei ro edifcio tea-
tral de pedra da Alemanha, o Ott onium, cons-
trudo em Cassei em 1606. O Ottonium ainda
exi ste. Aps muitas reconstrues, abr iga hoje
um museu de histria natura l e as exposies
da Sociedade de Arte de Casse l.
Em 1651, quando a Gue rra dos Trint a
Anos havia terminado. um grupo de comedian-
tes ingleses foi o primeiro a ser autorizado pelo
conselho da cidade de Ulm a repr esentar no
teat ro no Binderh of cons tru do por Joseph
Furtte nbach. Inaugurado em 164 1, foi o pri-
meiro teatro muni cipal na Alemanha; ao lon-
go desses dez anos - na medi da que os tempos
atribulados permi tiam - sediou apresentaes
de atores ambulantes e do drama didtico.
Em Ulm, como em qualquer outra parte.
os administradores teatrai s que eram tambm
dramaturgos garantiram que o drama didtico
continuasse a manter-se ao lado das peas apre-
sentadas pelos atores profissionais. Eventual-
ment e, ambos vieram a dividir as mesmas as-
pir aes e os mes mos autores. As obras do
silesiano Andreas Gryph ius e do holandsJoost
van deu Vondel - que orig inalme nte haviam
escrito para o teatro didtico - foram inclu-
das no repert rio de hist oriis li moda inglesa.
- 376
H s t r a M u n d i ol do T a t rn
Em Frankfurt. j em 1649. "die Greene-Reinol_
dsche Truppe" anunci ava orgulhosamente que
havia "de longe superado a art e dos estrangei -
ros ". Naquele mesmo ano, Jori s Jolliphus, que
chegar a a Col ni a em 1648 vind o da Holanda,
fez saber que possu a "uma companhi a que
falava alto alemo, facilment e co mpreens vel,
e que poderia oferecer pastor ais e peas musi-
cais moda itali ana, bem co mo tra gdias",
"cujas histrias nunca antes haviam sido colo-
cada s no palco destas redond ezas".
pro vvel que isto se refi ra s primeiras
apresentaes das peas de Gr yphius, porque
se sabe que, em 1651. suas peas martiriol-
gic as Leo Armenius e Catharina von Georgir n
foram levadas por atores ambulantes em Co-
lni a. Andreas Gryphius havia con hecido o
tea tro profissional holands quando est udante
em Leiden . Viera par a admirar o dr amaturgo
humani st a barroco Joost van de n Vondel, o
maior dentre os autores clssicos holandeses.
A obra de Gryphius foi muito infl uenc iada pela
de Vondel; se bem que, como seu Horr ibilicri-
bi fax demonstra, ele tambm tinha laos es-
treit os com a Commedia del larte.
Gysbrecht van Aemstel, de Vondel, foi a
pea escolhida par a a abe rt ura de ga la do
Schou wburg de Amsterd em 1638. ( ainda
hoj e ence nada todos os anos no Ano Novo.)
Graas s peas de Vondel, os atores itinerant es
holandeses tomaram- se os bem-sucedidos con-
correntes dos comediantes ingl eses. O grupo
de Bruxel as do arquiduque Leopold Wi lhelm
da us tria, dur ant e uma tournee apresentou-
se em Amsterd. Posteriormente viaj aram e ga-
nharam fama com seus espetc ulos co mo con-
vidados no Castelo de Go ttor p em Holstein
(setembro de 1649), e em Flensbu rg, Copenha-
gue e Hamburgo. Quando voltaram a Amsterd
em 1653. Vondel recebeu-os com um poema
que expres sava sua gratido e admirao. Seu
diretor Jan Bapti sta Fornenbergh em 1666 ga-
nhou o elogio do padre e poeta de Hamb urg-
Wedel , Johann Rist, o qual declarou que ele e
sua excelente companhi a hav iam superado em
muito a infeli zmente famosa maneira dos "cu-
ra nde iros, arrancadores de dentes e poet as
bufes". Ri st for a especialment e a Altona a fim
de ass istir apresent ao convidada. Ficou um
tant o perpl exo co m o fato de que os holande-
ses , de acordo co m um h bito que sobrevivera
O Ba rroco
4 L Cena no tablado de ate res am bulantes : drama
herico (Haupt- und Ssaot suk nonv . Gravura em cobre.
frontisp cio de urnacolco alem de peas apresentadas
por atores ingleses e france ses (o s englischem kom -
dunuenv. Frankfurt arn Main. 1670.
poc a dos Rederijker, int rod uziam suas pe-
as co m um tableau vivam . " Quando aque-
l a exibio, que ge ra l me nte c ha mada
Vert ooninge , termina" , co nta Ri st, "cada es-
pectador j sabe quantos e que tipo de ateres, '
e com que figurino eles aparecero nas com-
di as e tragdias que sero levadas".
Se algum fosse traar os itinerrios dos
comed iantes ingleses e hol and eses, dos atores
da Commedia dell 'art e e se us companheiros,
dos burattini com suas tendas de marionetes,
e, enfim, das inmeras companhi as itinerantes
da Europa centr al, faria um mapa inextricavel-
me nte confuso e marcado por linhas cruzadas.
Os nomes dos diretores de companhias conhe-
cidos abarc am um sculo inteiro da histria do
teatro europeu, do Barr oco c do Ilumini smo at
a fundao dos teatros nacionais.
Rivalizavam por cau sa dos favores de prn-
cipes e magistr ados, das melh ores peas e da-
tas mais favorveis, e dos servios de atore s
de mais sucesso, e velavam para que o teat ro
no se cobrisse de ferru gem . As troupes am-
bulan tes abrir am a Eur opa para o teatro mun-
dial. O diretor de co mpa nhia Ca rl Andreas
Paul sen, de Hamburgo, c a co mpa nhia de
Mi chael Dani el Treu apresemara m Europa
se tentrional e oriental Marl owe, Kyd e Shakes-
pea re, Lope de Vega e Ca lde rn, mesmo que
em seus esforos prevalecessem sempre as
boas intenes mais do que os resultados art s-
ticos e, no que diz respei to ao texto, se mostras-
sem to distantes do ori gi nal quanto na geo-
grafia. Encenaram tambm Vondel e Gryphius,
cuja tragdi a poltica her i ca Pap inianus teve
urna montagem de sucesso em 1685 diante da
corte bvara no Castelo Schl eissheim, onde
util izaram todos os meios di sponve is para in-
tensi ficar a emoo em um palco improvisado
num salo de bai le.
O edil Johannes Vclten e se u Chur-S-
chsische Komdianten prover am Dresden com
se u teatro. Neste "famoso gru po teatral", con-
ta Eduard Devrient, "radica va a rvore genea-
lgica de notveis grupos posteriores". Durant e
quinze anos Velten e sua companhia per arnbu -
laram de lugar em lugar. ganhando popul ari -
dade e estima cm toda part e. Em Nur emberg,
Bresl au e Hamburgo, ele levou cena a assim
cha mada Ratskom die (comdia de conse lho),
uma ence nao benefi cent e que expressava a
gratido dos atores pela recepo hospitaleira.
Nestas ocasies. conta Devrient , "os conse lhei-
ros co mpareciam in co rpore, oc upavam os lu-
gares mai s privil egi ados, ou seja, no prprio
palc o em ambos os lados do proscnio, e no
se recusa vam a ser homenageados co m lima
oferenda mu sical (Serenada) pel o alto favor e
gra a demonstrados" . Em Dre sdcn, Velten foi
convidado por Johann Georg II para partici-
par dos festivais de teatro da corte organi za-
dos em 1678 e, depois de 1684 , foi emprega-
do permanent ement e por Johann Georg III.
Viena, Gr az e Klagenfur t foram (J dom-
nio do elenco de Andre as Elen son , cuja suce s-
so conduz por intermdio de Johann Caspar
Haacke at o ator Karl Ludwig Hoffmann. que
- '; 77
Hi st r i a M u n d a l do Teatro
42. (ec.:",". do dr.. una barroco de martrio Cathuri na ' -V II corgien, de Andrcas Gryptnus. Gr avura cm cobre de Joh .
Using.
. o Hu rro co
O palc o er a em essncia di vidido ao meio
por uma cortina. que deixava uma rea de ao
neutra frent e e. co mo elemento de surp resa
adic ional. um palco de fundo. j equ ipado co m
acessrios . Na met ade do sc ulo XV II, as co r-
tinas de frent e do palc o (cuja funo de " mas-
carar as mara vilh as" j havia sido disc utida em
detalhe pel o arquite to de te atro s Jo seph
Furttenbac h, de Ulm) era gera lme nte usad a pe -
las troupcs ambulantes. Amb os os tipos de cor-
tina co rriam da direit a e da esquerda. Durante
o sc ulo XVIII . o prpri o aspect o externo do
palco ben efi ci ou -se da tendnci a ge ral para a
co nso lidao, qu and o grandes cidades permi-
tiria m que det erminados grupos at uassem re-
gularmente em temporadas definid as nas sa-
Ias de teatros ex istentes.
Os efeitos baseados em di sfarces sempre
foram populares, especialment e as trocas de tra-
pos de mendigo por trajes de rei. com suas mui-
tas possibilidades. Figurinos orientais estavam
muito em voga , co mo pode ser visto nas grav u-
ras das cenas de Catharina \'on Georgiell. da
montagem de 1654. em \Vohlau. Csar usava
uma peruca de cac hos, e Amnio um penacho.
O B uerisch er Macchiavellus (Ma quiave l
Bvaro) de Chri stia n Wei se sentava-se num tro-
no sob um dos sei barroco, e a pompa e a pose
da personagem principal na tragdia herica as-
semelhava -se do Roi Solei l em seus mais sun-
tuosos retrato s. " Nem tudo o que reluz ouro" ,
escr eveu o -gravad or de Augsburg . Mart in
Engelbrecht, no topo de suas pginas povoadas
de atores ambulantes luxuosamente vestidos e
portando cetros. A tentativa de aplicar esta divi-
sa a uma reforma dos figurin os teatrais envolve-
ria Gottsched, o crtico e refor-mador do drama,
numa batalha ama rga e assaz infrutfera, que ps
fim sua colaborao com Karolin e Neubcr, a
famosa atriz e chefe de um grupo ambul ant e.
em 1724 orientou a estria de uma j ovem atriz
cuja es trela nasceu e se ps no firmament o do
Ilumini smo: Karoline Neuber, nascida Wei s-
senborn. filha de um advogado de Zwi ckuu,
que. recebeu uma educao human ist a. c fu-
giu de casa para desposar o aror Johann Ncubc r,
Fi na lme nte, um dos no menos importan-
tes grupos pionei ros do teat ro mundial foi a
troupe de Johann Christian Kunst, que abriu
seu ca minho atravs da Prssia oriental chc -
gando at Moscou . Tr inta anos ant es, Puulscn,
ento em Danzig (Gdansk). havia sido convi-
dado pel o cz ar para atuar no Krmlin. mas a
viage m no se realizou. Kunst e seus homens
Volga cm 1702. O cza r Pedro I ps
a disposio deles o palco de salo no Krmlin,
em uso desde 1673, e os contratou co mo at o-
rcs de sua corte. Em 1702, um teat ro es pecial
para co md ias foi construdo na pr ac; a diante
do palc io (hoj e Praa Vermelh a). A socieda-
de ul ica russa, at e nto e ntre tida pel as
ofe rendas art stico-musicais de bufes erran-
3711
tcs conh ecidos como Skomorokhi, foi agora
apresentada. pel o cnsemb lc de Kun st , ao dr a-
ma euro pe u ocidental. ainda que em refl exo
tmido. Com Cornei llc e Moli rc, entre tan-
to. teve de aturar ta mb m um amp lo reper-
tri o de tragd ias her icas no es t ilo bom-
hst ico de Loh cn stc in, uma espec ialid ade de
Kunst,
Os cenr ios e fi gurinos das troupes am-
bul antes era m de inc io bast ante modest os.
Com o seu cus to cresce nte. o desfil e barroco
de roupas suntuosas e chapus emplumados
dependia inteirament e do que estivesse dispo-
nvel em caixa e da generosidade de quem por-
ventura empregasse os ateres. Se o grupo esti-
vesse a servio de um prncipe mo-aberta, o
guarda-roupa da co rte se m dvida ajudava a
reabastecer o es toq ue de figurinos. Quando a
pea ori ginal inclu a papi s que no podiam
ser di stribudos ou adornados adequadamen-
te, estes e ram reescr itos ou, se preci so fosse.
completamente omitidos.
379
' 1
:1
;j
A Er a da Cidadania Burgue s a
I NTRODUO
Em toda a Europa, o sculo XVIII foi uma
poca de mudanas na ordem social tradici o-
nal e nos modos de pensar. Sob o signo do
Iluminismo instituiu-se um novo postul ado: o
da supremacia da razo. Idias humanitr ias,
ent usiasmo pela nat ureza, noes de tolern-
cia e vrias "filosofias" fort aleceram a confian-
a do homem na pos sibili dade de dirigir seu
destino na terra. Em 1793, Deus foi oficial-
ment e destronado na Catedra l de Notr e Dame
de Paris, e a deusa Razo foi co loca da em Seu
lugar.
Apesar de sua fragmentao em peque-
nos Estados, a Europa co nj untara-se mai s.
Durante a primei ra met ade do sculo, sentiu-
se unida na atmosfera otirnista da Ilustrao.
ao pa sso que na s cort es pri nc ip escas o
[ortissimo do ba rroco ia morrendo nos espe-
lhos e mol duras do ro coc . Enquant o os
galantes da sociedade da co rte de Watteau em-
barcavam par a a i lha de Ci te ra, Hogarth
perambulava pelas rua s de Londres fazendo
esboos de prostitutas e criados. A corte e a
cidade foram os dois centros da sociedade do
sculo XVIII , e a Frana e a Inglaterra forma -
ram as duas esferas de infl uncia das quais a
sociedade recebi a suas idi as.
De Paris e Londres emanavam os prime i-
ros esforos para conciliar as novas idias se-
culares e cientficas co m o modo de vida da
cl asse mdi a. O Dictionnairc, de Piem: Bayle.
dic ionri o secularizador e ctico , e a Epstola
de Tolerncia de John Locke era m avidamen -
te lidos na s biblioteca s pblica s. O Terceiro
Estado aume ntava sua exigncia de partici pa-
o nos assuntos do mundo e da men te.
Mas as fundaes sobre as quai s apoiava-
se a sociedade europi a no sculo XVIII eram
ainda feudais. Sob o rtulo "Ancien r gime",
seu curso foi direcionado par a a Revol uo
France sa, que fundiu todas as gr andes emo-
es do sculo numa exploso treme nda de
povo, nat ureza, sentimento e razo, definindo
sua prpri a forma de vida e exigindo seus de-
vidos di reitos humanos e civis.
O teatro tentou contribuir co m a sua par-
te para a for mao do sculo que seria to
cheio de contradies. Tornou-se uma plat a-
forma do novo aut oconhecimento do homem,
um plpit o de filosofia mor al, uma esc ola ti -
ca , um tema de contr ovrsi as eruditas e tam-
bm um pat rimni o comum, conscie ntemen-
te de sfrut ado. Le P re de Famillc (O Pai de
Famlia ), de Didcrot, o gra nd e model o do
novo dr ama de classe md ia, co nforme de-
clarou Lessing, no era " nem francs nem
alemo, nem de qualquer ou tra naciona lida-
de, mas simplesmente humano" . A pe a as-
pirava a expressar apenas "aqui lo que cada
um podia expressar, como o entend esse e sen-
tisse" .
A era dos grandes teatros da cidadania
burguesa co meava. Dentro de pouca s dca-
da s, es pl ndidos teatros e pera s seriam
con strudos por toda a Europa, com trs. qua-
tro ou cinco fileir as de assent os em semicr-
c ulo ou em forma de ferradura. diante de um
ali o e magnificamente emoldurado palco do
tipo "cosmorama", Al gun s del es, sem dvi-
da. for am encomendados aind a por monarcas.
mas foram concebidos co m a mesma finali-
dade que inspi rou Augu sto, o Fone. eleitor da
Saxni a, quand o con struiu o Zwinge r em
Dr esden: ser um cen rio para festas do povo.
em grande estil o. O Th tre de la Monnaie,
em Bruxelas. foi o pr imeiro na longa srie de
edifcios teatrais imponent es do sculo XVIIl ,
do Teatro Argentina em Roma ao Haymarket
e ao Covent Garden em Londres. dos Grand-
Th tres em Lyon e Bordeau x ao Royal Ope-
ra House em Copenhague, do San Cario em
Npol es ao Gran Teatro dei Li ceo em Barce-
lon a.
O lema era: "No que os olhos vem. o
co rao cr", e o teatro. como edifci o festivo
e cen rio do drama da cidadania burguesa. for-
nec ia uma moldura descornedida para auto-
reflexo comedida.
A poca, inici ada sob o sopro frio da Ra-
zo, terminou em senti mental nimo, sendo
ao mesmo tempo, por m, abrasad a pel as no-
es de gnio do Sturm IIl1d Drang que. en-
to do mes ticadas. foram ce ntrai s na era do
cl assicismo de Weimar. A represa do sculo
decorrido inundou as co rre nte s intelectuais e
polticas do sc ulo XIX. O roman tismo tor-
nou- se o primei ro movi ment o literrio cos -
mop olit a capaz de reuni r tant o a Revoluo
quanto a Restaur a o. Os pa ses da Europa
cent ral. setentrional e oriental desej avam um
teatr o prpri o, e este e ra um dos impul sos
princip ais do teat ro; o outro e ra a idi a de um
rep ert rio mundial, como o ideali zado por
Goeth e.
Para Victor Hugo, o drama histri co ro-
mnti co era um "miroir de concentration "
("espelho de concentrao") - a pera o cn -
vol veu na ebriedade sonora das grandes or-
qu estr as, e o realismo transformou o palco no
cenrio da arqueologia ou no sal o elegante.
A divers idade de formas simultneas procla-
mava a aproximao de um processo de de-
mocrati zao que encontrou sua pr imeira ex-
presso no nat urali smo do incio do sculo
XI X.
382
H s t riu Mund i al d o T a t ro
o ILUMI NISMO
o Teatro Europ eu e nt re li
Pompa e o Natu rali smo
Visto que. para a Ilustrao. a Iorma mais
elevada do pensar e do atuar humano consistia
na po ssibilidade de subordinar a existncia e o
seu meio ambiente ao conceito de razo, o tea-
tro. por sua vez, foi tamb m chamado a ass umir
uma nova funo. O palco viu-se convocad o a
ser o frum e o baluart e da filosofi a moral , e
prestou-se a este dever com decoro e zel o, na
medida em que no preferiu refugiar-se no rei-
no encantad o da fantasia ou do riso da Comntedia
dcli'arte. Os critrios do novo drama literrio
foram o da mxima da veross imi lhana, isto , a
regra do bon sens - senso comum - como de-
senvolvida por Boileau em sua L'Art Poetique
(A Arte Potica) (1674 ) e o princpio moral.
O sculo do Iluminismo tendia para a re-
flexo. o sentimentalismo e a cr tica. Houve
muita morali zao e argume ntao, autor iza-
da s e ins pir adas pel a nova de usa da Raz o.
Sur giram as revi stas sema nais para as cl asses
mdias, e el as dedi cavam p ginas int eiras :1
qu est o do teatro. Mas o erguido ded o indica-
dor da admoesta o fazi a pro sp erar mai s a
respeit abil idade que o gnio, No pr efcio tra-
gdia bur guesa The Lyi ng Lover (O Aman te
Mentiroso) ( 1702) . uma adaptao senti men-
tal de Le Mcnt eur de Corne ille. o dr amaturgo
ingl s Ri chard SteeI e es perava qu e a graa se
rec uperass e de seus excessos e encoraj asse a
vi rtude, enquanto o vcio pe lo co ntrrio fosse
entregue vergonha.
Na Fran a . Marivaux, o primeiro especia-
list a na psiqu e feminina. escr eveu uma srie
de co mdias brilhant es. nas qu ai s element os
do 1/00lVeaU th tre italien de Lui gi Riccoboni
so refinados par a servir aos propsito s de es-
tudos psicolgicos sutis. Mar ivaux foi autor
de trinta peas singul ares e criou uma forma
de arte conhecida como coni die Raie (com-
dia jovial), que era em muit o super ior mora-
lidade sentenciosa do lacrimoso drama bur-
gu s, embora contribusse basta nte para o seu
desen vol vimento.
Lui gi Riccoboni fez-se. cm 1738, o pr i-
mei ro ca mpeo de 11111 tipo de comdia na qua l
I
I . MUc. Clai ron como Idnnt . cru C( lrphcli n di' la Chi nc de Voltai rc. I Iidcrut . cm 175X. elogiou a corage m atnz
por usar um Iigurino -un asiu cm chins. sem unqu iuhas. f\1as no 1""( 'CllJier de C O.\" III Ut'S Pra"....us, pllhliculo cm
Pari s. 1771) . ela mostrada, num da moda. co m crino fiua. dcscul urdo pelo li!!urini... la (ti cort e , Sarraain.
2. Dispositivo cenogrfico para uma cena do drama burgus L' Enfant Prodigue (1736), de Voltaire: o filho prdigo no
bordel. A vista pintada do jardim, na tela de fundo, acentua a iluso de profundidade e distncia.
3. Apresentao da tragdia Irene, de Voltaire. 11aComcdie l-ranaisc, em Paris, nu dia lO de maro de 177X. No palco.
o busto de Voltaire coroado com uma grinalda de louros. O autor de Cam/ide. ento com X4 anos. observa ((.Ir) camarote
aconinado esquerda) enquanto homenageado.
4. Quadro final de Le Pere de Famille de Diderot, levado no Nieuwe Schouwburg em Amsterd. 1775.
5. Cena de l.c Gtorvuv. de P. N. Dcxtouchcx, na Comdic Franaise. com Grandval no papel de Valere, Quinault
Dutresnc no de Comte de Tufierc. e Mllc. Grandval no de Isnbellc. Gravura de N. Dupui s , a partir de Nicolas Lancret,
c. 1738.
a magnanimidade e a renn cia se combinam
num fina l feli z, e que Chass iron descreveu
zombe teir ament e como comdie lan noyant
(comdia lacrimosa). (Lessing, em sua tradu-
o das R fl exi ons sur le Comique-larmoyant
- Reflexes sobre o Cmico-lacrimoso - de
Chassi ron, escolheu o termo alemo weiner-
lisches Lustspicl, cujo advogado no palco ale-
mo foi o dramatur go Gellert. )
Na Inglaterra, a assim chamada comdia
sentimental foi igualmente bem suced ida e
atr aiu uma srie de autores, de Richard Steele
ao atar-empresri o Colley Cibber e aos con-
temporneos da Sent imental Journey through
France and ltaly (Viagem Sentimental atravs
da Frana e Itlia) de Laur ence Stern. Lessing
traduziu a pal avr a ingl esa sentimental por
Empfi ndsam e com isso cunhou um termo ale-
mo para o idlio bur gus por volta de 1730:
Empfindsamkeit. O L'Ellfallt Prodigue (O Fi-
lho Prdi go) de Voltair e no est longe da
comdie larmoyante, mas intensifica o tom
sermonrio. Voltaire adulava o esprito de sua
poca sem se suje itar a ele. "Vej o a tragdia e
a comdia como prelees sobre virtude e res-
peitabilidade", tambm decl arava, mas prefe-
riu provar a nobreza de suas personagens em
terras distantes gove rnadas por prncipes mu-
ulmanos e trtaros, em vez de faz-lo no t-
pido conforto dos interi ores burgueses.
"Fui conquistado por sua virtude", confes-
sa Gngi s Khan, no final do drama L'Orplielin
de la Chine (O rfo da China), a Idam, a
esposa do mandar im, que incorr uptivelmente
resistira tanto sua corte qua nto a suas amea-
as. Voltaire rei nterpretou seu modelo chins,
de quatrocentos anos de idade, segundo o es-
prit o da Razo e do Juzo. Admirava a sabe-
dori a do Orient e e a tenaz persi stncia com
que suas tradies se defendi am de qualquer
tipo de violao . E assim atr ibui u a seu impe-
rador trtaro o mrito de render-se virtude
de Idam e ser um vencedor inteligente. "Este
um estranho exe mplo da superioridade na-
tural da razo e do g nio sobre a fora cega e
brbara", escreveu Volt aire em seu prefcio.
Seus heris perseguidos sofrem em verso, exa-
tamente como os de Corneille e Racine. Ele
admirava Shakespeare, mas sentia-se incapaz
de tirar proveito do tratament o livre de seu
dilogo.
386
H i st r o Mundial d o Teatro .
" Um poeta ingls um homem livre que
dei xa sua linguagem o servir enquanto o esp-
rit o o move", escreveu Voltaire em 1730, quan-
do enviou Brutus ao lorde Bolingbr oke, com
quem permanecera em correspo ndncia des-
de sua estada na Inglaterra.
o francs um escravo da rima, e obr igado algu-
mas vezes a pr para fora quatro linhas a fim de expres-
sar uma idi a que um ingls pode desc rever numa nica.
Voltaire invoca Corneille, Racine e Boileau
antes de chegar seguinte concl us o:
Quem quisesse livrar-se do fard o carregado pelo
grande Cornci lle seria visto no como um esprito auda-
cioso a abrir caminho num a 110 \' 3 estrada. mas como um
fraco incapaz de sobreviver na vel ha trilha.
Voltaire no via futuro na tentati va de "nos
dar tragdias em prosa" . Diderot demonstrou-
lhe o contrrio - o auda cioso proponent e da
metodologia do Paradoxe sur le Comdien (Pa-
radoxo sobre o Comedi ant e) e co mpilado r te-
naz da gra nde Enciclopdia decla rou-se parti-
dr io do drama sentimental bur gus e escre-
veu Le Prc de Famill e (O Pai de Famlia), na
pr osa simples da linguagem do quotidi ano.
O teat ro francs teve se u triunfo de senti-
mentali dade. Mesmo um dos " mais empeder-
nidos egostas de sua poca , o rei Lus XV",
contam-nos os cronistas, derr amou lgrimas
na represent ao de Le Pre de Famillc em
maro de 176 1. A consistncia co m a qual a
era da cidadania burguesa forjou sua prpri a
forma dramtica corria frent e de sua lingua-
ge m no palc o. Os atores da Co m die Franaise
es tavam acostumados a obse rvar a partitura
decl amat rio do verso. Quando foram priva-
dos de la, sentiram-se perdidos num pa s des-
conheci do. Aps o es petculo, Di derot esc re-
veu a Voltaire:
So mente Brizard, no papel -titul o e a se nhora de
Pr vill e co mo Cc ile realmente responde ram aos requi-
sitos da pea. Para os outros. o novo g nero era to estra-
nho que. asseguraram-me eles. tremi am o tempo lodo em
que estiveram cm cena.
A esta altura, a Corn die Fr anai se j ha-
via introd uzido uma reforma cujos incios ha-
viam ca usado um choqu e: a ren uncia ao ab-
surdo last ro do figur ino barroco . A exigncia
A Era da Cida d a na Burgu esa
de vraisemblance (veros similhana), entendi-
da por Voltaire e Diderot co mo " natureza
embelezada", passou por maus momentos na
prtica teatral. Houve quem sentisse como uma
impertinncia que a atriz Clairon, no papel de
Idam em 1755, se atreve sse a aparece r numa
indumentria em esti lo chi ns sem anquinhas.
Mas Diderot enalteceu-a entusiasticamente em
seu De la Pocsie Dramat ique (Da Poesia Dr a-
mtica), de 1758, em que pede:
No consinta que o preconce ito e a moda a subju-
guem. Confie em seu gos to e gnio. Mostre-nos a natu-
reza c a verdade: porque e ste o dever daquel es a quem
amamos e cujos talento s nos incl inaram a ace itar de bom
grado qualque r coisa que ousem querer.
A medid a do ressent iment o do pb lico
francs, ao se r privado dos costumeiros robe
la mode, pode ser con statada pelo que acon -
teceu per a e ao ba l. Loui s Ren Bouquet ,
o imaginati vo mestr e do figurino rococ, ves-
tiu suas bail arinas co m crinolinas de seda
bufant es, mangas pregueadas, vus de renda,
plumas de aves truz e guirlandas de flores. Os
her is-titul o do Castor et Pollux de Rarneau
apareceram com enormes penachos; Febo usa-
va uma vo lumosa saia balo, e as Frias
resplandesciam em profund o dcollet e apli-
caes de pele de co bra. A lfi g nia de Gluck
e a Zemira de Grt ry, nas respecti vas peras ,
tinham a mesma elegncia que as figuras mi-
tolgicas do mest re de danas Jean Georges
Noverre.
Desde sempre, a pera rei vindicava o pri -
vilgio de ser conservadora. Financiada pel as
cortes, desafi ou todas as ordens da razo, mes-
mo na poca do raci onalismo, e regalou-se na
mgica dos bastidores lat erais e maquinaria
de palco, co m vulces em erupo , navios
afundando e ba ls orientalizantes. (Uma en-
cenao restrospectiva de Les lndes Galant es
- As ndias Ga lantes - de Rameau, na pera
de Paris, foi entusia sti ca mente aplaudida em
1952 e teve casa cheia por trs anos.)
A vida ope r stica de Londr es foi domina-
da por Haendel a parti r de 1720. Como compo-
sitor e maest ro da recm-fundada Royal Aca -
demy of Music, ele levou a pera italiana a
um bri lhantismo mu ito alm daquele alcana-
do em Paris, Viena e mesmo na Itlia. Haendel
havia obtido os favores da corte inglesa e no-
tab ilidade, j em 1710, co m sua pera Rinal do,
seguida alguns anos mais tarde por Pastor Fido
(O Pastor Fiel) e Teseo e, em 1717, pela \Vater
Mu sic (Msica Aqutica), composta para uma
festa real noTmi sa. Mas ento Jonatha n Swift
deu a John Gay a idia de escreve r a mais bem-
s uc e dida s t ira music al do sc ulo , Th e
Beggar 's Opera (A pera dos Mendigos), que
sat irizava inteli gente e impudenteme nte o
pathos do estilo oper stico de Haendel, os sen-
timentos elevados e hericos do teatro musi-
ca I contemporneo, atrs dos quai s soavam
com bastante freqncia ecos vaz ios e, por fim,
mas no menos import ant e, o sentimentalismo
burgus .
Quando John Rich produ ziu The Beggar 's
Opera. em 1728, no Lincoln ' s Inn Fields Thea-
trc, arriscou o pescoo. A despeito de Defoe
ter trovejado, tacha ndo-a de " imo ral pea dc
escndalo", a obra foi um sucesso e co ntou
sessenta e trs aprese ntaes que, como gra -
cejavam os londrinos, tornaram o compos itor
"Gay rich" e o diret or " Rich gay"* .
A forma escolhida por Gay, que alternava
canes e dilogos, tinh a par alel o no Sings-
piei (pea cantada), uma espc ie de pera c -
mi ca . O Singspiet alemo desenvol veu-se em
linhas muit o prximas s da ope reta; em Pa-
ri s, o Thtre de la Foire transformou-o em
vaudeville com um toqu e de cabar; trinta anos
mais tarde, as ari as bufa de Viena, parodian-
do a opera seria. eram pr imas em primei ro
grau de The Beggar 's Opera. Um segundo de-
senvolvimento foi a forma art stica do mel o-
drama , mais bem tramada; j experimentada
pel o tea tro didti co e ainda mo stra ndo sua in-
flu nci a na Za ide de Mozart , tin ha sua ori-
ge m no monodr ama para um s ator, cuj os pio-
neiros fora m Jean-Jacqu es Rou sseau e Geo r-
ges Benda.
A retomada dos modelos bsicos da Anti-
g idade tambm na msica e suas aplicaes
ao mun do sentimental bur gus abriu um vasto
campo de possibi lidades teatr ai s entre os p-
los da pomp a e da natur alidade, um ca mpo de
correntes e contra-c orrentes contrastantes.
O esplendor ulico do absolutismo estava
ce lebrando seus ltimos triunfos. A burguesia
~ , Tr ocadil ho entre as palavra s gllY (alegre) e rich
(ri co, dos nomes de John Gay e John Ri ch.
387
provou ser uma fonte de poder criativo. O es-
prito puritano e piet ista revelou uma obstina-
o rabugent a em limit ar os domnios de ati-
vidade que mal acabava m de ser conquistados,
mas no logrou a "jo rnada na direo do bom
gos to". "Oh, permiti que o esprito ldico se
aproprie dos campos, da trilha dos desejos de
nosso corao, do jardi m dos nossos sonhos
amorosos", assim Ti eck, em Pri n; Zerbino (O
Prncipe Zerbino), zombou, um sculo mais
. tarde, de uma era na qual grandes pensamen-
tos e idias revolucionrias amadureceram
debaixo de peruc as que iam at os ps.
Com O Barbei ro de Sevilha, Beaumar-
chais irrompeu atravs da hierarquia clssica
de personagens do drama e da ordem social da
sua poca. El evou o tr adi ci on al papel se-
cundrio do confidente, transformando-o no he-
ri da pea, que engana duqu es, doutores e cl-
rigos e desacredit a a poltica e os privilgios.
E, emAs Bodas de Fgaro, que a censura barrou
por seis anos, Beaumarchais revelou os abismos
sobre os quais a guilhotina logo se ergueria.
Em O Barbeiro de Sevilha, Fgaro paro-
dia a garbosa arte do verso antittico e, ao mes-
mo tempo, tambm o grande Voltaire . que ha-
via se mostrado incapa z de libertar- se tanto de
Pietro Metastasio na msica do alexandrino
quanto da "inveno de lugar es plaus veis".
Junt amente com Rameau, Voltaire havia escrito
a pera-bal La Princesse de Nava rre (A Prin-
ces a de Navarra), que foi encenada em Ver-
sailles em feverei ro de 1745 , e com isso incor-
porou a sucesso da com die-ba llet, forma
criada por Moli re e Lull y.
Mas em Genebra, como dono primeira-
mente de uma casa de campo chamada Les
Dlices e depoi s de uma propri edade nas re-
dond ezas de Ferney, Voltaire deu-se ao prazer
de desafiar a lei das autoridades calvinistas que
proibi a espe t culos teat rais. Convocou os as-
tros da Comdie Franaise, as atrizes Dumesnil
e Clairon e os ator es Le Kain e Aufresne, en-
saiando com eles se us dr amas. Ele prprio
contracenou com Le Kain em Mahomet e con-
seguiu que "lgrimas j orrassem aos borbotes
de todos os olhos suos", no "domnio de
mando das vinte e ci nco perucas" do conselho
da cidade de Genebra.
Rousseau, em sua Lettre ii d'Alembcrt sur
les Spectacles (Ca rta a d' Alembert sobre os
388
Hi s t r i a Mu n d a l d o Teatro .
Espet culos), opusera-se predom inncia do
drama cl ssico francs no teatro suo e cha-
mara a ateno dos seus ami gos confederados
para sua prpri a tradi o de teatro popular.
Volt aire divertiu-se soca pa fazendo o papel
de ad vogado do diabo na assi m cha mada
"guerra do teat ro suo" que ele havia desen-
cadeado .
Medido por Corneill e e Racine, o poder
dramtic o de Voltaire era muit o menor que sua
razo crti ca . Mas os atores o amavam. Com-
peti am pel os famo sos papi s principais de
Zaira. Maom, Alzira, Brutus, Mrope. Quan-
do Voltaire, aos oitenta e quatro anos, voltou a
Paris ma is uma vez em 1778 para uma apre-
sen tao de sua tragdi a f r ene, foi receb ido
como her i nacional , no palco e pela Acad rnie
Franai se, ago ra que, nas pala vras de Goethe,
"avanara em anos, como a Lit eratura, que ele
dominara por quase um sculo".
O sucesso de um aut or media-se pel as l-
grimas derram adas na pl at i a. Chris to ph
Martin Wieland, ento jovem professor part i-
cular em Zurique, emj unho de 1758 viu Sophie
Ac kerma nn, diretora da Troupe Ackermann,
no papel da Alzira de Voltair e. Ele havia co-
meado a esc rever uma tragdi a, Lady Johanna
Gray, e agor a retomava o trabalho. Um ms
mai s tarde, em 20 de julho de 1758, a se nhora
Ac kerma nn representou o papel -t tul o da pea
de Wi eland em Winterthu r. Arrebatou o pbli-
co co m "encanto dulcssimo" alternado com
" freqentes lgrimas". O autor elogiou sua a-
tuao, por ter ela expressa do toda a di gnida-
de da per sona gem, e tambm aquilo que ele
prprio pudera apenas sentir, ma s no traduzir
em palavras.
Chorar e rir saciedade, numa ni ca noi-
te, era a exigncia do pbli co, qual o teat ro
de Londres do sculo XVIII tambm obede-
cia . A o dra ma burgus prosperava em doi s
teatr os rivais, o Drury Lane Th eatr e, fundado
em 1663 e orig inalme nte a casa da Kings
Co rnpany, e o Dorst Garde n Theat re, proj eta-
do em 1666 por Chri stoph er Wr en . O Drur y
Lane Theatre encenou a bem-s ucedida Thc Tra-
gedy of Lady Jane Grcy (A Tr agdi a de Lady
Jane Grey) ( 1715) de Nicholas Rowe, que ser-
viu de modelo verso alem de \viel and.
Geo rge Lillo foi um pioneiro do dra ma burgus
com The London Merchan t (O Mercador de
6. Encenao de uma opera rom ique de carrcr burgus no Il tcl de Bour gognc. Paris. 1769. Bastidores na parte de Irsdo
palco. que foi aumentad o para a frente c equipado COIll luz. de rihaha c caixa de ponto. Desenho de P. A. Wi llc. o Jovem ( Paris.
Biblioteca Nacional).
7. The Beggar's Opera. quadro de Will iam lI ogan h (1729). Polly c Lucy, implorando rela vida de Mache ath. A
"pera do Mendigo", de John Ga y. foi apresentada pela pri meira vez em 1728. no Linccln' s Inn Fields Playhouse em
Londres, por John Rich.
8. Grav ura snruica de Wi llia m Hognn h so bre Thc Ueggar 's Ope ra: ao fundo. uma companhia da cort e ence na a
obra; di ant e dela. lima t nrupc popul ar. de utorcs ambul antes, ergueu um tab lado c faloii pardia dos cantores da pera
co m grotesca" uuiscuras de animai ... _
A Era l ia C J adan i a Hu rg urs n
Lon dres), e seu t ipo de "c omdia sentimen-
tal" atraiu respeitosa ate n o tambm no Con-
tinent e. Diderot discut iu-a, e Lessing escolheu
Tlte London Merchan t como modelo de sua
prpri a tragdia burguesa, Miss Sa ra Sampson,
The Recruiting Offi ccr (O Recruta) , de
George Farquhar, um retrato spero e licen-
cioso da classe dos burg ueses e dos costumes
do exrcito, embora se destaque por sua saga-
cidade e humor bem acima do n vel da "co-
mdi a de costumes" contempornea. Em The
Beaux' Stratag me (O Estratage ma dos Jano-
tas), uma comdia sobre a converso de pati-
fes encenada pela primeir a vez no Hayrnarket
Theatre em Londres em maro de 1707,
Fa rquhar criou o prot tipo da confisso de
amor dramtica no qual da va as mos IIs hero-
nas de Marivaux, exercendo uma influncia
ain da presente sessenta anos dep ois na Minna
\ '01 1 Barnhelm de Lessing. A herona de classe
mdia da pea, Dorinda, obedece ao princpio
de "honestidade inigualvel" e considera seu
a mor mais bem recompensado quando se pro-
va desinteressado:
Antes eu me orgulhava. sen hor. de sua riqueza c dc
se u ttulo, mas agora 1 l 1 ~ org ulho mnis ainda de que o
se nhor no tenha ambos: ago ra posso mostr ar que o meu
amor estava correramentc di rigido. e q ue 11:'0 linha ne-
nhu m propsito, salvo t) ' U110r.
Em meados do sculo XVIII houve uma
ret oma da de Shakespea re nos teatros londri-
nos de pbli co burgus. A nova proposta na
poca era comp reender a alma do esc ritor, e
fazendo exaramente isto David Ga rrick, em-
presri o e atar, moldou o teatro ingls por trinta
ano s. Ele "baniu decl am aes, linguagem
bombstica e caretas", como escreve seu bi-
grafo Thomas Davies, e "restauro u a natur ali-
dade. a desenvolt ura, a simplicidade e o hu-
mor genuno".
O Ricardo III de Ga rrick tornou- se o mo-
delo de interpret ao shakespe ariana na Ingla-
terra oitocenti sta. Samuel Jo hnson , que em
1765 publicou sua grande edi o da obra de
Shakes peare, via a prpria alma do dramat ur-
go incorporada em Ga rrick e pagou-lhe o tri-
but o de dizer que este havia sido o primeiro a
espalhar a fama de Shakespe are pelo mundo
todo. De mai s ou me no s 1730 em di ante,
Shakespeare, Farquhar. Congreve, Otway e
Addison foram encenados tambm no outro
lado do At lntico . Atores profissionais ingle-
ses aprese ntaram-se em Nova Yor k, Filadlfia.
Boston e Charleston e deram a co nhece r ao
Novo Mu ndo o drama burgus do Ilumini smo
europeu. A pr pr ia primeira pea de Ga rrick,
a burleta mitolgica Lethe, cuja estria ocor -
reu no Drur y Lane Theatre em 1740, quase
imediatamente depois co nheceu suce ssivas
represen ta es nos palcos nort e- america nos,
em geral como o nmero que se seguia a uma
tragd ia - co stume recebido de uma tradi o
euro pia que remonta anti ga pea satrica (e
que na Co m die Franaise usual at hoj e).
Garrick atuou primei ramente em vri os
teatros de Londres, inclusive o Co vent Garden,
co nstrudo em 1731. Em 1747, ele se uniu a
James Lac y para adquirir o Drury Lane Theatre
e di vidiu com ele sua administrao at 1776 .
Existia grande rivalidade entre os doi s teatros ,
que ficavam disputando a glria de es tar le-
vando o melhor de Shakespeare. Em 1750, am-
bos encenara m simultaneame nte ROIII ('u e
Jul ieta, com Spranger BalTYe Susannah Ma-
ria Cibbcr no Covent Garden, e David Ga rrick
ao lado de George Anne Bellamy no Drury
Lane. O pblico e os crticos tomavam parti -
do, apaixonadamente. O Drant at u: Censor, en-
tretanto , pilheriou : " De novo Romeu?... Ma l-
dio sobre ambas as casas".
Renunciand o deli beradamente ii os tenta-
o, Ga rri ck usou os corriqueiros cenri os pa-
dro es tocados no Drury Lane Theatre. Em
contraste ao s vistosos decors de John Rich no
Lincoln' s Inn Fields e mais tard e no Covent
Garden, Garrick achou mais importante inten-
sifi car a pal avra falada . Mas permitiu a seus
co nvidados a ostentao que recu sava a si
mesmo. Quando, no vero de 1754. ele convi-
dou o c lebre mestre de danas e core gra fo
francs Jean Georges Noverre a apresentar-se
no Dr ury Lane Thcatre para a tem porada de
inverno de 1754-1755, Noverre, conforme nos
conta Thomas Davies. "co mps aqu ele ac -
mulo de figuras multifrias, den ominado Fes-
tival Ch ins ; um espetculo no qual foram exi-
bid os vestimentas e figurinos dos chineses, cm
format os e cara ct eres qua se inumerri vei s" .
Como que por m sorte, verificaram-se con-
flit os de fr ont eira na Amrica, e, quando as
hostilidad es irr omperam en tre Ingl aterr a e
391
Frana, o pblic o comeou a protestar contra
o fato de Garrick empregar to grande nme-
ro de franceses num teatro ingls. Consideran-
do o quant o j havia investido na produo,
Garriek foi em fre nte e estreou. A nobreza
aplaudiu nos ca marotes , mas a platia ultraja-
da descarregou seu di o numa luta generali-
zada. Garrick s conseguiu sair ileso sob es -
colta policial.
Pouco depois, empreendeu uma longa via-
gem ao continente. Foi festej ado na Itlia e na
Frana, mas no deu espetculo pblico em lu-
gar nenhum. Ocasionalmente consentia em apa-
recer numa rci ta de amostra em crculos priva-
dos, e numa dessas ocasies foi visto por Diderot
em Paris, que o elogiou entusiasticamente:
Ns o vi mos re prese nt ar a cena do punh a! de
Macbeth; na sala, simplesmen te. com SCL1Strajes comuns,
sem qualquer aux l io de ilu so teat ral. Enquanto segui a
com os olhos O punhal (invisvel ) suspenso sua frente e
se afa ... rava, sua uumo era to excelente que ele provo-
co u. em lodo s os convidados, um grito de admirao.
Aps O seu retorno do continente, Garrick
introduziu um novo sistema de iluminao no
Drury Lane, que eli minava os candelabros em
arco (os quais ao iluminar o palco sempre obs-
truam a vista da galeria). Ele intensificou a
il uminao proveni en te dos bastidores por
meio de refletores embutidos e, com isso, con-
seguiu a vantagem de uma iluminao brilhante
e graduvel para o meio e o fundo do palco tam-
bm. Durante o per odo romntico, o Drury Lane
Thcatre manteve sua dianteira nas tcnicas de
iluminao, sendo um dos primeiros teatros eu-
ropeus a introduzir a iluminao a gs.
Mas a rejeio de toda a pompa conven-
cional no cerrou em Garrick a ambio de ter
figuri nos e cenrios "fiis natureza e ao esti-
lo". "As vestes eram ricas e magnifi centes",
conta Thomas Davies, referindo-se it produ-
o, em 1749, da tragdia f r ene de Samuel
Johnson, "e as cenas esplndidas e alegres,
porque bem adaptadas ao int er ior de um
serralho turco; a vista de seus j ardins estava
ao gosto da elegncia ori ent al".
Em 1769, Ga rrick organizou as celebra-
es dojubil eu em Stratford-on-Avon emgran-
de estilo, com uma proci sso de personagens
shakespear ianos. concertos. fOgl' Sde artifcio
e mostras de teatro. U II1<1 chuva copiosa c in-
392
l i s t r o M Ulli / itl! '/0 T (' (I / ,.n
tr igas de struram se u empreen diment o, e
Ga rrick, segundo Davies, "sempre aliando a
mai s estrita economia s mais liberais despe-
sas ", transferiu o es pet culo do Ju bileu para o
Drury Lanc, como quadro de encerra mento do
repe rtrio programado, e "o p bli co ficou to
encantado com a inco mum procisso [oo. ] que
sua apresen tao foi repetida per to de cem ve-
zes". (Por iniciativa popular o primei ro Memo-
riai Theatre de Shakespeare foi constru do em
Stratfor d em 1879, e, aps ter sido destrudo
num incndi o, um novo teatro foi erguido em
1932 como sede do festival anua l.)
Enquanto isso, na Alemanha, o estilo na-
tur al de representar encontrou um ca mpeo em
Konrad Ekhof', cujas ca racterizaes c nicas
prprias chegar am at o tempo de Lessing e,
na verdade, foram responsvei s pel a confian-
a des te ltimo nas prete nse s artsticas do tea-
tro. O Odo ardo de Ekhof, na Enii lia Galotti de
Lessi ng, foi elogiado como um es tudo exem-
plar da emoo contida. "Suas nuanas de rai-
va sufocada, fria e range r de den tes, dor aba-
fada. sua risada de dese spero - quem poderia
de screv -l as" , esc reve u o c r t ico J oh ann
Friedrich Schink; suas palavras:
mas, mi nha filha [...}. Da mesma to rmu que a te rra tre me
so b uma tempestade noturnn. assi m tam b m o cora o
do espectador tre mia qua ndo e le as pronu ncia va. Todos
sentiam o sopro dn mo rte e encolhimn-s..L' COIll sua do r.
Em adio a seu poder pessoa l de plasma-
o , Ekhof demonstrava um zelo de reforma-
dor. Fundou uma academia de intrpretes em
Sc hwerin em 1753, cuj os obj etivos fixou em
vinte e quatro artigos. Sua id ia de "harrnoni-
zao da interpretao" foi a primeira defini -
o conce ituai dos futuros pri nc pios da dire-
o tea tral.
A arte deve estar to prxima da natur e-
za, exigia Ekhof,
q ue a veross imilhnnu h de se r tom ada p ~ l a ve rdade. Oll
o que se passou deve ser reproduzido t o nat uralm ente
COIll O se esti vesse aco ntece ndo agor a . Atin gir profivsio-
nulismo nesta arte dc numda ru imagina;l o viva, ju izo sin-
ccro. e sforo infatig.ve l e pr.. itica iuint cnuptu.
Este cdigo profi ssional pode soar algo
professor al. Voltaire expressou isto com mais
te mpe rame nto . "C ' cst lc cocur S<' II/ 'I IIi fa it lc
9. Cena de O Alquimista. de Ben Jonson, com John Burton co mo Subtle, John Pal mer como Face e David Garrick no
papel titulo. Al ez-z.o lima de John Dixon, a partir de J. Zof fany. 1771 (Londres, British Mu scu m. Somcrse r Maugham
Co llection).
10. Tlu: School fo r Srondal, de Richard Brinsley She ridan , t31 como encenada em 1777 no Drury L . H l ~ Theat n-.
Lo ndr es.
I L David Garrick no pa pel de Ricardo III. Pintura de Wt liam Hogarth.
12. Presrr vcd, de Thomas Orway, conlortuc ence nada cm 1762 no Drur y Lanc Th catrc. Londres. com David
Garr ick c S. M. Cibbcr. tinl:\ J. McArdel l, 17rj.. L
A Era (la C d a do n u Bn rg ncs u
succs 0 /1 la chute", es creveu ele para a atriz
Qu inault - " s o co rao deci de sobre o su-
cesso ou o fracasso" . Mas Schwerin no era
Par is. Port ant o. tant o mai s instrut iva a iden-
tidade de pontos de vista acerca da di reo tea-
tral. Repetidas vezes Voltai re , como Ekho f ,
insistiu em qu e um cuidadoso clc ulo deveria
ser feito para a " verossimilhana", na atua o
conj unta do elenco e na relao entre cenrio
c enredo.
Diderot foi ainda mai s lon ge. Ele dit ou
regra s de direo teatral tai s co mo el as volt am
a aparecer no es ti lo de ence nao de Goethe
em Weimar. "Os atores devem ser combina-
dos, separados ou di stribudos. isol ad os ou
agrupados" , exigia Diderot.
como pa ra fazer dc lrs s ries de pill 1ltras. toda .... til." co m-
posi o gran de c verdade ira . Ouo ti l pod eria ser o
pintor para o ater c o .uor pa ra o pintor! Seria um rec ur
so para aperfei oar do is importantes tal entos ximul ta -
neame ntc.
A exige nte concepo de Diderot pre ssu-
punha atore s nos qu ais se pod eria espe rar qu e
isto tivesse algum eco - pro tagonistas capazes
de for ma r estilo. co mo por exemplo o c lebre
int rpret e de Voltaire. Le Kaiu. que se torn ou
renomado por sua impressionante imerp rcta o
gestua l c qu e. co mo diretor, aspirava a um a
peinture aninu'c (pi nt ura animada) . O grande
Franoi s Talma baseou seu estil o de interpreta-
o no de Le Kain e reconhece u sua dvida para
com ele em R'U7l'xiolls SUl' Li' Kain (' I SUl' l'Art
Thctral (Refl exes so bre Le Kain e sobre a
Arte Teat ral) ( IX25I: ma s mesmo ant es . por
volta de IROO, Ta lma serviu de ligao di ret a
com Weim ar. Wi lhelm von Humbold i o havia
visto cm Pari s e esc reveu a seu respeito a Goethe
numa cart a detalh ada.
Entret ant o. na comedi Franai sr da p o-
ca de Le Kain qu a lqu er VlJ O de imagrna o da
ence nao trop e ava nas fami gcradas pernas
das cadeiras: os lugar es es pec iais em c ima do
pa lco, que se adqui riam por preos mai s ele-
vados. Essas assim chamadas bunqucttcs sig-
nifi cavam um subs dio bem- vind o para o cai-
xa, ma s para os atures eram uma imp osi o
suficiente par a liquidar qualquer dispo sio .
Numa frase mu ito c itada . um diretor de ce na
teria pedido: " Me us se nhores . abram espa o
para o fan tasma de Csar !" Em 173'). um a
ap resentao de Ath al ic de Racine na Comedir
Franaisc preci sou se r int errompida porque os
intrp retes corriam perigo de serem esmagados
pel os oc upantes das />0 11'1111'1/('05. No pref ci o
de Brutus, Vo lta ire recl amou am ar gamente
desse abuso. qu e tornava "qua lq uer ao qua-
se impraticvel". Mas n o foi ant es de 1759
qu e ele, finalment e, conseguiu acabar com o
inconveniente. Ele per su adiu o conde de Laura-
gua is a fazer um don at ivo de sessenta mil fran-
cos para co mpensar a gente do teatro pela per-
da da fonte de renda.
No caso das ITII UI' I'S itinerantes. o abuso
dos lugares no palco tamb m era comum em
tod a a Europa. H um a pintura, do Gr nnegade
Thea ter em Copenhagu e. tratando do assunto.
Lessin g mencion a, na se o 10 da Hamb ur-
gi sche Dramaturgie (Dra ma turgia Hambur-
gu esa) , "o brbaro costume de per mitir es-
pect adores no palc o" . Uma represent ao em
tou rn e do grande int r prete de Lea r, Fri edrich
Ludwi g Sch rd er. e m Hamburgo no ano de
1784, atrai u tamanha afl u nc ia que cadei ras
extras foram co locadas at entre os bastido-
res. Mas esse foi um expedient e excepci onal
que prcsumivel rnentc no di mi nuiu. de mod o
alg um. o fogo de Sc hr de r.
1\ .1" Or ig c ns do Tc a t ro Nnc i on a l
lia Europa S I' 11' 1I I r i o ll ({ / I'
O' ri e n t a l
A Frana no e nviou para o exterio r ne -
nhu ma troup c ambu la nte, ma s se us c lssicos
fo ram encenados em tod a a Eu ropa. Esta apren-
deu a gr aa do movime nto co m os mest res de
dana france se s. a conve rsao elegante co m
pro fessores fr ancese s. as de lica dezas culin-
rias co m os cozinhe iros franceses . Quem quer
qu e aspirasse cultura . lia c escrevia francs.
Paris dit ava a moda at para Estocolmo c pa ra
Moscou.
O primeiro pas no qual o teat ro tOl1l0U
aut oconscincia de suas potencialidades nacio.
nai s foi a Dinamarca. qu e j servi ra outrora de
porta de ent rada para os novos impulsos tea-
trai s vindos da Euro pa. Via Cop enhague. os
pr imeiros co medi.une s inglcses chegar am ao
co ntinente no fin al do s culo XVI. E, em Co-
pc nhaguc, no incio do sculo XVIII. uma arte
teatral nativa comeou a emergir, com o aux-
lio dos atore s franceses. Seus inici adores fo-
ram o titerei ro ticnne Capion e Ren Magnon
de Montaigu, que cheg aram co m uma carta de
aprese ntao co rte dinamarquesa. Estando
Capion to profundament e endividado que pa-
recia ameaa do de perder o alento, Montaig u
redi giu uma peti o ao rei dinamarqus Frede-
rico IV, em quem, aps o trmino no Norte da
Guerra dos Trint a Anos, o povo depositava
grandes es peranas na revivescncia do pas.
Mont aigu tent ou atrai r o interesse do rei para
o teatro. "A construo de um teatro", dizia o
pedido,
na histria de praucamcnte lodos os povos. acompanh ou
o per odo mais prspero do reino. A paz que Vos<; a Ma -
je stade rece nte mente proporcionou Vossa nao. 3 p()S
as vi tr ias de urna longa gu erra. parece-me mar car o
momento ma is apropriado para esse e mpree ndimento.
A poca foi bem escolhida. Frederico IV
anunciou sua aprovao. Porm. mais decisi-
vo ainda foi o "sim" da histr ia, que exata-
ment e ento produzia o primei ro dramaturgo
dinamarqus - Ludvi g Hol berg.
O novo teat ro cm Lill e Grnnegadc. em
Cope nhague. foi inaugurado em 23 de serem-
brode 1722, com OAvarento de Mol irc numa
ada ptao dinamarquesa. Dois dias mais tar de
foi encenada uma co mdia de orige m dinamar-
quesa. Denpolitiske Kandestiiber (O Estanha-
dor Poli tiqueiro). Se u autor. anunciado corno
"um novo mestre din amarqus". era professor
de metafsica, re t rica e histria em Copenha -
gue, mas descob riu que a profi sso acadmi-
ca, da qual tirava o sustento, lhe era insuporui -
vel. Escreveu suas primeiras peas cmicas sob
o pseud nimo de Hans Mikkel sen e no reve-
lou a autoria at o laname nto de uma colet -
nea de suas comdias . Sua pea O Estanhador
Politiquvtn, logo se torn ou a cptome de tudo
o que ele atacou numa stira franca e liberal -
o sabicho poltico das tabernas de cerveja de
cl asse mdia -baixa.
Holberg nunca prestou muit a ateno
afl uncia em seu auditrio de prelees, Mas
quando seu teatro atraiu grande afluxo de es -
pectador es. ele orgulhosamente menciono u o
fato em "Notcias de Minha Vida emTr-,Car-
tas para um Cava lheiro Distint o". Na primeira
apre sentao de O Estanhador Politiqueiro,
39
Hs t r a Mu nd al dn Te at ro.
co ntou ele, a mult ido foi to grande que "mui-
ta s pe ssoa s simples me nte no co nseguiram
atravessar e tiveram de perma necer cm p do
lad o de fora" . Mas Holberg ressentiu-se com
as interpretaes erradas ou mal co mpreendi-
das: " Houve, ape sar disso, aq ue les que no
gostara m desta comd ia" . notou com irrit ao,
po rq ue no co mpreend eram se u se ntido c imagi naram
q ue ela pretend ia zo mba r dos ed is da c idade. Ma s nin-
gu m ant es escr eveu uma com dia 4,lI C afirmasse mais
e nfatica me nte o prest gio .. b s aut or idades .
Por mais fer ino que Holberg gostasse de
ser em sua crtica, ele no e ra de eonfess-Io
mai s tarde. "Volto minh a pena apenas contra
o vc io, e no contra pessoas", prot est ou. " De
resto . en cont rar- se- ri mai s bri ncadeira do que
amargur a em minh as obras; porque eu no
busco a censura pel a simples ce ns ur a, mas ten-
to corrigir as faltas dos homens".
A forte nfase de Holb erg na funo mo-
ral da comdia co rres po ndia inteiramente
vis o utilitria da Ilustr ao. Es tava preocu-
pado co m o efeito didtico e ape rfeioador do
palco pbli co. Seus esfo ro s em ves tir a a o
e as personage ns com os trajes de sua prpri a
nao serviram de mod el o para Gottschcd na
Alema nha, assim como par a os reformadores
do teat ro nacional nos pases da Europ a setcn-
trienal e oriental.
Em cinco anos. entre 1722 e 1727, Hol-
berg escreveu vinte e seis comdias. Suas fon-
tes eram sua prpria observa o do mundo em
de rre dor . Plauto. a quem admirava gra nde-
mente, e. mais do qu e tudo. as per sonagens de
Moliere . Tomara conhec ime nto da Conunedia
dcll 'artc dura nte uma viagem iI Itli a, e na ver-
dade eIII rara em co ntare co m uma 11'O/{1' 1' dcs -
ses ate res quando em Roma. Ist o lhe trouxe,
e nto, frutos. O Thctrc Italien (Tea tro ital ia-
no) de Gherardi, a muit o usada . inexau st vel
cole o de temas util izados pel os improvisa-
dores. era uma font e de chistes e rplicas, S
vezes de cenas e situaes co mpletas. Em sua
comdia Feitiaria. Holberg prope uma cena
na qual dois atores, aos qu ai s incsperadamcn-
te se ped e um eplogo alegre, puxam rpido
uma cpi a de Gherardi e seguem o modelo.
Moli cre havia dito : " JI' prctuls tuou bicn
1'1/1'10111 oi,.il' II' 11'011\ '1' '' ; as s im t ambm
Hol ber g co lhe u os fru tos de suas lei tur as.
A Era da C d a du n a Burg ucs o
para produzir seus papis-t tulo inteirame nte
originais, de finidos co m ag udeza e reali st i-
came nte pint ad os : Je ppe da Mont anha, o
Barb eiro Volvel, Jean de France, Ul ysses,
Jacob von Thyb oe (um tipo mi les glo riosusy .
Dom Ranudo de Colibrados, os as tuciosos
servos Henrik e Pernille (toma dos diret amen-
te da Commedi a dell 'arte). Em outras peas,
tais como No Balnerio, A Festa de Baco. O
Sa lo de Natal e O Quarto de Parlo, e le
criou quad ros co loridos dos costumes de seu
tempo.
Entretant o, mesmo no teatro Gr nnegade
de Copenhague, os primei ros passos do drama
nacional dinamarq us eram obscurec idos pel a
haut e comedir fran cesa. O prpri o Holdberg
misturava suas peas para que "fossem repre-
sentadas em alternncia com as famosas com-
dias de Molire e recebidos com o mesmo aplau-
so". De fato, acr escenta ele, as apresentaes l
eram muito melhores, porque "o Senhor Montai-
gu, um famoso ator francs" , instrua seu pes-
soal com muit o cuidado sobre a forma como de -
veria m pronunci ar suas falas, e a respeito de
"maneiras, gestos e outras questes" .
As peas de Hol ber g era m levadas em
ravernas, casas de faze nda e sales pblicos.
As pragas, murros e pontaps ali dist ribudos
mantinh am a ca sa real longe do Lill e Grnne-
gade; co nce dia m- lhe a benevol ncia real, mas
no a presena. Qua ndo. em ja neiro de 1723,
Frede rico IV convido u os atore s dina marque-
ses a apresentarem-se na corte, esco lhe u du as
comdias de lavr a francesa, prefer indo-as ao
gnero rude dos dramatur gos nativos.
Cin co anos du rou a fama do pri mi tivo tea-
tro naci onal din amarqus. Em 25 de fevereiro
de 1727, a aventura inici ada com to grandes
es per anas foi ao tmul o co m a far sa mel an -
c lica do FIII/cml da Comdia Dinamarquesa
de Holberg. " O qu e vou fazer dorava nte, vi sto
que a comdi a est acabada'?", lamentava-se
no palco a atri z Sophie Hj ort . "Onde hei de
encontrar emprego'! Brigamos com todo mun-
do, com oficiais, mdi cos, advogados. funilei-
ros , marqueses. ba res e barbei ros". No final.
apenas Tlia perman ecia pa ra descrever o mi-
servel estado da Co mdia. entr e o embargo e
a priso por d vida. antes de "morrer de tsica" .
Um ano mai s tar de. o tea tro Griinnegade
foi redu zid o a cinzas no grande incndi o de
Cope nhague. A parti r de ento, de 1728. e sob
o reinado de Cri stiano VI. a infl u ncia do cl e-
ro dominou . No havi a como pen sar numa
revi vn cia do teat ro popular. Quando Frederi -
co V ascende u ao trono em 1746 e ofereceu
uma nova chance ao teatro, Holberg, aps uma
pau sa de vi nte anos, pde produzir apenas
" fi lho s plid os de um pai ido so" .
Um desenh o do sculo XIX de R. Chris-
tian sen nos reco ns tri o teatr o Gr nnegade du-
rant e uma representao de Jcppe da Mont a-
Ilha . A pl atia e as du as orde ns de galerias es-
to cheias de espec tado res , dois candelabros
co m muitas velas es palha m luz e fulige m, uma
ribail a di stribui os focos de luz e, ao lado , en-
tre os bast idores, alguns cav alheiros ocupam
cade iras no palco .
Johann Elias Schlegel, tio dos romnt icos
ale m es Wilhelm e Friedrich Schlegel, foi por
al gum tempo secretrio do embaixador saxo
na cor t e dinamarquesa. Em seu t ratado
Gedanken z u r Aufn ahnie d es d nisch en
Theatcrs (Co nside raes sobre a Recepo do
Teatro Di namarqus), escrito em 1747. usou
suas experi ncia s em Co penhague como base
para uma crtica literri a e social. Suas consi -
de raes levaram- no. por via do otimismo edu -
cac ional do Iluminismo. a uma discusso so-
bre necessidade de um tea tro naci onal , e fo-
ra m logo em seg uida mai s bem desenvol vidas
em Zuf l lige Gedanken ber di e de utsche
Schaubiihne iII lVil'll (Conside raes ao Aca so
sobre a Casa de Espe tc ulos Alem em Vie-
na). Ao defende r o teat ro nacional como uma
inst it ui o es tata l. sustcntada e financiada pe-
los soberanos, J . E. Sc hlegel pressupunha a
ex istncia de dramaturg ia nati va, que, em sua
opinio, era de longe prefervel francesa.
J;, que. [alando de forma ge ral. prejudi c ial .10 cs-
p r ito de uma nao o Iato dc avir-se se mpre COIll Iractll -
cs de obras e fal har no enco rajame nto das
men tes bril hantes do prprio pas.
Sc hlegc l pr otestou contra a dominao das
pea s cl ssicas francesas nos palcos da Euro-
pa e co ntra sua indiferena endmica s pla-
ti as co muns, que as impediam de atingi r o
corao do largo pblico.
o 110111\:111 l: OI HUIIl 11;-10 pod e apr eciar a suu levu tio
,\fi sm l1l"l1l Jo de- Mofi eu- l' tio Il m gg a r l Dcctou chcv. c
3<.) 7
13, O Gr nnegadc Thcatcr em Ccpenhagcn ( 1722-1728) dura nte uma apresent ao de j t'I'I'(' da Mont anha de Holb erg
H espec tadores sentados nos bastidore s: um contra-regra est aj usta ndo os pavios das velas da ribalt a. Reconstitui o
num desenho de R, Christiansen. sc ulo XIX (Co pennagen, Chrisuansbo rg Th cutcr Museum ).
J4. Cena de Jepp e da Montanha. Gravura de J. E Clemens. a part ir de uma pintura de
C. \\'. Eckersberg (da Galcne Hol bcrcv. L'opcnhapcn. IH:?X).
15. Palco de troupc ambul ant e no Angcr c m Munique. c. 1750 , Qu ad ro de Joseph Stcphan (Munique. Museu do
Teatro).
16. lin '!Jn'c/If n m Arms tel, de .Ioosl vau deli voudcl. no Nicuwc Schouwb urg. Amsterd. 1775. (' rnvum a part ir de F.
va u Drccht .
de outras pea s dest e ti po. ao passo YUl' elas so uma
atrao partic ular p a r ~ ' as pessoas da c0I1c. visto que:pcu -
sam reconhecer aqui l ' ali o retra to de algum de: suas
relaes c. s vezes. vem a si prpri os.
Esta deveria ser a preocupao de todo dra-
maturgo, prosseguia Schl egel , eleger temas po-
pulare s prximos da gente de seu prpri o pas;
na escolha dos per sonagens o escrit or preci sa-
va "ser guiado pelo s costumes de sua nao". A
partir deste ponto de vista, Schlegel no fazia
objeo com die larmoyant e e s burlesques
populares rejeitada s por Gottsched como "far-
sas dissolutas" , porque estas seriam "a mai s
natural descrio dos costumes do homem co -
mum". O dramaturgo, entret anto, deveria ir mais
longe ao retratar as grandes massas e incluir
tambm crculos mais elevados, de modo a ofe-
recer ao pblico "o prazer da diversidade [oo.]
um financi sta francs, o Dottore da comdi a ita-
liana, um gentleman da zona rural inglesa", as-
sim pensava Schlegel, "fariam pobr e exibio
num palco dinamarqus". Holberg expe rimen-
tara o contrrio disso. O plano de represent ar
seu Estanhador Polit iqueiro em Paris falhou .
Numa traduo francesa. quei xou-se ele, "to -
dos os artesos teriam de se transformaremdou-
tores ou advogados ou outras pessoas distintas" .
e sua comdia teria desse modo perdido todo o
significado, "porque a coisa toda se dirigiria prc-
cisamente contra o homem comum". Vestir sua
pea com figurinos parisienses, temi a Holberu,
fali a de sua "comdi a divertida e moral Ulll e ~
petculo banal e maant e" .
A pena crt ica de Lessing dei xou passar
apenas alguma s poucas peas de Hulberg. Es -
crevendo em 1751 no Berlinische privilegirrt c
Zeitung, ele o inclu iu entre aqueles autores que,
"graas a algumas obras justificadament e bem-
recebidas, tiram vantagem da feliz suposio
de que tudo ()que flui de suas ativas penas seja
exce lente" . O interesse de Goethe por Holberg
limit ou- se a O Estanhador Poliquciro; Schiller
no tinha nenhum uso para ele; Kotzebue, po-
rm, emprestou temas de Holberg par a suas
prprias turbulentas peas.
Holberg foi o grande trunfo de bilheteria
das troupcs ambulantes na Alem anha setentrio-
nal e IIOS pases blticos. AAckermann. Konrad
Ekhof e Friedrich Ludwig Schr iider encena-
ram suas comdias. Das cento e noventa apre-
sentacs rcgistradu-, em Hamburgo, nos ano s
400
H s t ri a M'u n d i al do TeaTr o.
de 1742 e 1743, quarenta C qu atro foram de
obras de Holberg.
O teatro nacion al , co mo co nee bido por J.
E. Schlegel, por Johann Gcorg Sulzer na SU-
a, pel os promotore s da Empresa de Hambu r-
go e tambm por Gellert e Kl opstoek, seria "um
espelho de aut oconh ecimcnto" , Com o desper-
tar das foras criativas pr pri as de um pa s,
faria, ao mesmo tempo. justi a aos "modos par-
ticulares e temp er ament o de uma nao". Ha-
via razo para esper ar, declarou Sulzer em
1760, em sua contribuio anual Academia
Re al Prussiana de Cincias de Berlim, "que
um nmero de circuns tnc ias favorveis ir
rest aur ar no teatro a di gnidade que possua no
apogeu da Repbli ca de At en as" .
Como exempl o do que ent endia por drama
nacional alemo, J . E. Schlegel escreveu
Hermann, que apre sentava estreita afinidade pa-
tritica com o Hermanns Schlacht (A Batalha
de Herman) de Kl opst ock (Hermann o
Armnio citado por Tcito. Como chefe dos
queruscos, conduziu as trih os alems vitria
contra o comandante roma no Quintlio Varo na
bata lha da Floresta de Teut ohurg). Nenhum de-
les conseg uiu sucesso no palco com essas obra s
nascidas do sentime nto patri ti co e do compro-
mi sso cultural. Em 1809, quand o Kleist prop s
produ zir sua prpri a Hcrmaunsschlacht, escri-
ta com um olho na poc a e na si tuao politi ca.
ele disse: "So u indi ferent e a qualqu er condi o.
fao [desta obra] um present e aos alemes". Se
se contar tambm com o dr ama de Grabbe, de
mesmo nome. perfaz-se um total de quatro ver-
ses . nenhuma das quais foi bem-sucedid a.
Os campees da idi a nacional no apara-
to da vitria alem na Bat alh a da Floresta de
Teut oburg falha ram unde , um sculo ant es, o
dramaturgo sueco Joost van den Vondellogra-
ra xito em Amsterd. Su a tragdia Gysbrccht
vali Aemstel, uma glorificao da cidade de
Amsterd base ada em fontes hist ricas, sobre-
vive at hoje como uma grande pea festiva
nacional e apre sent ada anualmente no Ano
Novo no Schouwburg. Na Holanda, um teatro
nacional vital nunc a foi problema, nem no s-
culo XVIII nem mai s tarde. Gvs brecht vau
Acmstel, obr a enr aizada no passado do pas e
nas tradi es locais, " vi sta quase como um
drama nacional " , co mo Fr ithj of van Thienen
prudentemente se exprimiu em 1963.
1
~
I
l
i
i
l7 _Frau Neubcr como Elizabet h em Esses de Thomas
Corneillc. Lnogravura de C. G. Bach, a partir de C. Loedel .
IX. Gou sched L' S lI :1 es posa. l-ruu Luise Adc lgundc
Vikroria. nascida Kuln ue- . Ret rato unnimo. C". 17) (1.
Em Varsvia. a ca pi tal da Pol nia. a tradi-
o do teat ro jesuta sobrevivera ao lado da tra-
dio da pera ulica e do Singspicl. O teat ro
pbl ico, constru do em 1779 por Bonaventur a
So lari, fui oficialmente chamado Teatr Naro-
dowy, o Teat ro Nacional. Seu primeiro drama -
tur go notvel foi o pad re jesuta Francisz ek
Zablocki , um port a- voz das id ias radicais
burguesas. Traduziu Le Pre de Famillc de
Diderot para o polons e ence nou o Figuro de
Beaurn arch ais co mo exemplo. para o povo
polons. da luta pela liberdade.
Enquanto isso, em Praga, o amante das ar-
tes, conde Nostic- Rhi neck, dedicou-se a cons-
truir um teatro nacional na Praa Carolinum, e,
no es prito do cos mopolitismo da Bo mia c
da tradio centenria do teatro de Praga, o
dedi cou a "todo e qualquer tipo de pea per-
miti da, sem discriminao de lngua". O novo
teat ro foi inaugurado co m gra nde pumpa em
2 1 de abr il de 1783, co m uma encenao da
Emilia Galotti de Lcssi ng.
A primeira companhia teat ral tcheca foi
for mada em 17R6. numa tentativa de tornar o
tcheco a linguagem do palco de Praga. Nos
ses se nta anos que se seg uiram. a idia de um
teatro naci onal tch eco. co nfo rme Vladi mir
Prochazka obse rvou cri ticamente num con-
gr esso cm Liubliana em 1963, "evoluiu. de um
racionalismo ilustrado , para um pobre nacio-
nali smo burgus" .
A histria nos ensinou a acolher com ce-
tici smo a idia de um tea tro naci onal. No de-
co rrer dos sculus seg uintes. ela foi no raro
invocada para propo stas que pouco tinham a
ver com as aspi raes de seus pioneiro s. Mas
foi . tambm. aplicada a teatros que realmente
provaram ser o que o termo originalmente que-
ri a dizer. No perodo de 1767-1786, os mais
novos desses teat ros - o que inclua os teatros
na ci on ai s ale mes de Hamburgo. Vien a.
Ma nnheim c Berlim -- dedicaram-se a "ser ins-
tru mentos de ideali smo humano" e tentaram
cu mprir seus obj etivos.
Mais ou menos na mesma poca. emergia
o concei to de um "teatro univer sal". Goethe o
defend ia em Weimar c cunhou o termo "liiera-
Ecaa t' M'o la deve r soh me u co ntrol e. pt1i..
:--011 c u a mui-, alta autor idade ed uca ci onal c devo
to pe rmanecer respon svel (liame de Deus pela mora l de
mCII po vo.
Graas tanto a seus grandes drama turgos
quanto a um dom natural para a atuao, a In-
glaterra. Frana. Espanha c Itlia desenvolve-
ram suas formas nativas de teatro no sculo XVI
ou XVII. numa poca em que o Norte e o Leste
do continente europeu ainda estavam rateando
seu caminho atravs da auto-expresso no teatro.
Politicament e, o sculo da Ilustrao ain-
da estava sob o signo da monarquia absoluta.
Assim co mo Lu s XIV se fez patrono da
Comdie Fran aise. do mesmo modo os teatros
nacionais emerge ntes do sculo XVIII quase
sempre devia m sua criao s ambies artsti-
cas de um mi soleil em min iatura. Como em
Copenhague. a realizao prtica semprc exi-
gia a ajud a de atores franceses. Quando. em
1737, Estocolmo conseg uiu o seu primeiro Tea-
tro Real Sueco, a dir e o foi assumida pelo ator
francs Langlois. Cinque nta anos mais tarde,
porm, o Teatro Real Drarn tico de Estocolmo
possua seu prprio elenc o de intrpretes sue-
cos e um maravilhoso teatr o barroco em
Drottningholm, um edifcio do palcio real de
vero reformado em 1766 (que est preserva-
do). O rei Gustavo III. ele pr prioautor das pri-
mei ras peas escritas em lngua sueca, at raiu
poetas c homens de letr as para a co rt e. Em seu
encantador teatro no Castelo Gripsholm, gos ta-
va tanto de at uar em peas de teatro como en -
cen- las. Seu cengrafo era Louis-Jean Desprez ,
a quem o rei trouxe de Roma para Estocolmo.
Na Rssia. a dramaturgi n nativa deveu mui-
to imperatriz Catarina II. Ela escreveu com-
dias e dramas com temas da histria da Rssia.
e fazia-o influenciada por model os frances es e
esforando- se por desenhar suas personage ns
"estritamente fiis realidade". Discutia os pri n-
c pios da composio de dilogos em sua cor-
respondncia com Voltaire c Didcrot, c enviou
a Voltaire suas co mdias. disfar adas co mo
"obras de um j ovem autor desco nhecido", par a
que desse sua opinio . O mestre foi cavalheiro
o suficiente para expressar ii autora imperial sua
"cxtrme admiration 1'0111' votrc auteur incounu,
qui ecrit des comedies dign es de Molien-" C'ex-
trema admirao por voss o autor desconheci-
do, que escre ve comdias dignas de Moliere").
Catarina II aderiu ii fil osofia do Iluminismo fran-
cs na viso do teatro como'a escola do povo" .
Ela via o problema de um teatro nacional em
termos concretos, educacionais:
A Era da C d u d n n i u RJl l' g IH' ,' W
.
n.,o11llJ' dl l. i\JJm'if\ft" it"flftl-J1I"1t
l'h'lf.;' #
mnrt lL.i'tt1\fll:1il t1i d l' ht.I(.
.:t)\Ut,.:,tSU': meu (.... 11 1lJudlfd .
19. A "Comocdie n-Ha us' no Fech thof em Nur cmbc rp. pre sumida me nte co m um espet acul o da troupc Neu ber, que
sempre se apresentava al i. Tragdia hcricu (Haupr-e Staatsakuom com o par de amante s e quat ro bobos. Gravura co lori -
da, do Angenehme Bi dcrlust , Nuremberg, c. 1730.
20. PJ1cocom bastidore s c cenrio para C.:lll1lia de varan-r hurgus: rena farsesca ((1111 Hcnswnrst co mo pint or retra tista; no
primeiro plano, cai xa de P1lfl lo aberta. Pintura a leo. j ' . 17S(1 Mu seu do TC.;IlW).
./11./
tura universal". "Ma is e mais. estou chegando a
ver que a poesia um bem comum humani-
dade", disse em 1!l27 a Eckermann , "a literatu-
ra nacional no conta muit o nos dias de hoj e. A
poca da literatura univer sal a est. e todos pre-
cisam contribuir agora para realiz-Ia".
Entre o supremo se nso de cidadani a do
mundo em Goethe e os autores da idi a de um
teat ro naci on al est o as dcad as dur ant e as
quais o teatro alemo se esforou para adqui -
rir um rosto prprio. A trilha de seu desenvol -
vimento leva, via Schaubiihne de Gousched
(Deutsche Scha ubiihne nach den Regeln der
alten Griechen und R mer cingeri-chtct, " o
palco-cnico organizado segundo as regras dos
antigos gregos e romanos ". 6 vols.. 1740-1745)
e a Hamburgischc Draniaturgie (Dramaturgia
de Hamburgo) de Lessing. era do classici smo
de Weimar e aos ecos que despertou em Berlim
e Viena.
A s Ref ormas Dramti ca s d e
Go tt s che d
Se fss emos nos guiar apenas pelas apre -
ciaes crticas de Lessing, o curador Io dcs -
preconcehido do teatro alem o da era da Ilus-
trao, o pr ofe s s or de li terat ura Johau n
Christoph Gortsched teria poucos mritos a se u
crdito em assuntos de teatr o. Pois Lessing
esc reveu:
Nos dias de da xra. Nc uhc r. lllh"' i l
dramtica vivia num es tado mi ser vel . No ex! riam re -
gras. niugurn obedecia a nen hum mod elo. No o... "d ru -
IUlS hericos" (S u tats.n n. . Jl d dcl1-:U l i pl1("Il ' eram chc io-.
de tolices. linguagem bomb stica. pi"lda:- iudecc utc- l '
vulgares. Nos.... as "comdias" ( LU,\1Sl'iC/c ) consistiam 1.:11I
disfarces c bruxarias. c os II HIITOS c soco.. eram nuu...
espirituosa inveno. No ha via necessidade de ser UI'!
esprito part icularmente grande ou suril para pe rceber esta
degradao
Est a passa gem. includa em 1759 e m
Brieje , dic ncueste Literatur betreffend (Car-
tas sobre a Nova Literatura) foi o primeiro pas-
so para o assassinato literrio de um homem
de quem Lessing, numa passagem muito cita -
da, disse conc isamente: "Seria de se de sejar
que o SI'. Go ttsche d nun ca tivesse se meti do
com o teat ro. Seus pret ensos mel horamentos
refer em-se a as suntos dcsneccsx.irios ou 11'1' -
nam as coisas piore s"
Hst r a Mu ndi al do Teat ro
bem pro vvel qu e no teria havido ne-
nhuma aproxima o entre o j ovem e inteli gent e
esteta e o tacanho pro fessor, mesmo em poca
mai s prop ci a. Mas Lessin g ve io a conhecer o
ditador liter ri o em Leipzig somente quando
o ardor reformista do lt imo es tava quase pe-
trificado em peda ntismo resse ntido.
O prpri o Gottsched, em seus di as de ju-
vent ude, enqu ant o docent e universitrio com um
inte resse apaixonado pelo teatro, abo rdam com
ardor a tarefa que inflama va as grandes mente s
do sc ulo. "O razovel ao mesmo tempo natu-
ral" - tal era a proposio esttica que Gottsched
q uer ia no ape nas procl amar ex cathedra, mas
ver praticada no drama. Isto implicava, para ele,
uma arte poti ca instru da nas regras raci onalis-
tas de Boil eau , subme tida lei das trs unida-
des de Arist t eles tant o qu ant o ao princpio mo-
rai. que no ofend esse nem a verossimilhana
nem o bom gosto, e se baseasse na "inaltervel
natureza do homem e no senso comum" .
"O poeta escolh e uma proposio moral ,
que deseja imprimir nos espectadores de ma-
nei ra concreta. Ele inventa uma fbula geral para
ilustr ar a verdade de suas prop osies", expli -
co u Gottsc hed e m Versuch eincr Critischcn
Diclukunst vor di e Dcutschcn (Tentativa de uma
Arte Poti ca para os Alemes. 1730). Ele di s-
cutiu as possibilidades de dec idir-se por uma
fbula c mica. trgi ca ou pica ou espica . Um
pont o essencial era que a co mdia. por expor o
vc io ao ridcu lo, deve ria prop orcionar no so-
mente prazer. mas tambm uma lio. isto .
riso saudvel sobre as tol ices humanas.
As teor ias de Got tsc hed est avam em larga
medida em unssono co m as do ter ico da po-
tica do barr oco, Martin Opit z, cuja obra Buch
1' (/1/ der deutschen Poetercy (Livro da Potica
Alem , 1624) perma nec eu como autor idade no
assunto e ohra de orie nta o do sc ulo XVIII.
Invocando Horcio, Gousche d baniu o
" miraculoso", tud o o qu e ia contra a verossi-
milhana, tanto em termos de poesia como de
palco - e isto significava Ioda a "feitiaria, fr-
mulas mgicas e trap aa s" que envolviam o
palco italiano e o Th tre de la Foirc em Paris,
e do qual at me smo Moli ere , " para agradar
Co roa ", hav ia emprestad o muitas invenes.
Outra coi sa que Gott sched no gostav a em
Mol icr e era que, apesar de suas pea s serem
co nstru das de acordo com as regr as e os mo-
2 L Hanswurst do sul da Al emanha com figuri no de
campons . Grav ura colorida. c. 1790.
22. Joseph Fcrdinand Muller, chefe da trou pe rival da
companhia da Frau Nc ubc r em Leipzig, co mo Arlequim.
Gravura da metade do scul o XVIII.
delos dos Antigos. "ele sempre tornava o vcio
apenas muito agradvel. e toda virtude muito
teimosa, incivilizada c ridcula".
Nature - raison - antiquit, exigia
Boileau, e Gottsched, da mesma forma. guia-
va-se por esta trindade. Ele assistiu aos espe-
tculos das troupes ambulantes, a despeito do
muito que elas o irritavam com suas histrias
e criaturas de "uma imaginao perturbada" e
com todas as "coisas inacreditveis que no
tm precedente na natureza". Mas em 1725,
uma jovem atriz ganhou sua aprovao. N u m ~
pea chamada Das Gesprchc im Reiche der
Toten (A Conversao no Reino dos Mortos),
ela atuou em quatro papis masculinos dife-
rentes - um pastor, um diletante em lnguas
orientais, um briguento e um gentil-homem -
o tipo de tour de force de discurso e mscara,
por meio do qual Isabella Andreini se tornou
famosa cm sua poca. Gottsched escreveu um
artigo entusiasmado sobre a jovem intrprete.
Ela havia "caracterizado to inimitavelmente
quatro rapazes das mais famosas academias
saxnicas". que ele nunca havia visto nada
melhor em toda a sua vida. Esta crtica -
publicada em 31 de outubro de 1725 no sema-
nrio moral Die verniinftigen Tadlerinncn de
Gottsched - foi o primeiro tributo impresso a
Karoline Neuber.
De nada adiantou o esforo de Gottsched
para interessar a companhia Haacke-Hoffrnan,
ento atuando em Leipzig e ii qual presumvel-
mente pertencia Karoline Neubcr, em suas pro-
postas de reformas. Ele pleiteava a adoo do
discurso mtrico segundo o modelo da trag-
dia clssica francesa, mas o diretor, Hoffman,
declarou que seus atores no estavam acostu-
mados ao verso declamado. Diderot deparou-
se com a objeo oposta quando a Comdie
Franaise estava ensaiando sua comdia em
prosa Le Pre de Famille.
Por volta de 1727, Karoline Neuber e seu
marido eram chefes de uma companhia pr-
pria, e ela se mostrou simptica s idias de
Gottsched. Compreendeu as vantagens que a
colaborao com Gottsched poderia trazer para
a melhoria do nvel geral da atuao. Concor-
daram numa combinao de teoria e prtica,
qual o teatro alemo ficou devendo alguns
novos impulsos importantes e tambm alguns
eventos espetaculares.
406
tt str a Mn nd n I do Tcat ro
Gottschcd confiou sua pea Der Sterbend-
Cato (Caro Moribundo) companhia dos
Neubers cm 1731, texto que foi anunciado
como "a primeira tragdia original cm alemo"
e que era uma recomposio de partes tiradas
de Addison e Deschamps, um tipo de tradu-
o-compilao que mais tarde provocou do
crtico de arte suo Johann Jakob Bodmer o
comentrio desaprovador de que "Gottschcd
construa suas peas com cola e tesoura".
A representao foi um brilhante suces-
so. Frau Neuber havia insuflado vida teatral
no anmico produto da mente do professor. Ela
prpria interpretava Prcia, vestida com o tra-
dicional figurino, de comprovada popularida-
de, "com um toucado mais largo que a rua,
rijo e com todas as cores de um papagaio",
segundo Christlob Mylius a descreveu. Como
Caro, Friedrich Kohlhardt vagava solenemen-
te com uma peruca e de meias com pompons.
Para Gottsched, foi uma amarga vitria.
Ele havia sonhado com trajes romanos, no
com um desfile de moda com chapus emplu-
mados e espadas de pano. Mas neste ponto
Frau Neuber era conservadora. Era uma mu-
lher sensata e decente: mantinha em ordem a
vida privada de sua troupc e dava, ela prpria.
um bom exemplo; apreciava as reivindicaes
da literatura e era uma atriz completa. Mas no
ficaria sem seu chapu de plumas. Aceitava o
palco como "um plpito da filosofia moral" -
mas no um palco sem o efeito dos figurinos.
Ela uniu suas foras s de Gottsched na
batalha contra Arlequim. Em outro de seus "se-
manrios morais", Der Bicdermann, Gottsched
declarara guerra ao "Iicencioso Hans Wurstc",
a popular personagem folclrica retratada por
comediantes e palhaos. Dez anos mais tarde,
Frau Neuber traduziu os repetidos ataques s
"brincadeiras vulgares" do palhao numa ao
demonstrativa. Num erguer de cortinas, cla
baniu solenemente Hanswurst do palco. (Ele
foi banido e no queimado, conforme escre-
veu Eduard Devrient, c como pode ainda ser
lido ocasionalmente hoje, embora este ponto
tenha sido esclarecido j em I X54 por E. A.
Hagen cm Gcschichte dcs Theaters iII Preusscn
[Histria do Teatro na Prssia].) No existem
registros exatos de como isto se processou no
Rossmarkt em Leipzig. Provavelmente, Arle-
quino e Scaramutz foram desapossados de suas
A l: 'rtl d a C do dun i u Burglll'sn
vestes de palhaos e depois obrigados a deixar
o palco. Para Frau Neuber, o episdio foi tem-
perado com a satisfao pessoal de assim obter
vingana contra seus competidores cm Leipzig,
a companhia do popular Arlcquim.T. P. Mller.
Lessing entendeu a coisa como "a maior
das arlcquinadas", (Brie]e. dic neuestc Li-
tcratur betreffend. Cartas Relativas Novs-
sima Literatura, n. 17) por mais que, confor-
me disse num outro lugar,
todos os teatros alemes [... ] parecessem concordar com
este banimento. Digo "parecessem", porque na verdade
apenas removeram o casuquinho gnrrucho c o nome, mas
mantiveram o truo. A prpria Frnu Ncuber apresentou
muitas peas nas quais Arlequim era II personagem prin-
cipal. Mas Arlequim era chamado Hnvcheu. c vestia-se
todo de branco, cm lugar de xadrez.
Lessing reconheceu o lado da questo so-
bre o qual Gottschcd fazia vista grossa, ou seja,
de que, com o banimento do bobo, muito da
valiosa herana da representao popular havia
sido jogada fora e, com mais faro para a com-
dia, acrescentou: "Acho que faramos melhor
se lhe devolvssemos seu casaco multicolorido".
A colaborao entre Gottsched e Frau
Neubcr foi interrompida por um compromis-
so em S. Petersburgo. Quando a troup retor-
nou a Leipzig em 1741, desapontada e desilu-
dida, Gottsched havia se ligado ii Companhia
Schoncmann. Frau Neuber queria uma estria
sensacional. Ensaiou o Sterbcndc Cato. e in-
tensificou o aspecto de pardia que dez anos
antes havia rejeitado. ou seja. o "traje romano
fielmente copiado". cujo melhor efeito con-
sistia nas pernas nuas "drapejadas com linho
cor da pele". O pblico. conta-se. "enterrou a
tentativa COIn gargalhadas",
Por fim, em I Xde setembro de 1741. Frau
Neuhcr conseguiu levar cena, COl110 espet-
culo de abertura Der allcrkostborstc Schat: (O
Tesouro Preciosssimo). pC"'a na qual punha
em cena seu antigo mentor sob a figura de um
criticastro, e zombava dele no apenas com
propriedade mas com sucesso. apresentando-
o COI110 um guarda-noturno com asas de mor-
cego. Isto selou sua ruptura com Gotlsched.
Assim, o que comeara em zelo comum por
urna boa causa terminou num escndalo pe-
queno e mesquinho de viugana.
Mas os seis volumes de Dic dcutschc
Schaubhnc; que Gottsched publicou entre
1740 e 1745. estabeleceram a base de um fu-
turo desenvolvimento que atraiu para o teatro
a burguesia com suas aspiraes culturais. Es-
tes volumes contm peas de Holberg,
Destouches, Dufresny e Addison, com tradu-
es dos alunos de Gottsched em Leipzig, dele
prprio e de sua esposa, Luise Adclgundc.
Mol ie re est representado apenas com O
Misantropo. Gottsched tambm incluiu uma
larga seleo de peas de autores do incio da
Ilustrao alem. Gellert, Borkenstein, Quis-
torp, Mylius, Uhlich e Fuchs contriburam com
suas "comdias originais"; J. C. Krger, o tra-
dutor de Marivaux, e J. E. Sclegel estavam re-
presentados e, claro, tambm o prprio Gotts-
ched, com sua tragdia modelo e numerosos
insertos de sua teoria, desde as idias de
Fnelon sobre a tragdia at as polmicas de
SI. Evremond contra a pera.
Die Dcutsche Schaubiihnc de Gottsched
tornou-se o fundo literrio do teatro ilustrado
de lngua alem. A teoria do utilitarismo mo-
ral, mais tarde to injuriada e to pedantemen-
te remodelada pelo prprio Gottsched. chamou
ii cena foras posteriores que exerceram uma
influncia duradoura e validou seus esforos:
embora tO haja contribudo com nenhuma
obra original de qualidade, esse terico e crti-
co criou as condies para isso.
As troupes ambulantes tornaram como pon-
to de honra a apresentao regular de pcas em
verso e. remetendo-se ii "bem conhecida alian-
a entre o professor Gottsched e Frau Neuber",
a demonstrao de que eram to capazes quanto
eles de satisfazer as exigncias de uma platia
meticulosa e severa. H evidncia dos dois as-
pectos nas peties de uma recm-fundada com-
panhia em Danzig (Gdansk) e em documentos
relacionados com as companhias teatrais na us-
tria. Quando as troupes de Eckenberg e Hilver.
ding aventuraram-se no drama em verso ao esti-
lo de Gottschcd, conta-se que foram muito aplau-
didos, "embora a platia fosse da velha guarda e
parcial aos autores vienenses".
As pe,,:as recomendadas por Gottschcd.
com sua estreita unidade de lugar. adequavam-
se at a teatros equipados com os cenrios mais
modestos. Se preciso, podiam ser levadas num
paleo simples dividido por uma cortina central,
a forma bsica do palco itinerante do barroco,
As companhias mais completas e de sucesso
-I1i7
H st ori a M'un d i u do Teat ro
23. O teatro no Gnse markr cm Hamburgo, construdo cm 1765 por K. Ackerrnann e admi nistrado corno Teatro
Nacional com a colabora o de Lcssing. de 1767 a 1769. De senho a lpis. 1827.
24. Cenrio para a estria de De Riiubcr Salteadores) de Sc hil ler em 13 de janeiro de 17K2 no Teatro Nacional cm
Mannh cirn. Fot ografi a dos ce nrios originais, que foram preservados at 1944 .
.....>4
lii
.. ....
R .I'
1= II II =1 II
II I. ' ."
iii'
,
ce ntena de bagatel as importa ntes qu e um poe-
ta dramt ico precisa conhecer" .
Em 1748. Frau Ne ubc r apresentou a pri-
meira co mdia de Lessing, Derjungc Gelehrtr
(O Jovem Erudito). Aos dezenove anos, o jo-
vem viu-se festej ado pe los amigos como um
futuro Moli re. Somava-se sua feli cidade o
fato de ess e ter suce sso aco ntec ido em Leipzig.
o balu arte da vida literria da poca, dentro do
hori zont e do "grand e Duns" (Bes ta Quadrada ),
que foi co mo Lessing rot ulou Gott sched em
1759 na Literaturbrief e (Cartas sobre a Litera-
tura), c riticando vio le nta me nte se u " teatro
afrancezado" , Mas numa questo Lessing COII-
co rdava completame nte co m Gottsc hed, e ao
mesmo tempo anteci pava o co nce ito de Schiller
do teatro como uma instituio moral : na con-
vico de que a co mdia tem valor porque pro-
voca o riso (embora pusesse obje o ao riso de
escrnio pretendido por Gottsc he d). a con-
trapartida da interp retao da ca tarse aristotlica
como a transforma o da comp aixo e medo
em "prticas virtu osas" - interpretao que deve
ser compreendida co m o mesmo se li SO moral.
Enq uanto trabalh ava como jornalista em
Berlim. Lessing serviu de int rprete a Voltaire.
Com ele aprend eu a "distinguir o moral do pu-
ra me nte int el ect ual ", e ag uo u o se nso crtico
nesse co niato com o di vin o e absolutame nte
no-di vino Volt aire, cujo Esprit no o impedia
de per de r a Contenancc, o autocont role. Uma
desa vena acabo u com a colabora o. l. cssing
tent ou em vo "ob ter um perdo do filsofo";
perde u uma posio bem paga, e o secretrio
de Voltaire, Richier de Louvain. que co nseguira
o emprego para ele. tambm fo i despedido.
O rei Freder ico o Gra nde fico u sabendo
do ocorrido. e sua lembran a do falo. qu inze
anos mai s tarde, arrui nou as be m- fundadas es-
per anas de Lessin g co m respeito ao posto de
diretor da bibli ot eca rea l. a es ta circunstn-
cia que a histri a do teatro alemo deve um de
se us mais brilhant es docu mentos , a Hambur-
gisclic Dranutturgi e (Dra maturgia Harnbur-
guesa) de Lcssing.
Hamburgo, a liber al c idade hanserica so-
bre o rio Alster, j er a importan te ce ntro cultu-
ral no perodo bar roco. Os Come diantes In-
gleses, os primrd ios da p era. as peas de
Joh ann Ri st, as aprese ntaes de Frau Neuber
co mo co nvida da da Comoedic nhudc in de r
Le s s i ng c o Mo vi m e n m d o
Te at r o Nu c i o n.al Al e m o
A paixo de Lessing pel o teatro desper -
tou sob os olhos de Frau Neuber. Se u primo
Christl ob Mylius o apresentara ao c rculo dos
Musenshnc (Filhos da s Mu sas), quc se di ri-
gia em ba ndo ao Qu andtsche Hof. na Niko lui
Strasse em Lei pzig, para adm irar a es trela e
sua troupc. Lessing pa rti ci pava dos ensaios. fa-
zendo- se til co mo tradutor. (' aprendeu "uma
pod iam vale r-se dos g neros costumei ros de
ce nr ios que. de acordo co m a classificao
de Opitz sobre ti pos de espetc ulos, dizia m
respeito tragdi a ou ii co mdia. tais co mo o
salo de um cas te lo. um templo com trio. uma
vivenda com ja rdi m. um ca mpo de batalha ou
uma floresta.
Gottsched conside rava crucial que "o lugar
represent ado perma necess e o mesmo ao longo
de toda a tragdi a (ou comd ia)". pois. argumen-
tava, uma vez que o espectador permanecia em
sua cadeira no curso da representao. parece-
ria inverossmil se houvesse uma Iroca de cen-
rio no palco. A regra racionalista da verossimi-
lhana era a razo do preconceito de Gottsched
contra o th tre italicn e se u descendent e em
Pari s. o ope ra comique, e o mund o de con tos
de fadas e fantasia da pera e Singspiel .
Mas enquanto Gottsched pontificava com
severidade edificante sobre a simpl icidade em-
polada. a razo fazia um jogo dupl o no teatro
ulico do rococ. A sociedade elegante enfe ita-
va-se co m guirlanda s de flores, cercava -se de
chinoiscries c usufru a de seu frvolojogo como
os deuses embelezados do Parnaso. O amor
entalhava se u arco no bordo de Hrcul es.
Em Munique. o mais belo teat ro do rococ
foi inaugurado em 12 de outubro de 1753, no
dia do nome de seu pat ron o. o e leitor Max
Emanuel. Constru do por Franois Cuv illis no
ptio do palcio Rcsidenz, onde resiste at hoje.
sua inaugur ao. com a pera Catonc in Utico
de Ferra ndini , constituiu-se numa celebrao de
gala: as tapearias suntuosas e as 1'(/111/<'1/<'.1 das
paredes bri lhavam rubras e dourada s ;1luz dos
incontveis candelabros . O heri da pera era o
prprio Calo da poca de Csa r. que Gortschcd
forara a envergar o apertado casaco das re-
gras austera s de sua tragdi a modelo.
-/08
25 . Palco para drama burgus. c. 17XO. A ce na tem ribalta aberta, caixa de pontu c bast idores com po rias pratic"cis c
janelas pintadas. Estampa da poca.
2.6. O Teatro Naciona l em Man nhcim, proj e tado por Lorcnzo ()uagliu e co nstru do cm 177K Desenho J ' J F. \'011
Schlichtcn: gravura de Klaubcr, I7R2. l: .
A Era do Cidadania Bll r gllt'Jfl
Fuhlentwiet , a recepo precoce a Holberg e seu
eco em Bookesheutcl (Livro de Bolso) ( 1742)
de Borkcnstein, ludo isso foram pedras mili ares
na vida teatr al de Hamburgo. Em 176-1. o dire-
tor Konrad Ackerrnann consegui u permisso
para dem olir a velha pe ra do Ga nsc mrkt e
construir no local um novo e espaoso teatro com
du as galerias para es pectadores . A pea ale-
grica Di e Comedir im Tempcl der TI/gel/ti (A
Co mdia no Templ o das Virtudes) de Friedrich
Lowen encetou um breve perodo ureo , que co-
meou em 3 1 de j ulho de 1765 e terminou um
ano mai s tarde com a runa de Ackerma nn. Ele
alugou o prdio a um consrc io de doze cida-
dos hamburgueses que se interessaram pela arte
do teatro em parte por razes finance iras, cm
parte por considerao a suas atrizes .
O comerciante Abel Sey lcr assumiu a di-
re o financeira, e Fri edri ch L we n, a artstica.
Em apoio s exigncias de J. E. Schlegel, o novo
empreendimento chamou- se Teatr o Nacional
Alemo. Esta assim chamada Empresa Ham-
bur guesa foi constru da por atores que rivaliza-
vam entre si e por homens de negci os experi-
ment ados em mat ri a de bancarrota: faltava-lhes
uma ins gni a sria e um nome respeit vel.
A escol ha recaiu sob...z Lessing. "Aconte-
ceu de eu estar parado na praa do mercado,
sem nada para tazcr: ningum qu eria me em-
pregar, sem dvida porque ningum precis ava
de mi m para nada" , lembra Lessing no final da
Hamb urg ischen Drcunaturgic. A idia de tomar
parte em empreendimento to promi ssor. o bom
salrio e o desapont amento de ter sido rejeitado
cm Berlim concorreram para que acei tasse.
Em 22 de abril de 1767. o Teatro Nacional
de Hamburgo (na) Gnsema rkt foi inaugurado
co m a tragdia de nuut ri o Olha II l1d Sophnmia
de J. F. von Cronegk. No mesmo dia Less ing anun-
c iava a publi cu de s ua Harnbnrgischcn
Dramatutgi c. O novo empreendime nto, prome-
tia ele. no pouparia esforos ou custos: "se vai
ter bom gosto e esprito cr ico, o tempo dir".
Ele se comprometeria a dar "um relato detalhado
de tudo o que for leit o aqui tanto na arte da
dramaturgia quant o na da rcprcsenta o". No
seria possvel , entretanto, evitar peas medocres.
"No quero elevar demais as expectativas do p-
blico. Ambos dan-se mal: os homens que prome-
tem demai s e os que esperam muit o". conclua
Lessing, cuja expe ri ncia o ensinara a ser c lico.
Lessi ng e ra bastant e cuidadoso para no
cair em nenhuma das dua s armadilhas. Mas os
aco ntec ime ntos o puser am prova mais de-
pressa do que temia. Os empresrios no co n-
seguiam co nco rda r entre si nas questes de ne-
gc ios e nas ques tes artsticas, havia intrigas
entre os atures e, para completar, o pastor-m r
de Hamburgo. J . M. Goe ze, andava pregando
cont ra "0 pecado do teat ro" . Tud o isso pr ejudi-
cou o impul so e o lucro do empree ndimento . E
assim a ence na o de Minna \ '0 11 Barnhelni de
Lessing, em 30 de setembro de 1767, teve uma
recepo morna da part e do pbli co.
Na rca prese ntao do es petriculo hou ve
uma tent ativa de divertir a plat ia inserindo- se
nm eros acrob ticos . A Dramaturgie de Les -
sing no fornece escl arecimentos a es se res-
peit o. Suas not as ficaram no perodo be m an-
ter ior s es tr ias. Sua elevada demanda es tti-
ca, sua cuidado sa apreciao de uma arte " tra n-
sitria por nat ureza", sua integridade pessoal
e seu se nso de res ponsabilidade com re la o
ao proj et o e a s i mesmo no pud eram ev itar o
confli to co m os int rp re tes. Sua posio no tea-
tro, como crtico pago pel a dirc o, era e m si
prp ria contraditria.
A sra. Sophi e Hen sel , a princip al atriz do
elen co e espo sa de Abe l Sey ler, ofendeu- se se-
riame nte com o que Lessing ousou dize r na
seo 20 da Dramaturg ic sobre se u papel e m
Ccni e: "Parece-me ver um gigante exerci tun-
do-se com a arma de um cade te" e: "E u prefe-
riri a no faze r tudo o que sou perfeit amente
capaz de fazer muit o bem".
Enqua nto a co mpan hia estava tent ando
remen dar se u de sti no fi nancei ro exc ursi o-
nando. Less ing discut ia os probl emas de um
Teatro Nac iona l Alemo e as causas da - cla-
rament e previ s vel - falncia em Ham bu rgo.
Ao ence rrar a Drcunaturgie co m a se o I( ) ~ .
ele o fez co m uma ama rga verificao : "Te-
mos arorcs, mas nenhuma arte da int erpret a-
o. Se alguma vez existiu tal arte , no a pos-
sumos mai s: es t perdida: preciso descobri -
la int eirament e de novo".
Lessing permaneceu em Hamburgo por trs
anos. De po is, parti u. O sonho de um teat ro na-
ci onal acabara, no que diz respeito tant o a suas
asp iru c art stica s quant o a seus objct ivos
sociais. O ator continuou, como antes, ii me r-
c das vici ssitud es de uma vida n rnad e . A de-
-I1t
silus o de Lessing culminou cm zombaria so-
bre "a bem intencio nada idia de proporcio-
nar aos alemes um teat ro nacional, quando
ns, alemes, no somos sequer uma nao I
No estou fal and o da constituio pol tica,
porm excl usivamente de car ter mor al " .
Herder co ncor dava co m a qu ei xa de
Lessin g. Em seu premiado ensaio be r die
WirkuII g der Dichtkunst auf di e Sitten der
Vlker iIIa/reli und neuen Zeiten (So bre o Efei-
to da Poesia na Moral dos Povos nas pocas
Anti gas e Modernas) ele explicava a aus ncia
de uma arte poti ca nacional pela falt a de uma
lngua viva comum, e em penetrant e aluso ii
prtica dos governantes alemes de vender seus
sditos indefesos para trabalhar na Amrica,
acrescentava : "A Alemanha no ter por certo
nenhum Homero, enquanto este tivesse de can-
tar sobre seus irmos embarcados co mo lotes
de escravos para a Amrica" .
Na Kab al e und Liebe (Intr iga e Amor) de
Schiller, o criado de quarto de ladv Milford
relata corno um soberano vende seus sditos.
Houve uma exp loso de piedade c amar gura.
O otimismo da Ilustrao que impero u na pr i-
meira meta de do sculo foi submerso por uma
onda de apaixonada rebel io contra o es ta-
do pol tico e social das co isas . Os jovens dra-
maturgos do m?vimento Sturm un d Drang
(Tempestade e Impero) de scarregaram suas
emoes ant i- iluminista s num prot esto con -
tra os pod eres da co mpu lso po ltica.
"Plenitude de corao" e liberdade de sen-
timent os er am as pal avras de ordem de um mo-
vime nto renovador burgus e jo vem qu e tira-
va sua inspirao de Rousseau: "Le senti mcut
est plus que /a raison!" - "o sentimento maior
que a razo" . O ideal de uma humanid ade cons-
titud a pela personalid ade aut no ma do ho-
mem "natural" emergia. O confl ito entre o que
era ento chamado na Alemanha de "z nio ori -
ginai" e a ordem do mundo exist ente derru-
bou as barreiras dos tabus polticos, sociais e
morais e desafiou a complacncia da autori -
dade at ento inquestionada. No drama, isto
enco ntrou expr esso numa enftica din mica
da ao.
O moviment o tirou seu nome de Sturnt um
Drang do tt ulo alternarivo que C. Kaufmann
de \Vinterl hur , um ap stolo do movi mento, ha-
via dado ao dr ama Da lI'irn\'l/1T (A Co nfuso)
412
H st r a M'un d i a d o T ( ' { I/ I "O
de Maximil ian L. K.Iinger. Em vez dos princ-
pios de Aristteles e do cl assicismo francs, e
de sua adapt ao no Crit ische Dichtkunst (Art e
Potica Crti ca) de Gott sched, Shakespeare era
acla mado como o novo modelo. Sustent ados
pela traduo em prosa de Wieland, os patrcios
do Stunn und Drang porfiavam na linguagem
solta e na arrojada sucesso de trocas de cen a.
J J. E. Schl egel havia zombado co ntida-
mente da regra da unidade de luga r com a
lacnica nota : "Local da cena: sobre o palco",
e tambm Justus Mser em Harlequins Heirath
(O Casament o de Arlequim), com a rubrica:
"Local : no lugar mar cad o"; agora, J. M. R.
Lenz , em seu Der neuc Mendoza (O Novo
Mendo za), decl ara va suci ntamente: "Local da
cena: aqui e ali" .
Um pouco ante s, co m a pea Der Hofmeis-
ter (O Precept or) , na qu al uma abund ncia de
personagens coloridamente variada transmite
um vvido corte transversal na estrutura social
da poca , Len z havia pel o menos levado em
co nta as possibil idades c nicas do palco. Dic
Soldate n (Os So ldados) tambm era ainda uma
pea ence n ve l e, em se u ensa io be r dic
Veriinderung rn des Theaters in Shakespeare
(Sobre as Variaes do Teat ro em Shakespeare I.
Lenz admi tia que as mudanas de ce na em
Shakespeare eram sempre excees s regra s.
que ele sacrificara ap enas por "vantagens mais
altas" . Lenz apresentou a alegao de que o
teatro era "um espetc ulo dos sentidos . no da
memria" . Ar mado co m essa franqu ia, impe-
liu a err tica situa o tcnica de Der neuc
Mendo:a ao excesso caracterizado por Erich
Schmidt como "caos fren tico" .
O apaixonado en gaj amento com que es-
tes j oven s Stii rnter und Drnger desafi aram
seu tempo desprezava qualquer co ncesso fi
conve no, e desdenhava tambm das limi ta-
es do palco. Ist o significava renunci ar ii pos-
sibilidade de c umprir a funo de s.itira e cr-
tica soc ial qu e tr aziam no corao. Bert olt
Brecht adap tou Der Hoftneister cm 1950.
numa tent ativa de ren ovar o aspect o de crti-
ca soc ial da pea a parti r de um pont o de vista
do sc ulo XX . O Fra nkfur te r g cleh rt c
Anzr igen (Notcias Doutas de Fran kfurt ) de
26 de j ulho de 1774 . e ntretanto. dec lar ava :
"A pea inteira transpi ra co nheci mcnto da na-
tureza hum ana" e :
A Eru du C i d a da n ia Bu rg u rs n
Graas seja m dad a!'. ao homem que tem coragem
de rebe ntar o q UI: agri lhoa me nte e corao. c nos
pro porc iona cm troca (1 que Io raro - pessoa!'> reais e
sentimento verdadeiro. Graas lhe sejam dadas por no
se deter quando a torrente de seu gnio se derra ma.
Um dos poucos homen s de teatro , co n-
ternp or neos, que abriu suas portas ao dr ama
do Stu rm IIIld Dran g foi Friedri ch Ludwi g
Sc hr der, Em 1771, aos vi nte e se te anos de
idade, havia sucedido Konrad Ackennann em
Hamburgo. Seu credo artstico viri a a ser o "ver-
dadeiro" e o no "belo" . Sentiu-se chamado e
interpelado pelo mpet o dos jovens dramatur-
gos de "g nio" e pelos "negros sonhos do dese-
j o potico" , conforme colocou Me rck, em de-
saprovao crtica. Encenou Clavi go e Gt: VOII
Berlichi ngen de Goeth e em Hamburgo, e tam-
bm Die Zwillinge (Os Gmeos) de Kl inger e
Der Hofmeister de Lenz.
A alternncia da representao no prosc-
nio ou em profundidade oferecia alguma po s-
sibilidade de fazer pel o menos uma remota ju s-
tia ao din mi co "aqui e agora" da ili mitada
mobilidade dos dr amatu rgos do SWrJlI un d
Dru ng . Ma s o exe mplo de Schrod er, que ar-
riscou mu ito por escasso suce sso , no e ncon-
trou imita o. A estr eita moldura do palco de
pecp- sh ow era uma con stante qu e no cedia.
Em 17R6, o jovem Schiller confessou numa
ca rta a Fri edrich Lud wig Sc hrder em Ham-
bur go: "Agora conheo muit o bem os limites
que as pa redes de madeira e todas as ci rcun s-
tnci as necessri as do preceit o teat ral impem
ao dr amaturgo" ,
CLAS SIC IS MO ALEM O
Wei mar
o teat ro UIll da que les qut"meno s "e ... -
uuu a 11111 trat ament o plancj ado: a tod o momento dc pen-
de-se i ntei ramen te do temp o c da c un tc mpor. mc ida dc :
aq uilo que o aut or que r escrever. o ator. iu..r prctar, o
p bl ico. \"(:1' e ouvir, ist o que tira niza 0."ad ministrad o-
rc s l' ns dc sapos:'> a de qualquer j U / l pr prio.
Esta passagem consta do exemplar de mar -
o de I R0 2 do Journ al drs Luxus und da
M"d" 1I (Jorn al do Luxo e da Mod a), Quem a
esc reveu es tava profu ndament e en vo lvido no
mai s sis tematicamente planejado progr amu
cultural j tentad o no teatro alemo: Go eth e.
Seu teat ro em We imar torn ou- se o embrio do
classicismo alemo. Da cooperao de Goeth e
e Schiller br otou a harmonia entre cr iao po-
tica e teatr o que a Ingl aterra havi a conhec ido
nos dias de Shakespear e, a Espanha, no s de
Caldern e a Fr an a, na poca de Moli re .
O estilo c nico de Goe the em Weimar no
possua nem a espont nea vitalidade do teat ro
el zabetano nem a perfeio art stica do th t rc
[ranai s. Era o resultado de cuidadoso e rdu o
trabalho preliminar, uma tentativa de transfigu-
rar os prosaicos tij olos de um ensemble inade-
quado nos trios de m rmore dos altos idea is.
"Os ale mes , em md ia, so pessoas ret as
e decent es, mas no possuem a mais vaga no-
o do que sej a origi nalidade, inventi vid ade,
car ter, unidade e aca bamento numa obra de
arte " , quei xava- se Goethe em 28 de fever eiro
de 1790, numa carta a J. F. Rei chardt: "Dadas
estas co ndi es, o senhor pod er imaginar que
es pera nas dep osit o em seu teat ro, es tej a a car-
go de quem est iver" . A ocasio para es tes c -
ticos co me nt rios de Goethe foi a recon st ru-
o pendent e, em 1791 , do teatro da cor te de
Weimar, do qua l se tornar ia vt ima e salvador.
Ele no tinha moti vo para sub trai r-se a essa
tarefa e pr ovavelmente nunc a teve nenhuma
inteno sria de faz -l o.
Desde 177 5, Goeth e foi o corao e a alma
da feli z c art st ica sociedade da Corte em
Weimar, co mo poeta , encenador e ator, Suas
primei ras ope reta s, far sas e mascarada s dest i-
navam-se ao sele to crculo ntimo e duque-
sa-me, Anna Amal ia . No pal co prov is rio do
Redoutenhau s de Weimar, a pr imeira ver so
em pro sa rtmica de Iphigenie auf Tauris foi
encenada cm 6 de abril de 1779. Goe the int er -
pr et ou O re s tes, o prncipe Consrant n foi
Pyl ade, Se idler - um secretrio - foi Arkas, e
von Knebel, tut or do pr ncipe, aparec ia Como
Thoas. O pap el de lfigni a foi desempenhad o
por Coron a Sc hrter, a atriz que Goethe havia
entusiasticamente ad mi rado em seus dia s de
estudante em Leipzi g .
Ela mu si cara e ca ntara os versos de Di!'
Fisch crin (As Pescad or as) de Goethe qu and o
encenad os em 17X2 no Parque de Tieurt "c m
cenr io natural " - uma pitor esca pastoral em
estilo rococ sob o c u not urno s marg en s do
11m.
413
27. Cena de iphigene ouf Taur is, de Goethe: Iphigen ie, Orest es e Pyladcs. Desenho a giz de Angc lika Kauffman
(Weimar, Museu Nacional Goethe).
28. Apresenta o da pea lrk3 Die Fischrr in (As Pescadoras ). de Goethe. no parqlh.::c m Ti cfun . 1782. Corona Schr ter
no papel ttu lo. Aqua n.. la de G. M. Kraus [Weima r, Cas telo Ticfu rt}.
29 . () palco c cc n.i rio s do teat ro de Lauc bvtdt , on de o Teat ro da Co ne de Weimar. so h a di rc o de Goethe . at uou no s
meses de vero dus a no s de I l'\02 a 1806 .
H s t r u Mu nd i a l d o Te u t ro
A Era da Cidadan ia Bu rgucs u
30. O Teatro da Corte cm Weimar. na poca de Goethe. Gra vur a de L. Hess.
A prima vera de 17l\3 marcou () fim das re-
present aes amadoras de Goethe. Ele precisou
devotar -se s obrigaes de suas funes pbli-
cas, especia lmente s finanas do Estado. das
quai s havia se encarregado em 1782. De 1784
em diant e, Joseph Bellomo e sua "Co mpanhia
de Comedi antes Alemes" tomaram cont a da
vida teatral da cidade. Durante o inverno, trs
espe t culos semanais eram progr amados na
Redouten-und Cornodienhaus em Weimar; no
vero, o elenco de Bellomo apresentava-se nas
termas da Turngia. especi alment e em Lau-
chstdt, onde ele adquirira um teat ro prprio, e
tambm nas cidades de W. Eisenn ach, Gotha e
Erfurt , na Turngia. (Em Gotha, sua troupe teve
como rival por algum tempo a companhia Seyler,
lider ada por Konrad Ekhof, que sobrevivera
bancarrota dos Empresrios de Ham burgo.)
Bellomo teve licena para usar livremen-
te a Redouten-und Corndienhaus de Weimar,
inclusive, alm do edifcio, o equipament o de
ca lefao e iluminao - e tambm o ce nrio
e decoraes, dos quais, dentro de um conjun-
to de sesse nta e nove itens, faziam part e urn a
casca ta pint ada em papel o, uma torr e de teci-
do e um can o triunfal com duas rodas e um
varal. O tesouro ducal contribua com quaren-
ta tl er s por ms para cus tos ope rac ionais.
Porm a mais import ant e co ntribuio vinha
de "considerveis subsdios dos cofres parti-
cu lares de vrios membros da faml ia ducal",
que, em troca, recebiam cadeiras reser vadas e
entrada livre a qualquer hor a.
A Red out en -und Com d i e nh a us de
We imar, co ns truda em 17XO pr xima ao
Wittumspalais da duquesa-me Anna Amalia.
era um teatro da cidade e da corte, como outros
tantos existentes alhures - nem pior, nem me-
lhor, se bem que sua aparncia externa fosse
mais modesta: "No mai s vistosa que a da rei-
tori a em nossa cidade", coment ou desapontado
o filho do maestro da corte , W. G. Gotthardi,
quando esteve pela primeira vez em Weimar,
Es ta era a situao que Goeth e encontrou
qu ando, aps a dispensa da Companhi a de
Bellomo em 1791, o duque Carl Augus t pe-
diu-lhe que assulllisse a dire o do teat ro. Sua
primeira reao foi cuidadosa: "Estou come-
ando a trabalhar bastante piano: tal vez saia.
finalmente, alguma co isa di sso, par a o phli-
co e para mim"
-1/6
Um no vo el enco foi reun ido e fez sua es-
tri a so b a nova direo em 7 de maio de 1791 .
com Die Jiiger (Os Caa dores) de Iffl and. um
retrato dos cos tumes rur ai s. Foi o co meo de
um importante qu art o de sculo da hist ria do
teatro alemo, so b a administrao e direo
art stic a de Goethe. O prlogo ao programa
daquela noit e de abertura dava express o do
que ele tinha em vi sta: "Harmo nia da re pre-
sentao inte ira " e "um belo todo co nj unta-
mente rep resentado" .
J o grande ator-diret or Ekhof havia. al -
gum tempo ant es, falado do "concerto" c ni-
coo Goethe, por sua vez, tambm gostava de
retirar suas met foras da msica, confor me tes-
temunha a seguinte passagem a respeit o da arte
de represent ar, extrada de se u romance
Wilhelnz Mei st er:
No devemos abor dar co m a mesma preciso e com
o mesmo esprito () nosso trab alho. j que praticamos uma
arte muito mai s deli cada do que qualquer g nero de m-
sica. j que somos exortados a dar lima re pres e ntao
saboro sa c intcre... suntc das mai s co muns e ra ras das ma-
ni fcst ao cs humana s:
A base do "cs tilo de Weimar", corno con-
ce bido por Goeth e. era a linguagem mt rica.
Uma distr ibui o disci plinada do verso e uma
estrutura ordenada a 11m de forma r um lodo
pic trico parecia-lh e esse ncial para uma apre-
sentao imagi nosa sobre (l pal co. "No ape-
nas imitar a natureza, ma s re prese nt - Ia
idealme nte" , era o que ele esperava de um ator
que. "assim. deveri a combinar ver dade e bel e-
za cm sua atua o" .
Edu cam-se pel a arte - este era o grande
ideal de Goethe, que ele prprio ps em pr ti -
ca. A auto-educa o co rno compree ndida pel o
olhar humanista da Grcia era o lema de seu
romance Wilhi'llll Mcistcr , dos dramas lphigcnie
e Tasso e, essencia lmente, de Fausto, A voca-
o do homem para a liberdad e mora l e a dig-
nidade, a "nobre inocnci a c grandeza silencio-
sa" de Winckelmann enquanto uma definio
da beleza clssica - co m base nestas idias era
possvel construir obras-primas da arte potica.
Mas como ficavam, no meio tempo, os prosai-
cos aspectos do trabalho prtico do teatro?
A preocupao imedi ata de Go ethe era
tirar gradual me nte os ate res "do terr vel estilo
roriueiro em qu e a ma iori a se aco modava reei -
tando mccanieamente seus ver sos". Ele se pro-
punha a escrever algumas peas, fazendo con-
cesses razoveis ao go sto co rre nte, e ento
verificar se os intrpretes poderi am pouco a
pou co acostumar-se a textos mtri co s mais so-
fisticados.
Goethe no conside rava de modo algum
o palco de Weimar como instrumento para seus
pr prios dramas. Uma vista d'olhos sobre o
repert ri o mostra qu e mesmo durante o pero-
do ureo de Weimar esse palc o foi dominado
pel os "confecc ionadores" de peas para o gos-
to pblico, encabeados por Kot zebu e e, a uma
cert a distncia, Iffland, com Goethe , Schiller,
Sh akespe are e Lessin g formando a ret aguar-
da . No tr ab alh o refl et id o do a tor Au gu st
Wilh elm Iffl and , Goethe via muito de seus
prprios esforos coloca dos em prtica; ele
apresentava, como exemplo par a o seu elen-
co, "a intel ignci a com a qu al es te excel ent e
arti sta se mant m di st ant e de seus pap is, faz
um todo balanceado de cada um e pode retra-
tar tanto o que nobre co mo o que comum,
sempre artisticament e e co m beleza".
A temporada de um m s de Iffland em
Weimar em abril de 1796 foi o primeiro gran-
de acontecimento sob a ad min istrao de
Goethe. Schiller c a esposa vier am de Jena
(o nde ele ocupava um cargo de professor de
hi st ria na Univer sidade). e a casa de Goethe
em Fraucnplan torn ou- se o ce ntro de copiosas
conversas sobre o teatro . Schi ller ad apt ou
Egmont , de Goethe, especialmente para
Iffland, c trabalhou com o ator na elaborao
do papel. Naturalmente, o grande galardo nos
papi s de l ffland - Fraz Moor, em Die Riiuber
(Os Salt eador es) de Schiller - tam bm est ava
no progr ama. Iffl and criara o papel na pr imei-
ra apres entao de Die R uber em Ma nnheim,
em 13 de janeiro de 1782. e por toda a sua
vida se ntiu que possua um dir eit o e urna liga-
o com el e.
No total, lffl and apareceu e m catorze pa-
pi s di versos, de pre fer ncia em peas dc sua
pr pria autor ia. Estas eram exemplos de dr a-
ma tri vial burg us, que Goethe estava predi s-
posto a aceit ar de maneira mai s indulgente do
qu e Sc hille r. A tent at iva de liga r lft1and per -
manentement e a Weimar falhou aps prol on-
gadas negociaes. Berlim ofereceu -lhe a di-
re o do Teatro Naci onal Real. c poss vel
tambm qu e tivesse tom ado consc i ncia de
qu o pouco o es tilo artsti co de Wei ma r lhe
assentava. Na realidade , Schiller valeu-se da
oportunidad e e m 1796, em sua par di a
Shakcspcares Schatten (A Sombra de Sh akes-
peare), para ridi cul arizar os fabricantes de pe-
as se nt ime nt ais que, em vez de Csar, Ores-
tes ou Aquiles, levavam ao palco nada alm de
"clrigos, homens de negcios, guarda-mari -
nha s, secret rios ou majores de hussard os" , e
c ujas mai or es ambies eram se r comple ta-
mente populares, domst icos e bu rgu eses.
Sc hillc r qu eri a ver em ce na " 0 grande, gi-
417
gantesco destino, que exalta o homem mesmo
quando o esmaga", Os heris de suas trag-
dias foram Fausto, Don Carlos, Mary Stuart,
Joana d' Arc e Wallcnstein.
WallclIstcills Lager (O Acampamento de
Wallenstein) de Schiller (ao lado de Die Korsen
- Os Corsos - de Kotzebue) foi a pea esco-
lhida para a reabertura de gala do teatro de
Weimar, em 12 de outubro de 1798, aps sua
reconstruo e redecorao pelo professor
Thouret. Em dezembro de 1799, Schiller mu-
dou-se definitivamente para Weimar, Todas as
noites, ele e Goethe se encontravam para con-
versar, e assim se iniciou a colaborao direta
entre ambos nas questes da criao dramti-
ca e do teatro,
Nesta poca, Goethe havia comeado a
procurar um caminho de ligao com a trag-
dia clssica francesa. Desde os dias do Sturm
IIl1d Drang e da influncia de Herder em
Estrasburgo, embora apreciasse Diderot c
Rousseau, rejeitava Voltaire. No entanto, in-
teressou-se por Mahoniet e Tancrede, deste
autor. Props a Schiller uma adaptao alem
de Mithridatc de Racine c do Cid de Corneille.
A sugesto originalmente viera de Wilhelm
von Humboldt, numa longa carta sobre o tea-
tro que ele havia escrito a Goethe de Paris,
4J8
Histria M//lldi(J/ do Teatro.
cm agosto de 1799. Goethe publicou a carta
de Humboldt cm seu peridico Propylden em
1800 com o ttulo /;er die gegellwdrtige
[ranrsische tragische Biihuc (Sobre a cena
francesa atual).
O que Humboldt escreveu sobre a arte
do celebrado atorTalma, que preservara a tra-
dio da Comdie Franaisc atravs do pero-
do da Revoluo Francesa, pareceu a Goethe
uma confirmao brilhante de seus prprios
objetivos. "Se em outros atares pode-se de
vez em quando notar uma bela pintura, como
dizem aqui", escreveu Humboldt, "sua (de
Talma) atuao mostra uma sequncia inin-
terrupta delas, um ritmo harmonioso de to-
dos os movimentos, pelos quais a coisa toda
retorna de novo natureza, embora muito des-
te jeito de interpretar, tomado em detalhe, a
deixe pra trs".
Em especial, Humboldt elogiava no esti-
lo francs de atuao a perfeita harmonia es-
ttica de movimentos e gestos com a cadn-
cia do verso, "os aspectos pictricos do jogo
da atuao". a justa proporo entre a graa c
a dignidade que Goethe lutava com tanta fir-
meza para atingir no palco de Weimar.
O trabalho dirio de Goethe, no tocante
ao teatro, documentado em seu famoso, ou
famigerado, Rrgeln [iir Schauspiclrr (Regras
para o Ator), que Eckennann coletou em 1824
a partir de notas dispersas em pedaos soltos
de papel e que, com a aprovao de Goethe,
reuniu em noventa e um pargrafos. As re-
gras referem-se a questes tais como tcnica
da fala, recitao e declamao, postura do
corpo, atuao conjunta e, ponto repetido
exaustivamente. agrupamentos em quadros
estilizados. As regras de Goethe tm muitos
predecessores e sucessores no teatro univer-
sal para serem lembradas como excepcionais.
Gramticas da arte da atuao existiram em
todas as pocas cm que a reflexo crtica foi
mais forte que a vitalidade mmica e o inte-
lecto ponderador mais pesado do que a emo-
o espontnea.
") J lffland IlO pape 1de Nuth.m crn Xi/lhi/II de!" \\l'is('
t Nnt.ur. () Shiol dl' L e " , . , i l l ~ . /\gua-fonc da xcric /ff7(1//(!.'
/\/illlis('/IC [)UI".\"1I'lIl1l1gl'JL do." Inll;los Hcnschel. Berlim.
I KII
A Era da Ci d n d a n a Bu rg u csa
O que irrita nos pargrafos de Goethe no
o fato nem a poca de sua redao (Konrad
Ekhof, tambm, havia comeado sua promis-
sora, embora de vida curta, academia de ato-
res, em Schwerin, com um programa de vinte
e quatro princpios), mas o formalismo con-
vencional das regras de postura e movimento.
O pargrafo 43, por exemplo, reza:
Uma bela e reflcttda postura - por exemplo. para
um jovem - quando permaneo na quarta posio de
dana, o peito e o COIVO todo virados para fora, e inclino
a cabea levemente para o lado, fixo os olhos no solo c
deixo os braos penderem.
Mas h uma explicao para esse aparen-
te pedantismo. Por trs se acha Noverre, cujas
famosas Lettres sur la Danse foram divulgadas
na Alemanha desde 1769 na traduo que
Lessing fez, de vrios excertos; e em volumes
inteiros das mais variadas discusses tericas.
Goethe os versou com domnio suficiente para
que, no pargrafo 90, ele os resumisse como
se segue, inteiramente no esprito de Diderot:
o ator deve "apropriar-se, conforme os seus
significados, de todas essas regras tcnicas. e
deve sempre aplic-las, de modo que se tor-
nem um hbito. A rigidez deve desaparecer e
a regra tornar-se meramente a secreta linha
mestra da ao viva".
Goethe estava bem consciente do perigo
do maneirismo frgido. Sua mxima "primei-
ro belo e depois verdadeiro" levou a um tipo
de estilizao que se tornou uma camisa de
fora. Eduard Dcvrient apontou por certo um
importante critrio do trabalho de Goethe
para o teatro, cm Geschichte der deutschen
Schauspielkunst (Histria da Arte do Teatro
Alemo). Ele argumentava que a "abordagem
potica e crtica" preponderava e que Goethe,
a despeito de seu fino sentido para a arte do
desempenho, "no sentia sua pulsao".
As teses de Goethe na esttica do teatro
formaram uma concepo bsica da arte cls-
sica de escrever e montar peas teatrais, que
serviram de pedra de toque para geraes fu-
turas. Elas causaram algumas violaes, como,
por exemplo, nas adaptaes de Shakespeare
em Weimar; e falhavam completamente quan-
do um esprito independente irrompia no an-
seio apolneo pela harmonia. Der rcrbrochene
Krug (A Bilha Quebrada) de Kleist encenada
em Weimar, em 2 de maro de 1808, consti-
tuiu um fracasso catastrfico. A diviso em
trs aios desta pea tesamente construda em
um s ato foi apenas uma das razes. A causa
interior do malogro estava na cstaticidade do
estilo wcimariano de jogo interpretativo e na
indelvel declamao aprendida no desem-
penho do atar principal. Um dos integrantes
do elenco de Weimar, Anton Genast, escre-
veu: "A despeito de todas as descomposturas
de Goethe nos ensaios, no havia como tir-
io (o ator principal) de seu ostentoso fluxo ora-
trio".
Semente lanada por Goethe... Este era o
ttulo de um panfleto publicado em 1808 pelo
ator K. W. Reinhold, aps sua demisso de
Weimar. Vale a pena mencion-lo, nem que seja
nica e exclusivamente por ter induzido
Gerhart Hauptmann em erro. quando ele o usou
para escrever Die Ratten (Os Ratos). Nesta
pea, o diretor de teatro Hassenreuter profes-
sa "o catecismo dos atores de Goethe" como
sendo o alfa e o mega de suas convices ar-
tsticas. O parceiro de Hassenreuter nos dilo-
gos, o jovem estudante de teologia Spitta, re-
jeita as regras de Goethe como "completo dis-
parate mumificado". O Spitta de Hauptmann
exclama triunfalmente:
E o que dizer se ele decretar: "Todo ntor, indepen-
dentemente do personagem que representa, precisa -
cu cito suas palavras - 'precisa mostrar algo de cnniba-
listico em sua fisionomia' - estas foram suas palavras-
'alguma coisa que nos lembre imediatamente a alta tra-
gdia'''.
Hauptmann exps seu ponto de vista alta-
mente teatral, mas Goethe inocente da impu-
tao. A fonte, conforme Hans Knudsen pro-
vou, no Goethe, porm o panfleto de
Reinhold, Saat \'011 Gothe Gcsiiet dem Tage der
Garben ZlI reifen. Ein Handbuch fiir Asthetiker
undjungc Schallspieler(Sementcs Lanadas por
Goethe para Amadurecerem no Dia dos Feixes.
Um Manual para Estetas e Jovens Atores).
Aps a prematura morte de Schiller (em
1805, aos quarenta e seis anos), Goethe conti-
nuou no caminho que haviam percorrido jun-
tos, sem ceder em nenhum de seus princpios.
E assim cresceu o conflito entre Weimar e a
escola de Hamburgo, cujo objetivo supremo
era a representao realista. A principal figura
419
no teatro hamburgus era ent o Friedrich
Ludw ig Schr der , o grande int rpret e de
Shake speare e chefe de companhia, cuja fora
era a indi vidualiza o das personagens. De
incio, to logo assumiu o teatro de Weimar,
Goethe fez diversos contatos com Schr der e
ficou interessado no sistema de direit os auto-
rais e de diviso de lucros que este lt imo ha-
via intr oduzido em Hamburgo, como tambm
em sua org anizao financeira; mas no que
dizia respeito ao estilo individualista e reali sta
de interpretao da escol a hamburgu esa,
Weimar no fez nenhuma concesso. A incom-
patibilidade dessas duas concepes artsticas,
to basicamente diferent es que deixaram ambas
sua marca no sculo, foi o assunto de um acalo-
rado debate ainda em vida de Goethe e Schr der,
e tambm muit o tempo depois. "Se e como as
escolas de Weimar e Hamburgo podem ser re-
concili adas", escreveu Heinrich Laube, "esta
a verdadeira substncia de tudo o que preocupa
os ami gos que se dedicam honesta e reflet ida-
mente ao teatro alemo, desde o comeo do s-
culo" .
Schrder morreu em 1816. Goethe aban-
donou o teatro em 1817. Havia intriga demais
para se u gosto. Quando Caroline Jagemann. a
First lady que dominava o teatro e o corao
do duque, teve o gosto do triunfo e viu acei ta a
pea de um grupo vis itante rej eit ad a por
Goethe, Der Hund dcs AII!>n- de Mout-Didicr
(O Cachorro de Aubry de Mont-Di dier), ele
pediu imediata demi sso do cargo. Em 12 de
abril de 1817 , o ator Karsten subiu ao palco
com seu poodle adestrado, e em 13 de abril o
duque Carl August, a contragosto. leve de anuir
ao desej o de Herr Geheimrat e Staalmin ister da
Intendncia do Teat ro da Corte, de ser dispen-
sado dessa funo. Assim terminou a grande era
do teatro de Weimar sob a direo de Goethe.
Durante a noite de 21 para 22 de maro de 1825.
o edifcio foi destrudo por um incnd io.
Goeth e recebeu a notcia calmament e na-
quele momento, pois no estava nem um pou-
co interessado no trabalho prtico do teat ro.
Suas idi as no estavam presa s a nenhuma
casa. As met as propostas e as reali zaes efc-
tundas no se u exerccio da inte ndnci a tea-
tral co nt inuaram a exercer influ ncia diret a c
s vezes indircta no teatro alemo. Berl im e
Viena tinham es treitas ligaes com Wei mar:
420
H s t or a Mund ial do Tv u t ro
nos pa ses de lngua alem, ambas torn aram-
se foco do desenv ol viment o e do destin o da
heran a cl ssica e das formas c1assici stas.
Berlim
Qu ando Schiller esteve em Berlim em
maio de 1804 , passava as noites no teatro, des-
frutando de um progr ama metropolitan o que
oferecia generosas produ es de Mozart e de
Gluck , e um repertrio dramtico no qual o
dramaturgo de maior sucesso era... Schiller.
lffl and , o diretor do teatro, encenou suas
mais ambiciosas produ es para o convidado
de Weimar: Di e Braut \'on Messina (A Noi va
de Me s sina) e a brilhant e mont ag e m de
Jungfrau VOII Orl eans (A Donzela de Orlcans),
que fora uma font e de dinhe iro dur ante os l-
timos trs anos. O clmax da noite era o quarto
ato com os cenrios da catedral neogtica e o
cortejo da coroao com duzen tas pessoas. "O
esplendor da apresent ao mais que rgio",
entusias mou-se K. F. Zelter , "e. incluindo a
msica e todo o resto, de efeito to notvel
que a platia entrava em xtase a toda hora".
O crtico teatral do Biirgcrblatt de Berlim atre-
veu-se a usar a atributo "sensacional". Schiller
reagi u de maneira bem mais fria. A suntuosa
parada da coroao, deci diu ele, sufocava a
pea: o pbli co havia visto o "cortej o" c no a
"Donzela", Assim tambm reclamou outro ra
Lope de Vega quando viu seus versos submer-
girem na maquinari a c nica do barroco.
Mas pa ra Iffl and, desde novembro de
1796 dirctor do Teatro Real Nacional, () apa-
ralo externo era part e de sua co ncepo de
j ogo teatral . Conhec ia seu pbl ico c sabia
como conquist-lo. "O que passional. romn-
tico c sunt uoso afeta a todos, enaltece as emo-
es dos melh ores e ocupa os sentidos da mul-
tido", havia el e escri to a Schiller em 30 de
abril de 1803 e, referindo-se a Jungfrau von
Orleans, chamou a ateno do autor para o
fato de que dado <.jue a bilhet eria ganha consi-
deravelmente com es petculos deste gnero.
ela pde fazer mai s pel os autores de peas , do
que antes. Iffland suger iu a Schiller <.jUCcon-
duzisse impercept ivelment e seu esprito livre
c sobrepairantc na di re o de um assunt o no
excess ivamente ubstrato, "As enormes despe-
sas operativas foram-me a nma aproximao
32. Cen a de Wall ellslclwi lge l"(O Aca mpamento de Wallenstei n ) de Schi ller. aprese ntada pela primeir a vez e m 12
de outubro de 1798. na rea be rtura do teat ro de Wei mar reconstr udo. Gravura co lorida de L C. E. Mull er. a partir de G.
tvL Kr aux.
33 . Cena da momaecm n ct I Il H.' n ",I.' de Hmlrt , l' 1II 177X: J. E Brocknuuru co mo Haml et c K. M. no...-bbelin co rno
Of lia . Gravura de' D. crgcl. ii p;trli r dI,.' Dan iel L'hodowi ec ki. Ikrlilll . 17XOIdo livro I k uh e/ Il' Schanspiccr. Scbri nc n
" ,,-"r Cit. ' sdlscha fl frTl u-atergcvcl uc-lu,-. \ 01. IX. Berlim. 1907 1.
34 . Co rtejo sole ne d'l cor oa o n a l:I l o: n:u; o til' lfff und de /)it' ." ",gI rau n m Urlcans tA D Oll l. l'b t il' t Ir h-an x) de
Schiller: da <)u<.I 1 Schiller disse, <.II)()S sua vi, ill a Berlim ( IXO---t ), "que haviam repres entado II cor te jo. c 1I:i.1) a Do nzela".
Gravura de E Jugcl . a partir de H. D:lhl iny.
A E ra "(I Cidad an i a l urg ncv u
prt ica da s co isas do es prito . Posso al cgar
como desculpa ape na s q uc estou tentando
combinar os interesses do dramaturgo com os
da bi lheteria",
Est es era m os pri nc p ios franca mente
admi tidos de um homem que foi to bom ad-
mini strador quant o art ista . Em troca de um
salrio de trs mil t ler s por ano e uma apre-
sentao benefi ci ent e anua l. sua tar efa, con-
forme de finida pel o rei Frederico Gu ilherme
II, em sua ordem no Con se lho de 1796, era:
o senhor no devorani sua ateno exc lus iva nem
pera . nem ao drama. Ame s, ded icando igual co nsidera-
o s d uas art es irm x. devera tent a r man ter UIIl cquih-
brio global. Tanto na opera quanto no dram a. procu re
variar a distribuio de pap is. fim d l' ap resentar ta len-
tos reconhecidos e revel ar os qu e brota m. e salvar o atol'
da neg ligncia, e o pb lico. do tdi o defi nitivo"
At 180I, O velho teatro na Behrenstrasse
estava em funcionamento. Nel e, a Minna von
Barnhelm de Lessing e o GOIZ\ ' 011 Berlich ingen
de Goethe haviam ganhado o aplauso do pbli-
co berlinense, e foi neste teatro que Carl Th eophil
Dbbelin iniciou e terminou sua ca rreira de di-
reter-empres rio. O rei comprou sua participa-
o toda no ativo da sociedade por quatorze mil
t lers e a integrou no Teat ro Nacional.
Em I" de j aneiro de 180 2. ltfl and mudou-
se pa ra uma nova e es paos a casa de espc t cu-
los. Suas poltronas inclinadas e trs ga lerias
acomo davam dois mil espectadores. Loca liza-
va- se na Gendanuenmarkt e fora construda
por Langhans, o Velho; um edifcio de amplas
inst alaes com por tal cl.issic.
IfIland prometeu a seu patrono real Frede-
ri co Guilherme III prod uzir "o mel hor teat ro ale-
mo no mais fino edifcio teat ral ", O rei e sua
es posa, a rainha Lusa, co mpareceram iI inau-
gurao de gala. Iftl and reci tou um prl ogo que
expressava sua gratido. Seguiu-se uma apre-
sentao de Dic Krcuzfahrer (Os Cruzados) de
Kotz ebue. Isto deu a lffland a oport unidade de
exibir o esplendor comp leto de sua vistosa de-
cor ao. "A pea con fere ao ce ngrafo uma
oport unidade quase ininterrupta e brilhante de
35. I.u dwi g Dt':ni L'11I l 'P l lI O h ":lIll i\ 11)1}1 11 o"" INlll hcl"
(OS Saln-ado n-s ). dr Sc-hiller. da lpOl'a .
Hcrfiru. c. I XI S.
exibir sua arte" , pode mos ler no A III /{/l cl1 de
IR02. "A zona rural de Nic ia um ensejo par a
esplndidas e romnticas pinturas: Vero na re-
velou-se um mest re do cenrio, porque a deco-
rao poderosa, rica, variada e cintilante."
Enquanto Goethe, no estrito ce nr io e com
o apertado orame nto de Weima r, pr eci sa va
pensar c uidadosame nte no equilbrio das des-
pesas e dos lucr os, Iffland tinha plen os pode-
res, O ce ngrafo Bartolomeo Verona era ve r-
s til o sufi ciente para ir ao enco ntro de tod os
os desejos altamente subje tivos de Iffland.
Iftl and dirigiu o Teatro Nacio nal de Berli m
at sua mor te em 1814. Foi ence nador, ator e
viajo u em tums. Em es treita colaborao com
Schiller e Goethe, coube- lhe o mrit o de elevar
a dir e o teat ral categoria de art e, Que tenha
custeado o dia-a-d ia do teatro com peas popu-
lares do repert ri o sentimental corrente; que no
tenha encontrad o uma chave de acesso a Kle ist
e que tenha acolhido com reserva as obras dos
romnti cos - es tas foram falhas que parti lhou
com Weimar. Um ano antes de sua morte, Iftland
chamou a Berlim Ludwig Devrient , um ator c uja
arte era toda mi strio fantstico, paixo e fasci -
nao demonaca - em crasso contras te com o
seu prprio modo de representar. lffl and , o in-
trpretc pautado pelo intelecto que tinha em
vista a "pintura dos sentimentos" . cuja preocu-
pao estava no efei to pol ifnico do mimo e do
gesto. recon hecia o g nio deste conflit uoso in-
t rprct e do horr or,
Iffland no viveu para ver o debut de Oe-
vrient em Berlim. Um novo Franz Moor pisou
no palco. "um monstro espreitante arma do de
venenos e punhai s", um gnio autodest rutivo,
um expoe nte do romntico - de monaco gos to
pel a vida, o companheiro de E, T. A, Hoffmann ,
n ./
3tl. Das NClIl' Sc hauxpiclhauv cm Berli m. 110 Gcndanucmuurkt. proj etada por Karl l-ricdrich Schinkcl c con vnufda
cm 1821. Desenho de Berger. gruvurn por Nor nm.l Soh u
bebendo noit e aden tro na adega de vinho de
Lutter e Wegne r - Falstaff e Mefi st cles em um.
Ap s a morte de lffland, o cond e Karl Briihl
assumiu a admi nistrao do Teatro de Berlimem
1815. Ele contratou como cengrafo o grande
arquiteto cl ssico, planejador de cidades e pintor
Karl Friedri ch Schinkel, tentou adaptar o estilo
dos figurinos a cada drama individual ment e e.
no 1000. estava preocupado com a "exatido his-
trica e geogrfica" da decorao. conforme A.
W. Schlegel exigira em sqas confe rncias sobre
arte dram rica . Nomes como os de Cla ude
Lorrain, Poussin e Ruysdacl comearam a vir
baila como modelos para dcors teatrais.
Schinkel criou . em 1816. o cenrio para A
Flauta Mgica de Mozart. e consegui u fama
mundial com o firmamento maj estoso e estrela-
do. a imponente esfinge. a misteriosa arqui tetura
de pedra cerca ndo o salo do templo ant igo .
Aquilo que Goethe havia desenhado para o Tea-
tro de Weimar com a modesta intensidade de sua
peq uena escala era prodigamente realizado em
Berlim pela cenografia de Schinkel. Goe the to-
car a a melodia, Schi nkel a elaborou numa part i-
tura completa. Os croqu is do templ o jni co de A
Flauta Mgica trazem mente o prtico do pe-
queno e antigo Templo de Diana em Assis. cuj a
harmoni a parecia perfeita a Goethe. enquantoele
no tinha nada de bom a dizer a respeit o das
"s ubco nstrues gticas" do grand e monast rio.
i i s t o ri MUI/ di al d o T e a t ro .
O teat ro construdo por Langhans. o Ve-
lho. na Gendannenmarkt em Ber lim. compar-
tilhou o destino de muitos de seus contempo-
rneos Te mpl os da Mu sa. aos quais ve las de
sebo e ca nde labros ca usaram desas tres: ince n-
diou-se em 1817. Para subs titu-lo. Schinke l de -
senhou um novo e representativo edifcio cls-
sico, co mbi nando de liberada devoo revi-
vncia do esti lo grego com o funcionali smo em
grande escala. Goethe seguiu os trabalhos de
acabamento com grande interesse, conforme
evi dencia sua correspondncia de Weimar com
o co nde Brhl e Schinkel em Berlim. A inau-
gurao so lene, cm 26 de maio de 1821. foi
dominada pela trade: Antig idade, Weimar e
Berlim. Comeou com um prlogo. escrito por
Goe the. seguido por sua Iph igenie auf Tau r is,
emoldur ada pela abert ura de Ifig nia cm ulis
de Gluck, e co ncluda com um bal chamado
Die Rosenfee (A Fada das Rosas) , do duque
Karl de Mecklen burg, irmo da rainha Lusa.
Goethe rec eb eu o co nvite para honrar a oca-
sio com sua presena . mas. a pre texto da ida-
de, rec usou (tinha setenta e doi s anos) . Ele sem-
pre felicit ara se us amigos de Ber lim por suas
maiores possibilidades e pela "vantage m de
pertencer a um grande Estad o" . e e le pode
muito bem ter se poupado tambm en to da
experincia de efetuar pessoalmente a compa-
rao co m seu pr pri o e "p equeno mundo" de
..\ Era do Cdu do n a Bu rg u cs u
Weimar. O prncipe Hardenberg indicou o con-
de Br hl para dire tor-geral dos teatros reais em
1815 e, segundo se relata, leria di to as seg uin-
tes palavras: "Faa deste o melhor teatro da
Ale man ha e diga -me quant o cus ta" . O ed if-
cio de Sc hinkel no Ge ndannenmark t foi com-
pletamente destru do em 1944 : sua reconstm-
o comeou em 1967.
Vi c n a
O terceiro vrtice do tringulo do teatro
cl s sico alemo foi Viena. Aqui foram dados
os pr imeiros pas sos rumo a um teatro nacio-
na l na poca de Lcssing . Quando. em 1776. o
imperador Jos II elevou o st atus de Haus an
der Burg para o de teatro naci on al e imperial.
Lessing teve a esperana de que se lhe abria
um novo campo de atuao no Da nbio, de
que uma nomeao o capacitas se a participar
da formao de uma inst ituio central de cul-
tura e de progr esso cultural no esprito do idea-
lismo humano, tal como Klop stock havia so-
nhado.
O imperador incumbiu se u tea tro da tare-
fa de "d isse minar o bom gosto e o rcfinamen-
lO do s cos tumes". Sua administra o foi con-
fiada a um colgio governamc ntul de cinco pes-
soas. O a tor J. H. F. MUller foi incumbido de
realizar uma viage m explorat ria pe la Alema-
nha a fim de procurar j ovens talent os.
Ele en controu Lessing e m Wo lfenb nel .
que lhe disse:
Eu e... tnvn co ntra II palco ti l..' Vi en a. por-
q ue l i cm d ivc rs o-, panfl etos dc:sl." ri,,,:s ( I' ll' uo ': 1"1.1 111 a-,
me lhor e:'> . Agora voltei alr;b cm nunha opiuio co ncebi-
da . como (1 senhor mesmo pde \ 'e: r havi a es ta-
do c ru Vie-na no a nil ant eri or. c ru 1776. c uvc ra re-
eHl lls i <ist ic a ). Ainda L1ha 1l111it ;1 mas (I tea-
Iro me lhor qualquer outro '111\.' co nhe o
Ele deu ao proj eto do Teat ro Naciona l de
Viena priori dade sob re Man nheim, onde tam-
b m se cogitava ter a co laborao de Lc ssing,
porque Mannheim, disse ele. no co ntava com
uma popula o suficientement e gr ande pa ra le-
va ntar os recur sos nece ssrios para ta l em-
pr cendi mento.
"Viena deve ser par a a Alemanha o que
Pari s para a Frana" . esc reveu Wi c laud. por
sua ve z. c m sua revi sta litcr.iria Drr Tcntschc
Mcrkur. Ma s o imperador Jos II foi bastante
sagaz. e bast ante vienense, par a no sacrificar
o ja rdim florido da tradio do teatro popular
ii no va e ambiciosa insti tuio c ult ural. Todas
as f iguras folc lricas das qua is J os e ph
Sonnenfels teria com tant o gos to se livrad o.
todos os Kaperls e Stabcrls e Thadddls (arl e-
qui ns na tivos e pe rsonagens bufas) conti nu a-
vam a viver alegremen te nos teat ro s subu rba-
nos - sob Laroch e, no teatro em Leopoldstadt,
sob J. A. Gleich e Adolf Buer le no teat ro em
der Jo sefstadt , at num nvel ma is elevado. na
comdia de conto de fadas e magia de Ra i-
mund e na espirit uo sa s tira local de Ne stroy.
O DOII Gio\'Qlllli de Mozart teve uma re-
cepo fr ia no Burgtheater em ma io de 1788.
Seu libret ist a Lorenzo da Pont e lembra o co -
ment ri o ap ologtico do imper ador : '-A per a
divina. tal ve z mais bonita ainda do qu e
Figaro, mas no co mida para os dentes dos
meu s vienenses" .
Cont udo. foi precisamente no domni o
da pe ra qu e Vie na co nquistou seus mritos
mais rel evant es du rante as primeiras d cad as
de scu Tea tro Nacional. Acolheu as reformas
de Gluck , difundiu a fama de Mozart e, e m
180X. montou uma bri lhante ap rese nta o de
ga la da Cria o de Haydn, E a especifi ca-
ment e vienense opera buffa combino u todos
os e lemen tos mgicos e extico s quc a lcan-
a ra m at E. T. A. Hoffmann, Carl Maria von
Web er e Albert Lortzing na pera rom n ti ca,
e c uj os ves tgios se e nc ontram tambm no
Fidclio de Bee thove n.
As deci s es co ncernentes ao progr ama.
escula o de e lenco e co ntratos ficavam a car -
go da comi ss o dos cinco nomeados pe lo im-
pe rador. inst ncia suprema, porm . conti-
nuou se ndo el e prprio. Ele intervi nha, no tra-
ba lho teatral pr.iti co . com sugestes e instru-
es. Ha via necessidade de mais ensa ios. e
ensaios ma is intensivos; na di st ri buio de
pap is para cs pctculos importantes cu mpri a
prever uma dupl a ind ica o (titulares e sub sti -
tut os ). e os direitos de prioridade deveri am se r
observados : a responsabilidade pel o funciona-
me nto desimpedido dos trabalhos no tea tro de-
veria se r alt ernada de acordo com uma lista
se ma na l de re ve zamento .- um siste ma de
slllg<' lI/ lI l/lIgc r - por coincidnc ia aq uele qu e
Goethe ad ot ara em Weimar,
424
-125
37. Ca ste lo de Thurneck. Desenho de ce nrio de Karl Fricdri ch Schinkcl para a pe a de Kl c ist. Ktchen wm Heilbronn;
encenada na Konigliche Scbauspilh aus.. Berl im. 1H24. Aq ua rela de Dietri ch ,
38. Palco quadripartite de Das Haus da li.-'",/ It' I W/It 'JJt C ( Casa dos Temperamentos) de Nestroy, Gravura colorida de A.
Geiger. a partir de J. C. Schoc llcr, cu raido UI ) U,w',. de Adolf Buerle, IR38.
:\ Era d u C d u d u n i a Rl/ rgu l' .\ lI
A irnproviso de qualquer tipo foi da por
diant e estritament e banida do Holf und Natio-
naltheather. Em suas instrues aos more s, Jos
II es tabelec ia explicitamente:
A ningum permitido deliberada ment e ad icio nar
qualquer co isa a se u papel. alter -lo ou empre gar ges tos
inconvenient es: ao con tr rio. todos devem man ter-se ex -
clus ivameurc nos lermos prescritos pel o autor c auto riza -
dos pela cens ura imperi al e do teatro rea l: no C I :-.O de
iufra o. o ofensor multado cm 1/8 dl) seu saki rio me nsal.
Se , no entanto, o texto do dramaturgo de-
via ser respeitado, assi m tambm devi a ser a
aut oridade do censor, que eventualme nte as -
sumia propores grotescas. Kabalc und Liebe
(Intri ga e Amor) de Schiller escapou de ser
rebatizada Kabale und Neiguug (Intriga e Afei-
o) por um triz. Mas o censor topou com um
outro problema: o presidente teve que tornar-
se tio de Ferdinando, porque sua atitude para
com o filho era indi gna de um pai. E assim o
texto de Schiller precisou ser ret ificado, de for-
ma que a fala de Ferdinando decl amada em
Viena soou assim : "Existe uma regio em meu
corao onde a palavra tio nunca pen crrou .;"
Enqu ant o em Berlim, sob a ocupao fran-
cesa. Iftl and pudera, sem maiores entraves, ape-
lar para sentimentos pat riticos com sua ence-
nao do Lager. o censor napole-
nico em Viena suspeitou de conspira o cm
Fidrlio , e a permi sso par.!o espetculo foi dada
apenas no ltimo momento. (Wiela nd Wagner
salientou, em sua mont agem desta obra em
Stuugart, em 1954. o que a vienense. em I X05.
encobrira: fez com que o governador Don
Pizarro aparecesse em mscara de Napoleo .)
Friedrich Lud wig Schrder foi chamado
de Hamburgo em 17l> I, e levou par a Burg-
theat er o ard or passional do estilo do St urnt
und Drung : Uma onda de probl emas art st ico s
agora envolvi a a escola de Viena. "Toda Viena
testemunha da mudana que tomou conta da
interpretao de sde que cheg uei". escreveu
Schrder numa cart a ao diretor Dalberg, do
teatro de Mannheim.
Schrodcr pret endia comunica r a todos os
ateres alemes "naturalidade e verdade", que
eram os prpri os mandamentos aos quais o s-
culo int eir o se dedi cara. La 1/(/f1lJ'<' ct lc vrai,
haviam sido os ideais de Voltaire. Mas, em con-
traste co m Weimar, a aparente incorupntihih-
dade entre os objc tivos de Goethe e Schr der,
perdeu algo de sua agude za em Viena. Schrder
temperou scu esti lo da naturalidade no Burg-
theuter, e no perdeu a oportun idade de ence-
nar suas prprias tragdias burguesas e adap-
taes.
Um elo imedi ato entre Weimar e Viena es-
tabeleceu-se na pessoa de Joseph Schreyvoge],
dramaturgo e guard io art stico do Burgtheater
de 1815 a 1832. Ele havi a vivido por trs anos
na cidade universitria turingiana de Jena , es-
crito para o Jenaer Litcraturreitung e respirado
a atmosfera intelec tual de Schiller e Goethe.
Apurara sua crtica no exe mplo do esti lo tea-
tral de Weimar e havia refl etido sobre a aguda
disparid ade entre o sobrepuja nte pod er de
Goethe como poeta e a mediocrid ade do tea-
tro de Weimar. Mas, aps dois anos de seu pr-
prio trabalho de Ssifo no teatro, seu jul garnen-
to abra ndou- se subs tancialmente.
Joseph Sc hreyvogcl construiu sist emati-
cament e um repert rio no Burgtheater de Vie-
na, nos moldes do "teatro universal" de Goethe.
Como editor do Sonntagsblatt de Viena, at
181l> , ele tentou ao mesmo tempo educar seu
pbl ico. O grande dramatur go aust raco Grill-
parzcr reconheceu dever suas primeiras rela-
es com o mu ndo intel ectual de Weimar in-
teiramente a Sc hre yvoge l e seus ar tigos e cr-
ticas no Sonntags blat t ,
Em matri a de trab al ho teatr al pr t ico,
Schreyvoge l persegui a obje tivos inteira me nte
pessoai s. No seguia nem o estilo declamatri o
de Weimar, nem o es tilo cspe iacular de Berlim.
Seu mandamento exigia a piasmao interp rc-
tativa do papel a part ir "de dentro", idia esta
fortement e influenciada pelas noes romn-
ticas. Sc hrey vog el levou AIII1Irall (Av6 ) de
Grillparzer e sua lrica e melanclica Sappho,
Sophie Schrdc r foi e logiada pelo romnt ico
sueco P. D. A. Auerborn por haver compree n-
dido "a msica total da poesia em suas SOl 11-
bras ma is sutis " e por t-Ia expressado em
"sons celestiais".
Naquil o que Goethe falhara em Weimar e
ltfland cm Berlim, Schreyvogel realizou em
Viena: estabe leceu a fama dramtica de Klcist .
Conseguiu est rear com sucesso Der Prin; \'(l ll
Homburg (O Prn ci pe de Hamburgo) - sob o
ritulo Di c SCh/Oc/U I'(l1l Fehrbellin (A Batalha
de Fehrbellin l. co mo insistiu a censura - c as-
.J2'i
H is t r o Mun lJial d, Tva t ro Ao Era d a C dn d n n i u
12CJ
R OI\IANTlSM O
Um certo nmero de defi nies tericas
freq enternente citadas foram propostas para
di stin guir o cl assici smo do romanti smo. Pa-
res de contrast es tai s como lei e g nio, inte-
lecro e e moo, forma fechada e aberta, co m-
plei eza e infinitude, art e obj etiva e subjetiva,
tod as tocam a pe na s as pec tos par ci ai s. tal
co mo a polmic a obse rva o de Goethe : " O
cl ssico o qu e saudvel, o romant ismo o
que doente".
Entrementes, concordou-se em de sligar
os doi s conceito s de sua polaridade hosti l. E
deixou-se de incl uir no roma nti smo excl usi-
vamente a poesia e a pintura do per od o entre
1800 e 1830 como uma forma es pec fica de
arre alem. Estudi osos mai s recent es retira-
ram o roma ntis mo ale mo de sua posi o iso-
lada e lhe assegura ra m um luga r no qu adro
total da Europ a . "A partir do meio do sculo
XV III" . escreve Klau s Lankhcit em se u livro
Revolu o i' Restaurao, "o pr-rom anti smo
propaga- se a partir da Inglaterra. Era em pri -
meiro lugar lit er rio. com Thomson . Young,
Bur ke e Mucphcrson na Ing late r r a . c o m
Rou sseau na Frana. com o Sturm 111/(1 Drang
na Sua e Al em anha". As express es ma is
vigoros as do ro ma ntis mo alemo for am os ir-
mos Schlegel. Ti eck , Novali s, Wackeurodcr,
o Dichtcrkreis (C rculo de Poetas) de Heid el-
berg e E. T. A. Hoffmann . O movimento 1'0-
mntico fran cs co me ou com Li' Gc ni c/II
Christianisme de Cha tea ubriand ( I e c ul-
minou em Vict or Hugo e Alfred de Mu sset.
Na lt lia, Ugo Foscol o e Alessandro Manzon i
inflamaram -se com as idia s da nova corre nte
liter ria. Na Ingl ate rra, seus mai s fort es repre-
se ntantes foram Scott, Byron. Shelley, Kea ts
e \Vords wort h. Na Sucia. o grupo do s Fos -
fori stas reunia- se volta de Per Dani el Ama-
deu s Atterbom. A literatura da Rssia e da
Pol nia foi profundament e influen ci ada por E.
T. A. Hoffmann, e P schkin e G gol lun aram
a ponte para a "e scola natur al " de mead os do
s culo .
ciam uma boa viso e habi litavam o palco, que
estava ind o de encontro ao reali smo, a ter a
incl inao requer ida para adequ ar o ce n rio .
Schlcge l O chamou. manteve-se a mei o cami-
nho en tre o esti lo tableau de Weimar e os sun-
tuosos cortejos de Berlim. O orame nto, sem-
pre lamentado pela exigiiidade de sua dot ao.
podi a se r es ticado o bast ante para permitir pro -
dues muito respeitveis. Schreyvoge l equi-
pou a maioria das peas com ce nrios e um
garde-robe de sua prp ria autoria e - aux ilia-
do por um consider vel jnn.c, inst ructus, co-
mo conta o ator Heinrich An sch tz - com um
estoque permanente, especialmente de figurinos.
O palco do velho Burgtheatcr medi a qua-
se 9 m de largura por 12 m de profundidade, e,
com o au xlio da cena curta e longa, podi a ef e-
tivament c forn ecer uma iluso de profundida-
de . Em adio s costume iras per specti vas
diagonai s no estilo de Gali -Bibiena, o pintor
da cone e membro da Academia Imperial de
Artes. Joseph Platzer, que comear a a traba-
lhar para o Burgthcate r em 1791 , desenv olveu
um outro artifcio ilusionista para uma pcrfei-
o exemplar: o pano de fundo arqueado, uma
tel a perfurada que podia ser erguid a e inserida
di ant e da par ede pintada atrs do pal co, per -
mitindo as s im a multipli cao do efe ito de
per spect iva.
Dezcnove dos ce n rios tp icos criados por
Platzer para o teatro do cas telo em Leitomi schl
(Litomisl) na Bomia ainda est o conservados.
Incluem um vsal o gtico", c ujo pro sp ecto du-
pl o continua e ngenhos ame nte a persp ectiva
diagonal do escalonamento em profundi dade
... projetada por seis pares de ha stidores late-
rai s que eram arranjados em zig ue zag ue c abri -
am a vis ta de um salo aberto. Esses ba stido-
res laterais podiam se co mbina r co m diferen-
tes prospecto s para formar novos ce n rios .
O mesmo sistema foi usado por Lor enzo
Sacche tti e Ant oni o de Piano cen grafos da
pe ra de Vien a. e tambm por Gcorg Fuent cs
em Frankfurt e por seu alun o Fri cdrich Bcuther
em \ Veimar. O princpi o do palco curto e lon-
go desempenh ou um papel impor tante at a
meta de do scul o. O problema da dia gona l em
profundidade oferecia algu mas difi cu ldades
tcnicas adi cionai s. desde que o teatr o e o sa-
lo do bail e de nuiscara dividia m um recinto c
as poltronas xituav.uu -sc no nvel do cho. Isto
foi e fimin. ulo co m uma nova pr tica . a da cres -
cente co nstru o de casas de csp cuiculo in-
depend en tes. Agora, poltronas elevada s ofere-
Goethe nun ca veio a Viena, mas teria acha-
do seus ideais admiravelmente realizados na
"harmonia da postura e expre ssividade c ni -
ca" que seus cont emporneos to efusivamente
elogiavam em Sophie Sch rdcr.
O szenisch er Reulideali smus (o realidea-
lismo cni co) de Schreyvogel. co mo A. W.
Ela esteve comove nte c emocionante, emoc ionante
at o ponto do terror. Suas posturas foram belame nte cal-
culadas; mesmo nas ma is ousadas, nunca excedeu os li-
mit es da beleza. Se mp re pr ojetou uma compos io
pictorial: o jogo com seu manto, a queda de lima dob ra.
tudo foi cui da dosame nt e est udado .
tenha se apress ado a assi stir premicrc, poi s
comentou : "a cens ura pode em seguida encon-
trar um cabelo na sopa e proibir a pea, e eu
no conseguiria v-Ia" .
Em se us princpios bsico s, o estilo do
Burgtheater vienense caminhava bastante pr-
ximo aos ideai s de We imar, e a cena do Da-
nbio es tava igualme nte preocupada com os
arranjos pictri cos . Isto se evidenci a numa des-
crio da celebrada atriz Soph ic Schrder na
revista Europa:
sim tornar uma presena viva no palco um
heri que, sob o radiante poder de triunfar, re-
ve la o re vers o huma no, o med o da morte.
Philipp von Stubcnrauch, um ex perimentado
peri to em todos os esti los de pocas, a cujo
eargo es tiveram os eenrios dos teatros impe-
riai s de Vien a nos anos de 1810-1848, vestiu o
eleneo em unifor mes fielmente co piados da
poca do Gr ande Eleitor. Schreyvogel, porm,
precavidamente apressou-se a oferecer a seu
pblico no apenas o Klei st "pruss iano" , mas
tambm, logo depois, o inspir ado poeta romn-
tico de Kiithchen 1' 01 1 Heilbronn, como um
prato pa lat vel, nada probl emtic o.
Schreyvogcl demonstrou um infalvel sen-
so de qualidade artstica no decurso de seus
dezoito anos como "secretrio e consultor" do
Burgtheat er, o que assegurou a este um reper-
trio dos mais exige ntes. Inclua Shakespeare
e Holberg, Goethe e Schiller , Calder n e Go l-
doni , Sheridan e o menos ilustre Kot zebue.
Contra a expect ativa , o Tartufo de Molierc, na
adaptao de 1. L. Deinh ardstein , passou pel a
censura, embora para apenas doi s espetcu los.
de se presumir que o imperador Franci sco
I >
! .
i ;:
L
,.
, .
I "
t ;:
11
p.
i
I,
"
'I
i
l i
:.1
L i
!'i
'.'
ii
39. Desenho de Franz Grill parzer para a cena final de lJ it ' A1 XmWIllCIl lO s Argo nautas) scgundu dr ama ele sua
trilogi a Da...go dene Vrss (O Tovo de Our. u Es tr ia c m J no Burgtheatcr . Vie na .
.
428
'!
o romantismo floresceu cm toda a Euro-
pa. Nas palavras de E. R. Meijer , ele aco meteu
todo o mundo oci dental "como uma epidemia".
Era cosm opo lita e, ao mesmo tempo, desper-
tava impulsos naci on ais nos pa ses indi viduais.
"A poesia romnt ica um a poesia progressiva
uni ver sal", esc reveu Fri edrich Schlegel , "pre-
tend e primeiro mescl ar e logo fundir a poesia
pr osa, a literatura criativa crtica, a poesia
da arte poesia da natureza" . E: "Ela sozinha
infi nit a, da mesma forma que ela soz inha
livre, e sua primeira lei que o livre-arbtrio
do poe ta no reconhece nenhuma lei superior".
Noval is deu o lem a: " Para dent ro vai o cami -
nho mi sterioso" .
O teatro, por outro lado, uma arte diri-
gida para fora , sociali zante, e veio a ser nesta
poc a associado s tcni ca s de palco e a pa-
dres soc iolgicos e organizaci onais, cujos
pr incpios par ecem, 11 primeira vi sta, ter esca-
pado a qual quer influncia sali ente do movi-
ment o romntico . Tanto mai s forte por m era
seu impacto na es tr utur a ntima do drama e na
arte da interp retao e. em lt ima anl ise. na
arte da repr esentao cn ica.
O teatro da corte e a p era da corte eram
flanqueados por tea tros municip ais e do Esta-
do. Os cidados havia m tomad o a inici ativa
de co nstruir ess es teat ros independent es e os
co nside ravam co mo suas prprias instituies
culturais. Queriam ver se us prp rios heri s no
palc o. A Schicksalstragodic. ou "t ragd ia de
de stino". que Schi ller ainda encarava como o
co nflito da personalidade moral livre com os
poderes da hist r ia. tornou -se um retrato da
famli a burgue sa. No perodo Biedermeier, o
povo entrego u-se ao verso escr ito, leu sobre
moda, poesia e teat ro cm almanaques poticos c
livros de bolso. e em sua literatura de entreteni-
mento desenvol veu um gosto pelo horr vel, que
no palco tomou a forma de peas de fantasmas.
Um desenvol vimento par alel o foi a cres-
ce nte comercializao do teatro , que comeou
nas grandes cidades da Europa e es timulou a
tend n cia para o estrclato no palc o. A Amri-
ca ent rou em cena com sedutores contratos para
convidados e at raiu os grandes ato res romn -
ticos, es pecialmente os dc Londr es, para Nova
York. Filadl fia e Boston.
A id ia c smica , o primatlo da imagina-
o livre. cr iativa, a tent ativa de construir lima
430
Hi s t r i a M ll ll d i o / do Ie cu r o
po nte sobre o abismo entre o fin ito e o infinito
por mei o da ironi a rom ntica , a pe a espi ri tuo-
sa com a iluso e o auto -anu lamento - todas
est as formas de autocriu o c auto-aniquila-
o conferiram ao dr am a do ro ma nt is mo suas
carac ter sticas improvisacionais , fragmentri-
as e tenden tes ao arabcsco. O "ego arts tico"
servia de significado, as mlt iplas refraes
j ust ifi cavam-se no "j ogo do teatro co ns igo
mesmo". Em Der gesticfe ttc Kat er (O Gato de
Bot as) e Prinz Zerbino. Lud wi g Ticck brilhan-
temente ps fim identidade do pb lico com
o palco, do j ogo co m a realidad e.
A impregnao da vida com as forma s exis-
tenci ais do teatro um aspecto do romantismo
pr im it ivo na Alema nha. qu e , ligad o " tea-
tromania " da poca de Goet he, encontrou expres-
so numa s rie compl eta de romanc es teatrais, de
Anton Reiser de K. P. Mori tz, passando por
Wilhell/1 Meiserde Goethe, at Titan de Jean Paul.
No era to fcil, escreveu Tieck , "divert ir-se com
o teatro, sem ao mesmo tempu diverti r-se com o
mundo, porquc ambos desguam de todo um no
outro, principalmente em nossos dias" .
1\ mai s alta autoridade para a desintegra-
o rom ntica da forma, co mo ante rior mentc
para o Stunu und Drang, foi Sha kespeare. Em
Pri nz.Zcrbiuo ele faz uma apari o cm pessoa a
fim de assestar um suave go lpe baixo em Weimar,
" Bem, ento tomam-nu por um esprito selva-
gcm, sublime" - Zerbin o o sada - "que est u-
dou apenas a Natureza. que se aba ndona por
completo 11 sua paixo e ins pir ao , e depois vai
em frente e escreve o que quer que sej a - bom e
mau . sublime e ordi n rio. tudo desor denada-
ment e" . Shakespeare segue por um trecho do
ca minho com Zerbino, mas diz ade us quando
c hega ;1sua casa. o "Jardi m da Poesia", poi s
Ze rbino sem dvida gostaria de ir adiante.
Os romnticos se ntiam-se ligad os por afi-
ni da de co m o "s eu" Shake speare pr eci samen-
te ne ste Jardim da Poesi a. E assim que August
Wilhelm Schl egel, Ludwig Ti cck c seu s cola-
boradores levaram a cabo a grande obra-pri-
ma da traduo alem de Shakespeare, uma
recriao congenial no es prito do incio do
sculo XIX, um Sh akespeare "roma ntizado"
quc , na co rr ente das idi as cos mo po litas, con-
q ui stou a Europa intei ra. A Fra na, Espanha,
It lia e Rssia apr end eram a ad mirar Shakes-
pear e por meio dos romnti cos alemes.
~ . '
,
~
;
A Ern d a Ci d u d u n i u t u re u cvn
Uma participao e m tudo isso teve Mille
de Stal, Ela se dei xou guiar pelo conselho lite-
r rio de A. W. Schlcgcl ao elogiar, em sua obra
De I'Al lcmagnc, a forma imaginativa dos dra-
matur gos a leme s, incl usive as tradues de
Shakespeare e Ca ldern. Em se u salo no Ch -
teau Coppc t, junto ao La go de Genebra, encon-
trava-se a eli te intel ectual da Europa. Foi a qu e
a tragd ia Der vie rundrwanzigs te Feb ruar (O
24 de Fe ver e ir o), de Zaeha rias Weiner, foi
encenada em 1809 par a um crculo litcrr io
privado, bem ant es de sua pr imeira apresenta-
o pbli ca no Teat ro da Cort e de Wei mar em
1810: foi a que Be nj amin Constam co lheu o
estmulo para suas R flcxions sur le Th ct re
Allemand e sua adapt ao francesa de IVallell-
stein para o ator francs Josep h Talma.
Ao mesmo tempo, Walt er Scot t e lorde
Byron deram asas na In gl at erra ;IS fantasma-
gorias histricas, lri cas e sa tricas de sua poe-
sia cosmopolita. Goethe ass enta no Euforion
do Fausto II um monument o a Byron, " por
intermdio ele cujos me mbros as mel odi as eter-
nas so postas em movimen to" . O palco no
estava ii altura da tarefa de do minar o D OII Juan
de Byron, gra nde pico em verso. que tran s-
cendc fronte iras e satiriza o mundo intei ro --
da mesma forma que tambm era inadeq uad o
para o Prin; Zer/,;, IOde- Ti ec k.
Os grandes atores do ro ma ntismo ingls
j uravam por Sha ke speare. Cha rles Kembl c e
Edmund Kean ce le braram seus grandes triun-
fos nos pap is-ttul o desse teatro. " V- lo atuar".
disse Co leridgc a respei to de Edmund Kean, "
COlIJO ler Shake speare ao cintilar de raios". Ale-
xandre Dumas, pai. era t o fascinado pel a vida
turbulent a da "alma tirnica" de Kean. que es-
creveu um dr ama sobre el e.
Em 181 8, Ed mund Kean levou , no Dru ry
La ne Theatre em Londres. o dra ma BI'II/II .' . do
ame rica no John Howard Payne, Dois anos ma is
tarde, apresentou-se cm Nova York co m a me s-
ma pea, c, claro, tambm co m sua s famosas
interpretaes de Ri cardo III. Haml et, Otelo e
Shylock. A filha de Kcmb lc, Fanny, Tyrouc
Power e \V. C. Macr eady manti veram a cor-
rent e de astros da repr esent ao teatral atra -
vessando o Atl nti co para () Oeste. () prprio
Kean visitou os Estados Unido s uma seg unda
vez c m 11\25 e , e m I X28 , apres entou-se em
Pari s, int rodu zindo um a rom mica fora pri-
mi tiva no I )(/[ /W S med ido da Cinncd ic Franai sc,
O esprito do rei Leal' de Kea n parcce ainda as-
sombrar os desenhos a nanquim estranhamente
lgubres de Victor Hugo. Ed mu nd Kean mor-
re u e m 1833. um ano de po is de Lu d wig
Devr icnt, a "fl ama a elevar-se cm alt as labare-
das" da atuao romntica na Alema nha.
Por es tranho qu e parca , Lu dwig Tieck
reagiu de maneira bastante co nfusa 11 nfase
passion al dos int rpretes shakespearianos in-
gles es. Ele foi a Londr e s cm 181 7 procura
do teatro "genu no", mas ficou desapont ado.
Kemble e Kean. os aclamad os predil etos do
p bli co lon drino, parecera m-lhe arr uinar os
text os com sua interpretao fe bril. Charles
Kemble lembrava lffl and a Tiec k, por ca usa
de sua abordagem cerebra l e recitao pesaro-
sa , enquanto Edmund Kean parecia -lhe es tar
desint egrando os papis com sua maneira im-
petuosa e exc nt rica. Tanto no Covent Ga rden
qu ant o no Dru ry La ne, o palco era demasi ado
grande e o j ogo de co njunto demasiado fraco
par a permitir qua lquer " atmo sfe ra romntica".
Nem em Stra tfo rd -o n-Av o n e ncontro u
Ti eck o que sentia falta no teat ro . Em vez de
um a grac iosa paisagem do SOl/h" de VII/a No i -
t e dc \'t' /'{I o. e le encontrou uma cidade iudus-
tri al c uida dosament e ed ificada, dando testemu-
nh o lauto da arte da manufa tura quanto do
e nluarado xtase da poesi a.
Ne m mesmo a no va il umina o a gs,
int roduzi da nesta po ca na Covent Ga rdcn L'
no Drnry Lane, uma reali zao tcnica pio-
neira. redimi a a situa o aos o lhos de Tieck .
O pr nc ipe Pcklcr-Musk au . por outro lado.
e m suas Brief cincs Vcrstorben rn (Ca rtas aos
Mort os ) e logiou em co nsonnc ia pot ica de
uma "pe a-espet culo" se m va lor dra mti co.
por m sugestivame nte e ncenada qu e havia vis-
to no Drury Lc ne em 1X27: " no ite. mas a lua
resplundcsce no cu azul e sua lu z ptilida mes-
cl a-se co m as j anelas br ilhant ement e ilumi na-
das do ca stel o c da cape la" . Poderia ser a des-
cri o de uma pintura de Caspar David Frio.
dri ch .
Quando. aps anos turbulentos como con-
se lheiro dramatrgi co do Teatro da Corr e em
Dresden , Ludwig Tieck finalment e teve a opor-
tunidade de ct ctuar um a encenao prpria na
co rte do rei prussi ano Frederico Guilherme IV
c m Berl im. esta era quase um a nacron ismo.
431
Hi s t r i a Mun dia l do Teatro . A Era da C d a da n o Bu r g ue sa
40. Edmund Kean como Ricardo III no Drury Lane Theatre, Londres, c. 1815. Gravura da poca.
Tieck , ento com setenta anos, juntamen-
te com o co mpositor Feli x Mend elssohn , en-
cenou o Sonho de Uma Noite de Vero em 1843
no Neues Palai s em Potsdam, como um mo-
delo pstumo do "t eatro romntico".
O arvoredo no qual Titnia e Bouom se
aninhavam foi colocado sob um lance de es-
cada que se erguia dos dois lados. Em vez dos
cos tume iros bastid ores laterai s, o palc o era
delimitado por tapetes pendu rados na vertical.
O quart o na casa de Quince, o ca rpinteiro , era
pint ado num cenrio mais abai xo.
A montagem foi mostrada em 14 de ou-
tubro de 184 3 para a corte em Potsdam e a
seguir tran sferid a para o Teat ro Real em Ber-
lim, ond e entrou para os anais da crtica dra-
mtica co mo "a curiosidade ltero-teatral pro-
duzida pel o poeta Ludwi g Tieck", nas pala-
vras do lllustrine Zeitung de Leip zig, em 2 1
de dezembro de 1844. O crtico nota com em-
barao qUe o espetculo no era consistente
com os prin cpi os tericos to freq entemen -
te expressos pelo poeta. Graas excelente
msica de Mendelssohn, ao cenri o pint ado
por J. C, Ge rst, aos ricos e brilhantes figuri -
nos e incl uso de danas, canes e procis-
ses luz de velas, havia se revelado "uma
mi stura de curiosi dade histri ca, co nce po
fants tica e acessrios esplndidos como os
de um ba l" .
432
Inesperadament e, as idias reformistas de
Tieck haviam falhado exatamente l onde ele
confi ara no mai s alt o grau em sua competn-
cia - em Shakes peare. Uma produo anterior
da Antigona de Sfocl es, com "imitao fiel
da skene antiga", levant ara menos problemas
e encontrara uma aprovao unnime. Obvia-
ment e, era mai s fcil lanar a ponte entre o
classicismo e o reali smo histri co do que con-
creti zar uma co nce po romnti ca de palco.
Karl Immermann o havia tentad o desde 1829
em Dsscldorf co m suas repre senta es mo-
delares par a o Th eat er verein . Ele parece ter
sido consistente ao excl uir a " farsa inspid a"
(ainda que preci sament e o romantismo tivesse
tirado muit a inspirao de element os da Com-
media dell 'art e e da idia da "pea dentro da
pea"), o mel odrama cruel e tradues de "i n-
signifi cnci as es tra ngei ras" ; mas, com todo o
seu lan reformi sta, ele no estava imune a uma
cert a unil ater alidade.
Os efeitos c nicos do ilusionismo, msi-
ca e a mgica da atmosfera sugestiva medi ant e
a mutao ce nogrfica desafiava qualqu er ti-
po de purit ani smo cultural. E. T. A. Hoffrnann,
apontado em 1808 como diretor cnico e mu-
sicai do teat ro de Bambcrg, deliciava-se em
"despert ar no espec tador aquele de leite que
libert a o seu se r inteiro de toda a torment a des te
mundo, todo o peso depressivo da vida cotidia-
na e todo o entulho impu ro". As co ndies ex-
ternas co m as quai s teve de tr ab alhar em
Bamberg, com a troupe Seconda, a seg uir, em
Dresden e Leipzig, eram certa mente modes-
tas. Mas Hoffrnann conseguiu atra ir o clero de
Bamberg para o teatro com verses alems de
La Dcvoci n de la Cruz, a " mais profunda e
ao mesmo temp o mais vvida pea" de Ca lde-
rn, e de El Prncipe Constante, do mesmo
autor. Hoffmann reconh eceu sua d vida em
relao Commcdia deli 'arte. co m sua Prin -
zessin Brambilla e a sute de bal Arlequino, e
sua pera fant stica Undine, que se base ia em
Fouqu , inspirou, em 181 6, o clas sicista berl i-
nense Karl Friedri ch Schinkel a criar um ce-
nrio co m gua e castelo que o tornou um al ia-
do do romantismo.
Se os historiadores da art e de hoje falas-
sem, com referncia ao fenmeno geral da Eu-
ropa, de um "classicismo romntico", seu pri-
meiro representante na cenografia seria Schinkel.
Seus proj etos para a Flauta Mgica em Berlim
em 181 6 ou, em 1821, para a pera Olymp ia de
Spontini (com texto de E. T. A. Hoffmann), so,
com a sua fuso de conceitos clssicos e romn-
ticos, o mais puro "classicismo romntico" .
Ca rl Maria von Weber apreciou muit o a
Undine de E. T. A. Hoffmann (embora tenh a
sido ult rapassado por Lort zing, trint a anos mais
tarde) . Hoffm ann, por sua vez, abriu ca minho
para o Fre isc ht; (O Franco Atirado r), de
Weber. O ideal de uma "progressiva poesia
uni ver sal " de Friedrich Schlege l co nfirmava-
se, pel o menos at certo pont o.
O pbli co de Londres de 1845 foi convida-
do para o espetculo de quatro das maiores bai-
larinas do mundo, que apareceram j untas num
pas de quatre: Maria Taglione, Fanny Ceni to,
Carlota Grisi e Lucile Grahn. Quatro anos an-
tes, em Nova York, Fanny Elssler recebera o
maior enc h at ento registrado no mundo, a
saber, quinhent os dlares por noit e. O Novo
Mun do sabia como atrair e celebrar os astros da
pera e do bal europeus, seus bailarinos e can-
tores. Em 1850, Jenny Lind, o Rouxinol Sueco,
teve uma recepo extasiada em Nova York. Fora
contratada por P. T. Barnum, e o maior showman
e e mpres rio de ento mont ou um pri mei ro
exe mplo do sensacional tipo de campanha
promocional que mais tarde se tornaria uma tc-
nica bem-sucedida do teat ro comercial. Em Pa-
ris, enquanto isso, o bal do compos itor Etienne
Nicholas M hul, La Dansomanie - que incid en-
talment e aprese ntou os paris ienses valsa -
em 1800 ditara a moda para a mani a ps-revo-
luci onr ia do ba l, Coreog rafia, temas, figuri-
nos e estilo iam na direo do /IOIH'eau mervei-
lleux, uma ramifi cao do romantismo alemo.
O ce nrio e os figurinos criados para a
pera e o bal de Paris por Cic ri, Despl chin
e Joseph Thi erry tent aram combinar o enca n-
to do rom ntico e do maravilhoso com eleme n-
tos do folc lore e da histria. Tornaram-se os
predecessores da "cor local", que em meados
do sc ulo levari a o realismo romntico aos lu-
xuosos figurinos dos Meiningers e de Ma kar t.
Quand o a ence nao da pera rom ntica
e histri ca La Mu et te de Portiei , de A uber, es-
tava se ndo prepar ada em 1828, Cic ri fo i en-
viado Itli a para estudar paisagem e arquite-
tur a . Iria tambm a Mil o e se familiari zaria
com as tcn icas teatrais do La Sca la, constru do
em 177 8, com ca pac idade para 3600 pessoas
o que era , ju nt ament e com o San Cario em N-
poles, o maior teatro da Itlia, admi rado pela
Europa inteira.
A fim de chegar ao clima certo para a espc -
tacul ar pe ra Robert te Diable, de Meyerbeer
(com texto de Eug ne Sc ribe e Germai ne Dela -
vigne) e o bal no convento que a pera contm,
o cengrafo Charles Schan esteve em Arles e
observou o claustro de Saint Trophime, buscando
colher idias para a montagem, programada para
1831 na Gra nd pera em Pari s. Spont ini e
Rossini compe tiam pela fama de regente e com-
positor. Les Huguenots de Meyerbeer transfor-
mou um dos ma is brutais atos de violncia da
hi st ri a num " tri unfo de virtuosismo".
Quando a Co mdie Franaise, em 25 de
fevereiro de 1830, aprese ntou pela primei ra vez
o drama romnti co Hernani de Victor Hugo.
houve uma ba talha espetacular no teat ro. Os
simpatizantes dos clssicos franceses prot es-
taram co ntra o tra tame nto dra mtico livre de
Victor Hugo, mas os jove ns o festeja ram. Gri-
tos indi gnados de " Racine, Racine !" vi nham
da plati a. Mas Thophile Gautie r levan tou-se
e pronunciou o veredicto da nova era: " ' htre
Racine est 11111 polisson, Mess ieurs" - "Seu
Racine um tratant e, senhores" .
Para os historiadores franceses da litera-
tur a, o dia da bataille d'Hcrnani marca a vit -
433
4 J. Int erior do velho Burgth eater na Michael er platz cm Viena. teatro qu e ap s 1776 passou a chamar -se Hof- und
Nati onal theate r. Gravura colorida. incio do sculo X1X.
42. O Cov ent Garden Thca lre cm Londres. no incio do sculo XIX. Da srie de caricaturas 'lintr of D, : .\ \ '1It lJ.\ ;11
Scarch 01 lhe Picturvsquc de Thomas Rowland son . Londres. 18 15.
43. O Covent Garde n Theatre ~ 1 1 1 exc urso e m Paris: apre scntno de Hamlet cm 11 de setembro de 1R27, com Charl es
Kcmblc no papel de Haml et e, no de Of lia. Henrictta Constance Smithson. que se casou com Hector Berl ioz. Lit ogrnvurn
de Gauguin. a partir de Boulanger c Deve ria I Paris. Bi bli oth cqu c de I' Arsenal).
4.1. Shake spear e no palco romn tico: nu uua gcm de Ludwi c Ticck do Sonho de uma /\'oit(' de ~ ( ' r o , Berlim. I K B .
Ce nrio de J. C. Gersr. IIltsica de Fel i x Mcndc lssobn tlitog rnvurn do l. ('i/' ,-.igr r/l/It\-rrinl' Zt'illOlg, IX-1-1).
ria final do romantismo. O Hernani de Victor
Hugo tornou-se o drama romntico francs por
excelncia. Mas o fracasso de Les Burgraves
em 1843 ps fim sua breve glria. Hugo era
o centro do Cnacle, um grupo literrio que
inclua, alm de Thophile Gautier, outros es-
critores, tais como os irmos mile e Antony
Deschamps, Sainte-Beuve e Brizcux: seu mais
jovem e, para palco, mais importante mem-
bro, era Alfred de Mussct. o elegante e elegaco
heri do mal du sieclr.
O romantismo foi capaz de ligar-se tanto
Revoluo quanto Restaurao. Quando La
Muette de Portici foi apresentada, na vspera
da revolta popular da Blgica em Bruxelas, o
pblico, ao deixar o teatro, tomou de assalto
as barricadas. "Aqui o teatro representou o ele-
gante e nobre papel (\;I tocha que acende as
chamas da Revoluo", escreveu Aleksandr
lakovlvitch Tarov um sculo mais tarde: "a
pulsao do propsito comum, que despertara
no teatro, incendiou a Revoluo mas extin-
guiu a ao teatral".
Na Itlia, o principal desafio ii tradio
clssica veio de Giovanni Berchet, tradutor de
Fnelon, Schiller e Goldsmith. em 1816, COI1l
sua Lettera semiseria di Crisostomo, que deve
muito s baladas de G. A. Brger. Ele queria
escritos criativos, "to livres como o pensa-
mento que os inspira e to audazes como a meta
ii qual aspiram". Alessandro Manzoni ps ii
prova a frmula em seus dois dramas, Adelchi
e II Colite di Carmagno!n, e deliberadamente
voltou as costas tragdia clssica para abra-
ar, em vez dela, o principio da verdade hist-
rica. Foi violentamente atacado pelo jornal
acadmico La Biblioteca Itolicuia de Mil.i.
436
fiis/ria }\fUI/diu/ do Tel/fro
45. Esboo de Victor Hugo para seu drama I.es
Burgravcs, ato II. Estria em 1843. na Comdic Fran-
aise, Paris.
mas Goethe considerou II COI/tedi Carmagno-
ia merecedor de apreciao mais detalhada em
sua prpria revista ber Kunst und Altcrthum
(Sobre Arte e Antigidadc).
Stendhal alinhou-se com Manzoni quan-
do, em Racine ct Shakespeare (1828), rejeitou
as unidades aristotlicas em favor da tragdia
psicolgica em prosa, transmitindo um qua-
dro verdadeiro e acurado das emoes huma-
nas. No era, argumentava, uma questo de
imitar Shakespeare, mas de aprender, com seu
exemplo, "a olhar e entender o mundo no qual
vivemos". Esforos para reviver o interesse nas
obras de Manzoni tm sido envidados desde
1940 por R. Simoni no Maggio Musicale de
Florena e desde 1960 por Vittorio Gassman
em seu Teatro Popolare Italiano,
Na Rssia, Alexander Pschkin escolheu
para sua tragdia Boris Godunov um tema his-
trico dos "tempos conturbados" da Rssia.
Shakespeare e Karamzin foram seus modelos.
Mas o teatro no podia competir, em igualda-
de de condies, com a audaciosa mistura de
tragdia herica e elementos folclricos, ilus-
trada em vinte e trs cenas, com sua riqueza
de personagens vvidas e contraditrias e al-
ternncia ele verso e prosa. () drama nacional-
popular de Pschkin compartilhou o destino
da maioria das grandes obras elo romantismo,
fazendo exigncias ao poder de imaginao
que o palco, cnscio de suas limitaes, pre-
feria evitar,
Embora Boris Godunov estivesse comple-
to em 1825, no foi encenado at 1870, no Tea-
tro Mariinski em So Petersburgo. Quatro anos
mais tarde, musicado por Mussrgski, foi mon-
tado como uma grande pera nacional russa.
A fora dramtica elementar desta obra abriu
caminho para o futuro desenvolvimento do
estilo realista da pera.
Nikolai Ggol fez uso de uma ancdota que
Pschkin lhe contara, juntamente com alguns
temas da comdia Die dcurschen Klcinstdtcr
(Os Provincianos Alemes ) de Kotzebuc. para
escrever O 11I.1"!)('tor Geral. Conta-se que o czar
Nicolau I esteve presente:' estria no Teatro
46.I.l Uatoiltc d'Hrrnani. Tumulto na estria do Hcrnan de Victor Hugo na Comdie Franaisc. Paris, 2':; de fevereiro
de 1830. Pintura de Albert Bcsnard (Paris, Museu Victor Hugo).
47. Cena do qu into ato de II Come di Cormagnoto de Al es sandro Mauzoni. apresentado pe la primeir a vez cm 1828 era
Florena (gravura das Ope re Varie de A. Manzoni , Milo. 1845).
48. Cena de Bori s GOdWIO\' de Alexunder Pshkin. corno encenad a CIll 1878 uu Alcxandrin sky Thcather. So l' ctcrsburg o.
49. Ce na de Adr icn nc l.ccouvrr ur. de Eug nc Scribe c Erncst Legouv . ta! como en cenada em 1849 na Co m die
Franaisc. Paris. Desenho de H. Valcruin (Paris. Bibliothquc de l' Arscnah .
50 , Cena do bal () dos Cisnes. com msi vu de Tchai kov sky. uprexcn tudo rl"1a prime ira vez no Teatro 8 01s110i,
Des enh o de Goutchar ov If.,,1( l "'l ' IH1. MlI SCl1 Hakhruschi n}.
His t ri a Mun d ia l (l o Teatro .
5 1. Desenho feito por solicitao de Ggol para a cena final de O lnspet or Geral. Estria em 1836, no Teatro
Alexandrinski, So Petersburgo.
mrmore, cortinas drapeadas proporci onavam
a inti midade de boudoir requerida por Sardou
e Labi che para suas comdias de cos tumes. O
exte nso monlogo dramtic o foi subs titudo
pe la ao episdica sustentada por adereos .
As personagens sentavam-se mesa tomando
ch ou j ogando pacincia e, fal ando com seus
parcei ros, em vez de dirigir-se ao pblico, ca-
sualme nte revelavam seus problemas. " Hoje o
palco uma sala de visitas mobiliada para pa-
recer exatamente como os elegantes sales de
hoje", escreveu Sardou. "No centro, os atares
sentam-se em volta da mesa e conversam com
bastante naturalidade, olhando um para o ou-
tro, como fazem as pessoas na realidade".
No lugar de "Ia nature et le vrai ", como
no tempo da Ilustrao e ainda no teatro de
Goethe, a nova palavra de ordem era "le mili eu
er la r alit " - o meio e a realidade - e isto se
aplicava no apena s pea de costumes con-
tempornea, mas tambm ao drama histrico.
Para Th odora, cuja ao se passa em Bizn-
cio, Sardou expressamente pediu um "a mbien-
te to correto, do ponto de vista arqueolgico",
quant o os produzidos para modernos int e-
riores.
Est a abordagem levou a todos aquel es
suntuosos d cors cnicos com os quai s se re-
ga lava m tanto o teatro quanto a pera. Gra as
aos es foros combinados do co regrafo e do
ce ngra fo, o Benvenuto Cellini (1 83 8) de
Berlioz exibia-se numa turbul enta ma scarada
ro ma na desenrolada diante de um co lor ido
pan o de fundo ren ascenti st a. Philem on e
Baucis ( 1860), de Charl es Gounoud, foi ence-
nado entre monumentais co lunas dri cas. A
Carmen ( 1875) de Bizet deu ensejo para o ima-
gi na tivo fol clore mouro anti go. Mas a mont a-
ge m pari siense de Tannh user infl ou as ban-
deiras da controvrsia entre os partidrios e os
oponentes de Wagner. O desafi o de Saint-Sans
- " a wagneromania uma doena" - tornou-
se o lcitmotiv apaixonadament e debatido no
desenvolvimento da pera realista na Fran a.
Da tradio da opera comiquc provei o
Jacqu es Offenbach, cuj o teatro de miniatura,
o Bouffcs Parisi cns, tornou-se o contrapeso da
pompa operstica pari siense. Apelidada de La
Bomb onni re pelo pbli co, o es pao de bol so
servia muit o bem para as operet as de cmara,
deri vada s do vaudcville, que deitaram o ger-
di sposta numa esca la maior " . Isto par ece an-
tecipar a violenta controvr si a ent re Stift er e
Hebbel.
Goethe e o pint or -lit gr afo Schadow di-
vergiam a respeit o do que denominavam " na-
turalismo". Adolph von Menzel , um mestre da
meticulosa pintura hi strica tant o quanto da
atmosfera mgica, declarou: "Nem tudo o que
medrosamente co piado da natureza fiel
natureza". Lembrando o exemplo das figuras
de cera, "nas quai s a imitao da natureza pode
atingir seu mai s alt o grau" , Schopenhauer re-
jeitou toda aparncia de realidade que "no
deixa nada para a imaginao". O con ceito de
"realismo potico" , de Ott o Ludwig, talvez seja
o que melhor haja caracteri zad o a fase estils-
tica entre o romanti smo e o naturali smo.
Compreender os tempos e sua realidade
significa tambm ver o homem em sua vida
quotidiana, em seu meio ambiente e seus com-
promissos sociai s. Como afirmou Alexandre
Dumas Filho , era tarefa do teatro reali sta des-
nudar o abuso social, di scutir o relacionamen-
to entre o indivduo e a soc ieda de e. tant o no
sentido literal quanto em outro mai s elevado.
mostrar-se como um th trc util e (teatro til ).
Enquanto Eugne Scribe ainda se limit a-
va a elaborar sobre a "condio humana" es-
pirituosas comdias de boulevard , o j ovem
Dumas era mai s dado morali za o. Em seus
dr ama s, ele luta por uma causa (espec ialmen-
te. por exemplo. em Le Demi -monde e Le Fils
Naturel - O Filho Natural ) e denuncia a burgue-
sia de sua poca, sua inescrupulosa avareza e
seu apego vida, se us se ntimentos fingidos ,
seus preconceit os e suas convenes antiqua-
das. O tema foi tratado por Dickens, Carlyle e
Thackeray na Ingl at er ra , por Dost oi vski ,
Tol sti e Turgunicv na R ssia, por Bchner e
Gr abbe na Alemanha.
O drama de crtica soci al e de real ismo
hi stri co precisava de um novo estilo de repre -
sentao e um novo cenrio. Stendhal havia
falado do "arti sta espelhant e" . O crtico de
teatro do Journal des Dbat s de Pari s, Jules-
Gabriel Janin, atribuiu revolu o na art e
dramtica con seqncia s a serem per cebidas
tant o na arte da pal avr a escrita quanto da fa-
lada.
O palco converteu-se numa sala de estar.
Sofs luxuosos, vaso s de plantas, lareiras de
A Era da C do o n a B u r g u es a
REALISMO
Os historiadores da arte tm um ponto de
referncia legtimo para datar o inci o do "Rea-
lismo": o momento em que o termo se tornou
o lema programtico de um movimento. Seu
iniciador foi Gu stave Courbet . Qu and o o jri
da Mostra Uni versal de Paris rejeitou, em 1855,
dois de seus quadros, ele construiu um pavi-
lho prprio, separado do salo ofic ial. sobre
cuja entrada esc reveu em letras grandes "Le
R alisme".
No teat ro e na literatura, o co nce ito de
reali smo torn ou- se objeto de discusso muit o
ante s, pelo men os em termo s teri cos. Na pr-
ti ca, a os cilao mai s lar ga do pndul o
traad a pelos espetculos dos Mein inger s e de
Charles Kean, em Londre s.
J em 1795, Schiller, em seu ensaio ber
naive und sentimentalische Dichtung (Sobre a
Poesia Ingnua e Sentimental), es tabeleceu
uma distino entre o reali sta e o idealista . O
primeiro, reconhecia ele, era consciencioso,
enquanto o segundo "reconciliar-se-ri at mes-
mo com o extravagante e com o monstruoso" .
El e usou a ima gem do "bem planejado jar-
dim" do reali sta , " no qual tudo tem se u uso" e
d frut os, em contraposio ao mundo do idea-
li st a , de "natureza men os utili zada, ma s
~ - - - - - - - - - - - - - - .....
\
Alexandrinsk.i, em So Petersburgo , em 19de
abril de 1836 e comentou, com uma gargalha-
da: "Esta foi uma pea para todo mundo, mas
especialmente para mim".
Mas h mai s nesta pea do qu e simples-
mente ridi cularizar o tapeador tapeado e cri-
ticar a burocracia corrupta da administrao
provincial russa, que tanto di vertiu o czar e
aj udo u a pea a ter xito nos palc os europeu s.
Ela , nas palavras de G. von Wilpert, "uma
pea sarcs tica, com uma bas e metafsica, so-
bre a susce tibilidade do homem s tenta es
do mal e sua inclinao a ouvir o demnio,
que termina com o surgimento do juiz do
mundo como representante da incorruptvel
ju stia divina".
Os dramaturgos do reali smo europeu ado-
taram os elementos folclorsticos de O lnspe-
tor Geral, e Werner Egk fez dela uma pera
em 1957. Os esboos cnicos e os figurinos,
que um desenhista amigo de Ggol realizou e
que chegaram at ns, mostram a importn-
cia que atribua ao destaque do s elementos
titerescos em suas per sona gens, o fato de es-
tarem merc de umtitereiro superior, em ou-
tras palavras, a enfati zar aquela "verdade in-
terior" que, no esprito do roma ntismo, fun-
dem numa s coisa as front eiras entre o j ogo
da pea na pea e a realidade.
440
441
me da fama mundi al de Offenbach . Lud ovic
Hal vy e Henr i Me ilha c escreveram libretos
para ele, e sua m sica deu uma nfase elctri -
zante stira e frivolidade, s frases de efei -
to e aos paradoxos. Orphe m/x Enfers (Orfeu
no Infern o). La Bel/c H lne (A Bela Helena).
La Perichole, tomaram Paris de assalto. Par e-
cia que Offcnbach, "por acaso . tivesse desp er -
tado as emoes latent es do pbli co". escre-
veu o crti co Francisque Sarcey. A Paris aman te
do prazer e ligeiramente decadent e do Segu n-
do Imprio. e logo toda a Europa. regalou-se
com o ritmo do canc e da valsa. E qu ando
Offe nbach apresentou A Grande Duquesa de
Gerolstein, em 1876. em Nova York, o pbli -
co o ova cionou "to entusiasticamen te como
a poucos arti stas europeus antes dele" iConrrier
des /a/s Uni s) .
Duas dcadas mai s tarde. os superl ativos
dos crti cos americanos concentraram-se em
uma atr iz cuj a estre la se levantara com os dra -
mas de Sard ou em Paris: Sar ah Bemhardt. Seu s
papis mai s famoso s for am o da imperatri z
bizantina marcada pel o escndalo Teodora - a
esposa de Justiniano - no drama hom nimo
de Sardou e o do j ovem duque de Rei chstad t.
filho de Napoleo L em L'Aiglon, de Edmond
Rostand. O diretor da Corn die Franai se,
mile Perrin , trou xe Sarah Bernhardt do Od on.
onde er a co nhe cida por seus cole ga s como
"Madame la Revolte" C'Madame Revol ta" ) .
Junto com Mounet -Sull y, ela introduziu um so-
pro moderno. real ista , ao declamatrio estilo
interpretativo do venervel teat ro.
Em Londres. Charles Kean aproveitou-se
do trabalho pioneiro do s arquel ogos ingle ses
em suas mon tagen s no Princess' s Theatr e.
Quando enc enou Sardanapalo; de Byron. em
1853. sobrepuj ou o esplend or histric o do con-
tinent e e m aute nlicidade. As ento rec m-
publicadas notcias de Layard sobre suas esca-
vaes no stio da an tiga Nnive serviram-lhe
de font e para um magnfico e pitoresco cen rio
de pal cio. ljue, no clmax da cena da destru i-
o final. desmorona em pedaos enquanto a
"esttua ge nuna" do rei assrio Assurbanipa l
despen ca estrondos amente de seu pede stal.
Kean era no me nos conhecido por suas
encenaes de Sh akespe are. nas quais trans-
punha par a o palco o estilo contemporneo da
pi ntura hist ri ca , rodea do pela il umi nao
441
l is u ir a /\! l lI lll i a { ri" Te at r o .
fantasmag rica da luz a gs e tochas. Ele se
per mitia mexer livremente no texto da pea.
mudava cenas. reduzi a e cortava. a fim de con-
centrar o curso da pea em se u suntuoso dcor
(George Bernard Shaw no perdoava essa "br-
bara arbitrar iedade " dos sucessores de Kean,
He nry Irvin g c Herbert Beerbohm Tr ee).
Entretanto. sir John Wat son Gordon. o pre-
sidente da Royal Scottish Academy e deca no
do s pintores histr ico s ingleses. considerava
uma honra desenhar os cenrios e figuri nos d.as
re montagen s "Shakespearian Re vivais" nas de
Charles Kean. Espe cialistas eram consultados
em questes de fi gur inos e armas. O palco dava
lies de histria to suntuosas e ca ras que
Kcan inaugur ou o siste ma de longas tempora-
da s de at cem espetc ulos consecutivos. Como
atar. Char les Kcan no alcanou o poder de
plasma o de seu pai, Edmund Kean . Sua for -
a estava na grandios a concepo global de
suas mont agens no esti lo de sua poca. Ele foi
o mais destac ado representante do teatro rea-
lisl a na Ingl aterra. De IR48e m diante. combi -
nou suas atividades teatrai s co m o of cio de
ce nsor de peas ence nada s, o Mastcr of Re-
vei s aba ixo do Lord Chamberl ain .
Na Alemanha. Fra nz Dinge lstedt foi am-
bici oso em se u uso de ac hados arqueolgicos
na mo ntagem da Antigona, de Sfoc les. em
I R51 em Munique. Ansioso para apresentar
produes exemplares em grande esca la, vol -
to u-se par a a arte e pa ra a ci ncia co mo fiado -
ras da int erp re tao fie l An tigidade, O fil-
logo Fri edrich Thiersch trabal hou o texto. o
ce ngrafo Simon Quaglio foi orientado pel o
arqui teto Leo von Klenze, o pintor Wil helm
von Kaulbach . dire tor da Academia. opin ou
sobre os figur inos e a coreografia. e a msica
ficou a cargo de Feli x Mendelssohn. O espa o
c nico era um ce n rio drico e estritamente
simtrico. com um a ltar adornado de fol hagens
no primeiro plano, um lance de escadas erguen-
do-se no centro e. ao fundo . um prtico de tem-
plo com quatro colunas.
Dingel stedt co nfia va no poder de persua-
so ptica do cenrio. Qu an do. em 1859. mon o
tou !Valiens/cill corno o cl max da s celebrae s
de Schi ller e m Weimar, encerrou a pea com
um tableau revestido pe lo esprito da poc a e
de grande efeit o: "Seni , junto ao cadver de
Wa llen stein " , arranjou co nfo r me o famoso
1
~
52. Cena de ,\I(' / H U!cI. de Honorc de Bal znc. la l co mo e nce nado em I};7 1 no Th u'c ( j ~ rn nasc, cm Pari s. Dese nho de
P. Philipotco ux (Pari ", Bib liot hquc de I' Ar seu al j .
53 . Cen a de carnaval na montagem dr:Charl es Kcun para O Mrrcaror ele: \ -;' IIt' ; (1 1111I' r i rh':c s :-, ' S Theat n.. -, l. ondrv- . IS5X.
Aquarela de Wil liam ' I c l bi n ILondnr c. Vic tori a and Al be rt " 1U:-' I..' 1I1I1 1.
54. Cenr io mvel em Bayreuth; Gurnemanz c Parsifal ca minho do castelo do Santo Graal. Desenho de cenrio de
Max Briickner par a a abe rtura do Festspiel haus com Parsifal, 26 de julho de 1882.
55. Mor te de Siegfried. Cena final t . 1 ~ 1 segunda parte de Os Nibctungos. de Christian Friedr ich Hebbcl . montado em
1861 em Weimar com a dirco de Franz Diugelstcdt. Desenho de Carl Emil Docpl er (extrado do Lcipz.igt'r l llustrirtr
Zl'illl1l g,I Rhl).
A Era da C d a d a nia Bu rg uvsa
quadro de Karl von Piloty, de 1855 (Seni er a
uma personagem da pea).
No Cair o. a estri a da Aida de Verdi, em 24
de dezembro de H ~ 7 1 . foi uma ocasio espeta-
cular e festiva. combinando temas da hist ria e
do folclore. A pera havia sido encomendada
pelo Quedi va pouco tempo depoi s da abertura
do Canal de Suez. e. em homenagem quele
evento. deveria recorrer a um terna do Egito an-
ligo. O libreto baseado numa novela do egip-
tologi sta Auguste Mariette, que escavara a ne-
crpole de M nfis , e a ao acontece nos locais
revelados pela p: templo. porto da cidade e
tumba em Mnfis e Tebas.
Em Aida, Verdi criou uma pera em gran -
de estil o, uma fuso da pompa operstica fran-
ces a. do bel canto italiano e do drama mu sical
wagneri an o. Os ce nrios vier am de atcl is
pari sienses. Enquanto o palco mostr ava uma
" noite enluarada s margen s do Nilo", o gran-
de rio , a cintilar com mil luzes. flu a majesto-
samente di ant e das port as da casa de pera.
"Copiar a realidade pode ser uma coisa boa".
di sse Verdi uma vez. "mas inventar a realid ade
melhor. muito melhor' . Sua Aula at hoj e
dificilment e pod e ter um efei to mai s real" do
que na vast ido noturna do anfiteatro de
Verona; ki, todos os es fo..os histori ci zantes
para col ocar o reali smo no palco falham, e II
firmamento inte iro torna-se parte da pea.
A ltima expre sso maior do expira nte
realismo romntico-histrico foi a idia do fes-
tival de teatro. Ela levou Richard Wagner a
cons truir sua Festspi elhau s (Casa do Festi val )
em Bayr euth, aberta em IXX2 com "u ma pea
festiva de consagrao de pal co" : sua pera
Pars ifal, De acordo com a concepo de Wag-
ner e co m um plano que Schinkel havia pro-
posto uma vez para Berlim , o fosso da orques-
tra foi ocult o dent ro do que Wagner chamou
de " um abismo mstico". Tornou- se grande
cuidado para evitar tudo o que parecesse lu-
gar-co mum: " Parsifal, em ltima anali se. pod e
pertencer somente minh a criao em Bay-
reuth", escreveu Wagner, ci nco meses aps a
premirc, "Doravant e ser apre sent ada exclu-
sivamente l. em meu fest ival de teatro".
O teatro de efeitos rea listas tambm ti-
nham. porm. seus oponentes. e um do s mais
extremados foi o dramatur go. crt ico c produ-
tor alemo Heinrich Lanh e. J em I X46. em
sua Bricfen iibe r das deutsche Theat er (Cartas
sobre o Teatro Alemo). falava abertamente
contra o "exagero e empolame nto" do estilo
contemporneo de ence nao e representa o,
e exi gia em seu lugar que toda palavra e con -
ceit o deveri a ser expresso com clareza. e qual-
quer detalhe tratado com cuidado a fim de com-
por um grande cspet culo.
Dic Karlsschiiler (O Discpulo de Karl )
de Laube foi apres entado pela prime ira vez na
segunda-feira de Pscoa de 1848 em Viena . Seu
her i Schiller, em se us dias de estudante. e
nenhum outro tema poderia ter inflamado mai s
o pblico naquela p oca. Um ano mai s tarde,
Laube tom ou- se diretor do Bur gtheater de Vie-
na. O cu stico e es pirituos o lVi elJer Th ea -
tcrreitung, de Ad olf Buerl e, preven iu- o so-
bre o que o esperava: " Pgaso domesticado e
transformado em cavalo de par ada imperial e,
em vez do templo dos deuses. um sal o pbli-
co de chs estticos".
Mas Laube sabia o que queri a. Seu teatro
no devia destinar-se mer amente aos olhos.
mas aos ouvidos e ii mente. Co nstrua se u tra -
balho numa linha de dire o voltada para a
palavra e com base em ensaios meti culosos.
Em vez dos bastidor es laterai s, introduziu o
ce nrio-ca ixa . represent and o interiores com
paredes. Isto lhe dava a intimidade ptica e
acstica da qual necessita va tant o para a pea
de conversao fran cesa quant o para a co m-
di a de sal o Biedcrrneier. Baniu todos os ex-
cessos do cenrio di strativo. Quando a cortina
se erguia e revelava trs cadeira s no palco. o
pblico podi a estar ce rto de que devia es perar
precisament e trs pessoas -nem mais. nem me-
nos. Laube acreditava que qualquer tipo de de-
cor ao osten siva encor aj ava a plat ia ii pre-
gui a e ii levi andade. e era "in imiga mortal do
casto mundo potico".
A severa op osio de Laube ao cenrio
elabor ado cons titua, na verdade. um protesto
mais profundo. Era uma decl arao de guerra
influncia da pera sobre o palco. uma con -
fisso de f no "seco esqu eleto do drama" -
um protesto contra o mundo col orido de
Wagner e Meyerbecr, que sepultou a decl ama-
o num "t mul o florido e ressonant e". Como
diretor teatr al , Lauhe - embora tamb m no
se opuses se a prazeres epicuristas - no tinha
gosto pela culin ria gou rnict da pompa opcrs-
445
tica; preferia a ela at mesmo a comida ca-ciru
de Ernst Raupach, "as batatas do teatro alc-
mo, o prato quotidiano da pobreza".
Surpreendentemente, essa abordagem o-
rientada para o teatro da palavra falhou com
um dos maiores dramaturgos daquele tempo,
Friedrich Hebbel. Laube deu-se bem melhor
com o prato mais leve do Der Erbfrster (O
Guarda Florestal) de Otto Ludwig do que com
Herodes IIl1d Mariamnr de Hebbel. Na sua es-
tria em 19 de abril de 1849,a sombria trag-
dia foi mostrada para uma casa quase vazia. O
ator Heinrich Anschtz, cujas memrias so,
em vrios aspectos, mais honestas e imparciais
do que a prestao de contas do prprio Laube
acerca do seu tempo de Burgtheater, explorou
as razes para esse fracasso.
Ele as viu na situao poltica na prepon-
derncia de que dispunham ento Karl Gutz-
kow e Gustav Freytag, os dramaturgos da "Jo-
vem Alemanha" (cujo objetivo era encontrar
um teatro nacional e democrtico) e, sobretu-
do, no prprio Laube. Auschtz achava que
precisamente Die Karlsschiiier de Laubc, este
"primeiro gole de mel da taa da liberdade",
fora to sedutoramente fcil que obstrura a
receptividade da platia para o esprito pesado
e complexo de Hebbel. Mas ele acreditava qu"
a outra metade da parte da culpa cabia ao p-
blico. to obcecado com o materialismo e com
o realismo que "o mundo feito de telas por trs
da ribalta" estava destinado a lutar em vo.
O prprio Laube protestou contra a im-
putao de que se mostrara complacente com
qualquer "tendncia" de sua platia. Durante os
dezessete anos de sua administrao do Burg-
theater ele se concentrou cada vez mais em di-
rigir a elocuo do texto e cultivar a dico. e
atraiu para a sua casa de espetculos atores e
atrizes de primeira linha, tais como Friedrich
Mitterwurzer, Adolf von Sonnenthal, Bernhard
Baumeister, Stella Hohenfels, Charlotte Wolter
e Hugo Thinling. Em seu repertrio, deu a
Grillparzer a merecida prioridade. Se no era
possvel distrihuir os papis nas suas peas, disse
ele, isto apenas revelava as falhas do elenco e a
necessidade de recrutar gente nova.
A rivalidade em torno do legado de Grill-
parzer trouxe a Laubc uma de suas mais amar-
gas derrotas. Ele havia deixado o Burgtheater
em 1867 e, em 1'1',71, assumido a direo do
446
Hst o r a /lJlIl1dial do Teatro.
Wiener Stadttheater. Um ano mais tarde
deflagrou a luta entre as duas causas - ambas
esforando-se para aprontar e estrear Ein
Bruderzwist iII Habsburg (Uma Briga entre
Irmos em Habsburgo) de Grillparzer, Franz
von Dingelstedt, diretor do Burgtheater desde
1870 e diametralmente oposto a Laube em
questes artsticas, levava dupla vantagem.
Possua de longe os melhores recursos tcni-
cos e, graas ao trabalho anterior de Laube no
Burgtheater, os melhores atores. O Stadttheater
apresentou a obra pstuma de Grillparzer em
24 de setembro de 1872, o Burgtheater, em 28
de setembro. Laube precisou pagar a dianteira
de quatro dias com a censura de ter deixado
uma "impresso de pobreza e improvisao".
O Burgtheater, por outro lado, foi elogiado pelo
Wiel1er Extrablatt por ter sido "maravilhoso"
e por haver causado uma impresso profunda.
especialmente na cena do campo.
Todo o realismo e historicismo, toda a arte
da cenografia, direo de cena e de palavra que
havia amadurecido nos teatros da Europa atin-
giram seu ltimo grande ascenso no estilo dos
Comediantes de Meiningen, cuja fama e in-
fluncia se espalharam por todo o Continente
c a Gr-Bretanha. e at mesmo os Estados Uni-
dos. Esta troupc mostrou ao mundo, em 2591
cspetculos em tournce, apresentadas em 3'1',
cidades, o que um trabalho teatral metdico
havia conseguido em termos de qualidade c-
nica na pequena capital do ducado de Mei-
ningen.
O prncipe herdeiro de Saxe-Weimar le-
vado em 1866. como Georg II, ao modesto tro-
no de seu ducado, devotou seu principal intc-
resse ao teatro da corte, construdo em 1831 e
at ento usado sem maiores pretenses. O
duque Georg II agora o desenvolvera num tea-
tro modelar. Abdicando da pera e concen-
trando-se no drama, construiu um repertrio
clssico de montagens lJuc sobressaiu numa
amhiciosa combinao de palavra e imagem,
preciso em estilo e cenrio. Neste projeto, foi
assistido pela atriz Ellen Franz, que recebeu o
ttulo de Freifrau von Heldburg quando se ca-
sou com o duque em IH73.
O ator Max Grubc, que foi um dos intr-
pretes, deixou um registro do trabalho de am-
bos na Geschichtc der Mcininger (A Histria
dos Mciningcr, 1926). "A atrao do duque
56. Esboo do Duque Gcorg II de Saxe-Meiningen: cena final de Romeu e Julieta, 1897.
57. Don Juan und Faust, de Christian Dicu-icb Grabbc. no Hofthcatcr, Mciningcn. 1'i,Y7.
pela encenao", escreve . "de incio partia de
uma abordagem puramente pictri ca das tare-
fas . A importncia literri a e dramat rgi ca do
que foi feito em Meiningen . em primeira ins-
tncia. atribuda influncia que Freifrau von
Heldburg exerceu sobre seu marido" .
Em longos ensaios. qualquer produo era
elaborada nos mnimos detalhes. e ce nas em
solo ou de multido eram concatenadas e har-
mon iosamente ligadas . To preci sos e "autn-
ticos" quanto os desempenhos deviam ser os
dcors e os trajes. e o prprio duque desenha-
va os cenrios e os figurino s. El e escolhia a
cor. o corte e o material dos cos tumes. aten-
tando para cada detalhe . Teci do pesado, velu-
do precioso. seda pura, peles de qua lidade em
vez da habitu al pele de coelho. foram introdu -
zidos - no "tecidos de teatro de Katz de
Krefeld", como diz Max Grube, mas fazendas
feitas sob encomenda especial em Lyon e G-
nova. As armas vinha m de Granget em Pari s.
Os cen rios, segundo os esbo os do du-
que , eram executados pelos irmos Brckner
em Coburg, que trabalhavam tambm para
Bayreu th, A cor bsica da ce na cra um mar-
rom avermelhado que realava as cores bri-
lhantes dos figurinos. O duqu e havia es tudado
com o pint or histrico Wilhelm von Kaulbach
em Munique, cuja teoria da co mpos io para
o palco, inspirada por Corn eliu s e Pilot y, ror-
Hi s t r ia Mun d i al d o Tvu tro
nou-se to grande autori dade para as encena-
es dos Mei ninger qua nto o eram os efeitos
da pintura hi strica inglesa para Charl es Kean
cm Londres.
Mas havia um ponto no qual os Meinin-
gers diferiam basicamente dos princpios de
dire o cnica de Kean: nunca se permitia que
o centro do ce nrio pintado coincidi sse com o
cent ro do palco real; Nada de simet ria! O du-
que lera Boileau: L' ennui naquit 1111 jour de
l'uniformit (" O tdio nasceu um di a da uni-
formidade" ). E seu interesse em art e j aponesa
ensinou-lhe que a assime tria marcad a aumen-
ta o encanto ptico.
Para cenas em interiores, o teatro de Mei-
ningcn preferia o cenrio-caixa, um c modo
completame nte decorado co m tet o, ni chos
embutidos; no primeiro plano, colunas e balaus-
tradas constit uam um pr-requisito, sugerindo
a "quarta parede" invisvel. Esta inovao havia
sido introduzida em Paris nos primeiros dias do
realismo, e tambm por Laube, em Viena.
O duque Georg no empregou os cenrios
mvei s que ento causavam sensao cm Viena
e Londres, embora tivesse ficad o impressio-
nado com o uso que Charles Kean fazia deles.
Em Henrique Vl lI , de Shake speare. o diretor
ingls apresentava um panorama completo, da
Abadia de Westminster em Londres at Grey
Friars em Greenwich, deslizando num painel
A Era du C d a d an a Bn r g u cs a
de pano ao fundo . O duque Georg, entre tanto,
permaneceu fiel ao velho pri ncpi o teatral: o de
manter a pintura esttica e a core ografia em mo-
vimento.
Os Meininger, em suas extensas tourn es,
cfe tuaram mudanas em suas mont agens, e o
mundo do teatro comeou a seguir seu exem-
plo. Bastidores laterais suspensos davam espa-
o a elementos tais como pedestais, escadas ou
um piso com terrao, a fim de fornecer diversos
nveis . (J em 1858 . Dingelstedt havia utiliza-
do um lance de escada arq itetural no teatro em
Weimar.) No importava o quo volumosa a
bagagem da Companhia pudesse ser, o duque
nunca se punha em marcha sem levar consigo
todos os itens dos cenrios e contra-regragem.
Os Meininger nunca permitiri am que um
figurante recrutado durante uma tourn e pi-
sasse o palco de suas rep resentaes, sem pri-
mei ro trein-lo; nenhum membro do elenco,
por menor que fosse sua parte, era substituvel.
Me smo papi s mudos eram individualmente
escalados, porque cada papel era um dos ele-
ment os criadores da atmosfera das grandes ce-
nas de multido reali sticamente movimenta-
das. O astro de hoje poderia ser o figurante de
amanh. Os melhores intrpretes alemes do
perodo atuararn com os Meini ngers e apren-
deram com eles - incl uindo Ludwig Barnay,
Josef Ka inz, Max Grube, Friedrich Haase,
Arthur Kraus sneck, Ludwig Wll ner e Amanda
Lindner.
Quando o mai s ntimo colabor ador do
duque, o diretor de cena Ludwig Chronegk.
leve um colapso e morre u, o duque Georg sus-
tou as excurses. O ltimo espe tcul o da com-
panhia no exterior foi Noite de Reis de Sh akes-
peare, em 1Q de j ulho de 1890, em Od essa.
Ma s os pri ncpi os cnicos dos Meininger
sobreviveram ao natural ismo, ade ntrando o
sc ulo XX. Stanislvsk.i, em Moscou. c Antoi-
ne, em Paris, admitiram sua dvida para com
eles, em mat ri as tais como: a exatido hi st-
rica, a sugesto cnica de uma quar ta parede.
a atua o em conjunto e a idia de que a dire-
o c nica cr ia um estilo.
-=- <=::
"'\
I!
=
.:-----
--..
.kl(
, dl l/
. I '
I
l
I
I
58. Desenho de cenrio do Duq ue II dl' Saxc-Mcini nge n para a tragd ia n,p.H Sist us \ !. de Julius MinJ ing.
Mcini ugen . I l'7.t
N8 .J.J9
Do Naturalismo ao Presente
INTRODU O
A era da mquina havia comeado. A cin -
ci a empreendeu a tarefa de int erpret ar o ho-
mem como produt o de sua or igem social. Fato-
res biol gicos foram reconh ecidos como foras
formati vas da soc ieda de e da histri a. Numa
poca em que a sociologia come ou a investi-
ga r a rel ao do indi vduo c da co munidade c
a derivar novas teori as estruturai s da s muda n-
as obse rvadas na vida col cri vu, os hi st ori ado-
res da cultura claramente pr eci savam tambm
de novas ca tegor ias de c lassifica o.
A vis o de qu e o destino ind ivid ua l co n-
di ci onado pel a di sposi o c pel o impul so ins -
tint ivo ( t rieb ), no co ntex to de juzos de valor
moral deri vados de co nfli tos de poder e inte-
resses, governav a o ro mau experi mental dos
gr andes realistas franceses Bal zac, Flaubert
e St endhal , e deu novas dimen ses ii fico
narrativa de esc ritores co mo Di cken s e Tha-
ckcray, Dostoivski e Tol st i. Hippolyte Taine
exigia o me smo "se us du rel" (" se ns o do
real " ) do dr amatu rgo. O dever deste lt imo,
decl arava ele, e ra o de levar ao palco uma rea -
lid ade qu e ex plicas se todo o comport amento
human o conforme det erminado pel a " ra a.
mei o-ambient e e mo me nto" , milc Zola, em
seu Lc Naturalismo ali Tlu't rc (O Nat ura lis-
mo no Teat ro, I RR I ). cunhou uma senha pro-
gra matica para a nova a borda gem que se tor-
nou a divisa da luta soc ial co ntra a burguesia
conven ci onal.
"A arte tende a tornar-se de novo natureza,
Ela o faz at o mximo de seus recursos, em
qualquer poca dada", disse Arno Holz, o pi o-
neiro defen sor ale mo do naturali smo co n-
seq ente , sob a influncia de Zol a, A fantasia
subjetiva deveria ser totalmente eliminada, ar-
gume ntava Hol z. Co m isto, Dumas Filho. na
Frana, havi a dado um corte afiado sua ampla
crti ca moralizante , ainda que seu conce ito de
th tre utile a ser vio da renovao social fosse
bastant e tpico. Mas para ele o demi-monde era.
antes de tudo, um meio rico em contrastes.
No drama naturali sta, o prpri o quart o
estado erg uia sua voz, uma voz de acu sao.
sofri me nto e revolta. Tolst oi . Gorki , Gerhart
Hauptmann descer am aos bairro s dos oprimi-
dos e humilhados. A coletividade, mai s qu e o
indi vduo, era agora o heri do dram a: os fa-
mintos tecel es silesianos em Gerhart Haupr-
mann, os parias arruinados de No Fundo, de
Grki , os hab itant es dos bair ros mi ser vei s de
Dublin em Sean O'Casey.
A denncia da ordem social existente as-
sumiu um gume revoluci onri o, Ela foi afiada
pel os expressionistas e, mai s ainda, no teatro
proletri o e po ltico aps a Primeira Gue rra
Mundial. O esprito agressivo tran sferiu-se do
texto para a encenao, como se viu em Meierhold ,
Piscator ou no teatro de Agitprop , A di re o
versus o text o levou s controvrsias em torno
de Pi sca ro r no s ano s 20 c , aps 196 5, ii
provocati va dem oli o lotai da velha es trut ura
da pe a corno tal.
o diret or moveu-se para o cent ro da plas-
mao do espetculo e da crtica teatr al. Defi-
nia o estil o. moldava os ateres. dominava o
cada vez mais compl exo mecani smo de tcni-
cas c nicas. O palco giratrio, o ciclorama, a
iluminao policromtica estavam sua dis-
posio. Formas de estilo e de j ogo teatral se-
guiram em rpida sucesso dentro de poucas
dcadas, sobrepondo-se: natur alismo. simbo-
lismo. expressionismo. teatro convencional e
teatr o liberado. tradio e experimentao, dra-
ma pico e do absurdo, teatro mgico e teatro
de massa.
Bert olt Brecht props a questo di al tica:
o teatr o serve para o entr eteniment o ou para
propostas didticas" Avaliando meio sculo de
experimentos em quase todos os pases civili-
zados, onde "domnios temti cos e conj untos
de problemas inteiramente novos foram con-
quistados e convertidos em um fat or de emi -
nente significao social". ele chegou con-
cluso de que tais fatores "levaram o teatro a
uma situao em que qualqu er ampliao ul-
teri or da vivncia intelectual, social e poltica
des tinava-se a arruinar a vivncia art stica".
Este diagns tico de uma crise tem validade a-
tempor al e mio restrit a ao per odo de 1890-
1940, ao qual era dirigido.
Stanis lvsk.i e Max Reinh ardt , Toscanini
e Stravi nski. Diaghilev e Anna Pavlova des-
pont aram como meteoros no fir mame nto do
teat ro . Pessoas viaj avam a Pari s. Londr es,
Berl im, Monte Cario e Moscou para assistir
aos espet culns de drama . pera ou bal sobre
os quais "se" fal ava. O teatro lanava pontes
sobre fronteiras e entre continentes . A Amri-
ca fazia contribui es cada vez mais signifi -
cativas para o concerto teatral do sculo XX.
A fit a de ci nema desenvolvia-se numa obra de
arte autnoma.
a opereta foi suplantada pelo
musical , cam seu ritmo agres sivo, dana, pan-
tomima e aparato cnico. Show Boat , Porgy
and Bess, lVesl Sitie Storv; com seus colori-
dos ense mbles foram mostrados pel o globo
tod o. Ag ncias mundiais trou xer am suce ssos
da Broadway a Viena, a pera de Pequim a
Pari s, o bal Bolshoi a Londr es. a Corn die
Fran uise a Nova York. Os tea tro s do mundo
tornar am-se propr iedade co mu m do tea tro
mu ndial.
452
Hi s t ri a Mu nd a d o Tru t r o
o N ATURALI SMO CNICO
o Th t re Libre d e Pari s
Zola critico u com palavras duras o teatr o
de sua poca e no dei xou dvidas de que seu
alvo principal era a venerve l instituio da
Comdie Franai se. Seu escrito programti co
Le Naturalisme ali Th trc, de 1881. era um
incisi vo aju ste de contas com o pateti smo con-
vencional da decl amao petri ficada, e decla-
rava guerra s "mensonges ridicul es" (" men-
tiras ridculas" ) das peas de sala de es tar com
as quais mile Au gier, Alexandr e Dumas Fi-
lho e Victorien Sardou dominava m o palc o.
Zola exigia um drama natur alista que aten-
desse a todos os requ isitos do palc o sem se
apegar s leis ob soletas da tragdia clssica.
Corno um exemplo didtico, recomendava a
adaptao que havia esc rito em 1873 de sua
novela Therse Raquin, Th rse e Laurent ,
entregues ao azar de seus apetites, eram "ani-
mai s humanos" . Ele, Zola, como autor, havia
simplesmente praticado em dois corpos vivos
a disseco que os cirurgies prati cavam nos
mortos. O mt odo do dramaturgo naturalista,
dizia ele. co rrespo ndia aos procediment os da
pesquisa cien tfica. que o sc ulo empregav a
com zelo febril. Zol a trabalhava com o escalpo;
revelava . fr ia e imparcialment e. os loci da cri-
se. Empunhava II cscalpelo e comeava a cor-
tar de fora - enquant o Dost oi vs ki coloca va
seus heris di ant e de uma cmara de raio-X
para explorar, a partir do interior. o que havia
em sua alma.
Apoiado nas re ivindi caes do gra nde
Zola e enc oraj ado por sua benevo l ncia, um
funcionrio desconhecido da Co mpanhia de
Gs pari siense ou sou abrir a primeira brecha
na perfeio do teat ro estereot ipado. Em pou-
cas semanas Andr Ant oine e um grupo de in-
trpr etes amadores haviam atrado a ateno
no apenas de Pari s, mas de toda a Europa.
Em 30 de maro de 1887, o Thtre Libre
(Teatro Livre) de Ant oine aprese ntou-se pela
primeira vez perante um crcul o estrito de cr-
ticos e homens de letra s. O nome tinha sua
origem nas palavras de Victor Hugo sobre " le
thct r en liber u'" ("o teat ro em liberd ade" );
o local de desempenh o situava-se num quin-
tal na Passage (hoje rua) de r Elyse dcs Beaux
1
.- ,
..
D o Na tural is mo '10 P re s c n t c
Arts; O programa constitua-se de peas de um
ato de Byl, Vidal, Duranty e Alexis, mais o ele-
ment o decisivode seu sucesso, uma dramatizao
do relato Jacques Damour de Zola.
O crtico de teat ro do Figuro, Henri Fou-
quier, escre veu com det al he sobre esta "curio-
sidade" que se havia produ zido num lugarzi-
nho fora de mo em Montmartre, numa Pari s
que no se cansava de surpreender. El e a acl a-
mou corno "uma daquel as lmpada s acesas por
um gnio ou um maluco, e qu e um dia ser a
fonte de um novo amanhecer ou urna confla-
grao".
Antoi ne no era um g nio. mas sabia o
que queria, Havia se familiarizado com o of-
cio teatral qu ando figurante na Comdie
Franaise e com as teori as naturali stas da arte,
como ouvinte das palestr as de Hipolyte Taine.
Habilmente, estendeu o repert rio do Thtre
Libre e incluiu nele peas de toda a Europa.
Depois de tomar em cons ide rao os autores
franceses contemporne os qu e no tinham
acesso aos grandes teat ros, acolheu Ibsen,
Strindberg, Tol st i, Turgu ni ev, Bj rnson,
Heij ermans e Hauptmann . Suas obras "tinham
o efeito de um tr ovo no pa lc o fr an cs"
(Catulle Mendes).
Esses autores ecl ipsaram os pionei ros do
dram a natural ista francs . Zola. os irmos
Goncourt (cuja Henri ettc Marechal causara um
escndalo em 1865) e He nri Becque i Les
Corbcaux - Os Corvos) j eram vistos corno
ultrapassados, quando viera m a ser mont ados.
em 1890, peloTh tre Libre e pela Freie Bhne
em Berlim.
O grande esteio do teatro naturalista, po-
rm, foi Henrik Ibsen . No co rre r de poucos
anos, sua pea Espect ros havia atiado vivos
debates acerca do drama modern o em toda a
Europa. Em 1889, con stava do programa da
inaugurao da Freie Bhne em Berlim. Em
1890, foi apresent ada pel o Th tre Libre em
Paris, em 1891 pelo lndependent Theatre em
Londres; foi produ zida em 1892 por Ermette
Zacconi em Florena e em 1896 em Barcelo-
na; Stanislvski e nce no u -a em Moscou;
Meierhold apresent ou-a em So Petersburgo
em 1906 - j numa ence nao sem cortinas,
deliberadamente antinaturali st a.
Como programa co mbativo. o naturalis-
mo constituiu um fogo impetuo so que logo se
apa gou . Ant oine registrou , cuidadosa mente, os
entrete ns desse desenvolviment o. Aps uma
aprese ntao de O PaIOSel vagem de lbsen em
1891. decl arou que seu teatro estari a abe rto ao
drama simbo lista, tant o quant o ao natur al ista.
Mas se recu sou a levar La Princesse Ma leine ,
de Mauri ce Maet erlinck, com o argumento jus-
tific ado de que urna pea assim no es tava ao
alcance de seu teat ro e que mont -la significa-
ri a entrar numa aventura que fat alment e ter -
minari a na dis toro do intuit o do autor. Os
simboli stas assumidos tinham um campeo em
Lugn -Po, que lanou a pont e at o teat ro po-
tico moderno.
O olhar de Ant oine voltou- se para Ber lim.
Adquiriu os direitos francese s de Di e Weber (Os
Teceles) de Ge rhart Hauptmann, que o Th tre
Libre produ ziu com o ttulo Les Tisserands,
menos de trs meses aps a estria na Freie
Bhne. Ant oine conseguiu mais com esta mon-
tagem, declarou o crtico Jaurs de Paris, do que
todas "as lutas e discusses polticas".
A pea foi como um grito de desgraa e
desesper o. Firmin Gmier represent ou o Pai
Baumert - ele proje tava uma acu sao n ica,
silenc iosa e ameaadora, com a ca no dos
tecel es retumbando fora de cena durant e todo
o seg und o ato. No quart o ato, em que os tece -
les invadem a casa do industr ial , a plat ia sal-
tava das cade iras . O sombrio quadr o da revo l-
ta de IR44 do s teceles silesianos pintado por
Ge rhart \-I aupt mann aj ustava-se atmo sfera
de cr ise social que impregnava toda a Europa
nos anos YO. Estava destinada a ler um efe ito
poltico numa poca de sublevao. qua ndo o
palco tinh a, co mo nunca antes . o adqui rido
direito de se r tpi co e agress ivo. O teat ro na-
turali sta deu o primeiro passo. Mas em I!;<)(,.
Vim Roi (Ubu Rei). a custica far sa de Alfre d
Jarry sobre os usurp adores, baseou-se cm re-
cursos de esti lo inteiramente diferentes e un-
tinaturali st as ,
Qu ando Andr Antoine escreveu suas
memri as, dividiu-as em trs fases. tratando
respectiv amente da luta do Thtre Librc con-
tra os defen sores do teatro convencional. no
per odo de 1887 a 1895; da conqui sta com'
plet a do gra nde p blico pelo Th tre Antoine ,
entre I!l9(' e 190 6; e de suas atividades como
administ rador do Od on, subs idiado pel o go-
verno nos anos 1906 a 1914.
-153
A fase impor tante para o desenvol vimen-
to do teatr o foi a primeira, o perodo no qual o
Th tr e Libre mudou-se das dependncias pro-
visrias na Passage de I' El yse des Beaux Arts
para o Thtre Montparnasse na margem es-
querda do Sena e, finalmente, para o Menu s-
Plaisirs no Boul evard de Strasbourg.
O estilo cnico naturalista de Antoine,
"impregn de ralit" ("impregnado de reali-
dade "), inspirou-se tIOS Mcin ingen. Ele viajou
especialmente para Bruxel as, em j ulho de
1888, par a v-los atua r no Monnaie Theater
durante duas semanas . Como Stanislvski em
Moscou, ele admirava o cuidado que tomavam
com o detalhe real ist a (embora desaprovasse
as despes as desnecessria s que faziam) e elo-
giava a consistnci a lg ica de sua conce po
cnica.
"O mili eu (meio) determina os movimen-
tos das pers onagens" . Antoine explicava, "e
no o contrrio" , Este era todo o segredo da
novidade que ele pre te nde ra introduzir por
meio de seus exper ime ntos no Thtre Libre.
Mil ieu "genuno" , no sentido da "reproduct ion
exaete de la vie" C'reprodu o exa ta da vida" )
de Zola, implicava, no palco de Antoine, uma
caixa cni ca mostrando aposentos com port as
praticveis e j anel as, tetos de madeira susten-
tados por pesadas vigas. troncos de rvores na-
tur ais, gesso de verdade cai ndo das paredes,
Seu famigerado golpe de mestre foi pendurar.
certa vez, postas de carne crua em ganchos de
454
H s t o ri n l\t ll ll t /i ll / d o T(' O frO
aougueiro no palco, co isa qu e fez num aces-
so de rai va, quando um cengrafo o deixou na
mo. Foi uma soluo rel mpago, nasci da do
mau humor, no um barbari smo inerent e a seus
princpios.
No exist em front eiras claras entre a in-
ten sificao de efeitos e flagrantes verdadei-
ra me nte realistas e naturalistas e o realismo tos-
co, no artstico. El as so, em lti ma anlise,
uma questo de gosto pessoal. Cert a vez, lbscn
cu mprime ntou o ce ngrafo do Christiania
Theater de Oslo, Jc ns Wan g, di zendo-lhe que
suas rvore s eram pint adas de maneira to fiel
natureza que poderiam enganar um cac hor-
ro. Max Reinhardt , em sua famosa mont agem
do Sonho de Uma No ite de \I,' rilo em Berli m,
no resistiu tent ao de trazer das florestas
est atais pru ssianas e erguer no palco giratrio
um bosque de rvore s e arbustos verdade iros.
David Belasco, o precursor americano do na-
tur al ismo, trouxe ao palco nova-iorquino n que
co ns iderava como cpias fii s do Oeste selva-
ge m. com a aur a rom ntica de seus explora-
dor es de ouro e band idos. Quando encenou The
Girl of the Goldcn m 'st (A Garota do Oeste
Dour ado). qua l a msica de Pucci ni de u um
brilhante arranco operstico cm 1910, trans-
formou o palco do New Yorks Met ropol iran
Opera House num " genuno" eamfl de caba-
nas californiano. E. no terce iro ato , quando o
lao posto no pescoo do bandi do Ramerrez
- Enrico Caruso fo i aplaudido no papel, como
o ast ro da noit e - as rv ore s da fl ore sta virgem
do ce nrio eram to reai s quant o as r vores de
Reinhardt em Berlim.
O segundo co mpone nte do natural ismo
c nieo de Antoine era o jogo co m a "quarta
parede"; ou seja , a quc ma nda va ignorar o p-
blico. Quando a cena requ eria, o aror voltava
as costas para a platia. A pri meira lei da dire-
o c nica era no mais o efeito pict ri co fron-
tal, voltado para o es pec tador - mas a posio
rel ati va dos atorcs, exigida pelo c urso da ao
e pelo dilogo. O ma is famoso exe mplo a
ce na de Rua Pr ofunda na mont agem dos
Meiningen de Guilhcnne Tcll de Schi ller. em
I . Ubu Rei. De- senho de- Alfn'd bIT) para sua pe a
Ubll Rei . Prime ira apn-... l ll[ li,;:HJ em I Xl) (). no Th tre de
I' Ocuvrc. Pari... .
/) 0 N o t u ru ls m o u o P U ' .\ C II ( f '
que a suplicante e seus doi s filhos. ao se apro-
ximar do governador Ge ssler, que es t ca mi-
nhand o sua fre nt e volta m as cos tas pa ra a
plati a.
"Por que esta novi dade lgica e de mod o
algum dispendiosa no deveria substituir aque-
las intolerveis formas convencionai s que acei-
tamos sem saber o motivo?". per guntava An-
toine , Mas nem os astro s da Comdie Franai-
se, nem Sarah Bernhardt , nem Coquelin teri -
am permitido q ue seu efeito sobre o pbl ico
fosse prejudicad o de ssa maneira. Durant e s-
culos, todo gra nde ator havi a exigido o privi-
lgio de ocupar a fre nte do palco, de dirigir
seus mon l ogos di re ta me nte ao pbl ico e olha r
o palco como mol dura decorativa de sua atuu-
o pessoal. No obsta nte Iodas as mu danas
de esti lo, os pr incp ios do teatro da Renascen-
a pe r manecia m, bas icame nte. inalt erados.
Haviam de sobreviver at mesmo no estreito
espao do palco-caixa, pelo menos por razes
acsticas.
Antoine obteve cx iio na sua tent ati va de
concretizar um dese mpenho naturali sta de con-
j unto porque se us atures eram ama dores. e ele.
por co nse guinte. no era detido cm seu ca mi-
nho por baslies de amb io pessoal. Stanis-
l.ivski co nseguiu o mesmo devi do devoo
que lhe de dica vam os seus int rpret es pr ofi s-
sionais. Isto no ocorre u entre Shaw e Henry
Irving. o guarda-sel o da imergente era do ator-
diretor, quc se des van eceu final ment e sob a
opulncia das novas possibilidades c nicas. tais
como Max Rci nhardt abri u-as nos primeiros
vinte anos do sc ulo XX .
A poca do nat ura lismo foi tambm a das
pri meiras avent ur as com o "cinematgrafo" .
Os fi lme s de Charles Chapli n e Buster Keat on
sobre a lut a do home m co mum contra a tra i-
o da s coisas infl e tirnm a nfase nat uralista
ao mundo da coisa mat eri al par a o grotesco e
para o cmico. Antoine ded icou-se inteirame n-
te ao cinema ap s 1914. primeiro co mo ator e
diretor, e por fim como crtico. Rodou pcl cu-
las utilizando material de Dumas. Hugo c Zola.
e transp s seu es tilo natura lista do palco para a
tela. Co mo Ren Clair escr eveu em 1922. Irata-
va-se simples mente de transpor "a dout ri na do
Th tre Libre ao c ine ma". Del e provei o o im-
pulso mai s forte para o contra-mov ime nto que
con duziu ao fi lme fant stico e surrcalista, Il S
par fr ases do sonho e do int ele ct o. do engaj a-
ment o social e da ironia romnti ca,
o Fre ie Bii h u e d e Be rl im
Em Berlim, o impulso para o teat ro natu -
rali st a originou- se no descontentament o crti-
co co m os esteret ipos do teatro comercial e
co mo re a o contra a tut el a da cen sura, Poe-
tas e dram aturgos aceita vam o apel o que lhes
er a feito no sentido de qu e abordassem os pro-
bl emas de sua poca. Die naturwissenscha ft-
lichen Grundlagen der Poesi e (Os Fundame n-
tos Cientficos da Poesia. 1887). de Wilhe lm
Bsche, foi escrit o int eiramente no esprito de
Zola. Em seu folhet o Revolution iII der Litera -
tur (Revoluo na Lit eratura), Karl Bleibtreu
exigia do poet a uma participao ati va na vida
pbli ca e a coragem de descer s reas mais
sombrias da fome e da pobreza.
Da mesma forma qu e a Paris da mesma
poca, a indstr ia do espc uic ulo em Berli m
vivia da pea de sala de vis ita e da comdia de
costumes. O Teat ro Real . altame nte subvenci-
on ado, limitava-se a adula r os cl ssicos. Um
grupo de homens engaj ados no ca mpo da lite -
ratura e do dram a seguiu o exemplo do Th tre
Li bre de Pari s e. e m abril de 1889, fundou a
associao teat ral Freie Bhne . Aqui , tamb m,
o nome expressava ao me smo tempo o pro-
gra ma : livre de co ns ide raes comerciais e li-
\ T C da coao da cen sur a. O grupo elegeu co mo
seu presidente o j ovem crtico de literatura e
teat ro Oito Brahm.
A d if und id a s upo s io de q ue Andr
Antoine e seu grupo tivessem representado cm
Berlim em 1887 e ass im inspirado a empresa
equivalente errnea. As prpri as memrias de
Ant oi ne nada dizem a esse respeito. Entretant o.
Oito Brahm, o diret or-administrador do Freie
Bhne, estivera em Pari s em 1888. Ele havia
conheci do o bril ho declama trio da Co m dic
Franaise e tambm o seu rever so, o esteretipo
alheio natureza. e sem dvida havi a ponderado
cri ticamente as potencial idades do Th tre Libre.
O Freie Bhne obtinha seu respaldo finan-
ceiro dos assim chamados membros "passivos"
que o integravam em base associativa. Seu mi-
mero cresceu em um alio para mais de cem. Suas
contribuies cob riam as despesas de ate res e
dire tores. como tamb m o aluguel do teatro. As
-155
2. Marcha dos Teceles. gua-forte de Kthc Kollwitz. Berlim. I R97. Inspirado cm (h Teceles de Gerhart Hauptmann,
drama montado pela primeira vez no Freie Bhne cm Berlim. 1X93. Kthe Kollwitz comeou a elaborar o Ciclo dos
Teceles dois anos aps a estria.
Do Naturalismo (/0 Presente
organizaes de freqentadores habituais de tea-
tro, que ainda so comuns em diversos pases da
Europa, baseiam-se num sistema semelhante.
Uma das primeiras foi a Freie Volksbhne, fun-
dada em Berlim j em 1890, por pessoas em parte
anteriormente associadas a Brahm.
O Freie Bhne foi inaugurado com um
tributo "cabea da nova escola realista",
Ibsen, o gro-senhor do teatro naturalista.
Brahm escolheu Espectros, o mais controver-
tido e celebrado drama do grande noruegus.
Ele fora apresentado dois anos antes em Ber-
lim, mas aps a estria havia sido interditado
pela censura. Agora, numa matine dominical
de um clube privado, estava protegido da pol-
cia. Um elenco brilhante acentuou a singulari-
dade do evento, em 29 de setembro de 1889.
O programa anunciava orgulhosamente a se-
guinte distribuio de papis: Emmerich Ro-
bert, do Burgtheater de Viena, representava o
papel de Oswald; Arthur Kraussneck o do Pas-
tor Manders; Marie Schanzer (a segunda es-
posa do diretor Hans von Blow, que perdera
Cosima para Richard Wagner) interpretou a sra.
Alving; e a jovem Agnes Sorma atuou como
Regine. Assim o Freie Bhne deu mostra de
ter no apenas objetivos ambiciosos, mas tam-
brn meios considerveis.
A segunda produo tornou-se um marco
na histria do naturalismo na Alemanha. Foi a
primeira pea de um jovem e at ento desco-
nhecido dramaturgo alemo, que havia circula-
do apenas privadamente e alertado a oposio:
o drama social Var Sonnenaufgang (Antes da
Aurora), de Gerhart Hauptrnann. A pea trata
da explorao dos camponeses silesianos, da
vida e atitudes dos novos-ricos, do alcoolismo
e da pobreza crnica. Esta famosa montagem
do Freie Bhne teve sua espetacular estria em
20 de outubro de 1889, no palco do Lessing
Theater. Cartas annimas de ameaa aos ato-
rcs participantes anunciavam o escndalo que
se devia esperar. A excitao febril no teatro
lotado chegou a seu clmax no quinto ato. No
momento que a rubrica pede que os gritos de
uma mulher cm trabalho de parto sejam ouvi-
dos dos bastidores, o mdico Ixidor Kastan -
no meio de um tumulto dc aplausos e protes-
tos - ergueu-se de sua poltrona e brandiu um
par de frceps sobre a prpria cabea (ele ha-
via planejado esta demonstrao e trazido pro-
positalmente O instrumento. Mais tarde, des-
culpou-se formalmente por isto quando o Freie
Bhne o levou aos tribunais).
Com csta montagem, o naturalismo explo-
diu no palco alemo. No apenas a interpreta-
o, mas a cenografia, tambm, era "fiel vida".
O cenrio do segundo ato representava um p-
tio de fazenda com todos os detalhes, incluindo
um poo, um pombal, estbulos, arvoredo e jar-
dim frontal, banco e porto do jardim c meia
dzia de diferentes portas e portes. " uma pena
que eles tenham esquecido o item principal",
escreveu malevolamente o crtico Karl Frenzcl,
"um monte de esterco com um galo cantador
em cima". (A tentativa de reproduzir os cheiros
do ambiente foi rejeitada - porque teria sido
impossvel livrar-se deles nas trocas de cena, que,
no melhor dos casos, poderiam apenas ser
recobertos por novas "nuvens de odores".)
De repente, o nome do jovem dramaturgo
estava na boca de todos. O principal crtico
dramtico de Berlim, o novelista e poeta Theo-
dor Fontane, colocou-se ao lado de Hauptmann.
Aprovadoramente, descreveu-o como "o ver-
dadeiro capito do bando negro dos realistas",
que mostrava a vida como ela realmente , em
seu completo horror, que no acrescentava
nada, mas tampouco nada subtraa, e merecia
o elogio de ser um "Ibsen inteiramente desi-
ludido".
O Freie Bhne havia encontrado o "seu"
autor. Tornou-se o porta-voz de Gerhart Haupt-
mann, da mesma forma que o Teatro de Arte de
Moscou tornou-se a casa de Tchkhov. Nem a
representao de Henriette Marechal. dos irmos
Goncourt, ncm o esboo ambiental berlinense
da Familie Selicke, de Amo Holz e Johannes
Schlaf. nem as obras de Bjomson, Anzengrubcr
c Suderrnann puderam comparar-se com a res-
sonncia das peas de Gerhart Hauptmann.
O efeito de Die Weber (Os Teceles), en-
tretanto, revelou-se mais agitador no Thtre
Libre do que em Berlim. Isto se deveu prova-
velmente a consideraes pessoais de Otto
Brahm. Uma primeira representao pblica
originalmente planejada por Adolphc L' Arron-
ge para o Deutsches Thcater foi proibida pela
polcia no ltimo momento. Assim, coube ao
Freie Bhne , um clube livre da censura, (l
mrito de ser o primeiro a representar essa
"mais poderosa obra da moderna literatura
457
3. Cenrio de Honnees Hinunelfahrt (A Ascenso de Hann ele ). de Gerhart Hauptmann, mon tada pela primeira vez em
1893 no Koni gliches Schauspielhaus. Berlim. Aquarela de Euge n Quaglio (Munique. Theater Museum ),
4. Cena de Michael Krurncr , de: Gcrhan Ita up"ll;lnn.l' 'mil'r c m IIJ{){) 110 Dcmschcs Thca tcr. Herl im. Max Reinhardr
( esquerda) no papel-ttulo, l.oui sc Dumont ( dircil;t1 I.'OIHO Mich aliuc Krnmcr, Ext rado de l til nte und Ui'll (Palco c
Mu ndo), vol . 1900-190!.
Do Na t ura lis mo dO P re s en t c
de acusao" , em 26 de fevereiro de 1893. Os
principais crticos notaram qu e, estranhamente,
o efeito no ha via sido Io eletrificante co mo
seria de esperar a partir da leitura da p e ~ a .
0110 Brahm possivelmente j tinh a plan os
futuros em mente . Um ano mais tarde (e m
1894), dei xou a direo do Frei e Bhne e as-
sumiu o Deutschc Th eater . na Schumanns-
trasse, por dez anos . L, em 25 de setembro de
1894, apre sentou ao pbli co ger al uma verso
desarmada de Die Weber, de Hauptrnann. com
Rudolf Rittner, Josef Kain z e Arthur Krau ss-
neck no elenco. A ce nsura mante ve- se cal ada
c o sucess o de pblico foi garantido. Ma s para
o Freie Bhne a sa da de Brahm significou ao
mesmo tempo a perd a du "autor da casa" ,
Gerhart Hauptmann , que agora naturalmente
entregava suas peas ao Deut sches Theater. A
presidncia do Fr ei e Bhne passou a Paul
Schlenther, que se tornou tambm na ocasio
seu diretor administrativ o e era um dos mais
destacados membros fun dad ore s da associa-
o, j untamente com os esc ritores Maximilian
Harden, Theodor Wolff, os irm os Hcinrich e
Juliu s Hart e o edit or Sa muel Fischer. Quando
Schlenther, em I Xl)8, aceitou um convite do
Burgtheaterde Viena, foi sucedido por Ludwig
Fulda. O Frei e Bhne buscou ento uma parti-
cipao perifri ca no mi sti ci smo lrico dos sim-
boli stas. Os duros co ntornos do natu rali smo
social borraram-se na poti ca can o de des -
pedida de M adonna Dil/l 101"lI de Hofmannsthal,
de Totc Zcit (Te mpo Mort o) de Ernst Hard t.
ou Friihlingsopf cr (O Sacrifci o da Prim ave-
ra). de Eduard von Keyserling.
Quando, em 1l)()9, o Freie Bhne celebrou
seu vigsimo aniver sri o co m uma apresen-
tao comemo rativa de \ ()r So nnenaufgang
(Antes do Amanhec er), de Hauptmann, no
houve nem barulho nem prot esto . O autor foi
festejado, com Otto Brahm ao seu lado . O r-
pido curso da histri a e do teatro haviam de h
muito acertado e desarmado o que, vinte anos
atrs, dividira o esprit o dos homens.
o l nd cp e n d c n t Ttiea tre e tn
Londres
o terceiro p lo do campo de tenso do
teatro natu rali st a na Euro pa foi Londres. Em
IX91, George Bernard Shaw publicou seu en-
sai o A Essncia do Ibscnismo, uma aguda re-
j ei o do teat ro comercial e dos astro s, da pea
de intriga la Sardou (sardoodledum igual a
sard nica -pa ttica) , e do s assim chamados
pseudo-ibseni stas. Como crtico de teatro do
Saturday Review. Shaw int er veio diret ament e
nas pol rnicas correntes sobre o novo drama.
Os alvos favorit os de seus violentos ataqu es
eram as peas "be m-feitas", de problemtica
reali st a, de Pinero, cuja Thc Second Mrs.
Tanqu eray (A Segunda Senhora Tanqueray)
teve ca sa cheia durante meses.
Shaw medi a as qualidades dos di ret ores
de co mpanhia em Londres por sua relutncia
em enc enar lb sen . Henry Irving e Herb ert
Beerb ohm Tree , os dois celebrados repr esen-
tant es du teatro reali sta, saram-se muito mal.
Shaw no os perdoou por cortarem Shakespeare
a seu critrio e por destrurem a estrutura de
sua s cenas em prol do grande efeito pict ri co.
A guerra aberta explodiu quando Irving rejei -
tou uma pea de um ato sobre Napoleo que
Shaw havia escrit o especialmente para ElIen
TeITY, Thc M W l ofDest iny (O Homem do Des-
tino), mont ando, em seu lugar. uma outra pea
so bre Nap ol eo. Madame Sans-G ne, de
Sa rdo u.
Exa tame nte ento , tamb m em Londres,
um pequeno teatro ama do r ficou de um di a
pa ra outro no ce ntro da s atenes. Em 1891.
J. T. Gr ein, homem de negcios de ori gem ale-
m, fundou uma associao teatral com o ob-
jetivo de produ zir "peas avan adas". para as
qu ai s os grandes teatros permaneciam fecha-
dos; est ribando-se no Th tre Libre cm Paris
e no Frei e Bhne em Berlim, el e o chamou de
Independ ent Theatre Society,
A inten o de Grein era, tambm, colo-
car o valor literri o acima de consider aes
comerciais e contorn ar a censura; de modo bas-
tant e lgi co, produziu primeiramente uma pea
do port a-voz do naturalismo europeu, Ibsen.
Apresentou os Espectros em 1891 , no Royalty
Th eatre no Soho , que havia alugado para essa
oc asio. Shaw no poupou elogios produo
c deu a Grein sua primeira pea longa, IVidO\ I'er's
Houses (Cas as de Vivas), que estreou em 18lJ2,
Ela foi representada como a " primei ra pea
ori gin al didtico-reali sta". Aplausos e vaias ga-
rantiram a nccesx.iriu sensao e uma nova
apresentao no quadro que a protegia da cen-
sura, isto , a da associao. Era algo muito
parecido como que acontecera em Berlim: um
comeo com lbsen, seg uido pelo SIlCceS de
scandale ("sucesso de escndalo") de um jo-
vem autor nacional.
Mas Grein no era Brahrn, e Shaw prosse-
guiu. Enquanto o Independent Theatre lutava
para manter-se vivo do melhor modo possvel
at 1897, Shaw seguiu seu rumo para a fama
mundial por meio de patrocinadoras devotadas
s art es. Miss A. E. F. abastada
quacre, ajudou na montagem de Anns and lhe
Mar! (As Armas e o Homem), em 1894, no
Avenue Theatre. Subseqentemente, o ator e
producer (diretor) americano Richard Mansfield
levou essa pea, e tambm The Devil 's Disciple
(O Discpulo do Demnio) para NovaYork, onde
ambas tiveram urna longa e lucrativa carreira.
Nesse meio tempo, a enrgica miss Horni-
mam estava empenhada em criar um teatro na-
cio nal irlands. Em 1904 , fundo u a Irish
National Theatre Society, em Dublin. W. B.
Yeats, que co-participava do projeto, obteve
de seu compatriota Shaw a promessa de escre-
ver urna comdia irlandesa: John Bull 's Other
Island (A Outra Ilha de John Buli) urna espiri-
tuosa e afiada pea desmascaradora. Mas Shaw
a entregou, assim como Candida, ao ator e
ence nador Harl ey Granvill e-Barker, que a
montou no Royal Court Theatre de Londres,
oito semanas antes da Irish National Theatre
Society abrir suas portas. Quando as cortinas
do Dublin' s Abbey Theatre se ergueram em
27 de dezembro de 1904, foram levadas duas
peas de um ato, uma de Yeats e a outra de
Lady Gregory. El as no ofe reciam material
inflamvel; este havia sido depositado lucrati-
vamente por Shaw.
O realismo (termo anglo-arnericano para
aquilo que se chamava naturalismo na Euro-
pa) de urn tipo pert urbador era o objetivo da
Manchester Repertory Company, outroempreen-
diment o de Miss Horniman. Ela colocou o
Gaiety Theatre, em Manchester, disposio
de uma audaciosa compa nhia de repertrio, pa-
ra a encenao de peas de Stanley Houghton,
SI. John Ervine e Harold Brighouse. Shawmm-
ca mais voltou a associar-se a ela. Ela influen-
ciou menos a vanguarda teatral europia de sua
poca do que os jovens dramaturgos america-
460
Hi st r a Mu ndi al do T e at ro
nos. Se u mt odo didti co, apre ndi do co m
lbsen, proporcionava um acessvel esquema de
ensino. Para Shaw o teatro moderno havia co-
meado no momento em que Ibsen esc revera
Casa de Bonecas, e Nora convidava o marido
para sentar-se e discutir seu casamento. Ele via
a tarefa do drama realista (ou seja, naturalista)
na discusso de conflit os psicol gicos e con-
vencionais . O palco convertia-se em cenrio
de debates. Em seus prefci os e indi caes c-
nicas, Shaw desenvolvi a o plano de fundo es-
piritu al de suas peas - as prpri as interpreta-
es do aut or com base na tcni ca analtica da
cena ibseni ana. (Este exemplo seria seguido
por dr amaturgos post eriores, co mo Euge ne
O'Neill . Arthur Mill er , Graha m Gree ne e
Tennessee Williams.)
Na Inglat erra, a evoluo do teatro mo-
derno nos leva a Murder in lhe Cathedral (As-
sassi na to na Cat edral ), de T. S. Ellio t; An
Inspector Calls (Um Inspetor Cha ma), de J.
B. Priestley; e Venlls Observed (V nus Obser-
vada), de Christopher Fry. Desviando-se da
poesia e da comdia da Restaurao, favore-
cia a cozi nha, a alcova e o sotaque dos j ovens
freqe ntadores de teatros. Geo rge Devi ne, o
fundador e diretor da English Stage Company,
determinou o curso do moderno teatro ingls
e seus dramas de auto-anlise com sua mont a-
gem de Look Back in Anger (Olhe para Trs
com Rai va), de John Osborne, em 1956 no
Royal Court Theatre em Londres. Tp icas des-
tas novas peas so Thc Kitchen (A Cozinha)
e Chi cken Soup with Barley (Ca nja com Ceva-
da), de Arnold Wesker, que mos tram a vida da
cl asse mdia dominada pela polti ca e pel a re-
signao; Caretaker (O Zelador), de Harold
Pinter, e a vigorosa pea realista Savcd (Sal-
vos) de Edward Bond. Muitas des tas peas ,
como Look Back in Ang er, estrearam no Royal
Court Theatre de Londr es, anfitrio fidedigno
do palco vanguardista. Algumas, porm, como
os velhos dramas pioneiros do teatro natura -
lista, preci saram da segurana das apresenta-
es em clubes fechados.
J em 1909 Shaw havia atacado violenta-
mente a censura, de cujos poderes ningum fora
capaz de se livrar desde os dias do Master of
lhe Revels, mestre-de-cerimni as elisabetano.
Quando Mrs. \Varrell 'S Profe ssion (A Profisso
da Sra. Warren) foi proibida, Shaw, que se des-
5. Quarto alo do drama Fuhrmunn Henschel (O Coc heiro Hcnsc hel ), de Gerhart lIauptmann, encenado em J899 no
Lobe-Tbeatcr , Breslau (extrado do Bidme und Ue/I . vol , 1899 ).
6. Projeto de cen rio para Os Guerreiros em Helgeand, de Ihsen: ce na na Islndia. Aquarela de Eugen Quagl io (Mu-
nique. Theater Muscum).
crevia como um "especialista em obras imorais
e herticas", enfureceu-se diante do insulto e
da represso do censor teatral. O resultado foi
no um afrouxamento, mas um aperto no para-
fuso. Foi somente em 1968 que a Cmara dos
Comuns aprovaram um projeto, apresentado
pelo governo trabalhista, que abolia a funo
da censura do Lord Ch amberlain (Lorde
Camareiro-Mar) como Master of the Reveis.
A EXPERIMENTAO DE N OV AS
FORMAS
Stanislvski e o Teatro de Arte
de Moscou
Em junho de 1897, houve um encontro,
num restaurante de Moscou, entre o escritor
Vladmir Ivanovitch Nernirovitch-Dantchenko
e Stanislvski, o jovem teatrmano filho de um
industrial de Moscou. A conversa durou de-
zoito horas - das duas da tarde at as oito da
manh seguinte. O resultado foi a fundao de
um novo empreendimento teatral privado: o
Teatro de Arte de Moscou.
Os cuidados prodigalizados desde o incio
ao planejamento de todos os detalhes artsti-
cos e organizacionais permaneceram caracte-
rsticas do Teatro de Arte de Moscou durante
todo o seu futuro desenvolvimento: nenhum
outro teatro manteve to inalterado o seu sen-
so de misso durante tantas dcadas com dedi-
cao to firme. Stanislvski assumiu a res-
ponsabilidade das questes artstico-cnicas.
Nemirovitch-Dantchenko, a direo literria.
Os fundos eram proporcionados por acionis-
tas, pela Sociedade Filarmnica de Moscou,
que j mantinha uma escola de arte dramtica
onde Nemitovitch-Dantchenko lecionava in-
terpretao, e pela Sociedade para a Arte e a
Literatura, cujas apresentaes amadoras
Stanislvski estivera financiando nos ltimos
dez anos.
Nesta poca, Moscou era afortunada por
possuir generosos patronos da alie. Industriais e
homens de negcio devotavam sua fortuna a
propostas artsticas. Os irmos Tretiakov pro-
moviam a pintura; a pera e os concertos eram
financiados por S. 1. Mamontov, um homem
462
Histria Mundial do Tc a t ro
com grandes interesses em msica e teatro. Os
pais de Stanislvski (seu nome real era Kons-
tantin Serguievitch Alexiev) mantinham em
sua casa palcos infantis e amadores.
Quando os Meiningers foram a Moscou
em 1885, Stanislvski, ento com vinte e dois
anos, no perdeu nenhum de seus espetcu-
los. Ele admirava a "espantosa disciplina re-
velada nesta grande festa teatral", mas os m-
todos "despticos" de direo de Chronegk
levaram-no sua primeira ponderao crtica
de prs e contras do poder do diretor e seus
possveis efeitos tirnicos. Oprprio Stanislvski
nunca foi um diretor tirnico. Nunca se can-
sou, muitas vezes ao longo de centenas de en-
saios, de apelar para a compreenso de seus
atores. Nunca lhes imputou suas prprias con-
cepes, mas sempre se empenhou em sinto-
niz-Ias com as exigncias de seus papis -
este seria a base de trabalho sobre o qual mais
tarde construiria o "mtodo Stanislvski".
Mas, desde sua primeira representao do
ponto de vista da verdade histrica, o Teatro
de Arte de Moscou adotou por completo o prin-
cpio da veracidade histrica prescrito pelos
Meiningers. O teatro foi inaugurado com o dra-
ma histrico Czar Fiador Ivanovitch de Alexei
Konstantinovitch Tolsti (parente afastado de
Leon Tolsti), que havia sido escrito em 1868
e tinha, na poca, sido proibido pela censura.
Durante os meses que antecederam a estria,
Stanislvski, sua mulher Lilina e o cengrafo
Victor Simov haviam visitado locais histri-
cos. Procuraram vestimentas oriundas dos
monastrios e igrejas na rea entre os rios Volga
e Oka, esquadrinharam lojas de antigidades
e mercados de trastes a fim de reunir material
para uma produo de poder emocional e am-
biente "genunos". O resto do elenco, enquan-
to isso, prosseguia os ensaios num celeiro em
Pushkino, um local de veraneio a cerca de 32
km de Moscou.
Em 14 de outubro de 1898, a cortina se
ergueu pela primeira vez no Teatro de Arte de
Moscou. O ator Moskvin pronunciou as signi-
ficativas palavras introdutrias ao Czar Fiador
Ivanovitch: "Neste empreendimento deposito
toda a minha esperana". Nesta tragdia eles
no chegaram a nada, mas lanaram o Teatro
de Alie de Moscou na estrada da fama mundial.
A fama do teatro ligou-se ao nome de "seu"
Do Naturalismo 00 Prc sc n t e
autor, Anton Tchkhov, e baseou-se em A Gai-
vota, a segunda de suas montagens, que estreou
em 17 de dezembro de 1898. A pea havia fra-
cassado um ano antes no Teatro Alexandrinski,
em So Petersburgo, e Tchkhov foi persuadi-
do, com dificuldade, a apresent-Ia uma se-
gunda vez.
Esta encenao tornou-se a pedra de to-
que do Teatro de Arte de Moscou. Se, no caso
do Czar Fiador Ivanovitch, o maior esforo
dizia respeito ao cenrio, agora, concentrava-
se na interpretao, na projeo de estados de
nimo, pressentimentos, aluses, matizes de
sentimentos. A interpretao enveredou pela
nova estrada da intuio e do sentimento, um
caminho, como dizia Stanislvski, "do exte-
rior para o interior, em direo ao subcons-
ciente". Isto significava a entrega total pea,
uma devoo quase religiosa. "Ns nos abra-
amos como na noite de Pscoa", escreveu
Stanislvski aps o sucesso da estria de A
Gaivota.
O Teatro de Arte de Moscou havia encon-
trado seu autor e seu estilo. Tornou-se a "casa
de Tchkhov" e, da por diante, uma gaivota
com as asas abertas tornou-se seu emblema,
figurando nas cortinas, programas e nos ingres-
sos. A estreita conexo artstica e pessoal com
Tchk.hov - ele desposou a atriz Olga Knipper
- aprofundou-se com as montagens subseqen-
tes de Tio Vnia, As Trs Irms e, posterior-
mente, eleO Jardim das Cerejeiras. Stanislvski
desenvolveu um refinado estilo impressionista.
Ele mobilizou todos os meios concebveis de
iluso tica e acstica, de forma a criar a
"atmosfera" COI1'eta para seus atares e para o
pblico. Coadjuvavam e integravam tambm
este jogo de efeitos o som da balalaieka e de
grilos, de sinos de tren tilintando ruidosamen-
te prximos, ou tenuemente distncia. Com
desarmante autocrtica, Stanislvski admitiu
que tendia ao exagero nesse domnio, e ele
mesmo gostava de contar a difundida anedo-
ta: Tchkhov teria dito uma vez que escreve-
ria urna nova pea, comeando-a da seguinte
forma: "Como maravilhosamente tranqilo
aqui, no se ouve um pssaro cantando, ne-
nhum cachorro latindo, nenhuma coruja pian-
do, nenhum rouxinol cantando, nenhum rel-
gio batendo, nenhum sino tocando, e nem
mesmo um simples grilo cricrilando".
Com as obras de Maxim Grki , St a-
nislvski ganhou um novo componente, o dra-
ma de acusao e crtica social. O "realismo
externo" era agora trabalhado com a mesma
intensidade que a fidelidade histrica ao meio
ambiente, que levou Stanislvski a enviar um
grupo a Chipre antes da encenao de Otelo, e
Simov, o cengrafo, a Roma para a de Jlio
Csar, ou encomendar moblia da Noruega
para uma montagem de Ibsen.
Durante os ensaios de No Fundo, de Grki,
Stanislvsk.i levou seus atores ao mercado
Khitrov, num subrbio de Moscou, onde os va-
gabundos e marginais costumavam acoitar-se.
Eles comeram com essa gente, e Olga Knipper
dividiu um quarto com uma prostituta, a fim
de "aclimatar-se" no tipo de vida em que se
dava o papel de Natasha. A plasmao a partir
da realidade - "representar significa viver" -
um dos ingredientes do muito gabado (e
igualmente pouco entendido) mtodo de Sta-
nislvski. Isto lhe valeu a crtica de que subes-
timava a capacidade da imaginao. Na ver-
dade, porm, Stanislvski pretendia que seu
"mtodo", to amide mal interpretado como
um abracadabra da arte do ator, fosse um guia
flexvel que levasse colaborao entre dire-
tor e ator. Stanislvski, tambm, tomou uma
posio intermediria na controvertida ques-
to da identificao, que sempre tem sido de
novo debatida de Riccoboni a Brecht: o atar
aquilo que ele interpreta, ou interpreta alguma
coisa que ele sabe que no ') Em ltima an-
lise, o sistema de Stanislvski era uma pro-
posta de delicado equilbrio. Ele advertia seus
atores a no abusar do palco para confisses
privadas. Emoes pessoais, argumentava, no
enriquecem a arte do desempenho teatral; um
ator que esteja tomado, ele prprio, pelo cime,
no faz umOtelo melhor, mas um pior, infor-
mava ele com base em experincia pessoal.
Michael Tchkhov (sobrinho de Anton
Tchkhov), cujas anotaes sobre seu traba-
lho nos estdios do Teatro de Arte de Moscou,
soh a direo de Stanislvski, foram utilizadas
no incio dos anos 30 pelo New York Group
Theatre, resumiu a essncia do mtodo de
Stanislvski com a frmula: "A matria-prima
da imaginao sempre tirada da vida".
O prprio Stanislvski, entretanto, apoiou-
se nos doi s conceitos, o de "ao fsica" e o de
463
,
7. Sala azul: cena do primeiro ato da comdia Um Ms no Campo, de I. S. Turgunev, estreada em 1872 no Teatro
Maly, em Moscou. Aquarela de Mstislav Dobujinsky.
8. Prcniier da inaugurao do Teatro de Arte de Moscou, 189H: Tsar Fvodor Ivanovich, de A. K. Tolsti, dirigida por
Stanislvski. Cenrio de Y. A. Simov.
1
7
Do Nn t u ral istn o (10 Presente
"superobjetivo", O que significava a adoo de
uma tese criativa bsica para a interpretao
de um trabalho teatral. Como exemplo, esco-
lheu o Hamlet (a sua plasmao com Gordon
Craig, em /911, deixou rastros profundos e
duradouros). Hamlet, afirmava Stanislvski,
podia ser interpretado como drama familiar a
partir do seguinte aspecto: "Quero honrar a me-
mria de meu pai". Ele poderia ser interpreta-
do como a tragdia de um homem decidido a
explorar os segredos da existncia. Finalmen-
te, h a possibilidade do mais alto "superobje-
tivo": "Quero salvar a humanidade".
Mas, se a tragdia de Shakespeare inter-
pretada em termos de poltica aplicada - "Que-
ro que o estado feudal seja abolido" - ento o
princpio de "superobjetivo" nada em guas
perigosas. O diretor, a seu arbtrio, pode colo-
car o "superobjetivo" a servio de ideais hu-
manitrios ou das autoridades constitudas.
Num estado totalitrio, a expresso mxima
da arte equilibra-se no fio da navalha.
Durante um tempo, a "ideologia completa-
mente burguesa" de Stanislvski foi to suspei-
ta na Rssia quanto as chamejantes palavras
"Senhor, d-nos liberdade de pensamento",
pronunciadas pelo marqus Posa no Don Car-
los, de Schiller, ou o juramento de Rtli em
Guilherme TeU, na Alemanha de 1940. J os
distrbios da revoluo de 1905 faziam Sta-
nislvski sentir-se num beco sem sada. E, aps
a revoluo de outubro de 1917. ele manteve-
se longe das massas em ebulio. Felizmente,
A. V. Lunachrtski, o primeiro comissrio do
povo para a Educao, ergueu uma mo pro-
tetora sobre Stanislvski. De setembro de 1922
a agosto de 1924, o elenco do Teatro de Arte
de Moscou esteve em tournee no exterior, hon-
rando compromissos duradouros na Europa e
na Amrica. "Precisvamos ganhar distncia",
escreveu Stanislvski em sua autobiografia
Minha Vida na Arte, publicada pela primeira
vez cm 1924, "distncia de uma atmosfera de
desorganizao". Isto se refere poca em que
a tempestade revolucionria nos teatros havia
ganho a fora de tormenta e o Teatro de Arte
de Moscou no estava sendo absolutamente
considerado com benevolncia. De fato, no
era apenas o prprio governo que o desapro-
vava, mas tambm a gente de teatro que se-
guia estritamente a linha do Partido.
Os artistas que lideravam os novos tem-
pos - Vsevolod Meierhold, Eugeni Vakhtngov,
e Aleksander Tarov - vieram da escola de Sta-
nislvski, dos estdios experimentais do Tea-
tro de Arte de Moscou. J em 1905, Meierhold
tentara interessar Stanislvski no princpio da
cena estilizada. Mas a revoluo de 1905 ps
fim ao Estdio da Rua Povarskaia antes que
Meierhold alcanasse quaisquer resultados pr-
ticos para mostrar.
O assim chamado Primeiro Estdio do
Teatro de Arte de' Moscou empreendeu expe-
rimentos sistemticos sob a direo de L. A.
Sulerjtski e, aps a sua morte em 1916, sob
Vakhtngov. Maxim Grki cedeu ao Estdio
suas anotaes sobre os mtodos de improvi-
sao usados pela Commedia dell'arte napo-
litana, que ele estudara em mincia durante seu
exlio voluntrio na ilha de Capri. O carter de
incio muito provisrio da sala de espetculos
do Estdio imps combinaes no convencio-
nais, com praticveis e plataformas mveis.
Stanislvski inventou uma grade de metal presa
ao teto, no qual poderiam ser pendurados pai-
nis decorativos, como se desejasse.
No formato em miniatura das possibili-
dades tcnico-cnicas dessas improvisaes de
estdio, Stanislvski experimentou coisas que
o teatro revolucionrio mais tarde transps para
dimenses de massa. H registros detalhados,
por exemplo, do emprego do veludo negro em
cenrios de peas simbolistas. Na pea A Vida
do Homem, de Andriev, ele usou tapearias
desse material para sugerir uma floresta, e
transparncias cobertas igualmente de veludo
negro, mas com pequenos pontos de luz re-
cortados, a fim de dar a iluso de lanternas de
uma estao a brilhar ao longe. Uma cena se-
melhante, inteiramente desmaterializada, foi
projetada por Stanislvski para encenao que
no chegou a realizar-se, do drama lrico A
Rosa e a Cruz, de Alexandre Blok.
No exterior, o trabalho de direo de Sta-
nislvski foi conhecido apenas por montagens
clssicas do Teatro de Arte de Moscou, no seu
mais alto grau de perfeio, com cada detalhe
refinado ao longo de dcadas de repertrio en-
cenado. Seu jogo soberano com a "quarta pa-
rede" - como por exemplo no segundo ato de
A Gaivota, quando um banco colocado diante
da ribalta e os atores sentados voltam as cos-
465
tas para a platia - tornou-se exemplo para o
mundo todo.
A experimentao com novas formas li-
mitavam-se aos estdios, que se tornaram a
despensa do teatro russo moderno. Ao Primei-
ro Estdio seguiram-se o Segundo, o Terceiro
(mais tarde o Teatro Vakhtngov) e o Quarto,
como tambm um Estdio Musical dirigido por
Nemirovitch-Dantchenko. Stanislvski teve
participao pessoal no desenvolvimento do
estdio de afores do teatro hebraico Habima,
onde, a seu pedido, Vakhtngov ensinou por
alguns anos e ele prprio deu cursos sobre o
seu mtodo. O clmax artstico deste estdio
foi a montagem de Vakhtngov, em 1922, de
O Dibuk, a dramatizao de Sch. An-Ski de
uma lenda hassdica. Aps excursionar pela
Europa e Amrica, parte do elenco do Habima
dirigiu-se para a Palestina em 1928, fixando-
se mais tarde ali, e quando o Estado de Israel
veio a ser fundado em 1948, tornou-se o Tea-
tro do Estado Hebraico de Tel Aviv.
Outros grupos que trabalharam com os
mtodos de Stanislvski foram o Estdio
Armnio em Moscou, o Reduto polons, fun-
dado em 1919 em Varsvia, o estdio estabe-
lecido em Kev pela atriz polonesa S. Wisocka,
e o Teatro Nacional Blgaro, em Sofia, sob a
direo de N. O. Massalitinov, um discpulo
de Stanislvski. Todos esses teatros do mto-
do Stanislvski formavam uma corrente, cujos
elos, por intermdio de Mikhail Tchkhov, che-
garam at os Estados Unidos.
Simbolismo - Imaginao e
Iluminao
O realismo cnico, como proposta progra-
mtica, originou-se em Paris, e foi da Frana
tambm que proveio como reao, o abando-
no deliberado do naturalismo: o simbolismo.
Stphane Mallarm, "o prncipe dos poetas",
protestou, em nome da poesia, contra a exi-
gncia de que tudo quanto se poderia esperar
do poeta fosse uma mera cpia do que o olho
do no iniciado encontra. A tarefa do poeta,
afirmava Mallarm, no era nomear um obje-
to, mas conjur-lo com o poder de sua imagi-
nao. Mallarrn sonhava com "um teatro ma-
ravilhosamente realista da nossa imaginao",
466
Histria Mu nd ia da Teatro.
um teatro "de dentro", da mesma forma que
os romnticos haviam procurado pelo "cami-
nho para dentro".
Baudelaire falava da "floresta de smbo-
los". Para ele, o universo visvel era uma des-
pensa de imagens e smbolos, s quais somen-
te a imaginao potica podia atribuir devido
status e valor. Valry dizia que a bela palavra
precisava reeuperar da msica aquilo que lhe
perteneia de direito. E assim, poesia e msica,
juntas, deram ao teatro do simbolismo sua mais
convincente justificativa. O antiqssiino pro-
blema, a rivalidade entre palavra e msica se-
ria a matria da ltima pera de Richard Strauss,
sua aguda e polida Capriccio.
O naturalismo era um programa, mas no
necessariamente uma limitao para a perso-
nalidade criativa. Ibsen viera de Peer Gy11l, da
atmosfera nacional do romantismo noruegus,
onde estivera antes de escrever Espectros e
Casa de Bonecas. Mais tarde, ele tambm dei-
xou o naturalismo puro para trs e criou o mis-
terioso simbolismo de O Pato Se/vagem.
Gerhart Hauptmannj havia ido alm da crueza
doutrinria em Hanneles Hinunelfohr (A As-
censo de Hanele) e entrou no mundo neo-ro-
mntico do mito com Die versnnkcne Glocke
(O Sino Submerso) e Und Pippa tanzt (A Pipa
Dana). O jovem Konstantin, em A Gaivota,
suplicava por novas formas, por foras que pu-
dessem pr fim rotina do teatro contempor-
neo e a seus patticos esforos "de pescar uma
moral em figuras e frases batidas". Mas
Konstanrin Treplev naufraga no caos de seus
sonhos e figuras. O prprio Tchkhov, na fron-
teira entre o naturalismo e o simbolismo, re-
conhecia o perigo, para a arte e para a vida,
representado pelo escapismo para o reino dis-
soluto dos sonhos, de uma jornada para o nada
dos estados emocionais, no qual o Tintagilcs
de Maeterlinck se perde.
Um dos mais jovens simbolistas de Paris,
Paul Fort, voltou-se contra o realismo do Thtre
Libre j em 1890. Com o apoio de um grupo de
escritores com idias semelhantes, fundou o
Thtre d' Art e nomeou, como seu diretor arts-
tico, o ator Alexandre Lugn-Po, que havia
comeado a carreira com Antoine. A atmosfera
intelectual no teatro em Paris, dividida pelo con-
flito de estilos, foi bem caracterizada por Lugn-
Po na poca: "Minha mente confusa oscilava
9. Cenrio de Joseph Wening para Macheth, representado no Nationaltheater, Praga, 1914.
10. Desenho de cenrio de l iduard Sturm para Dic Hiirgcr \'011 Calais (Os Burgueses de Calais), de Gcorg Kaiscr.
dirigido por Gustuv Lindcmann c Louise Dumont, Schauspielhaus. Dxscldorf 192X(Dsseldorf. Dumont-Lindcmarm-.
Archiv).
II. Projeto de ce nrio para o conto-de-fadas simbolista O Pssaro Azul. de Maurice Maeterlinck, Paris. 1923 (Paris.
Biblioth que de I"Arse nal).
12_Alfrcd Rolter: desenho do quarto de dormi r da Feldm arschalli n em Der Rosenkavaier (O Cavalei ro das Rosas). de
Richard S t T<.1l1 SS. est reado no Hofnpcr. Dresdcn, 1911.
Do Na t u ra l i s m o ao Pre sent e
do real ismo ao simbolismo, e em ambas as
mangedouras encontrava pouco alimento" .
O Thtre d' Art teve o seu ce ntro de gra-
vidade no simbo lista Maeterlinck, no dr ama
lrico de solido e melancolia. A repercusso
favorvel a Pell as et Mlisande, em mai o de
1893, encorajou Lugn -Po a fund ar um tea-
tro prprio, o Thtre de 1'0euvre. Nesta em-
pre sa, teve o re sp aldo do escritor e crt ico
Camille Mauclair, O teatro foi inaugurado em
outubro de 1893 co m Rosmersholm de Ibsen.
Em sua procura de um alimento mai s substan-
cios o, Lu gn -Po deparou-se com Ubu Roi
(Ubu Rei ), uma pea do jovem bornio pari-
siense Alfred Jarr y. Esta farsa co legial, co m
sua amarga crt ica soc ial, estre ou em IOde
dezembro de 1896, e terminou num tumulto
que Pari s no vi a desde Hern ani , Firrnin
Grnier fazia o papel de Ubu, e sua primei-
rssima palavra - "Me rde" - estilhaou o con-
forto ps-prandial das platias.
As poltronas estavam ocupadas pela elite
do culto s imbo lista da beleza. Ali es tavam
Mallarm e Henri Gh on, W. B. Yeat s e Art hur
Symons - e diante de seus ol hos nasci a o tea -
tro de vanguarda do sculo vindouro. Aqui se
abria a estra da do drama simbolista para o sur-
reali sta e, finalment e, para o drama do absur -
do, via Victor, 0 11 Les Enfants ali Pou voir
(Victor, ou As Crianas no Poder), de Roger
Vitrac , at Ion esco, Beckett e Audiberti.
Quase cinquenta anos mai s tarde, Henri
Ghon, em seu ensaio retrospect ivo L'Art du
Th tre (A Art e do Teatro, 1944), ainda enal-
tecia Vim Roi co mo sendo uma pea "cem por
cento teatro" que, " no limite da realidade, criou
outra real idade com o auxlio dos smbolos" -
uma interpretao que demonstra quo de pert o
os c rculos divergent es realment e se toca vam .
(Em 1958, Je an Vil ar redescobriu o valor c ni -
co de Ubu Roi, quando o montou no Th tre
Nati onal Populaire em uma encena o do gro-
tesco e agressi vo jogo de m scar as. Uma
adaptao tch eca foi mostrada em toda a Eu-
ropa, a partir de 1960, pelo Teatro Balaustrada
de Praga.)
A prtica do teatro se deixava envolver to
pouco pelas controvr sias de natur eza crtico-
estilst ica, que, e m maro de 1908, Gmi er
tamb m apareceu co rno Pre Ubu no Th tr e
Antoi ne.
Essa simultaneida de de aparentes contra-
dies tornou-se a marca ca racterstica de de-
senvolvimentos futu ros. No mesmo instante em
que as co nve ne s dr amticas tradicionai s
eram rompidas, o palc o tambm comeava a
fazer em pedaos sua habitual moldura de "cai-
xa de vistas" (cosmorama). Os primeiros a to-
mar a iniciativa foram os simbolistas, com sua
recusa de serem escravizados pelo det alhe rea-
lista. Em O Pato Selvagem, de Ibsen, a vida do
j ovem Ekdal corno fot grafo uma decepo:
ela denun cia o emar anhado de mentiras de um
arranj o conveniente . A crnera tornou-se um
instrumento de aut o- engano.
Par a os simbolistas, o empenho fotogr-
fico do drama naturali st a er a uma tela que
obstrua a penetrao do olhar em vistas mai s
profunda s. O palc o no deveria apre sent ar um
milieu real, mas ex plor ar zonas de es tados
d' ulrna . Sua tarefa no era descrever mas en-
cantar. A luz adquiriu urna funo imp ort an-
te, e a palavra encontrou auxlio na msica e
na dana. Em algun s ca sos feli zes, os simbo-
listas conseguira m tran spor di sposies nt i-
mas enra izadas no liri smo par a o domnio p-
bli co do palc o. O mrito de o drama simbolis-
ta ter sobrevivido sem danos a tai s revelaes
do " etat de I' nte" ("e stado de al ma"),pode
ser creditado uni cament e msica.
Foi a msica de Claude Debussy que con-
quistou para o poema L 'Aprs-midi d 'un Faune
(O Entardecer de um Fauna) um lugar no tea-
tro e na sala de conce rto. Na coreo grafia de
Nijin sky, ela se torn ou, em 1912, um dos pon-
tos altos do bal russo em Paris. E foi a msica
de Debussy que co nferiu ao drama lfico de
amor, de Maet erl inck , Pell as et M lisande.
um grau de transfigu rao pot ica inalcan-
vel pel o teat ro some nte fal ado. Hugo von
Hofmannsthal encontrou um parceiro conge-
nial em Richard Strau ss. E o turbilh o simbo-
lista de som e co r de Gabriele d' Annunzio vi-
via da escura e sugestiva melodia da dico de
Eleonor a Duse.
Esta foi a po ca em que Augu ste Rodin
esculpiu os amantes em mrmore branco, em
que Rainer Maria Ril ke escreveu o Soneto a
Orfe u, em que Jungeudstil e art -nou veau re-
galavam-se COI\I decorati vos ornamentos en-
trel aados, em que Isad ora Duncan da no u
Af rodite vestida co m urna tni ca e sandlias
469
de tiras, e declarou, com efuso ingnua e
entusistica: "Minha alma era como um cam-
po de batalha onde Apolo, Dioniso, Cristo,
Nietzsche c Richard Wagner disputavam ter-
reno".
O mundo ocidental fazia o seu inventrio.
Na cena da pera, isso foi feito por Richard
Wagner. Seu ideal de Gesamtkunstwerk, a obra
de arte conjunta, manteve ocupados os estetas
da Europa e da Amrica. J em 1892, o cen-
grafo suo Adolphe Appia projetou uma srie
de esboos e maquetes para Das Rheingold (O
Ouro do Reno) e, em 1896, para o Parsifal.
Ele atribuiu luz uma tarefa que at ento o
teatro no fizera nenhum uso, ou seja, lanar
sombras, criar espao para produzir profundi-
dade e distncia. Appia construiu formas arqui-
teturais de pesados blocos, cubos e cunhas,
transformando-as nas largas superfcies daqui-
lo que chamou de "cena interior", de acordo
com seu princpio do palco estilizado em trs
dimenses, com pontos de luz. Mas o convite
de Bayreuth nunca veio. Cosima Wagner sal-
vaguardava o testamento do mestre, com o
Valhalla e o Castelo do Santo Graal feitos de
papier-mach, panoramas realistas mveis e
plataformas com rodas que carregavam as
Donzelas do Reno. O primeiro corte radical
com essas convenes precisou esperar meio
sculo por Wieland Wagner, que livraria o palco
de Bayreuth dos velhos cenrios e realizaria
as vises de luz e espao que os dois grandes
reformadores simbolistas do palco - Adolphe
Appia e Edward Gordon Craig - haviam pla-
nejado.
Por mais que os desenhos e idias de
Appia fossem ao encontro da sensibilidade
potica dos simbolistas, foi limitada na prti-
ca a escala em que puderam ser comprovados.
No teatro particular da condessa de Barn, em
Paris, Appia teve oportunidade de criar, em
1903, "imaginaes" cnicas, isto , no rea-
listas p'lra partes da pera Carmen, de Bizet, e
para o Manfred, de Byron, que tinha sido mu-
sicada por Robert Schumann. O encontro de
Appia com mile Jacques-Dalcroze levou
srie de esboos que ele chamou de Espaces
Rythmiques - contrapontos ticos ao conceito
de direo eurrtmica desenvolvido pelo Insti-
tuto Suo Jacques-Dalcroze em Hellerau, per-
to de Drcsden.
470
Histria Mundial do Teatro.
O Tristo e Isolda de Appia para o La
Scala, de Milo, em colaborao com Jean
Mercier e Arturo Toscanini, seu Anel dos
Nibelungo para o Stadttheater na Basilia, sob
a direo de Oskar Wlterlin, e seu cenrio para
L'Annonce Faite Marie (O Anncio Feito a
Maria), de Paul Claudel, para Hellerau, foram
ainda mais longe na luta pela transcendncia
metafsica. Sua culminao utpica, divorcia-
da do teatro, foi a "Catedral do Futuro".
O primeiro pr-requisito de Appia era
manter o palco livre de qualquer coisa. que pre-
judicasse a presena fsica do ator. "O corpo
humano est dispensado do empenho de pro-
curar a impresso da realidade, porque ele pr-
prio realidade. O nico propsito da ceno-
grafia tirar o melhor proveito da realidade."
Essa era a convico de Edward Gordon
Craig, tambm. Mas em seus desenhos ele tra-
tava as figuras no palco e seus movimentos
como componentes do todo grfico. Os bra-
os estendidos de Electra, as costas curvadas
de Lear, a silhueta esguia de Hamlet no eram
acessrios, mas elementos prvios da viso
cnica. No Hamlet de Moscou, lanas, setas
e bandeiras erguidas em escarpa acentuavam
a monumentalidade das verticais e, abaixa-
das, transpunham o fim trgico em imagem
ptica.
Filho da atriz ElIen Terry, Craig estava
familiarizado com o palco desde a infncia.
Aprendera a conhecer e interpretar Shakes-
peare com Henry Irving. Considerava-se her-
deiro de Irving, por mais opostos que fossem
seus caminhos artsticos, da venerao por
Shakespeare rejeio a Shaw. Craig preferia
dramaturgos com grandes curvas da emoo.
Fascinava-o converter linhas patticas e msti-
cas sobre o destino humano em luz e espao,
para espiritualizar o realismo cnico.
Quando Craig, em 1900, juntamente com
seu amigo Martin Shaw (nenhuma relao com
G. B. Shaw) montou a pera Dido e Eneias, o
cenrio consistia em um simples pano de fun-
do azul. Mas este azul expressava a alma,
"I'tat de l'me", da pera de Purcell: clarida-
de brilhante, plido crepsculo e, ao fundo,
uma distante, delicada filigrana de mastros de
navio. O esboo para o drama Os vikings em
Helgeland, de Ibsen, parece uma antecipao
do Parsifal de 1953, em Bayreuth.
Do Ncuurulisnto {I(} Prcs cn t e
Quando montou a liricamente simblica
Das gerettete venedig. de Hoffmannsthal (ba-
seada em Veneza Preservada, de Thomas
Otway), no Lessing Theater de Berlim para
Otto Brahm, Craig limitou-se a lougas corti-
nas coloridas. Os refletores criavam, com in-
tersees e feixes de luz, aquela iluminao
mgica que se tornaria tambm um trao dis-
tintivo do teatro expressionista e mais tarde de-
senvolvida por Kokoschka e Cocteau - por
este, at mesmo em filmes - em seu estilo dra-
mtico prprio. (Em 1954, o diretor londrino
Peter Brook apresentou um protesto contra a
pintura cnica por efeito de luz. Ele afirmou
que Craig havia superestimado a importncia
do spotlight. A seu ver, mesmo anteparos co-
loridos podiam apenas suavizar gradualmente
a crueza e no podiam rivalizar com o pincel
do pintor, nem em sutileza, nem em sombras
ou cor).
Craig concebia seu palco no apenas na
qualidade de simbolista da luz, isto , como
iluminador, mas tambm, na mesma medida,
como arquiteto. Os screens (biombos) que ele
usou na famosa montagem de Hamlet, no Tea-
tro de Arte de Moscou de Stanislvski, em
1911, aspiravam a algo mais do que apenas
uma monumentalidade vazia. Propunham-se,
ao mesmo tempo, a apagar o efeito visual da
"caixa de vistas" tradicional para realar. com
imponente mobilidade, a ao interpretativa do
atar e fornecer aberturas cambiantes s luzes
cm sucesso.
Temos o registro do prprio Stanislvski
sobre os preparativos em conjunto para a me-
morvel encenao:
Craig pensava num cspctaculo sem intervalo", nem
cortinas. O pblico chegaria ao teatro c no verta palco ou
cci-,a parecida. Os biombos funcionariam C\lI11Q \) pro-
longamento urquitetural da sala dos espectadores c se har-
monizariam COI11 esta. Mas 110 incio da aprcscntao os
biombos se movimentariam graciosa e solenemente; to.
das linhas e agrupamentos transpor-se-iam de um para o
outro. at que se fixassem por fim em nOV;JS combinaes
De algum lugar, acender-xc-ia a luz CjUl' projetaria sobre
elas efeitos pictricos, e todos os presentes 110 teatro se-
riam levados, como IlUlll sonho, para algum outro mundo
somente insinuado pelo artista, mas que se tornaria rc.. 1l
pela virtude das cores d,l imuginuo dos espectadores.
interessante ler adiante. na autobiogra-
fia de Stanislvski, o quanto ele lamenta que o
palco disponha apenas de "meios grosseiros e
primitivos" para satisfazer as "mais altas aspi-
raes que nascem das mais puras profundezas
estticas" do homem. A Stanislvski e seu di-
retor Sulerjtski coube a difcil tarefa de adap-
tar o modelo trazido e apresentado por Craig a
realidades prticas inadequadas.
Craig alcanou em Florena, em dezem-
bro de 1906, um de seus mais felizes sucessos
pessoais, quando montou Roniersholm, de
Ibsen, com Eleonora Duse. Ela lhe escreveu uma
carta de agradecimento no dia seguinte es-
tria: "Atuei ontem noite como num sonho -
e muito alm. Sentia sua ajuda e sua fora ...',
O sonho de Craig de ter um teatro prprio
nunca se tornou realidade. Sua escola de tea-
tro em Florena tambm durou apenas alguns
anos. Mas seus escritos tericos foram difun-
didos no mundo inteiro, tanto seu livro funda-
mental, The Art of Theatre (A Arte do Teatro,
1905), como sua revista teatral The Mask (A
Mscara), que com algumas interrupes ele
editou em Florena de 1908 a 1929. Era uma
publicao bem ilustrada, que abordava todos
os aspectos do teatro. Iluso, naturalismo e
estilismo cnico eram discutidos. assim como
o velho problema do ator: identificao ou
distanciamento? Craig desenvolveu a teoria da
supermarionete, da pea de mscaras, que por
si s - dizia ele - era capaz de eliminar todos
os traos de "egotismo", e ento, "coada pelo
fogo dos deuses e demnios", liberta e indene
"da fumaa e da exalao da mortalidade", po-
deria "pretender vestir-se de uma beleza cada-
vrica, exalando ao mesmo tempo um esprito
de vida". Algumas de suas idias voltam em
Meierhold, O'Neill e Brecht.
A mstica ela luz de Craig encontrou um
seguidor no cengrafo americano Robert
Edmond Jones, cujos desenhos para as produ-
es de Hopkins-Burrymore de Ricardo III e
Macbeth em 1920 e 1921, em Nova York, fo-
ram grandemente influenciadas por Appia e
Craig. Trs grandes arcos, contra um fundo
negro, serviam de equivalente ptico s ambi-
es de Macbeth. Eles desmoronavam quan-
do a curva da fortuna de Macbeth declinava.
Na Europa, os jovens pintores abstratos
no fim dos anos 20 recorreram s idias sim-
bolistas de reforma. Naum Garbo e Antoine
Pevsner, com sua montagem de La Cliattc (A
. rI
13. Adolphc Appia : Luz do tu ar , tia srie de cenrios ESPll( O,\' Rtmicos, estimulados por se u encontro com Emile
Jacques- Dalcroze, 190X-ttJ I2. Em 1913. Appia desenhou cenrios para L'Ann(lllllce [a itc il Morte. de Claudel, e para o
Orfeu . de Gluck. no l nvritutc Jacqucs-Dalcroze. cm Hcll erau. pe n o de Dresdcn.
1-1 . Ado lphe Ar r ia: ( ; l1l'u!iimlll l' r1f1lg (A Alvorada do s segundo alo, )925. ESI1tli. ; Oc nico estilizado para a
montagem de O.... kar Walt crl in de () Anr, de Wauncr. no Studt thc.ucr. Basil ia.
15. Desenho de Edwar d Gordon Craig para () Rei
Lear . tercei ro ato. cen a 2. Xilogravura do peridico
The Mas k, jane iro de 1924.
16. Pgina do caderno de di rco de Craig. corri
instrues para a CIl CCIl .lJt<lO de Hamlet no Teatro de
Arte de Moscou. 191 l. Hamlet c os atores. no alo IL
cena 2: o primeiro ato r es t rec itando as linhas "Thc
ruggcd Pyrrhus" do assass inato de Pramo.
1
f) o N t u ral is m o 0 0 P "('J{' II / ('
17. Edward Gor don Craig: dese nho para Mucbcth, 1909 (e xtrado de Craig. Towards ti Nt'H'Tliecure, 19 13).
listas do porvi r. o confl ito entre o instinto livre
e restos cas tradores de rel igio - tudo isto foi
se somando a um fardo to pesado quc rom-
peu a lingua gem coer ente . xtase, confisso,
protesto explodiam, numa condensao fren-
tica da linguagem , em din mi ca s estridentes
do som: no gri to. Ob ras como os assim cha-
mados Schrei-Dramen (Dra mas de Grito), de
Augu st Stramrn, e Seeschlach t (Bata lha Na-
val) , de Reinhard Goering, que comeavam
com um grito - tudo pare ci a padecer com a
agonia do estar perdido. Em sua pea de um
ato Ein Geschl echt (Uma Gerao), na frent e
do muro de um macabro ce mi trio, Fritz von
Unruh faz a sorna tio horror: uma conj urante,
ext tica den nci a da guerra e de suas atroc i-
dade s, um c ha mamento ir humanidade e ir
fraternidade em pent mctros imbi cos spe-
ros e agressivos.
A gerao dos pai s tornou-se o alvo dos
poeta s e dramaturgos profeti camente agressi-
vos da selva das metrpole s. A luta entre o novo
e o velho. ent re filho e pai, irrompeu em mani-
festos e no palco. O co nflito de geraes, nas
comdias Der Suo b (O Esnobe ) e 1913, de Carl
Steinhei m, ainda tema da c ustica stira aos
burguese s filisteu s, cru agora estimulado at a
execuo sangre nta. e m pe as como Der Sohn
(O filho), de Walter Hascnclever, Dies [me,
de A ni on Wil dgans. Der 8 cu/ er (O Mendi go),
de Rcinhard Joh ann es Surge. at vatermom
t Parri cidio). de Aruolt Bronncn, e Dic Krankheit
da Jugend (A Doena da Ju ventude). de Fer-
dinan d Bruckn er.
O palco pos sua apenas urna poss ibilida-
de de ca pta r ce nica me nte es sa violenta in-
vesti da dos "s on mbulos" , co m sua "carga de
atualidade de terror". como Alfred Kerr cha-
mou ce rta vez os dramaturgos expressioni stas:
utilizar todo o potenci al de iluminao con10
um mei o de encena o de luz. visualidade c -
nica, como um sinal tempestu oso da crise in-
tel ectu al. emoci onal e po ltica . J: em 1911.
Oskar Kokoschka exigi u, para seu drama Der
!>n ' II I1I'lI d " Dorubusrh (A Sara Ardente), um
aposento ilumi nado pe la lua. "grande e cheio
dc sombras ardilosas. que desenhassem figu-
ras no cho" , Cnes de luz se procurari am uns
aos outros. cruzando-se para formar um halo
em torno do honu- m mort o. Kokoschka via a
ce na COIllO UIl1 pintor. Ma x o alvoroo causa-
Expre s si o ni smo, Surr eal i smo c
Fu t u ri s in o
Desde a Antiguida de. ' lO; coutrov rs ias in-
telccruais difund idas no palco faze m part e da
herana teat ral. assim como o esplendor de sua
festividade. Ari stfa nes tir ou o flego dos
atenienses com suas polmicas provocaes.
Em todas as pocas. esc nda los e bri gas ven-
tiladas no teatr o foram fer mento em sua far i-
nha . Tornar am- se mais frequentes quando a
art e comeou a se opor ir presso nivelad ora
tia soci edade indu stri alizad a de massa. O pro-
grcsso tcnico e a competio pel o me rcad o
haviam levado ir Primeira Grande Guerra e sua
mani a, a seu del ri o. A pessoa humana foi de-
gradada, reduzid a a nada, deixada inde fesa , ;1
merc de pod eres incontrol veis.
"Somos uuui onetcs cuj as cord as so pu-
xada s por mestres desconheci dos" , diz o Dan -
ton de Bchn er, em D lI lIIOII S Tod(A Mort e de
Dant on). O dr ama expressionista ale mo res-
I
JOIHh a cri se da aurodestrui co com 1I1TI cri-
c
to. Pesadel os c utopias. o determi nismo por
tds das dccixe individuais. as vi se s soc iu-
Gata) em 1927 em Paris, e L szl Mohol y-
Nagy, co m C 0 ll10S de Hoffmann, em 192 8 no
Krolloper em Berli m. tentara m. no es prito de
Cruig. co nstitui r "espao a part ir de luz e so m-
bra". Os bastidores tornaram-se meros requi -
sitos par a a produo de sombras, tud o era
translcido, e tod a esta transpar ncia culmina-
va numa es truturao de espao "s uperabun-
dante, mas aind a compreensvel" .
A plasma o dos proc essos cerncos em
termos de palco e de atuao por uma ni ca
personalida de criativa. que os simbolistas ha-
viam exigido em nome da poesia e Craig em
nome da ma gia do espao e da luz, viria co m
os gran des di rct ores do sculo XX: Konstantin
Stanislvski ( 1863- 1938) em Moscou ; Max
Reinhardt ( 1873 - 1943 ) em Berl im , Vie na .
Salzburg e Nova York: Jacques Copcau ( 1879-
19-19) em Pari s: Elia Kazan (nascido em 1909)
em Nova York. O grande ator e diretor Jean-Louis
Barra ult (19 10- 1994), de Pari s, deu a Crai g o
cumprimento supremo: "O trabalho de Cr aig
foi meu catec ismo . e ele prprio. o art ista de
teatro mai s perfeito" .
..;':;"
""lo. -, ',_..: -. ..
18. Edward Gordon Crai g: cen ri o com biombos mve is, desenhado para a produo de I q II de Hamlet, no Teatro de
Arte de Moscou de Stuni vl vs ki . Desenhos para (} ltimo ato.
475
do pel o es pet culo de 1919. em Berlim. foi
atribudo mai s ii exubera nte ima ginao de sua
linguagem do que s suas ima gens visuais.
Por sua vez, Reinhard Su rge , quando a
socie dade liter ri a Das [unge Dcutschland (A
Jovem Alemanha) apresentou seu drama Der
Bettl er , em 1917, no Deutsches Theaterde Max
Reinhardt , pediu refl et or es mveis que real-
a ssem uma figur a isol ad a ou um grupo den-
tro da escurido noturna. Na montagem de
Richard Weichert, em 191 8. de Der 501111 de
Hasenclever, em Mainheim, um facho de luz
incidindo verticalmente sobre o palco at ingia
o grau de total isolament o qu e o dramaturgo
pretendia. No dr ama ext tico de humanidade,
Die WalldlulI g (A Transfi gurao). de Ernst
Toller, que Karl Heinz Martin montou em
1919. no Tribne de Berlim, o palco foi reves-
tido com tecido escuro. e os poucos e insigni-
ficantes cenrios curvavam-se. mal saltando
aos olhos, ao furioso da palavra.
As peas de Ernst Barlach tornaram evi-
dent e a conexo entre o drama expressionista
e a pintura express ionista. O mesmo efeito ob-
teve Ernst Stern co m seus cenrios da monta-
ge m de 1919. em Berlim. de Di e I\'IIPl' er . de
Else Lasker-Schler, na qual chamins de f;-
brica se inclin avam sobre casas vermelho- ler-
rugem de operrios . e violentos contrastes de
cor enfatizavam a atmosfer a realisticamente ex-
pressiva da pea.
A tendncia par a a luz colorida como re-
curso cnico enco ntrou outro parti drio cm
Her warth Walden. editor do Der 51111'111 . Uma
pr oduo de So neta SIISOI/1 /(/ . de Augus:
Stramm, no Knstl erh aus de Berlim disps o
espectro inteiro como pano de fundo par a um
interior de igreja : um se mic rculo vermelho
profun do e, acima del e, an is co ncntricos cm
amarelo. azul , roxo e, fina lmente. pret o. As
cores primrias repetiam-se nos figurinos. Mais
tarde . Oskar Schlemrner, em sua mont agem de
Das Triadische Ballet (O Bal Tri dico), no
Bauhau s, tambmjogou com cor rtmica e con-
trastes de formas.
Os grandes palcos dos Teatro s de Estado.
com seu repre sentativo pro grama de cl ssicos,
difi cilment e podiam cu st ear ex perincias com
dr a maturgos ex pres s io nis ta s. exce to cm
matin es literria s. Ma s os pri ncpios da abs-
trao por mei o da ILl / . C da cor encontraram
476
Hss r o Mund i a l d o Tea t ro.
se u me stre e m Leop old Jessn er, direr or do
St aat sth eater de Berl im na Gedan ne nmarkr.
Jessner for de Knigsberg par a Berlim, e em
1919 en carregou-se do Schi nke l-Baues, suce-
dendo uma direo at a mar cad amente tra-
dicional. Em 12 de deze mb ro de 1919, apre-
sentou um lVilhellll Tell (Guilhe rme TeU) que
evitava, rigorosamente. tod o o es plendor da
pai sagem de montanhas sua s: um au stero sis-
tema de degraus contra um fu nd o de cort inas
esc uras era o cen ri o int eiro ; e havi a Albert
Bassermann como TeU. um gigante do tipo re-
tratado nas pinturas de Hodl er, e Fritz Kortner
co mo Ge ssl er, numa caracteriza o marcial e
forrado de medalhas. No havi a nenhum " lago
ri sonho", nenhum "des filadeiro". mas em vez
di sso o estentreo chamado or dem de Bas-
serrnann, da rampa para a pl at ia. quando a
continuao do espet cul o viu-se ameaada
pelo tumulto e gritaria: " Ponha os arruaceiros
pagos pra fora l"
A situao foi salva. e o espet culo conti-
nuou; Jessner firmou- se no ca lde iro de bruxa
das intrigas de teatr o. E o lance de escadas que
ele usou nessa montagem torn ou-se sua marca
regi str ada art stica. Para o Rica rdo III de Sha-
kespeare, Emil Pirchan lhe desenhou uma larga
escada ria frontal. que se estreitava suavemen-
te na direo do topo - uma interpret ao vi-
sual da ascenso e queda do rei assassino e
domina dor, retrat ado por Fr itz Kortner num
esti lo di ab oli camen te adeq uado e el egant e.
Em oes e di scrdi as eram indicadas pe las co-
res vermelho. pret o e branco.
As escadas de Jessn er fizeram escola.
Pr est avam -se a ser interpretadas princip almen-
te co mo ex presso de um csmico senti mento
de mundo, test ificavam port ant o a pretenso
int ele ctual. Eram tambm fiicci s de imi tar. po-
dia m ser usadas para quase todas as propostas
e no apresentavam dificuldade , nem me smo
para um palco tecni cament e primitivo. Quando
Jessner, ao retornar de uma viage m por alguns
teatros de provncia, foi questionado sobre suas
impresses. deu uma resposta muito citada:
"Escadas. nada mai s alm de escadas" . Mais
tarde. em 1960. dur ante uma di scu sso em Mu-
nique, ao ser interr ogado so bre aque le "c s -
mi co" lance de escadas, Fritz Kortner decla -
rou eva sivame nte: se o Staatstheate r tivesse um
palco giratrio. no seria obr igado a recorr er a
1
o
19. Fotografi a de urna cena da trag dia !:"iII ( ;(,R11!cc/ll (l Jrua Ger a o}. de Fritz von ll nruh . mo ntada pel a pri nu-iru vez
cm 1918 no Schauspicl haus de Frankf urt am Main. Dirco: Gusmv Il artung: cenrio: August Babbcrgcr. COI II Rosa
Bertens como" Me. Gerda Mllcr como a Filha c Carl Ebcrt como o Filho.
20. Projeto de cenrio de OUo Reigbcrt para Der Solvi (O Filho), de Walter Hasenclever,
destinado ao Staduheater de Kiel. 1919.
21. Morte na n'ore. Pintura de Csar Klein para o cenrio da montagem de Victor Barnowsky para o drama
expressionista em "estaes" Von Margens bis Mncrnacnts (Desde a Munh iI Meia-Noites, de Georg Kaiser. levado em
] 920 no Lcssingtheater, Berlim.
1
22. Pintura de cenrio feita por Otto Reigbert, para a montagem de Oo Falckenberg de Herodes und Murianinc, de
Friedrich Hebbel. Deutschcs Theater, Berlim. 1921.
23. As escadas de Jessner. Projeto de cenrio de Ernil Pirchan para Ricardo JlI. de
Shakespeare. na encenao de Leopold Jcssner. Staatsthearcr am Gcndarmenmnrkt.
Berlim. 1920.
escadas para co nseguir seu efeit o. Quaisquer
que seja m os moti vos conducentes, transfor-
mar uma necessidade em um princpio artsti-
co pri vilgio do encen ador. E o emprego de
escadas no palco remont a j a Pir anesi, Ju vara,
os Meiningers e Appia.
Jacqu es Cope au, o reformador da arte tea-
tral francesa, forma lizou similarmente o palco
com combinaes de escadas. Pediu a Francis
Jourdain que criasse, para o tabl ado do Th tre
du Vieux Col ombier em Paris, que ele inaugu-
rara em 1913, uma moldura arquit etnica fixa,
com uma rea neutra para a atuao na frente.
Seu model o era a cena e lisabetana, seu objetivo
era a "re teatraliza o do teat ro": um palco cla-
ro, simples, bem-proporc ionado; um incons-
pcuo tablado para o text o dramtico, que no
requeria mais do que "um pdi o vazio".
Copeau estava em contato co m Appia ,
Cr aig e Stanislvski, e de sua escola vieram
diret ores como Louis Jouvet e Charles Dull in,
e mais tarde , quando foi co-diretor da Com dic
Franaise em 1944, tambm Jea n-Loui s
Barrault e Jean Vilar. O foco de interesse origi -
nal de Copeau residia na literatura. Seu ideal
era a humani zao do teat ro a part ir da pala-
vra. Foi um dos fundadores da NO/lI 'eUe Revuc
Franoise, em cuja edi o de setembro de 19 13
anunciou a criao de seu prpr io teat ro e seus
obje tivos arts ticos, sob o ttulo Le Th tre du
Vlellx Colombier (O Teat ro do Vieux Colem-
bier).
A primeira vez que Copeau causou sen-
sao foi quando da dr amatizao do lti mo
romance de Dost oi e vski. Os Irmos Kara-
mazov , em 1910. (O esp et cul o produ ziu uma
impres so to d ura do ura que, em 1927, o
Th eatre Guild pediu que ele o ence nasse no-
vamente em Nova York.) A influncia de Co-
peau entra ma -se como Um fio verme lho em
todo o moderno teatro francs. Ela se es tende,
com certez a, at Giraudoux e Anouilh, mas in-
clui aflor ame ntos aparentement e to remotos,
como por exemplo a pea bblica No, de
Andr Obey, diretor da Comdie Franoise
aps 1946, cujo sucesso no palco, em 1931, se
deveu ao sobrinho e pupilo de Cop eau, Michel
Saint-Deni s. Pi err e Fresnaye fez o pnpel-ttu-
lo em Nova York, John Gi elgud , em Londres.
Muit as das idias de Copea u contriburam para
o desenvol viment o do teatro ingls, via Saint-
480
Hi s t ri u M'u n al do Te u t ro
Deni s, que se torn ou dirctor da Esc ola de Arte
Dramtica do Old Vic.
O Th tre du Vie ux Colo mbier fechou
suas portas em 1924. Mas os ensi namcntos de
Copeau permanecer am vivos no "Ca rtel des
Quatre", conhec ido co mo os "Quatro Gr an-
de s" , um grupo fundado cm 1926 e que durou
at a Segunda Grande Gu erra. Co nsistia nos
mai s important es dir etor cs de teatro parti cul a-
res de Pari s: Louis Jou vet , Cha rles Dullin,
Gaston Bat y e Ge or ges Pitoeff. Ape sar de di-
ferirem muit o qu ant o origem e temperamen -
to, tinham em comum o obje tivo de produzir,
no sentido de Copeau , um teatro no-conven-
cio nal, de humani zar a ar te do palc o c de opor-
se corrente da crescente artificializao. Logo
ve io a cen sura que os "Quatro Grandes" esta-
riam superestimando o pap el do dirctor. Mas
esse era um desen vol vimento natural numa
poca em que o plurali smo das possibilidades
de plasmao alcanar a um a primeira culmi-
nncia.
A direo teatr al pressupu nha di scrimi-
nao crti ca e requeria uma habilidade para
f undir os element os ma is het erogneos numa
forma de arte intern amen te co nsistente. A es-
col ha comeava co m as tcni ca s c nicas e no
se limitava pea em si. Ouo Brahm havia se
arvorado em advogado de Ge rhar t Hauptmann:
o Teatr o de Arte de Moscou de Sta nis lvski
foi a casa de Tch khov: e Louis Jou vet suge-
ri u c pr om oveu at ivame nt e a mu dana de
Giru udo ux do romance para o drama. Na
Co m die des Champs-Elys es, Jouvet produ-
ziu, em 1928. Siegfried, de Gi ra udo ux, um
"dilogo com a Alemanha, o paroxi smo da pai -
sagem e da paixo, ao qu al somcnte a alma
podc dar plen itude" .
Gast on Baty, o princ ipa l dos Co mpagnons
de la Chimerc (Co mpan he iros da Quimera),
agi a na rea entre a rel igiosidade, co m um to-
que de simb oli smo, e o impondervel verbo
espirituoso de Labi che, Ievc co mo uma pena.
Georges PitoetT, nasci do na Armnia e estabe-
lecido em Paris em 1922, n o apenas encenou
autores russos e es candin avos, mas tambm
Pirandello. Shaw e Ferdinand Bruckner, Quan-
do Charles Dullin monto u Ri cardo 1I1 no
Thatre de lAt cli er. estilizo u as ce nas de ba-
talh a :1maneir a do bal _. uma afronta ao modo
tradi ci onal de represen tar os c lss icos.
Do Ncu n ral is tno (/O Prescnt c
As qualidades dramticas do bal n o fo-
ram postas em dvid a desde Se rge Diaghilev.
Schch razadc ( 1909) e Pct rouchka ( 1911) de-
cl ar avam-se ob ras de arte coreogrfico- musi-
cai s independentes. Lon Bakst e Alexandre
Ben ois ga nha ram fama da noite par a o dia com
seus proj et os de ce n rio e figurinos. A primei-
ra bailarina, dest aqu e exclusi vo no entardecer
do sculo XIX, d ividia ago ra o aplauso co m o
pintor e o coregrafo. Ter parti cip ado de uma
encen a o de Di aghil ev, em Par is, Londres ou
Monte Cari o, era o primei ro degrau na escada
do x ito int ernaci on al.
Jean Cocte a u alcanou se u primeiro
succ s de sca nda le em 1917 , em Roma, com
um bal cha ma do Parade. A msica era de Eri c
Sat ie, o cen rio, de Pabl o Picasso, e seu est ilo
foi descrito no prog rama por uma palavra, cu-
nhada por Guillaume Apollinaire: Surrealismo.
Era uma nova palavra de ordem para uma for-
ma de arte que pretendi a ser no-naturalista,
no-realista, super-rea lista . O termo apareceu
pela primeira vez no subttulo da fantstica c
gro tesca pe a de choque Les Maniclles de
Tiresi as (As Mam as de Tirsi as), que os a mi -
gos do autor e ncenara m co mo um "drama
surrealista" e m 24 de j unho de 1917 no Thtr c
Maubcl. em Mont martre. i\ reao dos crti-
cos pari si en ses foi mo rna . A apresentao no
levava nem ao sucesso, nem ao esc nda lo. Os
conceitos de Apollinaire exerceram infl u ncia
mais dur adour a sobre o teatro do que suas pe-
as. Del e tamb m procede o termo "rayonis-
mo", par a a variante especificamente russa do
fut ur ismo (os ismos co meavam a se multipli -
ca r) qu e ating iu reconhecimen to mundial, gra-
a s aos co la borado res de Diag hi lev, Nat lia
Gont charova c seu marido Mikh ail Lari on ov.
Bal e m si ca estava m ema nc ipando-se
rapidamen te, e o mpeto desse moviment o en-
controu expresso no assim chama do "Grupo
dos Sei s" - ou seja, os se is co mpo sitores :
Georges Auric, Loui s Durey, Dariu s Milhaud,
Francis Poulenc, Ger mainc Taill eferre e Arthur
Honeggcr. Seu s ataques ao s se guidore s de
Wagner e Debussy troux eram a es tes ltimos,
conforme Co ct cau -- que era al iado dos "Seis"
- gracejou com malci a, o peri go de serem lc-
vados li srio.
O prpri o Cocica u ficou mui to co ntra ria -
do qu and o o p blico o ps em dv ida . Mas
ficou mais irri tado no tanto pel a recepo de
seus filmes surrealistas , de Le S{//Ig d'un Poete
(O Sa ngue de um Poeta) a Orph e (Orfeu) , ou
de seus dramas La Mach ine In fcrnale (A M-
qu ina Infern al ) ou Bacchus (Baco), quant o pela
recepo da mont agem de 1962, em Muniqu e,
de L'aigle deux t tcs (A gui a Bic fal a), que
se realiz ara sob a gide pessoal de ste autor. Os
j ovens prot estaram. Mas a razo no era , ab -
so lutame nte, um surrea lismo tardi o mal-enten-
dido, porm, o prot esto, neste caso, dev ia-se
s suas inadequa es de melodrama hist ri co
barato.
A grande real izao de Coct eau no limiar
do surrea lis mo co ns isti u em haver despert ado
o intere sse dos pintores da Escol a de Par is pel o
teatro. Picasso, Mati ssc, Braque, Utrillo, Juan
Gri s, Gi org io de Chirico, Andr Deraiu,
Delaunay, Ma x Ernst e Joan Mir desenharam
cenri os e de coraes para Stravinski e
Prokfiev, par a Maurice Ravel e Manuel de
Fali a, para Al bni z e Richard Strauss.
O palc o torn ou -se o portador das co mpo -
sies pictr icas de vanguarda, em grande es -
ca la. O Bal Ru sso, alca na ndo nova glr ia,
desde 1917, no qu adro da pera de Paris, e o
Bal Sue co, no Th tr e Hbert ot a parti r de
1920, ce lebra ra m os tr iunfos dos decors alta -
ment e expre ssivos. Para Le Tricome (O Cha-
pu de Trs Bicos), de Manuel de Fali a, que o
Bal Russo trou xe a Londres em 1919, Picasso
viro u o espelho d'gua do lago de Miller na
vertical c alinho u um lad o do s outro s elemen-
tos cubistas . Ferna nd Lger deri vou o ce nrio
de Skating Rink (O Ri nqu e de Pat inao) de
dinmicas de cor cubistas , e De Chirico ergueu,
ao fundo da ce na de La Jorre, as serenas vasti -
des de sua per specti va na pintura - ambo s
par a as memor vei s produe s experiment ai s
do Ba l Sueco em Paris, em 1922 e 1924, res -
pectivamentc. Idi as estimulantes des te apo -
ge u da arte da dana ainda continuam a atuar
no interldio bal tico do oratrio dram tico
I canne d 'Arc ali Bucher (Joana d' Ar e na Fo -
gueira) de Arthur Honegger. A fama mundi al
de. Honegg er, entretanto, remonta a 1921, e sua
msica par a o Roi David, apresentada no fes-
ti val vanguardi sta do s irmos Ren e Je an
Morax, cujo Th atrc du Jorat em M zi res,
peno de La usa nnc, visava propiciar uma es-
trcit a co laborao entre o palco e a plat ia.
.JSI
24. Quadro de cenrio de Pab!o Picasso para ()ballet O Chap u de Trs Pontas, de Manuel de Falia, co m co reogr afia
de Le6nide Massinc. Levado pelo Ballet Russe, sob direu de Diaghil cv. no Alhambra Theatre, Londres, 1919.
25. Projeto de cenrio de Euri co Pr.unpol iui: .. l rqu; l d llfll Mrtafiscn , 11)24.
1
Do Nat u ral is mo ao P re s e n t e
Na Itli a, o futuri smo co meou nas arte s
plsticas e con vert eu -se numa rejeio radi -
cai tradi o. F. T. Mar inetti preci sou em seu
Procl ama mI Teatro Futurista (Mani festo do
Teatro Futurista) (1915 ) as exigncias do fu-
turi smo em rel ao ce na . Os critrios para o
teatro do futur o deveri am ser a dinmica da
mquin a, a mecani zao da vi da, o princpi o
funcional do autmato. Para o atar, isso sig-
ni ficava um sta cca to de montages verbais
acusticamente co ndicionadas, um movimen-
lo de marionete elevado ao n vel acrobtico e
a reduo da prpri a pessoa a uma engrena-
gem bem azeit ada do "t ea tro sinttico" .
Tambm a cenografia h de ser dinmi-
ca. A cena deve tornar-se parte do ritmo do
movimento, de acordo com a Scenografia
Futurista de Enri cu Pr ampolini. Lger ado-
tou esse princpio at certo ponto. Em seus
desenhos para o bal La Cr ation du Monde
(A Criao do Mundo) ( 1923 ), havia algu-
mas sees planas na composio geomtri-
ca de cores fort es, co ncebi das para estar em
movimento co nstante. Co mo uma variante
tardia, temos o Figu rales Kabineu, de Oskar
Sc hlemmer, co nce bido par a uma banda de
jar; e desenh ado. em 1927, par a o Bauhaus
em Dessau.
Os expe rimen tos da era da mquina com
a nova forma encont raram express o efetiva na
nova arte do cinema. O pi ntor Robert Wiene
usou. em I'J19, em se u filme de horr or Das
Kahinett des Dr. Cali gari (O Gabinete do Dr.
Ca ligari), um cenrio expressionista, truques
de luz e reflexos de choque para sugerir as
vises de pesadel o de um a person alidade pa-
tologicament e cindida. Ren C1air, em seu pe-
qu eno film e Ent r'oct . tr ou xe mostra o
bru xul eante subco nsc iente de uma bailarina
acometida do medo de represent ar no palco
- um tributo ao Bal Sueco, para o qual a pe-
lcula pretendia servir, co mo seu nome suge-
re, de entr eato. Em Lc Sa ug d 'un Poete (O
Sangue de um Poet a), Jean Cocteau demons-
trou, num fant sti co pit or esco e intelectual, o
que poderia ser fei to co m o cinema como "um
documento reali st a de eve ntos irreais". Seu
uso s urrea lis ta da cmera foi mai s tarde
inesgotavelment e repeti do no Orp hee e, pos-
teri orment e, no Tcsta ntent d 'Orph c (Testa-
ment o de Orfeu).
Ma x Re i nh ardt : Ma g ia e
T clli c a
O sc ulo dos grandes diret or es co ntou
com um segundo trunfo alm de St ani sl vski:
Max Reinhardt. Ele tambm percorreu, em
suas co ncepes artsticas, os estilos mutant es
de sua poca. Reinhardt chamou a si mesmo,
ce rta vez, de "mediador entre o sonho e a rea-
lidade". Verdadeiro herdeiro do esprito do bar-
roco aust raco, gostava de abandonar-se, sem
reser vas, magia festiva do teatro. Era parte da
natureza de sua arte e de sua personalidade re-
co rre r generosamente a recur sos caros, espa-
lhar no palco todas as riquezas apreensveis
de atmosfera e cor, de expresso visual e inte-
lectual.
Por sua vez, o teatro naquele exato mo-
ment o foi equipado com os novos meios tcni-
cos, pelos quais metamorfoses at ento nunca
snspei tadas poderi am ser arrancadas do tosco
aparato tradicional da cenografia. Em 1896,
em Munique, Karl Lautenschl ger invent ara o
palco gira trio e assimcriara as co ndies pr-
ticas para realizar um vel ho sonho do teatro.
No Orie nte, o kabuki japons co nhecera j
outros predecessores , primitivos, e Leonardo
da Vinci, em Milo, havia const ru do um ce-
nrio girat rio em 1490; mas o palco giratrio
no se torn ou acess rio comum e pra ticvel
cio teatro at que Lautcnschlge r inventou a
plataforma giratria operada eletrica mente. O
ciclorama , iluminao multi colorida. horizonte
e m cpula e projet ores de efeitos completa-
vam o arsenal das novas possibilidades de
magia e Max Reinhardt tornou- se um mestre
em seu uso.
Ele supervisionou a reforma do Kleines
Th eater em Berlim em 1905, e suas instrues
nessa ocasio ilustram a importnci a dos di s-
positivos tcnicos para a arte dramtica do fu-
turo. O sistema de iluminao pre ci sava ter
"ricas possibil idades, de fato, cores e projeto-
res", Devi am substituir os cenrios, aos quais
Reinhardt quer ento renunciar. No imp ort a-
va o que acontecesse , o palco giratrio prec i-
sava ser construdo: "Eu atribu o a maior im-
port nci a possvel a este palco gi ratrio!"
Nada de bambolinas, "ess es farrapos de-
pi or vei s"; da mesma forma, Reinhardt no via
483
26. Pintura de cenrio de Oskar Schlemmer para D OII Juan e Faust de Chr. D. Grabbe, Nat ionaltheat er, Weimar, 1925.
Cena simultnea em Roma: esquerda. uma rua: direita. estdio de Fau sto no Avcntino.
27. Proi ctu de cenrio de Alexandra Extcr par" () Mercador fIe Hna n. 1927.
28. Cen rio de Eru i! Pirchan paru Gas. de Gcorg Kai scr . levado em 1928 no Schillertb cater, Berl im.
f
29 . Karl Lautenschlger: palco girat rio operado clctricameute. Usado rela primeira vez cm 1896. no Nationaltheater
de Munique.
1
Do N r n ru lsmo ao Prcs c n t e
utilidade no urdiment o: "O que ve m l de cima
est qu ase sempre podre". Seu ideal residia no
palc o giratrio , cujo cenrio tridimensi onal
para a pea toda deveria, se possvel , ser insta-
lado com antecedncia, tendo como abbada
um cu em cpula.
Max Reinhardt chegou a Berlim por Vie-
na, Bratislava e Salzburgo, ond e Otto Brahm
o viu no papel de Franz Moor e o convidou
para o Deut sches Thcater. Ali , el e est reou jun-
tamente com Josef Kain z, Agn es .Sorma e
Albe rt Ba ssermann. Mas o naturali smo fri o,
obj etivo e invarivel do protestante Otto Brahrn
no pod eria satisfazer Reinh ardt a longo pra -
zo. Ele queri a transformar as coisas. Procura-
va as outras possibilidades, mai s luxuri ant es,
mai s enfeiti adoras do teatro, a realidade mais
elevada e sensual, em vez de sua cpia profa-
nada.
O trampolim de Reinhardt foi o cabar li-
terrio. El e arriscou a sorte com um grupo de
jovens arti stas que se auto-intitulava "Schall
und Rau ch" ("So m e Fumaa" ) e co meo u a
atrair ateno desde 1901, primeirament e com
nmero s cm forma de esquet es curtos e logo
co m peas maiores. (Tudo se inici ou com um
espetculo beneficente para o poet a Chr istian
Morgenstcm, doente e incapaz de pagar por
sua permanncia num sanatrio suo.) Max
Reinhardt desvinculou-se de Brahm. O int r-
prete torn ou- se diretor, e dent ro de po ucos anos
o diretor tornou-se o mais apai xonado motor
artstico e o maior empresrio teatral de Berlim.
Novos proj et os, novos palco s, reco nstrues,
ampl ifica es para dimenses cada vez maio-
res. teatro de massa, arena, festivais - a conta-
giante energia de Max Reinhardt superava to-
dos os obstculos.
No final de fevereiro de 1903, ass umiu a
adminis trao e direo do Nenes Theater am
Sc hiffbauerdamm. Ali, o seu pice fo i uma
encenao picante e parodstica de Orph eaux
Enfers (Orfeu no Inferno) , de Offenhach, com
Alexander Moi ssi como Plut o-Ari steu c o
jovem Otto Klcmperer brandi ndo a batuta de
regente. No Kleines Theat er, na Unter dcn
Lind en , a modernizante sala do "Schall und
Rauch" , o sombrio e naturalista No Fundo, de
G rki, foi seguido por uma no menos natura-
lista j erie, o Sonho de lima Noite de Vero .
de Shakespea re, com rvores rea is num verde
tapete de grama, rvores atrs das quais a lua
nascia e sobre as quais as estrelas brilhavam
nas ab badas ce lestes . Em cena aberta, a flo-
resta girava, bem como o aposent o do carpin-
teir o e o pal cio. Reinhardt encen ou o Sonho
de Uma Noite de Vero aproximadamente uma
dzia de vezes, e se mpre de forma diferente -
sendo a lti ma vez em 1935, num filme em
Hollywood, juntament e com Wilhelm Dieterle
- mas nenhuma apresentao lhe trouxe mai s
fama do que a do palc o giratrio e das rvores
verda deiras de Berl im.
No ver o de 1905, Reinhardt transferiu-
se para a Schumann strasse como diretor admi-
nistrati vo do Deut sches Theater e, poucos me -
ses mai s tard e, co mprou-o de seu fundador,
Adolphe L' Arronge, o comedigrafo. Era o
mesmo local onde Reinhardt atuara sob a di-
rc o de Otto Brahm; um dos mais proemi-
nentes teatros al emes na poca, rec uperou
essa posio depois de 1945, quand o Gustav
Grndge ns, Paul Wegener e Horst Caspar pro-
porcionaram novo brilho ao nome Max Rei -
nhardt Deutsches Thea ter.
Aps ter reco nstrudo em 1906 uma sala
de dana vizi nha co nverte ndo-a no Kammer s-
piele, Rein hardt usou esses espaos menores
para peas de Sternheim, Wedekind , Ibsen e
Strindberg, enqua nto no teatro principal do-
minavam sobretudo os clssicos. Strindberg
veio em pessoa e ficou impressionado com a
atmosfera elegant e e ntima do Kammerspie le
e o estreito contat o entre a platia e o palco,
sem qualquer rampa que o prejudicasse. Em
1907, ele fund ou o Teat ro ntimo em Estocol -
mo, segundo o modelo de Reinhardt. Compor-
tava apenas cento e sessenta pessoas, c assi m
oferecia a garantia desej ada para as sutilezas e
nua nas psi col gi cas que, sob a direo de
August Falck, finalment e trouxeram sucesso il
Senhorita Jlia, tambm em Estocolmo.
Para Max Reinhardt , o Karnmerspiele era
simplesmente um acorde da orquestra de seus
planos - um acord e que sustentava com requin-
tada delicadeza, co nveniente a esse auditrio
que, co m seu revestimento escuro e cadeiras
confortveis, pareci a to particular quanto uma
sala de estar. Para a inaugurao, em 8 de no-
vembro de 1906, ele levou os Espectros, de
Ibseri , co m cenrios do pint or noruegu s
Edvard Munch .
48 7
Reinhardt tambm obteve os servios dos
pintores Max Slevogr, Lovis Co ri nth e. em
G CIl OVCI'lI. de Hebbcl, de Max Pechstein. Ernst
St ern , Csar Kle in e Emil Orli k co laboraram
com el e durante anos . Estabeleceu co ntato com
Edward Gord on Craig e envidou o se u lan e
autoconfia na para tran sformar em real idade
aquilo qu e Rom ain Roll and e Craig procl ama-
vam como o Teatro do Futuro: o espet culo
par a as ma ssas, es pao festi vo, de dimenses
cclssais, onde as multides se reuni riam como
haviam feit o na Anti gidade ou na pr aa do
mercado, na Idade Mdi a cris t.
Reinhardt alugo u o Zirkus Schumann,
com capacidade para ci nco mil pessoas, para
en cenar o dip o Rei , de Sfocl es, na nova
ada pta o de Hugo von Hofmann sthal. Altre d
Roller construiu para ele uma imponente es -
cadar ia, a fim de introduzir a tragd ia antiga
dentro da arena. Como coro, Reinhard t orga-
niz ou uma multido em moviment os monu-
ment ai s. El e assenhorou-se da arte da direo
de massa e conquistou o pbli co, primei ramen-
te co m o dipo Rei em 1910. c. um ano mai s
tarde, tambm no Circo Schumann, co m a
Orcstcia de squilo. No mesmo ano - em 191 1
- tran sformou o grande salo do Olyrnpia, em
Londres. numa catedral g tica , para u Mil a-
gre, de Karl Vollmller, Janel as com vitrais,
arcos og ivais e colunas, desenh ados por Ernst
Stern, mascaravam a auster a estrutura de ao e
banha vam toda a sala numa penumbra mgica.
O pb lico era inserido em uma atmosfera medie-
val m stica , para a qual a msica de Engelbert
Humperdinck tambm contribua.
Tent ati vas simi lares de reali zar Ulll teatro
de massa foram empreendidas pelo dir etor fran-
cs Firmin Gmi er no Cirque d'Hiver, em Pa-
ris. Ali ele produziu, em 1919, Oedipc. Roi dr
Th bes (dipo, Rei de Tebas), uma verso do
tema em pauta simbolista e reli giosa, de autor ia
de Saint -Ge orges de Bouhli er. O ce ngrafo
Emile Bertin, no entanto, recorreu aos modelos
romanos , em vez dos gregos, edilieando na are-
na elementos de arquitetura do circo no estilo
de Orange. A essa produo seguiu -se, em mar-
o de 1920 , La Grande Pastoralr (A Grande
Pastoral ), uma pea crist de Charles Hell em e
Pol d' Estoc, montada por Gasion 13aty.
Reinhardt porm foi ai nda mais longe. O
pbli co preci sava lomar part e no apenas ,I.:
488
H is t o ri n Mu ndi al d o Tcu t ro
modo pas si vo , mas ativa mente. E ele produziu
ento o seu famoso e not rio Danton , de Ro-
main Roll and. Foi no Grosses Schauspi elhaus
em Berlim, e m 1920. Se ntados entre o pbli -
co, mai s ou menos ce m atures lanavam aos
gritos sucessivos apartes dur ant e a asse mblia
revolu cion ri a, sa lta ndo da cadeira com ge s-
tos selvagens . Todo o imenso espao , trans-
formado por Han z Poel zig numa monstruosa
abbada de es talact ites, tr ansformou-se no Tri-
bunal.
" E ento, entrava Paul Wegen er co mo
Dant on, alt o, largo, ma cio; parava sob uma
luz brilhante, na rampa da tribuna gradeada ,
que avana va d iante do palco efeti vo, at as
pr ime iras fileiras" , re lata Paul Fechter. Ele es-
tava entre o s pouco s di sp ost os a admirar
Reinhardt tambm nest a encruzilhada crtica.
em 1920. A platia co nse rvadora interps seu
veto. O "teatro tot al ", qu e menos de meio s-
culo mais tarde se torno u a divi sa comum de
todos os experimentador es, nasceu na Alema-
nha com o grandiuso fracasso de Max Reinhardt
no Gro sses Schauspi elh aus. em Berlim.
Em outubro de 1920, Reinhardt retirou-se
da administra o do De utsches Th eat cr (seu
velho co laborador, Feli x Holl aend er. o subs ti-
tuiu por doi s anos) e foi para Viena. No outo-
no e no inverno de 1922 e 1923, encenou al -
gumas peas no Wi encr Redout ensaal e no
Dcut sches Vulkstheate r c, em 1924. assumiu a
di reo do Th eat er in der Josefst adt. inaugu-
rando-o em I" de abril, com O Servidorde Dois
Amos , de Guldo ni - a declarao de amor de
Reinhardt Conunedia dcllane. uma de cl a-
rao que el e nunca se ca nsou de repelir, em
muitas variantes.
Reinhardt conside rava a mais simples for -
ma de encenao Io desafi adora qu anto a mai s
ela borada. Re iter ad ament e reexaminou e ps
prova a ex te nso de seus poderes criativos.
Julgava tent ador enve redar por trilhas no pal-
milhadas, jogar se u feiti o metamorfoseador
sobre comediantes que no conhec ia. Em 1929,
recebeu os primei ros parti cip antes de seu se-
minr io sobre int erpret ao e dire o no
Schnbunner Schl ossth eat er em Viena, com
estas palavras: "No o mund o da aparnc ia
este que vocs ade ntra m hoj e; o mundo do
ser" . Aq ui, em poucas palavras, cxt.i a prpria
f de Reinhardt na ve rdade superior do teat ro.
1
30. Espectros, de Ihscn. encenado por Max Reinhardt para a inaugurao do Kammc rspiele de Berli m, cm 8 de novcm-
bro de 1906 . Ce nr io de Ed ward Munch (Ba sil ia. Ku nsthallc).
3 1. Max Rc inhard r 1Il1l11 en-aio do f :i li po Rei, de Sfoc les . I. irl\us S...humanu. Berlim. 19 10 {aqua rela de Emil Orfik l.
32. Encena o de Reinhardt no Olympia lIall , Londres, 191 I: O Milagre , de Karl Vollm ller. co m msica de Engetbert
Humperdinck: di spo sio c nica e cenrios de Ernst Stern . Desenho de J. Duncan (Londres, Vict ori a and Albert Museum),
33. O "t ea tro total" de Rcinhardt no Grossos Schauspielhaus, Berlim, 1920: Danton , de Romain Rolland. com Paul
weneger no papel- ttulo. Desenho de Ernst Stern.
34. A Mort e de Danton, de Geo rg Bchner , ence nado por Ma x Reinhardt no Karnmerspiele de Muniq ue, t 929: V.
Sokoloff co mo Robespierre. Desenho de Peter Trumm.
Max Reinhardt no se agarrou exclusiva-
mente nem a formas estilsticas particulares,
nem a autores particulares. Ele apresentou
Ludwig Thoma e Ludwig Anzengruber a
Berlim. Criou espao para os expressionistas
pacifistas nas matnes de domingo do
Deutsches Theater e em seu peridico Das
Iunge Deutschland (A Jovem Alemanha).
Amava Shakespeare, Hebbel e Kleist, e captu-
rou um reflexo do teatro do longnquo Oriente
com uma montagem de Sumurun, no Kam-
merspiele de Berlim, em 1910, na qual o atar
principal fazia sua entrada numa passarela de
flores que ia at o alto da platia, como no
kabuki japons.
Em 16 de junho de 1933, Max Reinhardt
escreveu o que talvez seja a mais comovente
carta jamais escrita por um homem de teatro
bem-sucedido, depois de voltar as costas a um
regime totalitrio. Os nazistas haviam expro-
priado seus teatros, cuja administrao ele en-
tregara, em 1931, a Rudolf Beer e Karl Heinz
Martin. Agora, Reinhardt reconhecia formal-
mente a situao:
Com esses teatros eu perco 11<10 a p ~ n a s os frutos de
trinta e sete anos de trabalho, mas tambm o solo que
cultivei durante toda a minha vida c no qual cresci. Perdi
minha casa ... Mas visto que o fiar do Estado criou uma
situao em que j no h mais nenhum lugar apropriado
para o meu trabalho, e visto que, desse modo. se tornou
impossvel para mim continuar cuidando da obra da mi-
nha vida. e cumprir as obrigaes a ela ligadas, preciso
que eu encare como natural dcixar todo este trabalho ao
Estado.. Alm de preencher sua principal tarefa. a de
manter suas portas abertas as correntes vivas do tempo, e
trazer luz as obras dramticas nacionais, o Deutschcs
Thearer adquiriu uma reputao Internacional incompa-
rvel, por numerosos cspetaculos que foi convidado a
apresentar em todas as grandes capitais do mundo ... ;\
satisfao de ter dado o melhor de mim, ao contribuir
para este resultado, modera a amargura do meu adeus.
Reinhardt enviou cpias desta carta a
muitos rgos do governo em Berlim. Nenhum
deles respondeu.
A Idia do Festival
O nome de Max Reinhardt est associado
no apenas a Berlim e Viena, mas tambm a
Salzburgo, a cidade de sua primeira infncia e
a cidade do Festival. Desde I'103vinha alimen-
tando a idia de converter Salzburgo em palco
492
H str a MUlldial do Tc cu ro
de um grande evento festivo. Era uma cidade
bonita, intelectual e alegre, e a combinao de
um ambiente natural encantador com uma es-
plndida arquitetura, numa localizao to con-
veniente, lhe parecia ideal para um centro de
peregrinao artstica. Sob o signo de Mozart,
ele pretendia recuperar para o teatro o "espri-
to festivo e alegre, a singularidade" que " a
marca de toda arte, e que o teatro da Antigi-
dade possua".
Hugo von Hofmannsthal apoiava essa
idia. Reinhardt escreveu cartas insistentes para
despertar o interesse cultural e econmico dos
edis de Salzburgo. Finalmente, no vero de
1920, tudo estava organizado, e o primeiro fes-
tival, estruturado. Em 22 de agosto, o chama-
do de Evervman (Todo Mundo) foi ouvido pela
primeira vez na praa diante da catedral bar-
roca, e a fortaleza de Hohensalzburg repercu-
tiu o eco. Reinhardt convocara suas melhores
foras para representar a verso do mistrio
tardo-medieval reescrito por Hofmannsthal.
Alexander Moissi interpretava Todo Mundo,
Wilhelm Dieterle, o Bom Companheiro,
Heinrich George era Mamon, Werner Krauss,
a Morte e o Demnio, Hedwig Blcibtreu, a F,
Johanna Terwin, o Amor Sensual e Helene
Thimig, esposa de Reinhardt, as Obras de
Deus. Salzburgo guardou essa primeira ence-
nao do Festival como nm legado. Nos anos
60, quase meio sculo mais tarde, ela ainda
era um dos esteios sacrossantos dos progra-
mas - com freqentes mudanas na distribuio
dos papis, mas piedosamente preservada no
estilo.
Dois anos depois de Jedermann (Todo
Mundo), em 1922, Reinhardt montou Das
Salzburger Grof3e Welttheater (O Grande Tea-
tro do Mundo de Salzburgo), a pea barroca re-
ligiosa de Hofmannsthal, baseada em Caldcrn.
Ele a encenou numa igreja, a Kollegienkirche.
Tudo o que tivera de conjurar em austeros sa-
les solenes, para o Milagre, de Volmiiller, a
atmosfera de um espao sagrado, estava pronto
ali, para ele. Reinhardt submeteu-se majesto-
sa arquitetura de Fischer von Erlach. Escolheu
dossis estilizados e painis de tecido verme-
lho brilhante como nicos complemcntos fria
alvura dos plintos, colunas e pilastras.
O mais importante, porm, foi o ano de
I'122 para o estabelecimento do futuro peso
35. Jedennann, de Hugo von Hofmannsthal, na praa da Catedral em Salzburg, 1920. A montagem de Reinhardt abriu
o festival de Salzburg, que ele criou juntamente com Hofmannsthal.
36. Das Satzburgcr grasse Weluhealer, de Hugo
von Hofmannsthal ; levada pela primeira vez cm
Salzburg, em 1922, na Koltcgicnkirche. foi rcence
nada em 1925 no Festspiclhaus: palco com cenrio
de baldaquino gtico.
mu sical do Festival de Sa lzburg o. Pel a primeira
vez , quatro peras de Mozart figuravam no pro-
grama, cada uma de las com quat ro apresenta-
es: 0 0 11 Giovanni . Cosi Fali lili/I' , As Bodas
de Figaro e O Rapto do Serralho, (Salzburgo
conhec ia festi vais de m si ca com obras de
Mozart desde 1877. ) Era o co meo de uma
mu dana em favor da pe ra, reforad a pela
constru o da casa de espetc ulos do Festival
e s ua ampliao. em 1926, por Cle mens
Hol z me ister. Entre os mae s tr o s es tavam
Richard St ra uss, Art uro Toscanini , Bruno
Walter, Clemens Krauss e Wilhelm Furt wngler,
Os papis princip ais eram cantados por astros
de Viena , Mi lo e Nova York. No es pao pito-
resco da Fclscnreitsclnde, ant iga escola de
equita o , acomoda vam-se pe ra e drama.
or atrio e bal. O velho tcat ro tornou-se mui-
to peq ueno para a caudal de visitantes. Clemens
Holzmeister desenhou um no vo e ult ramoder-
no edifc io. profundamente incrustado nas ro-
chas de Mnchsberg. Su a in augurao, em
1960 . tamb m deu in cio ii era Karaja n, rica
em rea lizaes art isticas e reveses admini stra-
tivos, o que tro uxe uma nova mudana. em
1968, com o Festival da Pscoa, ideal izado e
largamen te custeado por Herbert von Karajan.
J untamen te com Bayreu th. Munique e
Vien a, Salzbu rgo forma o ncl eo do festival
de m sica de vero da Europ a. sua volta
ag rupa-se a inahrangivc l mu ltid o dos ma is
dive rsos tipos dc festi vai s locais. Se us nomes
so leg io. e atrae m art istas de renome inter-
nacion al. Para mencionar al gun s exemplos, h
o Fe sti va l da Ho l a nd a . e m Ams terd: "
Festwochen, de Berlim: o Maggio Musicalc,
em Florena: o Musical, cm Bordeaux: o Fes-
tival de Musique. em Aix- en -Pro vence: o Fes-
tival Gulbenkia n de M s ica , em Portugal : o
Intern at ional Fest ival, em Edi mburgh: o Festi-
val Noru egus, em Bergen: as se ma nas doTea-
tro Naciona l Finlands , cm Hel sinque - e os
fest ivai s de At enas. Epidau ro. Avig uon e
Stratford-ou-Avon. predominantemente dedi-
cados ao drama. Alm disso. h todos OS espe-
t culos de vero que acont ecem nas runas de
ruonast rios. co nventos e teat ros ao ar livre,
que ten tam manter-se ii margem da competio
do grande festival. Alguns no tm mui to mais
a oferecer alm do pitoresco cenrio natural
que Rein hurdt, or iginariamentl' . buscou - isto
494
H sur ri u Al u n d i (l l d o Tcu t rn
. e sto fora do al voroo da metrpole. Mas,
no importa se co m es foros prodigi osos ou
modestos. todos possuem sua jusrifi e.uiva e seu
mrito, na med ida em que sua preocupa o
com o teat ro e no co m o mero turi s mo.
Par a completar o qu adro. ca be menci o-
nar as pea s e os co rtej os loca is, os gra ndio-
sos es peuiculos, to difundi dos es pe cialmen-
te na Sua, desde os ludos de Tcll ao ar li vre .
em Altdorf ou Int erlaken, ii tradici onal fest a
dos tab erneiros de Vevey, com mi lhares de pes-
soas tomando part e nas proci sses e esp e-
t cul os.
o TEAT RO ENGAJADO
Rssia So vi t i ca : O .. Ou t u b r o
Teatral"
Com a Revolu o Russa, o teatro assistiu
a uma rupt ur a das mai s elementares, radicais
e dura douras com a tradio. Nos anos imedia-
tamente posteriores a 1917, uma vio lenta pr es-
so fo i ex ercida para lev -l o ii mohi liza o po-
ltica. A Revolu o ce lebrava a si mes ma e a
disse mi nao dos ideais comunistas. Comcios
giga ntescos . comcoros falados c cane s. com
proclamaes ribombantes de tanques e armas.
era m teat ra lmen tc armados - me io fe xri val
po pu lar. meio represema de .uu adorc .... . Gru-
I Hh especialmente treinados pura a (/gir/no!]
, "prOptlga nda de agitao" : e ge nte de teat ro
com exper incia assumi am a organizao dos
eve ntos de massa diretameute pat ro c in ad os
pe las aut oridades do Parti do Centra l nas capi-
tais - c tamb m dos no menos estri rumcnte
contro lados "eventos impro visados" no pa s
todo. Por essa poca. I\lei erho ld declarou q ue
o objet ivo do teatr o no era "a pres entar uma
obra de arte aca bada . ma s. antes. to rn ar o es-
pectador co -criador do drama" .
"Devemos represent ar o esprito do povo".
escreveu Vakht ngov em 1918. "c m tod"s os
atos a prpri a massa que atua.. I ~ cla quc
as salta os ob suicul os e os vence. Ela triunfa.
Enterra se us mort os. Canta a cano mundi al
da liberdad e" .
Um das mais imponen tes re a li zn c s de
massa do p<;, rodo foi A Tr'" /l1 d" do Pi/lci o de
Inverno. en ce nado c m Pet rogrado. em 7 de
novembro de 19 20. como uma celebrao dra-
mti ca e teatr al do s evento- hi stricos da Re-
volu o em seu te rce iro anive rs rio . Houve
salvas de canho , fa nfarras e holofotes; uma
plataforma branca e outra vermel ha eram uti-
lizadas como palcos para a apresemao dos
czaris tas esma gados e dos bolcheviqu es vito-
riosos; hou ve fogo de art ilha ria. e o assalto ao
palcio. Exibia-se uma estr ela sovitica gran-
de e verme lha - e toda a asse mblia ca ntava a
l nternaci onal, enqua nto fogos de art ifcio con-
cluam esse enorme espet culo ao ar livre. O
evento foi dirigid o por Ni ko lai Ev re inov, ii cuj a
di spos io havia ce rca de quinze mil part ici -
pa ntes, um e le nco formado por soldados do
Exrc ito Vermel ho e po r atores. Conta-se qu e
o nmero de es pe cta dores beiro u os cem mil.
"Teatra lizao da vida " _. era como Evreinov
descrevia estas fest as - espet.iculos de massa,
para os quai s os feriados do calendrio ver-
melho of ereci am, anualme nte, repet idas opor-
t unidade s.
O mesmo 1/ /11110 reg ia o tra balho dos trs
mai s import ant es eucc nndo res de teat ro da Re-
voluo. qu e cana liza ram a caudal supera-
bundante dos eventos de massa nas dim ens es
mais limitadas do d rama: Mei erho ld. Vakht n-
gov e Ta rov. Todos eles procediam do Teatro
de Arte de Moscou e da tradio do humani smo
hurgu i' s de Stanis lvski .
No-, p ~ ! l c n s impcrini de S;ill Petersbur go.
Mcicrh old comeuraIog :1J].... " virud.: do s -
culo. a de se nvo lver um esti lo prpri o de van-
gu arda. j untamente co m a atriz Vera Kommi-
sarjevs kuia. EIH vez da hanuo ni za o sensvel
al mcj ada por Stuni- Livs ki. Mcic rhol d es tabe-
leccu () domnio da razo. Cada moviment o.
cada gesto, era cons ide rado por ele como pro -
dut o de c lculo nuucm.it ico pre ci so: eles ad -
qu iriam si gn ificad o xi mb l ico, nos termos de
sua "bi oruecui ca" - re mi nisce nte do teat ro da
Asia Ori ental e dos "e feitos de di st anciamen-
to" de Brecht.
Meierhol d ap re sento u se u mtodo em
1918. quando encenou em Pctrogrado O Mis-
tcrio Buto. de Vladui r Maiuk vski. e em 1922,
na Terra Revolta. de Serguei Tretiakov. Ele usou
projc o de filmes. j a:': e concertina. acelerou
" ritmo das mq ui nas. de motor es e roda s em
movi ment o; mont ou es uutura-, de meta l co mo
cenrio, ps ti gur antes a correr a tod a a velo-
cidade ao longo da s primei ras fil eiras da pla-
t ia di sposta s em cena, f- los escalar and ai-
me s e esc o r rega r po r e sc adas de co rd a .
Mei erhold varreu os lti mos ves tgios do tea-
t ro bur gus; no estava preocup ad o co m a at-
mosfera , mas co m a ag itao propagandstica.
Como uma reproduo da Revolu o no
palco, e le concl uiu a pea sobre a Guerra Mu n-
di al, Terra Revolta. de Tretiakov, com uma cena
na qual os soldado s do Exrcito Ver melho to-
mavam de assalto o palco, o aud itrio e ofoyer ,
ar voravam bandeiras verme lhas e entoavam a
Int ernacional. Em Berra, Chino , de Tretiakov,
Mei erhold sublinho u o co nfl ito ideol gico
entre cules e colonizadores, fa ze ndo os eur o-
peus usarem mscaras e co mpor tarem-se como
nu ma op ereta. em provocativo co ntra ste co m
o reali s mo da misria dos trabalhadores. Para
efe itos de pura pantomima, acrobacia ou clow-
ning, Mei erhold vestia seus atores com ma ca -
c es-uni formes: roupas prosaicas de trab alho
como co rres pondncia conseqente ao palc o
operrio de spido de ilusio nismo . Nada deve-
ria di st ra ir a aten o. nem adornar a a o " bio-
mec nica" no auste ro ce nrio de pl ataformas
girat rias . alapes. guindas tes c cordames.
O antiilusionismo de Me ierhold no co-
nheci a limites. l ri Elagi n, teste munha visua l
da Revoluo no teatro russo . conta, em seu
Iivro A D OI II C.Hi l"l/ ( iio das Artcs ( I ':J51 ), que
ele IH IIl Cil chegara a Ve L subsc qu eutemc nte. Il OS
pulcox da Euro pa e Amri ca. qua lquer 'Irt if-
c io c nico que Mei erh old j, no tivesse usa-
do. Isto. acr escentava ele. aplicava-se no ape-
nas aus anos posteri ores a 19 17, ma s tambm
aos ex peri me ntos anteriores de Meierhold com
u teat ro " mstico" de Ma ete rl inck. ao s conta-
tos es ti l s ticos co m o Mnch ner Knstler-
theuter, co m Max Reinhardt em Berl im, COIll
as peas de ma rionetes e bonecos (cujo inter-
naci on almente conheci do me stre r usso fo i
Serguei Obratsov , um homem de mui ta int eli-
gncia e se ns ibilidade ) e, sobretudo, com a
Conu ncdia dell 'urte, cujas tcnicas Meierhold
escolhera em 1912-1913 como matria de es-
tud o, nos seus est dios ele ensino.
D i/ III(/I/ , a turbulenta mont agem de 1920.
de Max Reinhardt no Grosse s Schauspi c lhau s
de Berl im, parece muit o men os isol ada e ni-
ca quando vista 110 co ntex to do teatro revo lu-
ir
.. .,
ft;. ..,..-
...
'\7, Pano do fundo da momac cm de Mcic rho ld para a Terra N"""/I<I d,' Se,gei Trc tyckov. Leningrado. 1923.
,X . Cl.n;rio com I,." l.;lda \'m l:-piral. da f\k l\'lhold para a :\ ,,""11I .'.\'10. l k :\ k \ .mder OSIlO\...l\y.
I\ l tlsn Hl. 19,2.. 1. t\ 1:lqUl.' ll' de F.....O(llI l o\'.
mado pel o consuurivismo e pela mani a de im-
provisao de Mci erhold. Mas sua encena o
mais af ama da . e mais pe ssoa l. foi a de Prince-
sa Turat ulot, de Cario GoLZi . cm 1922_no Ter-
ceiro Est dio do Teat ro de Arte de Moscou .
que logo e m seguida foi rebatizado de Tea tro
Vaklungov. Vaklu ngov, j sob a sombra da
mort e, mais uma vez invo cou no palco toda a
magi a do Inundo das fadas. o encanto c a gra-
a ga lhofeira das marioneles. Os int rpret es
entra vam em cena em fr aqu e e ves tido de noi -
te. e. com a aj uda de alguma s pouca s fazendas
co lorida s, tr an sfor mavam-se em e ncantadoras
chinoisrrics im provi sadas. Acalen tada pe la
msic a de Si sov, e domi nada pelo Tartaglia do
j ovem Boris Stschuki n, numa arma o me io
onri ca, mei o nntii lusionista, a fbula decorria
no seu curso como um relgio de car rilho .
Precisament e os ato res que nada tinham a fa -
zer no momento mi st uravam-se com o pbli-
co das primeiras file iras. co mentavam o espe-
taculo com piadas improvisada s e punham em
prtica o princ pio a que Vakht ngov .ixpuav:
"Lembreru os es pec tadores. ma is de uma vez
no cl ma x da a o dram tica. que islo um "
pea. e no a rea lidade , qu e no deve se r leva -
da a s rio, J1'li:-. o h.. -atro no viela".
Tairov. o te rceiro dos grandes dirc tore s do
Ou tubro teatra l. desen vol veu uma /' 111'1 pour
ror! ("a arte pe la arte") rigoro:,anH: nl t? racio-
n:dil ada. Er;1um de cstritu uhedillcia ;1
1'01"111;\ C que dl."i ,utl urra-u u. nem pt' I :1
tempestad,' ti ;, Re \'\ 11ll<;'1I 1. p;,ra alem d" s fro n-
tei ras do re. uro. em q Ut' a 1,<'"lida d,' sohre puja
c II tea tro .... ( 1. Como exemplo. Ta uov L'ila a
histri ca rc pu-se nta o da pera l .a A11/1'1il' d I'
Ponici, dl' Auhcr. qu e t' llI I X30. l' 1I1 Bru xe la.
deli \) si nal p;lra a rl' lwli;-IO do po,'o helga.
",-\qui. o te. uro desempe nhou o r,'q ui lltado "
nobre pape l d" tochu qu c ateo u o da Re vo-
l uo, mus o l'spctculu fui com i SSIl i ui crrom-
pido. r\ pul s" <J ' o do se ruirue nto de unidade qUl'
despertou no tc.u ro ace nde u a Rcvoluo. mas
extinguiu a a\ 'u teatral:'
:\ cOIlSl'qiicllcia de sse disc eruimcnto eh.i -
mava-se. par" Tnrov. do teatro"
Ele LJlIl' () atol' igll alIncntc
bem todos os Inciu....; de l'.\pJ\' ssD. No
de i\ hhL' Ull . li 111 l ;lIru di rig ido
por Tar ",' dc 1') 14 em di " nte. o l' it'nco prt' ci-
s" estar apto a ;,Iuar. , ';lnl" r l' dan <;a r. lida r colll
c ion.ri o russo. O paral elo bastuutc pr xu no
tant o no tema qu anto no esti lo. /\ escolha por
um tema da Revol uo Fra ncesa no caso de
Reinhard t explica -se pel a situao polti ca . O
fat o de ter escolh ido para seu teatro de massa s
no ti Mort e de Dunt on , de Bchner, ma s
Danton, de Romain Roll and - que advogou o
espetculo popular organizado - . confirma I I
quant o Reinhardt est ava prxi mo de Meier-
hold. A linh a pode ser estendida mai s adiante
pass an d o pel as mont agen s berl in e nses d e
Pi sca tor durant e os anos 20, e alm. por exem-
plo. at a ence nao de Orson Welles de Julius
Cesar , e m 19 37 no Me rc ur y Theater. na
Broadway. Os romanos de Shakes peare surgi-
am em roupas feit as modernas. Orson Welles
int erpr et ava Brutus. O palco no tinha cen -
rio. No te xt o livremente ada ptado. O cr tico
Burns Mantle. de Nova York, detect ou alguma
co isa re miniscente de uma cons pi rao contra
um ditador do tipo Mussolini .
No s anos 30. Mci erh old permitiu-se uma
"re cada em imit aes burguesas" . Enquanto
as idias de seu teatro de agitao poltica eram
avid amente absor vidas onde quer que hou vesse
llH1Hl ItO . ele pagava. agora. seu tributo ao tca-
tro de il us o. Levo u ri D alila das ClI IIH' /ias , de
Du mas/i/s. num cenrio sutil e ntimo. Marguc-
ri te Gaut hier, interpretada por Zi naid a Raikh .
amava c sofria entre mnhlia de: mogno
no. valiosa por celana de S<' \'I <' s fnt'lll 'es
cort in: e- de veludo. Mcierhokl explicou qUl' ;rs
belas untigidude irradi avam um ambi,' ulC
qu e. ele esper ava. pudesse enobrece i a -euxi -
hilidadc do s .uo res. Estuvu d,' vo lta a(l Ici n(l
de Sranishivs ki. com ntuse pri nuui u num ex-
tilo d inm ico diferenciado.
lmprovi sao e perfe i o cr.un os
plos en tre os quai s se mo vimen tava 1;lIub0nl
o trabalh o de outro diret or russo desta poca,
Evgtutcni Vakhtngov. Co mo UUI dus ruem-
hros e. a partir de 1916. cab e a do Primeiro
Estdio do Teatro de Art e de Moscou. ele ha-
via tomado partc em ce r ta s cx pe ri nci us
suge ridas por Maxim Gorki . entre elas a qu e
pr et end ia reviver a no o da C OII/III I' I/i(l
dellurt segundo a qual os alores t0m lima
funo criatiya c d l' \ 'l'lll "dar fl 1l111<1 lh \w\'as"
enqua nto "I ua m. Eru I <J I X. \ "hhl;,ng",
nizotl lll ll grupo tL'lIlporarialll l' ll h..' I.:onhcl:ido
como Te"lro Popul" , de An ,. t' I; se' ' iu lo-
t -
,
r
:?
,
,'
(
: ",.,
l -
39. Model o cuico para a encenao de Vakh rngov. cm 1921. de Princesa Turundot, de Gozzi , no Te,fceira do
Teatro de Arte de Moscou. que logo cm seguida passou a se chamar Teatro Vakht ngov. Esboo de Vakht ngov c Niviusky.
40 . Modelo cn ico para a prod uo UL: A. Y. Tau'ov.....111 1924, de () Macaco Cabeludo. de Eugcllc O 'Neill. no Kamcmy
de Moscou. funda do por Tairov cm 191.. L como teatro expe rimental.
0 0 Nct t u ru iv mo ci O Prvv cn t e
4 1. Pm ll oll/;/I1(' {'\}lagl/ o/c. COIl"l rtli.;:IOCl-niC I de Ale -
xandra E \II.. ' 1" para () Kamcrny de Tairo v. i\tO-,c-ou. 192.
situaes de so lenidade litrgi ca e de varieda -
de excntrica . exibir alma e fogos de artifcio.
cobia brutal e fant asia eni gm tica. Este o
program a visado pelo ttul o de seu livro O Tea-
tro Desacorrentado, qu e se tomou o rtulo do
Outubro teatral .
Tarov era um ence na dor decl ar ad am ent e
lit erri o. El e inaugurou o Teatro Kamerny de
Moscou com Shakuutala, de Kalidasa, fas ci -
nad o pel o velho drama hindu. como o fora
Lu gn-P oe em Par is. que na mon tagem de
1895 de Le Chariot de Torr e Cuitc (A Carroa
de Barro) contou com os cen rios des enha do s
por Tou lou se-Lautrec. Taro v utilizou a Co-
IIlI1ICd o de ll 'ane co m peas de Goldoni, e
como sua primeira montag em ps-revolucio-
nria esco lheu um a arl equinada fanl sl icn.
baseada na Prin t cssi n Braiubi t l a ( Pr incesa
Br ambill a). de E. T. A. Hoftmann. En cen ou
Cl audel e descobriu nos prirn ciros dramas de
O' Nei ll no apenas crtica social. ma s a confu-
so ps icol g ica do modern o sentime nto de mu n-
do , que lhe deu oportunidade de pr prova o
conce ito e o efe ito de seu Ge sto de Em oo.
Em co ntras te com o teat ro "proletrio" da-
qu ela poca. o Teatro Kamerny de Taro v per -
ten cia ao mbi to do pa lco "acadmico" . Nele
tambm se inseriram. enlJuanro insrituie his-
tr icas. a pera do Bol shoi , o Teatro ;\ lal y. o
Teatro Korsch, que fora co nstrudo pelo pa tron o
de arte Bakhrushi n, e o Teatro de Arte de Mos-
cou de Stanisl vxk]. Como expoe nte do lado
oposto estava o "palco da cultura proletria" . do
Prol etkul t, de Sergei Ein sen stcin, com se u ex-
cnt rico e acrobti co es tilo de 11m teatro "emo-
c iona lmente saturado": " O gesto int en sif ica-
do em gin stica, a fria expre ssa por um a pi-
ru et a , a exc ita o, por UIII snlto nt ortalc",
Einsen stein admiti a que ess as tend uc ias , apli-
cadas di reta e literalment e. no cnco nrrnvam
logi camente seu caminho no drama , mas "tor -
navam-se co nhecidas por meio da buf oneria.
exc entricida de e da Mon tagem de Atraes".
ist o , de mimeros circe ns es. Elas se ligavam
aos sl ogans de Mei erhold e de Ta rov: da emo -
o ii mquina, da superexcua ao truque,
do palco ii arena do circo . Einsen st ein re nun-
ciou a ist o mai s ta rde e seguiu se u prprio ca -
minho . No cinema, el e encont rou um meio de
cuja din mi ca formal e visua l obteve ob ras -
primas, como o se u Ell col/l'{/\,lIdo Potcrnkin,
de 1925. Por meio de co rtes de efeito e monta-
ge m. Ein scn st ein conse guiu, em seus filmes .
uma potencial iza o da s ce nas de ma ssa e do
detalhe. um rompiment o das dimens es cos -
tume iras, que o palco j amais lhe poss ibita ria .
Pi scu t o r c o Teat ro Pol it ic o
A Revoluo Russa tentou esta belecer um
novo princpi o qu e uniri a todos os povos. O
prolctu riado e mu itos intel ectu ais e uro pe us
co m () de uma xoc ieda-
de sem c l;\sse s e sem Estad o. "A Rlssi ;\ o
rochedo qu e prop agar a onda da Revol uo
Muudia!" . escreveu Erwin Piscator em 191
'
).
em se u manitcst o ende reado aos trab alh ado-
rc-, de Berlim. conc lnmando :\ cria o de um
"Teatro Pro let rio" . Foi em Berl im. no Ri u
Spree, qu e as rajadas vinda s de Moscou so-
praram mais violent amente. Pi scut or utili zou -
as para um tea tro de agitao. O obj ctivo de
seu cmpree ndiiuento no era produzir arte. ma s
prop aganda efe t iva , para co nquistar as massa s
aind,\ politi caml'nte hes itant es e indi ferent es.
As salas e pr dios usado s para as assemb l ia,
110 di stri to operrio de Berlim eram seu c. un-
po de a o. As ma ss as deveriam ser atingi das
J;i ondt- mora v.un . como lia Rlb sia . pel os gru -
po s da ag i l/} m! } teatral. Palcos nu seni vei s. ce -
miri ns primiti vo s. fumaa de ta baco e vapo r
de cerveja seri am sobrepujados pelo lllpclo
da proposta. O "te atro prolet rio" de l' iscalOl
era um instrumento da lut a de classes. Diri-
gia-se int eli gncia do s espectadores co m ar-
gume nta o pol tica. econ mica e social. Sua
proposta era pedaggica. co mo seria mais tar-
de a de Brc cht . El a se chamava neste caso:
sucesso de propaganda .
Para as elei es parl amentare s de 1924.
Piscator, a pedido do Partido. mont ou a Rcvu e
Roter Rumn iel (Revista do Barulho Vermelho) .
com textos de sua autoria e de seu futuro cola-
borador. Ga sbarra. " Mui ta coisa foi re unida de
maneira crua, o texto era basta nte desp rete n-
sioso. ma s foi justament e isto que permitiu a
inter cala o. at o ltimo momento da atuali-
dade ", re le mbra Piscator em seu li vro Das
Politischc Theat er (O Teatro Pol lico) ( 1929 );
"e ns us vamos indi scriminadament e todos
os meios poss veis: msica. cane s. acro ba-
cias. caricaturas rap idnmeme esboadas , espor-
te, imagen s proj etadas, filmes. estatstica. ce-
nas interpretadas. di scursos" .
A tcni ca de Piscator, livre de co nsidera-
es estruturais, de martelar o lcitnuniv polui-
co constanteme nte repelido co m uma saraiva-
da de exemplos. era conhec ida como "ao
diret a". palavra muit o em voga na poca. A
que bra provocat iva da forma dr amtica bur -
guesa havia co meado ames em Berl im. com
os es peuic ulos dadastas e sua algazar ra. des-
cr ita po r Pi scat or como Klunu mt: (" harulh o
ensurdece dor" l .
Na Frana da mesma pocu . Antoni n
Arraud pro cl ama va uma teoria do teauo eu-
qua nto "ao" pur a e simpl es - no mab a ilus-
tra o de um te xto literrio, mas "forj ado 110
palco". O con ce ito de Art aud de Tlu' trctil' 1(/
Cl'llall r como do " tea tro da cr ucldade" tem
sido mui to ma l interpret ado; ele signili ca ba-
sicamente algo bem di ver so: o uso irrestr ito
de todos os mei os teat rai s. ent rega ndo o palc o
a um vi tali smo eruptivo que tra nsforma a ao
cnica num foco de inquieta,'o con tag ioso e
ao mesmo tempo curativo. Os d ei tos. C<1l 11os
quais :\ naud arguI11cllt;.l\'U. os mcslnos
de Piscalor.
AIfred Ker r. o advogado do diaho entre
os crtico s d,' tea tro alemes. ,' scrcvcu. j;'r em
1910: " No futuro . mu il(h dr am." pod,' r;ro se r
ape nas UIlI pret exto p:rra o drama (no "e1ho
500
sentido) 1".J mas, na ver dade. um jornal com
pap i s dranuiticos di stribu dos".
No apenas o teat ro de Pi scator e o da
Rev oluo Russ a empenharam-se nesta linha.
Po r vo lta de 1935, uma forma de reportagem
cnica de atualidades, chamada Li ving News -
papcr, desenvolveu -se t.nnb rn nos EUA e por
volta dos anos 60. o "j omal vivo". snb a forma
de pea-document rio. conquistou inegvel
s ignificao interna cional. ai nd a qu e envolta
em veemente debate .
Em 1925. Piscator met eu-se em proble-
mas com as autoridades por causa de seu dra -
ma-docume nt rio de ma ssa Trot ; alledc m
(Apes ar de Tudo). O ttulo provinha de um
reparo de Karl Li cb ckncch t ap s o es ma ga-
men te da rebeli o esp.maq uis ta. John Heart-
field encarregou -se da montagem c nica de di s-
cursos imp ressos, arti gos. recort es de j ornal.
ma nifestos. folhetos. fotografias e filmes, di -
logos imp ressos. entre per so nagens histr icas
e cenrios ar ranj ados . t\ represe ntao de u-se
no Grosses Sc haus piclhaus de Ber lim. onde
Max Reinhard t ha vi a ence nado o se u es peta-
cular Danton em 19 20 ," per dido tantas simpa-
tia s en tre uma larga falia da pla tia de teatro
convencional. Piscator pe rce beu. com satisfa -
o. qu e a ativao das massas cu-atuantes co n-
cebida por Rei nhardt no havia ido alm de
uma "boa idia" de mo v -Ias. Ap s a segunda
apresentao de Trot ; ullcdrm. a ce nsura in-
terveio. Quando. em Pisc.uor atualizou
Dic Riiuber (0 , Salteadores) . de Schille r. con-
vertendo-o em pea pol iuc.uu cnt c <' ngajada e
fez com que Pau l Berdi . no papel de Spi cl-
herg, usasse uma m scara de Trot ski, houve
tumulto.
Um tumulto ainda m.ii x fort e [I
apresentao. um ano mai s tarde. da ence na-
o de Piscat or de G' \I';rr,' " iil,,'1' Cor lll/" I
(Temporal soh re Gotland ) de Ehll l \Velk. pa ra
o Volksbiihllt' . Ape sar dl" se us receios inic iai s.
Pi scalor havia ass umido a dire,'o do Berlinl'l'
Volks biihnl' em 1924 . Aprovei tou a oportuni-
dade par a pro duzir teatro polti co. l'c'\'olucio-
n;rio. com um CIIS"II I "'" pri moroso.
Cell'irrcr iiher Gor/oll d. dc Ehm \Velh: .
ahorda a luta do pir at a Klaus St iirt ch eker co n-
tra a Liga Han sd tica. que termi l\llll em I.fOI
com a exe cu,':' o de Sti il lcbeker. e lll ) lambur-
go. Piscalor dcu ao ulna lei tura alual iza-
n o N t l / /lrIl Ji\fII /1 110 I ' n ' ." ' fl l l '
da . co loco u o acento politico noAsmus hanse.i-
rico, a qu em ap resentou com uma m scara de
Lnin, gl orificando assim o pr ime iro de te ntor
do poder da Unio Sovitica. qu e morrera em
I92.f. Interp retou a pe a como "a revolta do
revouciomiri o se ntime nta l Sr n cbcker, que
provavelmente seria hoje um nacion al -soc ia -
lista. contra o se nsato e positi vo homem de
a o. Asmus. o tpi co revolucion rio raci ona-
lista. tal como exemplifi cado por Lnin" .
O esc nda lo foi ine vitvel. Nem Heinrich
Ge or ge como Stort ebek er, nem Ale xander
Gra nach co mo As mus, nem o ma terial filmado
(cedido por Curt Oert el para estabe lece r a as so-
ciao co m Lnin) pud eram ju st ificar a maci a
violao do ma terial hist rico. As pr prias oh-
je es de Eluu Welk haviam sido in teis. Re-
signado , e le tomou o partido do s cr ticos, qu e
declararam : " um grandioso trab alh o de dirc o ,
uma di re o colossa l co nt ra uma pea ".
Isto levou a uma r upt ura com a Volks-
bhne. Pi scu tor concebeu o plano de co ns truir
um palco pr prio de agi ta o c pro paganda em
seu esti lo s ingular. grandioso e imprcssi oni sta.
A atri z Tilla Duri eu x arrumou-lhe pat roc ina -
dore s finan cei ro s. Wal ter Gropi us, (I dire ror do
Ba uhau s c m Dessau, entusia smou -se co m a
id ia . Desenhou para Piscu tor um ul tramo -
de rno "t eatro total " . uma proposta de casa de
es pcniculos poli val ent e. audaci osament e con-
cebida. co m piso gi rat rio e adapt;\ l'I a quasc
tod o apar. uo c ui co. Ele poderi ;r se r usa do
como anfire.uro, corno arena com palco ce n-
tral. OLl ainda com 1I111l:l\,."i o peri frica e
circu nda ndo o audit rio. () model o c lab orad
po r Gropiux, exibid o em Par is em I 'n o. foi
muito admirado. mas nunca rculizudo: pcrr u a-
neceu COl H O 1I111proj eto III)) castelo
no ar. COl HO o s planos iguall ne nlc
de Mei erhol d pa ra um teatro ltllal de va ng uar -
da . em 1\'!oscou .
Pi scat or a lugou o Theal er a m Nolle n-
dor rpl at z em Berlim e o inau gun 111 , ' 1lJ -' de
setembro de 1927. COlll a pC,' a antiburgue sa
lIL- Ern st Toll cr. H"/ 'I !lo, \1' ;" 1('/ " '11 lOba !
E:-.t :Il110S Vi,-os!) 111II11, 1 Ill onl agelll
111/ U / f !t I ' fI { , ' j f'rl 1j l "(l 1 til- \ \ -alh' l ( ; l ll plU ' P;Il .1
1:1\\111 P" .. :altlL
tcni ca . c m q ue Pi scaror at rihua ii parte ti l-
mada lima acentuada fu no did tica, To ller
foi um dos dramaturgos do ex press ionismo
tardi o cu jas peas antibe lici stas co mbinam
acusao ant ibelicista e s impatias soc ialistas
radicai s. Vi nte anos mais ta rd e . \Vo lfgaog.
Borchert escreveu uma pea par ecida em esti-
Ia e acusa es. sua Drausscn 1' 01' der Tiir (Do
Outro Lado da Porta ), a primeira pea a abor-
dar de ma neira pe rdurante o tema da hora pre-
sente na Alemanha a ps a Segunda Guerra. h li
o grit o ex t tico e co move nte de uma jo vem
ge rao de fraudada e desarra igad a que voltou
da guerra para as runas. Pi scator colheu ( I S
lt imo s rebentos do drama ex pressionista ao
qual se opusera vi ol entamente em 1920 e ten -
tou impregn - los de grande tenso polti ca.
Dos fr aca ssos e se mifrucass os de Piscat or
nasceu sua obra -pr ima incontest e. a reali za -
o da stira pi ca Dic Abentcucr dcs Brave n
Soldat en Schwejl: (A s Avent uras do Bravo Sol-
dado Schwejk). Bcrtolt Breclu, F lix Gashar ra .
Leo Lania e o prprio Pi scator haviam ad apt a-
do o ro mance do escrito r de Pra ga . Jaroslav
Hasek. para o palco - um empree ndi mento
problem tico. dada a na tu reza puramente pi-
ca da obra. Seus ingred ientes - um heri pa s-
s ivo. contnuas t ro cas de cena e pas sagens
glo s.uu es co mo po rtadores de teo r satrico -
so mai s adequados ao teatro " pico" do qu e "
um dr ama no sentido conve nc iona l. Illas antes
para () teatro pi co...
Piscator de scobriu uma sa d;, bril hant e
para munter a aiio em movimento. c unindo
50 !
tantos epi sdi os quanto possvel numa conti-
nuidade sem costuras: a esteira rolant e. Os
modernos processos de manufarura em linha
de montagem deram-lhe a idia: ele usava duas
esteiras rolantes atravessando o palco da es-
querda para a direita , em di rc es opo stas.
Montada s sobre elas fi cavam sees niveladas
mostrando o ambiente de Shweik: "o s tipos
petrificad os da vida poltica e social na velha
ustria" , um mundo grotesco-satrico , no qual
Schweik, " nico ser humano, se v indefeso.
A inteno original de Piscator havia sido at
a de preencher o papel-ttulo com um s atol' e
contrast-lo com um aparelho excl usivamente
mecnico.
O pint or George Grosz desenhou os ce-
nrios de trucagem e marionetes, dando tanto
aos apetrechos quanto aos tipos de figuras uma
funo crnica supercaricaturesca, cmico-
c1ownes ca . (Seus desenhos terminaram na
mesa do promotor pblico e acarretaram-lhe
um processo por blasfmia.) Para as cenas de
rua em Praga, Piscator usou como fundo um
filme feit o no local. Para a marcha a Bude-
jovice, havia ronques de rvores copiados de
natur ezas mortas, desenhados ao longo do pal-
co. como representao da estrada infinita. O
grande aror Max Pall enber g inter pret ava
Schweik . Ele deu personagem a substncia
human a, e mais do que isso, inteirame nte de
acordo com as intenes de Piscat or, "algo
reminiscente do espetculo de variedades e de
Charl es Chaplin". Palleuberg viera do grupo
de Max Reinhardt, e Piscator acentuava, no
sem orgulho. o imenso esforo interi or a que
Pallenberg fora por ele induzido a efetuar, a
fim de "fazer just ia a este novo. matemti co
gnero de interpretao".
Pi scat or se pron unciou repeti das vezes
sobre a questo de como defini r seu estilo es-
pecfic o. Sua proposta, explicava ele, era in-
tensificar o efeito ao grau mximo, pelo uso
de mei os extrareatrais. Crucial para a intensi-
dade do efeito era que a escolha correta do tema
deveria ser idntica ao efeito poltico. O efeito
de propag anda desej ado no poderia ser con-
seguido na falta de uma pea suficientemente
forte , nem com uma mont agem tcni ca que
transmiti sse meramente uma lio de objcri-
vos estticos.Tal critrio divide as opini es ain-
da hoje, passadas dcadas.
50]
H st ra MIllIt/i al d o Teu t ro
O come ntrio de Kerr sobre o "jornal com
papis distri budos", datado de 19 10, confir-
ma-se ao ritmo das crises de gerao, mostran-
do ser verdadei ro no teatro do incio dos anos
30, nos EUA, quando o grfico de temperatu-
ra econ mi ca do Neil' Deal atingiu seu clmax.
O dramaturgo Elmer Rice foi o poder impul-
sionante por trs do federal Theatre Project, o
nico palc o subsidiado pelo govern o, que as -
sumiu a dupla tarefa de dar emprego a cente-
nas de atores sem trabalho e pr em di scusso
as questes eco nrnicas da poca . Elmer Rice
usou a documentao dramtica corrente do
Living Newspapcr para a crtica social e socio-
lgica. Power (Poder) era o nome de uma das
dramatizae s-documentrio da March 01'
Time, medi ant e as quais ele punha no palco
discusses po lti cas. Neste caso, acendia as
questes do desenvolvimento e da proprieda-
de do pod er econmico da energia el trica.
Out ra edi o ocupou-se do pr ob lema da
extino dos corti os: chamou- se One-Third
o] a Nation (Um Tero de uma Nao), com
referncia tera parte da populao america-
na que, seg undo uma palavra de Roosevelt ,
habitava cort ios e bairro s miservei s. Passa-
gens picas, episdi cas e pedaggicas. j ograis,
coment rio s, poem as e in ser es musicai s
constituam os elementos motores do Jornal
Vivo. Em Washin gt on, os crticos da proposta .
logo depoi s, co rt aram o fio da vida dessa
"representa o ao mesmo tempo partri tica e
verdade ira de int eresse s vitais": sustaram os
subsdios go vernamentais para esse controver-
tido empree ndi mento, que assim chego u ao
fim.
A relao entre o teatro e a polti ca tem
sido tensa h.i do is mil e quinhentos anos . Aris-
tfanes invest iu, a parti r do palco, coutra os
demagogos e advoga dos da Guerr a do Pelo-
poneso; el e o fez na soberana forma artistca
da Comdia ti ca, que atrai como forma tea-
tral original mesmo l onde as aluses polti-
cas no so compreendidas. Mas quando se
trata soment e de pro vocao pol tica, a sua
atrelagem ao palco torna-s e dispensvel.
Artaud fal ou da "impotncia da pal avra",
quando comparada ir vitalidade da ao dire-
ta, do coup de thct rc ritual e rtmi co, da for-
a da pea cuja a o desdobrada espacial-
mente na di reo dos quatro pont os cardeais,
43. O palc o de Piscator em Berlim. 1927: construo transparente co m vrios andares para Hoppia, \Fir l.eben! (Oba,
Esta mos Vivos!) de Ernst To cr. com lima Le ia central pam a combinao de palc o c filme (quadro de montagem de Sus ha
Stonc, com a silhueta de Piscator j
--l4. Cen as co m marionet es de George:(i l OSZ. para a "e steira 10 1: II1IC" na mise (' 11 .\"(" ('11 (' ti .: Piscaror para V h, Abcntcu cr
des Bravcn Sokkuen Se/m"ej "- rAs AVCIl Hl ra\ <.1 0 Bravo So ldado Schwej kr udupt ao do romance de Jurosluv Hasc k.
Bl:rl im. 1927.
ci ndida por paro xismos e depois en feixada
pela luz, e de novo ati ada. El e considerava o
grito o eleme nto pr imordial da ao diret a, um
grito lanado da extremidade da sala dc espe-
tcul os e transmiti do de boca em boca, num
accelerando se lvagem. As cr ia es co letivas
do Li ving Theatre. assim como a obra do di -
retor polon s Jerzy Grotowski. devem muito
ao ritual do movime nto e gest o de Artaud. Seu
teat ro tot al da ":Io dir et a" contribuiu para
os impul sos de destruio da for ma nu teatro
polti co da segunda metade deste sc ulo.
O lema do teatro de agi tao poltica de
hoje : a dire o para a ao . O texto subja -
cente, na med ida em que cons ide rado obri-
gatrio' simp lesmente matria-pri ma . Pode
ser substitudo por provocadoras colagens de
filme s, ca rtazes, notcia s de j ornal, sinais ou
transpar ncias - pela " introd uo de meios
extrateatra is" , como dizia Piscator,
A pea-documentrio tem seu lugar numa
zona int ermediria formalmente restri ta, que
vai, di gamos, de The Caine Mut iu v Court
Mart ial (O Moti m do Caine), de Herman Wouk
(baseada em seu romance) a Der Stellvcrtreter
(O Deputado ). de Rolf Hochhuth. e / 11 der
Sach e 1. Rob ert Oppcnlieimer (No que Di z
Respeito a J. Robert Oppcnheimer ), de Heinar
Ki pphardt , a Die En uinlnng (A Invest igao).
de Pe ter Weiss. A pea de Wei ss co mo um
oratrio. um doc umentrio completo sobre o
inferno do holoca usto nazi sta. que, segundo
ele assinal ou. no contm "nada a no ser fa-
tos tais co mo surgiram nos processos penais",
Da documentao factual. o teatro poli -
rico dos anos 60 foi ii informao engaj ada .
como em Vi etn ant Rep or! ( Re la t rio do
Viern ), de Pet er Weiss, MacBird, de Barbara
Ga rson . Une Sais on ali COligo (Uma Tem-
porada do Congo) - a pea de Ai m C saire
sobre Pat rice Lumumb a - Notstndsiibung
( Ex e rcc io s de Emer gn ci a ), de Mi ch ael
Hatry, ou na encenao de Br emen ou na re-
vista-colagem de Wilfried Mi nks. O comen -
trio de Elag in sobre Mei erhol d - de que nin-
gum, no teatro europeu ou americano. pode-
ria imagi nar um truq ue c nico que Mcierhold
j no tivesse usado - poderia tambm se r
aplica do a Piscator. visto que o teatro polti -
co ain da hoj e vive da sua provi so de "meios
extrat e.nnns
504
Hs t riu A/ lll1dill/ cio Tocu ro
Bre cht e o Teatro pi co
O palc o assumia o rit mo de nossa poca .
o " tempo" do sculo XX. Enquanto a refor-
mul ao co m fin s de agi tao e propa ga nda
da pea ai nda estava em and amento, o novo
drama encontrou um autor em Bertolt Brecht.
Este, em sua colaborao com Piscat or, veio a
perceber que o teatro revoluci onrio depend ia
no ape nas da pea. ma s tambm da direo.
Mas a encenao "d inmica" per manecia para
Brecht uma so luo pr ovi sr ia, v lida apenas
enquanto no fosse poss vel uma transforma-
o radical do tea tro pel a base. No acei tav a
nem o "milieu co mo desti no" naturalista, nem
o pathos exp ressi on ista do - Homem, e tinha
suas reser vas sobre a direo puramente agi-
tadora. No desej ava provocar emoes. mas
apelar para a i nte ligncia crtica do es pecta-
dor. Seu teatro devia tra nsmitir conhec imento.
e no vivn ci as.
O dr ama da era c ientfica . co mo o via
Breclu, entende o homem como part e daque -
le meca ni smo int eiramente calculvel q ue
mantm em func ion amen to a histr ia mundial ;
trata o homem como um instrumento dos r-
gos exec ut ivos que o manipulam a seu bel-
prazer. Entra em cena o empac otador Galy Gay.
homem ino fensivo q ue sai uma manh par a
comprar pei xe , ca i nas mos dos soldados no
caminho, e tra nsfor mado num a "m quina hu-
mana de combate". Ga ly Ga y, o heri remo-
del ado de M m/ II ist IV/ UII II (O Homem o Ho-
mem ). de Brech t, tornou- se o exemp lo cl.isxi-
co do novo teat ro didt ico.
Peter Lo rre int er pr etou o papel em 1931 ,
no Staatst hea ter de Berlim (e nquanto trabalha-
va ao me smo tempo sob a dirc o de Fritz
Lang. no Thrillcr de Cri me M). Ele fez da se-
qncia de inci dent es se parados aquele "inve n-
tri o de arg umen to s" que Brecht li nha e m
mente. Lorre , co mentou Brecht , havia rea liza-
do convince ntemente a "ex ibio mai s obj eti-
va pos sve l de um processo interno co ntradi-
tri o como um todo". O cenri o. neste caso a
ndia, no cruc ial pa ra a ao. Brecht es t
empenhado em faze r der ivar de um ato ind i-
viduai a validade geral. O carter "exposicional"
de seu teatro um tcn ninus que Breclu insistiu
em reiterar. Refere-se a uma forma dramar rgica
especfica. ao princ pio do teatro pico. Suas
/) 0 N cn u rn l is m o u o P r C .H ' l lI C
. caracte rs ticas externa s so: co me ntrios inse-
ridos na a o , feitos por um narr ador, tt ulos
de "captulos" em grande carta ze s, mscaras e
image ns proj etadas.
A ori gem conceitua i e did tica do teatro
pico re mont a ao crc ulo de Piscat or. Li on
Fe uc htwang er, que em 1924 colaborou com
Brecht numa vers o racionali zada, t pica-
mente atuali zad a, do Eduardo II , de Marlowe,
atr ibui a inveno do princpio pico a Brecht.
Alf re d Kerr re ivindica t- lo definido j e m
191 5, qu ando falou do drama do futuro como
um "j ornal co m papis dist ribudos" . O pr -
prio Brecht acei tou a atribuio da primazia
co m a autoconfia na do esc ritor criativo, re-
ce ptivo ao s sinais de sua poca, pr ocessa ndo-
os no estilo de se u tempo. Influ ncias da psi-
co logia behavi or ista amer ican a e a conex o
que se es ta belece entre a produo de bens e
consumo de ma ssa deixaram marcas em suas
peas, da mesma forma qu e as teorias do pal-
co ru sso da agitprop ; o teatro "produtivo" ba-
seado nas fu nes de ag itao e orga nizao.
Mas Brecht ancorava em horizontes mais
dista ntes as razes de seus pri ncpi os esti ls-
ticos . " Do pont o de vista esti lst ico " , escreve u
ele no inc io dos anos 30. "o teatro pico no
nada part icul arm ente novo. co m seu car ter
ex posiciona l e sua nfase no art st ico, ele
apa re nta do ao antigo asi tico. Tai s te ndnci as
didticas so evidentes nos mist rios medie-
vais. as sim como no drama cl.isxico es panhol
c no teatro j esu ta" .
Foi do es tudo da art e chinesa do e spet -
culo qu e Brecht derivou a q ui ntaess ncia da
ence nao e representao do se u tea tro pi-
co : o e feito do di stanci ame nto . Ele se ba sei a
numa ne ut ralizao co mp leta do s mei os tr adi -
cionais de expresso tea tral. Man ter d ist nciu
o pr ime iro man damento. tanto para o atol'
quant o par a o pblico. No permitido q ue se
forme nenhu m "campo hipn tico" entre o pal-
co e a pla tia. O ator no de ve desper tar e mo-
es no es pectador, mas provocar sua conscin-
cia crtica. "Em nenhum momen to deve ele (o
atol') perm itir que ocor ra sua completa met a-
mor fose na figura da per so nagem, escre ve u
Brecht em 19-1 8, em Klcincs Otganon fiir das
7//('(1/ (' 1' (Peq ueno rganon par a o Teatro). A
trad io ari stotlica to insustent vel quanto
a id ia de Schi ller do palc o cnico enquanto
institui o moral. onde cada indivdu o "de s-
fruta o praze r de todos". e "seu peito d lugar
para ape nas uma emoo, a de ser um ser hu -
mano" . Brecht recu sa a ambos drasti cament e.
A pea anarquista de Brecht sobre solda-
dos que voltam do fro nt para casa , Trontmeln iII
der Nada (Ta mb ores na Noite). foi encenada
por Otto Falckenberg em 1922, primeiramente
no Munich Karnmerspiele e, logo em seguida,
em Berlim. O autor queri a pendur ar cartazes no
recinto do aud it rio, com aforismos tais como
"Em sua pr pri a pe le, todo homem 'o m elhor",
ou o to citado " No arregale os olhos to ro-
manticamente" . Eles culminavam na ca teg rica
afirmao: " O teatro no um dispensrio de
sucedneos par a vivnc ias no tidas".
Em suas anotaes P:U<I a pcraAlifslieg und
Fali der Stadt Mahagonny (Asce nso e Queda
da Cidade de Mahagonn y), Brecht, pela primei-
ra vez, disps a lista antittica das formas "dra-
mtica s" e "picas" do teatro. A tabel a que se
tomou des de ento exe mplar e que foi, com li-
ge iras mod ifi caes, usada novamente por
Br ec ht e m Ve rgn iigungsthcatcr oder Lehr-
theater'! (Teatro de Diver timent o ou Teatro Di-
d tico") , em 1936. Ver ta bela na pgi na se-
guinte.
Para o trabalho de en saios. Brecht reco-
mendava trs co nste la es de apo ios: mudar
as falas do ato l' para a ter ceira pessoa; trans p-
las para o passado: e incluir, na leitura das fa-
Ias. as rubri cas.
Toda a o representada adqu ire automa-
ticame nte o carter de um mud e lo . As i m.
Dickicht der St iidt (Na Se lva das Cidades).
esc rita e m 19 24, trat a da " luta e m si" . demons -
trada pe la obst ina da prova de fora entre dois
homens. tendo como pano de fundo a grande
cidade de Chicago. Brecht anu nci a sua int en-
o d id tica logo na ap resentao : " No qu e -
bre a cabea com os motivos desta luta, porm
co mpartilhe dos empenhos hum anos, j ulg ue
imp arcia lmen te a for ma de lut a dos opone ntes
e diri ja seu int eresse para o final".
Esta nota aos es pectadores antecipa a es-
sncia de Brecht : a fu no pedaggica e a
met odol ogia art stica de seu teatro; a renn c ia
psi col ogi a e m favor da exemp lari dad e ; o
apelo ii obj etividude crtica . uma conseqn-
cia lgica de se us obje tivos que ele os most re
de prefer n cia em se us he ris nega tivos. ta l
505
-t5, Quad ro cnico de {)1I0 Reigbcrt pala Tnsnnnvn iII .tcr Nad a (Tambores na Nollc I, (te Ikrtcll1Brecht. montada (le ia
primeira \' 1.'1. por Oito Falckcnbcrg no de Muni qu e. JOde setembro dI..'
no No t u rat is nso (/ (1 P" (' .\( ', I1c'
]('( 111'0 Dranuiti co
- o palco personifica um eve nto
- envolve o espect ador numa ao c
- usa sua atividadc
- possib ilita-lhe sentimentos
- tran smi te-lh e vivncias
- o es pec tador imerso na uo
- ela tra balhada com sugesto
- os se ntime ntos so preservados como tais
- o homem pressuposto como algo conhecido
- o home m imut vel
- tenso voltada para o desfecho
- lima ce na em funo da <mira
- os aco ntecime ntos desenvolvem -se num
curso Ii ncur
- "atu ra flOII [acit saltus
- o mundo co mo ele
o que o homem deve (uzcr
- seu s inst intos
- o pen same nto determina a exist nc ia
como podem se r enco ntrados. desde Na Selva
das Cidades ( 1924 l, ao longo de sua obra dos
ano s 30. at em suas grandes obras posterio-
res. Milita Couragr IIlId iiin: Kindcr ( M;le Co-
ragem e se us Filhos) - encenada pe la pr ime ira
vez em 1941 . so b a dirc o d e Le opol d
l.i ndrberg em Zuriqu e. o coraj oso refgi o do
teatro de lngua alem no exilio - n o pret en-
de provocar compai xo. mas promover o co-
nhecimento e a conden ao da exp lora o da
guerra, Quando M e Co rage m enfia a m o no
bolso ;1 11m de entregar suas ltimas moedas
para o funeral de se u ltimo filh o. e la tira rapi-
dnmentc alg umas: pois a gllt:ITil conti nua. e
A .!!lICITa I O (.: , \':nJ o um ll q ! \ )\,' i ll ,
cm vez de ..cr \,:1\111quei jo, coru c humbo
I..' "I,' \ ) \.'U.. ( tt t ua I OI \.. :a,
n;\11 c-,tar. i-, 11 ;1 p.al"lda lia ' -III lria.
Th erese Gichse em Zurique e Mun ique . e
a espo sa de Brccht , Heleno Wcigcl, no Berliner
Theater no Schiffbauerdamm, fize ra m da IVle
Coragem uma f igura inesq uecvel. se m parale-
lo em se u poder de impacto atual e agressivo.
O desempenho modelar do Berlincr Lnsem-
ble, com Hclcne Weigel , foi filma do. es tando
as s im di spon vel como registro.
A objetiva o crti ca tamb m a inten-
o de Lcben ilcs Galilci IA Vida de Galileu
Galilei l, de Hcrr Puntilu und sci n Kucclu Maui
(O Se nhor Pun tila e se u Criado Matti) c da pea
-- d e o narra
- torna-o um observador. mas
- despert a sua ativi dadc
- exige LIde deci s es
- transmite-lhe conhec imento
- confrontado com ela
- el a trabalhada co m arg ume ntos
- so levad os ao pOIHO do co nhec imento
- o homem objeto de uma investiaao
- o homem se transforma e transformvel
- tenso voltada para o processo
- cada ce na para si
- os acontecimentos desenvolvem-se cm curvas
- f ll l.\(/ II/lS
- o mundo como ele se torna
- o que o home m tem de fazer
- seus motivos
- a exist ncia social determi na o pensamento
de 194 3. sobre Sc hwcik. Transposto do am-
biente original da Pra ga de Hasck para uma di-
tad ura to ta lit ria na g uerra, o her i de Schwe ik
i m Zl1'e;I CIl Ircl rkr; eg (Schwe ik na Segunda
Guerra Mundial ) um daq ueles que march am
para Sralingrndo, que prec isa m leva r a prpria
pele pala LI ca mpo de batalha, e assi m forne -
cer ( I couro para o ta mbo r, Brecht chamou-o
de co ntrapo nto il Me Corage m e o co nce beu
de man eir a muit o mai s cortante nesta ocasio
do qu" na montagem dc 192 7. feit a por Pis-
cator. do or iginal de Hasek, O Bom Solthul,
Schwci]: . .'\ pe.; a estreou. com canes mu si -
cadas po r Hanns Ei sl er . e m Var svia. em 1957.
um ano depoi s da morte de Brccht .
As caues tiveram um papel import ante
nas peas de Brecht, desde o inci o. Elas intcr.
rom pe m a a o . marc am a pausa. que \ l"/(."S
anu nciada por um go ngo. Em reigrosch,
110/''''' I i\ pera dos Trs Vin tns) , e em As -
cens o I ' Queda d" Cidade de Mali agounv,
somam- se ;\ ms ica "culi nria" de teatro . em.
hora Brccht pre te ndesse que ela fosse "a nti-
culin ria" . A hicentc nria Bcggar's Opera
(p er a dos Mendi gos), com uma funo did;i-
rica nova cm fo lha. teve um retorno br ilhant e
em J92Xco mo A Upcra dos 7'<' s ViJl1/1.l . No
Theat cr am Sch iffh a uerd.un m. em Berli m,
Lotte l. cn y. Er ich Pon to e Roma Bahn as se -
guraram um grande s ucesso para Bert olt Brecht
e se u compos itor Kun \Veill. Ma s foi um tri un-
507
-t7. Hcrt oil Hrccht -- COIll o dedo indicador 1,." l'gtliJo -
diri ge Ali;e ('(wa g('11I no Kammcrxpi ck- de Munique . It)) (l.
Ce nrio de Tco 0 110 .
46. Heleno \Vci gcl co mo Afile Cora gem, na montage m
de 1949 no Thc alcr nm Scluffbaucrdamm, Berl im.
48. Charl es Laught on na mont agem de A Vida de Galil eu, de Brecht, diri gida pelo autor. no Coronet Tbcat er. Los
Ange les. 1947.
--1 9. Dreig rosrhenoper (A pera dos Trs Vintnsr . de Brcclu. no Kammcrspiclc de Mun ique. 1929_Di rco : lIam;
Sch we ikart. com Kurt Horwit z como Mac heath . Th crcsc Gieh sc como Sra . Pcuch um . Maria Ban i co mo Poli )' c Bert a
Drc ws como Jenny, Cenrio de Cas par Ncbcr.
fo contrrio s intenes de Brecht. O dedo
indicador erguido em acusao ficou submerso
sob o deleite do pblico com o romantismo de
gangster e de bordel. As pessoas divertiam-se
deliciosamente; as canes davam a volta, e a
provocao ficava fora. A proposta didtica
havia sido parodiar a pera romntica burgue-
sa, com seus prprios meios, e transform-la,
de entretenimento, num orgo de informao.
Esta proposta falhou. Brecht, o artista, vence-
ra Brecht, o terico.
O escndalo e a controvrsia que no hou-
ve nesta ocasio aconteceram dois anos mais
tarde, com a estria em Leipzig de Ascenso e
Queda da Cidade de Mahogonny, A agres-
sividade deliberada de Brecht rompeu a em-
balagem do meio de entretenimento operstico.
A denncia cnica da sociedade capitalista lo-
grou seu intento. Quarenta anos mais tarde,
quando Brecht foi promovido a clssico do tea-
tro moderno - com "a penetrante falta de efei-
to de um clssico", como Max Frisch gracejou
- os diretores retomaram com predileo as
peras "culinrias" de Brecht, como, por exem-
plo, a encenao feita por Giinther Rennert de
Mahagonnv, cm 1967, em Sttutgart, com Anja
Silja, Martha Modl e Gerhard Stolze.
Com dialtica brilhante, Brecht negou, por
fim, que pretendesse "emigrar do reino do
agradvel". Laconicamente, ele admitiu que o
carter didtico de seu teatro pico no preci-
sa necexsariamente excluir os aspectos burgue-
ses da beleza e da fruio. Fez as pazes entre
os irmos distanciados, "Teatro" e "Diverso",
porque "nosso teatro precisa provocar o pra-
zer no conhecimento, organizar a brincadeira,
a alegria da mudana da realidade.
Brecht, todavia, no mudou decisivamen-
te a funo social do teatro mas, sim, o prprio
teatro e o drama. Sua proposta de denunciar e
abolir as contradies econmicas e sociais da
sociedade burguesa pressupunha, antes de tudo,
a conveno como o oponente indispensvel,
que cumpria desafiar, e o espectador deveria ser
transformado, de um observador saboreante
num parceiro especulativo. Conseqiientemen-
te, "nossas peas no so definitivas ou, falan-
do francamente, so inacabadas", e a razo
que "o conjunto de todos os complexos concei -
tos necessrios paraa sua compreenso so ain-
da muito vagos c precisam permanecer inaca-
5/0
Hs t r a Mu ud a do Tcu t ro
bados at que a completa infra-estrutura dessas
ideologias seja fora alterada".
O sistema de brechtiano da forma aberta,
isto , com um futuro opcionalmente prorro-
gvel, desafia o dogmatismo ideolgico. Ele
pretende que seus incidentes dramatizados se-
jam compreendidos como situaes exibidas
de um "acidente social", como aes que po-
dem ser prolongadas vontade. "Sentimo-nos
desapontados, e nos levantamos com desalen-
to quando a cortina se fecha, e nossas pergun-
tas permanecem penduradas no ar", como ele
prprio diz no eplogo da pea parbola Der gute
Mensch \'on Sezuan (A Alma Boa de Setsuan).
As peas de Brecht no apresentam pala-
vras de ordem - desmascaram fatos. A lio
rompida em mltiplas refraes irnicas e CCll1-
duz o espectador por trechos de rica e spera
poesia. Brecht sempre recorre parbola, que
um modo de guinar a iluso - modo que Max
Frisch e Friedrich Diirrenmatt tambm perse-
guiram, cada qual em seu prprio caminho.
T ~ c n i c a s do Teatro tpico:
O Palco no Palco
A ruptura dramatrgica da iluso teatral, a
pea dentro da pea, a insero do discurso di-
reto ao pblico, o pronunciamento de senten-
as crticas ou didticas e canes sobre temas
da poca - todos so expedientes que o teatro
conheceu e usou por milhares de anos, desde a
parabasis da velha comdia tica cano de
Salomo em A pera dos Trs Vintns. Sob o
signo da ironiaromntica, o dramaextraiucen
telhas poticas do salto entre o infinito e o finito
e usou o teatro dentro do teatro para polemizar.
"Se devo dizer qual minha efetiva opinio,
vejo a coisa toda como Ulll truque para difun-
dir opinies e insinnaoes entre as pessoas.
Vocs vero se estou certo ou no. Uma pea
revolucionria, na medida em que a entendo,
com monarcas e ministros bomveis..." Estas li-
nhas so encontradas, no numa pea poltica do
sculo XX, mas cm 1797, num ataque parodstico
ao Iluminismo de Berlim, Der Gesticfeltc Katcr
(O Gato de Botas), uma pea de Ludwig Tieck.
Os personagens da Conmicdia de!! 'arte e
da mascarada agem como foras atemporais,
antiilusionixtas. quer em seu prprio nome, como
nas famosas montagens de Goldoni e Gozzi,
Do Nrt t u ru l is mo (/(1 PreSeI/II'
por Max Reinhardt, Evg(u)eni Vakhtngov ou
Giorgio Strehler, ou ainda como figuras
"clowncscas" intercambiveis, despersona-
lizadas e neutralizadas, como na niilista Espe-
rando Godot, de Samuel Beckett (1954).
No limiar do moderno teatro, antiilu-
sionista, encontramos Luigi Pirandello. J em
1918, sua pea-parbola Cosi e (se vi pare)
(Assim [se lhes Parece]), levantou a questo
basicamente insolvel de ser e parecer. O pro-
blema da identidade fragmentada levou-o, do
drama Eurico IV, sua obra mais conhecida e
de maior sucesso, Sei Personaggi in cerca
dautore (Seis Personagens Procura de um
Autor). Os seis personagens so membros de
uma famlia decadente de classe mdia - ima-
ginada como material dramtico cru e no
completamente elaborado - que invade o pal-
co durante um ensaio. Eles representam seu
prprio destino para o pessoal do teatro, e os
comediantes tentam, por sua vez, reproduzir
"a vida real". Dois, trs, at mesmo quatro n-
veis de conscincia sobrepem-se. O conflito
entre a realidade e a iluso, entre a vida e a
forma, lanado abertamente. Quando o dire-
tor, no final, manda embora os espectadores,
para continuar a ensaiar, atrs das cortinas, "a
pea que ainda est por ser feita", a questo da
"verdade" humana remanesce to aberta quan-
to a de Brecht no tocante reviso futura das
relaes sociais.
O esquema formal de Piranclello. o de si-
tuar sua ao na moldura de um ensaio teatral.
propagou-se em um sem-nmero de ecos. O
dramaturgo americano Maxwell Anderson o
tomou emprestado para a sua Joan ofLorrainc
(Joana de Lorena). Dentro das dvidas e re-
ceios da primeira atriz, ele graduulmente in-
troduz os problemas humanos da Joana D'Arc
histrica, juntamente com os de sua intrprete
moderna, e encontra paralelos atemporais e re-
correntes entre o passado e o presente.
Outro exemplo nos dado por Gnter
Grass com sua "tragdia alem" de 17 de ju-
nho de 1953, Dic Plebejerproben den Aufstand
(Os Plebeus Ensaiam a Revolta). Grass traba-
lha em trs nveis. No palco do teatro, ensaia-
se Coriolano, de Shakespeare: o encenador
o "Chefe", isto , Bertolt Brecht, que escreveu
uma adaptao de Corio!ano. Fora, na rua, est
em curso a rebelio dos trabalhadores, e al-
guns dos manifestantes irrompem no ensaio.
O "Chefe" distribui os rebeldes em seu elen-
co, tenta refundir suas emoes em teatro, en-
carando a realidade como o material bruto para
a sua montagem.
Peter Weiss usou um esquema anlogo em
Die Vcrfolgung und Ermordung Jean POli!
Marats, dargestellt durch die Scluiuspiel-
gruppe des Ho spires tu Charenton unter
Anleitung des Herrn de Sade (A Perseguio
e o Assassinato de Jean Paul Marat Represen-
tada pelo' Grupo de Atores do Hospcio de
Charenton sob a Direo do Marques de Sade).
J com a natureza de seu ttulo, ele nos d a
conhecer o duplo cho de seu jogo de moldu-
ras, que culmina na luta furiosa dos loucos in-
ternados no asilo, a quem nada inibe.
O teatro no teatro oferece uma oportuni-
dade de apresentar dramaturgicamente o fa-
miliar como estranho, empurrando-o para a
distncia, na acepo brechtiana, dando-lhe
uma refrao irnica, interpretando-o "epi-
camente" com o auxlio do diretor, locutor,
narrador ou do coro. Os dois mais importantes
dramaturgos do sculo XX que trilharam uma
senda anloga do princpio pico de Brecht
so Thornton Wilder e Paul Claudel, ambos
muito diferentes entre si na sua orientao em
termos de viso de mundo e diametralmente
opostos a Brecht.
\Vilder vem de um background de convie-
es quietistas, humanstico-religiosas, e
nesta direo que aponta o seu gestns indi-
cativo. Mas no que diz respeito ao intento de
"des-iludir" o palco, ele , pode-se dizer, mais
rigoroso que Brecht. Prefere um palco inteira-
mente despido de cnario, arranjando-se com
uma mesa e algumas cadeiras que, corno nos
jogos infantis, servem de carros ou trens . O
narrador explica a cena e os acontecimentos,
apresenta as personagens co-atuantes e inter-
preta os incidentes episdicos da vida real, para
revel-los como pequenas parbolas do gran-
de curso de toda a existncia.
Se em QUI' Tm1'll (Nossa Cidade) (1938),
Wilder nos oferece o mundo numa casca de
noz, a cidadezinha de Grover's Comer, em Thc
Skin or Cur Teeth (Por um Triz) (1942), ele
tenta abranger o drama da humanidade em cin-
co mil anos de histria do mundo. A idade do
gelo, o dilvio e o bombardeio da Guerra Mun-
5JJ
50. Cenrio de \Volfgang Znamcnacek para a montagem de Friedrich Domin de () Chinelo de Cetim, de Paul Claudel.
no Kammcrspiclc de Munique, 1947.
1)0 NU!IIUllis/I/o lIO I'r(',\('I/!('
dial so as grandes catstrofes das quais o pro-
ttipo da famlia mdia de Wilder escapa "por
um triz", e depois das quais torna a reunir-se e
a recuperar-se das runas restantes. seguindo
adiante num novo comeo. para velhos con-
tlitos. Na Europa exangue do ps-guerra, esta
pea refletida e pertinente. na qual os atores
ficam saindo de seus papis para recair na rea-
lidade. causou grande impresso. Karl Heinz
Stroux encenou-a em 1946 no Teatro Hebbel,
e ningum que tenha visto o espetculo, entre
as runas de Berlim. capaz de esquec-lo.
As experincias dramatrgicas de Paul
Claudel com o teatro pico remontam ao ano de
1927. Quando, a pedido de Max Reinhardt e ten-
do como libretista de Darius Milhaud, Claudel
comeou a escrever seu Cliristophe Colomb,
optou por um mediador entre o palco e a platia
na pessoa do narrador. Colocou-o ao lado do
palco, com um livro aberto apoiado numa es-
tante: Lc L;\'/T de Christoplu: Colonib (O Livro
de Cristvo Colombo) (este o ttulo da ver-
so revisada. produzida por Jean-Louis Barrault
e publicada em 1953 em Bordcaux.) O explora-
dor dividido em duas figuras -. um ancio do-
ente que se aproxima, ao lado do narrador, e sen -
ta-se. para o prpriojulgamento. num nivel vneu-
tro" de espao e tempo; e o jovem navegador
que singra os mares para descobrir a Amrica,
Um solene Aleluia cantado pelo coro para con-
cluir a alegoria. enquanto em uma tela o pere-
grino Tiago t' a rvIe de Deus aparecem.
Chrisroph Colontb, de Claudel. I'oi vista
durante muito tempo como o modelo almeja-
do de teatro total. em it pea rc-
volucionria, que se prope a apresentar lima
viso rc lip iosa do mundo COll1 meio-, moder-
nos. Esta abordagem volta, cm larga escala.
em Lc Soulier de Sutin (A Sapatilha de Ce-
tim); aqui. Claudel. inspirando-se no drama
barroco espanhol, caminha entre o mistrio e
a farsa numa poderosa obra-prima de imagi-
nao e linguagem, Pantomimas. dana e
esquetes, interldios alegricos e filosficos
alinham-se entre a pea religiosa do sculo
XVII e as formas modernas de expresso. FICI
a critrio do diretor te dos recursos financei-
ros ii sua disposio) intensificar verbalmente
a pea num palco nu. ou transformei-Ia num
grande expeiculo com a ajuda de todos os re-
cursos tcnicos do teatro moderno.
S HOII' BUSINESS NA BROADWA Y
A frmula medular de Max Reinhardt para
() teatro de Nova York era "divertimento como
negcio". Comparando-o a quatro importan-
tes centros teatrais europeus, ele observou que
o prazer artstico era predominante em Paris,
que o prazer sensorial dominava o palco em
Viena, que em Berlim "um trabalho inaudito
preparava a batalha entre ateres e espectado-
res crticos" e que em Moscou tanto os atores
quanto o pblico tinham uma dedicao qua-
se religiosa arte do teatro.
No que diz respeito tanto forma quanto
a substncia, durante dois sculos os teatros
da Amrica do Norte recorreram a modelos
europeus. Logo, porm, mostraram maior ha-
bilidade em fazer o teatro dar certo como em-
preendimento comerciai. Nas palavras da fa-
mosa cano de Irving Berlin, os americanos
descobriram que tltcres no business likc ShOlI'
business ("no h negcio como o negcio do
sl/OII''').
Vrios aspectos da cena americana foram
discutidos previamente com relao aos dife-
rentes gneros dramticos, mas o captulo se-
guinte diz respeito. sucintamente, ao teatro en-
quanto S!lOII' business, na acepo que acabou
sendo exemplificada pela Broadway.
Embora. para o bem ou para o mal.
Nova York seja hoje II centro teatral inconte s-
rave i dllS EUA e P"UClS peas pos-.un: ser
bem-sucedidn-, sem a chancela de uma pro-
du.: nesta cidade. (IS origens do teatro pro-
fis.-.;ion,1\ americano devem ser procur.ul.u- !la
cidade vizinha e por um longo tempo rival:
Filadlfia, Na verdade. foi ali que a primei r
pea csctitu na Amrica para ser montada
por uma companhia profissional de atort's.
tt., Prince otParthia (O Prncipe de Prti'l),
de Thomas Godfrey Jr., estreou em 1767 no
Southwark Thcarrc, o primeiro teatro pcrma .
nente dos Estados Unidos. Tragdia em ver-
so, com um ccn.irio extico. tratava. de uma
maneira que traa cluramcute sua
sbakespenri.ma. da rivalidade principesca en-
tre dois irmos. Houve apenas uma reprexcn-
taco.
Ass'lz profeticamente. entretanto. Nova
York foi o cenrio da primeira comdia nativa
513
da Amrica, The Contrast (O Contraste), 1787,
de Roya ll Tyler, Nela, o autor lisonj eava seus
compatr iotas, no pas recm-independente.
com uma histria envolvendo a competio
romntic a entre Billy Dimple, um anglfilo
de desconcertante facilidade com as mulhe-
res, e o Coronel Manly, um leal oficial revo-
luci onrio, pelo amo r de uma pura garota
americ ana. Comdia ainda encenvel, mas no
muito freqenternente encenada, sua popula-
ridade e import ncia devem- se introduo,
na pea, do primeiro personagem teatral tipi-
camente americano - Jonathan, servo do Co-
ronel Manly. Sua viso da vida, dire ta, prti-
ca e rural fariam dele o prottip o de centenas
de figuras similares na fico, no drama, nos
filmes e nas comdias musicai s.
Embora hoje esteja em moda dizer que o
teatro da Broadway to antigo quanto o ci-
nema e tenha emergido em condies pareci-
das, suas origens so, na verdade. considera-
velmente mais antigas. As prticas comer ci-
ai s. a admi nist rao. as tend ncia s para o
perfeccionismo, o princpio do star e o siste-
ma de longa temporada vigente s na Broadway
foram desenvolvidos j no sculo XIX. Gran-
des atore s e cantores. cuj a apresentao po-
dia assegurar um sucesso sensacional, foram
trazidos da Europa. Ao longo dos anos e pelo
sculo XX adentro, astros como os Kernbles,
Sarah Bernhar dt, Coqu e lin, Jenn y Lind ,
Eleonoru Duse, Caruso e Richard Tauber re-
pet iram seus triunfos europeus no palco ame-
ricano.
Co mediant es e col oni zadores cruzaram
juntos o Atlntico. O contingente teat ral foi
conduzido pelos chefes dos pioneiros, e suas
troupes chegaram logo, bem providas em n-
mer o de ate res e rapidame nt e: em 1750,
Murray e Kean; em 1751, Robert Upt on: em
1752, William e Lewis Hallam. Nos dias de
George Washington - um defensor do teatro.
quando vivo, e que mais tarde seria glorifica-
do como heri de inmeras peas sem sucesso
- Nova York j podia vangloriar-se de possuir
muitos teatros permanentes. inclusive o John
St reet Theatre, onde ocorre u a estr ia de O
Contraste levada pela Ameri can Company, o
literari amente ambicioso Park Theat re, e o
Ricetts Circus aclamado como o "novo e c-
modo anfi teatro".
5J.1
H s t ri a f&llHulia l d o Fca t ro
Foi no Park Theatre que Will iam Dunlap,
dramaturgo e autor da pioneira History of the
Ameri call Theatre (Histria do Teatro Ameri-
cano) ( 1832) . ofereceu o mais estimulante car-
dpio teatr al da cidade. Sua grande atrao e
bilheteria era Kot zebuc, cuj as peas eram vis-
tas como aplicaes introdutrias de idia s das
Revolues Francesa e Americana. Na tem-
por ada de 1799- 1800, foram mont adas
quat orze peas de Kotzebue em Nova York.
Produzida anonimamente, um dos sucessos de
Dunlap em 1799, The Itali an Father (O Pai
Italiano) foi tambm atribuda por muita gen-
te a Kotze bue, at que Dunl ap reconheceu sua
dvida par a com Th e Hon est lVhore (A Prosti-
tuta Honesta). de Th omas Dekker, Dunl ap
adapt ou tambm DOI1 Ca rlos. de Schiller, Ln
Fenune ii deter Maris (A Mulher com Dois
Maridos) de Pixercourt . e uma variedade de
peas de autores popular es europeus . Houve.
alm disso. um fl uxo cons tante de remon-
tagens de Shakespear e,
No era costume ento de nenhum teatro
conce ntrar -se exclusivamente sej a no dra ma
ou na per a. Enceuava-se o que prometes se
casa cheia . Um grupo de pera ital iano, sob a
direo de Mont rsor, lotou o Richmond Hill
Thearre de Nova York por trs meses em 1832.
num total de trinta e cinco rci tas. O conse-
lheiro art stico do em preendiment o f oi
Lorenzo da Pont e, outrora amigo e libretista
de Mozart.
Em Lou isvil le, Kentucky, cm 1828. o ator
Thomas D. Rice, indicado para interpretar um
trabalhador negro do ca mpo num melod rama
local. observou um velho negro cantando e
danando do lado de fora do teatro. Ficou t o
tomado pela a tua o, que a incor porou a seu
papel, e de sua bem-sucedida int erp ret a o da
cano Jump Jim Cm w. com o rosto pintado
de preto, nasceu o minst rel sho w. A moda pe-
gou como fogo na palha. e em 1843 um 1IL1VO
compet idor no sltow business, o Virginia
Minstrcl Sliow, fez sua estria no Bowery
Amphitheater de Nova York. O programa con-
sistia em uma mistura sentimental de baladas.
nmeros musicais e di logos curtos: a m sica
era fornecida por banj os. violinos. castanho-
las e pande iros . Logo. apresentava-se miustrcl
sho ws em lodo o pas . Ateres brancos. com o
rosto pintado de preto, divertiam platias com
/) 0 Nat u rci s nro ao I' r (' .\ ('II / ('
uma pardia da vida dos negros, que se torna-
ria uma tradio difc il de destrui r.
Em 1847. a situao do tea tro de Nova
York era tal que Walt Whitman, escreve ndo no
Bro oklyn Eag le, estigmatizou todos os teatros,
com exce o do Park, como " lugares baixos
onde a vulgaridade (no ape nas no palco, mas
diant e de le) predomina. e o mau gosto triunfa
com poucos pontos favor veis que di minuam
sua grosseria". At mesmo o Park, di zia ele,
pro porciona somente "im itaes de terceira
cl asse dos melhores teatros de Londre s. Ence-
na os dramas recusados e os atores desempre-
gados da Gr- Bretanha, e nestes dra mas e ato-
res, da mesma forma que trajes de segunda mo
dados pelo cavalheiro ao valete. tudo cai desa-
j ei tadamente".
Whiuuan estava sendo. talvez. algo injus-
to. mas ele ps o dedo nas duas foras mo-
trizes do teatro americano de sua poca : a j
demasiado opressiva e declinant e tradio in-
glesa e a tendncia a ficar no st ur s vs teni , "Al-
gun s atores ou atrizes passam pelo pas. traba-
lhando uma semana aqui e outra ali. trazendo
como sua maior referncia a no vidade - e
mui to Ireq entcmenre nenhuma outra: ' Nos
inter valos entre estas apresentaes de virtu o-
ses. os teat ros ficavam sempre vuzios, a des-
pe ito do fato de que excele ntes companhias
de repert rio locais esti vessem muitas vezes
encenando peas interessa ntes.
Apes ar das repreenses de \ Vhitman. o
drama americano moxtrou convider.ivel vitali-
dade e hab ilidade no empn:go de elementos
nativos. No Chestnut St rect Thea rre, cm Fila-
dl fia, James Nelson Barker aprese ntou Thc
Indian Pri nccss, "r Lo Bcl l "l mll 'age (A Prin-
cesa ndia. ou A Bela Selvagem) ( 1808): um
co nto de Pocahontas, a jovem indg ena que
ter ia se apaixonado pelo Cupito Smith e por
isso salvo a sua vida. foi o primeiro drama en-
ce nado na Amrica que utilizava personagens
ndios. No ano seguinte. a pea foi apresenta-
da no Park e em seguida cm teat ros de todo o
pas. Sua fama difundiu- se tant o que conse-
guiu a distino de uma mon tagcm adulterada
c pirateada no Drury Lane, em Londres. em
1820. Alm de muitas adapta es de peas.
novela s e poemas europeus, Burker tambm
escreveu Supcrstition (S upersti o l, 1824. um
dram a sobre a intoler ncia puri tana ,
Por cau sa do j poderoso star sisteni. mui -
tas das melhores primeiras peas americanas
foram escritas como veculos para atore s fa-
mosos. Alm disso, cenrios exticos ainda
agradavam muit o. Ant es de descobri r que a
falt a de leis sobre direitos autorais tornavam
precria a s ubs istncia do autor, Robert
Mont gomery Bird, um dos melhores drama-
turgos romnticos dos primrd ios. escr eve u
para Edwin Forrest peas como Tlie Gl adi ator
(O Gladiador), 1831, uma histria sobre Esp r-
taco e a Roma antiga , na qual predomi navam
sent imentos abo licionistas. e The Broker of
Bogota (O Age nte de Bogot) ( 1834), um tu -
multuoso drama passado na Col mbi a.
Porm , o texto "importado" continuava a
dominar na Broadway. Essa preferncia refl e-
te-se no prarnb ulo ao "sucesso inequivoca-
mente br ilhant e" de Fashion, ar Life in Neli'
York (Moda. ou A Vida em Nova York). de
Anna Mowatt (a descrio da prpria auto -
ra. porm justifi cada ). que lotou o Park por
vrias se manas em 1845. Corre ndo os olhos
por um anncio da pea no jorn al, o Prlogo
comenta em verso: "Bah! Cal ics fei tos em
casa podem ser bons o suficiente / Mas dra-
mas feitos em casa so necessari am ente urna
coisa es tpida / Se tiver a estampa Lotulon, a
sim.," A pea no era s planta de casa, mas
escr ita por uma mu lher '
Inspi rand o-se em O Contraste, de Tvlcr, e
dc Thc Scltoolfor Scandal (Escola do sc n-
dalo), de Shericlan. a Sra. Mowatt apresentava
uma intri ga em que as virtudes nat ivas eram
contrasta das com a desonestidade estrangeira.
O honesto Ada m Trueman, convidado rural da
atrapalhada sra, Tiffany, que espera casar sua
filha com o conde Jolimai tre - "u ma importa-
o europia em moda" - uma reencarnao
reconhec vel do Jonath an, de Tyler,
Opondo-se ~ tendncia da comdia. do
melodr ama extico e da celebrao das virtu-
des democrticas, assinalam-se as tragdi as
pat rcias em verso de George Henry Boker, que
desenvolveu a tradio inaugurada em Fil udl-
lia com O Priucipc de Ptirtia, de Godfrev. Ele
prprio um tiladelfiano, Baker seguiu o con-
se lho q ue de ra ao poeta Ri ch ar d Henry
Stodda rd: "Afaste-se para o mais longe poss -
vel de sua poca". A melhor de suas peas
sem d vida Fmuccsca da Rimini ( IS55>. que
5 15
permanece co mo o mai s fino tratamento dado
no dr ama ingls ao s amantes condcnados de
Dan te.
Co nfo rme Whilman havia obser vado. es-
petcul os inovado res e vin uossticos co ntinua-
ram a domin ar o teatro em Nova York. Qu an-
do. por exe mplo. Edwin BOOlh. em parceria
com um homem de negcios de Boston, abriu
seu novo teat ro em 1869 . Nova York engalfi-
nhou- se pel os ingressos. que foram leil oados
a pre os supe rior es a US$ 125. A no ite da
prntier no teatro de Booth causou tripla sen-
sao: a magni fi c ncia da casa. o equipamen-
to tcn ico pr omi ssor - que inclu a ala pes
hidrulico s - e a lembrana do irmo de Ed win,
John Wilkes Boot h, o assassino do presidente
Lincol n.
Descr ito, com a prop en so america na para
a hiprbol e, como " 0 ma ior sucesso do mu n-
do", a dra matiza o do rom ance abolicionista
Uuc!e TO/l/ 's Cabin (A Cabana do Pai Toms)
de Harri et Beecher Stowc, estr eou no ivluseum
Th eater em Troy. Nova York. em 1852. Um
efe tivo xito. foi transferida no ano seguinte
para o Purdy' s National Theatre em Nova York .
Perene favor ito. no curso dos anos, este espa r-
ramado ataque escravido em se is ato s de-
senvolveu vida prp ria. Seu lema. da desuma-
nidade do homem para com o homem , era re -
vestido de uma variedade de efeitos cnicos
espetucul nres, e acompanhado de dan as e GUI -
\.'es com banj o roi finalmente enccnudo. em
18:-\ I. nu ma prod ll(;,\ o de P. 1'. Bamum e J.uu e-,
A. Buil cy, de huna circense. Esta aprcxcnt.i-
i\O torn ou-se ass im. de cena Ionu a, um an-
cestr al da gra nde co ntribuio da Amrica par a
o palc o: o desenvo lvimen to, p x-Gucua Ci vil.
do musical .
Por m. a verdadeira fonte deste g nero
nat ivo provavelmente The Black Crook (O
Trapaceiro Ne gro ). de Charles M. Barras. que
estreo u em I:-\ 66 pa ra o enca ntado aplauso do s
nova- iorqu inos no Ni blos Garden. A monta-
gem deu -se C0 !l1 0 resultado de um for tuito aci-
dente. qu e p) s em dificuldade 11m corpo de
baile e m NO\',r York, aps o teatro onde espc-
ravum atu ar ter pegado fogo - um acon teci -
men to conte mporneo COnll11l1. Combinando
belas bai lar inas cscassumc nte vcstida-, com um
mel odrama a envolver cxpctuculurcs cxibie
cnica s. o adminivtrudor do Nihl u' Gar.lcn
5/
H vt o ri u ,\I li 11di u l c/o T ('OI ,.o
in ve nto u um t re mendo s uc e sso do show
busincs s, que se ma nteve no palco pela s trs
dca das seg ui nte s. a des pei to dos ataque s do
p lpito e da impren sa.
Arranjado com as ex ig nc ias da Broad wa y
em mente, o musical floresceria ali, ao lad o
do sho H' de vari edades, onde o ca nto, a dana
e os aros curtos de v rios tipos eram amarra-
dos um no out ro sem o intuito de desenvolver
uma hi stri a linear. Foi no recm-inaugur ad o
teatro de Floren z Z iegfeld, cujo espetac ular
Zigfcld Follies havi a comeado, em 1907, a
"glorificar a garota americana" , que o musical
america no alcanou um novo pi co com Shovv
Boat (19 27 ). Baseado no ro mance sentimen-
ta l de Edn a Ferber. do ano an terior,
tava um libreto de Oscar Hammcrstein e m-
s ica de Jerome Kern. Sua can o de impacto
Ol 'Man Ri ver arr eca da ria milhes para o tea-
tro e as gravador as.
Seu sucesso. entretanto, seria of uscado, em
1943. por Oklahonu, mu sical ba seado na co-
md iaf//.: Grecn GIVII ' IIIl' Lilacs (Os Lila ses
Cresce m Verde s) . de Lynn Riggs, datada de
193 1. A pea int rodu ziu uma ten dncia em que
a coreografia desem pen haria um papel cada vez
mai s importante. Por cau sa da fabulosa combi-
nao de dilogos. canes. bal e ritmos sedu-
to rame nte orquestrados. Oklalunna I quebrou
todo s os recordes de bilh et eri a, ati ngindo 2250
ap resentaes so mente e m No va York. No in-
tervalo entre Show Boa t e Okl ahonu entraram
em cartaz as efervesce ntes com dias musicai-.
de Ge orge Gcrshwin: Stril. UI' lhe Band ( 1930)
ot Th"e I Sillg ( 193 1) (com libreto de George
S. Kuufman ), o pr imeiro dc ste g nero a ganhar
um Prmio Pulitzer.
O mu sical americano alca nou x ito in-
ternacional e tri unfo u sobre lI S vestgios da "era
de prata " da opere ta. quando obras de I ohann
Strauss. Franz Leha r, Fr an z von Supp , Nico
Do s tal e Emmeri ch Kalman fl or esci am no
Carlstheater e no Theat er 'ln de r Wien. em Vie-
na, e no Met ropol , e m Berlim.
Ao desenvol ver o musical. a Broadway
curvou-se ao de sejo do pblico de uma forma
e s pec if ica me nte nmcric una de ex presso .
Como exprimiu o fato Gideon Freud, esta
uma for ma qu e "a Amri ca invent ou a 11m de
desab afar em grande escal a. Seu esti lo fl u-
tuante e at ago ra no atingiu nenhum caniter
D o Nrt t n ru l is m n (1(' P res e nt e
final. to novo, barulhento e Io fora de qual-
quer padro qu ant o o continente que o or i-
gi no u" .
Percebendo qu e nad a mais poderia se r
extra do dos ve lhos e sentime ntais c lich s, a
Broadway recordou- se das bibl iot ecas e entre-
go u-se ao s model os literrios, rei nterpre tando
os clssicos contemporaneamente : Kiss me
Kate (Beij e-me, Kate), 1948. basead o em A
Megera Domada , de Shakespear e; Wesl Si dc
SIOI}' . 1957, inspirado em Romeu e Juliet a; c
My Fair Lady, inspirado em Pigmalco
de G. B. Shaw. Candide (19 56), ba seado no
romance satrico de Voltaire. des tacava um
libret o de Lill ian Hellman, uma pa rt itura de
Leonard Bernst ein; e ca nes co m let ra de
Rich ard Wil bur, John Lar ou che e Do rothy
Pa rke r. Embo ra este musical haj a atingi do no-
vos cimos em termo de habili dade literria e
humor, foi um frac asso financeiro, Conti nuou.
entretanto, a desfrutar de uma vid a oc ult a, em
forma de gravao.
Tentativas de trazer o musical da Broad -
way para mai s perto da pera - Porgv and Bess,
de Gersh win ( 1935), basead o no ro ma nce
Porgy , de Du bose Heyward , e Street Scene
(Ce na de Rua). de Kurt Wei ll ( 1947 ). com base
na pea homnima de Elma Ri ce , e c om-
ple me ntad a por canes com letra s do poeta
Langst on Hu gh es - inicialmente tiveram s u-
cesso finan ce iro lim itado . ma s so ain da revi -
vidas. Em 1950 . P{IIK1' anil Bess excursionou
co m muito xito pe la Europa. levad o por um
elenco tod o de ateres negros, que at uou inclu-
sive em Moscou . Pos terior mente, den tre os mu -
sicais american os que tiver am sucesso inter-
nacion al figurou Fiddler 0 11 the Roof (U m Vi-
olini sta no Tel hado). 1964, ba seado na s hi st-
rias imortai s de Sc ho lem Ale ikhem so bre a vida
de Tevie. o Leit eiro. num a aldeia russa pr -
Primei ra Guerra Mundi al - dirigido e coreo-
grafado por Jerome Robbin s, e Hair, 1969, uma
roc/.:-ce lebrao do misti cismo e protes to do
mundo hi ppie.
A Broad way produz pelo men os dez no-
vos musi ca is a ca da ano. tenden do reccnteme n-
te a produzir pouca coisa a mais. Os investi-
men tos podem facilme nte chegar a mai s de mei o
milho de dl ares com ateres, ms icos, ce no-
grafi a e coreografias. Pouqussimos musi cai s
fazem suc esso. Teste s em cidades pequenas no
do indicao segura de co mo a Broadway rea -
gir, e es trias em Nova York so um negc io
tenso para os "anj os" - os investi dores finan -
ce iros. Se a primei ra noite um fraca sso, ludo
est perdido; se um es tro ndoso sucesso, os lu-
cros aume ntam co rno lima bola de neve. A apos-
ta est entre o xito es tro ndoso e o ma logro to-
tal: Thcre 's 110 business like show business.
Um pouco men os espetacular que o de-
scnvolvimento do mu sical foi a evoluo aps
a Guerra Ci vil do drama. que comeou . num
ce rto se ntido. com o sucesso br ilhante. um ano
antes do co nfli to, de Tlte Octoroon (O Oi tavo)
( 1859), de Di on Boucicau lt, um dra ma sobr e
o amor de um ho me m branco e uma j ove m
mulat a livre . Ater-autor irl ands, que veio para
Nova York ap s ter esta be lecido sua reputa-
o em Londres. Bouci ca ult tinha um se ns o
seguro do teatro co mo entretenimento. Embo -
ra sua pea tratasse de problemas sociais que
cont inuam a rondar os Estados Un idos, sua
nfa se - como grande parte do teatro soc ial
que se seg uiria - estava no sentimento. Al m
disso, oferec ia um ce rto nmero de ce nas es-
pet aculares, que iam desde um leilo de csc ra -
vos at um navi o a vap or se incendiando.
Boucicaul t tamb m teve parte num dos
mais famoso s s ucessos do pa lco americano
quando co laboro u co m Joseph Jefferson III
na lt ima ad a pt ao da clss ica hist ria de
Washi ngton Ir vi ng, Rip Vali Will/.: /e (Joo Pes-
tana). A pea es treou or ig inalmente em
dres, em 1865 , ma s fo i logo tran sferida para
Nova York e logo depois para out ras pa rte s
do pas. No decorre r dos ano s. Jefferson . se-
gui ndo os passos de seu pai e av famo sos.
qu e haviam ap re sentado nduptu es ante rio-
res da histr ia de Ir vin g. al terou muit a, ve-
zes a pea .
Pode- se d izer que o realis mo no teatro
ame rica no dat a do "ousado" trat amen to dado
s co nse q nc ias do adult rio . por James A.
Hern e em Marg arct Fl cming ( 1890). que teve
uma nica mat ince no Palmer Theat re de Nova
York, UIlI ano depoi s de suas primeir as apre-
senta cs em Lynn, Massachusett s. Um admi
radar apa ixonado de lbsen , o aro r-autor Merne
despiu seu dr ama de muitas das conven es
teat rai s da poca com vistas ao s favores da s
pl atias da Bro adway, mas a pe a raramente
chegou a ser re encenada, mes mo de pois qu e
517
ele reescreve u o ltimo ato , a fim de sugerir
uma po ss ve l reconc il iao entre marido e
mulher. Anlerionnente, em sua carrei ra, Herne
dividira o palc o com David Be lasco, o brilh ante
atol', diretor e dramaturgo cuj as noes de rea-
lismo, de um teor ma is bombstico do que as
de seu antigo parceiro, dominariam o palc o da
Bro adway por algum tempo. Belasco atual-
men te lembrado sobretudo por suas adap taes
das peras Madani e BtllIerfl )', 1900, e Tire Giri
of the Cald eu I\'est (A Garota do Oeste Dour a-
do) , 1910, de Puccini.
O reali smo. no sentido da drarnaturgia de
cr tica socia l e stira, enco ntrou seu expoente
mais bem -sucedido em Cl yde Fitch, qu e havia
originalme nte formado sua repu tao co m co -
mdi as romnt ica s como Beau Brtll11l11e/ ,1890,
e Capt ain Jinks of The Horse Murin rs (Capi -
to Ji nks da Cavalar ia Marinha), 190 I. Em
peas como The Cl inibcrs (Os Alpi ni stas) ,
1901, The Truth (A Verdade), 1906, e Tlie City
(A Cid ade), 1909, Fi tch volt a sua con sci ncia
t ica da Nova Inglaterra para aspectos questi o-
nveis da sociedade america na.
Quat ro anos ap s o tri unfo do dra ma ro-
manti cament e " realista" de Belasco, sobre o
longnquo Oest e americano, Wi lliam Vaughn
Moody apre se nto u. em Th c Great Divide (A
Grand e Frontei ra), 1909. uma adapt ao de sua
antiga pea em verso, The Sabinc 110111(// / (A
Mulher Sa bina). 1906. um interessante dr ama
que focaliza os va lor es confl itantes do Leste
puritano e do rud e e dispo nvel Oeste. Sozi -
nha na cabana de se u irmo no Ari zona , Ruth.
uma garota crescida no Leste. assediada por
trs rufi es. Ela se salva ao imp lor ar a um de-
les que a torne sua . Stephe n Ghent "compra"
a moa de se us companhe iros. e quando Ruth
co nseg ue o din he iro pa ra "recomprar" a si
mesma, volta para Nova Inglaterra. Mas em
essncia ela rejeita os homens cultivados de
seu amb ien te e an seia pel o indmito compa-
nheiro a quem mos tr ara as possibilidades de
vida. Tlic Faith Hcal cr (O Curandeiro pela F).
1909, embora uma pea possivelment e melhor.
obt eve menos sucesso por cau sa de seu tema
m st ico, em que o po der esp iri tual inat o do ho-
mem contrapo sto ao racionali smo e reli-
gio convencion al.
O contras te entre o Le ste e o Oeste nos
Estad os Unido s foi tra tado um pouco men os
5/8
Hs t ori u /ll lIl1d ;o / d o Tr a t ro
profundamente em The Three (!(Us (Ns Trs),
1906. de Rachel Crothers, o pri meiro de uma
s rie de dramas e com dias no s quais a autor a
ex amina va questes soc ia is do pomo de vista
feminino. As Husbands Co (Q uando os Mari-
dos se Vo), 193I. IVhel/ Ladies Mect (Quan-
d o as Se nhoras se Enc ontram), 1932 e Susa n
and God (Susan e De us), 1937 . Aps 192 2,
Philip Barry di vert iu e confund iu a Broad wa y
a lte rnadamente com um a s rie de cinti lante s
c o mdias sociais e dramas com orientao
mstica, incl uindo Hol idav ( Fe riado) , 192 9, a
revolta de um jovem contra a vida " sensata" ;
Th e Animal Kingdom (O Reino Animal), 1932,
um exa me da verdadeira natureza do cas amen-
to; Here Come the Clo\VI/S (A Vm os Palha-
os) , 1938, uma fas ci nante - mas comercial -
mente ma lsucedida - investi gao das razes
profundas da moti vao humana : e Thc Plnla-
de lphia Storv (A Hi stria de Filadlfia). 1939,
um relato hilri o e mordaz de uma indcil
mulhe r da soci ed ade s vspera s de um se-
gundo cas ame nto. Mais ou menos na mesma
poca, Ma xwell Anderson te ntava. em peas
como Elizabcth thc Queen (A Rainha Elisa -
be th) , 1930, e Mary of SeOlI(///(1 ( Maria da
Esccia). 1933, e IVilltersct (O Inverno), 1935,
- inspirada no caso Sacco e Van zetti - revi ver
o drama em verso.
Durant e os anos 30. a Broad way mostrou-
se a ltur a do desa f io da De pre sso e do
ac mul o das nuvens da gue rra . co m uma sr ie
de dramas vigorosos que exa mi na va m as C ( ) I l ~
vices bsicas da socied ade a me ncana. Tal-
vez o mais represent at ivo de le s ten ha s ido
AII' ake and Sing! ( Desperte e Came !l, 1935.
de Cliffor d Odet s, no qu al um j ove m apai -
xonadamente exortado a " part ir e lutar. por -
qu e a vida no de veria ser impre ssa em notas
de dlares" . Dead Eud (Sem Sa da), 1935, de
Sidney Kingsley, de u s pl at i as da Broadwa y
um sinistro lampej o dos bairros da margina-
lidade e do crime em Nova York. Em ldiot 's
Dc liglit (O Delei te do Idiota l. 1'.J35. Ro bert E.
She rwood retratou as to ra s que estavam le-
va ndo o mundo a uma co nfl agra o de grande
porte e conc lamo u o homem comum a res ist ir
a elas . De forma pou co men os agr essiva mas
no meno s int eressant e ..- porque a despeito de
se u fervor moral Snerwood no ha via esq ue-
c ido que a funo es se ncial da Broadwa y era
Do Nu t u ra l ismo ct o Pr C.\'( ' 1I 1('
en treter - , William Saroyan cont raps as for-
as modernas do be m e do mal em Tlie Time of
YOllr Life ( A Chance da sua Vida ), 1939, esco-
lhen do romanticamen te um boreco de San
Francisco como ce nrio para seu encontro.
Naq ue le mes mo ano. Lill ian Hell man exami-
naria as ra zes do ca pitalis mo americano em
The Little Fax es (As Raposinhas), em que a
trad io ari st ocrtica sulista mo strada como
agente no proce sso pe lo qu al as fora s do
industrialismo abrem ca minho .
Os ano s 40 assi stiram emergn c ia de
doi s dramaturgos qu e - ao lado de Edward
Albee , aps o s ucess o de II'ho 's Afraid Df
Virginia 1I'0olf? (Que m Tem Medo de Vi rgi nia
Woo!f?) , 1962 - permanecem at hoje como
os mais representativos do teatro da Broadway
em se u esprito " srio" : Tennessee Williams e
Art hur Mill er . Em Tll e Glass Menage rie (
Margem da Vida), 1944, William autobiogra-
fic amente refl etiu sobre as lasti mvei s preten-
ses dos reman escentes da tradio suli sta e
mostro u se nsibilidade refugiando-se da aspe-
reza do mundo moderno nos so nhos e no re-
t ra i ment o. O tema foi ex pa nd ido em A
Streetca r Namcd Desi re ( Um Bonde Chama-
do De sejo). 194 7, e m qu e a sens ibilidade de-
cadente de Bla nche se ope ao vigo r brutal de
seu cunhado Stanley. Williams continuou nest e
caminho co m variaes ca da vez mai s gro tes-
ca s sobre se u tema.
Enquant o a cr tica de Wi lli ams ii vida
americana parece , de ce rto modo, vir de um
outsi der, Ulll margin ali zndor. o ex ame qu e
Mill er faz da tic a dos homen s de negci os
em AlI M." Som (Todos os meu s Fi lhos ), 194 7.
acei ta, inconsci ent emente. muitas das reg ras
fund ament ai s do ca pita lismo - tanto q ue as
uprese rnu es da pe a foram s uspe nsas na
URSS - e ap ena s c ritica as infraes. Foi so -
mente com Dcath (!f ({ Salesman (A Morte de
um Ca ixei ro Viajante), 1949, qu e M ill er ofe -
rece uma cr tica mais fundamental dos valo-
res americanos. na hist ri a da destru io de
Willy Lornan pel as iluses que guiaram sua
vida. Em al guma s de s uas ltimas peas.
Miller tro cou sua nfas e na cr tica soc ial pelo
est udo psicol gico: A Viell' [tom tlic Bridge
( Panorama Vist o da Pont e). 195 5, revi sada em
1957 . After th c Fali (Depo is da Qu eda ). 1964.
Tlie Price (O Preo), 196 8.
Nos ltimos anos, o pa lco da Broadway
tem s ido dominado qua se no seu tod o pe la
comdia leve e sobretudo pe lo musical - qua-
se nenhum dos temas parece resi stir ao trata-
mento co m ca no e dana.
o TEATRO COMO EXPERIM ENTO
Em 1900 , a revista ilustrada me nsal Thc
Theatre foi fundada em Nov a York, Ela infor-
mava seus leitores sobre mo ntagens america-
na s, publicava as teorias e projetos dos refor-
madore s europeus do pa lco , Appi a e Crai g, e
cri ticava o comercialismo do teat ro da Broad way.
Em 1913, pub licou um gri to de alerta: "O que
h de err ado com o pa lco ame ricano?"
A solu o , ao que parecia. en cont rava-se
for a da Broadway - fora do alcance da di ta-
dura do teatro comerc ial - na descentrali za-
o e na cor agem ele ex pe rimentar. A er a dos
Li tt le Theatres, pequenos teatros, de sponta-
va . Na lider ana es tav am os teatros da saf ra
de 19 12, o Toy Theater em Bo sto n, o Litt le
Thea ter em Nova York e o Littl e Theater de
Chicago, Eram os corres po ndentes ameri ca-
nos do Estdi o ru sso , teatros experimentai s
qu e se interessavam mai s pelo reper trio do
qu e por longas tem poradas e ofereciam a j o-
ve ns autores e art is ta s de va nguarda um a
opor tunida de de ex perimentar novas pea s e
tcni cas de ence nao.
Ao mesmo tempo, come aram a ser ati-
vados os palcos universi trios da Amrica. Em
Harvard, o professor George Pierce Baker fun -
dou, em 19 13. o seu 47 WorksllOfJ. que foi logo
seguido por numerosos de pa rtamentos simi-
lar es de dr ama e teatro e m out ras universida-
des pelo s EUA. Os aspectos artst icos. prti-
cos , tcnicos e organizacionais do teatro pas-
saram a constar do cu rrculo ac ad mic o. Gru-
pos amadores uni versitrios apresentavam-se em
espet culos pbl icos e com isso exer ciam uma
influncia indireta no teatro profission al. O
worksliop do prof. Bak er encontrava-se dca-
das fren te de empreendimentos europeus si-
mi lare s, tais co mo os Th ophiliens, grupo fun -
dad o em Pari s por Gust avo Cohen, que estr eou
em 1933 com o Mirocle de Th ophilc (Mi la-
gre de Te fi lo), de Rutebe uf, de onde o con-
5 / 9
j unto tir ou seu nome. Baker estava tambm
muito avanado em relao aos palcos experi-
ment ais. hoj e em d ia vinculados a quase todos
os departamentos de teatro das uni versidades
europia s. De seu 47 lVorksllOp emergiram os
dramaturgos ameri ca nos Eugene O'Neill, S.
N. Behrman , Sidney Howard, Phili p Barr y,
Percy MucKayc e Thomas Wolfe.
Eugene O'Neill . o primeiro criador teat ral
estadunide nse de es tatura internacional, per cor-
re, dentro do co mpasso de suas prpr ias obras,
todas as fases do dra ma europeu conte mpor -
neo. Escre veu peas nat uralistas e simbol istas.
peas de crtica soc ial e de psicologia profun-
da, peas rom nt ico- real istas e expressioni stas.
Seu desenvolvi me nto e escolha de temas so
sintomticos em rela o a seus contempor-
neos e ge rao seguinte de dramaturgos.
Assunto e amb iente so tirados da expe rin-
cia pessoal : um lar desp edaado, empr ego ca-
sual, explorao do ouro. navegao martima,
atores ambu lantes. o sanatrio, e, nesse nterim.
teatro aplic ado no lVorkshojJ. Os Provincetown
Players, um do s teat ros experimentais impor-
tantes desde 191 5. montou o drama de mari-
nheir os de O' Neill , BOlllld East [or CordifT
(Rumo a Cardiff): em 1921 . o Theatre Guil d,
ento co m doi s anos de exi stncia. ence nou
Beyond thr Horizon (Alm do Hori zonte) e deu
a O'Neill seu primeiro sucesso na Broadway.
Trs anos depois. The MooII of thr Caribbecs
(A Lua do Cari be), foi levada por Piscator no
volks bii hn de Ber lim, bem como o drama
expressionista Th c Hair." Al' c (O Macaco Ca-
belud o) e, logo depoi s. Desire undcr thc E/III.'
(Desejo sob os Olmos, apresentad o no Brasi l
como Desejo), foram montados por Tarov no
Moscow Kamern y Th eat er.
O' Neill di sse uma vez que escrevia peas
a fim de torna r claro o pedao de verdade que
lhe fora dudo alcan ar. Sua obra explora a me-
lanco lia da vida pr ivada. a exposi o de suas
mentiras. faze ndo uma aplicao dos ensina-
mentos de Freud na revelao das casualida-
des psicanalticas.
Um do s mai s interessantes teatros experi -
mentais do ps-Segunda Guerra foi o Art ist
Theatre que, em sua curta vida. entre 1953 e
1956. mo nt ou deze ssei s peas orig inai s de
homens q ue eram a princpio poetas. Dando
determinudamen te as costas ao lucro. o grupo
520
Hi st ri Al ll ll d i u l {/o Tecu ro
incent ivava a co labor ao de escritores, pi n-
tor es e compositores. que poderi am. nas pala-
vra s de Herb ert Machiz, diretor des tas ence na-
es, "ex peri me ntar com novas perspecti vas
para si mesmos e oferecer ex peri ncias fres-
ca s para a platia". As peas ev itavam o rea lis-
mo que dominava o pa lco "srio" da Broadway
e, ironicament e encaravam a situao do ho-
mem moderno num mund o comp lexo, que no
se prestava a uma interpretao nica ou sim-
pl es. Muit as das peas - Try! Try! (Tente! Ten-
te l), de Fran k O' Hara, The Heroes (Os Heris).
de John Ashbury, e Th e Bait (A Isca), de James
Menill- for am escritas em ver so, mas sua sim-
plic idade e objetividade est avam em ag udo
cont raste com o teat ro " po tico" autocons-
ciente de Maxwell Andersen. Talvez a ma is
inter essant e ten ha sido Absalom. de Lionel
Ab el. uma ada ptao em prosa da hist ria b -
bli ca. na qual o dramaturgo ten tava intr oduzir
no palco americano o tip o de drama filosfi co
qu e havi a sido popul ari zad o na Fr ana por
Sa rt re e Camus ,
O teat ro off-Broadway, i med iatamente
post erior ii guerra, esteve durante muito tem-
po preocupado com a rec riao dos cl ssicos.
tanto antigos quanto mo de rno s. Es ta foi. em
certa medi da. a ve rdade do Living Th eatcr,
formado pel os intrpi do s Judi th Malina Beck
e Julian Beck , q ue en cenavam seus primeiros
cspet culos em seu prprio aparta me nto. To-
davia. as primeiras monragen s do grupo in-
clua m iten s to exot icamente no comerci ais.
co mo Doct or Faustus Ligtus tlu: Ligh ts (Dr.
Fausto Acende as Luzes ). de Gertrude Stei n, e
Mali." L Ol ' C.l' (Muitos Amores) . de Willi am
Ca rlos Williams. Por fi m, os Beck introdu zi-
ram em seu repert r io obras experime ntai s de
dramaturg os americanos joven s e des conh eci-
dos. A mais not vel dest as foi TJI(' Conncct ion
(O Contato) . de Jack Ge lber, um drama em dois
aros e em forma aberta q ue enfocava aspectos
do vcio nas drogas e do jazz - produzindo o
efeito de uma improvi sao bru tal - e Tltc Brig
(A Priso do Navio ). de Kenneth Brown, uma
recr iao ter rivel ment e reali sta de um dia num
complexo presidi rio da Ma rin ha ameri cana.
No inci o dos anos 60, aps algumas tem-
pestuosa s di scord ncias co m o Se rvio Inter-
no de Rendi mentos P blicos ace rca de impos-
tos no pagos, o Li vin g Theatr e "exil ou-se"
/) 0 Nut u ruli sm o er a P rt' J( ' I/ ! C
na Eu ro pa por vrios anos. Foi du rant e est e
perodo que o grupo desenvolveu um novo con-
cei to de tea tro . no qual o dramaturgo co mo tal
parecia ser aba ndo nado, e a ob ra ap resentada
surgia a pa rtir da colaborao e da inovao
de parte do s vrios membros da companhia na
criao co le tiva . Em discutidas mo ntagens
co mo Frankenstein e Paradise NOI \ ' (Paraso
Ag ora), os Beck davam gra nde nfase ao fat o
de que se u " tea tro livre" era insepa rv el de sua
orientao anarquista e paci fi st a, e qu e consti-
tu a o resultado direto do esti lo de vi da co mu-
nitr io do grupo.
Enquanto o Living Theater parecia ter se
dispersado, o Open Theater, um dos mais vi-
go rosos grupos experime ntai s nos EUA_ tor-
no u-se uma de suas rami ficaes mais dura-
dou ra s . Fo i fundad o em 1963 por J ose ph
Chaikin, que iniciou uma srie de workshops
devotados a nov as experinci as na forma. Mai s
uma vez o result ado final nascia da "c olabo-
rao" ent re o grupo e o autor. Ent re as mais
conhe cidas pro dues do Open Theatre des-
tac aram-se Viet Rock. de Megan Terry, e
Amcrica Hu rrah (O Gr ito da Amr ica) e The
Scrpent (A Serpente) de Jean- Cl aude van
Itallie.
Na tradio do Tea tro do Absurdo de
lonesco e Bec ket t, cump re citar Thr Ameriran
Dreani (O Sonho America no ). de Edward
Albee, que es treou no York Pl ayh ouse. no off-
Broadw ay de Nova York. Em sua pea. Albee
procede a um fr io diagnstico e exposio do
anicrican II 'ai' of l ife, da grotesca tri via lidade
e ban alidade do s dolos es tereotipa dos do ho-
me m comum, o isolamento sem espe ra na do
indi vd uo na estufa da s neuroses.
O es for o para escapar das restries da
Broadway levou ir fundao - sempre efmera
-- de um gra nde nmero de companhias 01'1'- e
off-off-Broudway. Mer ece me no es pec ial o
Bread and PUppCI Theatcr, um grupo de teatro
de rua, po liticamente radical , di rigi do por Pct er
Schumann. que uti lizou eleme ntos como ba-
ladas e parbol as terrifi cantes co lhidos em
mis tr ios medi evai s e espeuicul os c irce nse s: e
o La Mam a Experi ment al Thea ter C luh, de
ElIen Stewa rt, cuja influncia em tcnica s s
de int erpret ao foi to extensa qu e se refl eti u
nos grupos de teatro experi me nta l da Europa
e do Ja po.
o T EATRO EM C RI SE?
O sc ulo XX no est sozi nho ao pergun-
tar se o teat ro es t em crise. J Sneca, em
Roma, e Lessing, em Hamburgo, questi on a-
ram o sent ido e a forma do teat ro de sua po-
ca. Mas es pe c ia l mente ala rmante o d ia-
gnstico pe ssimista qu e desde os anos 50 vem
sendo apresent ado com cre scente freqncia
sob os qu ais diversos as pectos na esfera do p -
bli co, em co ngressos de teatr o, pelos resp on-
svei s por subven es -tea trais, por clu bes de
freqentadores de teat ro, por crticos e drama-
turgos. Arthur Miller declarou a certa altur a
que "o nosso teat ro , medido pelos padr es vi-
gentes . alcan ou apa renteme nte um insluvel
fundo de poo". E no ca so no importa saber
se ele se referiu apena s s condies america-
nas ou situao ge ral.
O teat ro de hoj e to secul arizado em suas
possibilidades formais e to uniforme em suas
tendncias. que a agulha do barmet ro assina-
la em No va York ou Londres. Paris ou Be rli m
igua is n vei s de a lta ou baixa. Hoj e o teat ro do
mundo verdadeira mente um teatro mundial.
Graas aos me ios de co municao de massa,
ao rdio, ao ci ne ma e televiso, ele tem uma
platia qu ase ili mitada. No limiar da era at -
mica , apre senta-se como um fenmeno inter-
nacional. um sismgrafo do estado polti co
e intelec tua l da hu man idade num moment o da
histr ia qu e. fi custa de desastres devastado-
res. nos ofer ece nada mais do que uma paz
parcial ilusr ia e nt re novos focos de cri se.
Exortado a servir de campo de teste pa ra
uma nova orde m, o teat ro acumula o entulho.
de um lado, e os est re itos veio s de minrio de
outro, dia nte de um a vara de med ida com as
mais contrad itr ias escalas: lugar de diverso
ou ag nc ia de propagand a. ter ra prometida ou
frum de debat e s, ete rno "como se" de um a
real ida de mais elevada ou tela de raio X de
uma realidad e mai s ba ixa , instituio mo ra l no
sentido de Sc hiller ou "r eflexo ativa do ho-
mem sobre si mesmo" nas pal avras de Novalis,
plataf orma de lan ament o de disc usses ti-
cas, ideol gi cas e filos fi cas ou museu para as
cl ssicas estrelas fixas. trilha para o encontro
do homem co nsigo mesmo ou mostra sem ini -
bio da s prprias emoe s... Tantos SIOgllIIS,
tantos argumentos srios. superfi ciais, preser-
51 1
Hi s t o ri a Muudial do Teu t t o
/) 0 Ncu u ra i snt n (10 Pr t' .H ' 111 t '
.5I . Proj eto cm gravura feito cm 1'-)56 pelo arqu irctc d inumarq u ... Joru Utzon par a o Teatro de pera de Syd ney.
Auxtr liu.
vadores ou provocad ores' de um fenme no que
de modo algum pode ser suficientement e liti-
giosa.
A fra se de Hamlet sobre o teatro co mo "a
crn ica abstrata e ab reviada do tempo" tal vez
nunca tenha sido mai s verdadeira do que hoje.
A breve crnica da era atmica que ape nas
comeou est saturada de problemas, de con-
trovrsia social, sociolgica, psico lgica e po-
lti ca, de ilus ria autoconfiana de urna part e
e mal -est ar e protesto, de outra, da suave radia -
o dos hom ens de boa vontade e da tur bul en-
ta viglia do s que dir igem o mundo para uma
nova ca tstrofe.
O teatr o perma nece cxat ament e no meio
de tudo isso . A Alemanha, entre as runas da
Segunda Grande Guerra , preci sou co brir a de-
ma nda re pr imida de uma dra maturgia interna-
cio nal. Nos lt imos anos, con struiu modernos
palcios de vidro e concreto, que se pres tam a
propostas m ltiplas. Em Nova York, edificou-
se o complexo do Lincoln Cent er, COIll o Me-
tropolitan Oper a e suas salas de co nce rto e tea-
tro. Em Londres, um novo e grande ce ntro de
arte emergiu na margem sul do T misa, co m
uma ga leria de arte. trs salas de concert o e
um Teatro Nacional. A capi tal da Austr lia,
Syd ney, possui um imponente teatro de pera
em forma de um grande barco a vela. situado
no porto , numa ponta da enseada. Seu projeto
foi idealizado pelo arquiteto dinamarqus Jorn
Utzon. Ele ganhou com sua ousada constru-
o em con cha o primeiro prmio em concur-
so pblico.
O teatro tornou-se mais culinrioe ao me s-
mo tem po mai s espartano do que nunca , mai s
inte lec tua l e s ubj etivo, go sta de po sa r de
antiteatro. Ele est tentando verificar at onde
pode ir no quest ionament o de sua prpria va-
lidade. Con ta co m a possibilidade de se rvir-se
de todos os mecanismos teatra is modernos con-
cebveis ou de prova r, ao contrrio. que no
necessi ta de absolutamente nenh um acessrio
c nico. O tea tr o pode dever seus impulsos a
um dramaturgo, a uni diret or, a um adminis-
trador. a um rgo que o subvencione ou a uma
companhia comerci al.
Ma s, quando o pb lico fala de uma crise
no teatro. ele o faz no tanto com referncia a
condies externa s. como ii suhst ncia da re-
presen tao teatral. O drama modern o parece
522
no ter p nem cabea, e assi m o palco surge
como um espelho deformante a refletir uma
imagem que o pblico no est preparado para
aceitar.
lo nesco disse certa vez qu e o trao mai s
cara cte rstico das pessoas de nossa poca que
elas perd eram " qualquer tipo de con scincia
mai s profunda de desti no" . O drama mostra,
necessariamente , um quadro tra gic mi co da
vida, numa poca e m que no mais podemos
evitar a questo so bre "o que es tamo s faze n-
do na terra e como podemos suport ar o peso
esmagador do mundo das coi sas" .
O Teatro do Ab surdo uma conseq ncia
l gica dessas con sider aes. Anu nciava -o de
uma mane ira provocad ora e brutal, em 1895,
o Vim Roi (Ubu Rei), de Jarry, e lonesco e
Beckett o estabeleceram solidamente no pal-
co da segunda metade do sc ulo XX. Albert
Ca mus definiu, em Le Mvthe de Sisyphe (O
Mito de Ssifo), 194 2, de que for ma a moder-
na conscientiz a o do abs urdo: " Um mundo
que pode se r explic ado, mesmo que com fu n-
damentos inadequados. um mundo familiar.
Num uni verso, porm. que repentinament e
despojado da s i luses e da luz da raz o, o ho-
mem sente-se um estran ho [... ] Est a separa o
do homem e de sua vida , do ato r e de sua ex -
peri ncia, este. pre ci samente, o sentido do
ab surdo" .
Ionesco escreveu algo mu ito seme lhante
em 1957, nu m ensaio sobre Kafka tCahiers
de lo Conipagnic Mculcleine RCI/ OI/(I ... Jean-
Loui s Barraultv: "Absurdo al go que no tem
objetivo. Quando um homem est desliga do
de suas razes reli giosas, metaf sicas e t rans-
cendentais, e le se perde, tudo o que faz fica
sem sentido. abs ur do . in ti l, ceifado em se u
g rmen" ,
O que co nta a realidade psicol gica. ()
palc o torna-se um esp ao sem nen hum a refe-
rncia identific vel. o pesadelo visvel da va-
cuidade. Um plan alt o desolado com uma lti-
ma rvore nua, di ante da qual Vladimir e Es-
tragon, numa auto -suges to sem sent ido, es -
peram Godot; um des ert o de areia no q ua l
Winnie va i afundando mais e mai s pro funda-
ment e; duas lat as de lixo ond e Nag g e Ne li
consomem-se na expectativa do miservel fi-
nai do Endgan u: (Fim de Jogo) - este e o mun -
do cnico do Abs ur do de Sa muel I3eckett .
A "mensagem" prometida em Les Cha i-
ses (As Cadeir as), de Ionesco, uma far sa: um
surdo-mudo apr esenta- se em cena como o ora-
dor che io de promessas qu e a anuncia. uma pa-
tti ca per sonificao de grot esco desa mparo.
As per sonagen s de lonesco err am der i-
va num mundo desco nectado, confinados em
seus medos, caricaturas de si mesmos , palha-
o s ma cabros de um " trgico es pe tculo de fan-
toches" . lonesco fala do pro cesso criativo do
dra mat urgo C0 l110 um "empreendi mento de
pesquisa" . No pro mete descobrir terra nova.
Ao contrri o, o objetivo da va nguarda dra m -
tica deve se r redescobrir. no inve ntar. "as for -
mas eternas e OS ideais esquec ido s do teatro
em se u estado mais puro" .
" Prec isamos romper co m os c lichs". co n-
tinua ele . "fugir do 't radicional ism o tacanho.
Preci samos redescobrir a n ica. ve rdadeira e
viva tradi o" . O Tea tro do Abs urdo a COIII-
media drllorte do niilismo, o grand guignol
de um mundo de paradoxos.
o T EAT RO E OS M EI OS DE
COI\I UNI CAO DE M AS S A
A "redescobert a", sob out ros signos. tor-
nou-se caracterstica do teatro do sculo XX.
como tambm do cinema, A deduo do princ -
pio pico, por Bre cht, a partir do "carter ex-
positivo" do " antiqussimo teatro asi uco to
pertinente quanto. digamos, a declarao de
Einsenstei n de que devia a idia da mont agem
do fi lme "primeira mente e antes de mai s nada
aos princpios bsic os do circo e do music hal l" ,
pelos quai s tinha pai xo desde a infncia .
O pr ime iro passo fre nte em tcn ica ci-
nematourficu foi o da fant asia e do truque ,
alcanad o por Georges Mli es ; o segundo fo i
a fars a burl esca: o terce iro. o acti on ((J/.JI C{[ 1f
(quadro vivo). qu e se or igi nou no teat ro do
sculo XIX.
Qua ndo Henr y Irving mont ou R OII/l'lf e
Juli eta em Londre s, em 1882, tentou criar uma
repro du o fot ogrfi ca da poca e do lugar por
mei o de cen rios e de quadros vivos . Tr inta
anos mai s tar de, quando Loui s Mercanton fil-
mou Queen Elit abeth, trabalhou com cen ri os
e tc nicas teatrai s. Sara h Bernhardt no ape-
nas fi lmou a chamada para os apl ausos. como
escreve Ni ch olas Vardac, "mas seu mer gulho
fina l em um a pil ha de travessei ros dia nte da
c mcra, no clmax da ce na da morte. pa rec ia
mai s co mdia burl esca do que drama".
O de safio oferecido por Quecn Eli zab cth
e pel as produes itali anas de G. Past ron c foi
acei to por D. W. Griffith. Judi th of Bcthulia
baseou- se no espetculo homnimo de T. B.
523
Aldrich, na poca um sucesso de palco. Mas
foi com lntolerance e The Birth 01a Nation
(O Nascimento de Uma Nao) que Griffith
ps fim aos dias do "poeira". Nesse ponto, foi
preciso construir grandes cinemas ou tomar
posse dos teatros para a exibio de novos fil-
mes.
Ren Clair rejeitou qualquer aproximao
entre os irmos dspares - teatro e cinema.
Reivindicou para a tela o privilgio de trans-
gredir o dogma do realismo - mais ou menos
como Robert Wiene fez em O Gabinete do
Doutor Caligari (1919) - e de configurar uma
"verdade subjetiva". Ren Clair argumentava
que teatro e cinema so governados por leis
artsticas completamente diferentes e precisam
ser claramente separados. E ainda em 1950,
ele declarava consistentemente: "No compar-
tilho da opinio daqueles que sempre encara-
ram o cinema como um mero instrumento para
a expanso das peas teatrais". Ele tinha uma
frmula simples para uma distino bsica das
duas categorias: "No teatro, a palavra conduz
a ao, enquanto a ptica possui importncia
secundria. No cinema, o primado cabe ima-
gem, e a parte falada e sonora aparece em se-
gundo lugar. Fico tentado a dizer que um cego
no perderia dinheiro indo ao teatro, e um sur-
do, ao cinema".
No obstante, elementos e possibilidades
do filme exerceram, por sua vez, influncia
artstica estimulante sobre a moderna cenogra-
fia teatral. Quando, em 1949, Jo Mielziner
desenhou o cenrio da montagem nova-
iorquina de ii Morte de 1IIJ1 Caixriro viajante
(dirigida por Elia Kazan), disps em cena o
esqueleto de uma casa, de uma s famlia, aper-
tada entre arranha-cus, mas mostrada no meio
de rvores banhadas pelo sol nas aes re-
trospectivas em flashback. Um leve vude mus-
selina com fileiras de transparentes janelas pin-
tadas dava a impresso de melanclicas facha-
das; uma projeo verde-amarela de folhagem
transformava o mesmo quadro - depois de apa-
gadas as luzes de fundo e da supresso do am-
biente das casas numa atmosfera de radiante
primavera.
Para UIII Bonde Clianiado Desejo, de
Tcnncssee Williams, dirigida em 1947 por Elia
Kazan, Mielziner usou paredes transparentes
que. com a ajuda de luz e sombras, tornavam
524
Histria Allflulio! do Te otro
possvel uma transio fluida entre as cenas
de interiores e as de rua. Esse tipo de cenrio
era, no entender de Mielzincr, o mais fasci-
nante de todos. Por seu intermdio as idias
de Appia e Craig, que chegado aos EUA por
intermdio de Robert Edmond Jones, voltavam
para a Europa com formas novas e diferencia-
das graas ao cinema. Sua infl uncia mais di-
reta pode ser encontrada, talvez, nos cenrios
feitos no incio dos anos 50, por Wo1fgang
Znamenacek.p.ara o Kammerspiele de Muni-
que, como, por exemplo o de Die Ehe des
Herrn Mississippi (O Casamento do Senhor
Mississippi) de Drremnatt, ou, a partir da d-
cada de 60, no cengrafo tcheco Josef
Svoboda. Para uma montagem do dipo Rei,
de Sfocles, no Teatro Nacional de Praga, em
1963, Svoboda construiu uma escada de qua-
se dez metros de largura com degraus semi-
transparentes, que se erguia do fosso da or-
questra at o urdimento do teatro. A msica
era ouvida atravs de perfuraes na escada.
Outro tipo de convergncia entre as tcni-
cas artsticas do teatro e do cinema surgiu com
o palco miniatura, que se tornou popular na
Europa aps 1945 sob vrias denominaes,
como teatro "intimista" ou "de crnera". Numa
sala pequena e sobre um palco nu, os atores
encaravam a platia quase to diretamente
quanto a cmera e o microfone do estdio.
Qualquer excesso de voz, gesto ou mmica era
captado pelo espectador, sentado bem prxi-
mo, como que por lentes fotogrficas - sem,
entretanto, possibilidade de correo.
Enquanto no teatro com cenrio a distn-
cia, no peep-show ou na arena, o ator tem de
prender a ateno do espectador de uma dis-
tncia de 20 m ou 30 m e introduzi -lo no espa-
o vivencial dramtico, no teatro de cmera
acontece o oposto: destaca-se a emoo, a sim-
plicidade e, se tanto, atenua-se a empostao
do texto; o ator no usar maquiagem, e a in-
terpretao ser intensiva, em vez de de ex-
tensiva. Esta a origem da economia de mei-
os, baseada na constante conscincia do c/ose.
Quando essa tcnica de interpretao trans-
ferida para a distncia do cenrio comum, em
forma de peep-show, a audio pode, s ve-
zes, ser prejudicada.
O apogeu do teatro de crnera contempo-
rneo deu-se na metade do sculo XX. A farsa
52. Neli c Nagg cm suas latas de lixo. 1."111 Fun til' jogo. de Samuel Bcckcu, que estreou cm _ ~ de abril de 1957 no Royal
Court Thcatrc de Londres. Direo: RogL'r Hlin; ('lu I";-;jllgos como Neli e G Adct COIllO Nagg.
Le Dsir Attrappar la Qucue (O Desejo Pego
pelo Rabo) de Picasso, foi encenada pela pri-
meira vez durante a Segunda Guerra Mundial,
em 1944, pelo pequeno crculo em torno de
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Foi
uma conspirativa sesso privada, da qual par-
ticiparam os literati importantes de Paris, num
apartamento em Saint-Germain-des-Prs - um
happening; uma brincadeira de atelier, na tra-
dio dada, surrealista e do Cabaret Voltaire.
Camus e Queneau estavam entre os partici-
pantes.
Na Alemanha, o primeiro teatro de cmera
foi organizado em 1947 por Helmuth Gmelin,
no piso superior de sua casa em Hamburgo:
logo em seguida, transferiu-se para um edif-
cio neoclssico, onde, entre outras obras,
Gnther Rennert. da pera de Hamburgo, en-
cenou Esperando Godot. Berlim, Frankfurt
(sob a direo de Fritz Rmond), Wiesbaden,
Dsseldorf e Colnia o seguiram com teatros
de cmera: Munique, em 1949, com um tea-
tro-estdio no Schwabing, o bairro dos artis-
tas. Luigi Malipiero estabeleceu-se no torreo
de Sommerhausen. um povoado da Francnia.
Em 1953, foram inauguradas em Milo duas
verses em miniatura do space stag - o
Teatrangolo, organizado pelo professor de li-
teratura Francesco Prandini em sua prpria sala
de jantar, e logo em seguida no Teatro
Sant'Erasmo. O esforo de converter a neces-
sidade numa virtude artstica triunfou em mui-
tos casos. En1 inmeras cidades universit.uias
existem at hoje teatros de cmera ativos: eles
desenvolveram um estilo prprio e mantm-
se a meio caminho entre o palco e o cinema.
Jerzy Grotowski diz:
H apCll<l.., um cfcmcruo que o cincru.r l' a tclcviso
no podem roubar do teatro a intimidade do tlrg;lllisllHl
vivo. Por causa eh-c-o. cad.r desafio para o utor. cada Hill
dos xcux aro-, (que a platia incapaz de rcpro
du/irl tornu-:,c ;lIgUIlLI coi",\ de grande, de cxtraordiu.i-
rir). algulll:l coi..,a prxima do xtase. portanto ncccss.i-
rio abolir a dist:1I1eia entre () utor c ,-l platia. climinando
n palco. rctunvcndo rodu-, a" fronteiras. Deixar que '-IS
cenas mai-, dr;"tiL':\" ocorr.un face a face com o expec-ta-
dor. para lIue .u.-.imele e"teja mo elo atol'. POSS;l percl'-
bcr sua l'L,,,pira\';lnL' -cuur -.;ua rr,lIhpirailll [...,.,,() implll:a
;1 uccc-c.idadc de 1I111 teatro (l cmcru.
Os pioneiros do cinema lamentavam sun
efemeridade. a escassa durao de SCll material.
516
Hstori ci M'u nd i n I do Tcu t ro
A tecnologia atual permite pelo menos que um
grande nmero de cpias de qualquer filme
sejam feitas antes que ele se estrague, permi-
tindo, assim, guardar testemunhos documen-
tais tanto de seus primeiros tempos quanto dos
acontecimentos teatrais. Na verdade, um es-
petculo teatral filmado um "hbrido", a meio
caminho entre teatro e cinema, mas, no mni-
mo, pode ser, desta maneira, repetido e trans-
portado. Abre espao para comparaes, que
podem ser fascinantes e instrutivas mesmo
quando a deteriorao comea a se tornar vi-
svel. Um exemplo o filme para a televiso
da montagem milanesa de Giorgio Strehler de
Arlecchino Servitorc di D1Ie Padroni, com
Marcello Moretti. Quando Ferruccio Soleri
passou a desempenhar o papel, a mudana foi
quase imperceptvel, mas, conforme a tela
mostra, existem em sua interpretao nuances
marcadamente diversas da de seu professor e
predecessor.
O Hamlet de sir Laurence Olivier foi fil-
mado em 1948 como um registro de uma im-
pressionante seqncia de cenas teatrais dian-
te de sets mveis, e este acordo entre o palco e
a tela foi premiado com quatro Oscars e com o
Leo de Ouro em Veneza. O mesmo aconte-
ceu com a montagem do Fausto em Hambur-
go, com Gusraf Grndgens como Mefisto e
Will Quadflieg como Fausto. Na verso filma-
da, a cmera se colocou to perto dos rostos
elos atores que o que se justificava para a dis-
tncia do teatro surgiu COITI U1l1 grosseiro
embrutecimento. Para a posteridade, porm, o
filme Fausto de valor to inestimvel quan-
to, digamos, a filmagem do Don Giovanni,
dirigido em Salzburgo por Wilhelm Furtwn-
gler em 1950, no velho Festspielhaus, ou a
verso para o cinema, feita por Palitzsch e
Wekwerth, da encenao modelar do Berliner
Ensemble, de M1I1Ier Courage, no Theater am
Schiffbauerdanuu, 1960.
O filme japons sobre os samurais,
Rashomon, de Akira Kurosawa, sem dvida
incomparavelmente mais impressionante do
que a histria em quatro verses imitada em
alguns teatros alemes. e. graas montagem
de Peter Brook, o Marat/Sadc de Peter Weiss
teve na tela uma sugcstiva fora de impacto
que dificilmente se alcanaria em qualquer
palco.
Do Nu t uraisnto (10 Presente
Nada disso elimina o fato de que o teatro e
o cinema baseiam-se em pressupostos artsti-
cos completamente diferentes. O teatro filma-
do mais convincente quando a fita se mantm
fiel a sua prpria lei, que o enunciado ptico,
a expresso visual. Com o aparecimento da te-
leviso como um novo veculo de comunica-
o de massa, acentuaram-se as antinomias.
Centenas de cinemas de bairro tiveram de fe-
char suas portas, mas dificilmente um nico tea-
tro foi afetado. O teatro, talvez por causa da sua
funo social, mantm o seu terreno, apesar da
televiso. A TV transmite trechos de estrias
teatrais e at mesmo festivais inteiros ou espe-
tculos de pera. Diretores teatrais encenam
shows de tev. Dramaturgos escrevem para pro-
gramas de rdio e de televiso e transformam
peas breves para rdio e TV em obras mais
extensas para o teatro. Max Frisch ampliou seu
Biedermann und die Brandstifter (O Homem
Honrado e os Incendirios) e Martin Walser
acrescentou um segundo ato aDie Zimniers-
chlacht (A Batalha de Almofadas), por suges-
to de Fritz K011ner. "O tema da pea me pare-
cia um pouco privado demais", Walser admitiu
numa explicao a respeito ele seu desvio em
direo aos meios de comunicao de massa.
"Pensei que o teatro deveria dedicar-se em pri-
meiro lugar s questes polticas."
Em 1967, Martin Walser atacou o teatro
como um "balnerio de almas". Em seu en-
saio, ele escreve:
Se olhamos para a\ acs tcauui- do teatro lcguuuo.
isto . a soma de todas as chumaturgias tradicionais c a-
tuais. ventos que o resultado utn -cquciu ritual de
eventos, que . se ncccvsrtno. recarregada C' atualizadn com
funes conciliadoras de imitao e assim se oferece u um
pblico de h; muito especializado. Como podemo." rom-
per essa rotina? Seria possvel comes'ar como o jovem dra-
maturgo nlcmo Handke (nascido cm 1943), com PII"
hlikllllls!Jeschillll}!/lg (Insultos i:I Platia) e ,',dhsthc::,i-
Chrigllllp, rAuto-Acusuoi. Mas cabe c-.;perar que se possa
continuar representando algo que contenha uo.
O protesto contra o teatro culto conduz,
por um lado, s acima mencionadas Sprechstii-
cken (peas de discurso) de Pctcr Handkc, ou,
por outro, direo oposta - s aes cruas,
combinao de ao e rudo com o fito de cho-
car: o happcning,
lonesco j havia descrito La Canuuricc
Chauve (A Cantora Careca) como antipea e
antiteatro. Raymond Queneau foi ao extremo
do nonsensc espirituoso com seus Exercicios
de Estilo, um malabarismo parodstico com a
linguagem. Seu romance Zazic dans le Metro
atingiu o grande pblico graas ao cinema: seus
exerccios estilsticos foram interpretados em
pantomima pela primeira vez, em 1948, por
Yves Robert, e, em 1966 e 1967 viajaram pe-
los teatros da Alemanha e da Sua como o
petisco predileto dos gourmets da lingstica.
Ren de Obaldia levou a cndida perfeio da
banalidade para alm da trilha do absurdo. O
simplrio agora fala com ironia: "'O acidental
tomou-se permanente", diz Zephryn, na farsa
Le Cosmonaute Agricole (O Casamento Agr-
cola), de Obaldia.
Na Scne Quatre (Cena em Quatro), de
lonesco, somos informados de que as pessoas
"falam para no dizer nada". Peter Handke,
em suas Sprechstiicken e em Kaspar (1968),
tenta usar o frgil veculo da linguagem com o
objetivo oposto: tornar o homem consciente
de si mesmo. Quando Kaspar Hauser, o miste-
rioso enjeitado de Nuremberg, diz: "Lch
mochr'ein solcher werden, wie cinnial ein
anderer ge\l'esell ist" C'Quiscra me tornar al-
gum como ningum nunca foi antes"), a fra-
se se converte numa tortura lingstica, no exer-
ccio beat de um eco que vem e vai.
Nesse ponto Handke - ou seus encenadores
- encontra-se com o happeuing inventado pelos
msicos e pintores. "'O meio a mensagem",
proclama o canadense Marshall McLuhan. Des-
de 1958, o estdio de pintura de AI Hansen e as
aulas de msica de John Cage na New School
for Social Research em Nova York converteram
o happenitig num evento antiteatral. Seu lema
"um vo para dentro da realidade", em vez do
convencional vo a partir da realidade. Coojar-,
latas de tinta derramada, ritmos frenticos, ru-
dos de fundo, trapos e pedaos de papel de em-
brulho so os ingredientes do happening, e seu
resultado uma colagem de charadas, cpias per-
vertidas em forma de espantalho da moderna
sociedade de consumo e do mundo crsat; em
estilo da arte pop e op.
"Queremos ultrajar o pblico, obrig-lo
por meio do choque a uma participao dire-
ta", declarou Jean Jacques Lebel, que organi-
zou uma semana de happcuings no Centro
Americano de Artes de Paris, em 1964. Seus
53, Projeto de cenrio de Jo Miclziner para a montagem de Elia Kazan de A Morte di' 11111 Caixeiro \liajall!c, de Arthur
Miller, que estreou em 1 de fevereiro de 1949 no Moroscn Thentre. Nova York.
54. Cenrio de wolfgang Znamcnacck para a cnccnaao de Hans Schwcikart de () Casamento do Senhor Mi.\sissi/'{Ji.
de Fricdrich Drrcnmatt, cuja estria alem se deu no K;1I11111t..'rspiek de Munique cm 2 de m;\I\'O de 1952
o TE ..\TRO DO DIRETOR
No incio dos .mo-, 60, seis 1l1onlagl'lls
diferentes do Tanuio de Molicre eslaV<II11 em
cartaz em Paris. em seis diferentes teatros,
durante <I mexmn tcnlporada. Os crticos vi-
ram-se diante da Ill'ccssidadc de especializar-
se em "anlise cump.uativa dc direo teatral".
maiores consumidoras do teatro de repertrio.
Os teatros alemes subsidiados pelos munic-
pios ou pelo Estado devem hoje algo entre vinte
e quarenta por cento de seus rendimentos a um
pblico filiado Volksbhne e Theatcrge-
meindc,
O sistema ele assinaturas e o aluguel de
camarotes ou lugares para a orquestra remon-
tam aos primeiros dias das peras ele Veneza e
aos tempos dos teatros municipais e da corte.
Em muitos pases europeus. a venda de ingres-
sos para a temporada ainda a nica negocia-
o entre os teatros e o pblico. A primeira
associao teatral a ser fundada na Alemanha
foi a Freie Volksbhne, criada em 1890 (que
no deve ser confundida com a naturalista Freie
Bhne, sociedade para a produo de novas
peas). Uma ramificao dela, a Neue Freie
Volksbiihne. estabeleceu-se em 1914 num tea-
tro prprio, o Theater am Blowplatz em
Berlim e. por meio ele um convnio, admitia
tambm os membros da organizao matriz.
Em 1920. reuniram-se numa sociedade con-
junta. a Volksbhnc, il qual cm 1926 se aliou
uma outra empresa independente, o Theater
am Schiffbauerdanuu (hoje o Berliner En-
semble )
Para completar. constituiu-se em 1919 a
Bhncvolksbund, com o propsito explcito de
promover uma compreenso de todos os cam-
pos de "ida artstica entre todas as classes da
popula.i, npoiundo-sc 1l11111'-l hase religiosa
crist:1. As chq;"lralll l sucum-
bir aps IlJ33. Voltaram a ressurgir em 1949
na Verband der Dcutschen Volksbhncnvcre ine
(Liga das Comunidades Teatrais Alems) e na
Bund der Theutcrgcmunden tl.iga dos Teatros
..\lem,ks I. fundada cm 195 I para suceder a
Biihnenvolksbund. Orgunizaoe similares de
freqcuuulores de teatros existem tambm na
ustria e na Suia.
nu Nututuli s m o {/(I Prcs cn t c
companheiros de arma alemes. por exemplo
os pioneiros do 1IlII'IJC1Ilg dcscart.ivel de Ulm,
em 1966. proclamaram que iriam "vencer a
banalidade" desconectando e alienando pro-
cessos concretos de seu contexto normal. Os
dadastas vem a mente como precursores re-
lativamente inofensivos. e a estetizno, por
Marinctti. das barragens de artilharia e das ex-
ploses. oferece um paralelismo discordante .
A tabula UlS" que Lebel exige como ponto de
partida para um novo "teatro" encontra uma
resposta vvida. mas efmera. em Barcelona.
Amsterd. Belgrado e na Escandinvia.
Entre os msicos, Karlheinz Stockhausen,
John Cage e Maurcio Kagel tentaram domi-
nar os paradoxos da era do medo por meio de
msica espacial. concertos para latas cLgua.
manipulaes aleatrias e em cenas mudas de
pcr.uubulaao com uma bengala obbligato.
O pintor Max Ernst. um dos fundadores
do daclasmo em 1919, no dava o menor crdi-
to ;L destruio de formas segundo a maneira
antiga. Ele diz ccticarnenre: "Dada foi uma bom-
ba. Seria possvel que, meio sculo depois de
sua exploso. algum se incomodasse em pro-
curar seus estilhaos e grud-los novamente?"
Quem trcqcnta o teatro. em c.u.itcr pri-
vado livre para decidir, caso a caso. at onde
deseja ser envolvido na problemtica do "tea-
tro". Os admini str.ulorcs dos clubes e organi-
zai")L'S de Ireqcntadore-, preocupam-se L'UIll
u que podem ()!'L'rcccr c rccornend.u ;\ xeu-;
membros, ou.viu ultimo esperarqlll' eles
suportem. Padrocs. tidos originalillt'llll' corno
evidentes por si me-ruo. convertem-se L'I11 te
Illas de- confcrcncin-. tais como: "Existe 1I111
teatro cristo')" ou "O teatro deve ser um r()rUlll
da poca ou Ulll lugar da atemporal i.l.rde?"
Hanns Braun. crtico teatral de Munique. cxa-
minou em !lJ5h <I situuo do teatro e do dra-
ma <I partir do ponto de vista de que '1I11hos
chegariam ao fim quando. alm da inccrrez
sohre seu significado e seu propsito, L'hcgas-
sem <I perder Sll<l forma. "Neste est.idio. o tea-
tro do diretor .nuonomo j<i lio defende slla
dr.uu.itica". escreveu, "ek SL' ncu-
tralizou a si mesmo: a novidade de' lima cncc-
parece' nlais nnportantc do que qualquer
outra
Nus ltimos cinquenta anos. as
dL' frqent<ldores de teatro 10111 sido <IS
._ .... _-- .. _-, ------------_. _.-
j
j
,
,
,
j
i
i
ld
Essa tarefa volta agora a competir-lhe amide,
no apenas no caso dos clssicos, mas tambm
no de obras novas. Die Ennittlung (A Investi-
gao), de Peter Weiss, estreou simultanea-
mente em dezesseis teatros em 19 de outubro
de 1965 e, no final de janeiro de 1968, Biogra-
fia, de Max Frisch, foi encenada mais ou menos
ao mesmo tempo em quatro cidades.
A questo de COl7l0 eclipsa a de o qu. A
interpretao dos clssicos a pedra de toque,
hoje, em todos os pases que possuem uma tra-
dio importante em teatro. Quando Roger
Planchon, diretor do Thtre de la Cit, em
Villeurbanne, perto de Lyon, se props a mon-
tar o Tartufo de Molire, constatou que dois
expressivos intrpretes haviam concebido a pea
de dois pontos de vista totalmente opostos:
Coquelin utilizou a obra para atacar a religio,
Fernand Ledoux, para defend-la. Na termino-
logia de Stanislvsk.i, poder-se-ia dizer: "Tudo
depende do superobjetivo que se atribui obra".
tarefa do diretor distribuir o peso. O ce-
nrio cria para isto uma atmosfera, que pode
ser to reflexiva e internamente refratada quan-
to a encenao pode ser. Quando, em 1967, KUI1
Hbner montou Macbeth em Bremen, Wilfried
Minks preparou-lhe um palco revestido da cor
marromenferrujada, Um cenrio superior trans-
versal horizontal foi equipado com uma linha
de tubos de non coloridos, e o ciclorama tinha
um brilho avermelhado. Fora os painis de ma-
deira escura que se deslocavam ao fundo, o meio
para transformar a cena era a mudana de luz.
As idias de Craig continuam a estar em voga,
e as dos Meiningers, bem distantes.
Foi, entretanto, apoiando-se nos Meiningers
que Stanislvski, em sua poca, procedeu s
primeiras reflexes sobre o "despotismo do
diretor", O que tinha em mente era o proble-
ma da disciplina do atol', mais do que o
subjetivismo na encenao. No caso de Max
Reinhardt, seu temperamento pessoal determi-
nava o estilo de direo e cenrio. Leopold
Jessner introduziu a reduo criativa dos re-
cursos externos, Erwin Piscator iniciou a dire-
o "contra a obra". Jrgen Fehling e Fritz
Kortner eliminaram a concepo pessoal do
ator para retrabalh-lo a partir do zero, de acor-
do com sua prpria viso. Gustaf Grndgcns
trouxe a paixo fria c lmpida de seu intelecto
para a plasrnaao de seus papis c cncenacs.
530
H s t oriu M'und iu l do Fc ctt ro
O grande aristocrata do teatro ingls, sir
Laurence Olivier, que em 1962 assumiu a di-
reo artstica do National Theatre de Londres
(o novo Old Vic), promoveu um estilo de cons-
cienciosa dico culta, sutil de naturalidade e
de intensa replasmao, mesmo no mais mni-
mo papel. Em 1966, ele encenou no National
Theatre JWIO e o Pavo Real, drama de Sean
O'Casey sobre a guerra civil irlandesa, e o fez
sem qualquer aparato externo - como uma
advertncia de que o nacionalismo fantico e
fraseologias de segunda classe no podem exi-
gir um sacrifcio cruel e sem sentido da vida.
Em suas grandes interpretaes de per-
sonagens de Shakespeare, Olivier gostava de
atuar sob a direo de Peter Brook, cerca de
vinte anos mais jovem. Em Stratford-on-Avon,
trabalhou tambm com Peter Hall. O Archie
Rice de Olivier, em The Entertainer, de John
Osborne, montada em 1957 em Londres e em
1958 em Nova York, assim como o Brenger
de Rhinocers (O Rinoceronte), de lonesco,
no Royal Court Theatre em 1960, foram mo-
mentos luminosos da interpretao dramtica
contempornea. Neste teatro, o mais impor-
tante palco experimental de Londres, Roger
Blin montou Endgame (Fim de Jogo) de
Beckett, em 1957. Ele mesmo interpretou o
Hamm, com um leno sobre o rosto, sentado
em uma poltrona, como os dignitrios sem face
do pintor ingls Francis Bacon,
O filsofo Edmund Husserl fala em seus
escritos fenomenolgicos da "evidncia intui-
tiva" e da necessidade de "preservar toda a
escala completa de variaes". Seus termos
poderiam ter sido cunhados especialmente para
as concepes cnicas do sculo XX. Ques-
tes de estilo so hoje no mais condiciona-
das pela poca, mas pelo indivduo: ficam
discrio pessoal do diretor, Karl Heinz Stroux
em Dsseldorf; Boleslaw Barlog em Berlim;
Oscar Fritz Schuh em Colnia, Hamburgo e
no Festival de Salzburgo; Gustav R. Sellner
em Darmstadt e Berlim; Heinz Hilpert cm
Gttingen - todos, enquanto produtores c di-
retores, devotaram-se, em todo o seu mbito,
necessidade de recuperao, aps 1945, do
agressivo drama moderno e dos clssicos in-
ternacionais. Cengrafos como Caspar Neher,
Wolfgang Znamenacek, Helmut Jlirgens,
Rochus Gliese. Teo Otto e Emil Preetorius cui-
55. A clssica Noite de Walpurgis. na segunda parte do Fausto: cenografia de Teo Otto para a montagem de Gustav
Grndgens no Schauspiclhaus, Hamburgo. 1958.
56. Estria cm Berlim de Di c Ernuttlung (A InvcsuaaoI. de Petcr Weiss. Freie Volksbhne. 19 de outubro de 196.5.
Direo: Erwin Piscator: msica: Luigi Nono; cenrio: l l. U. Schmcklc. esquerda, o acusadot direita, o udvnpudo: 21
frente, Hilde Mikulicz como a quinta testemunha c Martin Bcrliner como a oitava testemunha .
57. Alise en scne de Ono Schcnk do Macbeth de Verdi . com Anja Silja. Nanona hheatcr, Munique. 1967. Ce nrio
tcnico estilizado de Rudolf Hei nrich.
5&. Projeto de cenrio de Cas pcr Nebcr para Coro ano, de Shakespea re, 1925.
0 0 Naturoluno lIO Pre.fj( III C
daram da "escala completa de variaes" nos
cenrios. Transparn cia cinematogrfica dos
elementos do d cor e na fria estilizao e
irrealidade imaginativa no aspecto visual con-
triburam muit o para o estilo de encenao.
Durante muit os anos, Jean Vilar foi a favor
de um palco nu e revestido de preto, que po-
voava com um elenco vestido de trajes colori-
dos, cativante pela perfeio gestual e declama-
tria. Ele inaugurou o Thtre National Popu-
laire em 1951, no Paliais de Chaillot, diante da
Torre Eiffel em Paris, com dois papis centrais
para Grard Philipe: o Cid de Corneille e O
Prncipe de Homburgo de Kleist. Com o Festi-
val d' Ar! Dramatique de Avignon, Vilar tentou,
como faria mais tarde Roger Planchon, em
Lyon, renovar o teatro francs levado nas pro-
vncias. Em 1967, encarregou-se, por iniciativa
de Andr Malraux, de realizar uma reforma ra-
dicaI nas casas de pera estatais de Paris.
Como dir et or de teatro e de cinema,
Luchino Visconti , s vezes em colaborao
com Robert o Rossellini , visto na Itli a como
o fundador do neo-reali smo. Conseguiu que
Salvador Dal trabalhasse para uma produo
de Shakespeare em Roma, produziu peras de
Bellini e Ver di no La Scala de Mil o, em
Spoleto, em Paris e em Berlim. Sua mont a-
gem do Fal st aff e m Viena foi regida por
Leonard Bernstein ; a de O Cavaleiro da Rosa,
por Geor g Solti, em Londr es. Engajamento
social, obsesso objetiva e fria, e paixo pelo
elementar so car actersticas tambm dos fil-
mes de Visconti , como seus ttulos j indicam:
Ossessione (Obsesso) (1943) e La Terra Tre-
ma (A Terra Treme) (1948).
Seu compatriota Franco Zeffirelli ganhou
o primeiro prmi o na temporada de 1965, do
Thatre des Nations, em Paris, com sua mont a-
gem de Romeu e Julieta ensaiada pelo elenco
do teatro de Florena. Um ano antes, Zeffirelli
dera prova de sua versatilidade artstica ence-
nando a obra de Albee, Quem Tem Medo de
Vuginia Woolf?, em Veneza, e a Tosca na pera
de Paris, com Maria Callas no papel-ttulo.
Doi s diretores hoje internacionalmente
conhecidos comearam no teatro, vindo depoi s
a dedicar-se predominantemente ao cinema:
nos EUA, Elia Kazan - responsvel tanto pela
primeira mont agem de Um BOI/ de Chamado
Desej o de Tennessee Williams (1947, BaITY-
more Theatre, Nova York), quant o por sua ver-
so para o cinema, co m Marl on Brand o e
Vivien Leigh - e, na Sucia, Ingmar Bergman.
Enquanto Kazan filmava Sindicato de Ladres,
Bergman criava o sombrio e melanclico Noi-
tes de Circo. Aps O sucesso de sua montagem
da pera de Stravinski The Rake 's Progress (O
Progresso do Farrista), na pera Real de Esto-
colmo em 1961, Bergman esboou planos para
um teatro de repert rio sueco, de status inter-
nacional, que no deram em nada . A magia ou
as chances do cinema foram mais fortes.
Jan Grossman, do Balustrade Theatr e de
Praga, desenvolveu uma forma individual de
estilizao que se mostrou alta ment e sugesti-
va nas montagens de Ubu Roi de Jarry e de O
Processo de Kafka. O diret or polons Tadeusz
Kantor fez profisso de f no "circo como a
base elementar", com sua encenao alem de
DerSchrank(OArmrio), de S.l. Witkiewicz,
em 1966 - baseada no original W malym
dworku (Numa Pequena Casa de Campo).
Em Moscou, Ruben Simonov continuou
a tradio de seu mestre Vakhtngov. Reviveu
sua ltima mont agem , a famosa Pr inces a
Turandot, recebendo por ela aplausos unni-
mes nos festivais de Viena e Zurique em 1968.
Mas a devoo fiel a uma concepo tea-
tral particul ar durante dcadas, como por e-
xemplo no caso do Jedermann de Salzburgo,
hoje um isolado plo opo sto em face dos
esforos de inovao e subj etiva o do teatro
moderno.
Qual pode e deve ser a tarefa do diretor?
A primeira resposta que vem ment e a tra-
dicional : servir obra. A segunda levar a obra
adiante, prolongando o trabalho do autor. A
terceira, desafiar a obra. As front eiras se des-
vanecem. Aparentemente , apenas servir pea,
explorar suas possibilidades e expor sem reto-
ques o seu ncleo pode, em tempos conturba-
dos, realment e equi valer a um desafio. Duran-
te a Segunda Guerr a Mundial, de 1939 a 1945,
o Schauspielhaus de Zurique permaneceu no
continente como a ltima ilha do teatro cos-
mopolita e livre de lngua alem. Sob a dire-
o de Oskar Walt erlin, Leonard Steckel e
Leopold Lindtberg, abriu suas portas a obras
modernas que no haviam encontrado acesso
ao palco em nenhum outro lugar da Europa.
Foi aqui que tiveram lugar as primeiras apre-
53J
se nta es de O Soldado Tanaka, de Georg
Kai ser (1940), de Me Coragem ( 1 9 ~ I ) e ri
Alma Boa de Setzuan ( 1943) , de Brccht . A
adaptao do romance The Moon is Down (A
Lua se Ps) . de John Steinbe ck, estreou em
lngua alem em Basilia, em 1943. As repre-
sentaes no Stadttheater desta cidade tiveram
continuamente casa lotada .
Na Sua, a obra de Steinbeck foi co m-
pre endida co mo uma contribuio para a de-
fesa es piritua l do prpri o pa s. Oskar Wal-
terlin. qu e e m geral dificilmente se interes-
sava por uma pea ostensivamente poltica,
escolheu uniformes imaginri os de cor c -
qu i e deu nfas e s " pessoas atuantes co mo
ferr amentas da s potncias por trs del as" na
lut a em que "a brutalidade derrotada pel o
esprit o" (G. Schoop). Toda a sua efi cci a foi
trazida de dentro. Seu sucesso tanto mai s re-
tumbante. Ao servir obra, demonstrou sua
imp ort ncia para a poca, intensificada pela
profi sso de f responsvel e pessoal do di -
ret er.
Walt erlin esc reveu, em 1947:
o tea tro serve obra de criao, ruas a obra preci .... ;J
respirar o sopro de UIIlcspctculo aluai e vivo, q ue no
ace ita a imposio de nenh uma exi gncia program tica.
A criao potica precisa ressaltar a viso c a ati tud e in-
rcrior da repre senta o. Sem isto. ela por ." lI a vez UIlI
simples livro de textos a oferecer oportun idade para um
movi mento. qu e: a mesma ohra inde pen de nt e de SU:l
representa o cnic a. ligada a qualquer mom ento dado
Diante de nx, encaramos no 1II11:l situao de validade
e..t tica. mas 1.1 111 proc esso .
A mesma aborda gem pode ser encontra-
da em Piscat or, a despeit o dos result ados co m-
pletament e diferent es de sua encenao. O di-
retor no pode simplesment e ser um mero "ser-
vo" da obra [que escreve I, porque uma pea
no uma Coisa rgida e definiti va mas, uma
vez lanada no mundo, arraiga -se no tempo.
adquire uma ptina e assimila novos co nte-
dos de consci ncia, tarefa do diretor enco n-
trar o ponto de vista a partir do qual poder
descobrir as razes da criao dramtica . Este
pont o de vista no pode ser sutili zad u, nem
escolhido arbitrariamente. Apenas na medi da
em que o diretor sinta-se como servidor e ex-
poent e de sua poca , ele conseg uir fi xar o
modo de ver em co mumcom as foras cr uciais
que modelam a natur eza de uma poca.
534
lI i ...r r a Mund ia l do Tr at ro
A seg unda possibilidade de direo cria-
tiva, a de continua r o trabalho do autor, pode,
em casos afortunados, levar a res ultados bas-
tante satisfatrios . Quando Jean -Loui s Barrault
preparava, em 1942, a mont agem de A Sapati -
lha de Cetim. de Cla ude l, co m a Com die
Franaise, em Paris, manteve- se em constante
contato com o aut or. Su a idi a original, apro-
vada por Cl audel, de dividir a enorme pea em
du as noites foi re j eit ad a pel o comit da
Comdie Fr anai se. A nica co isa a fazer er a
cortar, cortar, co rtar.. . com result ant es quebras
no texto e no significa do . O prprio Cl audel
co mpareceu aos ens aios . Barr ault props mu-
danas e contou com que fer vor Claude l as
acolheu:
No dia seguinte, cu estav a na Co rndie Fran ai se
s oito horas da manh. O telefone tocou : Claudel tivera
lima inspirao na noite an teri or e havia reescrito a cena
inteira. s nove ele estava l, em lgrimas, O autor de
sesse nta c seis anos solu a va como um garo to de dezoito
[...] trancamo-nos num a sa let a do teatro, e ele leu para
mi m tudo o que havia escrito numa n ica tirada durante
a noite.
A version pour III scnc (verso para o pal-
co) elaborada em conj unto foi incl uda na ed i-
o das obras completa s de Claudel, com a se-
guinte nota: "abreviada, reescrit a e organizada
em colabor ao co m Jean-Louis Barrault" .
Mas h exempl os co ntrrios . Em 1967,
Rudol f Noe ltc assumiu a direo da nova pea
de Max Fri sch, Bi ografi a. em Zurique. Os en-
saios comearam na prese na do aut or e do
dir etor, mas e nto as diferen as de opini o
cresceram entre ele s, Leop old Lindt berg tomou
o lugar de Noelte. Noel te, por sua vez, entrou
co m uma ao exi gindo que as alt eraes fei-
la s seg undo sua s suges tes deveriam se r
indi cadas como tai s. Fri sch porm se ops .
H menos probabilidade de confl ito quan-
do se trata de um autor j ri fal ecido. Giorgio
Strehler montou a pea inacabada de Piran-
dello, I Giganti delta Mont a gna (Os Gigantes
da Montanha), com um ter ceiro ato adiciona-
do, em pantomima. Seu pont o de partida para
isto foi uma informao do filho de Pirandello,
segundo o qual, na noit e anter ior i morte de
seu pai , este havia lhe falado da inteno de
terminar a pea com uma pant omima e lhe ex-
plicara Ioda a conce po da cripticarne rue obs-
cura ohra.
51). Ce nr io de Franz Mcrt z para a ence nao feita por G. R. SeJlncr do I ;'dipo H de Sfocles no Landestheat cr,
Darm vtadt . 1952. Um exemplo de drama clssico grego estilizado no palco mode rno .
60. Open Theatre, Nova York, durante ensaio da montagem de Peter Feldman da pea The Masks (As Mscaras). com
peas em um ato de Brecht, Ioncsco e outros.
61. Cenrio de Teo alto para a montagem de Kurt Hirschfield de Andorra. de Max Frisch. Estria em 2 de novembro
de 1961 no Schauspielhaus, Zurique. Cena final com Peter Brogle como Andri.
62. Cena de Kosinsky na montagem de Pctcr Zadek de Os Salteadores, de Schiller. em Bremen, 1966. Cenrio de
Wilfricd Minks, com projco de fundo baseada em pintura de Roy Lichtenstein
Na primeira montagem, em 1930, de Dic
Siidpolexpedition dcs Kapit ns Scott (A Ex-
pedio de Capit o Scotr ao Pl o Sul ), de
Reinhard Goering, Leopold Jessner di sps o
terceir o at o antes do segu ndo. Rudolf Noelte,
ao dirigir As Trs Irms, de Tch khov, em
Stuttgart em 1965 , reduziu a pea inteir a a um
eenrio: uma sutil troca de luz transpunha o
drama lri co e mehmcli co para um domnio
de aguda solido, cuja resignao total equi-
vali a ao nii lismo.
No apenas diret ore s, mas tambm dr a-
maturg os der am novas e diferentes interpret a-
es a obras de outros. Jean-Paul Sar tre adap-
tou As Troianas, de Eur pedes: Peter Hacks, A
Paz, de Ar istfanes (Eirene r. Mais ou me nos
na mesma poca, Karolos Koun, viajando com
seu Teatr o Grego de Arte de Atenas, apresen-
tava sua ver so do drama clssi co. Ele o via
"profundamente enraizado em seu solo, uni-
versal e eterno". Em 1968, vers o greco-ami -
ga do Prometeu - montada em Stutt gart por
G. R. Se ll ner c em Munique por Au gu st
Everding - o co mpos itor Carl Orff sobrepu-
jou seu dipo e sua Antigona . Ele extrai u da
tragdia clssica novas possibilidades de efeitos
musicais e c nico s que puxavam-no da Anti-
gidade para a poca moderna.
a teat ro, qu ando alca na a perfei o,
igualme nte a mai s antiga e a mais contempo-
rnea representa o da vulnerabi lidade do ho-
mem diante de for as inescrut veis.
H gerae s que se travam inmeras dis-
cusses acaloradas sobre corno dirigir e mon-
tar os clssico s. Shaw, em sua poca, j se irr i-
tara bastant e com a reorganizao arbi trri a de
eenas quand o Beer bohm Tree e Henry Irving
mont aram Shakes pea re nos seus palcos lon-
drinos reali stas e maj estosament e equipados.
Seu obje tivo , como o de Charles Kean antes
deles , era conseguir quad ros vivos comoventes.
Assim, tradu zi am a fantasia cnica de Shakes-
peare para seu prprio conceito reali sta de es-
tilo teat ral.
No sculo XX, obras de Shakespeare e
Schiller serviram para explorar o out ro aspec-
to probl em ti co da direo teatral : trazer 11 luz
a provocao dentro da estrutura da pea. Os
resultados, no raramente, foram escnda lo c
c hoq ue . Em 19 26, e m Bc rlim, Pi sc.uo r
poli tizou Die Riiubcr (Os Salteadore s) de
538
Hi st r ia Mundi al tio Teatro
Sc hiller, fazendo Spi egelberg (um ambicioso
vilo) usar uma mscara de Tr t ski. Em 1966,
em Wiesbaden, Han sgnther Heyme chego u
ao pont o de retrabalh ar Gui lherme Tell para
fazer a pea ex pre ssar "a desumanidade de
toda s as revolt as de massa".
procura de novas abordagens para os
dramas hi st ricos de Shakespeare , Peter
Pal it zsch , em 1967 em Stuttgart , for ou a
tril ogia de Henrique Ifl a ass umir um formato
que se desenrol ava em du as noit es. Com o t-
tul o deAs Guerras das Rosas, apres entou es ta
monument al c r uica (com cenrios de
Wilfried Minks), int erpret ando-a como um
ex emplo programt ic o de ga n nci a ine s-
crupulosa pel o po der. a coxo e co rcunda
Ricardo de Gloucester anunc ia num monlo-
go (excertado de Ricardo III e reorganizado
num prlogo) at onde suas ambies o esta-
vam levando. Um ano depoi s , Palitzsch
logicamente prosseguiu co m uma nova mon-
tagem de Ricardo III - um paral elo do ciclo
shakespeariano da s Guerras das Rosas mon-
tado em Stratford -on-Avon por Pe ter Hall , cujo
vas to e rico empreen diment o trazi a assass i-
natos, poltica, intriga e g uerra.
Th omas Mann certa vez fez uma pilh-
ri a a respeito de Os Salteadores, dizendo qu e
a pea podia ser consi derada como uma es-
pcie de "western superior" . Ist o aproxi-
madamente o que Pete r Zadek real izou em
sua mont agem de 1966, em Bremen. Trans-
ps a obra para o mundo da atua l sociedade
de con sumo. Wil fr ied Mi nks desenho u um
ci clo rama co m tir as de quadrinho s, segundo
uma tela de Roy Li ch ten stein. Um ano de -
pois, Zadek mon tou Medida por Medida, de
Shakespeare, como exe mplo de lima "dire-
o intui ti va, subje tiva", conforme ele pr-
prio explicou . Num palco vazio, adornado
por Minks com lima fil eira de lmpadas co-
loridas, Zadek mo st rou "o q ue aco ntece com
a imaginao ao ler uma obra". Indagado,
numa conferncia e m Muniqu e, sobre at
onde iam os limite s da di reo subj etiva,
Zadek respondeu co m desconce rtante fran -
queza: "Quando o pbli co se recusa a nos
seguir, pre cis o par ar" .
Peter Brook resumiu o problema em ter-
mos de uma dimen so mai or , a da relao
crucia l entr e o teat ro e a soc iedade:
Do No tura isnva a o Pres e n t c
Uma soc iedade est vel c harmoniosa preci saria ape-
nas procurar caminhos para refletir e reafirmar ess a har-
monia em se us teatros. Esses teat ros poderiam se cs tabc -
leeer com elenco e platia unidos num "s im" nuitno . Mas
um mundo catico. e em transformao. precisa esco lher
ent re um teatro que ofer ea um "sim" esprio ou lima
provoca o to forte que esti lhace sua platia em frag-
mentos de intensos "n o".
Enquant o as pl at i as no esquece rem de
que so parcei ros cria tivos no teat ro e no ape -
nas co nsumidores passi vos, enquant o afi rma -
rem seu direi to de part icipar es pontaneame nte
do espetculo medi ant e sua aprovao ou pro-
testo, o teatro no cessar de ser um el emento
exc itante em nossa vida.
539
Bibliografia
OBRAS CLSSI CAS E DI CIONRIOS
ALTMAN, G. et aI. Theat er Pictorial: A Historv of
World Theate r as Rccorded iII Drawings,
Paintings, En gra vi ngs and Ph otographs,
Berkeley, 1953.
D' AMICO, S. Stori a dei teatro drammatico . 4 vols.
Mil o, 19501'1'. , 1968.
BEl'l1.EY, E. The U}' ofttu:Oramo. Nova York, 1964.
BOWMAN. W. B. e HALL, R. II. Theatre La nguage:
A Dict ionary ,1 Terms in English of tlu: Dra-
ma and St age [rom Medieval 10 Mode m Ti-
mes . NO\ 'a York. 1961.
BRAGA, T. Hist oria do Teat ro Portuguer . Porto.
1870 1' 1'.
O . G. History o] thc Theatrc. Bo st on.
1968.
CHENEY, S. W. The Th eat re: Thrce TlIOII slIIIII y,'ars
'1 Drama, Actillli and Stagecraft, Nov a York.
1952.
CHE5HIRE, D. 711ea1l<': Hi story. Criticism and Refe-
rcnce. 1967.
CHUlOY, A. e P. W. 71,,' Dancr lincyclopcdia. No va
York , 1967.
CLARK. B. H . (c d .) . Europcan Theori es of lhe
Drama. Revi st o po r H. Po pk in. Nova York,
191'15.
DijillY Ceskho Di\'(/(IIII. Vo ls . l-IV. Praga, 19681'1'.
DEVRIENT. E. Geschichtc der dcutschen Schuus-
piclkunsi. 1848. No va edio po r H. Dcvrient.
Berlim. 1905.
DUBECH. L. . Hist oi rc gllrale illust rcc du thctre,
5 vol s. Pari s. 1931 ff.
__"__ . Enciclopcdia deI/o spctt acolo. 9 vols. e
suple mento. Ro ma, 1954-1962, 1966.
EWEN, D. The Complete Book of the Am eri can
Theatre. Nova York e Londres, 1959.
FERGUSSON, F. The ldea of a Theater. Prin ccton,
1949.
_ _ _ _ . The Human Image in Dramatic Litera-
IIIre. Garden Ci ty, Nova York, 1957.
FREEDLEY, G . e REEVES, J. A. Hist ory ofthe Theatrc.
No va York, 1968.
GA SCOIGNE, B. World Th eatre: Ali lllustratcd
Hi storv, Boston, 1968.
GASSNER, J. e Q UL"N, E. (eds .) . Th Reader's Ency-
clopcdia of World Drama. No va York, 1969.
GREGOR, 1. lVeltgeschichl e des Theuters. Zuriqu e.
1933.
HARTNOI.I.. P. (ed.). 71,, Oxford Companion /O the
Thrat rc. Londres, 1951, 1967.
HARTNOLI.. P. A Concise Hist ory of the Thcatre ,
Lon dres, 1968.
HEWETT, H. Theatre USA. / 668-1957. Nova Yor k.
1959.
HILLESTRM, G . Theat re and Ball et iII Sweden .
Estocol mo , 1953.
______. . Histoire des spectacles. Encyclopdie
de la Pl iade. Pari s , 1965 .
HUGHES. G. A Hi st ory of the American Theat re,
1700-/ 950. Nova York, 1951.
H RLlMANN, M . (ed.). Atlantisbuch des Theatcrs,
Zuriq ue. 1966 .
KIND ERMANN, H. Theatergeschicht e Europeu.
9 vols. Viena , 1957 ff.
KNUDSEN, H. Deutschc Theatergcschichte, Stutr .
gart, 1959, 1969.
KUTSCIIER. A. Grundriss der Thcaterwissens chaft,
Munique, 194 9.
LAVER, J . Drama: tt s Costume and Decor . Londres,
1951.
MACGOWAN, K. e MELNITZ, W. The Living Stage.
Nova York, 1955.
MANTZIUS, K. A History of Theatrical Art. Lon-
dres, 1903.
MELCHINGER, SIEGFRIED c RISCHRIETER, H.
Welttheater. Braunschweig, 1962.
NAGLER, A. M. Sources ofTheatrical History. Nova
York, 1952.
NICOLL, A. Masks, Mimes and Miracles. Londres,
1931.
~ ~ ~ _ . The Development oj the Theatre. Lon-
dres, 1949, 1966.
~ ~ ~ _ . World DramaframAeschylus to Anouilh.
Londres, 1949.
PRAT,A. V. Historia dei teatro espaiiol. Barcelona,
1956.
PRIDEAUX, T. 1V0rld Theatre in Pictures. Filadlfia,
1953.
ROBERTS, V. M. On Stage: A Historv ofthe Theatre.
Nova York, 1962.
SCH0NE, G. Tausend Jahre deutsches Theater. Mu-
nique, 1962.
SCHWANBECK, C. Bibliographie der deutschspra-
chigen Hochschulschriften zur Theaterwissen-
schaft VOI1 1885-1952. Berlim, 1956. Conti-
nua pelos anos 1953-1960 por H. J. Rojck.
Berlim, 1962.
SHERGOLD, N. D. A History of the Spanish Stage
fram Medieval Times until the End ofthe 17th
Century. Oxford, 1967.
SOUTHERN, R. The Seven Ages ofthe Theatre. Nova
York, 1961.
STAMM, R. Geschichte des englischen Theaters.
Berna, 1951.
TAYLOR, J. R. The Penguin Dictionary of the
Theatre. Londres e Nova York, 1966.
~ ~ ~ _ . EI Teatro: Enciclopedia de/ arte esc-
nico, Barcelona, 1958.
VARNEKE, B. V. History of the Russian. Theatre.
Nova York, 1951.
WILSON, G. A History of American Acting.
Bloomington, 1966.
YOUNG, S. The Theatre. Nova York. 1937.
O TEATRO PRIMITIVO
ALBRIGHT, W. F. VOI1 der Steil1zeit zum Christel1twl1.
Munique, 1949.
CORNFORD, F. M. Tlze Origil1ofAttie Comedy. Lon-
dres, 1914.
EBERLE, O. Cel1alora: Lebel1, Claube, Tanz und
Theater der Urvolker. Olten, Suia, 1954.
FRAZER,J. G. The Colden Bough: A Study in Magic
al1d Retigiol1. Londres, 1911.
FREUD, S. Talem ul1d Tabu. Viena, 1913.
542
Hs t ori a Mundial do Teatro.
HAVEMEYER. L. The Drama ofSavage Peoples. New
Haven, 1916.
HUNNINGHER, B. The Origut of the Theater. Nova,
York, 1961.
LOMMEL, A. Masken: Gesichter der Menschheit .
ZuriquelFriburgo, 1970.
OESTERLEY, W. O. E. 71zeSacred Donce. Cambrid-
ge, 1923.
REICH, H. Der Mimus, Berlim, 1903.
WILSON, A. E. The Story of Pantomime. Londres,
1949.
EGITO E ORIENTE ANTIGO
BRUNNER-TRAUT, E. Der Tan: im alten Agvpten.
Hamburgo-Nova York, 1938.
GASTER,T. H. Thespis: Ritual, Myth and Drama in
the Ancient Near East. Nova York, 1950.
HOROVITZ, J. "Das agyptische Schattentheater", por
F. Kern. Apndice a Spuren griechischer Mi-
meti im Orient . Berlim, 1905.
SETHE, K. Dramatische Texte zu altgvptischen
Mvsterienspieten. Leipzig, 1928.
SODEN, W. von. "Ein Zwiegesprach Chammurabis
mit einer Frau". Zeirschriftfr Assyrologie, 15.
Sries novas, 1950.
AS CIVILIZAES ISLMICAS
AND, M. A History ofTheatre and Popular Enter-
tainment in Turkey. Ankara, 1963.
JACOB, G. Das Schattentheater in seiner IVande-
rung vom Morgenland zumAbendland. Berlim,
1901.
PElLY, Sir Lewis. The Miracle Play of Hasan and
Husain. Coletado da tradio oral por Colonel
Sir L. Pelly. 1879.
REZVANI, M. Le Thtre et la danse el1lran. Paris,
1962.
AS CIVILIZAES INDO-PACFICAS
AMBROSE, K. Classical Dances alld Costllmes of
Il1dia. Introduo por Ram Gopal. Londres,
1950.
ANAND, M. R. The /i!dian Theatre. Londres, 1950.
BACOT, J. Zuglima. Paris, 1957.
BHARATA. Natyasaslra. Traduzido por M. Ghose.
Bengala, 1950.
GARGI, B. The Theatre il1lndia. Nova York, 1962.
GUPTA, C. B. The Indian Theatre. Banaras, 1954.
Bibliografia
IYER, K. B. Kathakali: The Sacred Dance-Drama
ofMalabar.Londrcs,1955.
KEITH. A. B. The Sanskrit Drama in its Origin.
Development, Theory alui Practice. Oxford,
1924.
KINDERMANN, H. (ed.). Fernostliches Theater,
Stuttgart, 1966.
KONOW. S. Das indische Theater. Berlim-Leipzig,
1920.
LVI, S. Le Thtre indien. Paris, 1890, 1963.
MATHUR,J. Drama in Rural lndia. Nova York, 1964.
MELLEMA, R. L. IVayatlg Pupp e t s: Carving,
Colouring, Symbolism. Amsterd, 1954.
SCHUYLER, M. A Bibliography ofthe Sanskrit Dra-
ma witli ati lntroductorv Sketch of the Dra-
matic Literature of lndia. Nova York, 1906,
1965.
WILSON, H. H. Se/eet Specimens ofthe Theatre of
the Hindus. Calcut, 1955.
ZOETE, B. de eSPIEs, W. Dance and Drama in Bati.
Londres, 1938.
CHINA
ALLEY. R. Peking Opera. Pequim, 1957.
ARLlNGTON, L. C. Tlze Cliinese Drama from lhe
Earliest Time> until Todav, Shanghai, 1930.
CHEN. J. The Chinese Theatre . Londres. 1949.
GRANEl', M. Danses et l cg en d es de la Chine
ancienne. 2 vais. Paris, 1926.
JOHNSTON, R. F., The Chinese Drama. Shanghai,
1921.
KAlVODOV-SIS-VANIS. Schl er des Birngartens:
Das chinesische Singspic}. Praga, 1956.
LAUFER. B. Oriental Theatricals. Chicago, Museum
of Natural History, 1923.
LEE HAE-KU. "Korcan Mask Drama". Korean
Iournal. Seul, Novembro 1961.
OIWASZOW, S. Das chinesische Theater. Velber by
Hanver. 1965.
Roy, C. L'Opra Pekin. Paris, 1955.
SCOTT, A. C. The Classical Thcotr" ofChina. Lon-
dres, 1957.
~ ~ _ ~ . An /iztrodllction to the Chinese Theatre.
Londres, 1959.
TSONG-NEE Ku, Modem Chinese Phn's. Shanghai,
1941.
WINS,\TT, G. Chinese ShadOlI' Sho\\'s. Cambridge.
Mass" 1936.
YANG, R. F. S. The Social Backgrowul of lhe Yiian
Drama. Mon. Serica, voI. XVIi. 1958.
ZUCKER, A. E. The Chinese Thealre. Boston,
1925.
ZUNG, C. S. L. Secrets oI'he Chin"s" Drama. Nova
York, 1964.
JAPO
ARAKI, J. T. The Ballad-Drama ofMedieval Japan.
Berkeley/Los Angeles, 1964.
ARNOTT, Peter. The Theatres of Japan. Londres,
1969.
BOWERS, F. Japonese Theatre. Introduo por
Joshua Logan. Nova York, 1951.
BRANDON, 1. R. The Theatre of Southeast Asia.
Cambridge, Mass., 1967.
ERNST, E. The Kabuki Theatre. Londres, 1956.
HAAR, F. Japanese Theatre in Highlight: A Pictorial
Commentary, Tquio, 1952.
HALFORD,A. e G. The Kabuki-Handbook.. Rutland-
Tquio, 1956.
HIRONAGA, S. Bunraku: Iapan's Unique Puppet
Theatre. Tquio, 1964.
KAWATAKE, S. An Illustrated History of Iapanese
Theatre Arts. Tquio, 1955.
Kabuki: Japonese Drama. Tquio,
1958.
KEENE, D. Major Plays of Chikamatsu. Traduzido
por D. Keene. Nova York, 1961.
~ __~ . Bunraku: The Art ofthe Japanese Puppet
Theatre. Tquio, 1965.
KINCAID, Z. Kabuki: The Popular Stage of Japan,
Londres, 1925.
LUCAS, H. Japunische Kultmasken. Kassel, 1965.
MIYAMoRI. A. Masterpieces of Chikamatsu, the
Iapanese Shakespeare. Nova York, 1926.
MUCCIOLI, M. II teatro giapponese. 2 vols. Milo,
1962.
O'NEIL!, P. G. A Guide to N. Tquio, 1953.
. Early N Drama. Londres. 1958.
ORTOlA!':I, B. Das Kubuki-Theater: Kulturgeschi-
clue der Anfange, Tquio, 1964.
PERI, N., Le N. Tquio, 1944.
POtJND, E. e FENOlL.OSA, E. The Classie Noh
Theatre ofJapan, Nova York, 1959. Nova edi-
o de Noli or Accomplishment: a Study of the
Clossical Stage of Iapan. 1917.
S..... KANISHI, S. Kygel1. Boston, 1938.
SCOTT, A. C. Tlze Kabllki Theatre of lapan. Lon-
dres, 1955.
SHAVER. R. M. Kabllki Coslllme. Tquio, 1966.
W..... LEY, A. The N Plays oflapan. Londres, 1921.
GRCIA E A ROMA
ALLEN,J. T. CreekActing il1 lhe Fifih Cel1tllrv before
Chrisl. Berkeley, 1916.
~ - ~ . The Greek Thcatre of the Fifth Cmlllrl"
bifore Christ. Berkeley. 1920.
ARNon, P. D. Anlntrodllction lo the Creek Theatre.
Londres. 1961.
543
_ __. Greek Scenic Conve ntions in the Fif th
Century BiC, Oxford, 1962 .
BEARE, W. The Roman Stage. Londres, 1964.
BERNHART, J. Bibet und Mythus. Munique,
BIEBER, M. The Hi story of the Creek and Roman
Theatre. Princcton, 1961.
BREITHOL7, L. Die dorisc/le Farce. Uppsala, 1960.
BULLE, H. e WI RSING, H. Szen enbi lde r zum
griec hischen Theater des 5. Iahrhunderts v.
Ch r. Berlim, 1950.
DUCKWORTH, G. E. The Nature of Roman Comedy.
Prin ceton, 1952.
FIECHTER, E. Antike griechische Theaterbuuten. 9
vo1s. Stutt gart , 1930 ff.
FUCKINGER, R. C. The Cre ek Theat re and Its Dra-
ma. Chicago, 1936.
HAMILTON, E. The Roma n 1\\1)'. Nova York , 1932.
_ _ _ _ . The Greek IVa)". Nova York, 1952.
HANSON, J. A. Roman Theatre- Temples. Princeton,
1959.
KITTO, H. D. F. Greek Tragedy. No va Yor k, 1952.
NORWOOD, G. Cr eek Tragedy, Londres, 1920.
_ _ _ _ . Greek Comedy. Londr es, 1931.
PI CKARD-CAMBRIDGE, A. W. Th e Theat re of
Dionysus in Athens . Oxford, 1946.
_ _ __ . The Dramati c Festi va i s of At hens ,
Oxford. 1953.
_ ___ . Di thyramb, Traged y an d Co medy,
Oxford, 1962.
REES, K. The Rul e of the Three A et ors iTl the
Clas sical Creek Drama . Chic ago , 1908 .
ROCKWOOD, J. The CraftsmCll of Dion)'sus: An
ApplVaeh to AetiTlg. Chicago, 1966.
SCHADEWAl.fJT, W./Illrike III ld CegClllI"art: berdie
Tragodie. Munique, 1966
WEBSTER, l' B. L. Creek Thelltre Prod" crioll. Lon-
dr es, 1956 .
WHITMAN, C. H. SopllOcles: A Sr"d)' of Heroie
Humallism. Ca mbridge, Mass. , 1966.
BIZNCIO
BECKWll"H, J . Art of COllst alltinople . Lon dres,
Phaidon, 1961.
DLGER, F. Die b)'zalltiTlisell e Di chtuTl g iTl der
Reinspra che. Berlim, 1948.
HOUSTON, M. G. Ancient Creek, Romall alld
B)'zallti ne Cos tume and Decoratioll. 2. ed.
Londrcs, 1947.
LA PIAN,\ . G. "The Byzan li lle Th e al re" . Spc-
eu/llln, a Jourual of Mediacval SllIdiCJ I I .
Abril 1936.
MOREY, C. R. Earl)"Chrisriall Arr. Prin celon, 1953.
SHERRARD, P COllstallrillopt e. Londres, 1965.
544
Hi s t r a Mundi al do Tea Tro.
THEOCIIARIDIS, G. Beitr ge zur Gesc hichte de s
b)'zanti ni schell Profantheaters im IV und V
Jahrhundert. Sal onica, 1940.
VOGT, A. "Le Th tre Byzance dans l' ernpire du
IV' a u XII I' si cle" , Revue des questi on s
histor ques 59 . 1930.
_ _ _ _ . "Etudes sur le th tre byzant in" . B)'-
zantion VI. 1931.
A IDADE MDIA
ANZ, H. Di e lat eini schen Magierspi ele, Lei pzi g.
1905.
BORCHERDT, H. H. Da s europ ische Theat er im
Mittelalter und in der Rena issance. Lei pz ig,
1935.
BROOKS, N. C. "The Sepulchre of Chri st in Art and
Liturgy". University oflI/in ois Studies in Lan-
gllage and Literature VII, 2. Maio 1921.
CAREY, M. The Wakefi eld Group in the Town eley
Cyc le. G ttingen, 1930 iHesperia . Supl e-
ment o, n. 11).
CATHOLY, E. Das deutsche Lustspiel : Vom Mitr e-
lalter bis Z/lm Ende der Barockzeit . Stu ngart,
1969.
CHAMBERS, E. K. The Medieval Stage. 2 vai s.
Oxford, 1903.
COIIEN, G . Ges ch ic ht e d er Ins reni erung in
geistlichen Drama des Mill e/al ters iII Frallk-
reiel!. Lcipzig, 1907.
CRAlG, H. English Reli gious Drama of the Aliddl e
Ages . Oxford, 1960.
CRAIK, T. W. The T/ldor Imerlude: Srage, Cosr /lme
aml Aetillg. Leicester, The Universit y Press.
1958.
DONOVAN, R. B. Lit/lrgi cal Drama iII the Medi el 'al
Sp ain. Toronto, 1958.
EVANS, M. B. n ,e Passion Pia)"of Lllcem e . Nova
York, 1943.
FRANK, G. The Medieval French Drama. Oxford,
1954.
_ _ _ _ . The Medi eval Drama. Ox ford, 1960.
GARDINER, H. C. M)'steri es' End: An In\'est igatioll
of the La st Da)'s of the Medie\'al Religiolls
Stage. Ne w Ha ven, 1946.
HARDlSON, O. B. Christiall Rite aml Christiall Dra-
ma iII the Middle Ages: Essa)'s iII the Or igill
alld Earl)' Hi s/ or)' of Modem Drama. Ba lt i-
mor e, 1965.
M. Forschllllgen ;:lIr dell isehl'l1 Thea -
rergeschi chte des Millela/ ters IIl1dde r Rellai s-
sallce . Berlim, 1914 .
HUNNINGHER, B. The Origill ofthe Theat rt' . No va
York , 196 1.
Bi b/ iog raf ia
. . __. Ludus Coventriac (ou O " Plaie" chama-
do Corpus Chri sti, Cotton Ms. Vespasian D.
VIII ), por K. S. Block. Lond res, 1922 .
l\ IICIIAEL. W. F. Die geistliche n Prozessionsspielc
in Deutschland. Balt imor e, 194 7.
_ _ _ _ . Friihf ormen de r dcutschen Bii/111e.
Berlim, 1963.
PAECHT, O. The Rise of Pict ori al Narrative in the
Twelfth Century. Oxford, 1962 .
SALTER, F. M. Medi eval Drama in Chcster, Toron-
to, 1955.
SHARP, T, A Dissertation on the Pageant s ar Dra-
matic M)"st eri es Anciently Perf ormed at Co-
vemr)'. 1825.
SHERGOLD, N. D. A History of the Spa nisli Stage
from Medieval Times until the End of the 17th
Century. Oxford, 1967.
SIIOEMAKER, W. H. The Multip le St age iII Spoin
during the Fifteenth and Sixteenth Cent uries .
Prin ceton, 1935.
SOUTHERN, R. The Medieval Theat re iII the Round.
Londres, 1957.
STRATMAN, C. J. Bibliographv of Medi eval Dra -
ma . Berkel ey, 1954.
STUART_ D. C. Stage Decoration iII France iII the
Midd le Ages. Nova Yor k, 19 10.
WEINER. A. B. Philippe de Mezi res ' Description
of lhe "Fest um Praesentati oni s Beatae Ma-
riae ' '. Traduzido do latim e introduzido por
um ensaio no Birt h of Modem Acting. Ne\V
Haven, 1958.
WICKIIAM, G. Ear/ )' ElIglish SUlges, 1300-1660. 2
vols. Lond res, 1959-1963.
A. The Dram a of Mediel'lll Englazul .
East Lansing: Michigan Slal c Universily Press,
1961.
YOUNG, K. The Drama of the Medieml Ch/lrell. 2
vols. Oxford. 1933.
A R ENAS CENA
ADAMS, J. C. The Cl obe Plav/lO/lse: /ts Desigll a",1
Eq/lipmcllt. Cam bridge. 1942. 2. cd. Nova
York, 1961.
J. Q.Shakesp careall Pla)'/lOuses: ii HistOl)'
af En81ish Theatres f rom the Begill llillg to rhe
Restorat iOl!. Bost on , 191 7.
BAl.DWIN, l' W. Orglllli;:aria/l (/l /(I PerSOllllel ofrhe
Shake.\}'earellll Cv mpmlv. Princelon, 1927.
B. Shak es pea re ar the C/ohl'. 1599-
1609. Nova York, 1962.
BENTLE\' , G. E. The Jacobeall al1ll Cm olill e Stage.
5 m ls. Oxford, 194 1-1956.
BHJTI.ER, E. FOrJehlll lgl'l1l11ll1 li'xte z.ur {riihhllllla-
l1istischell Komodie. Hambur go, 1927.
BOAS, F. S. Uni versity Drama iII the Tudo r Age.
Oxford, 1914.
____ . Ali l ntroduction to Stuart Drama. Lon -
dres, 1946.
BOWERS, F. T. El irabethan Revenge Tragedy; 1587-
16 12. Princet on, 1940.
BRADBROOK, M. C. Themes and Con ventions of
Elizabe thau Tragedy, Cambridge, 1935 .
_ _ ._ . Th e Growtn and Structure of Eliza-
bethan Comedy, Londres, 1955.
BRAfJI.EY, A. C. Shakespearean Tragedy, Lo ndr e s,
1904 .
BROOKE, C. F. T. The Tudor Drama. Bost on , 1911.
CAMPBELL, L. B. Scenes and Machines 0 11tlte Englisli
Stage durin g the Renaissance, Cambridge. 1923.
Reimpress o, Nova York, 1960.
CATHOLY, E. Fastnacht spi ei . St uttgart , 1966.
E. K. The Elit ubethan Stage. 4 vols ,
Oxfo rd, 192 3.
CIIESNAYE, N. dc la. La Condemnacion de Bancq uet ,
No va York , 1965.
CRAWFORD, J. P. W. Spanish Drama bef ore Lope
de Vega. Fil adlfia , 1937.
U. The Jacobean Drama: An lnt e r-
pre tat ion. Londres, 1936.
GIl.DERSLEEVE. V. Government Regulution of the
Elir abethun Drama . No va York, 190 8.
HARBAGE, A. Shakespeare 's Audicncc. Nova York.
1958.
HArHAW.- \)' , B. The Age of Criri eism: lhe La tc Re-
lI11issallee in Ital )'. !taea, Nova York, 1962.
HERRICK. M. Italiall Comed)' in the ReIlaism llce .
Urbana, II I., 1960.
_ _ _ _ . Italim. Traged)' in the RenaissllllcC. Ur-
ba na. 1lI.. 1965.
Hernnann. M. Elltstehung der
Scha us pielkul1 s t im Al t er/um 1111d ln d e r
Ncuzeit. Berl im. 1962.
HEWITT, B. (cd.). The Renaiu allcc SllIge: Docl/lllellt s
af Ser/ia. Sabbatt illi /lIul Fllrtt ell bach . Cora l
Gab les: Univcrsity 01' Miami Press, 1958.
HOm.iES, C. W. T/ le Clobe Rl'sto red. Lon dres, 1953.
. Sh akespeare 's Tlleatre. Londres, 1964 .
HOTSON, L. Shakespeare 's Il'<lodell O. Nova York,
1960.
J..\C()lJOT, J . (cd.). Les Ftes de la Rell aissance . 2
vo ls. Paris, 1956- 1960.
._, .... . Lr Lh'lI thiitral la Rl'Illlis.' w1lcc. Pa-
ris, 1964.
JEI-FERY, B. Frm ch Ren aissllllce Com Nfy, 1552 -
1630 . Oxfor d, 1969.
JOSE!' II, B. Elia lber/lOn Actillg. Londres. 195 1.
KENNARD, J. The l ratiml n ,eatrc. 2 vols . No va Yor k.
19 31 .
KERNOfJI.F, G. R. /-I"om Art to Thelltre: Fonll llIul
COll\ 'cntirm iII flzeRClllli J.wl1ce . Chicago. 1944.
545
KN IGHTS, L . C . Drama and Societv in tlir ar
.lonson. Londres. 1937. . . .
KbsTER. A. ot Mristersingerbiihne des 16. luhr-
hundcrts: Ei n Vcrsu cl: des \Viedc rnuj 1>ous.
Halle. 1921.
KOTT. J. Shakespeare Our Contemporary, Londres,
1964 .
LAWRENCE. W. J. Tire Elitabethan Plavhonsc <11111
Ollrer SltIdies. 2 vais. Stratford-on-Avon, 1912-
19IJ.
____ . PreResloralioll Stage Studies, Cambrid-
ge, 1927.
LYNCH,J. J. Box, Pit and Gall ery: Stage and Socict v
in 10IlSOIl 'S Londres. Berkeley, 1953.
Maassen, J. Drama und Theater der Humanistrns-
chulen in Deutschland. Augsburg, 1929.
MERCHANT, W. 1\1. Sha kespeare und lhe Artist.
Londr es. 1959.
MOULTON, R. G. Shukespeare as a Dramatic Artis t.
Londr es, 1893.
NAGLER, A. M. Sha kespeare 's Stage. New Havcn,
1958.
. Theat re Festi vals of 1/", Mediei , 153<)-
1637. New Haven e Londres. 1964.
NICOLL, A. Stuart Masques arul II/(' Renaissanc r
Stage. Nova York , 1938. 196.1.
ORNSTEIN. R. Tire Moral Yisiot: af Jarobrun
Tragedy, Madi son/Milwaukec, \Vise.. 1960.
PIIIALAS, P. G. Shakes peare 's ROllll/lllic Cem,, ' -
dies : Th e Del'e!o{'mellt Df Thcir Forlll l/I" I
Meullill g. Chapei Hill , N.C., 1966.
REYNOLDS, G. F Tire Slaging of Elizah ellul/I !'ltn.l'
alllreRed Buli Theatre, 1605-1625 . Nova York.
1940.
RIBr-: ER, I. Jacobeall 7iagl'<lr: Tire Quesl f or Moral
Onll'l'. No' a York. 1962.
SClIANZER, E. Tire I' roh/elll Pia)'.' of SlrakeslJl'are.
Nova York . 1963.
SCHMtDT, P. E. Di e Biilmm rerh/llli.He des d"lI/ -
schell Se/lU/dramas wul sei ncr l'olkstiimlicllCll
Ahleg er illl 16. .1ahrhulldert . Berlim, 1903.
SCIIONE. G., Di e ElIlWicklulIg der !'erspeklil'c 1'011
Ser/i o bi s. Goll i -Bibiena: Nach deli P"".I'{"' -
k/il'biielrem . Leipzig, 1933.
SKOPNIK. G. Dos Slmsshurger Schu/lhealer: Sll
Spielpl oll //Iul seillt' Biihne. Frankfurt , 1935.
SMITH, I. Shakespea re '.\' B/orkrriars Plol'hoo-,,'. II.\'
His/" r" mul ll s Desigll. Nova York. ' 1964.
SPRAGlIl' , A. C. Shakespeareall P/a yers (//1( 1
Pelj'mll(/IIces . Cambridge, Mass., 1953.
SUMBERG, S. 1'111' N" remherg Sd ll'lllhaT/ Com il'o/.
Nova York, 194 I.
TILLYARLl . E. 1\1. W. SllOkcsp('l1I/ .\ lli\l {/fT 1'10\".\ .
Londres. 19-1-1 .
V ITRUVJll S. Thc l ll Book.'i Tr:uhll.i-
do por 1\1. 11.l\'hugall. Cambridge. l\lass.. I'JI4 .
546
t s t r a M u nd al do Tea tro .
WmMANN, R. Shakespeare und die Tradition des
Volkslll el1lers. Berlim, 1967.
WU SBACH, W. Trionfi. Berl im. 1919 .
O BARROC O
AI.ASSEUR, C. La Com edi r franaise cm 181'siclc,
Pari s, 1967.
ATTINGER. G. L'Esprit de la commedia deli 'ar/e
duns II' th tre [ranais, Pari s, 1950.
AlJBRIN, C. V. La Comedir espagnole (1600-1680).
Par is, 1966.
AVERY, E. L. The Londres Stage, 1700-1 729. Car-
bondal e/Edwardsvill e, III., 1968.
AVERY, E. L. e SCOUTEN, A. II. The Londres Stage.
1660-1700 . Carbondale/ ld war dsville. Ill.. 1% 8.
BAESECKE, A. Dos Sch au spiel der englisc he n
Kom dianten in Dcutschlund. Halle, 1935.
BAuR-HEINHOI.IJ, M . Baroque Theatre. Londr es e
Nova York, 1967.
BEIJER, A. Coun Theatres of Drottningholm and
Gripshol m. Malmoe, 1933.
BEIHHOLD, M. "Jose ph Furrtenbach", Ulm und
Obe rschwuben XXX III. Ulm, 1953.
F. Gi ovanni und Ludovico
Burnacini. Viena-Berlim . 1931.
1' . Giacomo Torelli and Baroqur Stage
Dcsigll. Estocolmo. 196 1.
BlJRCKHARDT, J . C. Tlle Ci, 'ili:atioll of llle Rellais-
sanee iII 1101.1' . Nova York, 1950.
DUCIIARTRE, 1'. L. Th e It oliul1 Com cd.": The
l mpro l'sali oll , Scella r; os, Lil 'es A/l ri butes,
Porl rail s aliei Mash ofIh,. IIIlIs(riolls Chome-
lers ofli,e COllllI/edio elel/'lIrl e. Tradu zido por
R. T. Weaver. Londres e Nova York, 1929.
DUCHARTRE, P. L. La cOlI/lI/l'dio dl'i l' lIr/ e , 'I SC.l
"II/aI/IS. Par is, 1955.
EIWtN, M. Til<' 1'laygoers II clI/dbook (o Re.\'Ioroti -
011 Drama. Nova York, 1928.
f' I.EMMING, W. AI/dreas Gr.' l' hi/ls /C/ui di e /l/me.
Halle ,I92!.
1'1lJIMURA, T. II. The ReslOraliol/ COII/ed" of IVil.
Prineelon, 1952.
GOTCII, A. IlIigo l mles . Londres, 192X, 1968.
F. Ba rac klhealer am lI'i el/ l'T
KlIiserhof (16 25- 1740). Viena, 1955.
II II.l.ESTROM, G. Th ealre olld Bail ei iII Sll'edell .
Estocolmo, 1953.
HINCK. W. Das dell/seh,' L/lstsl'il'i eles 17. /llld IS.
mui dic ilaliclli .H.'l1c Komodie.
Stutlgart , 1965.
II{)II.AND. N. nre Firsl Moelcm COII/('di,s. Cam-
bridge. 1959.
II t l lll'RT, J. Molih,' mui 1111' Comedv of l l1 lelll'el.
Ikrkeley, 1962.
KI.INGLER. O. Di" Comedie-lta lcnnc iII Purs na ch
der Samml ung von Ghe rardi . Strashourg.
1902.
KUTSCIIER, A. V<lIn Salm urger Barockrhru ter zu dcn
Saizburger Festspielen. Dsseldorf, 1939.
LANCASTER, 11. C. Sunset : A Historv of Pari sian
Drama in IIIc Last Yeors of Lou is 170/ -
1715. Bal timore, 1950.
LAWRENSON, T. E. Tire French Stage iII lhe Xl'lIlh
Century: A Study in 1111' Ad "C11 1of lhe Itali un
Order . Manch ester, 1957.
LEA, K. M. l talian Popula r Comedy , 2 vols. Oxfor d,
1934.
LoUGH, J. Paris Theatre Audiences iIIthr Sevc nteentli
and Eigluec nth Centuries, Londr es, 1'157.
MANIFOLD, J. S. 71,1'Music in English Drama from
Shakespeare to Purcell. Londres, 1956.
MCGOWAN, M. CArl du ballet de cour ell France.
Par is, 1963.
MAYOR, A. H. The Bibiena Fumily, Nova York, 1945.
NtCOl.L, A. A Hi story ofRestoration Drama, 1660-
1700. Cambridge, 1923.
_ _ __ . A History of Early Eight eenth Century
Dra ma. 1700-1 750. Cambridge, 192 5.
_ _ __ . The IVorld of llarlequi n, Ca mbridge,
1963.
NIKLAIJS. A . Har lequin Phoeni x , Londres, 1'156.
ODELL, G. C. D. Shakespeare from Bcu crt on to
Irvi ng , 2 vols. Nova York, 1920.
OREGLLo\ , G. TI,e Comll/edio deli 'ar te . Nova York ,
I'I6 X.
PANDOLFI , V. /..i.l commedia deli 'art e: Sto ria e tes-
to .6 vols. Florena, 1957.
RASI, L. I comiei ital ialli. Floreua, 1897.
RENNERT. H. '111e S{'(//,ish Slage iIIlhe Time orLope
de 10go. Nova York, 1909.
ROLl .AND, R. Hi.\'loire de I'vpfll eu E"I"0l'c 1I1'il Ul
Lully 1'1SClIrlulli. Paris, 1931 .
ROMMEL, O. Di c A/r-ll'i ellcr Volkskoll/die . Viena.
1952.
RUDLOFF-HII.I .E, G. Barockthealer im ZlI'inger.
Dre sden , 1954.
SCHOLZ, J. Bamque and Romaf/li c Stag t' Dl'sign .
Nova York, 1962.
SCHWARTZ, 1. A. The Cammedia del/'arlt' and 11.1'
l nj1l1et1ce 0 11FrenelrComed,' inlhe St'l't'IIleen lh
Cmlllr}'. Par is, 1933.
SCOllTEN, A. H. The Londres S/age, 172 9-174 7.
Carbondale!Edwardsville, 1Il., 1968.
W. The COInllledio dcl/'ane. Nova York, 1964.
TINTELNOT, H. /l orockllu'oll'r und bamckt ' K/ln.l'l.
Berlim, 1'139.
TURNEU., M. n, e Classico/ MOII/ enl : SI",lies in
Comeii/e, Mo/in' OI"1Racine. NovaYork, 19-18.
VASARI. G. li ,," ri 's Li"es Ofllll' Ar/isls. Nova York .
1957.
VOSSl.ER. K. Di e roman ische \1\11: Gesammcltr
Aufliil:l' . Munique, 1965.
WHITE, J. 711<' Birth and Reb irtli ofPirtorial Spare.
Londres, 1957.
WILEY, W. L. Tire Ea rly Public n,,'olre iII France.
Cam bridge , Mass . 1960 .
WORSTIIORNE, S. T. Venelioll Opera iII the 171h
Century. Ox ford , 1'154.
A ERA DA CIDA DAN IA BUR GUESA
ARVIN, N. C. Eugne Scri be and lhe Frei/eh Theat re,
18151860. Cambri dge, Mass. , 1924.
BERNBAUM, E. The Drama of Scns bility: A Sket ch
of the Hi st ory of Se ntime ntal COI/Ii'd)' and
Domcs ti c Tragedy, 16 96-1780. Cambridge,
Mass.. 19 15.
BOAS, F. S. An lntroduct ion lo Eighteenth Centu ry
Drama, 1700-1780 . Nova York, 1953.
s oorn. M. R. Engl ish Mel odram a. Londres, 1965.
BROWN, 1: A. HislOTY of lhe Neli' York Stage, 1836-
1918. Nova York , 1923.
BRIJFORLJ , W. H. Theat re, Drama and Audencr iII
Goet he 's Germa ny. Lond res. 1957.
___ _ . Culrure and Society in Classical Ufoimw:
1775-1806 . Cambridge, 1962.
BURNIM, K. David Garric k; Directo r. Pinsburgh,
1961.
CARl.SON. M. Th" Tl lecl/re of tl,e FrellelrRem /lllioll.
!taa, Nova York, 1966.
CIBBER. C. Ali Apology fo r the LilI' of M,. Colley
Cihher. Londres, 1740 (vrias reimpresses).
COLE, J . W. Tire Lif e alld Theal ricol Ti1lle.\' (Ir
C!/(/rl",\ KeUlI. 2 vols. 1l!5'1.
COOK, J. A. Neo -ClasJic Dramll iII Spai ll: l heor)'
alld Practiee. Dallas. 1959.
DAVIES, T. Alellloir.' of lhe Lij, or Dm'id Garrick. 2
vols. Londr es, 17XIl.
DrSHER, M. Melodralll ll. 1'lots Thal Thrilled. Nova
York, 1954.
FINDLATER, R. Six Crcul Actars: Gorriek, Kemh/ e,
Keall , Af acreaiJ)', I n 'itlg, Porhl's-Roher ''\(}Il,
1957.
GRUBE, M. Ges ehi elrle der Meill inger . Berlim.
1926.
HAWKINS, F. Tire Frc1/('1r Slage in Ilre Eiglrll'ClI/h
Cell/llry. 2 vol s. l. ondres, 18Xl!.
HILL,W. Di" deUlsch ell Theoterzeil.l' elrrij/clI d<'s 18.
lh., Weima r, 1915.
HOGAN, C. B. Th e Llludres Sl age, 1776- 180U.
Car bond alelEdwardsville, 1lI., 1968.
HOMMEL, K. Die S,,{'arall'Orsll'iIIll,gell \'or Kiillig
Lucbrig 11. 1'111/ li aY"TII. Muni4ue, 1963.
HOTSON. L. The COI1lI1W/n1'eal ,h ll nd R('Jlora lioll
Stag, ' . Ca mhridge. Mass., I'l2 X.
5-17
JOURDAIN, E. F. Dramatic The01"\" and Pra ct ice iII
Franc e, 169018U8. Nova York. 1921.
KINDERMANN, H. Thcntergeschichtr da Goethrtrit ,
Viena, 1948.
KNUDSEN, H. Goethcs 11'<'11 des Thcatcrs. Berli m.
1949.
KRUTCH, J. W. Comcdy and Consricnce aft er II",
Rest orutio n, Nova York , 1949.
LANCASTER, H. C. Frellch Tragedy iII lhe Time o]
Louis XV and Ivllaire, 17151 774 . Baltimore,
1950.
LUCAS, F. L. The Dectine and Fali of lhe Romunnc
ideal. Nova York. 1936.
MANDER, R. e MITCIIENSON, J. The Art isl and the
Theat re. Londres, 1955.
MATTHEWS, B. e HLrrrON, L. Acrors and Actresses
of Great Bntain and lhe United States from
lhe Days of David Gar rick lo lhe Present Ti me.
5 vol s. Nova York, 1886.
MELCHER, E. Stage Reali sm iII Franccfrom Diderot
to Antoine. Bryn Mawr, 1928.
MINDLlN, R. Zo rzuela: Das spanische Singspiet im
19. und 20. Jahrhundert . Zurique, 1965.
MOODY, R. Am eri ca Takes lhe Stage : Rotnanticism.
in American Drama and Thcatre, 1750 1900.
B1oominglOn. 1955.
NlcOLL, A. A History of Lare Eigllll'Cnlh Cen/lln'
Drama, 17501800. Cambridge, 1927.
. A HislOr)"of Early Ninelce ll/h CCIl/lln'
Drama, 1800 1850.2 vols. Cambridge, 1930.
. A H tory of Lal e Nillelunlh CeIl/llry
Drama, 18501900 . 2 vols. Cambridge, 1946.
ODELL, G. C. D. Shakespeare f rom Be t/ erloll lo
Ir\'illg. :2 vols. Nova York, 1920.
_ _ _ ._. ' Annals oI lhe Norn York Sta ge . 15 vols.
Nova Yor k, 1927-1949.
C. Da" id Ga rrick. Londres, 1958.
PALMER, J. L. The Comed." of Manlla s. Londres.
19 13.
PASCAL, R. The Germall SllIrm //Iul Drang. Man-
chester. 1953.
PEDICORD, H. W. The Theatri calPubli c iII lhe Time
of Ga rrick . Nova York, 1954.
QUINN, A. II. A HislOr)" of lhe American Drama
f rom lhe Beginni llg 10 lhe Ci,i/ llhr. 2"ed. Nova
York, 1943.
_ _ _ _ . A History of lhe Ameri call Drama Irom
lhe Civi/ lVar lo rhe Prese' lI Do)' . 2' ed. Nova
York, 1949.
ROIVELL. , G. The Viclorian Thearre. Londres, 1956.
SCHOL. Z, J. /i aroque alUI Romanrie SUlge Des;!!II.
Nova York, 1962.
SHERBO. A. Engli sh Sell/i mel/ta l Drama. East
Lansing, I\lich., 1')57.
SICHARDT. G. Das Weimarcr Li eb/w/Jer l /l f al er lill /e r
Goelll<' .I' LciIUl.g. Weimar, 1957.
548
H sto r i u M undto do Teatro .
SLONIM, M. Russian Theatre [rom lhe Empi re lo
lhe Soviets , Clevcland, 1%1.
SOUTI IERN, R. Tl ie Georgian Playhouse, Londres,
1948.
_ ___ . Changeabl e Scencrv: lt s Origin and De-
velopment iIIlhe Briti sh Theatre. Londres, 1952.
ST. CLARE BURNE, M . "Charles Kean and lhe
Mcininger I\ l ylh" . Theatre Research VI, 3.
19M.
STONE, G. W. Jr. Tlie Londres Stage, 17471776.
Carbonda le/Ed wardsville, III., 1968.
SUMMERS. M. The Restorati on Theatre, Londres,
1934 .
WAL. DO, L. P. The French Drama in Ameri ea .
Baltimor e, 1942.
WITTKE, C. 'Iambo and Bones: A History of lhe
Minstrel Stuge. 1931.
DO NATURA LIS MO AO PRESENTE
ANTOINE. A. Memories of lhe Th tre Libre . Tra-
duzido por M, Carlson, Coral Gables, Florida,
19M.
ArPIA, A. The lVork of Li ving Arl and Mail Is the
Meas ure ofAli Ti,illg , . Coral Gables, Flrida,
1960.
ARCIIER, W. TI,e Old Drama atld lhe Neli' . Lon
dres. 192 3.
ARTAUD,A. The Thearre alld Ils Double. Nova York,
1958.
ATKINSON, B. Broadway Sc rapbook. Nova York.
1957.
_ _ _ _ . Brol/Ch m y . Nova York, 1970.
BABLET, D. Edll' a rd Gordoll Craig. Nova York,
1967.
BABLET, D. e JACQUOT, J. Lc Lieu II"ll rale dall.\
la socit modem e . Paris, 1963.
BALAKI AN. A. E. Surrealism. Nova York, 1959 .
BAUMOL. , W. J. e BOWEN, W. G. Peiformillg ArlS"-
Tire ECO' lOIIlic Dilemma. Nova York, 1966.
BENTLEY, E. Th e Pla)'lI'r iglrt as Thillker. Nova York'
1946 .
_ _ _ _ . Bernard Shaw. Nova York, 1947.
___ _ . 111 Sem'ch ofThealre. " ova York, 1953.
A. L. Th e Busill ess ofllre Thea lle . Nova
York. 1932.
BIRDOFF, H. The 1V0rld's Greale sl Hil : " UIlc!e Tom '.1'
Cabill". Nova York, 1947.
D. Greal Sla rs of lhe Americall Slag e: a
Piclorial Record . Nova York, 1952.
BOWE: RS, F. Broad ll'ay, USSR. Tlreal re, Ball"1 alld
Elll er lai lllll elll iI! Ra ssi a Toda)'. Nova York ,
1959.
BRADSIIAW, M. (ed.). S'JI'iel Thealres 1')171941.
Nova York, 1954.
B rl i ug raf u
BRALII.ICII, H. Ma. Reinhurdt. Ttieat cr zwischen
Traum und I17rkl ichkeil. Berlim. 1966.
BR()()K, R. Tire Emptv Space . Londres. 1')68.
BROWN, J. R. Ef{ecli"e Thratrc. II Studv wi tli Doeu-
mcntation. Londres. 1969.
BRUSTEIN, R. Thratre of Revolt. Boston . 19M .
BYRNE, D. Tire Sto ry of Ireland's Nat innulTheatre,
Dublin, 1929.
CARTER, H. Tire Neli' Spirit in the European Thcatre.
19141 924 . Nova York, 1925.
CARTER. L. A. Zola and 11l<' Theatre. Ncw Haven ,
1963.
CHEKIIOV, A. M. Stanisl avski 's Me thod: Neli '
Theat re, 1')35.
_ _.__. To 1/'" Actor 011 tire Techniqur ofActing.
Nova York, 1953.
O IENE\' , S. Tlie Neli' Movemen t in the Throt re, NO" a
York. 19 14.
CIIIARI, J. The Contemporarv lrench Th catrc: Tire
Flight fro m Naturalism. Londres, 1958.
__ ,,_ _ . Th/' Theatre oI Jcan- Louis Barra ult.
Traduzido por J. Chiari. 1')6 1.
CLLl RMAN, H. Tire Fervem Yl'Ors: Tire SIoI"\' of lhe
Group Theatre in the Tl ii rt ics. Nova York, 1957.
COLE. T. e KRICII, H. Actors Oll Acti ug , 1950.
COLE, T. (ed.r. Plavwright s on Plavwrighting : Thc
Al cOllillg alUI J\lukillg ofi.\ 1od er ll [) r ll1l 111 from
Ib., ell lO Im,esco . Nova York. 196 I.
COLE, T. e CHINO\', H. Direelor" Oll Di",et illg. 1963.
COPI: AU. J. SUltl 'ell i rs dll H {'lI x - C% l1ll CL Par is.
1931.
CORNELL. K. Th,' Symho lis l Mm 'emen l. New Ha,en.
1')51.
CORRIGAK, R. Th" Model"/l ThC(l(r". N' lI"<' York,
19M.
e RAI(;, E. G. 0 11 Ih" Ar/ ol/he Thell/u' . Londres,
1911.
___ . II Ne li >T!/ Ctlll"t' . Lonur es. 1913.
__ . Tlu.: T! lC'al l'( ' Adnmci ng. Lond res. 1921.
. S("<'III' . Oxford: Uni"ersit y Pres>. 1923.
___ . Hm n' !JTi llg. Londrcs. 1')30.
_ _ __ . EI/('// Terry. Londres. 19.11.
C. E. W. L. Slrilldh"'8 's /Jrall1alie
/,:xp r cJs mi .'iIll. Ann Arh o!', Uni\'c rs ity 01'
I\li chigan Prcss, 1930.
DIEIIOI.I). B. Hohilllo: Hehriii.l .h,'.\ 1"11 /'a/<'1: 32
Bilder lIIil {'illl'r Eill/i"iIrnlllg " 0 11 1J. /J iehold.
Berlim.
DIETRICH. M. Dos 1II0del"/l (' /J1"i/1II 0. Sillllgarl. 1963.
DISIIIR. M. W. /-il/n. Cireus/' s (//111 .1111\ ' (" 11011,1 ,
Lond res,
DRIVI,H, T. F. ROIll(//l/ic Qu nlalld Model"/l {}U<'l)"." A
Histor... oj" 11l<' Modem T1l<'o/re . 0:"" a York.
1970.
EflIVARllS, C. TlII' SlllI,lal 'ski lIa illlge. Nova York.
19(, 5.
EL.""GIN. Yuri B. Tatning. of lhe Art .' . Nova York.
1951 .
Es SLl N. 1\1. Breclu : Ti l<' MOII and His \\ o rk. Nova
Ynrl., 1960.
____. . Tlu: Thcatrc of the Absurd. Nova York ,
191 .
r=A\' , G. The Abbev Thcatrc , Dublin , 195R.
M. Th e Theut cr of AuguSlill Do i.": Ali
Arco/m/ of lh e l a tc Nineteenth Century 1\I11C-
rican Sta ge . Cambridge, Mass., 1956.
FOWI.IE.W. Age ofSur realism. Bloo mington. 1960.
. .__ __Di onvsus iII Pari s. A Guidl' l o COIl ICIII-
po ran- Frcnch Thcater . N')I";' York, 1')60.
FUERST. W. L. e HlISIE. S. J. Twent ieth- Centurv
Sl age Decorat ion. Nova York, 192R. 1967.
GAIP."" , E. Gi otg io Strc hler. Berlim. 1963.
G.. \ SSl"ER. J. The Thrutre iII Our Tunes. Nova York ,
1954 .
____ . . Fonn and ldra in Modrrn Thcutrc, Nova
York , 1956.
._ , . Directi ons i 11 Modem Thcut r e 1111d Ora-
ma. Nova York, 1965.
Dramatic Soundings. Nova York. 1968.
GORCIIAKOV. N. A, Th Ttieoter iII Soviet Rus sia .
Nova York. [')57.
Stllll i :i /lI \ 'ski Di reclS. Traduzido por i\1.
Goldina. No,"a Ynrk.
GOREI.IK. 1\1.N l'Il" T" <'lIlrl"ll orOld. N()\'a York.
GREGOI{. U. e E. C,..,chi"; ,I,. d..s l-"illl1" .
Gters loh. 19(12.
GROPII;S. W. (ed . i. O"kar SchlclIlll1,. ,.. /' 0,,: 10
A/oho/y-NlIgy. Farkas lHol ll il r: JHe 8 iillllf ' um
BlIllhmO". Main z. 1965.
GROSS\(J(;EL. D. I. "["f, ,. Se lf- ColIscioll s SllIg, iII
l\1oder n Frcfl c/i /)1'(/ 1110 . No\'a '{ or!\. . II ) X,
GROTO\ VSK1, J . TOH'(/rt ls {/ fluo/" T1Ica l f t' , Odifl
Tea lrel S Forlil,l}. . 198.
G UICl L-\ R: l'<:\ L' D. J. A/o de ,," Fre l/ch 7b elll rc ./io/11
Gi r audoll x l o Ik ( kl 'U. New lIa\'l.:n. 196 1.
1f,\I NAUX. R. (ed. ). Slag" Dn igll Iltm llgl lOlI/ lhe
lI 'orltl sil/cc [<)35. I\'()\'a York. 1956.
S/age l)l' _\ i g ll l!Jrollgholll l lle " 'ar/ li ., i nce
1')50 . No,"a Ynrk. 1%4.
E. KlIli.'." Tellrm . Warsaw. 1969.
11 EN/ E, H. 01/0 Bm"m 1I//l1 das O<'lIlsch l' T//l'ol ,' ,.
: 11 Ba lill . Berli m, 1920.
If Ol IGIl TON. N. Af o .\'( 'Oh Rl' hean af s. Ao :\ (' COI ",1
A1c/lu}(ls of Productioll i II II/(' So\,;c/ r/WOI F(' .
/'im' " York. 19.1 IJ.
Rt'/lf r ll f:.'l1g 0gl' I1It' f/ f. A POS1.\ (,f il' l lo
" A/ OSCOl I ' Rc!J(' (/ (Sa!s " Nlwa York, I t)()2 ,
lHlI UN(;. II. 11m R l/III",II bi.l 8,.<, c" l: D il I' A/I.\\l"iIhl
d<'l" 11/l'a lcr kriliki'l/ 1'011 I W)'Il lJ32. Rei nhl'k.
1967.
J:\ COBS. L.. Tll c Ri s(' IIIt' Amt'ri ccm Fi llll . No\a
York. 1939.
5-l1)
JOl.lVET, A. ' th tre de Str ndbcrg, Paris, 1931.
JO:-': ES, M. 71ll'l1lre-illIIU'-ROIOId. Nova York. 1951.
JONES, R. E. Druwi ngsfor lhe Thcmrc , Nova York,
1925.
____ . TheDromat ic bnagination, NovaYork,
194 1.
KIENZLF., S. Modem II brid Theat cr: A Guide 10
Productions iII 1,'lIl"Ope alui lhe United Statcs
since 19-15. Tradu zido por A. e E. Henderson.
Nova York, 1970.
KIRBY, M. Happening s , Nova York, 1965.
KNELLESSEN, E. W. Agitation auf da Biihne-Das
poli tis ch e Tilaler der IIhmarer Republik .
Emsdenen, 1970.
KNOWLES. D. French Drama of thr 11I/l'r- lVar tears,
1918-/ 939. Nova York, 1968.
KRUTCH. J. W. ti Amcrican Drama since 1918.
Edio revista, NO\"aYork, 1957.
O. K. (ed.). Scene Design f or Stuge arut
Screen Rcadings 011 lhe Aesthet ics and Metho-
dologv af Scene Design f or Drama, Opera ,
Mu sical Comedv, Bailei, Moti on Picturrs ,
Televi sioll and Arella Theatre. East Lansing.
Mich.. 1961.
LEYPISCATOR, M. Tile Pis calor Erperimel/l. Th"
Poli lical Th"alre . Nova York . 1967,
MACGOWAN, K. e JOl'ES, R. E. COlllilleJItal Slage.
eraft . Nova York, 1922.
C. D. The Liltie Theal re ill lhe UlIill'c/
SWles. Nova York . 1917.
MAGARSIIACK, D. Cileklwl' lhe Or(/lnal isl . Nova
York. 1960.
MAGRIEL, P. Cilmnicles of lh e Amrrican Dana .
Nova York. 1948.
MEISEL. 1\1. Shaw 0 1/( / If,e Ni llClee lllh Cellrllrr
Theal l'r. Princcl on, 1963.
MELCER. E. H. Stag illg lhe Dallce. Dubuquc. 1955.
MELCHI l' GER, S. The COllc;"e ElIcyc/opedia ofMo.
derll Drama. NO\'a York. 19M.
C. ESSllis jUT ;Ia sig nificllli01l ali cinima.
Paris. 1968.
IvIIELZINER.J. Desigllillgf or lhe Tilealre. Nova York.
1965.
MILLER. A. 1. The /tu/ epelldelll TI/ealre ill Eurol".
1887 lo lhe Presrl/l. Nova York. 1931.
MODERWEl.L. H. K. The Thealre of Toda,l' . Nov'a
York, 1925.
NEMI RVICIIDANCHENKO, V. My Lifi' iIIlhe RlIssiull
Thearre. Londres e Boston, 1936.
NICOLL. A. Fi/11l and 'healre. Londres, 1936.
NICOLLl ER, J. Ren Morax (Thlre c/II Joral). 1958.
NOVICK, J. He,l' ol1c/ Broadwa.1': A Q'U'SI f or Per",a
Ilem Thealres. Nova York . !9CJS.
PALMER, J. The FlIllIrc o{lhl' 711cllIrc. 19 U .
PLUMMER. G. The lJlI.\;IlCSSof ShOlr /Jul1eJ.\. t"o\'a
Yor k. 1961.
550
Hi s t ri a MUI/d ia l do Trn t ro
p ()( ;( i1. J. Theatr e iII Amer ie<l : The 11111'<1('/ of Eco-
nomic Forces , 1870/ 967. haca , NO\'a York,
1% 8.
I' KI CE. J. Thc OjJ-8roadll'llY Thcat rc. Nova Yor k.
196 2.
PKONKO, L. Theat rc East anel 11" 51: Perspecti ves
towa rd a Total Theatre. Ber keley, 19b7. Tr ad.
bras., So Paul o, Perspect iva. 1986.
REINHARDT, 1\1.Ma x Reinha rdt , Scin Tlieat cr in Bil-
de rn. Herausgegeben "Oll der Max-Reinhardt-
Forschun gsstttc Saleburg. Han ver, 1968.
ROTHA, P. The Film nn Now. Londres, 1960 .
ROHI.E, G. Tlieatrr f r die Rcpublik. 19/7- 1933.
im Sp iegel der Kritik. Frankfurt . 1967 .
RIILE, J. Das gefesselte Thea ter. 10111 Rcvolutions -
tlteater ::um sozialistischrn Rea lismns . Co l-
nia-B erlim , 1957.
RUIINAL:, W. ve rsamml ungssunten, Gtcrs loh. 1969.
RlJl'l' l' l., K . H. (cd.) . \\,ie/ond IVagn er insreniert
Richard \V<l gller . Konstanz, 1960.
SAYLEK. O. M. (ed .) . Max Reinti ardt and lIis
Theatre. Nova York, 1926.
SCIILEMMER, O. Til e Th eal rl' of thl' lJallhaus.
Middleton. 1961.
SCIIL.EY. G. DiI' hl'ie Biilllll' in Her/in. Berlim. 1967.
S. Das "fusica/ . Mu nique. 1965.
SCIHXlP, G. Das Ziircher SclwlI.\l'iel ha llS illl ; m ' ill'n
IVellkr ieg. Zurique. 1957.
SEI.DEN. S. e SFl UI AN, II. D. Srage Sl'l'IIelT al/(I
Li ghling. 3. cd., Nova Yor k. 195') .
SUTZER. D. (e<l .). n ,e Moe/cm Thelll/'<' : I'llI/illgs
illld D OCUIH ClllS. Boston. 1967.
SIl.\\\'. G. B. The Quintes.,. 'nCl' of Ib.\Clli.\lII. Lon-
dres. 19 13.
Oltr Theal rt' iII lhe Ni "e'; l'.\'. J \"() Is.
Londres. 1932.
SHAW. L. R. Thc P/an rrighl ,{ lIiJ/OriCII/ C/lOngc:
Drama /ic St rnl cgil's iII Brecl l1, f{I W P IllUllJ l1.
Koi'\cl; {l/1<1 IIh /eki/lll. t\la<.li so nllvl ilwauk ecl
Lond res, 1970.
SI\I ONSON, L The S/age i.' Sei . Nov'a YOI).; . 1932.
. Tl 1<' Arl of Sel'lli e f) csigll. Nm'a York.
1950.
C. Mu si ml Comed."iII Amerine Nova York.
1950
SOKEI., W. H. Th,' \\'ril u i II EXlrelllis: ExpreHio -
lIism iII TH'Cnelh- Celllll ry Germall Lit cr(/Iurc.
Slanford, Calif. , 1959.
SONDEI.. B. S. Zo/a 's Nal1<ra/i.\lc Theol'."\I'ilh Par-
lini/ar l o Il1e D ram a . Chicago,
1939
SOlJTIIERN. R. 711e Opell Srage. Nova YOI).; . 1959.
1\1.lIreeht 's Tradilillll. Balti mor e. 1967.
SPOl.lN . V. ImprOli.w l ;oll l or Il1e Tht 'al l"t ' . E\'a ns-
lo". 1963. Trad. bras.. So Pau lo, Perspecti -
va, 1979.
Bib l i o g rafi u
STANISLAVSKI. C. My Li{e in ,11'1. Londre s, 1924 .
___ __ _. AIl A, 'lor Prepares. Nova York, 1936.
___. Buldng a CI/III'II<'1/'1'. Nova York, 1949.
___ ___Greatins; a Rol e, Nova York . 1'16 L
STEI N. J. 1\1. Richan! lIlglll'l' (//1<1 III/' SI'III/I/' sis 01'
ttie Arls. Detr oit . 1960.
STO:'>IE, E. \1'IUlI \\-CI.I Naturalism? Materi ais f or all
AII .<lru. Nova York , 1'15'1.
STRATMAN. C. J. Bibl og raph o f lhe Amrrican
Theatre, Exrluding N" \I' l ,rk Citv, Chicago,
1965.
STRIC'KLAND, r. c. Tlie Tcclmique of Anillg. No va
York, 1956.
STYAN, J. L. Th e lr a r ): Comedv: Th ,' Drvelop-
ment of Modem Comic Tragrdv. Ca mbrid-
ge.
TAIRO\\'. A. Das cnt fcs sct u - Thea tcr. Auf ; eicluuIII-
gen cillCS RC' gi.,slltrs. Potsdam, 1927.
TAYl.OR, J. R. tllI ga (/11<1 Af tcr A Guidc to lhe NC\\'
Briti sh Druma. Londres , 1962.
TIIEATERARIlEIT. 6 Aujfiihrungc n dcs Brrtin,
Ensembles, Berl im. 1967 .
ULANOV, B. Mask of lhe Modem Thcatre. Nova
York,I961 .
VARDAC, A. N. Slage lo Scrccn: Thrutricu Mcth o.l
[rnm Garricl: 10 Griffilh. Ca mb ridge , Mass.,
194'1.
V EI NSTEIN. A . La misr (' II sccru: I lu;/1. l l"alt ct sa
conduion esthctiquc, Paris. 1955.
VOLllACIt. W. R. Ado /I,he Apni. 1'101" " '1 of Ifte
Mo de m Thcot rc: A Prof i l e. Middl et ow n,
Co nn.. 1968.
W..... S. M. Antoine and lhe Th ilrt ' l.ibrc,
Nova York. 1964.
WEALES. G. Americun Drama since worut wartt.
Nova Yor k, 1962.
WEIG..... N[). Il . J. The ModrrnIbscn . Nova York, 1925.
M. The Languugc ofDance. Middler own ,
Co nn., 1966.
WILLETr, J. The Th"a lre of Bert ol t lt reclu, Nova
York. 1959.
,, . Bre cht on Theatre. Tr adu zido por J.
Wi llcll . Nova Yor k. 1965 .
YOUNG, S. Tlieatrc Pra ctice . Nova York , 1926.
ZUCKER, A. E. l bscn. tire Muster Builde): NovaYork,
1929.
____.. . Zwa m:ig Jahre Kornischc Op er : Eine
J.) oklllllell lal;oll . Berlim. 1967.
551
ndice
Abel, Li onel : Absalom, 520
cio, Lcio, 144
Ackermann, Konrad , 411 , 41 3; troupe de, 400
Acke rman n, Sophie, 388
Addi son, Joseph, 39 1, 406, 407
Ado (segundo ator), 87
Adra sto, 104
Adso de Toul : Lib ellus de Antichristo, 20 3
Aerobindo, 177
Afrnio, Lcio: Casa em Chamas, 155
Agatarco, 114
gaton, 120
agoll , 107, 113, 121
Agop, Gll, 26
Agostinho, Sa nto, 212, 235
Agostinianos, 240
Agri co la, Johannes: Tragdia dr Johannis Huss, 30 I
Alarcn, Juan Ruiz de: La Ferdad Sospechosa (A
Verdade Su spe ita), 370
Albee, Edward: The American Dre at n (O Sonho
Ameri can o), 52 1; IVho 's Afraid of Virginia
1V00lf.' (Quem Tem Medo de Virgini a Woo lf") .
5 19,533
Albniz, Isaac, 48 1
Alberti, Leo Bati sta, 278, 284; Philo doxeos, 278
Alberto da Livni a, 240
Albrecl n V, 357
Aldr ich, Thomas Bail ey: Judith o] Bethulia, 523 ,
524
Alegorias, medieval, 261 -267
Ale ikhem, Scholcm, 517
Alemanha: classicismo da, 4 13-429 ; teatro da. 529;
Teat ro Nacional da. 408-4 I3
Aleotti . Battist a, 335
Alexa nderstift , 196
Alexandre VI, 270
Alexandre, o Grande , 7, 8, 17,23,29,124, 130,345
Alxio I Comnc no, 25, 182
Alxis, 124
Alfonso X, 242
Allcyn, Ed ward, 3 19. 320
Altman, Geor ge J., 293
Ambr sio, Sa nto , 191
Amenfis III. 13
Ana da Bret anha, 256
Ana, Rai nha, 303, 358
Anastcio I. 172
Anaxandri des, 124, 130
And, Melin, 25
Andersen, Maxwe ll. 520; Elizabeth thc Quem (A
Rai nha El isabcth) . 5 18; Joan of Lorrainc (Joan
de Lor en a), 5 11; ,\I{// :,. of Scotland (Maria da
Esccia) , 5 18; H'illterset (O Inverno ). 5 18
Andre ini , Fran cesco. 355 ; Le Bravurr dei Capitan
Spu vent o (As Bravuras do Ca pito Spavcnto),
355
Andre ini, l sabella, 406; Cartas, 355
Andrcini. Vi rginia, 326
Andreycv, Leonid Nikolaevich: A Vida do HOII/cm,
465
anfi teatro, 140, 155- 16 1: e teatro de mistri o in-
gls. 232
Angstia de Lucca, Sa nta, 247
Anba l, 141
Anna Amali a, 413, 416
Annunzi o. Ga briele d' , 469
Anoui l h, Jea n, 147,480
Ansc htz, Hcinri ch . 429, 446
An-Ski , Sc h: () Dibuk , 466
Antichristo (Tegern see). 203-20t 235, 2h I ; infl u n-
cia nos aut os de Nata l, 235
Antfancs. 124
Antoi ne. Andr. 449 . 452. 45.' . 454. 4511
Anzcngrubcr, Ludwig. 457.492
Apollinairc. Gui llaume: Lcs Mamrll r de Tircsias
(As Mamas de Tir sias). 481
Apol od oro. 114
Apol nia. Santa. 227. 265
Appia, Ad olphe , 470 . 519 ; Copeau, e, 480; influ n-
cia em Jon es. 47 1; influncia em Mi elziner, 524
Apuleio. 137. 155; O ASl/o de OUIV. 1:1 7. 155
aragoto, 9 1. 92. 95
Arca de No, 228. 23 1
Archi lei , Vinoria . 325
Ard lio, 169
Areoi da Polinsia, 4
Are tino, Pietro: La Cor tigiana (A Cortes). 278; I
Ragionmncnti (Os Argumentos). 278
Ariadne. 136
Ar ion de Lesbo s. 104. 105
Ari osto, Lodovico, 28 1; La lassaria (A Ca ixinha),
276 ; Orl ando Furioso, 276; Shakespeare. e. 3 12;
Snuientes. ., 00: I Suppositi (Os Impostores). 276.
312
Ari stoderno. 130
Ari stfanes de Biz ncio, 129
Ari stfanes. 114. 117. 118-124. 14 1. 475. 502: 0,
Arcal/ial/os . 123, 124; A Assembleia das Mu-
lheres , 124; Os Babilni os, 124; Os Banqu e-
tradores , 120. 12 1; Os Cavaleiros , 121-1 2.' :
deu ses. e, 121. 123; Lisistrata . 123: As Nuvens.
121. 123; Os Pssaro s. 123: A Ik . 118. 12.1.
538; As Rs. 104. 113, 121: A Ri'l Il(: tI ( PIIIIII.I).
121:As Ibpas. 120. 123
Arist teles. 140. 211. 272. 273. 41 1. 4 12: defini-
o de trag dia. 110; l' lis. e. 252: msi ca. e.
324: ori!!I..'u'" da com dia, c, 120; {'oc;rictl , 120.
130. .1-14: Sfocles. e. 114
Ar lequim, 162. 247.248. 353. 358. 40c>. 407. 425
Arquelau. I 10
arquitetura: de Atenas. 130; de Roma. 130. Veja tum-
bm construo de teatros
Armnge. Adolphe L' . 457. 487
Arta ud. Antonin. 500. 502. 504
Ane romnti ca . 177. 1'15.234
Artur. 252
Ashbury. John: The Heroes (Os Heris ), 520
Aspendus. 154
Assurbanipal , 442
Asvaghosha , 39
Atores ambulantes. 374-379. 395. 3%. 407
,-\lIerbom. Per Daniel Amadeus . 427 . 429
Auher. Dan iel: La M//clte de Porriei. 4.13, 436, 496
Aubi gn ac. Ahade Fran \' oi s d' : La I''''t iq// c d//
rh,ftr<' , .120. 344
Aubulo. 124
Audiberli. Jacque s. 46'1
1\1Ifresne. 3XX
55-1
H s t or a Mu udi a ! do Tra n-o
Augus to, 139. 140, 154. l5 5. 157. 163. 1M
Augusto, o Forte . 382
Aulnoy, Marie-Cathe ri ne d' . 369
Aurlio. Marco. 154
Auric, Geor ges, 481
Auspi ra, Giovanni. 270
Auto de Paixo. 185. 19 1. 194, 195, 212-222. 223.
iit. 233. 234 . 240. 248. 26 I, 262; e.
19; Alsfeld, 2 15, 227 ; Angers, 223: Donaue-
schingen/ Villingcn, 2 19; drama grego, e. 173 ;
Egpc ias. 7.8. I I ; Hussein. 4, 23; influncia nas
repr esentaes pro fanas, 248; irmandades, e.
200; Kreuzenstein, 245 ; Luccrna , 2 16; medie-
val, 178; Obcrmmer gau. 23; palco. 262; Persa.
19,20; Tirol (Bozen), 2 16. 2 19: Viena. 216
Auio de Pscoa , 178. 185. 186 . 189. 194203.212.
219.245: Er lau . 199: ln nshr uck. 198. 199. 209:
Viena. 216, 22 1
Auto de So Nico lau . 205
Auto do Padr e-N osso, 265
Auto dos profetas, 2 19, 240
AlIra sacramental, 209, 2 12, 368. 373
Autos de carnaval . 2 16. 250-255. 308
Autos de Natal . 185, 198. 199. 233-240; abadia
beneditina de Beuren. 205 . 235; ale m. 182 ;
"B rbaros", 80; Bizanti na. IS2: Gtica . 18 1, 182
Autos de Neidhnrt . 248. 250
AY3.l1lc. VejaYoshi zawa. Ayamc
Ayrcr, Jakob. 300
Baccio dei Bian co. 370
Bacon . Francis, 530
Badius, Iodocus, 27 1
Bahn . Roma, 507
Ba'lf. Jean Antoine de. 273. 280 , 330
Bailey, James A. 5 16
Baker. George Pierce. 5 19. 520
Bakhru shin, 499
Bakst, Lon, 481
Balho. Lcio Comdio. 154
Balhul o. Nolker. 189
Balde, Jakob: .leJria.', 34 1
bal. 433 ; aqutico, 164 : Bizant inu. 164: corte bar-
roca, 3.10-335 ; histr ia do . 344: infl uncia em
Diaghil ev, 481 : Romano, 164, 167; Russo, 469.
481; Sueco, 48 1
Bale. John: Killg .lOhll, 30 1. 3 12
Balzac, Honor de. 451
Bal/quel/es. 395
Barbam, Daniele. 284 . 287 . 291
Barhaross a. 203
Bardi. Giovanni de' : Amico Fido (O Amigo Fiel ),
324. 325
Barkcr. James Ndso n: The Im/inu Prill rr ss. or
1.1/lIel/ e Salll'llge (A Prin ce sa ndia. ou A Bela
ndic e
Sel vagem), 5 15; Sup ers tition (Supe rst i o) .
5 15
Bar lach, Ernst, 476
Barlog , Bol eslaw, 530
Barnay, Ludwi g. 449
Barnum, P. T.. 433. 516
Barras, Charles M.: The Black Crook (O Trapacei ro
Negm).516
Barrault. Jea n-Lo uis. 475. 480. 5 U . 534
BARROCO. 155. 323-324; comd ia de caracteres.
344- 35 2; Commedia dcll 'urte, .153 -367: Bal/ er
de Cou r, 330-334; teatro franc s. 344-352
Barry, Philip. 520: Tlic Anima! Kingdom (O Reino
Animal), 5 18: Here COII/(' thr CIOInI.' (A vm
os Palhaos), 518: Holiday ( Feri ado), 5 18; TIl<'
Philndelphia Storv (A Hist ri a de Filadlfia) . 5 18
Barry, Spranger, 39 1
Baslio. So. 181
Bassermann, Albert, 476, 487
Bathory, Estvo. 274
Batilo,l64
Baty, Gaston, 480 . 488
Baude, Henri, 256
Baudelaire, Charles Pierr e. 466
Ba ucrle. Adolf, 425; lI'iell('l' Thcotrrzetung, 445
Baumcis ter, Bernh ard, 446
Bayle. Pierre: Dictionn aire, 38 1
Bcaujoyeu lx, Balt hasar , 296
Bca unuuchais. Augusrin Caron: O Barbeiro de Se-
vilhu. 352. 388: ti, Bodas de Figuro, 3X8. 403
Beaumon t, Francis. 3 19
Bcauvoir, Simone de. 526
Bcck , J udith Malina e Julian. 520. 521
Beckeu. Samuel. 469.52 1. 522 ; Endganu: ( Fi m de
Jogo), 522 . 530: Esperam/ o Godot . 5 1I . 526
Bccquc , Henri: Les Corbcau. v lOS Cor\'OS). 45 3
Bccr, Rudo lf. 492
Beet hove n. Ludwi g van: Fidrlio, 425. 427
Behnnan, S. N.. 520
Bja '1, Arm ande. 349
Bjan. Madeleine. 349
Belasco. Davi d. 518; Tlle Gi rl oJ rhe Go/dell lI" sr
( 1\ Garota do Oe s te Dourado ). 4 54 . 51 8;
Madalllc 99. 518
Be llamy. Geo rge Anne. 39 1
Bell a)', Joachim Du. 273
Bell ieti, Jean. 256
Bellincioni , Belll ardo, 292, 29.,; Leonardo. e, 292.
29.1: rima , 2'13
Bellini, Vincenzo, 533
Bellomo. Joseph . 4 16
Benda. Georges, 387
Be ned itinos . 203. 248
Benoi s. Alexa ndre. 48 1
Beolco. Ange lo. (" RlIzza llle" ,. 261. 273 . 281 ; ,
I
l
im'iII l1w . J53 ; L..ll \ ilcclIrill . 353
Berchet, Giovanni: Lenrru semis eria di Cris ostomo,
4.16
Bergman . Ingmar: No ite.... de Circo. 533
Ber lin, Irving. 5 13
Ber lioz. l lec tor: Benvcnuto Crliin, 44 1
Bernard de Morl aix, 368
Bcmhardt , Sarah, 442, 455 . 514. 523
Bernhart , Joseph. 109
Ber nini, Giovanni Lorenzo. 323
Bernstein , Leonard . 5 17. 533
Bcni n, Emi le. 488
Bert oldo de Rcgensb urgo, 194
Berto li. Anto nio. 32
Betulius: De virtute " r voluptate, 303
Beuther , Friedrich . 429
/1110110 . 42
Bharara: Natyasastra . 29. 32,33-37.38
Bhasa: BII/II"(II'iro, 39; Charudattu , .19: Dutav ukvu,
39
Bhavabhuti . 42
Bibbiena, Ca seriti no : Ca landr ia. 278. 284
Bidennann, Jakob . 34 1; Cenodoxus, 341
Bicber. Margarete, 134. 161
Birc k, Sixt : Susa nna, 30 1
Bird . Robert Montgome ry: The Brokcr o(
10 Agent e de Bogot). 5 15; Thc G/adiaror ln
Gl adiador). 5 15
Bizet. Georgcs: Ca rmen, 441. 470
BIZANClO. 171-11ll. 186. 240; arte, 172. 173: hal.'
aqu tico c jogos. 16"': influncia no teat ro de
mistrio. 2.12; mimo. 162, 163. 172-177: msi-
ca. 172; padres da Igreja, 175. 240: teat ro gre-
go. e, 173- 175; teatro na aren a. 177-178: teat ro
na co rte. 18 1. 182; teatro na igrej a. 178- 223:
teatro sem dr ama . 172-177
Bjorn son. Bj mstj ern c, 453, 457
Bleibtreu, Hcdwi g, 492
Blcibt reu . Karl: Revolutiou ;/J der Litrratnr I R L'H l -
luo na Lit eratura I. 455
Blin, Roger. 530
Bochet. Jean. 257
Biicklcr. Georg Andreas. J J 7
Bodel. Jean: u .1('/1 de Soim-Nicola.' (O Auto
So Nico lau) . 205
Bodm er. Johann Jakoh. 406
Boge ner. lI cinrich der . 196
Boil eall- Des pra ux, Nicol as, 404 . 406: L 'I I ri
p",lriq/lc (A Art e Po tica). 382; Voll aire. e. 38(,
Boj ardo. 28 1
Baker, Gcorgt: Hen ry. S15: Fnmu'su/ d" Rill/;'/i .
5 15
Bolena. Ana, 3 12
Bolin gbrokc , 3R6
\\'illldlll : /)i( ' IUllltn..
GrulldlagcII c/er POl'si(' (Os Fundamentos
tti cos da Pocsia l. 455
555
Bond, Edwa rd, 313 : Suvcd (Salvos). .160
Booth, Edwi n, 5 16
Booth, John Wilkc s, 5 1I>
Borchc rt , W"lfga ng: Druusscn m I' tia Tr (Do
Outro Lado da Porta ). 501
Brgia, Csar. 251>
Borkenste in: Bookcsbcutcl, 4 11
Borlase, William: Obscrva tions 0 11 lhe Antiq uities
Historicot <lI1I1 MII/IU/Ilenlal of Cornwall (Oh-
se rva es sobre as Ant igidades Hist ri cas e
Monu men tai s da Cor nualha), 232, 233
Bott icel li. Sa ndro: Nascimento de Vl/IIS, 28 1
Bouchet, Jean , 228
Bouci caul t, Dion : Thc Octoroon (O Oi ravo), 5 17
Bougoin, Simon: L' Homme Jus to "I L 'Hommr
Mondam, 262
Bouh lier, Sa int-Gcorges de: Oedipc . Roi ti" Th bcs
(dipo, Rei de Tebas). 488
Bouschet, Ja n. Vej a Thomas Sackcvillc
Brabante , 26 1
Brahm, 0 110. 455-460, 471, 480, 487
Brahma, 29 , 33. 36. 37
Bramante, 28.1. 287
Brando, Marl on , 533
Braque, Georgcs, 481
Braun. Hanns, 529
Braunschwc ig, Hei nrich Juli us von, 300
Breclu, Bertolt, 42. 4 12, 452, 46 3, 471, 495, SOO.
50 1, 50.15 10.523: A'!(l'lieg lII1ll litl l der SllIrIl
Mal/llgmlllv ( A scenso e Queda da Cidade de
M ahagonnyj , 505, 5 111: Der gutc Mrnsch 1'01/
S"Zl/lII' (A Alma Boa de Sctsuan) , 5 10, 534:
Dick iclll der St dt e (Na Se lva das Cidades) .
505 . 507 : Hcrr Punti la IIl1 d sri n Knrclu Muni
10 Se nho r Pun tila c seu Cr iado r.l a[(i). 507:
Org anon [iir da s Th ru te r ( Pequeno
Orga no n pa ra o Teatro). 505 : 1"'1"'1/dcs Gulilci
tA Vida de Galileu Galilci), 507: Munn ist MlIIlI'
(O Homem o Homem), 504: Mut trr Courugc
und 111 1''' Kindrr (Me Coragem c seus Fi lhos),
507. 5 21>. 53.1: A Opem do" Trh Vinu'ns, 507.
5 10: peas de Grass. e. 5 11: Tagore. e. 42, .1.1:
teatro '''i; tieo, e. 54: O tea tro pico de, 505:
Tr0I11111l'/1/ in tler Nachl (Tambores na Noite1,
505: Ih g ll g'<II gsllIealer oder Lell rt lleat er:'
(Teatro de Divertimento ouTeatro Did;tico?), 505
Bredero, G, A.. 308
Brighouse , Il arold, 460
Brizeux, Juli en Augustc Pdage. .116
Broadway, :'i13-519
Broclman. Step han. 30.1
Bronn en, Arnolt: liclte,.,n" ,,1(Parricdio) , .175
Brook , PeleI'. 526 , 530. 538
Brown. Kt:Jlllelh: nu' Ur ig 1,.-\ Priso do !\:a\'io l. 520
Bro\\'nc, Rohert . _, 75: " ctiO/li'.\' , 375
BllIck.ner. Fenl inand. 4XO; lJit' KraJlJ.:ltcil deI" ./llgCIlt1
551'>
H srr i a Mun d ia l d o Tva t ro
(A Doena da Juventude). 475
Brucghcl, Pieter, o Velho. 257 . 308
Brhl, Karl, 424
Brunclleschi, Filippo. 27 1. 284
Brunner, Tobi as: Jakob, 30 1, 303
Bruno de Colnia, 242
Bruno, Giordano, 324; II Cmulelll io, 278
Bruno, So. 34 1
Brunswick, duque Hc inrich J uli us de, 375
Buchanan, George: Bap tistes, 274; Detect io Mariuc
Rrginae, 274 ; Jeph tes , 274
Bchner, Georg, A., 44 1; Dw,((IlIS Tod (A Morte de
Danton), 47 5, 49 6
Buda. 39: nasciment o de, 78 : dana em hon ra a,
9 1; personifica o de , 41
Budi smo, 39, 54 ; ascet ismo, 42: drama do, 42: in-
flu ncia no teatro de m scaras. 75; Japo. e, 78;
Mahayana, 39: I/( ) . e, 8 1,91; poesia, 39: Samurai.
e, 81; )'ugel1, e, 38,83; ZlI , c, 81
Buffequin, George, 345
bugaku, 78-80
Blow, Hans von, 45 7
bunraku, 75, 260 , 247
Bunrakuken. Veja Ue mur a, Bunrakuk en
Buontalcnti, Bern ardo. 29 1, 296. 324, 325
Burbage, James, 3 17. 320
Burbage, Richard. 3 19
Burckhar dt, Jacob, 104. 269
Brger, G. A.. .136
Burke, Edmund. 42'1
burlesco: caracte res do. 19 1; prahasana. c. -12. Veja
tambm farsa
Bumacini. Giovan ni, 326. 330. 337, 342
Bumacini. Ludovico. 326, 330. 335, 337
Bustelli, 355
By!. 453
Byron. George Gord on . 0 011 I uu n. 43 1:
Munfrcd, 470: Snrdanapaln, .142
Cacc ini. Gi ulio, 330: Dafi, e, 32.1: Euridicr, 325: 1/
RtlI' illlcII1o di CeIlI/o. 325
Cage. John, 527 , 529
Cailleau, Hubert , 223
Caldern de la Barca. Pedro, 320, 377, 4 13.428. 43 1;
La rIeWJci l/ rIe la Cruz, 433: EI golfo de las sire-
1I(/S (O Golfo das Sereias), 373, 374; EI grall lealro
dei 1I11llldo (O Grande Teatro do Mundo). 373: O
Prllcipe Conslallte, 373 , 433: ti Sell/zora rias Fa-
dm, 373. OlllizAlmide de li,/amea, 373: n Mal'or
Enca1lloAmor (Amor, O Maior Feiticeiro). 374
Calgula. 164
Callas. Mari a, 533
Calliopius.27 1
Calvino, 30 1
C;,mer van den Violieren. 30:'i
"d i ce
Ca mpani, Ncco l , 26 1
Camus, Albert, 520 , 526: Le Myth de Sisyp hc (O
Mito de Ssifo) , 522
Ca ne s dos goliardi , 2.15
can to: Bizantino, 177; cantica. 1.17: Grego . 137; II/di
scacnici, 140; Romano, 161. Veja tamb m kabuki
Capio n, tie nne, 396
Carcov, 155
Cari no, 161
Carl Au gu st , 416, 420
Carlos IV, 2 15
Carlos IX, 280
Carl os V, 269, 276, 308
Ca rlos VI, 338
Ca rlos VIII, 256
Carlyle, 111Omas, 4.j I .
Ca ren te, 114, 367
Ca rt us ianos, 34 1
Car uso , En rico, 454, 5 1.1
Caso Sacco e Vanzetti, O, 5 18
Caspar, Horst , 487
Castiglione, Bald assare, 284
Castro, Guilln de: UlS Mocedades dei Cid, 370
Catarina II, 403
Catulo, 205
Ca valli , Francesco, 326; Egisto, 326
Ce ltis. Konrad , 27 1; Ludus Dianae. 29'1
Cem jogos , 54-58
Cc nodoxus , 34 1
Cens ura, 3 17, 388. .127-428: Frei e Bhn e. e. 457.
459: Shaw, c, 460. 462: teatro po lti co , e. SOO
Ce rr ito, Fann y, .133
Cervan tes, 283: D OI/ Quixote. 367 -368
C sai re, Ai m : Un Saison a li COligo (Uma Tem-
porada do Co ngo), 50-1
Csar. J lio, 151. 155, 157. 163
Cesariano, 28.1
Ccs ti. Marc Ant onio: 1/ Pomo d 'Oro, 330
Ch' i Ju -sh an, 67
Ch ' ien Lun g, 6 1, 66
Cha ikin. Joseph , 52 1
Cha mr me sl, I\m e de. 3.17
Cha ng Tse -tuan, 60
Chapelain- Midy. 155
Chaplin, Charles, 353, 502
Chapman, George, 3 17
Charivari , 248
Chassiron: i' lI r le Comi'l " ,' -Ia rmoyanl
(Refiexes sobre o Cmi eo Lacrimoso). 386
Chastellain, Georges: Le COllci le de Ble, 261
Chateaubriand, Fr anois Rcn de: L,' C""ie dll
C/zrisliolli stne, 429
Chen-tsun g, 59
Ches naye, Nico las de la, 262. 296: COllllamllalioll
de Ballqllel , 262
Chiah rera, Gabriele, 325
Chika matsu, Mon zacmon. 75 , 89. 92. 95
Chikaz ane, Koma no. 78
CHINA, 53-73: "Ce m j ogos" . 54- 58: como lema
no bal de Novcrr c, 39 1: co nce ito xamnico da,
78: drama do Norte e do Su l da. 6 1-66 :' Jardi m
dai' Pcras, 58 -6 1: pera de Pequim, 66 -70-, pe a
musical da, 66 ; teat ro de mscaras japons, e.
75: tea tro moderno, 73
Chirico , Gi or gi o de, 481
Chri stiano VI. 397 , , ; -,
Chri stianscn, R., 397
Chronegk, Ludwi g, .149,462
Chuang,54
Cibber, Colley, 38 6
Cibbe r, Susannah Mari a, 3'11 .: ;
Cicri ,433
C cero, 139, 162, 163
Cicl o de Town el ey, 232
Cinema. Veja film es
Cipio Afri cano Maior, 141
Cipi o Africano Men or , 147, 148
circ o: Barnum e Bail ey, 516: Bizantino, 177 , 178 ,
181, 182; Oriente Prximo, 19: Romano, 139,
140, 155, 157, 162, 172; Turco, 26
CIVILIZAES INDO-PACFICAS, AS . 2'1-51 ;
ndia, 32-44 : Indonsi a. 4.1-51
CIV ILIZAES ISLt'IMICAS. AS, 19-28: Prsia.
20 23: Turqu ia. 23-28
Clair, Ren. 455, 52.1: Entr'acte. 483
Clairon, Mlle., 63 . 3.11>. 387. 388
Claudel, Paul, 499, 5 11. 5 13: L'Annoncefai tei, Marie
(O An nc io Fe ito a Mari a), 470: Brecht, c, 5 11;
Christ ophe Co lomb. 5 13: ' Sou lier de Sati l/ (A
Sapatilha de Ce ti m) , 54, 3.16. 370, 513 , 5.,4
Clerncru VII. 278
Clemente IX, 323
Cl on, 123, 124 , 141
Clep atra , 41
Clstenes. I().j
Cnapi us, Gregrio: Es emp la dnnnutica, 342
Coctea u, Jean, .171; I. 'Aigle ii deux t tcs (A g uia
Biefa la) . 48 1: Ba cc hns ( Baco\. .18 1: La
Mac/til/e hifel"ll ale (A r.1;quina Infern al l. .18 I ;
Orl'ft <'e (O rfeu ). 481 ,483 : Parad,', 48 1: [ .l ' SlIllg
d "l1I pot e (O Sangue de um' Poeta), .j RI, 483;
Test ament d 'Orj1fte (Tes tamento de Or feu) . .183
Co hen, Gustave , 5 19 .
Co lbell , 352
Col cri dgc , Sa mue l l :'ylor, 431
Coli seu, 154, 157
Colli n, Malth ias, 31))
Comdi a de ca rac teres. 344-352
Commedia er udit a. 273 , 353
Co m dia humani sta. 276-280
Grega. I I X- 120; comdia mdi a fl ) IHa na
(tn" .vl'), 124 : Co md ia nova (Ilell ). 129: Gr cia
557
Antiga. 120-124; orige ns da. II R- 120; Roma-
na. 144-14 R. 16 1. 162; seena colll;m. 287
Comdie Franaise, 352. 431.433.442.452-453.
455; 48 1. 534
com die gui e (comdia jovial ), 382
com die italienne , 227, 357, 358
comdie-ballrt, 296, 334. 347
Commedia dell 'arte, x, I, 3, 4, 16, 120, 162,247,
261, 266, 276, 278, 324. 352. 353, 374, 375,
377, 510 , 523; adaptao francesa de, 349; bar-
roco, 353 -367; comdia erudita, e, 273; comedie-
bailei , e, 334; definio de, 353; Grki, e, 367.
46 5; Gri llpa rzer. e, 367; Gryphi us, e, 376 ;
Hof fmann, e, 432, 433; Iluminismo. e. 382 ; in-
flu n cia em Holber g. 396; infl u nc ia em
Moli re, 349. 352; influncia no teatro russo.
496 ; incio da pera , e, 326; kvogcn, c, 87; ms-
cara medi eval , e. 266; Mci crh old . e, 495. 496;
napolit ana, 367; orla 0 )' /(/ 111 . e, 26; Reinhanh, c,
488; Romantismo. e, 433; scenurio para, 355;
Tarov, e. 496. 499
Comnena, Anna, 25, 182
Conclios da Igreja, 169; Basil ia . 261 ; Cartago.
178,182; Nicia, 181
Conf cio, 53, 54, 6 1, 63, 66
Congreve, Will iam, 391
Co nrado de Constana. 195
Conrado I, 242
Conrado IV, 195
Co ns ta m, Benj amin: Rcfl exions s IIr l e the trc
allema nd, 431
Co nstantino413
Constant ino. 155, 171,172,1 86
Construo de teatros: Bumacini, 326. 330; casa de
pe ra, 324, 326; incio do perodo elizabetano,
317-319; Italiana. 433; de Langhan. 424;paraske-
I/ia, 130; primeiro pblico, 317; prosce nia. 134:
revivncia do estilo grego, 424: Romana. 148-151.
154. 155; de Schinkel. 424. 425; sculo XVIII.
382 ; "teatro lotai", 501. Veja tambm palco
Copea u, Jacques, 475. 480
Cop rnico, 269
Coquelin, Benoit Constant, 455, 492, 514, 530
cor: e montagem de cenrio, 475. 476; cubi sta. 481;
no teatr o chins, 70
Corinth, Lovis, 488
Cornaro, Al vise, 353
Cornei lle, Pierre, 274, :\44, 379, 388; Andromde,
345; Le Cid, 8 1. 345. 346, 370, 4 18, 533; Cinnu,
345; Discours des trois unit es (Discurso das Trs
Unidade s >. 346; Examen, 346 ; /lom a , 345;
Mde (Media), 345 ; Ml it,' "" les flll/He.,
leures (M lete ou as CarIas Fal sas) . 344; L"
Mel/ Ie" r (O Ment iroso). 370. 382 ; Nicolllh le.
347; Pol)'('//Cle. 345: Raci ne, e. .\X6: Voltaire. e.
386
558
lt st o r a / ~ f l f l J ( l i a l de) Tca rr o
Cornelius, 448
Comualha, 232 . 233
Corporao de teat ro Shoc hiku-Kaisha (Shochi ku
sociedade ann ima ), 90. 98. 102
Corsi, Jacopo, 324
cortejo teatr al , 228- 233
cortejo, medi eval , 228 , 23 1
costumes: ator es ambul ante s, e. 378, 379; Buonta-
lenti, 296; far sa, 256; francs do scul o XVIll.
387; Garrick, .1 92; Gottsched, e, 406, 407;
Holberg, e, 400 ; medi eval, 200 ; pera de Pari s,
433; reali smo, e, 44 8; teatro primit ivo e, 2-4.
Veja tambm mscara
Co urbe t, Gu st ave , 440
Craig, Edward Gord on, 232,465, 470 , 471,475.
488, 519 ; Thc ,\ rt of lhe Thcatre (A Arte do Tea-
tro). 471; Copeau. e, 480 ; influncia em Barrault.
475; influ ncia em Jones, 471; infl unci a em
Mielziner, 524; The Mask (A Mscara), 471
Cra nmer, Th omas, 204, 30 I
Cra tes, 121
Cratino, 121; A Garraf a, 121
Creizcnach, The odor, 276
Criss tomo, So Joo, 172-175, 245
Cris tos: ac eit os em Ro ma, 167; e autos de
moralidade, 2(, I ; e mit ol ogia, 17; Nestoria no,
54: perseguio, 140 ; ridi culari zao de, 167
Cristina da Sucia. 324
Cristo. 109: asce no de. 212. 219, 232; bati smo
de . 212: encarnao de. 178: Marduk, e, 17:
mimo.c, 167-169; morte de. 13, 167,1 86. 215,
219, 240, 34 1; nasciment o de, 181, 242; ressur-
rei o de, 186. 189, 2 19. 228 . Veja tam bm
Antic hristo, autos de Natal
Croncgk, J. F. von: Olint und Sophronia . 411
Croqucsot, llcrlek in. 247
Cro thcrs, Rachel : As Husbands Gu (Quando os
Marido s se Vo), 5 18; Susa n and Gud (Susan e
Deus). 5 18; Tl I/' Three '!i'U" (Ns Trs) , 5 18;
11' /"'1/ Ladies Mcct (Quando as Senhoras se En-
co ntram) , 5 18
Cruzadas. 171, 195, 203
Cupido, 367
Crio, Escrib nio, 157
Cuvi llis. Fran ois, 338, 40ll
Cynlhius. Vej a Giova nni Giraldi
Cysar, Renward. 2 16
Dacier. Anne Lef vre, 148
Dada stas, 500 , 524 , 529
Dal i. Salvador . 5.1.\
dana: Analtia. 25 ; Asi tica. 76; Australiana, 3;
Budi sta. 78. 80. 9 1; bt' ,lo. 3; bllgakll . 78, 80 ;
burro, 1.16; Chinesa. 60 ; Coreana, 58; den-iches,
c, 26; Egpcia . 7, I I , 14 ; <'III&U, e, 8D; espada,
205; gigaku, 58, 7l\ ; guerreiras rituais germni-
cas, 3; Hator, 7, 8; Indian a, 29-32. 33, 38, 162:
Irani ana. 23; Japonesa, 38, 76. 78, lIO, 99, 102:
kabuki, 9099; kaguru , 75; ko rdax , 123; leo,
78: ludi scoenci , 140; magia, 33 ; mimo, 2;
mimll s, 162; morte, 198; mu sical americano,
516,517; maa, 14; Plutarc o, e. 330 ;py rrhic, 137;
Renascena, 296; representa o, e, 32, 33. 36;
ritual. 91 ; Romana, 162-163: Sa ssnida, 175:
simbolismo, c, 469; Turca, 25. 26; urso, 3; "'"
IVII, 54
Dand ol o, doge, 171
Danjr. Vej a lchik awa , Danj r
Dante, 269, 28 1, 516 ; Div ina Comdia, 324
Danti , Vincenzo, 151, 287, 291
Davie s, Th omas, 391, 392
Debu ssy, Claude, 469, 48 1
Dcimo Labri o, 163
Dckker, Thomas: The Honest IVluJI'e (A Prostituta
Hon est a), 317, 514
Dclaunay, Jul es lie, 481
Delavigne, Gerrnaine, 433
Demak, sult o, 44
Demdoco, 104
Dendermonde, 257
dengaku , 80, 81
Dcrain, And r, 48\
Descart es, Ren: O Nascime nto da Paz: 324
Dc sch arnps, mile e Antony, 406, 436
Despl chin, 433
Dcsprcz, Louis-Jean, 403
Dcstouches, Phill ippe, 407; Braggart. 397
deus (de uses) : Aristfa nes , 121; gregos, 104.139;
teat ro medieval, 185, 186; personi ficao de. 19;
Romanos, 139, 140; teatro. 103. Veja tambm
religio
deus ex machina, 117. 118
Dcutsches Th,'alcr, 457,459
Devine. George , 460
Dc vri ent , Eduard, 37 7, 406 ; Gesch ct ue der
deut schen Scha uspielkunst (Histria da Arte do
Teatro Alemo) , 4 19
Devri ent , Ludwig, 423, 424, 43 1
Devrient, Ott o, 227
Diaghilev, Sergei Pavlovich, 452, 481
Dickens, Charles, 44 1, 451
Didcrot , Deni s, 63, 346 . 392 , 395 , 419 ; Ca tarina
II, e, 403; /)1' la posie dramati quc (Da Poesia
Dramti ca), 387; Goethe, e, 41 8; Le Pre de
[amille (O Pai de Farrlia) , 381, 386 , 403, 406;
Paradou .<lIr le comdien, 386; Voltaire, c, 386 .
387
Dicterle, Wilhelm, 487, 492
DI,lus: influ ncia em Ter ncio, 147. 14R
Dingcl stedt , Franz, 442. 446, 449
Diocl eciano, 169
Dioniso, 103, 105,109, 118, 120, 121, 130; Ari adne.
e, 136; festivai s de. 2, 103, 105-107; Nero, e.
134: em As Rs, 113; sacerdote de, 114
Dionysos, 194
Djarall-kl', mg. 4
DO NATURALISMO AO PRESENTE, 451-539:
Brecht, 404-510; Broadway, 513 -519; dese nvol-
vimento do palc o, 466-475; Expressioni smo.
475-483; Frei e Bhnc, 455-459; Futurismo, 475,
483; A idia do Festival , 492-494; lndependent
Theatre, 45 9-462; Mei os de comuni ca o de
massa, 523-529; Natur alismo, 452-462 ; pal co
no palco, 5 10-5 13; Pi scat or, 499-504 ; Rei nhardt ,
483-494 ; Simbol ismo, 466-4 75 ; Stanis l vski .
462-46 6; Surreali smo, 475-4 83; te atr o de art e
de Moscou , 462, 466; O teatro do diretor, 529 -
539 ; O teatro engajado, 494-513 ; Teatro pico .
504 -510; Tealro Experimental , 519-52 1; Tealro
Poltico, 499-504 ; teatro russo, 494-499; Th trr
Libre (Tea tro Livre), 452-455
Dbbclin, Carl Th eoph il, 423
Dlger, Franz, 171 , 172
Domiciano, 140, 157, 164, 167
Dominicanos, 209, 337
Donatcll o, 284
Donato, 150 . 163,270
Dossenu s, 161
Dosta l, Nico , 5 16
Do sto ievski . Fedor Mikhailovich , 441, 451. 452 ;
Os Irmos Karamazov. 480
Drama do Sul e do Norte (China), 6 1-66
Dra ma escolar, 300-304
Drzi, Martin: DIII/I/o Maroj c, 280
Du Bos, J. B., 357
Dubreuil. Jean: Perspective pratique (Perspec tiva
Prtica), 344
Dufresny, Charles Rivi re, 407
Dullin, Charles. 480
Dumas, Alexandre. 73. 43 1. 441 , 451, 452 . 455; A
Dama das Camlias. 73, 496; Le Demi-nunule ,
441 ; l .e Fit s nature! (O Filho Natural ), 44 1
Dumes nil, Mari e, 3811
Duncan, Isador a, 469
Dun ap , Willi am. 5 14; Hi story of thc America n
Theatre (His tria do Teatro America no), 5 14
Dur ant y, Walt er . 453
Drer , Albrecht, 2 11, 299
Dure y, Louis, 48 1
Durieux, Tilla, 50 I
Drrenrnatt, Fri edri ch, 510; Dic Ehe dcs Herrn
Mississil'i (O Casamento do Senh or Mi ssissipi),
52 4
Dose, Elea nora, 469 . 47 1, 5 14
Eberlc, Oskar: Cl'lIa /ora, 1,4
559
Eckermanm, Johann Peter, 404, 419
EGITO E A!'<iIGO ORIENTE, 7-17; Mesopotmia,
14-17 ; teatro bizantino, e, 175; tema no Reali s-
mo, 442, 445
Egk, Werner , 440
Eisenadi , 205
Eisenstein, Sergei. 499, 523 ; Encouraado Porem-
kin, 499
Eisler, Hanns, 507
E k h o ~ Konr ad, 392 , 395. 400, 416, 419
Elagin, Yuri, 504 ; A Domesricao das Arres, 495
Elenson, Andreas, 377
Eliot , T. S.: Murder in the Cathedral (Assassinato
na Cat edr al). 460
Elizabeth I, 270, 283 , 312, 3 13, 330, 374
Elizabeth II , 317
Elssler, Fanny, 433
Ene ina , Juan dei , 28 1: Egloga dei Amor , 28 3;
Egl oga de Plcida )' Vitoriano, 283
Engelbre cht , Martin, 379
nio, Quinto: Al exandre, 141; Anais, 141; Aquiles.
141; Sabinas, 141
ERA DA CIDADANIA BURGUESA, A. 381-449;
Berl im, 420 -42 5; Classi ci smo alemo, 41 3-
429 ; Lessing e o Moviment o do Teatro Nac io-
nal Alemo, 40 8-41 3; As Origen s do Teat ro
Nacio nal na Euro pa Set entri onal c Or ient al .
395-403; Re ali sm o, 44 0-449; As Reformas
Dramticas de Gottsched, 404-408; Romantis-
mo, 429-440; O Teatro Eur opeu entre a Pompa
e o Naturalismo, 382-395; Viena, 425-429;
Weimar, 413-420
Erasmo de Roterd, 270
Erlach, Fischer von, 492
Ernst , Max, 481 , 529
errante s, 242-247
Ervine, Saint John, 460
Esopo.245
squil o, 63, 105, 107, 110. 113, 114, 117, 130;
Eur pides, e, 113; Orc steia, 488; Os Persas, 107,
109, 120 ; Pesagem das Almas , 118; Prometeu
Acorrentado, 107; Promet eu. o Portador do
Fogo, 107; Sfocles, e, 114
Estaes medievais, 208
Este, Ercol e d' , 293, 353
Este, IsabelI a d' , 276
Estienn e, Charles , 280
Estoc, Pai d': La Grande pastoral e (A Grande Pas-
toral) ,488
Estres , Gabriell e d' , 330
Etelvoldo, 189
Eud xia, 175
Euplide, 121
Eurdice, 325 , 326
Eurpides, 38, 110, 113. 117, 118, \30. 134, 141.
173,274; Agall1e1l0l1, 117; Arque/mi, 110; As
560
H st or i u M u nd a l ti o Tcat r o
Bucantes, 110; squil o, e, 110; Hcub a, 300;
Hiplito, 117; lfignia ell1 ulis, 110; lfi g nio
em Tauride, 110; Medeia. 117; Orestiada , 117;
As Pcliades, 110; Sfocles, e, 1\0, 113; As
Troianas , 134.538
Eustcio de Saloni ca, 173
Evcrding, Augusi, 538
Everyrnan, 266, 267
Evr einov, Nikol ai , 495
Expressionismo, 475-483
Fbul a atelana, 161, 162
Falck, August , 487
Fal ckenberg, oue. 506
Falia, Manuel de: II Retalho de Maestro Pedro (O
Teatro de Tter es de Mestre Pedro) . 368; Le
Trlcorne (O Cha pu de Trs Bi cos), 481
Farquhar, George: The Beaux ' Stra tagem, 391; The
Recruiting Office r, 39 1
far sa : Alcoro, e, 19; Chinesa, 59 , 60; Egpci a. 7,
8; Francesa, 257; Indi an a, 42; kom os grego s, 120
Favor, 163
Fccht er, Paul , 488
Fehling, Jr gen. 530
F nelon, Franois de. 407, 436
Fencia, 175
Fcrbcr, Edna : ShOlI' BOIlI , 516
Ferdinand II. 326
Ferdinand III, 326. 337
Ferdinando I, 303
Ferr and ini: Catone in Utica. 408
Ferr ari , Benedctto: Andromedu , 326
Festa de Corpus Chri sti, 208-2 11. 216, 228, 26 1.
367, 368, 369
Festi vais da cort e. 292, 299 .
Festi vai s de Ano Novo: ant igo. 17: Biza ntino. 177:
Romano, 157. 161
fest ivai s. 492-494
Feuchtwange r, Lion. 505
Fdi as, 109
Fil cmon, 129
Filipe II da Macednia, 124, 130
Filipe II , 270. 296
Filipe IV, 373
Fil ipe. o Bom, 261
Filipe, o Justo, 245
Fli s, 252
filmes, 455; Broadway, e, 5 14; Co cteau , c, 471. 481;
co mo documentri os de teat ro. 526. 527; de
Eisenstcin, 499; Expressi oni smo, e, 483; Futu-
rismo, e, 483; Jap ons. '19, 102, 526; montagem.
523; de Reinhardt. 487, 488; Surrea lismo. e, 481.
483: teat ro, e. 523-526 : teat ro polti co. e, 500.
50 I, 502; tel eviso. 526
Fil ogclo, 137
nd i c e
Filonides, 120, 121
Fiorilli , Tiberio, 349, 355
Fi scher, Sa muel, 459
Fitch Clvde: Bcau Brummcll , 5 18; Captain Iinks
aj rlle-Horse Muri nes (Capito Jink s da Caval a-
ria Marinha). 518: tt City (A Ci dade), 51 8;
Tile Clinibers (Os Alpini st as) , 5 18: Tile Trutil
(A Verdade), 518
Flcio, 150
Flaubert , Gu st ave, 451
Flet cher, John, 3 19
Fol z, Han s : Pastna ctussp iele, 250 ; Des Turk rn
I'asna-cilrsl' il , 250
Foniane. Theodor, 457
Fornenber gh, Jan Baptista, 376
Forrest. Edwin, 5 15
Forrest , George Topharn, 318
Fort , Paul. 466
Foscol o, Ugo, 429
Fos t, 155
Fouquet , Jean, 223, 227, 228, 265 ; Heures d'Es-
tienne Chevalier, 223
Fouquier , Henri , 453
Francesca. Piem della , 284
Franci scanos, 186, 240
Franci sco 1. 270
Fran z, Ellen, 446
Fred eri co Guilherme 11,423
Frederi co Guilherme III, 42-'
Freder ico Guilherme IV. 431
Fred eri co IV, 3'16, 397
Frede rico V, 3'17
Fred eri co, o Gr ande. 338, 408
Frederi co. o Temerrio. 205. 208
Prei e Bhne, 453, 455-459
Fren zel , Karl. 457
Fresnayc, Pierre, 480
Freud. Gidcon, 5 16
Freyt ag, Gustav, 446
Friedrich . Caspar David, 43 1
Frni co, 107; As Fencias, 107
Frisch. Max, 510 , Biedcrmunnund du: Brandstft er
(O Homem Honrado e os Inc endi rios) , 527 ;
lI iagrajill . 530, 534; /)011 Juan. ou O AII/or I
Geom etria, 370
Fri schlin, Philipp Nikodemus. 300 ; Julius Redi vivus.
303
Fry, Christopher: l'e/l IlS OIJ.Ien 'ed (V nus Obser-
vad a) ,460
l-uch s, 40 7
Fncmes, Ge or g, 338, 429
Fui Li a. Ludwig, 459
Furtt en hach . Joseph . 150, 287, 291. .135. 337 ..176.
379 : ltinrrurium frlll illr . 287: MIlIIIII/(/[li er
KII /lsrspiegel , 335
Furtwiingler, Wilh elm, 494 , 526
Futurismo, 475 -48 3
Gaho. Naurn. 471
gagaku, 78, 80
Gagliano, Marco da. 325
Gagliardi, 338
Galilei, Galil eu , 324
Galil ei, Vincenzo: Di al ogo dclla musica antica e
della modema, 324
Galli -Bibiena, Giu seppe , 338
Gama, Vasco da, 299
Gandersheim, Hrot sv itha von: i nfluenci ad o por
Ternci o, 148
Gandhi, Mahatrna, 32
Ganimedes, 269
Gardiner, 204
Gam ier, Robert , 34 4: Hippol vte.fils de Th s r, 274
Garrick, David , 39 1, 392 ; Let he, 391
Garson , Barbara: MacBird, 504
Gasbarra, Fclix , 501
Gassman, Vittorio, 436
Gautier , Thophile, 43 3, 436
Gal', John: Thc Beggar 's Opera (A pera dos Men -
di gos), 387. 507; Haendel . e, 387
Gea rio de Nissa . So, 173
Geiber, Jack: Tile Conneet ion (O Contato) . 520
Ge llel1, Chri sti an, 386, 400. 407
G micr, Firmin. 453 , 469. 488
Ge nsio, 169
Gngis Khan , 23.25.53,60.61,63, 386
Georg ll. 446
Geo rge. Heinri ch . 492, 50 I
Gerhoh de Reicher sber g, 203
Ger mano, 178, 232
Gershwin , Ge orge : Porgv e Hess , 517; Of Thee I
Sing. 5 16: Strike Up the Band. 5 16
Gerson, Jean de. 22
Gers t. J. C.. 432
Gh on, Henr i: L'A rt du thetn: (A Arte do Teatro),
469
Gherardi dei Testa. 396
Gherardi, Evaristo: Le Tlietre italien, 358
Ghiberti. Lorcnzo, 284
Gichsc, n leresc. 507
Giclgud, John , 480
gigakll. 78 -8 1
Giotto di Bondone. 269
Giraldi. Gi ovanni: Discorso dcllc commedie r de/le
tragcdie (Discurso sobre a Co mdia e a Trag -
dia ), 273 ; influncia em Shakespeare . 273 ; in -
fl unci a em Spe roni , 273; Moro di 1'<' llczia (O
Mour o de Veneza ), 273 ; Orb ecche, 27.1
Giraudoux, Jean , 4RO; Siegfried, 480
Gleich, J. A.. 425
Gliese. Rochus. 530
56 1
Gluck, Cheistop h Willibald , 387,420, 425; Ifi gni a,
387, 424
Grneli n, Helrn uth, 526
Gnapheus: Acolastus. 300
Go-Komatsu, 83
Gobineau, Joseph Art hur de, 23
Godfrey, Thomas, Jr.: The Prin ce of Parthia(O Prn-
cipe de Parti a). 5 13, 515
Goering, Reinh ard : Seeschlacht (Batalha Naval),
475; Die Siidpol exp" lJition des Kapitiins Scott
(A Exped io de Ca pito Scott ao Plo Sul), 538
Goethe , Johann Wolfgang von, 26, 41, 63, 28 1, 367,
395. 403. 404, 413-420, 423 , 425 . 427, 430,
Clavigo, 413; na dana indi ana. 32; Diderot, e,
4 18; Egmont, 4 17; Elpenor, 63: Erik nig, 247 :
Fausto. 26, 208, 227, 252, 416, 431, 526; Dit ,
Fischerin (As Pescadora s), 284, 4 13; Gt; "on
Berlichingrn, 4 13, 423; Herder, e. 418; Holberg,
e, 400; lffl and , e. 423; lphigcnie auf Tauris
(Ifig nia em Tauride). 63, 413. 416, 424; Di e
Laune des Verliebtcn (O Capri cho do Enamora-
do), 284 ; Manzoni , e, 436 ; Realismo, e, 441;
Regeln [iir Schnuspie er (Regras para o Ator ),
418 ; na represent ao, 4 19; Rousseau, e, 418;
Schadow, e, 441 ; Sc hiller, e, 4 17. 4 1R; Schinkel.
e, 424; Schrder, e, 427; Tasso, 416; Volt aire, e,
388 ,418; Der lVestii,<tliche Divan, 4 1; 1171helm
Meister, 416, 430 ; Wi llich, c, 304
Goeze, J. M., 4 11
Ggo l, Nikol ai Vasil ievi ch, 429 ; O lnspctor Geral,
436440
Goldoni , Cario, 26, 367, 370,428, 499,510; O Ser-
vidor de Dois Amos , 367 , 488
Goldsmith, Oliver, 436
Goncourt , Edmo nd e Jules: Hcnri eue Marechnl.
453, 457
Gontcharova, Nathalie, 481
Gonzaga, Duyue Vince nzo , 325, 326
Gonzaga, Vespasiano, 24 I
Gordon, John Watson , 442
Grki , Mximo, 367 . 45 1. 463. 465, 496: No FUI/
do. 451, 463, 487
Gosson, Steph en: Pla)'es COI!fllled in fi l'e Aeti om,
317
Gotthardi . W. G.. 4 16
Gotlseh ed. Joh ann Chr is lo ph, 379 , 404- 408;
Deut sehe Sclumbiilllle, 404 . 407; Lessing, e, 404;
Molire, c, 404 ; Neuber, c, 406, 407 ; Schiller.
e, 408; Da StcrbCllde Cato (Cato Moribundo),
406, 407 ; Ih sllch cincr Critisehl'll Dichtkun sr
vor die D eUTSdlCIl (Tentativa de lima arte Pot i-
ca para oS Aleme s) , 404, 412
Gottsehed, Lu ise Alld gunde, 407, 408
Giittwe ig, 245
Gounod, Charles: Plli lelllo" aml R,,",,;S, 441
Gozzi, Cario, 365.367, 5 10: Princesa '/immd01, 4%
562
Hs t r a Mu n d a l do Teatro
Grabbc. Chri stian Dict rich, 400
Grahn, Lucile, 433
Granach, Alexandcr, 501
Gru nville- Barker, Harl et, 460
Grass , Gnt er , 5 11; Di e Plc bej cr prob en dcn
Aufstand (Os Pleb eus Ensaiam a Revolt a), 51l
Graun, Carl Heinri ch, 338
Gr ban, Amoul, 222 ; Myst re de la Passion, 222,
223,235
GRCIA, 103-137; comd ia, 118-1 30 ; Infl uncia
arqui tetniea em Roma, 151, 154 ; influ nci a em
Ter ncio, 147, 148; influn cia na ndi a, 37;
litur gia, 186-189; mimo, 136-1 37; n, e, 83; tea-
tro helenstico. 130-136; tragdi a, 104-1 18
Gree n, John, 375
Greene, Grah am. 460
Gree ne, Robert , 317
Grego r, Joseph, 296
Gregrio de Nazianzo, So, 172. 173
Grci n, Jacob Thomas, 459
Gr try, Andr Emest Modesto, 387
Gri ffith, David Wark: Judith of Bethulia, 52 3
Grillpa rzer, Franz. 367, 369, 427, 42 8; Ahnfrau
(Av), 427 ; Ein Bruderzwist in Habsburg (Uma
Briga entre Irmos em Habsburgo), 446; Sappho,
427
Gri mrne lshausen, Hans, 255
Gringoire. Pierre: Jeu da Prince des So is ct de la
M rc Sotte, 257
Gri s, Juan, 48 1
Grisi, Ca rlona , 433
Gropius , Walter, 50 1
Gross ma n, Jan, 533
Grosz, George, 502
Grot owski, Jerzy, 504, 526
Grube, Max, 448, 449; Geschichte der Meinin ger
(A Histria dos Meininger ), 446
Grndgcns , Gustaf. 487 , 526, 530
Gryphius, Andreas, 376; Ca tha rina von Georgien,
376; Co mml'dia del/'art", c , 376; lI ocr ibi-
lieribifax, 376; Leo Armenius , 376 : Parinianus,
377
Gu ari ni, Giambattista: Pastorl ido, 281,308; lfooft ,
c,308
Guatell i, Robert o, 293
Gu nduli. Gji vo Franj e: Dabrlll'ka , 284
Gustavo III, 403
Gutzkow, Karl, 446
lI aackc, Johann Cas par, 377
lI aasc, Friedrich, 449
Hacks, Peter , 147, 538
Hacndel. George Freder ich , 3X7; Pa.Hor Fida (O
(' ast nr Fiel ), 387 ; Rillaldo . :, 87; 'liseo. 387 ;
\\'tua Masic (1'o1sica Aqut ica), 387
ndi c e
Hagen, E. A.: Geschchte des Thcaters in Preusscn
(Histria do Tea tro na Prssia), 406
Hakluyt , Rich ar d : Th e Pri nci pal l Navigations,
\ 'c>iages and Discoverics 'if the EIIg/ish Nation,
312
Halv y, Lud ovic, 442
Hall, Peter, 530
Hallam, Willi am c Lewis, 514
Halle, Adam de la: Le Jeu de la Fe uill e, 247; Jeu
de Robin er Marion, 248
Hamrn erstei n, Oscar, 5 16
Harnurabi, 16
Handk e, Pet cr , 527: Kaspar, 527
Han sen, AI. 527
Harden, Maximili an , 459
Hardcnberg, Friedrich von. Vej a Novalis
Hardenberg, Karl Augusr von, 425
Hardt , Ern st : Tot e Zeit (Tempo Mono), 459
Hardy, Al exandre. 344
Harms, Johann Os wald, 337, 338
Harsdrffer, Geo rge Philipp: Pegnesisches Sclui-
fergedicht , 284
Harsha, 32 ; Priyadarsika, 41; Ratnavali , 41, 42
Hart , He inri ch e Julius, 459
Hartl, Edu ard . 196
Hask, Jaroslav: O Bom Soldado Schwcik, 507
Hasenclever, Wa lter : Der Sohn (O Filhll ), 475 , 476
Hassenrcut er. 4 14
Hatr y, Mi ch ael : Notstadsiibung (Exe rc cios de
Emergncia), 504
Haugwit z, A. A,: Maria Stuart, 34 1
Hauptmann , Gerhart, 99, 110,451, 453. 457,459,
480 ; Die Rattcn (Os Ratos ), 419; Di<' I'a sunkene
Glocke (O Sino Submerso) , 466; Dic Weber (Os
Teceles), 45 3, 457,459; Hanneles Himmelfahrt
(A Ascen so de Hanele), 466; UIJ(J Pippa tan it
(A Pipa Dana), 466; \'r,,- Sonlletlaufgang (An -
tes da Aurora), 457, 459
Haydn , Joseph: Cria iio, 425
Hcartfiel d. Joh n. 500
Hebbel . Fricdrich. 441, 446, 492; Gmon'lIa, 488 ;
Herodes allll Mariamll e, 446
Hdroit, 223
Hegelund, Ped er Je nse n: CalU/nllia, 303
Heijermans, \l erman, 453
Hlio . 325
Hellem, Charles : La Grallde pastora/ e (A Grande
Pastoral ), 488
Hellman, Lilli an , 5 17; The Lini< }-(, xes (As Raposi-
nha s) , 5 19
Henri que II, 273,274,278
Henriyue III , 296 , 299
Henriyue IV, 296, 330, 334
Henriyue VII I, 270, 3 12, 3 D
Henry VI, 2 11
Hensc\ , Sophie, 41 I
Henslowe , Phili p. 3 18, 3 19
Henze, Hans Werner: O Pequeno Lorde, 81
Herclito, 104
Herbert , Hen ry, 3 17
Hrcules, Maximinian o, 164
Herder, Johann Gottfried von, 41, 34 1. 412; Goethe,
e, 418; ber di e Wirkung der Di chtkunst auf die
Sitten der vlker iII alten und nellen Zciten (So-
bre o Efeito da Poesi a na Moral dos Povos nas
pocas Anti gas e Modernas), 412
Herne, James A.: Margaret F1eming, 5 17
Hernnann, Max: Entstehung der beruf smiibi gell
Schauspielkuns t im Alt ertum und in der Neuzei t
(Origem da Arte do Teatro Profi ssional na An-
ti gidade e nos Tempos Modernos ), 272 ;
Fors chun gen zu r de uts che n Theatergeschi chte
des Mitt elalt ers und de r Renaissance (Invest i-
gao para a Hist ria Teatral Alem da Idade
Md ia e da Renasce na ), 308
Herodes. 215. 2 16. 221. 234, 235
Herodes tico, 154
Herdoto, 7, 13, 14, 23 , 104
Herondas de C s, 137
Herr ad de Landsber g: Hortus Del iciarum, 235. 245,
247
Hes odo, 175
Heyme, Han sgnthcr , 538
Heyward, Dubose: Porgy, 5 17
Heywood , John : Plav ofthe H" ather (Auto do Tem-
po), 299
Heywood, Thomas: A \\bt1l1111 Ki lled with Kindness,
3 17, 3 19
Hikit a, Awaji -no-jo, 89
Hilrio. 205
Hilpcrt, Heinz, 530
Hindusmo, 29, 44, 47
Hypokrites. 105, 107
Hjon, Sophie, 397
Hochhuth, Rol f: Der Srel/vert reter (O Deputado),
504
Hodl er. Ferdinand, 476
Hoffmann Karl Ludwi g. 377
Hoffmann, E. T. A., 367 . 406 . 423, 425, 429 . 432,
433; Arleq uino, 367, 433; Phant asiest iieke iII
Callots Mania ( Fantasi as Moda de Callot),
367 ; Prin zessill Brambilla. 433. 499; Ulldine,
433
Hofmannsthal, Hugo von . 266, 469 , 488; Das ge-
reltete Venedig, 471; Madonna Diallora . 459;
Das Sal zburger GrojJe Welnheat er (O Grande
Teatro do Mundo de Sa lzburgo), 492; Der Tor
umI der Tod (O Louco e a Mone), 198
Hogarth , Will iam, 38 1
Hohenfel s, Stella . 44 6
Holberg. Ludvig, 358. 396-400,407,428; No Bal-
Ileri o, 397 ; ri 'it iori" , 396; A Festa di' /l aco,
563
397 ; Fune ral da Comediu Dinamarquesa, ,'97;
Jeppe da Montanha, 397 ; Den politiske Kandcst-
boa (O Estr anh ador Pol it iqueiro), 396, 397 ;
Quarto de Parlo, 26 1, 397; O Salo de Natal .
397
Holinshed, Raphael: Chrollicles . 3 12
Hollaender, Fclix, 488
Holz, Amo: Familie Seticke. 457; Zola, e, 45 1
Holzrneister, Clernens. 494
homens: como mul heres em pe as, 148, 368, 369,
370; em Aristfanes, 123, 124; em laziy, 20;
na China, 70, 73; no Japo, 70; no teatro n, 83,
84
Homero, 104, 175, 412; Odisseia , 140
Honegger, Art hur, 48 1; Ieanne d 'Are au buchcr
(Joana d' Are na Fogueira), 48 1; Roi David, 481
Hooft, Pieter Corneliszoo n: Achilles ell Polyxena.
308; Geera erd vali Velsen , 308; Granida, 308
Horcio, 105. 139, 404
Horni man, A. E. E, 460
Houghton, Stanley, 460
Howard, Sidney, 520
Hrotsvitha, 199
Hsuan-tsung, 58
Huang Ti, 54
Huang-hung. 59
lI bner, Kurt, 530
Hughes, Langston, 5 17
Hugo. Vict or. 257, 382 , 429. 431, 452, 455; Les
Burgravcs. 436; O Corcunda de Notre Dame,
257; Hernani, 436, 469
Hui-tsung, 60
Humboldt, Wilhelm von, 395. 4 18
humor: nas alegorias. 265; ateres ambulantes, 375;
cm autos de Neidhart. 248, 250; em Bhana, 42;
burlesquc , 257. 261. comdia grega. 118- I3U;
corte biza ntina, 182; farsa eg pci a. 78; Hans-
wurst, e. 365: mi mos romanos, 162, 163- 167;
em Mol ire. 347, 349 . 352 ; orla 0)'111111 turco,
26,28; Renascena , 278 ; representao profana
medieval, 245 ; So Lus, o Pio , e, 242; Schwank ,
e, 252; no teatro da Mesopot mia, 16-17; no iea-
tro de mistri o, 200, 228 , 232, 235; teatro de
sombras de Karagoz, 26, 28; teatro japons, 75,
76, 87 ; teatro pr imiti vo, 4 , 6; zalllli . 355 ;
Zirkelgesell schaflell, 252. Vej a tamhm COI/lI/l <' -
dia dell' arle . com dia. farsa , sollie
Humperdinck. Engcl hert , 488
Husserl. Edmund. 53D
hypokr ites, 105, 107
Iaroslav. o S,ihio, 182
Ibsen, lI enrik: Casa de 1I 01l1' CllS , 460, 466; Espec
Iros , 453 , 457 . 459, 466, 487; inllu ncia cm
Herne, 5 17, 5 18; inll llncia e m Shaw. 459, 460:
564
Hs tr i a M' und in l do Teat r o .
o Inimigo do 1'0 \'0, 73; no Japo. 102; O Palo
Selvagem, 453, 466 , 469 ; Peer Gyn, 466;
Rosmersholm, 469, 47 1; Os Yikings em Hclge-
lallll. 470
Ich ikawa, Danjuro IX, 99
Ichi kawa, Danjur o: Kajincho, 95
IDADE MDIA, A, 185-267; alegorias, 26 1-267;
auto de carnaval, 250-255; auto de Natal, 233-
242; auto de Paixo. 212-222: auto de Pscoa,
196-203; autos de moral idade, 26 1-267; cortejo
teatr al , 228-233 ; Estaes, procisses e teatro
em carros. 208-222 ;j oc ulatpres, menestris e er-
rumes, 242-247; pea de palco, 247 -250; pea
KII/chl , 257-261; peas camponesas , 257-26 1;
pea s de lendas, 203-208; peas reli giosas, 186-
242 ; prstit o de mscara, 247 - 250; representa-
cs profanas, 242-267; Sottcrnien, 257-26 1;
sottie, 255- 257 ; teat ro de mi st rio, 222-228;
theater in lhe round, 228-233
IfIl and . August Wilhelm, 4 17, 420, 423 , 424, 427,
431; Die Iger (Os Caa dores), 4 16
Iluminismo, O, 382-413
Immermann, Karl, 432
Inci o de Loyola, 338
lndepcndent Theater, 459-462
ndia. 32-44; danarinas, 32-33, 162 ; dr ama clssi-
co , 3X-44; msica, 78. 80
ndi os. Norte-americanos, 5 15
Indonsia. 44-5 1
Inferno repr esentado no palco ("porte s do lnfer-
no" ), 198, 2 15, 2 16. 227 , 231, 299, 30 1, 338
Ingegncri. Angel o. 292
Ingh irami , Tornmaso, 270, 27 1, 292
Inocncio vm, 270
lonesco, Eugene, 1, 469, 52 1: La Cu ntatricc rhauve
(A Ca ntora Careca), 527 ; lu -s Chaises (As Ca-
de iras) , 523; sobre Kafka, 52 2: Rhino cer s (O
Ri noceron te), 530: Sc cn e it quatre (Cena em
Qual ro), 527
Irving, Henry, 442, 455, 459, no, 523 , 538
Irvi ng, Washington: Rip ln lI'illkl e (Joo Pest ana).
5 17
Isabell a de Arago, 292
!ta llie , Jean-Clau de van: Americ'a flllr rah (O Gri -
l O da Amri ca), 52 1; The Serpe lll ( A Serpente),
52 1
!t ehu , 83
Iv, o terrvel, 274
Izumidayu, 92
Jacob , Georg, 28
Jacoh. Loui s, 358
Jagelllann , Caroli ne, 420
Ja nin. Jules-Gabr iel. 441
Janry, AI!'red: Ubll Ro (Vh u Rei ), 453, 469, 533
n d ic e
JAPO, 75-'19; buguk u, 78-80 ; dengaku , XO-8 1;
gig ak u, 7R; k abuk i , '10-99; kagura, 767 8 ;
kyogen; 87; 1I1i , X1 87; sarugnku, 80-XI; shintpu,
99: shingcki . 99- 102: teatro de bonecos. X7-90
Jaques-Dalcroze, mile, 470
Jardi m das Peras, 58-6 1, 175
Jaur s, Jean Lo n, 453, 476
Jeffer son tu. Joseph, 5 17
Jens, Walter, 110
Jensen, Peter , 17
Jessner, Leopold, 530, 538
Jesutas, 90, 296, 299 , 300 . ,30, 338-344, 368 , 403 ,
505
Jimmu Tenn o, 76
Joana D' Are, 5 11
Joo VIII, 20X
joculato res , 222, 223 , 242-2 47, 266, 27 1. Vej a tarn-
hm menestr is
Jod ell e , tie nne , 273, 274 ; Cleo pa t rc c aptivc
(Clepatra Cat iva), 273 ; Eugne. 273
jogos: Gr egos, 103. 104 ; Olmpicos, 157: Roma-
nos, 139, 140, 15 1. 154
Johann Georg II, 377
Johann Georg \li , 377
John son , Samuel , 39 1: Irene, 3'12
Jolliphus, Jori s, 376
Jones, lnigo, ss, 337
Jones, Robe rt Ed mond, 47 1: Appia, e, 524: Crai g.
e.524
jonglcur. Veja mcnestr is
Jonson. Ben , 3 19, 320; () Alquimista, 3 17; Evcrv
Mail iII H' llumour, 313 : Scjanus. 313: Sha -
kespe are. e, 3 1'1: votpon, 3 17
Jos II, 425, 427
Jou vet, Loui s. 4XO
Joyeu se. Duque de, 296
Jukichi. 98
Juliano, o Aps ta ta, 30 I
Jl io II, 257, 269
J rgcn s, Hel mut , 530
Justi niano. 1f>2. 17 1. 172, 175. 177
Jusl ilia, 222
Ju vcnal , 155, l l
kaiJuki, 75, 87, X9-99, 483, 492
Kadikiiy, 26
Kafka, Franz: loncsco. e. 522; O Proc esso, 533
Kagel, Maurci o. 529
kagllrll, 76-?X; Tr agd ia grega. e. 105
Kainz , Josef, 449. 459, 487
Kai ser, Geor g: () Sol dado TlII llIka. 534
Kalidasa, 38, 4 1-42: inll utncia cm Zugii1ima , 42 ,
SlllIkulI/llla, 32, 4 1. 499
Kallllan, Emmcr ich , 5 16
Kal \'Odov< -Ss-Vanis, 66
Karuasutra. 33
Karuor, Tadcusz, 533
Kao Ming: O Conto do Alade , f>3
Karagoz. 19, 25, 2f> . 2X. 26 1
Karajan, Herbert von, 494
Karamzin, Nikolai Mikhailovich: Pschkin, e, 4.16
Karl, Duke of Meck lcnburg: Die Ros cnfe c (A Fada
das Rosas), 424
Karsten, 420
Kastan, lsidor, 457
Kaufrnan, Geo rge S., 5 16
Kaufmann, C" 4 12
Kaulbach, Wilhelm von, 44 2. 44 8
Kawak ami , Otoj iro , 99
Kazan, Elia, 475, 524 , 533
Kea n, Charles, 440. 442, 44 X, 53X
Kcan, Edmun d, 43 1, 432
Keaton, Buster, 455
Keats, John, 429
Kernal, Narnik: Vatan, 26
Kernble, os, 431, 514
Keno, 83
Kern, Jerorne, 5 16
Kerr, Alfred, 475, 499, 505
Keyse rl ing, Eduard von: Friihlin gsopfer (O Sacri-
fcio da Primavera), 459
Ki Kiun-siang: O (Jr[tlo da China (Voltaire ), 6,
Kingsley, Sidney: Dend End (Sem Sada). 5 1X
kiogen, 87; farsas, 75: n , e, 9 1
Kipphardt , Heina r: I II der Sa chr l . Robrrt ()1'1'1'-
nh ci mcr (No q ue Diz Resp eit o a J. Rohert
Oppenheimerj .-l
Kirchmayer. Thom as. Veja Naogeorgus
Kitabatakc. Gene Honi, 87
Klein, Csar. 488
Kleisl. lI enrich von . 400 , 4 19.423, 428,492: Anf i -
tri o. 147: Herma nns schlacht , 400; Kthchrn
\ 'OH Hcilbronu, -.. 28: O Prncipe de Homburgo,
533 ; "Sobre o Teatro de Mar ionetes", 89; na
zerbmcl,clIl' Kr ug (A Bilha Quehr ada).41 9
Kle mpe rcr, 0 110, 4X7
Klcnze, Leo von, 442
Klinger. Maximil ian: Der \\ 'in w ar r (A Confuso),
4 12: Die Z...illill gl ' (Os Gmeos), 413
Klopst ock , Fri edri ch Gott lie b, 425; l/ a lllclIlns
SCl1lclCll 1(A Ba talha de Herman), 400
Knip per , Olga, 46 3
Knud sen, lI alls. 4 19
Kochanoll'ski, Ja n: O Desl'edillll'llto dos Eml" lixlI-
dor e.l Crego." 274
Kohl hardt, Friedri ch. 406
Kokoschka. Oskar, 471 : Der bn' /IIlCllde f) om lll l.l'cll
(A Sara Arde nlCl. 475
Komachi, Soto ba. XI, X3
Kommi sarjevskaia. Vera, 495
Kortn er. Fritz. 527 , 530
565
Koster. Albert . 303
Kotaro. 83
Kotzebue, Au gusr Friedri ch Ferdinand, 400. 4 17.
429. 5 14; Die deutschen KIl'illsliidler (Os Pro-
vi nc ia nos Ale mes). 436; Di eKo rs en (Os
Corsos), 418; Die Kreuzfohrer (Os Cruzad os),
423
Koun, Karolos, 538
Krauss, Clernens, 494
Krauss, Werner, 492
Kraussneck, Arthur, 449. 457. 459
Kr ger, J. c..407
Ku e h u lu. 63
Kuan Han- King: A Permu ta entre o \<:11I0 e a Lua.
63
Kublai Khan, 63
Kunisada, 95
Kunst, Johann Chri st ian. 378
Kurosawa, Akira: 526
Kwanami, Kiyotsugu, 81, 83
Kwanze Kojiro Noburnitsue, 87
Kyd, Thomas, 377; Ttie Spanish Tragedi e, 319
kyo gen, 75, 87; cicl o de Towneley , 232; medieval ,
255-257; Romano, 161, 162; Turco, 25, 28
La Grange, Sieur de. 352
La Mou -Fouqu . Fr iedr ich, 433
Labiche, Eugne Marin , 44 1, 480
Lachmann, F. R,. 300
Lact ncio, 169
Lacy, James, 391
Ladislau IV. 358
Lang, Fritz. 504
Lange, Ca rl, 194
Langhans, 423 . 424
Langley, Francis. 318
Lania, Leo, 50 I
Lankheit, Klau: Revol uo e Restaura o, 429
Lari onov, Mikhail. 48 1
Laroche. J. J., 367. 425
Lasker-Schler, El se: Di e lI'upp er. 476
Lasso, Orlando di, 357
Lasterbalk, 194
Latouchc, J" hn. 5 17
Laube . Heinri ch . 420. 446: Bri ef ell ber dlls
dell/sche Theater (Cartas sobre o Teatro Ale-
mo), 44 5; Di e Karlsschler (O Discpul o de
Karl ). 445 . 446
Laureol us, 167
Laul enschl ager, Karl . 98, 483
Layard. Austen Henr y, 442
Lzl. Mohol y Nagy, 475
lazzi. 353, 355
Le Kain, Henr i Louis, 388, 395
Le Mercier. Loui s Jean Npomucnc, 345
566
Hs toria M u nd al do Tea t ro .
Leo ru, 1R\
Leo X, 26 1, 269, 276, 278 . 284
Lebcl, Jean-Jacques, 527. 529
Ledcrer, Geo rge \V., 357
Ledoux, Fernand, 530
Lger, Fernand, 483; Skating Rink (O Rinque de
Patinao), e, 48 1
Lehar, Franz, 516
Lei cester, 313
Leigh, Vivien, 533
Lenda do Papa Joo. 208
Lenias, 140
Lenin, 501
Lenya , Loue, 507
Lenz, J. M. R.: Der Hofmeistcr (O Preceptor) , 4 12,
413 ; Der /leue Mendoza (O Novo Mcndoza),
41 2; Die Soldaten (Os So ldados), 412; ber die
Veranderungen des Thea ters iII Shakespeare
(Sobre as Variaes do Teatro em Shakespeare),
412
Leonardo da Vinci, 98, 292 , 293, 483
Leopoldo I, 342
Lesbos, 151
Lessing , Gotthold Ephr aim, 26, 110,273.382. 400,
40R-413, 417 . 425. 521; Arleq uim. e, 406 , 407;
Brieje. die neue." " Literatur bct reffcnd (Cartas
Sobre a Nova Literat ura), 404 ; Dramaturgia de
Hamburgo, 148. -'95. 404 . 40X. 4 /1 , 4 12; Emitia
Galoui . 392. 403: Gouschcd , c. 404. 406 . 40R;
Der j unge Gelch rt c (O Jovem Erudi to) , 408;
Lillo, e, 388, 39 1: l itenuurbricfc (Cartas sob re
a Literatura), 408; Minna "011 Barnhelm, 39 1,
411; Mi ss Sara Sa mpson, 39 1; Natan, II Sbio,
26; Voltaire, e, 408
LeIO, Giulio Pomponio. 164
Let o, Pompnio, 164. 270-272
Libn io, 175
Lichtenstcin, Roy, 538
Licur go, 118, 130
Liebkn echt , Karl. SOO
Lillo, Georg e: The Lotulon Mrrchunt (O Mer cador
de Lond res). 388. 39 1
Lincoln . Abraha m, 5 16
Lind , Jenn y, 433. 5 14
Lindner, Amanda, 449
Lindtberg. Leopold, 507, 533. 534
Li poldo, 196
Liutprando de Cremon" , 18 1
Living Theater, 0.520, 52 !
L vio Andrnico. 140. 141, 147, 148
Lvio, 139, 150
Lo-yang,58
Locher, Jacob: Tm MI'dia de Th urci" 1'1 Suldallo, n I,
300
Locke, John: Epsrol a de u Jlertillci a, 38 t
Lohenstein. Daniel C" spcr von. .178
lld i c e
Lommcl , Andreas, 3
Longin o. C ssio, 150. 15 t
Lo pe de Vega, 148, 345 , 369-373, 377 , 420:
Am ura llll . 368; EI cabal/em de Olmcdo (O Ca-
valei ro de Olmedo), 368; Jorg e Tolcdano. 369
Lorr ain, Cla ude, 424
Lorr c, Peter, 504
Lort zi ng, Albe rt. 425. 433
Loui, Co simo, 370
Lotto, Loren zo. 28 1
Louvain, Ric hier de, 408
U iwe n, Friedric h: Die Comedir im Temp el der
Tugrnd (A Co mdia no Tempo das Virt ude s ).
4 11
Lcio, 137
Lc ulo, Lcio e Marco. 150
Ludi Cae surei , 299, 342; teatro jesuta. e, 34 1. 344
Ludi Romani, 139- 144, 151, 162
Ludwig, Otto, 44 1; Der Erbfo rster (O Guarda 1'10-
restai), 446
Lugn-Poe, Alexandre, 453. 466, 49 9: Pelleas et
Melisande, e, 469
Lus XII, 257
Lus XIII. 334
Lus XlV, 324, 334. 347, 352. 358, 403
Lu s XV. 386
Lus, So, 257
Lull y. Jean Bapti ste, 296, .U 4. 335 , 388 ; Mol irc,
e, 347 , 349
Lumumba, Palr ice. 504
Lunach rtski. A. v.. 465
Lutero. Mart inho: Tischredrn, 300
Lydgat c. John. 211
Lyl y. John. 3 12. 3 17; /11011", 1'Bomb ic, 2XO
I> lach iz. Herber t, 520
Ma c Kaye . Percy. 520
Mac phe rson , James, 429
Macrcady, W. C.. 431
Macrerl inck . Maur ice, 495: Pcl leas 1'1 Mclisandr .
41 , 469; U I Pri ncess e /II"ld"e. 45.\; 71111Ogi ll'.I" .
466
Magnos. 120, 121. 123
Magno. Carlos. 89
1\1ahcndra-Vikramavarman:ft-fata l'illl sl1-l' ra!lasl11w .
42
Maiakvski. Vladmir: O Mi.Ht'rio Bufo. 49:;
Maintenon. Madame Ll e. 347. 358
Maka.1.433
MIe. Emi le, 194
t\lalipi cro , Lui gi. 526
Matlarm. St phan e, 466. 4(,9; " L'Apn'.I"-lIIidi d'lIl1
FlIlllle (O Entardecer de um Faun o l. 469
l\'la lraux, Andr . 533
/l. lamonl<)\", S. I.. 462
Mandel , Johann . 270
Manelli : Andromedn, 326
Manl io.129
Mann , Thomas, 538
Manrique, Gmez: Rcpresentuci on drl nocimi ento
de Nuestro Seiior, 240
Mansfield, Richard , 460
Mantle, Burns, 496
Manuel II Palel ogo. 25
Manutius, Aldus, 269. 344
Manzoni, Aless andro. 429, 436: Ade/chi , 436; 1/
Conte di Ca rmagnola, 436
Maom. 19, 20, 29,47
Maquiavel , Nicola u: Mandragol a (A Mandr gora),
278; O Principe, 292
Marceau, Marcel , 1.70, 164
Marcial : Libell us spe taculorum, 164
Marco Palo. 6 1
Margarida da us tria. 305
Margari da. Rain ha. 30 1, 334: Miroi r de I' nu:
pchre ss e, 30 1
Mari ett e. Au gusto. 445
Marinett i, F. '1' ., 529; Proclama sul teatro futu ris ta
(Ma nifes to do Teatro Futurista), 483
mar ionet e. Vej a teatro de bonecos
Marivau x, Pierre Carlet de Chamblain de, 382. 407
Marlowe, Christopher, 3 12, 377; Dido, 3 19; Dort or
Fa ustus. 3 19 ; Eduardo II , 505 : He ro and
Leaiule r, 3 12; Tamburlai ne the Great . 3 19
Mart in, Karl Heinz, 476. 492
Msca ra e teat ro de mscara: arlequim, 358: do
arquidcmnio, 247 ; Biza ntina, 175. 1X2: Chi-
nesa. 70: Egp cia. 7, 11; far sa. 256, 257; Grega .
105, 107. 117, 123; Indiana. 36, 37: Japonesa.
75 . 76-81 ; med ie va l. 248; mimo, 162. 167 ;
Piscator (uso de). 538 ; pri mitivo. 2-6: Romana.
148; taziv. 23: Teatro pico. 511; teat ro polti -
co. 500. 50 1; teor ia de Craig. 471. 475; Ubu Roi
(Uhu Rei), 469, urso, 157; zunni , 355
Masenius: And rophilus 34 1;Ars No\'QArglllill rwn .
34 1; influnci a c m Milton , 34 1; Sarcot is. .~ 4 1
Maspcr o. Ga ston, I I
Massalitinov, 466
Massenct , J ules milc Frdric: Le Jongleur d e
NotreDllme. 247
Matisse, Henri, 4 81
Maucl air. Ca mil le . 469
Mauro, Ales sandro , 337, 338
Mauro. f'rancesco. 337
Maxnci o, 342
Maximil iano I, 27 1, 276, 283, 303; Marcho TriUII-
fa l . 299
Mazarin. Jul es. 34 7
I>1cLuhan. Marsh all . 527
I>ledici . (',,[arina L1 e. 27R, 280
Med iei. Jli o de, 27X
567
Mediei , Loureno de . 28 I
Mediei, Maria de . 325. 33-1
Medicus, 19 1
Medwall, He nry : Ful gcns and lucrccc, 266
Megalenses, 140
Mgara, Epicarmo de . 120, 12-1
Mhul, Ni cholas: La Danwmallie. 4.'3
Mei Lan-fang, 66. 67. 73. 164
Meierhold, Vscvolod Emilievich. -151. 453, 465.
471, 494. 495, 496. 499. 501, 504
Meijer, E. R.. 430
Meilhac, Henri , 442
Meini ngers, os. 530
Melanchthon, Phi lipp , 300. 30 1
Mlies, Geor ges, 52 3
Memling, Ha ns: Os Sete Go zos de Maria e As Sele
Dores de Maria, 196
Menaechmi (Os Gmeos), 1-17
Menandro, 118, 129, 172, 175; A Arhit ragem, 129;
Dyscolus(O Mal-humorado), 129; Plaut o, c, 129,
144, 147, 175; Terncio. e, 129, 147, 148, 175
Mendel ssohn, Felix, 442; Sonho de Uma Noit e de
Vero, 432
Mendes, Catulle, 453
menestr is e j oc ularorcs. 2-12-2-17, 266, 27 1
Mnstrier, 3-1-1
Menukiya, Chozaburo, 89
Menzel, Adolph von . -1-1 1
Mercad , 223
Mercanton, Loui s: Queen Eliznbcth, 523
Mcrcati , Gi ovanni , 178
Mercat or , 19 1. 194,200.216. 2-15
Mercier, Jean . -170
Merck. Johann Heinrich. 413
Merkel, 357
Merril l, James: t t Bail IA Isca ). 520
Mesopotmia . 7. 16-17
Messenius, Johannes. 303
Meyerbeer, Gia corn o: L('.\ /fl/ gl/CIIOIS. -1 .'3 ; Robert
le Diable, 433
Mezzetin, 358
Michel , Jean, 223; Mvsterr de la Panioll de nostrc
Sal/h' el/r Jllt'Sl/crist. 223; MY.Hre d<' la
RJsurrectitm. 227
Michelangelo. 270
Mielziner, Jo, 524
Mikkel sen, Hans. Veja Lud vig Holherg
Milhaud, Darius, 48 1; Reinhardt. e. 513
Miller, Arthur, 460; A Viell'frolll Ih,. /lridge (Pano-
rama Visto da Ponte), 519 ; Aft a lhe Fali (De
poi s da Que da), 5 19; Ali My SO/1S (Todos os
Meus Filhos) , 5 19: lJ cl/ t h of 1/ Sl/leSlIIl/1I IA
Morte de um Ca ixei..., Viajante \. 519 . 52-1 : 'I],,,
Pri ce (O Preo ). 5 19
Mi lton, Joh n: Ma senius. e. 342 ; Pmwli lt, LosI (Pa
raso Perdido), 3-11
568
H s t ri a Alul ld ial d o Tvarro
Mimashi.78
Mimo (miml<s), lJ6-137 . 15 1, 157. 16 1. 162, 235;
Anneno. 25; Biza nti no. 177, 178; caracteres do.
191; Cigano, 25; cristol gico , 167-1 69 ; dcl l 'urte,
353; Egpcio, 7, 8. 16; gigaku, 78; Grego, 25. 38.
136-137; improvi so, e, 163, 164 ; Indiano, 33, 36;
influncia em Bharata, 36 , 37; influncia no auto
de Paixo. 167; Japons, 78 ; j udeus, 25; magia e,
2; Marceau, c, I ; mi strio me dieval, 185, 186,
194,245; pago, 175; Romano, 151. 162-167;
Toj uro, n ,95; Tur co, 25; Yu-meng, 54
Mimoso, Joo Sardinha : Rela cion, 296
Mi namoto no Hiromasa, 80
Mi ng Huang, 58, 59, 70
Minks, Wilfried , 50-1, 530, 53 8
Mir , Joan , 481
Mi tterwurzer, Friedrich , 4-16
Miyako, Denn ai, 95
Mn ester, 164
Mo Ti , 54
Mdl , Manha, 510
Mohammed II, 172
Moi ssi , Alexander, 487, 492
Mo liere, 26, 120, 129, 227. 280, 296, 334, 344, 346,
3-17,349, 355,367.370. 37 8.388,408.413,428,
530; Anfitrio. 147; As Artinumhas de Srapino,
352 ; O Avarento, 147, 396; U' Bourgeois genti l-
IUIIII/Ile (O Burgu s Fidal go) . 334 ; Com die
l tul icnne, e. 357 . 358: L, ' Di!,il al/lOUreln (A
Decepo Amorosa), 347; O 0 0 (' 111(' Imaginrio.
352; L'cole des [enunes (Escol a de Mulheres).
3-17, 3-19; col e dcs maris (Escola de l\lari dos).
3-17; Les Fcheux iII \'<:wx (Os Impert inentes cm
Vaux). 0 0 11Garcia de Navurre ou Prince
j uloux, 3-17; Gou sched , e, -10-1. -106: L'llIIprop/IJ
de vcrsailles lO Improviso de Versaillcs), 3-17;
infl uncia em Holbcrg, 396, 397; Jodclle, e. 273;
0 011 Juan, 370; U' Mariuge l orc (O Casame nto
it Fora) , 334, 352 ; Misanthropos, 129, 397,407;
Lcs Pr cieus cs ridicules (As Preciosas Rid cu-
las ), 347 ; U , Prin cesse d'Uide I A Princesa
D'E lide), 33-1; OTartufo, 25 7..'49. 352. -1 28. 529.
530; Terncio. e. 347
Molina, Tirso de. Veja Tir so de Molina
Mo mmsen. Th eodor, 141
Mond orl', 344, 345
Montaigu, Ren Magnon de, 396, 397
Mont ehr estien, Antoine de : L'i:'co.u ai sc (A Esco-
cesa ou A M Estrela), 274 ; So!,llOllishe. 274
Monte verd i. Claudio : Arill/lIl1/ , 326 ; C lllco-
rOlzaZolle di POPPi'U, 326: Orfeo, 325. 326
Montrsor, 5 14
l\ lood y, William Vaughn : TI/(' I'i li l h H{,lIla, 618 ;
TIr.. Gr{'al Dil 'ide (A Grande Front eira) . 5 18; n,e
SlIhi/l{' \I <,mll ll (A l\lu lher Sahi na) , 5 1X
l\I<KI/. Franz. -1n. 424. -187
ndice
mora lidade , medieval, 186, 252. 255, 261 -267
Morux , Ren e Jean. 48 1
Morenz.. S.. 16
Moreui , Marcel lo, 526
Morgenstern, Christian, 487
Moritz, K. P.: Anto n Reiser, 430
Morton de Ca nte rbury, 266
Mscr , J ustus: Hurlequins Hci ruth (O Ca samen to
de Arlequim), 4 [2
Moskvin, 462
Moul ne, 155
Mo une t-Sull y, 442
Mowatt, Anna : Fashi on, ar Li/e iII Ne il' York (Mod a.
ou A Vida em Nova York), 5 15
Mozart , Wo lfga ng Amadeus, 420, 424, 425. 5 1-1;
Bastien undBastienne, 284; A.>Bodas de Figuro,
425_494; Cosi fantuttc , 494 ; A Flauta Mgica.
424, 433; DOII Giovanni, 370, 425 . 494. 526; O
RI/pIo do Serralho, 494; Zaide. 387
mulheres: como homens cm peas. 369, 370, 406;
dramaturgas, 5 15, 516 , 518. 519; Mari vaux, e.
382; mimo bi zanti no. 245 ; mimos, 136, 137,
175, 177 ; no auto de Pai xo, 245; nos autos de
carnaval, 250, 252; no Coliseu, 157; nos mimos
romanos. 162; no teat ro de mi str io. 198, 199;
no teat ro japons. 91. 92. 99
Muller, J . H. E, 425
Miimio, Lcio. 150
Munch, Edvard. 487
l\ l urray e Kcan , 5 1-1
msica: cun ti ra . 1-17; Chinesa. 53, 5-1 . 55. 59 . 60 .
6 1. 6 3, 6(, . 7 X, 80; co m dia i ng lesa. 37 6 ;
Commedi a dcl lorte, 357 ; corte medi eval. 2-12,
2-15: Egpcia . 7, 8, II. 13- 16; gumrlun, 5 1: Gr e -
ga, 105. 136 , 137; Indiana, 32, 3.1, 36. 37;
lit rgic a . 189; mimo roma no, 163. I()-1: o rla
OXW IU , 25 ; pe a pastoral. 283. 28-1; poe sia , e.
-166: primi tiva , 3, 4, 6; em Shake spea re. 320.
322; simbolismo. e, 469: no teat ro de mi st rio
ingls, 23 2. 233: o teatro de Tagorc, e. 42 , 44;
Teoria a ris totel iana de. 324; Turc o. 25 . 26 :
\nnoll g. 46 ; zarzuela, 373 . 37-1 . Vej a tam b m
ba l, pera, ca ne s
M sica gamelllll , 46, 51; slm dm e pelog. 51
Mus ical americano, 516
Musset. Alfred de, 429, -136
Mu ssrgski , Modest Petr ovi ch, 436
Mylius, ehristl "h, 406 , 407, 408
Naglcr. A. M, 216
Na kamura,91
Narn iki, Shozo, 89, 98
Namiki. So suk e: Kanahedon Chu-shingura. 98
Naogeorgus (Thomas Kirchnlayer): Pll11l11UlC!lill .... ',
20-1.301
Napoleo, 352
Natvasa stra, 32, 38 ,
Nehcr, Caspar . 530
Ncmirovich-Dantc hcnko , Vladmir l vanovich, 46 2.
46 6
Nero , 13-1. 154 . 155 . [ 57. 164
Nestroy, 367, 42 5
Neuber, Johann, 378
Neuber, Karoline, 365, 375 , 378, 379. 406, 407.
40 8; Gottsched, e, 406. 407, 408
Nvio, Gneu, 14 1; Romulus, [41
Nicetas de Tri er, 191
Nicholas de Antependium, 234
Nicolau de Cusa, 269, 270
Nicolau I. 436
Niessen, Ca rl, 304
Nijin sky. Waslaw, 469
Ni kolaus de Avancini : Pielas victrix, 342. 3-1-1
Noe lte, Rudolf , 534. 538
Norton, Th omas, 274
Nostic-Rhineck, 403
Novalis, 429 , 52 1
Noverre, Jea n Georges, 387, 391; Lemes sur la
dansr, 419
Nvio, 161
Numeriano, Marco Aur lio. 161
O' Ca scy, Sea n, 45 1; Juno e o Pavo Real, 530
O Hara . Frank : Try! Tn'! ITe nte' Tenle!), 520
O' Neill , Eugcne. -160. 471. 499; Bevond the Horizon
(Alm do Hori zon te ). 520; Bound Ea .H (o r
C",diff( Ru mo a Ca rd iff), 520; Desi re underthc
Elnis ( Desejos sob os Olmos [Desejoj], 520; TI,e
Hai rv Ap c (O Ma ca co Cabeludo ). 520 ; Iml''' ''' -
do r I one s, 6; Thr Moon of thc Cari bbees ( A Lua
do Ca ribe) , 520
Obaldi a, Ren de: Le Cosmoncuue agricolc (O
Casamento Agrco la). 527
Obey, Andr: No. 480
Obrat sov, Sergei. 4'>5
Odet s, Clillord: AlI'llk<' and Si ng! (De sperte e Can-
le !). 5 18
Odoardo, de Konrad Ek hof. 392
Oe- no-Masafu sa : Rokuvo dellgllku-ki, 8 1
Oert el , Curt , 501
Offenbach, Jacques: La Relle Hl lle (A Bela Hel e-
na), 442; COlltos de Hoffmallll, 475; A Grallde
DUlJuesa de Gerolslr/ II, 442; 0/f<'1l1l0 IlIf em o.
36, -142, 524; UI Picllole, 442
Ogimachi, 95
Oku ni,91
Olearius, 23
Olivier, Laurencc , 52 6, 530
Open Th eater, O. 52 1
opera bujJa, 425
56lJ
opera comique, 408, 441
pera de Pequim, 53, 59, 66-70, 73, 452
opera seria , 387
pe ra: Bar roca , I. 324, 330 . 342, 344; drama, e.
420, 44 5, 446 ; drama indi ano, e, 38; Francesa.
352, 353, 386, 387; Gui lher me li , e. 423; Ja -
ponesa , 99, 102; nan ch'u, 61 ; Napoleo em ,
352, 353; nascimento, 325 ; Pequim, 59; Ro-
mntica , 425; SI. Evrernond, e, 407; Si ngspiel,
e, 324-330 , 387, 403, 408; teatro primitivo. 3,
4; Tu rca, 26
Op itz , Martin, 326. 408 ; Buch \'01' der deutschen
Poet erey ( Liv ro da Poti ca Alem) , 404
Orbay, Fr an oi s d ' , 352
orches tra, 123, 129. 134, 175; na tra gd ia grega,
104, 105, 107, 118
or de ns reli giosas, 303 , 34 1, 342 ; Agostinianos , 240 ;
Beneditinos, 203 , 248. 34 1; Canusianos. 34 1:
Domini can os, 209, 320 , 337 ; Franci scan os, 185,
240 ; Jesu tas, 90, 296, 299 , 300, 330, 338 -344.
368, 403 , 505; Piar istas, 34 1
Or ff, Carl , 109 ; Antigona, 538 ; Carmina Burana,
205; Catlulli Carmina, 205 ; dipo , 538; Pro-
meteu, 538
Orl ik, Emil , 488
Orsini , Giuli o, 261
orta O)'UIl U, 25 . 26
Orteg a y Ga sse t. Jos, 114
Ortol ani, Ben ito, 99
Osborne . John, 3 13; Tire Entrrtainer, 530 ; Loo k
Back in Angcr (Olhe para Trs co m Raiva), 460
Osiander, And reas, 30 I
Os ma n .25
Otsuro ,83
ano I. 18 1
Ot to II. 248
Ono III . 175
Ono, Teo. 530
Otway, Thomas. 39 1; \b.cza Preservada , 47 1
Ousde)'.20
Ov idio, 205
Pac vi o, 1\1" 144
Paecht , alto, 194
Pal di o, 172
palco: agitl'rol', 505 ; de Antoine, 453. 454, 455; de
Appia, 470; are na, 524; Ateni ense, 118; auto de
Pai xo, 215, 219, 22 1; Autos de carnaval, 250,
252 ; aut os de Natal, 240; de Avancini , 342; bal ,
334; Barr oco, 323, 325-326, 330, 334, 335-338,
342.344- 346,370, 420; Bayreuth, 470; Be rlim.
4 88; bo necos , 87 . 89, 247; bu gaku, 78, 80;
Bu ont a lenti . 325 ; Burgth eat e r, 4 28 . 429;
Caldern . e. 373 ; calToa ecarm-palco. 208-212.
228-242. 255, 257 ; cm' ca. 154; cen, rio, 442.
570
His r r a Mundi al do Tc o t ro
Chins, 66. 67, 70; ci rcu lar, 232; Comdia gre -
ga, 123; co m dia inglesa, 375, 376; comdia m-
dia . 129 ; de Co rne i ll e , 346 ; de scr i o de
Stanis l vsk i de,47 1; deuscxmachi1la, 117- I IS;
dois andares, 299; ccic lema, 117, 118; Elizabe-
tano, 318, 3 19; epi ske nion, 129, 130; esca da s
no, 476, 480 ; es te ira rolante, 502 ; es tuda ntes de
teat ro, 304; ex pressio nista, 475, 476; Ferr ara.
276; filme, e, 524; giratrio, 89, 293, 45 2. 454,
476 ; Gottsched, c, 407, 408; Gr nnegade , 397 ;
hanamichi , 98 ; iluminao. 392 ; de Jessner, 476 ;
de Jones, 471 ; kabuki, 98 ; Klucht, 308 ; logeion ,
129; lugar e s no, 395, 397; maquinari a. 335-338,
373 ,387, 420; me canismo. 373; Meistersinger,
308; miniatura, 209; mora lidad e, 262 , 265 -267;
mu ltim di a . 495; n, 83, 84, 87, 98; pera, 387 ;
palco no, 5 11-5 13; pl ano cnico de Donau es-
chinge n, 21 6, 2 19 ; pa raskenia, 118, 130, 154 ;
peas ca mpo ne sa s, 26 1; periukt oi, 150 , 151 ;
perspect iva, 284, 28 7, 291, 292, 344 ; de Piscator,
534; plataforma, 211 , 222 , 223, 227; de Platzer,
429 ; primi tivo , 2, 3; produo de Hbn er , 530;
proskenion, 123, 130 , 134; pulpitum, 154 ; a
quarta par ede. 44 8, 449, 465 ; rai sed, 42 9; rea-
lismo, e , 448, 44 9 ; Rederijker, 305 , 308; de
Rein hardt , 483-492; Re nascena , 223, 29 1. 292 .
300 ; roeu. 209; Roman o, 148- 151, 154 , 155 ;
sculo XVIII. 38 2: sckkon. 20; Schilier no , 41 3;
sigl o de oro , 369 ; si mbolista, 469, 471 , 475;
spocc stagc, 52 6 ; de Stern. 488; de Svoboda.
524: tea t ro esco lar, 300-304 ; teatro medieval.
186 , 20 0 , 21 2 , 2 15 , 231 , 24 0 , 24 7- 250 ;
Tcgernscc, Ant ichristo, 203, 204 ; leiari . 150:
theologeion, 118, 123; de Ti eck, 431, 432; Tra-
g di a grega, 114 ; trs n vei s. 227. 296 ; de
Verona. 423 ; de Vi lar . 533 : de Vitr vi o, 27 1;
Weimar, 4 13-420 ; de Wie land Wagner, 470, Veja
tambm constru o de teatros
Palitzsch , Peter, 526. 538
Palladi o, Andrca , 287, 29 1
Pal lcnberg, Max. 502
Parnmachi us. 301
pa nto mi m a, 15 7 , 161. 53 4 ; Aust ralia na , 3;
Bizantina. 172 , 173, 177. 181, 182; "Ccm j o-
gos ", 58; Egpci a, 163, 164; Festivais de Ano
Novo, 17 ; India na, 29, 42; Japonesa, 76, 78; me-
dieva l, 19 1, 234 , 235; pag, 175, 18 1, 182; pri-
me ira na Amri ca, 35X; Qu intili ano, e. 164;
Sumria, 16; taziyc, 20 ; no teatro p ico, 5 13;
unive rsal, 164 , Vej a tambm mi mo
Paolucci , 276
parabasis, 123. 5 11
paraskenia , 1 18, \30,296
Pare, du , 346
Par igi, Alfo nso , 335
Par igi . Gi ulio. 335. 337
i" Ji n '
P ri s. o Jovem, 164
P ris, o Velho, 164
Par ker, Dorothy, 5 17
pastoure lle, 248
Pastrone. G., 523
Patanjali, 33, 37
Paul, Jean : Tuan, 430
Pa ulo II , 269
Pa ulo, Lcio Emlio, 147
Pa ulsen, Carl Andreas , 377, 378
Pav lova, Anna, 452
Payne , John Howard : Brutus, 43 1
Pea de Igrej a, 178-1 8 1
Pe a de lendas, 203-208, 233
Pea dentro da pea, 4 1, 42 , 20 8, 209, 2 11,432.
433,510, 5 11
pea musical tk 'un-ch ' ), 66 . 67
Pea pastoral , 330; pera, e. 324; Re na sce na . 280-
284; scena satirica, 287: Sha kes pea re, e, 3 12.
313
Pea satrica. J07, 161; de Crtias, I 13; de Eurpides,
110; Sisifo, 134; de Sfocles, 109
Peas camponesas. medieval , 186, 257-261
Pe as Klucht , 257- 261
Peas xiitas de Husse in, 14
Pechstein, Max. 488
Pedro I , 378
Ped ro , Mestre, 368
Peelc, George, 317. 330; Tlic Arruignmrnt of Puris
(O Jul gamento de P ri s r. 283
Pelgia. 208
Pell y, Lewis, 20, 23
Pent eco stes, 198, 223
Peri, Jacopo: Daflle , 324 . 326; Euridicr. 325 ;
Schtz, and, 326
P ricles, 107, 113, 114. 11X. 161
Pe rri n, mile, 44 2
Prs ia, 20-23
Pru se, 273
Peruzzi, Baldassarc. 284
Peshkov, Veja Mximo Grki
Pet er de Blois, 247
Pet er sen , Juliu s. 212, 2 15
Pet er weil , Baldemar von, 212
Pet rarca, 269. 28 1; Canzonicrc, 3 12; Shakespeare.
e, 3 12, 313
Pe vsner, Antoine, 471
Philipe, Grard, 533
Pia n, Ant onio de, 42 9
Pi casso. Pabl o, 481 ; LI' Dcsi r at trap t' par la quem'
(O Desej o Pego pelo Rahol, 526
Pilades, 163, 164
Pil ot y, Karl von, 448
Pinern: Tile Scco1ld AI,-s. Ttmqlt el'llY (A Segunda
Se nhora Tanqueray ), 4 59
Pint er , Harol d: Carctak", (O Ze lador), 460
Pio 11: Chvrsis, 278
Pira ndcllo, Lui gi. 480 ; Cosi e t se \'i pare ) (Ass im
. [se lh es Parccel), 51 1, Enrico IV. 5 11; 1
Gigant i drlla Montugna (Os Giga nte s LIa M on-
lanha ), 5 3 4 ~ Seis Personagens ti Procura d l ' 11111
Autor, 266 , 5 11
Piscaror, Erwi n, 451, 496, 499-504 , 5.,0, 53 4. 53 8;
Dic Abenteuer des Braven Soldaten Srhwcjk (As
Ave nt uras do Br avo So ldado Schwejk), 50 I;
O'Neill, e, 520 ; Das politische Thcaler (O Tea-
tro Poltico), 500; Revue Roter Rummel (Re vis-
ta do Barulho Vermelho), 500 ; Trot; utlcdem
(Apesar de Tudo) , 500
Pitgoras , 169
Pit oeff, Georges, 480, 48 1
Pi xer ecourt: La Femme deux maris (A Mulher co m
Doi s Maridos), 5 14
Plan chon, Roger , 530, 533
PiaIo, 12 1; Banquete (Sympos iumv, 118
Pl atzer, Joseph, 429
Pl auto, 16, 144. 150, 161,270, 271 , 300 , 308.344;
Amphitruo, 147; Aulularia (O Pote de Ouro ou
Com d ia da Panela) , 147 ; Bcolc o. e, 35 3 ;
Cistcllaria, 147; influ ncia em Ari osto. 276; in-
flu ncia em Hol bcrg, 396 ; Menacrhmi (O, G -
meos), l,n . 270. 276 ; Mcnand ro. e . 129. 144.
147, 175 ; Milcs Glori osus (O Soldado Fan far-
ro ). 147. 280, 300; Pseudolus, 147; Shakcs-
peare.e. 3 13: Sli cll/ls. 147; Ter ncio.e. 147.148
Pleyade. 273. 274, 280
Plutarco, 194. 273, 330
Poclzig , Hans, 488
Poli cl cro, o Jovem , 130
P lio. As nio, 144
Poli ziano, An gel o: Favo la dOrfco (F bula de
Orfeu). 28 1, 283, 325, 345
Pompe u, 15 1, 154
Pornp nio , Lcio. 161
Pncio Pil at os, 186, 196, 2 15. 22 1
Pont e. Lor en w da, 425, 5 14
Pont o. Eri ch . 507
Poquclin, Jean Ba pti ste. Veja Mo li re
Por f rio, 169
Por firog nit o. Co nsta nt ino. 181
Po ule nc, Franci s, 48 1
Pou ssin , 345 , 424
Power, Tyrone, 43 1
Pozzo. Andrc a: Pcrsp ccti vac pictorutn at qur
archit ect orum (Pe rspectiva na Pintura e Arqui-
ret ura ). 338
Pra mpolini, Lnri co: Srcnogrof ia Futu rista, 483
Pra ndini, Francc sco, 526
Pr alin as. 107
Preet orius, Em il, 530
Preh auser. Go n fr ied . 365
Prsti to de m:scara, 247-250
571
Priestlcy. J. B.: A" Inspect or ColI., (Um lnspet or
Chama). 460
Procha zka, Valduni r, 40.1
procisses: de Ano Novo, 17: Bizamina, 189:
Charivari, 248 : Co rtejos teatra is. 209: des te, 20 :
Egpci as. 8. II : gigaku, 78: em Justiniano. 177:
litrgi ca, 17 1: medieva l. 208 -2 12: Pscoa. 178:
primitiva, 4: Renascena. 296
Proelo, 178
Prokofiev, Ser gei Sergeievitch. 481
Prot gora s, 110
Prudnc io: Psycilo",acili o. 261
Ps strato. 104
Ptol omeu , 129
Pblio Siro, 163
Puccini, Gi acomo: The Gi rl of lhe Golden IVesl (A
Garota do Oest e Dourado), 454. 518; Madamc
Butterfly, 99 , 5 18
Pc kl er-Musk au, Hermann vo n: Bri efc ei ncs
verst orbenen (Ca rtas aos Mortos), 431
Pulcher, Cai o Clud io. 150
Purcell, Henry: Dido e Eneias, 470
Pschkin, Al exander Sergcievitch , 429: Boris
Goduno v, 436
Pusterbalk, 19 1. 19-1
Quadfli eg, Wi ll , 526
Quaglio, Simon. 338 . 4-12
Quediva. 445
Qucneau, Rayruond, 526; Exercicios de Estilo , 527 :
Zarie duns lc met ro, 527
Quinault, 395
Quiruiliano, 16-1
Qui nides. 120
Quistorp. -107
Rabelais, Franois, 255
Raber, Vigi l, 2 19
Racine, Jean , 274, 3-16, 388, -1 18, -133: Alexandre
te Grand (Alexandre. o Gr ande). 3-16: Andro-
", aque (Andr maca), 346 . 347 : At halie , 347.
395: Cor neille , e, 386; E.Hher , 347; lfi gllia elll
ulis. 110: ljig "ia" /Il Turide, 110: Milhridlll" .
346 ,418: pa rdia de Brrllicc . 358 ; Plidre
(Fedra) , J Th ba l e (A Tehaid a). 3-16:
Voltaire, c. 386
Radziwill. Cliri stin e, 274
Rafael, 276 ; Esco la de Alellas. 269
Raikh. Zinaid a, 496
Rai mund. I' enl inando. 367. 425, 427
Rameau, Jean Pliilippe: Ca.'lor el Pol/ux. . L,'s
I"des Calalll es (,\ s ndi as Galante'l. 155..
Ln P r ill cl' .' .'il' de N ll\ 'll lTl ' ( A Na\'ar-
ra), 388
572
H s t ri a Mu ndia l li a Te a t ro
Rasscr, Johann: Sp ir! \ '0 11 der Kinderzurht, 304
Rat skomodie , 377
Raupach. Ernst, 446
Rave l. Mauri cc, 481
reali smo. 440-449; no auto dos profet as, 240 ; no
leatro de mistrio. 227
Redentor , 219
Rederijkcrs. 26i. 305- 308: Meistcrsinger. e, 308
Reforma, A. 209; influ ncia nas peas de mi strio.
2 16
Regras aristotelianas , 272, 346, 404; catarse, e, 38;
Kalidasa, e, 41 ; Stendhal , e, 436
Rei ch , Hennann , 167, 175
Reinhardt, Ma x. 98 , 452, 455, 475, 476. 483-494 ,
500 , 50 2, 511 : DClIIIOII, 495. 496. 500; influn-
ci a em Me ierh old , 495 . 496: Milhaud , e, 5 i l;
teatro de Nova York , e, 5 13
Reinhold, K. W.: Saat \ '011 COII,,' gesiiet dem Toge
der Garben cU re ifen . Ei n Handbuch [r
ASlhe l iker W IlJ [un ge Schau spiel er (Sementes
Lanadas por Goethe par a Amadurecerem no Dia
dos Feixes. Um Manu al para Estetas e Jovens
Atores), 419
Re inolds , Robert . 376
Reli gi u do Isl, 181. 209
re ligi o , I , 2. 3, 177 . 488, 529; ce nsura , e. 368 ;
Claude l, e. 5 13; em Cr ias , i 13; drama esco lar.
e. 300; Egpci a, 11-16: cm squilo, 109; na
Grcia. 103. 104; Igrej a Oriental, 178- 181: In-
dia na. 29. 32. 33, 36. 39. 4 1; teat ro barroco. e.
367 . 368; em teatro de mi st ri o, 186-242
Rmond, Frit z, 526
RENASCENA, 269- 322 . 330: Comdia humani s-
ta. 276-280: desenvol viment o do palc o, 284-292;
dra ma escolar, 300 -304; festivais da co rte. 292-
299; Meistersinger. 308; pea pastoral. 281- 284;
Rcdcrijkers, 304- 308 : Teatro elizabct ano. 3 12-
322: Tragdia humanista. 272- 276
Renncrr. Gnther, 510 , 526
Representaes profanas, medi evai s. 200, 242-26 7:
Francesas antigas. 247 ; Ingle sas antigas. 266
Rett enb acher, Simon. 3-12
Rct z. Franz von: Lcctu ra super Sal ve Regi na, 2 12
Rcu chlin, Johann : Hcnno, 255 . 27 1. 300
Reuenthal. Nei dhart von, 248
Rezvani. l\ledj id. 23
Riario, 270, 272
Ri ca rdo III, 312, 3 13
Rica rdo. duque de Gloucester. 313
Ricci . Francesco. 370
Riccobo ni, Lui gi, 358 . 382. 463; Willi ch. e. 304
Ric e. Elmer: One -l1ril'd ol a Na tio n (Um Tero de
uma Nao). 502 : POlI','r (pud er), 502: Slreel
Sall" (Ce na de Rua ). 5 17
Rice, Thumas O.. 5 14
Rich . John . 387. 39 1
"tl il- t'
Richcl ieu. 334. 344, 345
Riggs. Lynn: Grecn GroH' thc Lilacs (Os Lilases
Cre sce m Verdes), 5 i 6
Rilke , Rain er Maria: Soneto a Orfeu, 469
Rimski -Kor sakov, Nikolai : SC/Il'hrazad,' , 481
Rinro, 124
Rinu ccini, Ot tuvi o, 330: Dafne, 324, 32 5: Euridice,
325; Sch tz, and, 326
Ripoll, 195
Riquier, Guirot de, 242
Rist , Johann , 376, 377, 408
Rittner, Rudol f. 459
Robbins. Jeromc, 5 17
Robert , Emmer ich , 457
Robert . Yves, 52 7
Rodin, Augusto. 469
Roe the, G., 300
Rogcr s, David . 23 1
Rogers , Rob ert , 228
Rohan, marechal Pierre de. 256
Rojas, Fern and o de, 280
Rolland, Rorn ain, 323, 488; Dunt on, 488. 496, 500
Roller, Aifred . 488
Rollinger, Wilhclm, 2i 6
ROMA. 139 169 ; anfi tea tro. 155-1 61 ; co md ia,
144-i48; evoluo da con struo de teat ros. 148-
151 ; fb ula atelana, 161. 162 ; Ludi Roma/l i, 140-
144 : mi mo cristolgico, 167-169: mi mo e pan-
tomima, 162-167: teatro na Roma Imperi al. i 5 1-
155
Romanti smo. 41 , 429-40
Romcrberg, 2 15
Ronsard. Pi er re de. 273. 280
Ro sa. Sa lva ror. 323
Roscnpl t, Hans. 250
Rossellini , Rob erto. 533
Rossini , Gi oacch ino Antonio, 433
Rostand, Ed mo nd: L 'Ai gl on, -142
Rousseau , Jean-Jacques, 387.412, -1 29; Goeth e, e,
418; Le IlH' II d 'Al embert sur les spe ctucles (Carta
a d' Ale rnbe rt sobre os Espet cul os). 388
Rowc , Nicho lus , 3 13: Tlu: Trogcdv 01 Ladv Jane
Crer (A Tragdia de Lady Jane Grcy). 38 8
Rueda. Lopc de, 280, 283
Ruoff. Jak ub : m 'illga rll'1lspie/. 30 I
Ruot ger. 242 , 245
Rulebeu f, 208 , 24 5: Le Mi m el e de T!u'0l'hi le (Mi-
lagre de Telil u), 208. 519
Ruysdacl, J .. 424
Ruzzanle. Veja An gelo Beoico
Sahha ll i ni. Nieol a; PraliCll di f abricar seelle e
l1l11chi"r 'lcalr; (Prtica Fahricar
e l\l aqui nar ias no Tea lro ). 335
Sa cehe lli , Lor en l.O. 429
Sacchi. Antonio. 367
Sac hs, Hans, 232. 250. 252. 256 ; Beritola, 308:
Mcnacchmi (Os Gmeos), e, 308
Sackville, Th omas, 274. 375. 376
Sage . Le, 344
Sai nt Evremo nd, 407
Saint -Oenis, Mi ehel , 480
Sa int-Gelais. Mellin de, 274
Saint-Saens, Camil le, 441
Sa int-Simon. 358
Sa inte- Beuve, 436
Sakata, Tojuro, 92 , 95
Salvi ano, 161
Sa ruurai, 75, 81 , 83, 87, 89. 92.95: esttica de. 9 1;
tica de, 98; eui jidaimono, 9 1: II, e, 90
Sangallo, 287
Sa nniones , 162
S nscrito. 36 , 39 -4 1; dr amas. 42
Santurini, Franc esco. 337
So Lus, o Pi u, 242
Sarcey, Francisqu e, 44 2
Sardou, Victorien, 452: Madame Sans- G ne , 459;
Thodora, 441 , 44 2
Sa royan. William : Thc Time of Your Life (A Cha nce
da sua Vida), 5 19
Sa rtre, Jean-Paul . 520, 526. 538
sarugaku, 80-8 1
Satie, Erie, 481
Sbarra. Franccsco. II Pomo d 'Oro. 330
SCa,'IIl/l' [tons , 148-15 1. 154 . 162. 223. 271. 276 .
287, 29') , 308
Scalzi, Alcssandro. 357
Sca mozz i. Vince nzo . 287. 29 1
Scauro, Emli o. 150
Schack, Adol f Fri cdri ch vou. 373
Schadewaldt, Wolfgang. 110
Sc hadow, 44 I
Scha fer. Heinrich . 13
Schanzcr, Marie, -157
Scheffcr, Thassilo von, 10-1
Schern bcrg, Di etri ch : Spi el von Fra Juttcu (O Auto
da Senh or a Jutr a ), 208
Schiller. Johann Chr istoph Fried rieh voo. 345. 41 2.
420, 42 7, 42 8, 4 30. 436 . 44 5. 505 ; Die Braut
"011 Messill a (A No iva de Messina). 420; DOII
Ca r/os, 465. 5 14 ; Goethe. e. 413, 41 6-41 8 ;
Iftl and, e, 423, 424; Die JUllgf "," " 0 11 Or/e al/,.
(A Donzela de Orlea ns ). 420; Kabal e "' Id Liebl'
(Intriga e Am or ). 412. 427: Lessing. e. -108; Die
Riillher (Os Salt e adores l. 417. 500. 538;
Slwkesp ea l'es Sc/W IIl'1I (A Sombra de Shakes -
pear e), 417; ber /lail'{' Im<l selllim ell/ll/isc ile
Dicll1lmg (Sohrc a Poe sia Ingnua e Sentimen-
tal ). 44 0: 1I'<lllell,l' lci llS LlIgI'I lO Acampamento
de Wall enst ein ). 41 8. -1 27. 44 2: \Fil//l'lm Tell
(Guilherme Telll, 454 . 465. 476. 538
573
Schink. Joha nn Friedri ch. .192
Sc hinkel, Karl Friedr ich. 424. 4.1.1; Goethe, e. 424;
Wagner. c. 445
Schl af, Johannes: Familic Scli ckr, 457
Schl egel. August Wilhelm von. .197. 424 . 429. 430
Schl egel, Fri edri ch. .197, 429. 430. 4.'3
Sc hlcgel, Johanu Elias. .197. 400. 407.411.41 2;
Gedankcn Arifi",hme des diillisclwll Theaters.
(Co nsidera es sobre a Recep o do Teat ro Di-
namarqu s). 397; Her ma nn , 400; Zuflli gr
Gedankcn iiber die deutsche Schanbii lme iII II'il'll
(Co nsidera es ao Acaso sobre a Casa de Espc-
tculos Alem em Viena). 397
Schl ernrner, Osk ar: Figurales Kabinett. 483
Schl enther, Paul , 459
Sc hmi dt, Erich , 412
Schmkel, Hartmut, 17
Schoop. G.. 534
Schopenhauer. Arthur, 441
Schreyvogel , Joseph. 427. 428
Schr oder, Friedrich Ludwig, 395. 400 , 413 . 420 . 427
Schrder, Sophi e, 427, 428
Sch rt er, Corona, 4 13
Schuh, Oscar Fritz. 530
Schumann . Percr, 521
Sch umann. Robert , 470
Sch tz, Heinri ch, 326. 375; Daphue. .1 26: Peri, e.
326 ; Rinccini, e. .126
Schwauk , 250 -252
Scott. Walter, 429. 431
Scri be, Eugene, 433. 441
Schan, Charles. 433
Selln er. Gu stav R., 530, 538
Sneca . 144. 161. 164. 270 . 271. 272 . 274. 521;
Ilipli la. 270. 271; I\ ooft. e. 308 ; iufluncia em
Ga rnier, .144; Shakespeare, e. 312; Tiesles. 3[Xl
Serli o. Sebastiano. 287; C Archil ett nra. 284
Sesst ris III . 13
Severo. Septimo, ln
Se yler. Abel, 411
Sforza. Bianea. 299
Sforza. Lodovico. 292-29.1
Sforza. Lud ovico. o Mouro. 292, 29.1
Shake speare, William. 41, 63. 270, 274. .177.391,
41 2,41 3,417,428.430,431. 4.16; Ar iosto. e,
3 12; Comdia dos Erms. 147; Como /lles Apraz.
312.3 13; Coriolano. 511; Craig. e. 470, 47 1;As
Guerras das Rasas, 5.18; Hamlel .1 19-320. 465.
470. 526; Henriquc VlII, 448; Henry 1'1. 538;
Irving. e. 470; Johnson. and, 391; Jonson, e, 319.
326; Jlilia Csar . 463. 495. 496; Lcn z, e. 412:
Macb"III. 392. 47 1. 5.10; Medi da ['ar Medida .
538; A Megera Domada . .112. 517: O Mercad" r
de l'cll e;a, 99; a livicr. e, 530 ; Olc/o. 273.
produi es de Kean . I' sch ki n. e.
Ri cardo III, 471, 476. 4XO, 5.1X: Rom,." e Jllli"II/.
574
Hs t o r o Mu "difll do T ea t r o .
280. 312. .122. J9 1. 5 17. 52.1. 5-'3: Schrd cr. e.
420: S neca . c, J 12: Shaw. e. 459; Sonho de Uma
Noite de I b ';o. 1-'6,31 3. 4.11, 432. 454. 487 ;
teatro persa. e. A Temp estade. 322; Ter ncio.
e, 147. 148: Ti c. e, 431. 432: Titus Andronicus.
3 12: TU'd f/h Nig lu (No itc de Rei s), 280, 44 9:
vers o j apones a de, 99 ; Voltaire. e, 386
Shao Wong. 55
Shara ku.95
Shaw. George Bernard, 44 2. 480, 538; Arms and
III<' Mail . 57 8; Candida, 460 ; Craig, e, 470, 471 ;
Thc Dcvil 's Disc ipl e (O Discpul o do Derunio),
460 : A. Essncia do Ibse nis mo. 4';9: lb-en, e.
459,460; Irvi ng. e. 455; John Bull Orh,., 1. , 1,,"d
(A Outra Ilha de John Buli ). 460; TI/(' MIlII oI
Dcstinv (O Homem do Destino). 459; Pi gma-
le o, 5 17; MI'.<. lI a rren 's l 'rofession (A Profis-
so da Sra . Warrcn ). 460; ll'ido\\'cr.' llouses
(Casas de Vivas ). 459
Shaw. Marti n, 470
Shclley. Percy, 429
Sheri dan, Richard Brinsley: Tlie School for Scun dal
(Escola do Esc ndalo), 515
Sherwood, Robert E.: ldiot 's Dclight (O Deleit e do
ldi ora) . 5 18
shimpu, 98-99
shingeki . 99. 102
Sh inran Shonin,
Shoioku Ia ishi. 7X
Shows me ncstri s, 51-1-
shows de vari edades. Chineses. 60
Sidney, Sir Phili l' : Apologiefor Poel l}'. 31 3
Sigi smun do III. 358
Si lj a. Anja . 5 10
s mbo los. 466 -475: Chins, 67 70; Indiano. 44: Ja-
76. 7X; cm ta:iy(;. 20; Veja co r
Simoni. R.. 4.16
Simonides. 194
Snlll nin . .152
Simonov. Ruben . 533
Simo\'. Victor. 462. 463
s illg"l'iel . 324.1.10
Sin uhc. 14, 16
Sisov,496
Sisto IV. 269
"kme. 114. 118. 1-'0; em Os An'a/lial/ os, 12-' ; c m As
N/m"'-,. 123; cm ti Paz, 118. 123; e m l 'I.<agem
dmAlma.' . 118; Romano, 155;scac/lIle(;o /ls. 148
Slcvogt. Max. 48R
Smirnoff. 23
Scr:lles. 118. 120, 1-'6; Arisll:lI1es. c, 12 1
SOCS1. " onrad \'on. 240
Sli>clcs. 1m. 109. I I-' . 114. 117. 118. 1-'0: Amgo
/1 1/. 4.12. 442: {',hi'o Rei . 287. 488, 495: I\ quil o.
e. 114; Eur ipides. e. l lO. l lJ ; A, Traq/lll i l/s, 110
Sfron. 1-'6
nd ice
So lari. Bonaventura. 40.1
Sulcri, Ferruccio. 526
So lt. Georg. 5.1 3
Somadevasuri : Nitivakvamrta, J7
Sonnenfels. Josef. 425
So nnenthal, Ado lf von, 44 6
Sorge, Rei nhard Johanncs: Der Bcttlcr (O Mendi-
go), 475. 47(,
Sorrna, Agues. 457 . 487
Soroba Kornachi : ,.Komachi 110 Sepulcro", 8 1. 8.1
Sotternieen , 257 . 26 1
.souic, 186.228.255-257
Southern, Richard, 2-'.1; 7111' Medi eval Theatre iII
lhe Round. 265
Spe ncer. John. 375. 376
Spcroni. Sperone: Canacc, 27.1
Spontini. 4.1.1 ; Olvntpia , 43:\
Ssu-ma Chicn, 54. 55: Regist ro Histrico, 54
Sta l, Anne Loui se Ge rmai ne de: De l 'Al lrmagnc.
431
Stanisl vski, 102. 355, 367, 44 9. 45 2. 453, 454 ,
455,457.462-466.471475,483,495.499.5.10;
Copeau. e. 480 : G rki , e, 367: Mcierhold. e, 496;
mtodo de. 46.1: Mi nha " ida li a A m '. 465: Oleio .
e. 46.1 ; Tch khov, e, 46.1: Willi ch. e. 304
Sleckd . Leonard. 5.13
Stce le, Richard: Tire Lvi ng Lo..cr I.O Amante 1\len-
riroso), .182
Stecn. Jan. .104
Stcin, Gertrudc: Doct or Faustus Light l he Lights
(Dr. Fausto Acende as Luzes). 520
Steinbeck, John : The MOIJIIIs J)0I1'1l (A Lua se Ps ).
5.14
Stcndhal. 4_1. 441. 45 1: I\l an zoni . e. 4.16: Raeill e
el Shak"JI'ea re, 4.16
Slcrn. Ernst. 476. 488
St.:rne. Laurcn<..':: SelJl;IJU'lJl lll J OUrI U'Y t" rou g"
Fra11Ct' mu I l tal y Sentimental
da Frana l' Ilh a), .' 8(,
Slernheim. Ca rl. 48 7: Der Saoh (O Esnobe). 47 5:
1913. 475
Slewar t. Ellen. 52 1
Sti fler: Hehhel. e. 441
Sliickel. Leonhard. 303
Slockhausen. Karlheinz. 529
Stuckwood, John , 3 17
Stoddard. Ric hard Henry. 5 15
Slolze. Gerhard. 510
Stortehcker. Klaus. 500, 50 I
Slowe. li arri el 13eech e r: {l ael e l i" n '.I' ('a " in (i\
Cahana do Pai TOIll,is). 5 16
Stramm. Aug. usl. 475; Scll1Cfa SUSClIJIW. 476
Sl ran lzky. Joscr Anto n. .1:';8. .165
Slrauss. Jultann . 5 16
Strauss. Richar d, 469. 481 . 4'14: A ri", l//<' (III!Naxo.'.
.1(, 7; ('a /, ric";o. 466
Stravi nski. lgor Fdorovich. 452. 4RI : Pct rnurhkn,
-t XI : Tire Rakr '.\ Progress (O Pr ogresso do
Far ri st a ). 53.1
Strehlcr. Giorgio. .15.1 . 511. 526 . 5.,4
Striggi n. Aless andro. .125
Strindbcrg. August, 99.453. 487
Stroux , Karl Heinz, 5 13, 530
St schukin. Bori s. 496
St ua rt , Maria, 270. 274. 3 12
Stubcnra uc h, Philipp von, 428
Stun une l. Christop h: Studentcs .100
Sturm 1I11l1 Drang, 382 . 412 , 41-' . 41 R. 427. 429.
430. Veja tambm Goe the
Sturm. Joh annes. 301
Su den na nn. 457
Sudo , Sadanori, 99
Su draka. 41
S ugi mori, No bumo ri. Veja Ch ik amatsu . Mon-
zacmo n
Sulerj tski. L. A. 465. 471
Sulze r, Joh ann Geor g. 400
SUn1ltnm, 98
Supp . Franz von, 516
Suroro. Noto, 5 1
Surrea lismo . 475-4X3
Sutri. 194
S\' oboda. Josef. 524
Swi ft. Jon ath an, 387
Swu hoda. Karl 1\1.. 234
SYIllOIlS, Art hur. -l9
T' a ng I bicn-tsu: () Pal'illrc1o tlll ,\" Pt'lrias. 6.1
Tci" . Tito. 141. 155
Tci to. Corndio. 400: AI/ ai s. 150
Tagli oni. Mari a. 43.1
Tagur e. Rabi ndra nath. 42. 44: Brcch t. c. 42: O Ci -
cio da Pr;llu n'era. 44 ; \Vilder. c. "'*2
l ,ll c. Je a n de la: C arl de la l ragt'die (A Anc da
Tr agdia), 272 . SmJlfuriellx (Sau1 I' ur ios,, ). 272
Taill c fcrr c. Ge rmainc. 481
-I;.ine. Hippol yle. 451. 453
Ta ro\' . Ale ksandr Jako\'lvit ch. 436 . 387, 495: Ges
l o de Emoo. 499; O'Neill, e, 520; () Telllro
D cwlCorrcll l ad o. 499
l ',keda. !zumo: K{//whedol/ Clz/lslzillgll ra . 98
Tallll a. Frano is J" seph. 395 . 41 R. 431: Rt'j7. 'xi oll s
.H/r Le Kain cI .\/1 1' l 'ar l lhMlm l (Rdlcxs so -
hr e L,' Kain e sobre a Artc Teal ral \. .195
Talllhll rl aine. 312
Ta rascon. 262
l ' ,r!cl on . Richard. 3 18
);lrq llnio. 155
To rquato. 2X-I. 355: Amillta, 281
Tauhc... Rich ard. 5 14
I;" crni,,r. Jean Bapt iste. 23
575
Taziy, Paixo, 19, 20, 23
Tchkhov, Anton, 457, 480; A Gaivota. 463, 465,
466; O Jardim das Cerejeiras, 463; As Trs Ir-
ms, 463, 538; 710 ViIlia, 463
Tchkhov, Michael, 463, 466
Te Deum, 172, 189, 191,203,232
Teatro de Arte de Moscou, 462-466
Teatro de Berlim, 420-424; Reinhardt no, 513
Teatro de bonecos, 87-90, 247, 377; bunraku, 75;
no Festival de Muharram. 20; Indiano, 38; off-
Broadway, 520, 521; em Pequim, 55; em
Szechuan, 55; Turco, 19-20, 28; em wayallg
golek, 47, Veja tambm teatro de sombras
Teatro de Crnera, 526
Teatro de mistrio, 11, 178, 194,222-228; Brecht
no, 505; Europias, 19, 20; Francs, 222, 223,
227; Ingls, 228-233
Teatro de Nova York, 513-522; Reinhardt no, 513
Teatro de Paris, Reinhardt, e, 513
Teatro de sombras, 19,28, chavanataku, 37: Chins,
55; Egpcio, 14; Indiano, 37, 38, 39,4 I, 42, 54;
Indonsio, 55, 80; Karagoz, 26, 28; Oriental, 14:
Turco, 25,44, 55, Veja tambm teatro wa)'a/lg
Teatro de Viena, 425-429; Reinhardt no, 513
Teatro de Weimar. 413-420
Teatro do diretor, 530-539
Teatro Elizabetano, O, 312-322,413
Teatro em crise, O, 521-523
teatro engajado, 494-513
Teatro pico, 504-510; Teatro dramtico, e, 505;
tcnicas do, 510-513
Teatro espanhol: Barroco, 367-374; Brecht, e, 505:
drama indiano, e, 42
Teatro Experimental, O, 519-521
Teatro francs, Barroco, 344-353
Teatro helenstico, o, 130-136
Teatro na Corte Bizantina, 0, 181, 182
Teatro na Igreja, Bizantino, 178-181
Teatro Nacional da Dinamarca, 396-397
Teatro Nacional, 395-404
Teatro n, 38, 66, 75, 81-87; esttica do, 91; kvogcn.
e, 87, 91; tragdia grega, e, 83, 84
Teatro Poltico, 499-504
Teatro popular, barroco, 353-367
TEATRO PI{[MITIVO, 0,1-6
Teatro russo, 378, 403, 436, 440, 462-466, 494-499;
teatro poltico, 499-504; Reinhardt, e, 513
Teatro suco, 403
Teatro tcheco, 403
televiso, 526-527; filme, 526
Tllez, Gabriel. Veja Tirso de Molina
Temcrito. 114
Tenji,78
Tecrito, 137,281
Teodora, 177
Teodorico, o Grande, li>I
576
Histriu Aflll1dial do Tco t ro
Teodoro, Mnlio, 161
Teodoro, o Erudito, So, 181
Teodsio II. 178
Telilo, 208
Terncio, 129, 144-150, 161, 175,270,271, 278,
300,303,344; Adelphi (Os Adelfos), 147, 148,
150,270,276,347; Andria (ndria), 147,276:
concepes humanistas de palco de, 266; EIlIIlI-
chus (O Eunuco), 147, 276; Heautontimoru-
mel/Os (Aquele que Castiga a si Prprio), [47;
Hecyra (Hecira), 147, 150; Hrotsvitha, c, 199;
Mcnandro, c, 129, 147, 175; Molicre, 347, 349;
Phormio (Fermio), 147; Pio 11, e, 278; Plauto,
c, 144, 147, 150, 161, 175; Poenulus (O Jovem
Cartagins) 271
Tcrry, Ellen, 459, 470
Terry, Megan: ViI'I Rock, 521
Tertuliano: De spectaculis, 167
Terwin, Johanna, 492
Teschncr, R., 47
Tspis, 104, 105, 107
Tessalo, 130
Tevfik, Mustaf, 28
Thackeray, William Makcpeacc. 451
theter [ranais, 413
theatcr in the round, medieval. 228-233
thtre italien, 408
Thtre Libre (Teatro Livre), 452-457, 466
Thcganus, 242
Thvenot, 23
Thiencn, Frithjof van, 400
Thierry, Joseph, 433
Thiersch, Friedrich, 442
Thimig, Hclene, 492
Thimig, Hugo, 446
Thoma. Ludlwig, 492
Thomson, James, 429
TIago de Kokkinobaphos, ln
Tibrio, 164
Ticiano, 278
Tieck Ludwig, 367,429,431, 432; Der gl'sljelle
Katcr (O Gato de Botas), 430, 510: Prn:
Zerbino (O Prncipe Zerbino), 388, 430, 431
Tilney, Edmund, 317
Timoclcs, 124
Tirol, 248, 252
Tirso de Molina, 148, 370; EI Burlador Sevilla (O
Burlador de Sevilha), 370; DOII Gil de las coiras
verdes (Dom Gil dos Cales Verdes), -'70: Lopc
de Vega, c, 369, 370
Tito, 155
Toffanin, G" 278
Tjur, Veja Sakata, Tjurf>
Toller, Ernst: H0l'l'la, II'ir lebm (Oha' Estamos Vi-
vos'), 501; Di" \Val/dllllll( (A Transfigurao),
476
l1di{'c
Tolsti. Alexei Konstantinovich: Ctar Fiodor
lvanovich. 462, 463
Tolsti, Leon, 441, 451, 453, 462
Torelli, Giacomo, 335, 345
Torres Naharro: Tinelaria, 278, 280
Toscanini, Arturo, 494
Toulouse-Lautrec, 499
Tragdia humanista, 272-276
tragdia, 344-353, 374, 470; antes de squilo, 105,
107; descrio de, 110; etimologia de, 105: Gre-
ga, 104-118
tragdic classiquc (tragdia clssica), 344-353, 374
Trajano, 154, 155
Tree, Herbert Beerbohm, 442, 459, 538
Treitinger, O" 182
Trcplev, Konstantin, 466
Tretiakov, Sergei, 4fi2; Berra, China. 495; Terra Rc-
volta. 495
Treu, Michael Daniel, 377
Trissino. Giovanni: Arte Potica, 273: .. Sofonisbo,
273,274
Troiano, Massimo. 357
Trtski, 500
Tsubouchi, Shoyo: Kiri Hito Ha, 102
Turguniev, Aleksandr lvanovich, 453
T'1,io, Lcio Ambivius, 150
Turquia, 23-2S, 334, 335
Tutilo, 189; Hodie Cantandus, 233
Tyler. Royall: The Contrast (O Contraste), 514,
515
Uemura, Bunrakuken, 90
Uhlich,407
Unruh, Fritz von: Ein Gescltlccht (Uma Gcrao i.
475
Upion. Robert, 514
Urbano IV, 20S
Utrillo. Maurice. 481
Utzon. Jorn. 522, 523
Vakhtngov, Evg( u)eni, 466, 494, 495, 4<)6,51 1,51,1
Valentin, Veit, 330
Valry, Paul Ambroise, 466
Valle, Pictro della: viaggi, 2S
Varangos. 1Xl
Vardac, Nicholas, 523
Vasari, Giorgio, 284
Vaticano, 1<)5, 2(,I, 269, 271
Vedas, os quatro, 3,1, 38
Vdico: religio, 29. 32: histrias, 39, 41
Vclten. Iohannes: "Clwr-Siichsische KOIlldillflt('I/",
377
Vendi'''lle, Duque Lle, 330, -'-'4
Vcrardi. CarIo: Historia 1311l'tinl. 272
Verdi, Giuseppe: Aida, 445
Verolano, Sulpcio. 270, 271, 284
Verona, Bartolomeo, 423
Vespasiano, 155, 157, 163
Vespucci, Simonetta, 281
Vicente, Gil: AlIlo da Fama, 28,1
Vidal, Paul Antonin, 453
Vignali, Antonio, 276
Vignola, Giacomo da, 151, 291; Le due regale .trlla
prospettiva pratica, 287
Vilar, Jean, 469, 480, 533
Virglio, 151, 240, 280
Visconti, Galeazzo, 293
Visconti, Luchino: Ossessione (Obsesso), 533; La
terra trema (A Terra Treme), 533
Visschcr, Comelis, 318
Vitalis, Ordericus, 247
Vitrac, Roger: Victor; Oli Les Enfants nu pouvoir
(Victor, ou As Crianas no Poder), 469
Vitruvius Pollio, Marcus (Vitrvio), 114, 150,272,
284, 287, 324; De Architectura. 270, 284
Vogclweidc, Walther von der, 242
Vollmoller, Karl: Milagre, 488, 492
Voltaire, 344, 346, 392, 427; Brutus, 386, 395;
Candide, 517: Catarina II, e, 403; L'Enfant
prodigue (O Filho Prdigo), 386: Goethe, e, 388,
418; Irene, 388: Lessing, c, 408, 411; Matiomet.
38S, 418; L'Urplielin de la Chine (O rfo da
China), 63, 386: La Princessc de Navurrc (A
Princesa de Navarra), 388; Tancredc, 418
Vondcl, Joost van dcn, 376-377: Gvsbrecht va/1
Actnstel, 376, 400
Vosslcr. Karl. 186, 346, 368
Wackcnroder, Wilhelm, 429
Wagner, Richard, 445, 457, 470, 481: .-\IIe! dos
Nibelungos, O, 470: Meistersingcr, 308: Parsi-
[al, 445, 470; Das Rheingold (O Ouro do Reno),
470; Tannluiuser, 441; Trisuio e Isolda. 470
Wagner, Wieland. 427, 470
Wakhcvitch, 155
Walbrun, 195
Waldcn, Herwarth, 476
Walser, Martin: Dic Zimmerschlacht (A Batalha de
Almofadas), 527
Walter. Bruno, 494
Waltcrlin, Oskar, 470, 533, 534
\Vang Shih-fu: Romance da Cmara Ocidrntal, 63
Wang, Jt?I1S, 454
Washington, George, 514
Watteau, Jean Antoine, 358
lI'uyallg. 29, 44-51: teatro de bonecos Illcdit.\'aL e,
247
Weher, Carl Maria von, 425, 433: Frnlcluir; 10
Franeo Atirador), 433
577
NO PALCO DA PERSPECTIVA
Wedekind, Frank. 487
Wegener, Paul. 487. 488
Wei Liang-Iu, 66; Quatro Sonhos da Sala Yu-Ming,
66
Weichert. Richard, 476
Weigel, Helene, 507
Weill, Kurt, 507; SIrcet Scenc (Cena de Rua), 517
Weise, Christian: Biiuerischer Macchiovellus, 379
Weiss, Peter: Dic Ermiulung (A Investigao), 504,
530; Die verjolgung und Ermordung Jean Paul
Marats, dargeslelll durch die Schauspielgruppc
des Hospizes ZII Charenton unter Anleitung des
Herrn de Sade (A Perseguio e o Assassinato
de Jean Paul Marat Representada pelo Grupo de
Atores do Hospcio de Charenton sob a Direo
do Marqus de Sade), 511,526; vietnam Repor!
(Relatrio do Vietn), 504
Wekwerth,526
Welk, Ehm: Gewitter uber Gotland (Temporal so-
bre Gotland). 500
Welles, Orson, 496
Werner, Zacharias: Der vierundiwanrigstc Februar
(O 24 de Fevereiro), 43 I
Wesker, Arnold: Chicken SOllP with Barlev (Canja
com Cevada). 460: Thc Kitchen (A Cozinha), 460
Wetschel. 357
Weyden, Roger van der, 240
White, Thomas, 317
Whitman, Walt. 516: no teatro de Nova York, 515
Wickharn, Glynne, 211, 231
Wickram, Jrg: Tobias, 303
Wiclif, John, 265
Wicland, Christop Martin. 412; Ladv Iohanna Grav,
388
Wiene, Robert: Dos Kabinett des DI: Coligar! (O
Gabinete do Dr. Caligari), 483, 524
578
Hst r a Mlllulia{ do Te u t r o .
Wilbur, Richard, 517
Wilde, Oscar: O L<'4I1e de Ladv !Findermere. 73
Wilder, Thornton: Brccht, e. 42, 511, 513; 77le Skin
of our Teeth (Por um triz), 266, 511; Tagorc, e,
42; teatro asitico, e, 54: Our Town (Nossa Ci-
dade),511
Wildeshausen, Heinrich der Bogcner, 196
Wildgans, Anton: Dies irae, 475
Wilhelm, Leopold. 376
Williams, Tcnnessce. 63, 460; 711eGlass Menageric
( Margem da Vida), 519; A Stretcar Named
Desire (Um Bonde Chamado Desejo), 519, 524,
533
Williams, William Carlos: Mail)' LOI'es (Muitos
Amores), 520
Willich, Jodocus, 300; Liber de prononciatione
rhetorica, 304
Wilpert, G. von, 440
Wimpheling, Jakob: Stvlplio, 300
Winckelmann, JohannJoachim, 416
Wisocka, S., 466
Witkiewicz, S. 1.: Der Schrank (O Armrio), 533
wur, Jan de, 318
Wolfe, Thomas, 520
Wolff, Theodor, 459
Wlfllin, Heinrich. 323
Wolter, Charlotte, 446
Wordsworth, William. 429
Wouk, Herman: Tlic Caine Mutinv Court Martial
(O Motim do Caine), 504
Wren, Christopher..,88
Wu-ti, 55, 58
Wllner, Ludwig. 449
Zeami, 38, 81-83. 87
COLEO DEBATES
A Tragdia Grega - Alhin Lesky
Maiakovski e o Teatro de vanguanla - Angclo
Maria Ripellino
Sctniologia do Teatro - J. Guinsburg, J. Teixeira
Coelho Neto e Reni Chaves Cardoso (Orgs.)
Teatro Moderno - Anatol Rosenfcld
O Teatro Ontem c Hoje - Clia Bcrreuini
O Teatro pico - Anatol Rosenfcld
O Teatro Brasileiro Modema - Dcio de Almeida
Prado
A Arte do Alar - Richard Bolexlavski
Para Trs e para Frente: UIII Guia para Leitura
de Peas l/Irais - David Ball
COLEO ESTUDOS
Joo Caetano - Dcio de Almeida Prado
Mestres do Teatro I - John Gassner
Mestres do Teatro 1I- John Gassner
Artand e o l/Iro - Alain Vinnaux
Improvisao para o Teatro - I'iola Spolin
Teatro: Leste & Oeste - Leonard C. Pronko
Uma Atriz: Coei Ida Bcckrr - Nanci Fernandes e
Maria Thcreza Vargas (Orgs.)
TBC: Crnico de 1II1l SOI//to - Alberto Guzik
() 7('.\10 IlIJ Teatro - Sbato 1\1agaldi
O Alor 1/0 Sculo XX - Odctte Aslan
Zcami: Cena e Pcnsanicnt o N - Sakae M.
Giroux
O Tniquc e a A11110 - Angclo Maria Ripcllino
Falando de S/takespmu' - Brbara I1eliooora
Moderna Draniaturgia Brasileira - Sbato
Magaldi
COLEO ELOS
A Idia do Teatro - Jos Ortega y Gasset
COLEO TEXTOS
Marta, a rl'Ore e o Relgio - Jorge Andrade
O Dibuk - Seh. An-Ski
Leal/c de Sonuni: Um Judeu 1/0 Teatro tia Rc-
I/ascel/o Italiana - J. Guinsburg (Org.)
Urgncia e Ruptura - Consuclo de Castro
Pirandcllo: do Teatro 1/0 Teatro - J. Guinsburg
(Org.)
Canctti: O Teatro Tcrrivcl > Elias Caneui
COLEO SIGNOS
VIII Encenador de Si Mesmo: Gcrald Thomas -
J. Guinsburg c Silvia Fernandes (Orgs.)
Trs Tragdias Gregas - Guilhcrme de Almcida
e Trajano Vieira
COLEO PERSPECTIVAS
Eleonora Ouse: I'ida c Arte - Giovanni Ponticro
Linguagem e vida - Antonin Artaud
LIVROS SEM COLEO
A Histria Mundial tio Teatro - Margot Bcrthold
O Jogo Teatral no Livro do Dirctor>Viola Spolin
Dicionrio de '[('UfrO - Patricc Pavis
Вам также может понравиться
- TAP sua cena & sua sombra: O teatro de amadores de Pernambuco (1941-1991) - Volume 1От EverandTAP sua cena & sua sombra: O teatro de amadores de Pernambuco (1941-1991) - Volume 1Оценок пока нет
- GASSNER, John - Mestres Do Teatro IДокумент418 страницGASSNER, John - Mestres Do Teatro ICristian Pio Avila100% (5)
- O Teatro Épico (Completo) - Anatol RosenfeldДокумент166 страницO Teatro Épico (Completo) - Anatol RosenfeldVinícius Máximo100% (7)
- Silvia Fernandes - Teatralidades ContemporâneasДокумент284 страницыSilvia Fernandes - Teatralidades ContemporâneasAguinaldo FlorОценок пока нет
- FARIA, João Roberto (Dir) - História Do Teatro Brasileiro IДокумент502 страницыFARIA, João Roberto (Dir) - História Do Teatro Brasileiro IFrancisco Leocádio83% (6)
- Teatro Épico - Bertolt BrechtДокумент5 страницTeatro Épico - Bertolt Brechtwagnerboamorte61600% (1)
- Jogos Teatrais - Viola Spolin PDFДокумент313 страницJogos Teatrais - Viola Spolin PDFEubill86100% (5)
- Oida, Yoshi - O Ator InvisívelДокумент90 страницOida, Yoshi - O Ator InvisívelSaci Lemâitre100% (9)
- Improvisação para o Teatro - Viola SpolinДокумент190 страницImprovisação para o Teatro - Viola SpolinLidiane Angelo100% (7)
- DESGRANGES, Flávio - A Pedagogia Do Teatro - Provocação e DialogismoДокумент90 страницDESGRANGES, Flávio - A Pedagogia Do Teatro - Provocação e DialogismoMateusSchimith100% (7)
- Dicionario TeatroДокумент312 страницDicionario TeatroJoelson Senger100% (1)
- Jean-Pierre Sarrazac - A Invenção Da TeatralidadeДокумент51 страницаJean-Pierre Sarrazac - A Invenção Da TeatralidadeRaquel Zepka100% (1)
- BOGART, Anne - A Preparação Do Diretor PDFДокумент77 страницBOGART, Anne - A Preparação Do Diretor PDFMarina Milito100% (3)
- A Arte de Não Interpretar Como Poesia Corpórea Do Ator - Renato FerraciniДокумент272 страницыA Arte de Não Interpretar Como Poesia Corpórea Do Ator - Renato FerraciniTitosantis100% (3)
- FERNANDES, Sílvia - Teatralidades ContemporâneasДокумент216 страницFERNANDES, Sílvia - Teatralidades Contemporâneasvicente latorre100% (1)
- Antonin Artaud - O Teatro e Seu DuploДокумент166 страницAntonin Artaud - O Teatro e Seu DuploMarina Milito100% (6)
- O Pós Dramático - Um Conceito OperativoДокумент10 страницO Pós Dramático - Um Conceito OperativoJorge Alessandro0% (3)
- PAVIS, Patrice - A Encenação ContemporâneaДокумент229 страницPAVIS, Patrice - A Encenação Contemporâneavicente latorre86% (7)
- COSTA, Iná Camargo. A Hora Do Teatro Épico No BrasilДокумент240 страницCOSTA, Iná Camargo. A Hora Do Teatro Épico No BrasilgiovannazamithОценок пока нет
- O Amor de Fedra - Sarah KaneДокумент39 страницO Amor de Fedra - Sarah KaneGustavo Lemos100% (1)
- Teatro Do Absurdo - 2012 PDFДокумент29 страницTeatro Do Absurdo - 2012 PDFKeyty Medeiros100% (5)
- COURTNEY, RIchard - Jogo Teatro e PensamentoДокумент161 страницаCOURTNEY, RIchard - Jogo Teatro e PensamentoMiguel Brasil100% (4)
- Constantin Stanislavski - O Trabalho Do Ator, Diário de Um AlunoДокумент379 страницConstantin Stanislavski - O Trabalho Do Ator, Diário de Um AlunoDurval Cristovao100% (3)
- BARBA, Eugenio - Queimar A Casa - Origens de Um DiretorДокумент149 страницBARBA, Eugenio - Queimar A Casa - Origens de Um DiretorJosiRouse100% (3)
- O Teatro e Seu Espaco - Peter BrookДокумент83 страницыO Teatro e Seu Espaco - Peter BrookMaria Clara100% (2)
- Stanisláviski e o trabalho do ator sobre si mesmoОт EverandStanisláviski e o trabalho do ator sobre si mesmoРейтинг: 3 из 5 звезд3/5 (2)
- O Ritual do Ator em Grupo: Treinamento de Atores como Cultura ColetivaОт EverandO Ritual do Ator em Grupo: Treinamento de Atores como Cultura ColetivaОценок пока нет
- O Diretor Dramaturgo: Relações Comunicativas no Processo de Criação TeatralОт EverandO Diretor Dramaturgo: Relações Comunicativas no Processo de Criação TeatralОценок пока нет
- Interfaces entre Cena Teatral e Pedagogia: A Percepção Sensorial na Formação do Espectador-Artista-ProfessorОт EverandInterfaces entre Cena Teatral e Pedagogia: A Percepção Sensorial na Formação do Espectador-Artista-ProfessorОценок пока нет
- O poder do ator: A Técnica Chubbuck em 12 etapas: do roteiro à interpretação viva, real e dinâmicaОт EverandO poder do ator: A Técnica Chubbuck em 12 etapas: do roteiro à interpretação viva, real e dinâmicaРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (2)
- O bufão e suas artes: Artesania, disfunção e soberaniaОт EverandO bufão e suas artes: Artesania, disfunção e soberaniaОценок пока нет
- O Ator-Compositor: As Ações Físicas como Eixo: De Stanislávski a BarbaОт EverandO Ator-Compositor: As Ações Físicas como Eixo: De Stanislávski a BarbaРейтинг: 1 из 5 звезд1/5 (1)
- Grotowski e a estrutura-espontaneidade do ator-criador: Encontros e travessiasОт EverandGrotowski e a estrutura-espontaneidade do ator-criador: Encontros e travessiasОценок пока нет
- Linhagens e noções fundamentais de improvisação teatral no Brasil: Leituras em Boal e BurnierОт EverandLinhagens e noções fundamentais de improvisação teatral no Brasil: Leituras em Boal e BurnierОценок пока нет
- Além da Commedia Dell´árte: A Aventura em um Barracão de MáscarasОт EverandAlém da Commedia Dell´árte: A Aventura em um Barracão de MáscarasОценок пока нет
- Para que esse Drama?: Pedagogia do Teatro e Transversalidade na Formação de ProfessoresОт EverandPara que esse Drama?: Pedagogia do Teatro e Transversalidade na Formação de ProfessoresОценок пока нет
- Sobre dramaturgia(s) para teatro(s) de rua: procedimentos de criação no contexto das políticas culturais brasileirasОт EverandSobre dramaturgia(s) para teatro(s) de rua: procedimentos de criação no contexto das políticas culturais brasileirasОценок пока нет
- Educação somática e artes cênicas: Princípios e aplicaçõesОт EverandEducação somática e artes cênicas: Princípios e aplicaçõesОценок пока нет
- Sulerjitski: mestre de teatro, mestre de vidaОт EverandSulerjitski: mestre de teatro, mestre de vidaОценок пока нет
- Teatro e Formação de Espectadores: Uma Proposta de Programa EducativoОт EverandTeatro e Formação de Espectadores: Uma Proposta de Programa EducativoРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- O Uso dos jogos teatrais na educação: Possibilidades diante do fracasso escolarОт EverandO Uso dos jogos teatrais na educação: Possibilidades diante do fracasso escolarРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Artes Cênicas e Decolonialidade: Conceitos, Fundamentos, Pedagogias e PráticasОт EverandArtes Cênicas e Decolonialidade: Conceitos, Fundamentos, Pedagogias e PráticasОценок пока нет
- TRAVESSIAS: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DO ATOR-DANÇARINO COM O BUTOHОт EverandTRAVESSIAS: PROCESSOS DE APRENDIZAGEM DO ATOR-DANÇARINO COM O BUTOHОценок пока нет
- TAP sua cena & sua sombra: O teatro de amadores de Pernambuco (1941-1991) - Volume 2От EverandTAP sua cena & sua sombra: O teatro de amadores de Pernambuco (1941-1991) - Volume 2Оценок пока нет
- Acusacoes de Racismo Na Capital Da RepublicaДокумент546 страницAcusacoes de Racismo Na Capital Da RepublicaFábio BeckertОценок пока нет
- Anais Segunda As 18hДокумент428 страницAnais Segunda As 18hFábio BeckertОценок пока нет
- Latihan Bahasa Melayu Kertas 1 UPSRДокумент7 страницLatihan Bahasa Melayu Kertas 1 UPSRshahruddin Bin Subari89% (53)
- Material PatacoadaДокумент5 страницMaterial PatacoadaFábio BeckertОценок пока нет
- Vampiro A Mascara - Guia Do Jogador PDFДокумент210 страницVampiro A Mascara - Guia Do Jogador PDFFernando Benzecri100% (1)
- PARECE QUE FOI ONTEM (Versão para Impressão)Документ25 страницPARECE QUE FOI ONTEM (Versão para Impressão)Fábio BeckertОценок пока нет
- Pierrot e Arlequim - Almada NegreirosДокумент23 страницыPierrot e Arlequim - Almada NegreirosFábio BeckertОценок пока нет
- Tese Lenita BentesДокумент207 страницTese Lenita BentesShirleyОценок пока нет
- Passeio Noturno Rubem FonsecaДокумент3 страницыPasseio Noturno Rubem FonsecaDanielle MoraisОценок пока нет
- Livro - A Educadora Emile CollignonДокумент216 страницLivro - A Educadora Emile CollignonJúlio Rodrigues JúniorОценок пока нет
- 2 - Análise e Interpretação Do Certificado de Calibração - Incerteza de Medição - Portal ActionДокумент19 страниц2 - Análise e Interpretação Do Certificado de Calibração - Incerteza de Medição - Portal ActionAri CleciusОценок пока нет
- Matriz AnsoffДокумент2 страницыMatriz AnsoffRafael Lopes SantosОценок пока нет
- Os 10 Melhores Poemas de Manuel BandeiraДокумент5 страницOs 10 Melhores Poemas de Manuel BandeiraThayane MaytcheleОценок пока нет
- Miolo - Irene MandalasДокумент24 страницыMiolo - Irene MandalasMonika De Oliveira Cabral100% (1)
- A Reencarnação No EvangelhoДокумент171 страницаA Reencarnação No EvangelhoRobson Rufino100% (1)
- ListadeExercicios Unidade9Документ130 страницListadeExercicios Unidade9Marilza SousaОценок пока нет
- O Sapateiro, A Anatomia de Um Psicótico - Resenha de Giselle Sato Revista SAMIZDATДокумент5 страницO Sapateiro, A Anatomia de Um Psicótico - Resenha de Giselle Sato Revista SAMIZDATsupernutritivoОценок пока нет
- Classic AДокумент19 страницClassic AADERITOОценок пока нет
- PTI Anhanguera e UnoparДокумент15 страницPTI Anhanguera e UnoparRenato Cavalcante100% (3)
- AbsolutismoДокумент4 страницыAbsolutismoRenata SantosОценок пока нет
- Ansiedade e YogaДокумент8 страницAnsiedade e YogaJoce AlmeidaОценок пока нет
- Jean-Paul Sartre - As MoscasДокумент137 страницJean-Paul Sartre - As MoscasMiguel Luiz Ferreira100% (3)
- Política Criminal e Direito Penal - Prof. Dr. Juarez Cirino Dos SantosДокумент22 страницыPolítica Criminal e Direito Penal - Prof. Dr. Juarez Cirino Dos SantosLucas Vaz100% (1)
- Capelania HospitalarДокумент43 страницыCapelania HospitalarPedro FerrariОценок пока нет
- Prova de Filosofia Da Linguagem ProntaДокумент3 страницыProva de Filosofia Da Linguagem ProntaFernando DannerОценок пока нет
- Os Fins e Os Meios - Que Ética para A Vida Humana. - Google FormsДокумент4 страницыOs Fins e Os Meios - Que Ética para A Vida Humana. - Google FormsElizabete VidalОценок пока нет
- PontuaçãoДокумент63 страницыPontuaçãoMateus Ornellas FerrariОценок пока нет
- Tese Universitária Sobre o Livre-ArbítrioДокумент113 страницTese Universitária Sobre o Livre-Arbítrioal29491Оценок пока нет
- Saga Das Ilhas Brilhantes 1 - O Filho de Thor - Juliet Marillier PDFДокумент230 страницSaga Das Ilhas Brilhantes 1 - O Filho de Thor - Juliet Marillier PDFChane SantosОценок пока нет
- Esquema Evolutivo Da AprendizagemДокумент31 страницаEsquema Evolutivo Da AprendizagemAna Cristina VendraminОценок пока нет
- Fichamento. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. AuditoriaДокумент2 страницыFichamento. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. AuditoriaBrucelee2013100% (1)
- Poemas de Herberto HelderДокумент13 страницPoemas de Herberto HelderRui SousaОценок пока нет
- Amor de PerdiçãoДокумент9 страницAmor de PerdiçãoMarlene SantosОценок пока нет
- O OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Документ4 страницыO OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Resigno Lucas Fortuna NetoОценок пока нет
- O Caminho para A FelicidadeДокумент16 страницO Caminho para A FelicidadeMaitsudá MatosОценок пока нет
- DISSERTAДокумент10 страницDISSERTAEdvan TorresОценок пока нет
- Processos Circulares - Kay PranisДокумент25 страницProcessos Circulares - Kay Pranispalasathena91% (22)