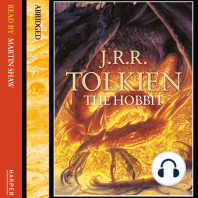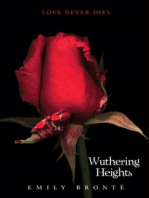Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Durkheim - As Formas Elementares Da Vida Religiosa - Excerto
Загружено:
Gladston CunhaАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Durkheim - As Formas Elementares Da Vida Religiosa - Excerto
Загружено:
Gladston CunhaАвторское право:
Доступные форматы
1 AS FORMAS ELEMENTARES DA VIDA RELIGIOSA mile Durkhein INTRODUO OBJETO DA PESQUISA - Sociologia religiosa e teoria do conhecimento.
Propomo-nos estudar neste livro a religio mais primitiva e mais simples atualmente conhecida, fazer sua anlise e tentar sua explicao. Dizemos de um sistema religioso que ele o mais primitivo que nos dado observar, quando preenche as duas condies seguintes: em primeiro lugar, que se encontre em sociedades cuja organizao no ultrapassada por nenhuma outra em simplicidade1; preciso, alm disso, que seja possvel explic-lo sem fazer intervir nenhum elemento tomado de uma religio anterior. Faremos o esforo de descrever a economia desse sistema com a exatido e a fidelidade de um etngrafo ou de um historiador. Mas nossa tarefa no se limitar a isso. A sociologia coloca-se problemas diferentes daqueles da histria ou da etnografia. Ela no busca conhecer as formas extintas da civilizao com o nico objetivo de conheclas e reconstitu-ias. Como toda cincia positiva, tem por objeto, acima de tudo, explicar uma realidade atual, prxima de ns, capaz, portanto de afetar nossas idias e nossos atos: essa realidade o homem e, mais especialmente, o homem de hoje, pois estudaremos a religio arcaica que iremos abordar, pelo simples prazer de contar suas extravagncias e singularidades. Se a tomamos como objeto de nossa pesquisa que nos pareceu mais apta que outra qualquer para fazer entender a natureza religiosa do homem, isto , para nos revelar um aspecto essencial e permanente da humanidade. Mas essa proposio no deixa de provocar fortes objees. Considera-se estranho que, para chegar a conhecer a humanidade presente, seja preciso comear por afastar-se dela e transportar-se aos comeos da histria. Essa maneira de proceder afigura-se como particularmente paradoxal na questo que nos ocupa. De fato, costumam-se atribuir s religies um valor e uma dignidade desiguais; diz-se, geralmente, que nem todas contm a mesma parte de verdade. Parece, pois, que no se pode comparar as formas mais elevadas do pensamento religioso, com as mais inferiores sem rebaixar as primeiras ao nvel das segundas. Admitir que os cultos grosseiros das tribos australianas podem ajudar-nos a compreender o cristianismo, por exemplo, no supor que este procede da mesma mentalidade, ou seja, que feito das mesmas supersties e repousa sobre os mesmos erros? Eis a como a importncia terica algumas vezes atribuda s religies primitivas pde passar por ndice de uma irreligiosidade sistemtica que, ao prejulgar os resultados da pesquisa, os viciava de antemo. No cabe examinar aqui se houve realmente estudiosos que mereceram essa crtica e que fizeram da histria e da etnografia religiosa uma mquina de guerra contra a religio. Em todo caso, esse no poderia ser o ponto de vista de um socilogo. Com efeito, um postulado essencial da sociologia que uma instituio humana no pode repousar sobre o erro e a mentira, caso contrrio no pode durar. Se no estivesse fundada na natureza das coisas, ela teria encontrado nas coisas resistncias insuperveis. Assim, quando abordamos o estudo das religies primitivas com a certeza de que elas pertencem ao real e o exprimem; veremos esse princpio retomar a todo momento ao longo das anlises e das discusses a.seguir, e o que censuraremos nas escolas das quais nos separamos precisamente hav-lo desconhecido. Certamente, quando se considera apenas a letra das frmulas, essas crenas e prticas religiosas parecem, s vezes, desconcertantes, e podemos ser tentados a atribu-Ias a uma espcie de aberrao intrnseca. Mas, debaixo do smbolo, preciso saber atingir a realidade que ele figura e lhe d sua significao verdadeira. Os ritos mais brbaros ou os mais extravagantes, os
2 mitos mais estranhos traduzem alguma necessidade humana, algum aspecto da vida, seja individual ou social. As razes que o fiel concede a si prprio para justific-los podem ser - e muitas vezes, de fato, so - errneas; mas as razes verdadeiras no deixam de existir; compete cincia descobri-las. No fundo, portanto, no h religies falsas. Todas so verdadeiras a seu modo: todas correspondem, ainda que de maneiras diferentes, a condies dadas da existncia humana. Certamente no impossvel disp-las segundo uma ordem hierrquica. Umas podem ser superiores a outras, no sentido de empregarem funes mentais mais elevadas, de serem mais ricas em idias e em sentimentos, de nelas haver mais conceitos, menos sensaes e imagens, e de sua sistematizao ser mais elaborada. Mas, por reais que sejam essa complexidade maior e essa mais alta idealidade, elas no so suficientes para classificar as religies correspondentes em gneros separados. Todas so igualmente religies, como todos os seres vivos so igualmente vivos, dos mais humildes plastdios ao homem. Portanto, se nos dirigimos s religies primitivas, no com a idia de depreciar a religio de uma maneira geral; pois essas religies no so menos respeitveis que as outras; desempenham o mesmo papel; dependem das mesmas causas; portanto, podem servir muito bem para manifestar a natureza da vida religiosa e,conseqentemente, para resolver o problema que desejamos tratar. Mas por que conceder-lhes uma espcie de prerrogativa? Por que. escolh-las de preferncia a todas as demais como objeto de nosso estudo? Isso se deve unicamente a razes de mtodo. Em primeiro lugar, no podemos chegar a compreender as religies mais recentes a no ser acompanhando na histria a maneira como elas progressivamente se compuseram. A histria, com efeito, o nico mtodo de anlise explicativa que possvel aplicar-lhes. S ela nos permite decompor uma instituio em seus elementos constitutivos, uma vez que nos mostra esses elementos nascendo no tempo uns aps os outros. Por outro lado, ao situar cada um deles no conjunto de circunstncias em que se originou, ela nos proporciona o nico meio capaz de determinar s causas que o suscitaram. Toda vez, portanto, que empreendemos explicar uma coisa humana, tomada num momento determinado do tempo - quer se trate de uma crena religiosa, de uma regra moral, de um preceito jurdico, de uma tcnica esttica, ou de um regime econmico -, preciso comear por remontar sua forma mais simples e primitiva, procurar explicar os caracteres atravs dos quais ela se define nesse perodo de sua existncia, fazendo ver, depois, de que maneira ela gradativamente se desenvolveu e complicou, de que maneira tomou-se o que no momento considerado. Ora, concebe-se sem dificuldade a importncia, para essa srie de explicaes progressivas, da determinao do ponto de partida do qual elas dependem. Era um princpio cartesiano que, no encadeamento das verdades cientficas, o primeiro elo desempenha um papel preponderante. Claro que no se trata de colocar na base da cincia das religies uma noo elaborada maneira cartesiana, isto , um conceito lgico, um puro possvel, construdo pelas foras do esprito. O que devemos encontrar uma realidade concreta que s a observao histrica e etnogrfica capaz de nos revelar. Mas, embora essa concepo fundamental deva ser obtida por procedimentos diferentes, continua sendo verdadeiro que ela chamada a ter uma influncia considervel sobre toda a srie de proposies que a cincia estabelece. A evoluo biolgica foi concebida de forma completamente diferente a partir do momento em que se soube da existncia de seres monocelulares. Assim tambm, o detalhe dos fatos religiosos explicado diferentemente, conforme se ponha na origem da evoluo o naturismo, o animismo ou alguma outra forma religiosa. Mesmo os estudiosos mais especializados, se no pretendem limitar-se a uma tarefa de pura erudio, se desejam explicar os fatos que analisam, so obrigados a escolher uma dessas hipteses e nela se
3 inspirar. Queiram ou no, as questes que eles se colocam adquirem necessariamente a seguinte forma: de que maneira o naturismo ou o animismo foram determinados a adotar, aqui ou acol, tal aspecto particular, a enriquecer-se ou a empobrecer-se deste ou daquele modo? Uma vez que no se pode evitar tomar um partido sobre esse problema inicial, e uma vez que a soluo que lhe dada est destinada a afetar o conjunto da cincia, convm abord-lo frontalmente. o que nos propomos fazer. Alis, inclusive sem considerar essas repercusses indiretas, o estudo das religies primitivas tem, por si mesmo, um interesse imediato que de primeira importncia. Se, de fato, til saber em que consiste esta ou aquela religio particular, importa ainda mais examinar o que a religio de uma maneira geral. o problema que, em todas as pocas, tentou a curiosidade dos filsofos, e no sem razo, pois ele interessa humanidade inteira. Infelizmente, o mtodo que eles costumam empregar para resolv-lo puramente dialtico: limitam-se a analisar a idia que fazem da religio, quando muito ilustrando os resultados dessa anlise com exemplos tomados das religies que realizam melhor seu ideal. Mas, se esse mtodo deve ser abandonado, o problema permanece de p e o grande servio que a filosofia prestou foi impedir que ele fosse prescrito pelo desdm dos eruditos. Ora, tal problema pode ser retomado por outras vias. Como todas as religies so comparveis, e como todas so espcies de um mesmo gnero, h necessariamente elementos essenciais que lhes so comuns. Com isso, no nos referimos simplesmente aos caracteres exteriores e visveis que todas apresentam igualmente e que lhes permitem dar, desde o incio da pesquisa, uma definio provisria; a descoberta desses signos aparentes relativamente fcil, pois a observao que exige no precisa ir alm da superfcie das coisas. Mas as semelhanas exteriores supem outras, que so profundas. Na base de todos os sistemas de crenas e de todos os cultos, deve necessariamente haver um certo nmero de representaes fundamentais e de atitudes rituais que, apesar da diversidade de formas que tanto umas como outras puderam revestir, tm sempre a mesma significao objetiva e desempenham por toda parte as mesmas funes. So esses elementos permanentes que constituem o que h de eterno e de humano na religio; eles so o contedo objetivo da idia que se exprime quando se fala da religio em geral. De que maneira, portanto, possvel atingi-los? . No, certamente, observando as religies complexas que aparecem na seqncia da histria. Cada uma formada de tal variedade de elementos, que muito difcil distinguir nelas o secundrio do principal e o essencial do acessrio. Que se pense em religies como as do Egito, da ndia ou da Antiguidade clssica! uma trama espessa de cultos mltiplos, variveis com as localidades, com os templos, com as geraes, as dinastias, as invases, etc. Nelas, as supersties populares esto mescladas aos dogmas mais refinados. Nem o pensamento, nem a atividade religiosa encontram-se igualmente distribudos na massa dos fiis; conforme os homens, os meios, as circunstncias, tanto as crenas como os ritos so experimentados de formas diferentes. Aqui, so sacerdotes, ali, monges; alhures, leigos; h msticos e racionalistas, telogos e profetas, etc. Em tais condies, difcil perceber o que comum a todos. Claro que se pode encontrar o meio de estudar proveitosamente, atravs de um ou outro desses sistemas, este ou aquele fato particular que neles se acha especial-mente desenvolvido, como o sacrifcio ou o profetismo, a vida monstica ou os mistrios; mas como descobrir o fundo comum da vida religiosa sob a luxuriante vegetao que a recobre? Como, sob o choque das teologias, das variaes dos rituais, da multiplicidade dos grupos, da diversidade dos indivduos, encontrar os estados fundamentais caractersticos da mentalidade religiosa em geral?
4 Algo bem diferente ocorre nas sociedades inferiores. O menor desenvolvimento das individualidades, a menor extenso do grupo, a homogeneidade das circunstncias exteriores, tudo contribui para reduzir as diferenas e as variaes ao mnimo. O grupo realiza, de maneira regular, uma uniformidade intelectual e moral cujo exemplo s raramente se encontra nas sociedades mais avanadas. Tudo comum a todos. Os movimentos so estereotipados; todos executam os mesmos nas mesmas circunstncias, e esse conformismo da conduta no faz seno traduzir o do pensamento. Sendo todas as conscincias arrastadas nos mesmos turbilhes, o tipo individual praticamente se confunde com o tipo genrico. Ao mesmo tempo em que tudo uniforme, tudo simples. Nada mais tosco que esses mitos compostos de um mesmo e nico tema que se repete sem cessar, que esses ritos feitos de um pequeno nmero de gestos recomeados interminavelmente. A imaginao popular ou sacerdotal no teve ainda tempo nem meios de reafirmar e transformar a matria-prima das idias e prticas religiosas; esta se mostra, portanto, nua e se oferece espontaneamente observao, que no precisa mais que um pequeno esforo para descobri-la. O acessrio, o secundrio, os desenvolvimentos de luxo no vieram ainda ocultar o principal. Tudo reduzido ao indispensvel, quilo sem o que no poderia haver religio. Mas o indispensvel tambm o essencial, ou seja, o que acima de tudo nos importa conhecer. As civilizaes primitivas constituem, portanto, casos privilegiados, por serem casos simples. Eis por que, em todas as ordens de fatos, as observaes dos etngrafos foram com freqncia verdadeiras revelaes que renovaram o estudo das instituies humanas. Por exemplo, antes da metade do sculo XIX, todos estavam convencidos de que o pai era o elemento essencial da famlia; no se concebia sequer que pudesse haver uma organizao familiar cuja pedra angular no fosse o poder paterno. A descoberta de Bachofen veio derrubar essa velha concepo. At tempos bem recentes, considerava-se evidente que as relaes morais e jurdicas que constituem o parentesco fossem apenas um outro aspecto das relaes fisiolgicas que resultam da comunidade de descendncia; Bachofen e seus sucessores, Mac Lennan, Morgan e muitos outros, estavam ainda sob a influncia desse preconceito. Desde que conhecemos a natureza do cl primitivo, sabemos, ao contrrio, que o parentesco no poderia ser definido pela consanginidade. Para voltarmos s religies, a simples considerao das formas religiosas que nos so mais familiares fez acreditar durante muito tempo que a noo de deus era caracterstica de tudo o que religioso. Ora, a religio que estudaremos mais adiante , em grande parte, estranha a toda idia de divindade; as foras s quais se dirigem seus ritos so muito diferentes daquelas que ocupam o primeiro lugar em nossas religies modernas; no obstante, elas nos ajudaro a melhor compreender estas ltimas. Assim, nada mais injusto que o desdm que muitos historiadores conservam ainda pelos trabalhos dos etngrafos. certo, ao contrrio, que a etnografia determinou muitas vezes, nos diferentes ramos da sociologia, as mais fecundas revolues. Alis, pela mesma razo que a descoberta dos seres monocelulares, de que falvamos h pouco, transformou a idia que se fazia correntemente da vida. Como nos seres muito simples a vida se reduz a seus traos essenciais, estes dificilmente podem ser ignorados. Mas as religies primitivas no permitem apenas destacar os elementos constitutivos da religio; tm tambm a grande vantagem de facilitar sua explicao. Posto que nelas os fatos so mais simples, as relaes entre os fatos so tambm mais evidentes. As razes pelas quais os homens explicam seus atos no foram ainda elaboradas e desnaturadas por uma reflexo erudita; esto mais prximas, mais chegadas s motivaes que realmente determinaram esses atos. Para compreender bem
5 um delrio e poder aplicar-lhe o tratamento mais apropriado, o mdico tem necessidade de saber qual foi seu ponto de partida. Ora, esse acontecimento tanto mais fcil de discernir quanto mais se puder observar tal delrio num perodo prximo de seu comeo. Ao contrrio, quanto mais a doena se desenvolve no tempo, mais ela se furta observao: que, pelo caminho, uma srie de interpretaes intervieram, tendendo a recalcar no inconsciente o estado original e a substitu-lo por outros, atravs dos quais difcil s vezes reencontrar o primeiro. Entre um delrio sistematizado e as impresses primeiras que lhe deram origem, a distncia geralmente considervel. O mesmo vale para o pensamento religioso. medida que ele progride na histria, as causas que o chamaram existncia, embora sempre permanecendo ativas, no so mais percebidas, seno atravs de um vasto sistema de interpretaes que as deformam. As mitologias populares e as sutis teologias fizeram sua obra: sobrepuseram aos sentimentos primitivos sentimentos muito diferentes que, embora ligados aos primeiros, dos quais so a forma elaborada, s imperfeitamente deixam transparecer sua natureza verdadeira. A distncia psicolgica entre a causa e o efeito, entre a causa aparente e a causa efetiva, tomou-se mais considervel e mais difcil de percorrer para o esprito. O desenvolvimento desta obra ser uma ilustrao e uma verificao dessa observao metodolgica. Veremos de que maneira, nas religies primitivas, o fato religioso traz ainda visvel a marca de suas origens: bem mais difcil nos teria sido inferi-las com base na simples considerao das religies mais desenvolvidas. O estudo que empreendemos , portanto, uma maneira de retomar, mas em condies novas, o velho problema da origem das religies. Se, por origem, entende-se um primeiro comeo absoluto, por certo a questo nada tem de cientfica e deve ser resolutamente descartada. No h um instante radical em que a religio tenha comeado a existir, e no se trata de encontrar um expediente que nos permita transportar-nos a ele em pensamento. Como toda instituio humana, a religio no comea em parte alguma. Assim, todas as especulaes desse gnero so justamente desacreditadas; s podem consistir em construes subjetivas e arbitrrias que no comportam controle de espcie alguma. Bem diferente o problema que colocamos. Gostaramos de encontrar um meio de discernir as causas, sempre presentes, de que dependem as formas mais essenciais do pensamento e da prtica religiosa. Ora, pelas razes que acabam de ser expostas, essas causas so mais facilmente observveis quando as sociedades em que as observamos so menos complicadas. Eis por que buscamos nos aproximar das origens. No que pretendamos atribuir s religies inferiores virtudes particulares. Pelo contrrio, elas so rudimentares e grosseiras; no o caso, portanto, de fazer delas modelos que as religies posteriores apenas teriam reproduzido. Mas seu prprio aspecto grosseiro as torna instrutivas, pois, deste modo, elas constituem experincias cmodas em que os fatos e suas relaes so mais fceis de perceber. O fsico, para descobrir as leis dos fenmenos que estuda, procura simplificar esses ltimos, desembara-los de seus caracteres secundrios. No que concerne s instituies, a natureza faz espontaneamente simplificaes do mesmo tipo no incio da histria. Queremos apenas tirar proveito delas. E claro que s poderemos atingir, por esse mtodo, fatos muito elementares. Quando, na medida do possvel, os tivermos atingido, ainda assim no estaro explicadas as novidades de todo tipo que se produziram na seqncia da evoluo. Mas, se no pensamos em negar a importncia dos problemas que elas colocam, julgamos que tais problemas ganham em ser tratados na sua devida hora, e que h interesse em abord-los somente depois daqueles cujo estudo iremos empreender.
6 II - Mas nossa pesquisa no interessa apenas cincia das religies. Toda religio, com efeito, tem um lado pelo qual vai alm do crculo das idias propriamente religiosas e, sendo assim, o estudo dos fenmenos religiosos fornece um meio de renovar problemas que at agora s foram debatidos entre filsofos. H muito se sabe que os primeiros sistemas de representaes que o homem produziu do mundo e de si prprio so de origem religiosa. No h religio que no seja uma cosmologia ao mesmo tempo que uma especulao sobre o divino. Se a filosofia e as cincias nasceram da religio, que a prpria religio comeou por fazer as vezes de cincias e de filosofia. Mas o que foi menos notado que ela no se limitou a enriquecer com um certo nmero de idias um esprito humano previamente formado; tambm contribuiu para formar esse esprito. Os homens no lhe devem apenas, em parte notvel, a matria de seus conhecimentos, mas igualmente a forma segundo a qual esses conhecimentos so elaborados. Na raiz de nossos julgamentos, h um certo nmero de noes essenciais que dominam toda a nossa vida intelectual; so aquelas que os filsofos, desde Aristteles, chamam de categorias do entendimento: noes de tempo, de espao, de gnero, de nmero, de causa, de substncia, de personalidade, etc. Elas correspondem s propriedades mais universais das coisas. So como quadros slidos que encerram o pensamento; este no parece poder libertar-se deles sem se destruir, pois tudo indica que no podemos pensar objetos que no estejam no tempo ou no espao, que no sejam numerveis, etc. As outras noes so contingentes e mveis; concebemos que possam faltar a um homem, a uma sociedade, a uma poca, enquanto aquelas nos parecem quase inseparveis do funcionamento normal do esprito. So como a os satura da inteligncia. Ora, quando analisamos metodicamente as crenas religiosas primitivas, encontramos naturalmente em nosso caminho as principais dessas categorias. Elas nasceram na religio e da religio, so um produto do pensamento religioso. uma constatao que haveremos de fazer vrias vezes ao longo desta obra. Essa observao possui j um interesse por si prpria; mas eis o que lhe confere seu verdadeiro alcance. A concluso geral do livro que se ir ler que a religio uma coisa eminentemente social. As representaes religiosas so representaes coletivas que exprimem realidades coletivas; os ritos so maneiras de agir que s surgem no interior de grupos coordenados e se destinam a suscitar, manter ou refazer alguns estados mentais desses grupos. Mas, ento, se as categorias so de origem religiosa, elas devem participar da natureza comum a todos os fatos religiosos: tambm elas devem ser coisas sociais, produtos do pensamento coletivo. Como, no estado atual de nossos conhecimentos desses assuntos, devemos evitar toda tese radical e exclusiva, pelo menos legtimo supor que sejam ricas em elementos sociais. Alis, o que se pode, desde j, entrever para algumas delas. Que se tente, por exemplo, imaginar o que seria a noo de tempo, se pusssemos de lado os procedimentos pelos quais o dividimos, o medimos, o exprimi mos atravs de marcas objetivas, um tempo que no seria uma sucesso de anos, meses, semanas, dias e horas! Seria algo mais ou menos impensvel. S podemos conceber o tempo se nele distinguirmos momentos diferentes. Ora, qual a origem dessa diferenciao? Certamente os estados de conscincia que j experimentamos podem reproduzir-se em ns, na mesma ordem em que se desenrolaram primitivamente; e, assim, pores de nosso passado voltam a nos ser presentes, embora distinguindo-se espontaneamente do presente. Mas, por importante que seja essa distino para nossa experincia privada, ela est longe de bastar para constituir a noo ou categoria de tempo. Esta no consiste simplesmente numa comemorao, parcial ou integral, de nossa vida transcorrida. um quadro abstrato e impessoal que envolve no apenas nossa existncia individual, mas a
7 da humanidade. como um painel ilimitado, em que toda a durao se mostra sob o olhar do esprito e em que todos os acontecimentos possveis podem ser situados em relao a pontos de referncia fixos e determinados. No o meu tempo que est assim organizado; o tempo tal como objetivamente pensado por todos os homens de uma mesma civilizao. Apenas isso j suficiente para fazer entrever que uma tal organizao deve ser coletiva. E, de fato, a observao estabelece que esses pontos de referncia indispensveis, em relao aos quais todas as coisas se classificam temporalmente, so tomados da vida social. As divises em dias, semanas, meses, anos, etc., correspondem periodicidade dos ritos, das festas, das cerimnias pblicas. Um calendrio exprime o ritmo da atividade coletiva, ao mesmo tempo que tem por funo assegurar sua regularidade. O mesmo acontece com o espao. Como demonstrou Hamelin, o espao no esse meio vago e indeterminado que Kant havia imaginado: puramente e absolutamente homogneo, ele no serviria para nada e sequer daria ensejo ao pensamento. A representao espacial consiste essencialmente numa primeira coordenao introduzida entre os dados da experincia sensvel. Mas essa coordenao seria impossvel se as partes do espao se equivalessem qualitativamente, se fossem realmente intercambiveis umas pelas outras. Para poder dispor espacialmente as coisas, preciso poder situ-las diferentemente: colocar umas direita, outras esquerda, estas em cima, aquelas embaixo, ao norte ou ao sul, a leste ou a oeste, etc., do mesmo modo que, para dispor temporalmente os estados da conscincia, cumpre poder localiz-los em datas determinadas. Vale dizer que o espao no poderia ser ele prprio se, assim como o tempo, no fosse dividido e diferenciado. Mas essas divises, que lhe so essenciais, de onde provm? Para o espao mesmo, no h direita nem esquerda, nem alto nem baixo, nem norte nem sul. Todas essas distines provm, evidentemente, de terem sido atribudos valores afetivos diferentes s regies. E, como todos os homens de uma mesma civilizao representam-se o espao da mesma maneira, preciso, evidentemente, que esses valores afetivos e as distines que deles dependem lhes sejam igualmente comuns; o que implica quase necessariamente que tais valores e distines so de origem social. Por sinal, h casos em que esse carter social tornou-se manifesto. Existem sociedades na Austrlia ou na Amrica do Norte em que o espao. concebido sob a forma de um crculo imenso, porque o prprio acampamento tem uma forma circular, e o crculo espacial exatamente dividido como o crculo tribal e imagem deste ltimo. Distinguem-se tantas regies quantos so os cls da tribo, e o lugar ocupado pelos cls no interior do acampamento que determina a orientao das regies. Cada regio definese pelo totem do cl ao qual ela destinada. Entre os zuni, por exemplo, o pueblo compreende sete quarteires; cada um deles um grupo de cls que teve sua unidade: com toda a certeza, havia primitivamente um nico cl que depois se subdividiu. Ora, o espao compreende igualmente sete regies e cada um desses se te quarteires do mundo est em ntima relao com um quarteiro do pueblo, isto , com um grupo de cls. "Assim, diz Cushing, uma diviso deve estar em relao com o norte; uma outra representa o oeste, uma terceira o sul, etc." Cada quarteiro do pueblo tem sua cor caracterstica que o simboliza; cada regio do espao tem a sua, que exatamente a do quarteiro correspondente. Ao longo da histria, o nmero de cls fundamentais variou; o nmero de regies variou da mesma maneira. Assim, a organizao social foi o modelo da organizao espacial, que uma espcie de decalque da primeira. At mesmo a distino de direita e esquerda, longe de estar implicada na natureza do homem em geral, muito provavelmente o produto de representaes religiosas, portanto coletivas. Mais adiante sero encontradas provas anlogas relativas s noes de gnero, de fora,
8 de personalidade, de eficcia. Pode-se mesmo perguntar se a noo de contradio no depende, tambm ela, de condies sociais. O que leva a pensar assim que a influncia que ela exerceu sobre o pensamento variou segundo as pocas e as sociedades. O princpio de identidade domina hoje o pensamento cientfico; mas h vastos sistemas de representaes que desempenharam na histria das idias um papel considervel e nos quais ele freqentemente ignorado: so as mitologias, desde as mais grosseiras at as mais elaboradas. Elas tratam sem parar de seres que tm simultaneamente os atributos mais contraditrios, que so ao mesmo tempo unos e mltiplos, materiais e espirituais, que podem subdividir-se indefinidamente sem nada perder daquilo que os constitui em mitologia, um axioma a parte equivaler ao todo. Essas variaes a que se submeteu na histria a regra que parece governar nossa lgica atual provam que, longe de estar inscrita desde toda a eternidade na constituio mental do homem, essa regra depende, pelo menos em parte, de fatores histricos, e portanto sociais. No sabemos exatamente que fatores so esses, mas podemos presumir que existem. Uma vez admitida essa hiptese, o problema do conhecimento coloca-se em novos termos. At o presente, duas doutrinas apenas haviam se defrontado. Para uns, as categorias no podem ser derivadas da experincia: so logicamente anteriores a ela e a condicionam. So representadas como dados simples, irredutveis, imanentes ao esprito humano em virtude de sua constituio natural. Por isso se diz dessas categorias que elas so a priori. Para outros, ao contrrio, elas seriam construdas, feitas de peas e pedaos, e o indivduo que seria o operrio dessa construo. Mas ambas as solues levantam graves dificuldades. Adotaremos a tese empirista? Ento, cumpre retirar das categorias todas as suas propriedades caractersticas. Com efeito, elas se distinguem de todos os outros conhecimentos por sua universalidade e sua necessidade. Elas so os conceitos mais gerais que existem, j que se aplicam a todo o real e, mesmo no estando ligadas a algum objeto particular, so independentes de todo sujeito individual: so o lugar-comum em que se encontram todos os espritos. Mais: estes se encontram necessariamente a, pois a razo, que no outra coisa seno o conjunto das categorias fundamentais, investida de uma autoridade qual no podemos nos furtar vontade. Quando tentamos insurgir-nos contra ela, libertar-nos de algumas dessas noes essenciais, deparamo-nos com fortes resistncias. Portanto, elas no apenas no dependem de ns, como tambm se impem a ns. Ora, os dados empricos apresentam caractersticas diametralmente opostas. Uma sensao, uma imagem se relacionam sempre a um objeto determinado ou a uma coleo de objetos desse gnero e exprimem o estado momentneo de uma conscincia particular: elas so essencialmente individuais e subjetivas. Assim, podemos dispor, com relativa liberdade, das representaes que tm essa origem. claro que, quando nossas sensaes so atuais, elas se impem a ns de fato. Mas, de direito, temos o poder de conceb-las de maneira diferente do que so, de represent-las como se transcorressem numa ordem distinta daquela na qual se produziram. Diante delas, nada nos prende, enquanto consideraes de um outro gnero no intervierem. Eis, portanto, dois tipos de conhecimentos que se encontram como que nos dois plos contrrios da inteligncia. Nessas condies, submeter a razo experincia faz-la desaparecer, pois reduzir a universalidade e a necessidade que a caracterizam a serem apenas puras aparncias, iluses que, na prtica, podem ser cmodas, mas que a nada correspondem nas coisas; conseqentemente, recusar toda realidade objetiva vida lgica que as categorias tm por funo regular e organizar. O empirismo clssico conduz ao irracionalismo; talvez at seja por esse ltimo nome que convenha designlo.
9 Os aprioristas, apesar do sentido ordinariamente associado s denominaes, so mais respeitosos com os fatos. J que no admitem como verdade evidente que as categorias so feitas dos mesmos elementos que nossas representaes sensveis, eles no so obrigados a empobrec-las sistematicamente, a esvazi-las de todo contedo real, a reduzi-las a ser apenas artifcios verbais. Ao contrrio, conservam todas as caractersticas especficas delas. Os aprioristas so racionalistas; crem que o mundo tem um aspecto lgico que a razo exprime eminentemente. Mas, para isso, precisam atribuir ao esprito um certo poder de ultrapassar a experincia, de acrescentar algo ao que lhe imediatamente dado; ora, desse poder singular, eles no do explicao nem justificao. Pois no explicar dizer apenas que esse poder inerente natureza da inteligncia humana. Seria preciso fazer entender de onde tiramos essa surpreendente prerrogativa e de que maneira podemos ver, nas coisas, relaes que o espetculo das coisas no poderia nos revelar. Dizer que a prpria experincia s possvel com essa condio, talvez deslocar o problema, no resolv-lo. Pois se trata precisamente de saber por que a experincia no se basta, mas supe condies que lhe so exteriores e anteriores, e de que maneira essas condies so realizadas quando e como convm. Para responder a essas questes, imaginou-se s vezes, por cima das razes individuais, uma razo superior e perfeita da qual as primeiras emanariam e na qual conservariam, por uma espcie de participao mstica, sua maravilhosa faculdade: a razo divina. Mas essa hiptese tem, no mnimo, o grave inconveniente de subtrair-se a todo controle experimental; no satisfaz, portanto, s condies requeridas de uma hiptese cientfica. Alm disso, as categorias do pensamento humano jamais so fixadas de uma forma definida; elas se fazem, se desfazem, se refazem permanentemente; mudam conforme os lugares e as pocas. A razo divina, ao contrrio, imutvel. De que modo essa imutabilidade poderia explicar essa incessante variabilidade? Tais so as duas concepes que h sculos se chocam uma contra a outra; e, se o debate se eterniza, que na verdade os argumentos trocados se equivalem sensivelmente. Se a razo apenas uma forma da experincia individual, no existe mais razo. Por outro lado, se reconhecemos os poderes que ela se atribui, mas sem justific-los, parece que a colocamos fora da natureza e da cincia. Em presena dessas objees opostas, o esprito permanece incerto. Mas, se admitirmos a origem social das categorias, uma nova atitude torna-se possvel, atitude que permitiria, acreditamos ns, escapar a essas dificuldades contrrias. A proposio fundamental do apriorismo que o conhecimento formado de duas espcies de elementos irredutveis um ao outro e como que de duas camadas distintas e superpostas. Nossa hiptese mantm integralmente esse princpio. De fato, os conhecimentos que chamamos empricos, os nicos que os tericos do empirismo utilizaram para construir a razo, so aqueles que a ao direta dos objetos suscita em nossos espritos. So, portanto, estados individuais, que se explicam inteiramente pela natureza psquica do indivduo. Ao contrrio, se as categorias so, como pensamos, representaes essencialmente coletivas, elas traduzem antes de tudo estados da coletividade: dependem da maneira como esta constituda e organizada, de sua morfologia, de suas instituies religiosas, morais, econmicas, etc. H, portanto, entre essas duas espcies de representaes toda a distncia que separa o individual do social, e no se pode mais derivar as segundas das primeiras, como tampouco se pode deduzir a sociedade do indivduo, o todo da parte, o complexo do simples. A sociedade uma realidade sui generis; tem suas caractersticas prprias que no se encontram, ou que no se encontram da mesma forma, no resto do universo. As representaes que a exprimem tm, portanto, um contedo completamente distinto das representaes puramente individuais, e podemos estar certos de antemo de que as primeiras
10 acrescentam algo s segundas. A maneira como ambas se formam acaba por diferencilas. As representaes coletivas so o produto de uma imensa cooperao que se estende no apenas no espao, mas no tempo; para cri-las, uma multido de espritos diversos associou, misturou, combinou suas idias e seus sentimentos; longas sries de geraes nelas acumularam sua experincia e seu saber. Uma intelectualidade muito particular infinitamente mais rica e mais complexa que a do indivduo, encontra-se, portanto como que concentrada a. Compreende-se, assim, de que maneira a razo tem o poder de ultrapassar o alcance dos conhecimentos empricos. No deve isso a uma virtude misteriosa qualquer, mas simplesmente ao fato de que, segundo uma frmula conhecida, o homem duplo. H dois seres nele: um ser individual, que tem sua base no organismo e cujo crculo de ao se acha, por isso mesmo, estreitamente limitado, e um ser social, que representa em ns a mais elevada realidade, na ordem intelectual e moral, que podemos conhecer pela observao, quero dizer, a sociedade. Essa dualidade de nossa natureza tem por conseqncia, na ordem prtica, a irredutibilidade do ideal moral ao mbil utilitrio, e, na ordem do pensamento, a irredutibilidade da razo experincia individual. Na medida em que participa da sociedade, o indivduo naturalmente ultrapassa a si mesmo, seja quando pensa, seja quando age. Esse mesmo carter social permite compreender de onde vem a necessidade das categorias. Diz-se de uma idia que ela necessria quando, por uma espcie de virtude interna, impe-se ao esprito sem ser acompanhada de nenhuma prova. H, portanto, nela, algo que obriga a inteligncia, que conquista a adeso, sem exame prvio. Essa eficcia singular, o apriorismo a postula, mas sem se dar conta disso, pois dizer que as categorias so necessrias por serem indispensveis ao funcionamento do pensamento, simplesmente repetir que so necessrias. Mas se elas tm a origem que lhes atribumos, no h nada mais que surpreenda em sua autoridade. Com efeito, elas exprimem as relaes mais gerais que existem entre as coisas; ultrapassando em extenso todas as nossas outras noes, dominam todo detalhe de nossa vida intelectual. Se, portanto, a cada momento do tempo, os homens no se entendessem acerca dessas idias essenciais, se no tivessem uma concepo homognea do tempo, do espao, da causa, do nmero, etc., toda concordncia se tomaria impossvel entre as inteligncias e, por conseguinte, toda vida em comum. Assim, a sociedade no pode abandonar as categorias ao livre arbtrio dos particulares sem se abandonar ela prpria. Para poder viver, ela no necessita apenas de um suficiente conformismo moral: h um mnimo de conformismo lgico sem o qual ela tambm no pode passar. Por essa razo, ela pesa com toda a sua autoridade sobre seus membros a fim de prevenir as dissidncias. Se um esprito infringe ostensivamente essas normas do pensamento, ela no o considera mais um esprito humano no sentido pleno da palavra, e trata-o em conformidade. Por isso, quando tentamos, mesmo em nosso foro interior, libertar-nos dessas noes fundamentais, sentimos que no somos completamente livres, que algo resiste a ns, dentro e fora de ns. Fora de ns, h a opinio que nos julga; mas, alm disso, como a sociedade tambm representada em ns, ela se ope desde dentro de ns a essas veleidades revolucionrias; temos a impresso de no podermos nos entregar a elas sem que nosso pensamento deixe de ser um pensamento verdadeiramente humano. Tal parece ser a origem da autoridade muito especial inerente razo e que nos faz aceitar com confiana suas sugestes. a autoridade da sociedade mesma, comunicando-se a certas maneiras de pensar que so como as condies indispensveis de toda ao comum. A necessidade com que as categorias se impem a ns no , portanto, o efeito de simples hbitos de cujo domnio poderamos nos desvencilhar com um pouco de esforo; no tambm uma necessidade fsica ou metafsica, j que as categorias mudam conforme os lugares e as pocas: uma espcie particular de necessidade moral
11 que est para a vida intelectual assim como a obrigao moral est para a vontade. Mas, se as categorias no traduzem originalmente seno estados sociais, no se segue da que elas s podem aplicar-se ao resto da natureza a ttulo de metforas? Se elas so feitas unicamente para exprimir coisas sociais, parece que no poderiam ser estendidas aos outros reinos a no ser por conveno. Assim, na medida em que nos servem para pensar o mundo fsico ou biolgico, s poderiam ter o valor de smbolos artificiais, talvez teis na prtica, mas sem relao com a realidade. Portanto retornaramos, por outra via, ao nominalismo e ao empirismo. Mas interpretar dessa maneira uma teoria sociolgica do conhecimento esquecer que, se a sociedade uma realidade especfica, ela no , porm, um imprio dentro de um imprio: ela faz parte da natureza, sua manifestao mais elevada. O reino social um reino natural que no difere dos outros, a no ser por sua maior complexidade. Ora, impossvel que a natureza, no que tem de mais essencial, seja radicalmente diferente de si mesma aqui e ali. As relaes fundamentais que existem entre as coisas - justamente aquelas que as categorias tm por funo exprimir - no poderiam, portanto, ser essencialmente dessemelhantes conforme os reinos. Se, por razes que teremos de investigar, elas sobressaem de forma mais evidente no mundo social, impossvel que no se encontrem alhures, ainda que sob formas mais encobertas. A sociedade as torna mais manifestas, mas ela no tem esse privilgio. Eis a como noes que foram elaboradas com base no modelo das coisas sociais podem ajudar-nos a pensar coisas de outra natureza. Se essas noes, quando assim desviadas de sua significao primeira, desempenham num certo sentido o papel de smbolos, so smbolos bem-fundados. Se, pelo simples fato de serem conceitos construdos, h a um artifcio, um artifcio que segue de perto a natureza e que se esfora por aproximar-se dela cada vez mais. Portanto, do fato de as idias de tempo, de espao, de gnero, de causa, de personalidade, serem construdas com elementos sociais, no se deve concluir que sejam desprovidas de todo valor objetivo. Pelo contrrio, sua origem social faz antes supor que tenham fundamento na natureza das coisas. Assim renovada, a teoria do conhecimento parece destinada a reunir as vantagens contrrias das duas teorias rivais, sem seus inconvenientes. Ela conserva todos os princpios essenciais do apriorismo; mas, ao mesmo tempo, inspira-se nesse esprito de positividade que o empirismo procurava satisfazer. Conserva o poder especfico da razo, mas justifica-o, e sem sair do mundo observvel. Afirma como real a dualidade de nossa vida intelectual, mas explica-a, e mediante causas naturais. As categorias deixam de ser consideradas fatos primeiros e no analisveis; no entanto, permanecem de uma complexidade que anlises simplistas como aquelas com que se contentava o empirismo no poderiam vencer. Pois elas aparecem, ento, no mais como noes muito simples que qualquer um capaz de extrair de suas observaes pessoais e que a imaginao popular desastradamente teria complicado, mas, ao contrrio, como hbeis instrumentos de pensamento, que os grupos humanos laboriosamente forjaram ao longo dos sculos e nos quais acumularam o melhor de seu capital intelectual. Toda uma parte da histria da humanidade nelas se encontra como que resumida. Vale dizer que, para chegar a compreend-las e julg-las, cumpre recorrer a outros procedimentos que no aqueles utilizados at o presente. Para saber de que so feitas essas concepes que no foram criadas por ns mesmos, no poderia ser suficiente interrogar nossa conscincia: para fora de ns que devemos olhar, a histria que devemos observar, toda uma cincia que preciso instituir, cincia complexa, que s pode avanar lentamente, por um trabalho coletivo, e para a qual a presente obra traz, a ttulo de ensaio, algumas contribuies fragmentrias. Se fazer dessas questes o objeto direto de nosso estudo aproveitaremos toda ocasio que se oferecer para capta em seu nascimento pelo menos algumas dessas noes, as quais,
12 embora religiosas por suas origens, haveriam de permanecer na base da mentalidade humana. LIVRO I QUESTES PRELIMINARES CAPTULO I DEFINIO DO FENMENO RELIGIOSO E DA RELIGIO Para saber qual a religio mais primitiva e mais simples que a observao nos permite conhecer, preciso primeiro definir o que convm entender por religio, caso contrrio correramos o risco de chamar de religio um sistema de idias e de prticas que nada teria de religioso, ou de deixar de lado fatos religiosos sem perceber sua verdadeira natureza. O que mostra bem que o perigo nada tem de imaginrio e que de modo nenhum se trata de um vo formalismo metodolgico que, por no haver tomado essa precauo, um estudioso, a quem no obstante a cincia comparada das religies deve muito, o Sr. Frazer, no soube reconhecer o carter profundamente religioso das crenas e dos ritos que sero estudados mais adiante e que, para ns, constituem o germe inicial da vida religiosa da humanidade. H a, portanto, uma questo que precede o julgamento e que deve ser tratada, antes de qualquer outra. No que possamos pensar em atingir desde j as caractersticas profundas e verdadeiramente explicativas da religio: elas s podem ser determinadas ao trmino da pesquisa. Mas o que necessrio e possvel indicar um certo nmero de sinais exteriores, facilmente perceptveis, que permitem reconhecer os fenmenos religiosos onde quer que se encontrem, e que impedem que os confundamos com outros. a essa operao preliminar que iremos proceder. Mas para que ela d os resultados esperados, devemos comear por libertar nosso esprito de toda idia preconcebida. Os homens foram obrigados a criar para si uma noo do que a religio, bem antes que a cincia das religies pudesse instituir suas comparaes metdicas. As necessidades da existncia nos obrigam a todos, crentes e incrdulos, a representar de alguma maneira as coisas no meio das quais vivemos, sobre as quais a todo momento emitimos juzos e que precisamos levar em conta em nossa conduta. Mas como essas pr-noes se formaram sem mtodo, segundo os acasos e as circunstncias da vida, elas no tm direito a crdito e devem ser mantidas rigorosamente distncia do exame que iremos empreender. No a nossos preconceitos, a nossas paixes, a nossos hbitos que devem ser solicitados os elementos da definio que necessitamos; a realidade mesma que se trata de definir. Coloquemonos, pois, diante dessa realidade. Deixando de lado toda concepo da religio em geral, consideremos as religies em sua realidade concreta e procuremos destacar o que elas podem ter em comum; pois a religio s pode ser definida em funo das caractersticas que se encontram por toda parte onde houver religio. Introduziremos portanto nessa comparao todos os sistemas religiosos que podemos conhecer, os do presente e os do passado, os mais simples e primitivos assim como os mais recentes e refinados, pois no temos nenhum direito e nenhum meio lgico de excluir .uns para s reter os outros. Para aquele que v na religio uma manifestao natural da atividade humana, todas as religies so instrutivas, sem exceo, pois todas exprimem o homem sua maneira e podem assim ajudar a compreender melhor esse aspecto de nossa natureza. Alis, vimos o quanto falta para que a melhor forma de estudar a religio seja consider-la de preferncia sob a forma que apresenta nos povos mais civilizados.
13 Mas, para ajudar o esprito a libertar-se dessas concepes usuais que, por seu prestgio, podem impedi-lo de ver as coisas tais como so, convm, antes de abordar a questo por nossa conta, examinar algumas das definies mais correntes nas quais esses preconceitos vieram se exprimir. I - Uma noo tida geralmente como caracterstica de tudo o que religioso a de sobrenatural. Entende-se por isso toda ordem de coisas que ultrapassa o alcance de nosso entendimento; o sobrenatural o mundo do mistrio, do incognoscvel, do incompreensvel. A religio seria, portanto, uma espcie de especulao sobre tudo o que escapa cincia e, de maneira mais geral, ao pensamento claro. "As religies, diz Spencer, diametralmente opostas por seus dogmas, concordam em reconhecer tacitamente que o mundo, com tudo que contm e tudo que o cerca, um mistrio que pede uma explicao"; portanto, ele as faz consistir essencialmente na "crena na onipresena de alguma coisa que vai alm da inteligncia". Do mesmo modo, Max Mller via em toda religio "um esforo para conceber o inconcebvel, para exprimir o inexprimvel, uma aspirao ao infinito". certo que o sentimento do mistrio no deixou de desempenhar um papel importante em certas religies, especialmente no cristianismo. Mas preciso acrescentar que a importncia desse papel variou singularmente nos diferentes momentos da histria crist. H perodos em que essa noo passa ao segundo plano e se apaga. Para os homens do sculo XVII, por exemplo, o dogma nada tinha de perturbador para a razo; a f conciliava-se sem dificuldade com a cincia e a filosofia, e pensadores como Pascal, que sentiam com intensidade o que h de profundamente obscuro nas 27 coisas, estavam em to pouca harmonia com sua poca que permaneceram incompreendidos por seus contemporneos. Portanto, poderia ser precipitado fazer, de urna idia sujeita a tais eclipses, o elemento essencial ainda que apenas da religio crist. Em todo caso, o que certo que essa noo s aparece muito tarde na histria das religies; ela totalmente estranha no somente aos povos chamados primitivos, mas tambm a todos os que no atingiram um certo grau de cultura intelectual. verdade que, quando os vemos atribuir a objetos insignificantes virtudes extraordinrias, povoar o universo com princpios singulares, feitos dos elementos mais dspares, reconhecemos de bom grado nessas concepes um ar de mistrio. Acreditamos que os homens s puderam se resignar a idias to perturbadoras para nossa razo moderna por incapacidade de encontrar outras que fossem mais racionais. Em realidade, porm, essas explicaes que nos surpreendem afiguram-se ao primitivo as mais simples do mundo. Ele no v nelas urna espcie de ultima ratio a que a inteligncia s se resigna em desespero de causa, mas sim a maneira mais imediata de representar e compreender o que observa a seu redor. Para ele, no h nada de estranho em poder-se, com a voz ou o gesto, comandar os elementos, deter ou precipitar o curso dos astros, provocar a chuva ou par-la, etc. Os ritos que emprega para assegurar a fertilidade do solo ou a fecundidade das espcies animais de que se alimenta no so, a seus olhos, mais irracionais do que o so, aos nossos, os procedimentos tcnicos que os agrnomos utilizam para a mesma finalidade. As potncias que ele pe em jogo por esses diversos meios nada lhe parecem ter de especialmente misterioso. So foras que diferem, certamente, daquelas que o conhecedor moderno concebe e cujo uso nos ensina; elas tm urna outra maneira de comportar-se e no se deixam disciplinar pelos mesmos procedimentos; mas, para aquele que cr nelas, no so mais ininteligveis do que o so a,gravidade ou a eletricidade para o fsico de hoje. Veremos alis, ao longo desta obra, que a noo de foras naturais derivou muito provavelmente da noo de foras religiosas; assim, no poderia haver entre estas e aquelas o abismo que separa o racional do irracional. Mesmo o fato de as foras religiosas serem geralmente pensadas sob a
14 forma de entidades espirituais, de vontades conscientes, de maneira nenhuma uma prova de sua irracionalidade. razo no repugna a priori admitir que os corpos ditos inanimados sejam, como os corpos humanos, movidos por inteligncias, ainda que a cincia contempornea dificilmente se acomode a essa hiptese. Quando Leibniz props conceber o mundo exterior como urna imensa sociedade de espritos entre os quais no havia e no podia haver seno relaes espirituais, ele entendia agir corno racionalista e no via nesse animismo universal nada capaz de ofender o entendimento. Alis, a idia de sobrenatural, tal corno a entendemos, data de ontem: ela supe, com efeito, a idia contrria, da qual a negao e que nada tem de primitiva. Para que se pudesse dizer de certos fatos que so sobrenaturais, era preciso j ter o sentimento de que existe uma ordem natural das coisas, ou seja, que os fenmenos do universo esto ligados entre si segundo relaes necessrias chamadas leis. Uma vez adquirido esse princpio, tudo o que infringe essas leis devia necessariamente aparecer como exterior natureza e, por conseqncia, razo: pois o que natural nesse sentido tambm racional, tais relaes necessrias no fazendo seno exprimir a maneira pela qual as coisas se encadeiam logicamente. Mas essa noo do determinismo universal de origem recente; mesmo os maiores pensadores da Antiguidade clssica no chegaram a tomar plenamente conscincia dela. urna conquista das cincias positivas; o postulado sobre o qual repousam e que elas demonstraram por seus progressos. Ora, enquanto ele inexistia ou ainda no se estabelecera solidamente, os acontecimentos mais maravilhosos nada possuam que no parecesse perfeitamente concebvel. Enquanto no se sabia o que a ordem das coisas tem de imutvel e de inflexvel, enquanto nela se via a obra de vontades contingentes, devia-se achar natural que essas vontades ou outras pudessem modific-la arbitrariamente. Eis por que as intervenes miraculosas que os antigos atribuam a seus deuses no eram, no seu entender, milagres, na acepo moderna da palavra. Para eles, eram espetculos belos, raros ou terrveis, objetos de surpresa e de maravilhamento (mirabilia, miracula); mas de modo nenhum viam nisso uma espcie de acesso a um mundo misterioso que a razo no pode penetrar. Podemos compreender tanto melhor essa mentalidade na medida em que ela no desapareceu completamente do meio de ns. Se o princpio do determinismo est hoje solidamente estabelecido nas cincias fsicas e naturais, faz somente um sculo que ele comeou a introduzir-se nas cincias sociais, e sua autoridade ainda contestada. Apenas um pequeno nmero de espritos est convencido da idia de que as sociedades esto submetidas a leis necessrias e constituem um reino natural. Da a crena de que nelas sejam possveis verdadeiros milagres. Admite-se, por exemplo, que, o legislador pode criar uma instituio do nada por uma simples injuno de sua vontade, transformar um sistema social em outro, assim como os crentes de tantas religies admitem que a vontade divina criou o mundo do nada ou pode arbitrariamente transmutar os seres uns nos outros. No que concerne aos fatos sociais, temos ainda uma mentalidade de primitivos. No entanto, se, em matria de sociologia, tantos contemporneos apegam-se ainda a essa concepo antiquada, no que a vida das sociedades lhes parea obscura e misteriosa; pelo contrrio, se contentam to facilmente com tais explicaes, se obstinam nessas iluses que a experincia desmente sem cessar, que os fatos sociais lhes parecem a coisa mais clara do mundo; que no percebem sua obscuridade real; que no reconheceram ainda a necessidade de recorrer aos procedimentos laboriosos das cincias naturais para dissipar progressivamente essas trevas. O mesmo estado de esprito encontra-se na raiz de muitas crenas religiosas que nos surpreendem por seu simplismo. Foi a cincia, e no a religio, que ensinou aos homens que as coisas so complexas e difceis de compreender.
15 Mas, responde Jevons, o esprito humano no tem necessidade de uma cultura propriamente cientfica para notar que existem entre os fatos seqncias determinadas, uma ordem constante de sucesso, e para observar, por outro lado, que essa ordem freqentemente perturbada. Acontece que o sol se eclipse bruscamente, que a chuva falte na poca em que esperada, que a lua demore a ressurgir aps seu desaparecimento peridico, etc. Como esto fora do curso ordinrio das coisas, esses acontecimentos so atribudos a causas extraordinrias, excepcionais, ou seja, em suma, extranaturais. sob essa forma que a idia de sobrenatural teria nascido desde o incio da histria, e foi assim que, a partir desse momento, o pensamento religioso se viu munido de seu objeto prprio. Mas, em primeiro lugar, o sobrenatural no se reduz de modo algum ao imprevisto. O novo faz parte da natureza, assim como seu contrrio. Se constatamos que, em geral, os fenmenos se sucedem numa ordem determinada, observamos igualmente que essa ordem sempre aproximada, que no idntica duas vezes seguidas, que comporta todo tipo de excees. Por menor que seja nossa experincia, estamos habituados frustrao freqente de nossas expectativas e essas decepes retomam muito seguidamente para que as vejamos como extraordinrias. Uma certa contingncia um dado da experincia, assim como uma certa uniformidade; portanto, no h razo para relacionar uma a causas e foras inteiramente diferentes daquelas de que depende a outra. Assim, para que tenhamos a idia do sobrenatural, no suficiente que sejamos testemunhas de acontecimentos inesperados; preciso, alm disso, que estes sejam concebidos como impossveis, isto , como inconciliveis com uma ordem que, certa ou errada, nos parece necessariamente implica da na natureza das coisas. Ora, essa noo de uma ordem necessria, foram as cincias positivas que pouco a pouco construram, portanto a noo contrria no poderia lhes ser anterior. Alm disso, seja como for que os homens tenham se representado as novidades e as contingncias que a experincia revela, no h nada nessas representaes que possa servir para caracterizar a religio. Pois as concepes religiosas tm por objeto, acima de tudo, exprimir e explicar, no o que h de excepcional e anormal nas coisas, mas, ao contrrio, o que elas tm de constante e regular. Quase sempre, os deuses servem menos para explicar monstruosidades, extravagncias, anomalias, do que a marcha habitual do universo, do movimento dos astros, do ritmo das estaes, do crescimento anual da vegetao, de perpetuidade das espcies, etc. Portanto, a noo do religioso est longe de coincidir com a do extraordinrio e do imprevisto. Jevons responde que essa concepo das foras religiosas no primitiva. No comeo, estas teriam sido imaginadas para justificar desordens e acidentes, e s depois utilizadas para explicar as uniformidades da natureza. Mas no se percebe o que teria levado os homens a atribuir sucessivamente a elas funes to manifestamente contrrias. Alm disso, a hiptese segundo a qual os seres sagrados teriam sido confinados de incio num papel negativo de perturbadores, inteiramente arbitrria. Veremos, com efeito, que, desde as religies mais simples que conhecemos, eles tiveram por tarefa essencial manter, de uma maneira positiva, o curso normal da vida. Assim, a idia do mistrio nada tem de original. Ela no foi dada ao homem: foi o homem que a forjou com suas prprias mos, ao mesmo tempo que concebia a idia contrria. Por isso, ela s ocorre num pequeno nmero de religies avanadas. No se pode, portanto, fazer dela a caracterstica dos fenmenos religiosos sem excluir da definio a maioria dos fatos a definir. II - Uma outra idia pela qual se tentou com freqncia definir a religio a da divindade. "A religio, diz A. Rville, a determinao da vida humana pelo sentimento de um vnculo que une o esprito humano ao esprito misterioso no qual reconhece a dominao sobre o mundo e sobre si mesmo, e ao qual ele quer sentir-se unido."
16 verdade que, se entendemos a palavra divindade num sentido preciso e estrito, a definio deixa de fora grande quantidade de fatos manifestamente religiosos. As almas dos mortos, os espritos de toda espcie e de toda ordem, com que a imaginao religiosa de tantos povos diversos povoou a natureza, so sempre objeto de ritos e, s vezes, at de um culto regular; no entanto no se trata de deuses no sentido prprio da palavra. Mas, para que a definio os compreenda, basta substituir a palavra deus pela de ser espiritual, mais abrangente. Foi o que fez Tylor: "O primeiro ponto essencial quando se trata de estudar sistematicamente as religies das raas inferiores, , diz ele, definir e precisar o que se entende por religio. Se se continuar fazendo entender essa palavra como a crena numa divindade suprema... um certo nmero de tribos estar excludo do mundo religioso. Mas essa definio demasiado estreita tem o defeito de identificar a religio com alguns de seus desenvolvimentos particulares... Parece prefervel colocar simplesmente como definio mnima da religio a crena em seres espirituais." Por seres espirituais, devemos entender sujeitos conscientes, dotados de poderes superiores aos que possui o comum dos homens; essa qualificao convm, portanto, s almas dos mortos, aos gnios, aos demnios, tanto quanto s divindades propriamente ditas. importante notar, de imediato, a concepo particular da religio que est implicada nessa definio. O nico comrcio que podemos manter com seres dessa espcie se acha determinado pela natureza que lhes atribuda. So seres conscientes; no podemos, portanto, agir sobre eles, seno como agimos sobre as conscincias em geral, isto , por procedimentos psicolgicos, tratando de convenc-los ou de comov-los,' seja por meio de palavras (invocaes, preces), seja por oferendas e sacrifcios. E j que a religio teria por objeto regular nossas relaes com esses seres especiais, s poderia haver religio onde h preces, sacrifcios, ritos propiciatrios, etc. Teramos, assim, um critrio muito simples que permitiria distinguir o que religioso do que no . a esse critrio que se referem sistematicamente Frazer e, com ele, vrios etngrafos. Contudo, por mais evidente que possa parecer essa definio, em conseqncia de hbitos de esprito que devemos nossa educao religiosa, h muitos fatos aos quais ela no aplicvel e que, no entanto, dizem respeito ao domnio da religio. Em primeiro lugar, existem grandes religies em que a idia de deuses e espritos est ausente, nas quais, pelo menos, ela desempenha to-s um papel secundrio e apagado. o caso do budismo. O budismo, diz Bumouf, "apresenta-se, em oposio ao bramanismo, como uma moral sem deus e um atesmo sem Natureza". "Ele no reconhece um deus do qual o homem dependa, diz Barth; sua doutrina absolutamente atia", e Oldenberg, por sua vez, chama-o "uma religio sem deus". De fato, o essencial do budismo consiste em quatro proposies que os fiis chamam as quatro nobres verdades. A primeira coloca a existncia da dor como ligada ao perptuo fluxo das coisas; a segunda mostra no desejo a causa da dor; a terceira faz da supresso do desejo o nico meio de suprimir a dor; a quarta enumera as trs etapas pelas quais preciso passar para chegar a essa supresso: a retido, a meditao e, enfim, a sabedoria, a plena posse da doutrina. Atravessadas essas trs etapas, chega-se ao trmino do caminho, libertao, salvao pelo Nirvana. Ora, em nenhum desses princpios est envolvida a divindade. O budista no se preocupa em saber de onde vem esse mundo do devir em que ele vive e sofre; toma-o como um fato e todo o seu esforo est em evadir-se dele. Por outro lado, para essa obra de salvao, ele s pode contar consigo mesmo: "no tem nenhum deus para agradecer, assim como, no combate, no chama nenhum deus em seu auxlio". Em vez de rezar, no sentido usual da palavra, em vez de voltar-se para um ser superior e implorar sua assistncia, concentra-se em si mesmo e medita. Isso no significa "que
17 negue frontalmente a existncia de seres chamados Indra, Agni, Varuna, mas julga que no lhes deve nada e que no precisa deles", pois o poder desses seres s pode estenderse sobre os bens deste mundo, os quais, para o budista, so sem valor. Portanto, ele ateu no sentido de desinteressar-se da questo de saber se existem ou no deuses. Alis, mesmo se existissem e estivessem investidos de algum poder, o santo, o libertado, julgase superior a eles; pois o que faz a dignidade dos seres no a extenso da ao que exercem sobre as coisas, exclusivamente o grau de seu avano no caminho da salvao. verdade que o Buda, pelo menos em certas divises da Igreja budista, acabou por ser considerado uma espcie de deus. Tem seus templos; tornou-se objeto de um culto que, por sinal, muito simples, pois se reduz essencialmente oferenda de algumas flores e adorao de relquias ou imagens consagradas. No muito mais do que um culto da lembrana. Mas essa divinizao do Buda, supondo-se que a expresso seja exata, primeiramente particular ao chamado budismo setentrional. "Os budistas do Sul, diz Kern, e os menos avanados entre os budistas do Norte, podemos afirmar com base nos dados hoje conhecidos, falam do fundador de sua doutrina como se fosse um homem". Certamente, eles atribuem ao Buda poderes extraordinrios, superiores aos que possui o comum dos mortais; mas era uma crena muito antiga na ndia, e alis muito comum numa srie de religies diversas, que um grande santo dotado de virtudes excepcionais; no obstante, um santo no um deus, como tampouco um sacerdote ou um mgico, a despeito das faculdades sobre-humanas que geralmente lhes so atribudas. Por outro lado, segundo os estudiosos mais autorizados, essa espcie de tesmo e a mitologia complexa que costuma acompanh-lo no seriam seno uma forma derivada e desviada do budismo. A princpio, Buda teria sido considerado apenas como "o mais sbio dos homens", "A concepo de um Buda que no seria um homem que alcanou o mais alto grau de santidade, diz Burnouf, no pertence ao crculo das idias que constituem o fundo mesmo dos Sutras simples"; e, acrescenta o mesmo autor, "sua humanidade permaneceu um fato to incontestavelmente reconhecido de todos que os autores de lendas, aos quais custavam to pouco os milagres, no tiveram sequer a idia de fazer dele um deus aps sua morte". Assim, cabe perguntar se alguma vez ele chegou a despojar-se completamente desse carter humano, e se temos o direito de assimil-lo completamente a um deus. Em todo caso, seria um deus de uma natureza muito particular e cujo papel de modo nenhum se assemelha ao das outras personalidades divinas. Pois um deus , antes de tudo, um ser vivo com o qual o homem deve e pode contar; ora, o Buda morreu, entrou no Nirvana, nada mais pode sobre a marcha dos acontecimentos humanos. Enfim, e no importa o que se pense da divindade do Buda, o fato que essa uma concepo inteiramente exterior ao que h de realmente essencial no budismo. Com efeito, o budismo consiste, antes de tudo, na noo de salvao, e a salvao supe unicamente que se conhea e pratique a boa doutrina. Claro que ela no poderia ter sido conhecida se o Buda no tivesse vindo revel-la; mas, uma vez feita essa revelao, a obra do Buda estava cumprida. A partir desse momento, ele deixou de ser um fator necessrio da vida religiosa. A prtica das quatro verdades sagradas seria possvel ainda que a lembrana daquele que as fez conhecer se apagasse das memrias. Algo bem diferente ocorre com o cristianismo, que, sem a idia sempre presente e o culto sempre praticado de Cristo, inconcebvel; pois por Cristo sempre vivo e a cada dia imolado que a comunidade dos fiis continua a comunicar-se com a fonte suprema da vida espiritual. Tudo o que precede aplica-se igualmente a uma outra grande religio da ndia, o jainismo. Alis, as duas doutrinas tm sensivelmente a mesma concepo do mundo e da vida. "Como os budistas, diz Barth, os jainistas so ateus. No admitem criador; para eles, o mundo eterno, e negam explicitamente que possa haver um ser
18 perfeito para toda a eternidade. Jaina tomou-se perfeito, mas no o era o tempo todo". Assim como os budistas do Norte, os jainistas, ou pelo menos alguns deles, se voltaram porm a uma espcie de desmo; nas inscries do Deco, fala-se de um Jinapati, espcie de Jaina supremo, que chamado o primeiro criador; mas tal linguagem, diz o mesmo autor, "est em contradio com as declaraes mais explcitas de seus escritores mais autorizados". Alis, se essa indiferena pelo divino desenvolveu-se a tal ponto no budismo e no jainismo, que ela j estava em germe no bramanismo, do qual derivaram ambas as religies. Ao menos em algumas de suas formas, a especulao bramnica culminava em "uma explicao francamente materialista e atia do universo". Com o tempo, as mltiplas divindades que os povos da ndia haviam de incio aprendido a adorar acabaram como que se fundindo numa espcie de princpio uno, impessoal e abstrato, essncia de tudo o que existe. Essa realidade suprema, que nada mais possui de uma personalidade divina, o homem contm em si, ou melhor, identifica-se com ela, uma vez que nada existe fora dela. Para encontr-la e unir-se a ela, ele no precisa, portanto, buscar fora de si mesmo nenhum apoio exterior; basta concentrar-se em si e meditar. "Quando, diz Oldenberg, o budismo lana-se nesse grande empreendimento de imaginar um mundo de salvao em que o homem salva-se a si mesmo, e de criar uma religio sem deus, a especulao bramnica j havia preparado o terreno para essa tentativa. A noo de divindade recuou gradativamente; as figuras dos antigos deuses pouco a pouco se apagam; o Brama pontifica em sua eterna quietude, muito acima do mundo terrestre, e resta apenas uma nica pessoa a tomar parte ativa na grande obra da libertao: o homem." Eis, portanto, uma poro considervel da evoluo religiosa que consistiu, em suma, num recuo progressivo da idia de ser espiritual e de divindade. Eis a grandes religies em que as invocaes, as propiciaes, os sacrifcios, as preces propriamente ditas, esto muito longe de ter uma posio preponderante e que, portanto, no apresentam o sinal distintivo no qual se pretende reconhecer as manifestaes propriamente religiosas. Mas, mesmo no interior das religies destas, encontramos um grande nmero de ritos que so completamente independentes de toda idia de deus ou de seres espirituais. Antes de mais nada, h uma srie de interdies. A Bblia, por exemplo, ordena mulher viver isolada todo ms durante um perodo determinado; obriga-a a um isolamento anlogo durante o parto; probe atrelar juntos o jumento e o cavalo, usar um vesturio em que o cnhamo se misture com o linho, sem que seja possvel perceber que papel a crena em Jeov pode ter desempenhado nessas interdies; pois ele est ausente de todas as relaes assim proibidas e no poderia estar interessado por elas. O mesmo se pode dizer da maior parte das interdies alimentares. E essas proibies no so particulares aos hebreus, mas as encontramos, sob formas diversas e com o mesmo carter, em numerosas religies. verdade que esses ritos so puramente negativos; mas no deixam de ser religiosos. Alm disso, h outros que reclamam do fiel prestaes ativas e positivas, e que, no entanto, so da mesma natureza. Eles atuam por si mesmos, sem que sua eficcia dependa de algum poder divino; suscitam mecanicamente os efeitos que so sua razo de ser. No consistem em preces, nem em oferendas dirigidas a um ser a cuja boa vontade o resultado esperado se subordina; esse resultado obtido pela execuo automtica da operao ritual. Tal o caso, em particular do sacrifcio na religio vdica. "O sacrifcio, diz Bergaigne, exerce uma influncia direta sobre os fenmenos celestes"; ele onipotente por si mesmo e sem nenhuma influncia divina. Foi ele, por exemplo, que rompeu as portas da caverna onde estavam encerradas as auroras e fez brotar a luz do dia. Do mesmo modo, foram hinos apropriados que, por uma ao direta, fizeram cair sobre a terra as guas do cu, e isto apesar dos deuses. A prtica de certas
19 austeridades tem a mesma eficcia. E mais: "O sacrifcio de tal forma o princpio por excelncia, que a ele relacionada no somente a origem dos homens, mas tambm a dos deuses. Tal concepo pode, com razo, parecer estranha. No entanto, ela se explica como uma das ltimas conseqncias da idia da onipotncia do sacrifcio". Assim, em toda a primeira parte do trabalho de Bergaigne, s so abordados sacrifcios em que as divindades no desempenham nenhum papel. Esse fato no particular religio vdica, sendo, ao contrrio, de grande generalidade. Em todo culto h prticas que atuam por si mesmas, por uma virtude que lhes prpria e sem que nenhum deus se intercale entre o indivduo que executa o rito e o objetivo buscado. Quando, na Festa dos Tabernculos, o judeu movimentava o ar agitando ramos de salgueiro segundo um certo ritmo, era para fazer o vento levantar-se e a chuva cair; e acreditava-se que o fenmeno desejado resultasse automaticamente do rito, contato que este fosse executado da forma correta. Alis, isso o que explica a importncia primordial dada por quase todos os cultos parte material das cerimnias. Esse formalismo religioso, muito provavelmente a forma primria do formalismo jurdico, advm de que a frmula a pronunciar, os movimentos a executar, tendo em si mesmos a fonte de sua eficcia, a perderiam, se no se conformassem exatamente ao tipo consagrado pelo sucesso. Assim h ritos sem deuses e, inclusive, h ritos dos quais derivam os deuses. Nem todas as virtudes religiosas emanam de personalidades divinas, e h relaes culturais que visam outra coisa que no unir o homem a uma divindade. Portanto, a religio vai alm da idia de deuses ou de espritos, logo no pode se definir exclusivamente em funo desta ltima. III - Descartadas essas definies, nossa vez de nos colocarmos diante do problema. Em primeiro lugar observemos que, em todas essas frmulas, a natureza da religio em seu conjunto que se tenta exprimir diretamente. Procede-se como se a religio formasse uma espcie de entidade indivisvel, quando ela um todo formado de partes; um sistema mais ou menos complexo de mitos, de dogmas, de ritos, de cerimnias. Ora, um todo no pode ser definido seno em relao s partes que o formam. mais metdico, portanto, procurar caracterizar os fenmenos elementares dos quais toda religio resulta, antes do sistema produzido por sua unio. Esse mtodo impe-se sobretudo pelo fato de existirem fenmenos religiosos que no dizem respeito a nenhuma religio determinada. o caso dos que constituem a matria do folclore. Em geral, so restos de religies desaparecidas, sobrevivncias inorganizadas; mas h outros tambm que se formaram espontaneamente sob a influncia de causas locais. Nos pases europeus, o cristianismo esforou-se por absorv-los e assimil-los; imprimiu-lhes uma cor crist. Todavia, muitos deles persistiram at uma data recente ou persistem ainda com uma relativa autonomia: festas da rvore de maio, do solstcio de vero, do carnaval, crenas diversas relativas a gnios, a demnios locais, etc. Embora o carter religioso desses fatos v se apagando, sua importncia religiosa, no obstante, tal que permitiu a Mannhardt e sua escola renovarem a cincia das religies. Uma definio que no levasse isso em conta no compreenderia, portanto, tudo o que religioso. Os fenmenos religiosos classificam-se naturalmente em duas categorias fundamentais: as crenas e os ritos. As primeiras so estados da opinio, consistem em representaes; os segundos so modos de ao determinados. Entre esses dois tipos de fatos h exatamente a diferena que separa o pensamento do movimento. Os ritos s podem ser definidos e distinguidos das outras prticas humanas, notada mente das prticas morais, pela natureza especial de seu objeto. Com efeito, uma
20 regra moral, assim como um rito, nos prescreve maneiras de agir, masque se dirigem a objetos de um gnero diferente. Portanto, o objeto do rito que precisaramos caracterizar para podermos caracterizar o prprio rito. Ora, na crena que a natureza especial desse objeto se exprime. Assim; s se pode definir o rito aps se ter definido a crena. Todas as crenas religiosas conhecidas, sejam simples ou complexas, apresentam um mesmo carter comum: supem uma classificao das coisas, reais ou ideais, que os homens concebem, em duas classes, em dois gneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos que as palavras profano e sagrado traduzem bastante bem. A diviso do mundo em dois domnios que compreendem, um, tudo o que sagrado, outro, tudo o que profano, tal o trao distintivo do pensamento religioso: as crenas, os mitos, os gnomos, as lendas, so representaes ou sistemas de representaes que exprimem a natureza das coisas sagradas, as virtudes e os poderes que lhes so atribudos, sua histria, suas relaes mtuas e com as coisas profanas. Mas, por coisas sagradas, convm no entender simplesmente esses seres pessoais que chamamos deuses ou espritos: um rochedo, uma rvore, uma fonte, um seixo, um pedao de madeira, uma casa, em uma palavra, uma coisa qualquer pode ser sagrada. Um rito pode ter esse carter; inclusive, no existe rito que no o tenha em algum grau. H palavras, frases, frmulas que s podem ser pronunciadas pela boca de personagens consagrados; h gestos e movimentos que no podem ser executados por todo o mundo. Se o sacrifcio vdico teve tal eficcia, se inclusive, segundo a mitologia, foi gerador de deuses, ao invs de ser apenas um meio de conquistar seus favores, que ele possua uma virtude comparvel dos seres mais sagrados. O crculo dos objetos sagrados no pode, portanto, ser determinado de uma vez por todas; sua extenso infinitamente varivel conforme as religies. Eis de que maneira o budismo uma religio: que, na falta de deuses, ele admite a existncia de coisas sagradas, que so as quatro verdades santas e as prticas que delas derivam. Mas limitamo-nos at aqui a enumerar, a ttulo de exemplos, um certo nmero de coisas sagradas; cumpre agora indicar atravs de que caractersticas gerais elas se distinguem das coisas profanas. Poderamos ser tentados a defini-las, de incio, pelo lugar que geralmente lhes atribudo na hierarquia dos seres. Elas costumam ser consideradas como superiores em dignidade e em poderes s coisas profanas e, em particular, ao homem, quando este apenas um homem e nada possui, por si prprio, de sagrado. Com efeito, o homem representado ocupando, em relao a elas, uma situao inferior e dependente; e essa representao por certo no deixa de ser verdadeira. S que nisto no h nada que seja realmente caracterstico do sagrado. No basta que uma coisa seja subordinada a uma outra para que a segunda seja sagrada em relao primeira. Os escravos dependem de seus senhores, os sditos de seu rei, os soldados de seus comandantes, as classes inferiores das classes dirigentes, assim como o avarento depende de seu ouro e o ambicioso, do poder e das mos que o detm; ora, se dizemos s vezes de um homem que ele tem a religio dos seres ou das coisas aos quais atribui, assim, um valor eminente e uma espcie de superioridade em relao a si prprio, claro que, em todos esses casos, a palavra tomada num sentido metafrico e que no h nada, nessas relaes, que seja propriamente religioso. Por outro lado, convm no perder de vista que h coisas sagradas de todo tipo e que h aquelas diante das quais o homem se sente relativamente vontade. Um amuleto tem um carter sagrado, no entanto o respeito que inspira nada tem de excepcional. Mesmo diante de seus deuses, o homem nem sempre se encontra numa posio de acentuada inferioridade, pois muitas vezes exerce sobre eles uma verdadeira coero
21 fsica para obter o que deseja. Bate-se no fetiche com o qual no se est contente, reconciliando-se com ele caso venha a se mostrar mais dcil aos desejos de seu adorador. Para obter a chuva, lanam-se pedras na fonte ou no lago sagrado onde se supe residir o deus da chuva; acredita-se, deste modo, obrig-lo a sair e a se mostrar. Alis, se verdade que o homem depende de seus deuses, a dependncia recproca. Tambm os deuses tm necessidade do homem: sem as oferendas e os sacrifcios, eles morreriam. Teremos ocasio de mostrar que essa dependncia dos deuses em relao a seus fiis mantm-se inclusive nas religies mais idealistas. Mas, se uma distino puramente hierrquica um critrio ao mesmo tempo muito geral e muito impreciso, no nos resta outra coisa para definir o sagrado em relao ao profano, a no ser sua heterogeneidade. E o que toma essa heterogeneidade suficiente para caracterizar semelhante classificao das coisas e distingui-Ia de qualquer outra justamente o fato de ela ser muito particular: ela absoluta. No existe na histria do pensamento humano um outro exemplo de duas categorias de coisas to profundamente diferenciadas, to radicalmente opostas uma outra. A oposio tradicional entre o bem e o mal no nada ao lado desta; pois o bem e o mal so duas espcies contrrias de um mesmo gnero, a moral, assim como a sade e a doena so apenas dois aspectos diferentes de uma mesma ordem de fatos, a vida, ao passo que o sagrado e o profano foram sempre e em toda parte concebidos pelo esprito humano como gneros separados, como dois mundos entre os quais nada existe em comum. As energias que se manifestam num no so simplesmente as que se encontram no outro, com alguns graus a mais; so de outra natureza. Conforme as religies, essa oposio foi concebida de maneiras diferentes. Numa, para separar esses dois tipos de coisas, pareceu suficiente localiz-las em regies distintas do universo fsico; noutra, algumas delas so lanadas num meio ideal e transcendente, enquanto o mundo material entregue s outras em plena propriedade. Mas, se as formas do contraste so variveis, o fato mesmo do contraste universal. Isso no significa, porm, que um ser jamais possa passar de um desses mundos para o outro; mas a maneira como essa passagem se produz, quando ocorre, pe em evidncia a dualidade essencial dos dois reinos. A passagem implica, com efeito, uma verdadeira metamorfose. o que demonstram particularmente os ritos de iniciao tais como so praticados por uma quantidade de povos. A iniciao uma longa srie de cerimnias que tm por objeto introduzir o jovem na vida religiosa: ele sai pela vez do mundo puramente profano onde transcorreu sua primeira infncia para entrar no crculo das coisas sagradas. Ora, essa mudana de estado concebida, no como o simples e regular desenvolvimento de germes preexistentes, mas como uma transformao totius substantiae. Diz-se que, naquele momento, o jovem morre, que a pessoa determinada que ele era cessa de existir e que uma outra, instantaneamente, substitui a precedente. Ele renasce sob uma nova forma. Considera-se que cerimnias apropriadas realizam essa morte e esse renascimento, entendidos no num sentido simplesmente simblico, mas tomados ao p da letra. No isso uma prova de que h soluo de continuidade entre o ser profano que ele era e o ser religioso em que se toma? Essa heterogeneidade inclusive tal que no raro degenera num verdadeiro antagonismo. Os dois mundos no so apenas concebidos como separados, mas como hostis e rivais um do outro. Como s pode pertencer plenamente a um se tiver sado inteiramente do outro, o homem exortado a retirar-se totalmente do profano, para levar uma vida exclusivamente religiosa. Da a vida monstica que, ao lado e fora do meio natural onde vive o homem comum, organiza artificialmente um outro meio, fechado ao primeiro e que quase sempre tende a ser o seu oposto. Da o ascetismo mstico, cujo
22 objeto extirpar do homem tudo o que nele pode permanecer de apego ao mundo profano. Da, enfim, todas as formas de suicdio religioso, coroamento lgico desse ascetismo, pois a nica maneira de escapar totalmente vida profana , em ltima instncia, evadir-se totalmente da vida. A oposio desses dois gneros ir, alis, traduzir-se exteriormente por um signo visvel que permita reconhecer com facilidade essa classificao muito especial, onde quer que ela exista. Como a noo de sagrado est, no pensamento dos homens, sempre e em toda parte separada da noo de profano, como concebemos entre elas uma espcie de vazio lgico, ao esprito repugna invencivelmente que as coisas correspondentes sejam confundidas ou simplesmente postas em contato, pois tal promiscuidade ou mesmo uma contigidade demasiado direta contradizem violentamente o estado de dissociao em que se acham tais idias nas conscincias. A coisa sagrada , por excelncia, aquela que o profano no deve e no pode impunemente tocar. Claro que essa interdio no poderia chegar ao ponto de tornar impossvel toda comunicao entre os dois mundos, pois, se o profano no pudesse de maneira nenhuma entrar em relao com o sagrado, este de nada serviria. Mas esse relacionamento, alm de ser sempre, por si mesmo, uma operao delicada, que requer precaues e uma iniciao mais ou menos complicada, de modo nenhum possvel sem que o profano perca suas caractersticas especficas, sem que se tome ele prprio sagrado num certo grau e numa certa medida. Os dois gneros no podem se aproximar e conservar ao mesmo tempo sua natureza prpria. Temos, desta vez, um primeiro critrio das crenas religiosas. Claro que, no interior desses dois gneros fundamentais, h espcies secundrias que, por sua vez, so mais ou menos incompatveis umas com as outras. Mas o caracterstico do fenmeno religioso que ele supe sempre uma diviso bipartida do universo conhecido e conhecvel em dois gneros que compreendem tudo o que existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas sagradas so aquelas que as proibies protegem e isolam; as coisas profanas, aquelas a que se 46 aplicam essas proibies e que devem permanecer distncia das primeiras. As crenas religiosas so representaes que exprimem a natureza das coisas sagradas e as relaes que elas mantm, seja entre si, seja com as coisas profanas. Enfim, os ritos so regras de conduta que prescrevem como o homem deve comportar-se com as coisas sagradas. Quando um certo nmero de coisas sagradas mantm entre si relaes de coordenao e de subordinao, de maneira a formar um sistema dotado de uma certa unidade, mas que no participa ele prprio de nenhum outro sistema do mesmo gnero, o conjunto das crenas e dos ritos correspondentes constitui uma religio. V-se, por essa definio, que uma religio no corresponde necessariamente a uma nica e mesma idia, no se reduz a um princpio nico que, embora diversificando-se conforme as circunstncias em que se aplica, seria, no fundo, por toda parte, idntico a si mesmo: trata-se de um todo formado de partes distintas e relativamente individualizadas. Cada grupo homogneo de coisas sagradas, ou mesmo cada coisa sagrada de alguma importncia, constitui um centro organizador em tomo do qual gravita um grupo de crenas e de ritos, um culto particular; e no h religio, por mais unitria que seja, que no reconhea uma pluralidade de coisas sagradas. Mesmo o cristianismo, pelo menos em sua forma catlica, admite, alm da personalidade divina - alis, tripla ao mesmo tempo que una -, a Virgem, os anjos, os santos, as almas dos mortos, etc. Assim, uma religio no se reduz geralmente a um culto nico, mas consiste em um sistema de cultos dotados de certa autonomia. Essa autonomia, por sinal, varivel. s vezes, os cultos so hierarquizados e subordinados a um culto predominante, no qual acabam inclusive por ser absorvidos; mas ocorre tambm estarem simplesmente
23 justapostos e confederados. A religio que iremos estudar nos fornecer justamente um exemplo desta ltima organizao. Ao mesmo tempo, explica-se que possa haver grupos de fenmenos religiosos que no pertencem a nenhuma religio constituda: que eles no esto ou no mais esto integrados num sistema religioso. Se um dos cultos em questo conseguir manterse por razes especiais quando o conjunto do qual fazia parte desaparece, ele ir sobreviver apenas no estado desintegrado. Foi o que aconteceu a tantos cultos agrrios que sobreviveram a si prprios no folclore. Em certos casos, no sequer um culto, mas uma simples cerimnia, um rito particular que persiste sob essa forma. Embora essa definio seja apenas preliminar, ela j permite entrever em que termos se deve colocar o problema que domina necessariamente cincia das religies. Quando se acredita que os seres sagrados s se distinguem dos demais pela maior intensidade dos poderes que lhes so atribudos, a questo de saber de que maneira os homens puderam ter a idia desses seres bastante simples: basta examinar quais so as foras que, por sua excepcional energia, foram capazes de impressionar to vivamente o esprito humano para inspirar sentimentos religiosos. Mas se, como tentamos estabelecer, as coisas sagradas diferem em natureza das coisas profanas, se so de uma outra essncia, o problema muito mais complexo. Pois preciso perguntar ento o que levou o homem a ver no mundo dois mundos heterogneos e incomparveis, quando nada na experincia sensvel parecia dever sugerir-lhe a idia de uma dualidade to radical. IV - Entretanto, essa definio no ainda completa, pois convm igualmente a duas ordens de fatos que, embora aparentados entre si, precisam ser distinguidos: tratase da magia e da religio. Tambm a magia feita de crenas e de ritos. Assim como a religio, tem seus mitos e seus dogmas; eles so apenas mais rudimentares, certamente porque, buscando fins tcnicos e utilitrios, a magia no perde seu tempo com especulaes. Ela tem igualmente suas cerimnias, seus sacrifcios, suas purificaes, suas preces, seus cantos e suas danas. Os seres que o mgico invoca, as foras que emprega no so apenas da mesma natureza que as foras e os seres aos quais se dirige a religio; com muita freqncia, so exatamente os mesmos. Assim, desde as sociedades mais inferiores, as almas dos mortos so coisas essencialmente sagradas e so objeto de ritos religiosos. Ao mesmo tempo, porm, elas desempenharam na magia um papel considervel. Tanto na Austrlia como na Melansia, tanto na Grcia como nos povos cristos, as almas dos mortos, suas ossadas, seus cabelos, esto entre os intermedirios muitas vezes utilizados pelo mgico. Os demnios so igualmente um instrumento usual da ao mgica. Ora, tambm os demnios so seres cercados de proibies; tambm eles so separados, vivem num mundo parte e, inclusive, costuma ser difcil distingui-los dos deuses propriamente ditos. Alis, mesmo no cristianismo, no o diabo um deus decado? E, independente at de suas origens, no tem ele um carter religioso pelo fato mesmo de o inferno, do qual o preposto, ser um elemento indispensvel da religio crist? H inclusive divindades regulares e oficiais que so invocadas pelo mgico. Algumas vezes, so os deuses de um povo estrangeiro: por exemplo, os mgicos gregos faziam intervir deuses egpcios, assrios ou judeus. Outras vezes, so deuses nacionais mesmos: Hcate e Diana eram objeto de um culto mgico; a Virgem, Cristo e os santos foram utilizados da mesma maneira pelos mgicos cristos. Ser que se deveria ento dizer que a magia no pode ser distinguida com rigor da religio? Que a magia est repleta de religio, como a religio de magia, e que; por conseguinte, impossvel separ-las e definir uma sem a outra? Mas o que toma essa tese dificilmente sustentvel a marcada repugnncia da religio pela magia e, em
24 contrapartida, a hostilidade da segunda pela primeira. A magia tem uma espcie de prazer profissional em profanar as coisas sagradas; em seus ritos, realiza em sentido diametralmente oposto as cerimnias religiosas. Por sua vez, a religio, se nem sempre condenou e proibiu os ritos mgicos, os v geralmente com desagrado. Como observam Hubert e Mauss, h, nos procedimentos do mgico, algo de intrinsecamente anti-religioso, portanto, ainda que possa haver alguma relao entre esses dois tipos de instituies, difcil que elas no se oponham em algum ponto; e ainda mais necessrio perceber em que se distinguem na medida em que pretendemos limitar nosso estudo religio e deter no ponto em que comea a magia. Eis de que maneira se pode traar uma linha de demarcao entre esses dois domnios. As crenas propriamente religiosas so sempre comuns a uma coletividade determinada, que declara aderir a elas e praticar os ritos que lhes so solidrios. Tais crenas no so apenas admitidas, a ttulo individual, por todos os membros dessa coletividade, mas so prprias do grupo e fazem sua unidade. Os indivduos que compem essa coletividade sentem-se ligados uns aos outros pelo simples fato de terem uma f comum. Uma sociedade cujos membros esto unidos por se representarem da mesma maneira o mundo sagrado e por traduzirem essa representao comum em prticas idnticas, isso a que chamamos uma igreja. Ora, no encontramos, na histria, religio sem igreja. s vezes a igreja estritamente nacional, outras vezes estende-se para alm das fronteiras; ora abrange um povo inteiro (Roma, Atenas, o povo hebreu), ora compreende apenas uma de suas fraes (as sociedades crists desde o advento do protestantismo); ora dirigida por um corpo de sacerdotes, ora mais ou menos desprovida de qualquer rgo dirigente oficial. Mas, onde quer que observemos uma vida religiosa, ela tem por substrato um grupo definido. Mesmo os cultos ditos privados, como o culto domstico ou o culto corporativo, satisfazem essa condio, pois so sempre celebrados por uma coletividade - a famlia ou a corporao. Alis, assim como essas religies particulares so, na maioria das vezes, apenas formas especiais de uma religio mais geral que abarca a totalidade da vida, essas igrejas restritas, na realidade, no so mais que capelas de uma igreja mais vasta, a qual, por causa dessa extenso mesma, merece ainda mais ser chamada por esse nome. Algo bem diferente se d com a magia. Claro que as crenas mgicas jamais deixam de ter alguma generalidade; com freqncia esto difusas em largas camadas de populao e h inclusive muitos povos em que seu nmero de praticantes no menor que o da religio propriamente dita. Mas elas no tm por efeito ligar uns aos outros seus adeptos e uni-os num mesmo grupo, vivendo uma mesma vida. No existe igreja mgica. Entre o mgico e os indivduos que o consultam, como tambm entre esses indivduos, no h vnculos durveis que faam deles os membros de um mesmo corpo moral, comparvel quele formado pelos fiis de um mesmo deus, pelos praticantes de um mesmo culto. O mgico tem uma clientela, no uma igreja, e seus clientes podem perfeitamente no manter entre si nenhum relacionamento, ao ponto de se ignorarem uns aos outros; mesmo as relaes que estabelecem com o mgico so, em geral, acidentais e passageiras; so em tudo semelhantes s de um doente com seu mdico. O carter oficial e pblico com que s vezes ele investido no modifica em nada a situao; o fato de exercer sua funo abertamente no o une de maneira mais regular e durvel aos que recorrem a seus servios. verdade que, em certos casos, os mgicos formam entre si sociedades acontece de se reunirem mais ou menos periodicamente para celebrarem em comum certos ritos; conhecemos o lugar que ocupam as reunies de feiticeiras no folclore europeu. Mas,
25 antes de mais nada, notar-se- que tais associaes de modo nenhum so indispensveis ao funcionamento da magia; so inclusive raras e bastante excepcionais. O mgico no tem a menor necessidade, para praticar sua arte, de unir-se a seus confrades. Ele sobretudo um isolado; em geral, longe de buscar a sociedade, a evita. "Mesmo em relao a seus colegas, conserva sempre uma atitude reservada. Ao contrrio, a religio inseparvel da idia de igreja. Sob esse primeiro aspecto, j existe entre a magia e a religio uma diferena essencial. Alm do mais, e sobretudo, essas sociedades mgicas, quando se formam, jamais compreendem, muito pelo contrrio, todos os adeptos da magia, mas apenas os mgicos; os leigos, se possvel cham-los assim, ou seja, aqueles em proveito dos quais os ritos so celebrados, aqueles, em suma, que representam os fiis dos cultos regulares, so excludos desses encontros. Ora, o mgico est para a magia assim como o sacerdote para a religio, e um colgio de sacerdotes no uma igreja, como tampouco o seria uma congregao religiosa que prestasse a algum santo, na sombra do claustro, um culto particular. Uma igreja no simplesmente uma confraria sacerdotal; a comunidade moral formada por todos os crentes de uma mesma f, tanto os fiis como os sacerdotes. Uma sociedade desse gnero normalmente no se verifica na magia. Mas, se introduzimos a noo de igreja na definio de religio, no estaremos excluindo dela, ao mesmo tempo, as religies individuais que o indivduo institui para si mesmo e celebra por conta prpria? Ora, h poucas sociedades em que estas no ocorram. Cada Ojibway, como veremos mais adiante, tem seu manitu pessoal que ele prprio escolhe e ao qual presta deveres religiosos particulares; o melansio nas ilhas Banks tem seu tamaniu; o romano tem seu genius; o cristo, seu santo padroeiro e seu anjo da guarda, etc. Todos esses cultos parecem, por definio, independentes da idia de grupo. E essas religies individuais no apenas so muito freqentes na histria: alguns se perguntam hoje se elas no esto destinadas a se tomar a forma eminente da vida religiosa e se no chegar o dia em que no haver outro culto seno aquele que cada um celebrar livremente em seu foro interior. Mas, deixando provisoriamente de lado essas especulaes sobre o futuro, se nos limitarmos a considerar as religies tais como so no presente e tais como foram no passado, aparece com evidncia que esses cultos individuais constituem, no sistemas religiosos distintos e autnomos, mas simples aspectos da religio comum a toda igreja da qual os indivduos fazem parte. O santo padroeiro dos cristos escolhido na lista oficial dos santos reconhecidos pela igreja catlica, e so igualmente regras cannicas que prescrevem de que maneira cada fiel deve cumprir esse culto particular. Do mesmo modo, a idia de que cada homem tem necessariamente um gnio protetor est, sob formas diferentes, na base de um grande nmero de religies americanas, assim como da religio romana (para citar apenas dois exemplos); pois ela , como veremos mais adiante, estreitamente solidria idia de alma, e a idia de alma no das que possam ser inteiramente abandonadas ao arbtrio dos particulares. Em uma palavra, a igreja da qual ele membro que ensina ao indivduo o que so esses deuses pessoais, qual seu papel, de que maneira deve entrar em contato com eles, de que maneira deve honr-los. Quando analisamos metodicamente as doutrinas dessa igreja, seja qual for, surge um momento em que encontramos no trajeto aquelas que dizem respeito aos cultos especiais. Portanto, no temos a duas religies de tipos diferentes e voltadas em sentidos opostos, mas sim, de ambos os lados, as mesmas idias e os mesmos princpios, aplicados aqui s circunstncias que interessam coletividade em seu conjunto, ali, vida do indivduo. A solidariedade inclusive to estreita que, em alguns povos, as cerimnias atravs das quais o fiel entra pela primeira vez em comunicao
26 com seu gnio protetor se misturam a ritos de carter pblico incontestvel, a saber, os ritos de iniciao. Restam as aspiraes contemporneas a uma religio que consistiria inteiramente em estados interiores e subjetivos, e que seria livremente construda por cada um de ns. Mas, por mais reais que sejam, elas no poderiam afetar nossa definio, pois esta s pode aplicar-se a fatos conhecidos e realizados, no a virtualidades incertas. Podemos definir as religies tais como so ou tais como foram, no tais como tendem mais ou menos vagamente a ser. possvel que esse individualismo religioso seja destinado a traduzir-se nos fatos, mas, para poder dizer em que medida, seria preciso j saber o que a religio, de que elementos feita, de que causas resulta, que funo preenche; questes todas essas cuja soluo no se pode prejulgar enquanto no se tiver ultrapassado o limiar da pesquisa. somente ao cabo desse estudo que poderemos tratar de antecipar o futuro. Chegamos, pois, seguinte definio: uma religio um sistema solidrio de crenas e de prticas relativas a coisas sagradas, isto , separadas, proibidas, crenas e prticas que renem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem. O segundo elemento que participa assim de nossa definio no menos essencial que o primeiro, pois, ao mostrar que a idia de religio inseparvel da idia de igreja, ele faz pressentir que a religio deve ser uma coisa eminentemente coletiva. CAPTULO II AS PRINCIPAIS CONCEPES DA RELIGIO ELEMENTAR I - O animismo Munidos dessa definio, podemos sair em busca da religio elementar que nos propomos alcanar. As religies, mesmo as mais grosseiras que a histria e a etnografia nos fazem conhecer, j so de uma complexidade que se ajusta mal idia que algumas vezes se faz da mentalidade primitiva. Nelas encontramos no apenas um sistema cerrado de crenas e de ritos, mas inclusive tal pluralidade de princpios diferentes, tal riqueza de noes essenciais, que pareceu impossvel perceber nelas outra coisa que o produto tardio de uma evoluo bastante longa. Donde se concluiu que, para descobrir a forma realmente original da vida religiosa, era necessrio descer, atravs da anlise, mais abaixo dessas religies observveis, decomp-las em seus elementos comuns e fundamentais, para descobrir se, entre estes ltimos, haveria algum do qual os outros derivaram. O problema assim colocado, duas solues contrrias foram propostas. No existe, por assim dizer, sistema religioso, antigo ou recente, no qual, sob formas diversas, no se encontrem lado a lado como que duas religies, as quais, embora estreitamente unidas e at penetrando-se mutuamente, no deixam de ser distintas. Uma dirige-se s coisas da natureza, seja s grandes foras csmicas, como os ventos, os rios, os astros, o cu, etc., seja aos objetos de todo tipo que povoam a superfcie da terra, plantas, animais, pedras, etc.; por esse motivo lhe do o nome de naturissmo. A outra tem por objeto os seres espirituais, os espritos, almas, gnios, demnios, divindades propriamente ditas, agentes animados e conscientes como o homem, mas que se distinguem dele pela natureza dos poderes que lhes so atribudos e, sobretudo, pela caracterstica particular de no afetarem os sentidos do mesmo modo: normalmente no so perceptveis a olhos humanos. Chama-se animismo essa religio dos espritos. Ora, para explicar a coexistncia, por assim dizer universal, dessas duas espcies de culto, duas teorias contraditrias foram propostas. Para uns, o animismo seria a religio primitiva, da qual o naturismo seria apenas uma forma secundria e derivada. Para
27 outros, ao contrrio, o culto da natureza que seria o ponto de partida da evoluo religiosa, o culto dos espritos sendo apenas um caso particular dele. Essas duas teorias so, at o presente, as nicas pelas quais se tentou explicar racionalmente as origens do pensamento religioso. Assim, o problema capital que a cincia das religies se coloca freqentemente se reduz a saber qual dessas duas solues preciso escolher, ou se no seria melhor combin-las, e, neste caso, que lugar deve-se atribuir a cada um desses dois elementos. Mesmo os estudiosos que no admitem nenhuma dessas hipteses em sua forma sistemtica, no deixam de conservar esta ou aquela das proposies sobre as quais elas repousam. H, portanto, um certo nmero de noes acabadas e de aparentes evidncias que necessrio submeter crtica antes de abordar, por nossa conta, o estudo dos fatos. Compreender-se- melhor que indispensvel tentar um novo caminho, quando se tiver compreendido a insuficincia dessas concepes tradicionais. I - Foi Tylor quem constituiu, em seus traos essenciais a teoria animista. Spencer, que a retomou em seguida, no o fez, verdade, sem nela introduzir algumas modificaes. Mas, em suma, tanto para um como para outro as questes se colocam nos mesmos termos, e as solues adotadas, com exceo de uma, so exatamente as mesmas. Podemos portanto reunir essas duas doutrinas na exposio a seguir, assinalando, porm, no momento oportuno, o ponto a partir do qual elas divergem. Para se ter o direito de ver nas crenas e prticas animistas a forma primitiva da vida religiosa, cumpre satisfazer a um triplo desideratum: 1) uma vez que, nessa hiptese, a idia de alma a noo cardinal da religio, preciso mostrar como ela se formou sem tomar nenhum de seus elementos de uma religio anterior; 2) a seguir, preciso ver de que maneira as almas tornaram-se objeto de um culto e transformaram-se em espritos; 3) enfim, j que o culto dos espritos no tudo em nenhuma religio, resta explicar como o culto da natureza derivou do primeiro. A idia de alma teria sido sugerida ao homem pelo espetculo, mal compreendido, da dupla vida que ele leva normalmente no estado de viglia, de um lado, e durante o sono, de outro. Para o selvagem, com efeito, suas representaes durante a viglia e aquelas que percebe no sonho possuem, ao que se diz, o mesmo valor: ele objetiva as segundas como as primeiras, ou seja, v nelas a imagem de objetos exteriores cujo aspecto elas reproduzem mais ou menos exatamente. Assim, quando sonha que visitou um pas distante, acredita ter estado realmente l. Mas ele s pode ter ido se existem dois seres nele: um, seu corpo, que permaneceu deitado no cho e que ele reencontra ao despertar na mesma posio; outro que, durante o mesmo tempo, moveuse atravs do espao. Do mesmo modo, se, durante o sono, se v conversando com um de seus companheiros que ele sabe estar distante, conclui que tambm este ltimo composto de dois seres: um que dorme a uma certa distncia, e outro que veio manifestar-se por meio do sonho. Dessas experincias repetidas desprende-se pouco a pouco a idia de que existe em cada um de ns um duplo, um outro, que, em determinadas condies, tem o poder de deixar o organismo onde reside e sair a peregrinar ao longe. Esse duplo reproduz naturalmente todos os traos essenciais do ser sensvel que lhe serve de invlucro exterior; mas, ao mesmo tempo, distingue-se dele por vrias caractersticas. mais mvel, j que capaz de percorrer num instante vastas distncias. mais malevel, mais plstico, pois, para sair do corpo, deve poder passar pelos orifcios do organismo, especialmente o nariz e a boca. representado, portanto, como feito de matria, sem dvida, mas de uma matria muito mais sutil e etrea do que todas aquelas que conhecemos empiricamente. Esse duplo a alma. E tudo indica que, num grande nmero de sociedades, a alma foi concebida como uma imagem do corpo;
28 acredita-se inclusive que ela reproduz as deformaes acidentais do corpo, como as resultantes de ferimentos e mutilaes. Certos australianos, aps terem matado seu inimigo, cortam-lhe o polegar direito a fim de que sua alma, privada conseqentemente do polegar, no possa atirar a lana e se vingar. Mas, embora assemelhando-se ao corpo, ela j possui ao mesmo tempo algo de semi-espiritual. Diz-se que " a parte mais sutil e mais leve do corpo", que "no tem carne, nem ossos, nem nervos"; que, quando se quer peg-la, nada se sente; que ela "como um corpo purificado". Alis, juntamente com esse dado fundamental do sonho, outros fatos da experincia vinham naturalmente agrupar-se para inclinar os espritos no mesmo sentido: a sncope, a apoplexia, a catalepsia, o xtase, em uma palavra, todos os casos de insensibilidade temporria. De fato, esses casos se explicam muito bem a partir da hiptese de que o princpio da vida e do sentimento pode deixar momentaneamente o corpo. Por outro lado, era natural que esse princpio fosse confundido com o duplo, uma vez que a ausncia deste durante o sono tem cotidianamente por efeito suspender a vida e o pensamento. Assim observaes diversas pareciam verificar-se mutuamente e confirmar a idia da dualidade constitutiva do homem. Mas a alma no um esprito. Est presa a um corpo do qual s excepcionalmente sai; e, enquanto no for nada, alm disso, no objeto e nenhum culto. O esprito, ao contrrio, embora tendo geralmente por residncia uma coisa determinada, capaz de afastar-se dela vontade e o homem s pode entrar em relaes com ele observando precaues rituais. Portanto, a alma s podia tornar-se esprito com a condio de transformar-se: a simples aplicao das idias precedentes ao fato da morte produziu naturalmente essa metamorfose. Para uma inteligncia rudimentar, com efeito, a morte no se distingue de um longo desmaio ou de um sono prolongado; ela tem todas as aparncias disso. Assim, parece que tambm ela consiste numa separao da alma e do corpo, anloga que se produz toda noite; mas como, em semelhante caso, no se v o corpo reanimar-se, forma-se a idia de uma separao sem limite de tempo determinvel. Inclusive, uma vez destrudo o corpo - e os ritos funerrios tm em parte por objeto apressar essa destruio -, a separao tida necessariamente por definitiva. Eis, portanto, espritos desligados de todo organismo e soltos livremente pelo espao. Como seu nmero aumenta com o tempo, forma-se, ao lado da populao viva, uma populao de almas. Essas almas de homens tm necessidades e paixes de homens; procuram, portanto, misturar-se vida de seus companheiros de ontem, seja para ajud-las, seja para prejudic-las, conforme os sentimentos que conservaram por eles. Ora, sua natureza faz delas, conforme o caso, ou auxiliares muito preciosos, ou adversrios muito temidos. Essas almas podem, com efeito, graas sua extrema fluidez, penetrar nos corpos e causar todo tipo de desordens, ou ento, ao contrrio, aumentar sua vitalidade. Assim, surge o hbito de atribuir-lhes todos os acontecimentos da vida que fogem um pouco do comum: h poucos desses acontecimentos que no possam explicar. Elas constituem, portanto, uma espcie de arsenal de causas sempre disponveis e que jamais deixam em apuros o esprito em busca de explicaes. Um homem parece inspirado? Fala com veemncia? Encontra-se como que acima de si mesmo e do nvel mdio dos homens? que uma alma benfazeja est dentro dele e o anima. Um outro sofre um ataque de loucura? que um esprito mau introduziu-se em seu corpo e trouxe-lhe a perturbao. No h doena que no possa ser relacionada a alguma influncia desse gnero. Assim, o poder das almas cresce com tudo o que lhes atribudo, de tal maneira que o homem acaba por ver-se prisioneiro desse mundo imaginrio do qual, no entanto, o autor e o modelo. Cai sob a dependncia dessas foras espirituais que criou com sua prpria mo e sua prpria imagem. Pois, se as almas determinam a tal ponto a sade e a
29 enfermidade, os bens e os males, prudente obter sua benevolncia ou apazigu-las quando esto irritadas: da as oferendas, os sacrifcios, as preces, em suma, todo o conjunto das observncias religiosas. Eis a a alma transformada. De simples princpio vital, animando um corpo de homem, tornou-se um esprito, um gnio, bom ou mau, uma divindade inclusive, segundo a importncia dos efeitos que lhe so imputados. Mas, j que a morte que teria operado essa apoteose, aos mortos, em ltima instncia, s almas dos antepassados, que teria se dirigido o primeiro culto da humanidade. Assim, os primeiros ritos teriam sido ritos morturios; os primeiros sacrifcios teriam sido oferendas alimentares destinadas a satisfazer as necessidades dos defuntos; os primeiros altares teriam sido tmulos. Mas, como esses espritos eram de origem humana, eles s se interessavam pela vida dos homens e agiam supostamente apenas sobre os acontecimentos humanos. Resta explicar de que maneira outros espritos foram imaginados para explicar outros fenmenos do universo, e de que maneira, portanto, ao lado do culto dos antepassados, constitui-se um culto da natureza. Para Tylor, essa extenso do animismo seria devida mentalidade particular do primitivo que, como a criana, no sabe distinguir o animado do inanimado. J que os primeiros seres dos quais a criana comea a formar-se uma idia so homens, isto , ela prpria e seus prximos, com base no modelo da natureza humana que ela tende a conceber todas as coisas. Nos seus brinquedos, nos objetos de todo tipo que afetam seus sentidos, ela v seres vivos como ela. Ora, o primitivo pensa como uma criana. Conseqentemente, tambm ele est inclinado a dotar as coisas, mesmo inanimadas, de uma natureza anloga sua. Tendo chegado, portanto, pelas razes expostas mais acima, idia de que o homem um corpo que um esprito anima, ele haveria necessariamente de atribuir aos prprios corpos brutos uma dualidade do mesmo gnero e almas semelhantes sua. Todavia, a esfera de ao de ambas no podia ser a mesma. Almas de homens s tm influncia direta sobre o mundo dos homens: elas tm pelo organismo humano uma espcie de predileo mesmo quando a morte deu-lhes a liberdade. Ao contrrio, as almas das coisas residem antes de tudo nas coisas e so consideradas causas produtoras de tudo o que nela acontece. As primeiras explicam a sade ou a doena, habilidade ou a falta de jeito, etc.; atravs das segundas explicam-se sobretudo os fenmenos do mundo fsico, a marcha dos rios ou dos astros, a geminao das plantas, a proliferao dos animais, etc. Foi assim que a primeira filosofia do homem, que est na base do culto dos antepassados, completou-se por uma filosofia do mundo. Ante esses espritos csmicos, o homem viu-se num estado de dependncia ainda mais evidente do que face aos duplos errantes de seus antepassados. Pois, com estes ltimos, ainda podia manter um comrcio ideal e imaginrio, ao passo que ele depende realmente das coisas; para viver, tem necessidade delas; portanto, acreditou igualmente ter necessidade dos espritos que supostamente animavam essas coisas e determinavam suas manifestaes diversas. Implorou sua assistncia, solicitou-a mediante oferendas, preces, e a religio do homem completou-se numa religio da natureza. Herbert Spencer objeta a essa explicao que a hiptese sobre a qual repousa contestada pelos fatos. Admite-se, diz ele, que houve um momento em que o homem no percebia as diferenas que separam o animado do inanimado. Ora, medida que se sobe na escala animal, v-se aumentar a capacidade de fazer essa distino. Os animais superiores no confundem um objeto que se move por si mesmo e cujos movimentos se
30 ajustam a fins, com aqueles movidos de fora e mecanicamente. "Quando um gato se entretm com um rato que pegou, se ele o v permanecer por muito tempo imvel, tocao com a ponta da pata para faz-lo correr. Evidentemente, o gato pensa que um ser vivo que for incomodado procurar escapar. O homem, mesmo primitivo, no poderia, no entanto, ter uma inteligncia inferior dos animais que o precederam na evoluo; assim, no pode ser por falta de discernimento que ele passou do culto dos antepassados ao culto das coisas. Segundo Spencer, que neste ponto, mas somente neste, afasta-se de Tylor, essa passagem se deve de fato a uma confuso, mas de outra espcie. Ela seria, pelo menos na maior parte, o resultado de uma srie de ambigidades. Em muitas sociedades inferiores, um costume sua linguagem, muito difcil ao primitivo distinguir uma metfora da realidade. Portanto, ele logo teria perdido de vista que essas denominaes eram apenas figuras e, tomando-as literalmente, teria acabado por acreditar que um antepassado chamado Tigre ou Leo era realmente um tigre ou um leo. Em conseqncia, o culto prestado at ento a esse antepassado teria se transferido para o animal com o qual doravante era confundido; e operando-se a mesma substituio em relao s plantas, aos astros, a todos os fenmenos naturais, a religio da natureza teria tomado o lugar da velha religio dos mortos. Certamente, ao lado dessa confuso fundamental, Spencer assinala outras que teriam, aqui ou ali, reforado a ao da primeira. Por exemplo, os animais que freqentam os arredores dos tmulos ou as casas dos homens teriam sido tomados como almas reencarnadas, e nessa qualidade que os teriam adorado; ou, ento, a montanha, que a tradio apontava como o lugar de origem da raa, teria acabado por se transformar na origem mesma dessa raa; teriam acreditado que os homens eram os descendentes dela porque os antepassados tinham vindo de l e, portanto, ela prpria seria vista como antepassado. Mas, como confessa Spencer, essas causas acessrias s teriam tido uma influncia secundria: o que teria principalmente determinado a instituio do naturismo "a interpretao literal dos nomes metafricos. Precisvamos expor essa teoria a fim de que nossa apresentao do animismo fosse completa; mas ela muito inadequada aos fatos e est por demais universalmente abandonada hoje para que haja motivos de deter-se ainda mais nela. Para poder explicar por uma iluso um fato to geral como a religio da natureza, seria preciso que a iluso invocada se devesse a causas de uma igual generalidade. Ora, ainda que enganos como os que Spencer menciona com uns raros exemplos pudessem explicar, l onde os constatamos, a transformao do culto dos antepassados em culto da natureza, no se percebe por que razo eles teriam se produzido com uma espcie de universalidade. Nenhum mecanismo psquico necessitava deles. Claro que a palavra, por sua ambigidade, podia favorecer o equvoco; mas todas as lembranas pessoais deixadas pelo antepassado na memria dos homens deviam opor-se confuso. Por que a tradio que representava o antepassado tal como havia sido, isto , como um homem que viveu uma vida de homem, teria por toda parte cedido ao prestgio da palavra? Por outro lado, devia haver alguma dificuldade em admitir que os homens pudessem nascer de uma montanha, de um astro, de um animal ou de uma planta; a idia de tal exceo s condies ordinrias da gerao no poderia deixar de levantar fortes resistncias. Assim, longe de o erro encontrar diante de si um caminho aberto, razes de toda ordem pareciam dever defender os espritos contra ele. Portanto, no se compreende como, a despeito de tantos obstculos, teria podido triunfar de uma maneira to geral. II - Resta a teoria de Tylor, cuja autoridade sempre grande. Suas hipteses sobre o sonho, sobre a gnese das idias de alma e esprito, so ainda clssicas. importante, pois, testar seu valor.
31 Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que os tericos do animismo prestaram um importante servio cincia das religies e mesmo histria geral das idias, ao submeterem a noo de alma anlise histrica. Ao invs de a considerarem, como tantos filsofos, um dado simples e imediato da conscincia, viram nela, de maneira bem mais justa, um todo complexo, um produto da histria e da mitologia. No cabe duvidar, com efeito, que ela seja algo essencialmente religioso por sua natureza, suas origens e suas funes. Foi da religio que os filsofos a receberam; assim, no se pode compreender a forma.sob a qual ela se apresenta entre os pensadores da Antiguidade, se no se levarem em conta os elementos mticos que serviram para form-la. Mas se Tylor teve o mrito de colocar o problema, a soluo que ele oferece no deixa de levantar graves dificuldades. Antes de mais nada, haveria reservas a fazer sobre o princpio mesmo que est na base dessa teoria. Admite-se como uma evidncia que a alma inteiramente distinta do corpo e que, dentro ou fora dele, ela vive normalmente uma vida prpria e autnoma. Ora, veremos que essa concepo no a do primitivo; pelo menos, ela exprime apenas um aspecto da idia que se faz da alma. Para o primitivo, a alma, embora independente, sob certos aspectos, do organismo que a anima, confunde-se em parte com este ltimo, ao ponto de no poder ser separada radicalmente dele: h rgos que so, no apenas sua sede privilegiada, mas sua forma exterior e sua manifestao material. A noo , portanto, mais complexa do que supe a doutrina e, conseqentemente, duvidoso que as experincias invocadas sejam suficientes para justific-la, pois, mesmo se permitissem compreender de que maneira o homem acreditou-se duplo, elas no saberiam explicar como essa dualidade no exclui, mas, ao contrrio, implica, uma unidade profunda e uma penetrao ntima dos dois seres assim diferenciados. Admitamos, porm, que a idia de alma seja redutvel idia de duplo e vejamos como teria se formado esta ltima. Ela teria sido sugerida ao homem pela experincia do sonho. Para compreender de que maneira, enquanto seu corpo permanecia deitado no cho, era capaz de ver durante o sono lugares mais ou menos distantes, ele teria sido levado a conceber-se como formado por dois seres: seu corpo, de um lado, e, de outro, um segundo si mesmo, capaz de deixar o organismo no qual habita e de percorrer o espao. Mas, em primeiro lugar, para que essa hiptese de duplo pudesse impor-se aos homens com uma espcie de necessidade, era preciso que fosse a nica possvel ou, pelo menos, a mais econmica. Ora, em realidade h hipteses mais simples, cuja idia, ao que parece, devia apresentar-se tambm naturalmente aos espritos. Por que, por exemplo, o adormecido no teria imaginado que, durante o sono, era capaz de ver a distncia? Para atribuir-se um tal poder, o dispndio de imaginao seria menor do que para construir essa complexa noo de um duplo, feito de uma substncia etrea, semiinvisvel, do qual a experincia direta no oferecia nenhum exemplo. Em todo caso, supondo-se que certos sonhos peam naturalmente a explicao animista, h com certeza muitos outros que so absolutamente refratrios a ela. Com muita freqncia nossos sonhos relacionam-se a acontecimentos passados; revemos o que vimos ou fizemos durante a viglia, ontem, anteontem, em nossa juventude, etc.; sonhos como esses so freqentes e ocupam um lugar considervel em nossa vida noturna. Ora, a idia do duplo no capaz de explic-los. Se o duplo pode transportar-se de um ponto a outro do espao, no se compreende como lhe seria possvel remontar o curso do tempo. Como que o homem, por mais rudimentar que fosse sua inteligncia, poderia acreditar, uma vez desperto, que acabara de presenciar realmente ou de tomar parte em acontecimentos que ele sabia terem se passado outrora? Como poderia imaginar que tinha vivido durante o sono uma vida que ele sabia ter h muito transcorrido? Era bem
32 mais natural que visse nessas imagens renovadas o que elas so realmente, isto , lembranas, tais como ele as tem durante o dia, mas de uma intensidade particular. Por outro lado, nas cenas em que somos atores e testemunhas enquanto dormimos, acontece freqentemente que um de nossos contemporneos desempenhe um papel ao mesmo tempo que ns: acreditamos v-lo e ouvi-lo ali onde ns mesmos nos vemos. Segundo o animismo, o primitivo explicar esses fatos imaginando que seu duplo foi visitado ou encontrado pelo duplo deste ou daquele de seus companheiros. Mas ser suficiente que os interrogue, ao despertar, para constatar que a experincia deles no coincide com a sua. Durante o mesmo tempo, tambm eles tiveram sonhos, mas diferentes. No se viram participando da mesma cena; acreditam ter visitado lugares bem diversos. E uma vez que, em semelhante caso, tais contradies devem ser a regra, como elas no levariam os homens a dizer-se que houve provavelmente erro, que eles imaginaram, que foram vtimas de uma iluso? Pois h um certo simplismo na cega credulidade que se atribui ao primitivo. improvvel que ele objetive necessariamente todas as suas sensaes. No deixar de perceber que, mesmo no estado de viglia, seus sentidos o enganam s vezes. Por que os acreditaria mais infalveis noite que durante o dia? Muitas razes se opunham, portanto, a que tomasse facilmente seus sonhos por realidades e os interpretasse como um desdobramento de seu ser. Alm do mais, mesmo que todo sonho se explicasse perfeitamente pela hiptese do duplo e inclusive no pudesse explicar-se de outro modo, faltaria dizer por que o homem buscou dar-lhe uma explicao. Certamente, o sonho constitui a matria de um problema possvel. Mas passamos constantemente ao largo de problemas que no nos colocamos, que no suspeitamos sequer, enquanto alguma circunstncia no nos fez sentir a necessidade de coloc-los. Mesmo quando o gosto da pura especulao despertado, a reflexo est longe de levantar todas as questes a que poderia eventualmente aplicar-se; somente a atraem as que apresentam um interesse particular. Sobretudo quando se trata de fatos que se reproduzem sempre da mesma maneira, o costume adormece facilmente a curiosidade e sequer pensamos em nos interrogar. Para sacudir esse torpor, preciso que exigncias prticas ou pelo menos, um interesse terico muito premente venham estimular nossa ateno e volt-la para esse lado. Eis a como, a cada momento da histria, h tantas coisas que renunciamos a compreender, sem mesmo ter conscincia de nossa renncia. At pocas no muito distantes, acreditava-se que o sol tivesse apenas alguns ps de dimetro. Havia algo de incompreensvel no fato de um disco luminoso to pequeno ser suficiente para iluminar a Terra; no entanto, durante sculos, a humanidade no pensou em resolver essa contradio. A hereditariedade um fato h muito conhecido, mas s recentemente procurou-se elaborar a sua teoria. Eram at aceitas certas crenas que a tomavam inteiramente ininteligvel: assim, para vrias sociedades australianas de que iremos falar, a criana no fisiologicamente o produto de seus pais. Essa preguia intelectual levada necessariamente ao mximo no primitivo. Esse ser frgil, disputando com dificuldade sua vida contra todas as foras que o assaltam, no tem tempo para o luxo em matria de especulao. S deve refletir quando incitado a isso. Ora, difcil perceber o que pode t-lo levado a fazer do sonho o tema de suas meditaes. O que o sonho em nossa vida? Como pequeno o espao que nela ocupa! Sobretudo por causa das impresses muito vagas que deixa na memria, da prpria rapidez com que se apaga da lembrana: E como surpreendente, portanto, que um homem de uma inteligncia to rudimentar tenha despendido tantos esforos para encontrar sua explicao! De suas duas existncias sucessivas, a diurna e a noturna, a primeira que devia interess-lo mais. No estranho que a segunda tenha cativado suficientemente sua ateno para que fizesse dela a base de todo um sistema de idias
33 complicadas e destinadas a ter sobre seu pensamento e sua conduta uma influncia to profunda? Tudo tende a provar, portanto, que a teoria animista da alma, apesar do crdito que ainda desfruta, deve ser revisada. Claro que, hoje, o prprio primitivo atribui seus sonhos, ou alguns deles, s movimentaes de seu duplo. Mas isso no quer dizer que o sonho forneceu efetivamente os elementos com os quais a idia de duplo ou de alma foi construda; pois ela pode ter sido aplicada posteriormente aos fenmenos do sonho, do xtase e da possesso, sem no entanto derivar deles. freqente que uma idia, uma vez constituda, seja empregada para coordenar ou esclarecer, com uma luz s vezes mais aparente que real, fatos com os quais ela primitivamente no se relacionava e que no podiam, por si prprios, sugeri-la. Hoje, prova-se correntemente Deus e a imortalidade da alma mostrando que essas crenas decorrem dos princpios fundamentais da moral; em realidade, elas tm uma origem bem diferente. A histria do pensamento religioso poderia fornecer numerosos exemplos dessas justificaes retrospectivas que nada podem nos ensinar sobre a maneira como se formaram as idias nem sobre os elementos que as compem. Alis, provvel que o primitivo distinga entre seus sonhos e no explique todos da mesma forma... Em nossas sociedades europias, mesmo as pessoas, muitas ainda, para quem o sono uma espcie de estado mgico-religioso, no qual o esprito, aliviado parcialmente do corpo, tem uma acuidade de viso que no possui durante a viglia, no chegam ao ponto de considerar todos os seus sonhos como intuies msticas: muito pelo contrrio, vem na maior parte deles, como todo o mundo, apenas estados profanos, jogos de imagens insignificantes, simples alucinaes. possvel supor que o primitivo sempre fez distines anlogas. Codrington diz formalmente, dos melansios, que eles no atribuem a migraes de almas todos os seus sonhos indistintamente, mas apenas os que impressionam fortemente sua imaginao. Certamente devem-se entender como tais aqueles em que o adormecido julga-se em contato com seres religiosos, gnios benfeitores ou malignos, almas dos mortos, etc. Do mesmo modo, os Dieri distinguem muito claramente os sonhos ordinrios e as vises noturnas em que se mostram a eles um amigo ou um parente falecido. Do nomes diferentes a esses dois tipos de estados. No primeiro, vem uma simples fantasia de sua imaginao; atribuem o segundo ao de um esprito maligno. Todos os fatos que Howitt menciona a ttulo de exemplos para mostrar como o australiano atribui alma o poder de abandonar o corpo tm igualmente um carter mstico: o adormecido julga-se transportado ao pas dos mortos ou ento conversa com um companheiro defunto. Esses sonhos so freqentes entre os primitivos. Foi provavelmente em torno desses fatos que se formou a teoria. Para explic-los, admite-se que as almas dos mortos viessem reencontrar os vivos durante seu sono, explicao tanto mais facilmente aceita porque nenhum fato de experincia podia invalid-la. S que esses sonhos s eram possveis onde j houvesse a idia de espritos, de almas, de pas dos mortos, ou seja, onde a evoluo religiosa estivesse relativamente avanada. Longe de poderem fornecer religio a noo fundamental sobre a qual repousa, tais sonhos supunham um sistema religioso j constitudo e do qual dependiam. III - Mas chegamos ao que constitui o ncleo mesmo da doutrina. De onde quer que venha a idia de um duplo, ela no basta, como reconhecem os animistas, para explicar como se formou esse culto dos antepassados do qual se quis fazer o modelo inicial de todas as religies. Para que o duplo se tomasse objeto de um culto, era preciso que deixasse de ser uma simples rplica do indivduo e adquirisse as caractersticas necessrias para ser elevado ordem dos seres sagrados. a morte, dizem, que operaria essa transformao.
34 Mas de onde pode vir a virtude que lhe atribuem? Ainda que a analogia do sono e da morte fosse suficiente para fazer crer que a alma sobrevive ao corpo (e h reservas a emitir sobre esse ponto), por que essa alma, pelo simples fato de estar agora desligada do organismo, mudaria completamente de natureza? Se, em vida, no era seno uma coisa profana, um princpio vital ambulante, de que maneira se transformaria de repente numa coisa sagrada, objeto de sentimentos religiosos? A morte no lhe acrescenta nada de essencial, salvo uma maior liberdade de movimentos. No estando mais ligada a uma residncia oficial, doravante ela pode fazer o tempo todo o que at ento s fazia de noite; mas a ao que capaz de exercer sempre da mesma natureza. Por que ento os vivos teriam visto nesse duplo desenraizado e vagabundo de seu companheiro de ontem algo mais do que um semelhante? Tratava-se de um semelhante cuja vizinhana podia ser incmoda; no se tratava de uma divindade. Inclusive parece que a morte deveria ter por efeito debilitar as energias vitais, ao invs de real-las. De fato, uma crena muito difundida nas sociedades inferiores que a alma participa intimamente da vida do corpo. Se este ferido, ela tambm o , e no lugar correspondente. Portanto ela deveria envelhecer juntamente com ele. H povos em que no se prestam deveres funerrios aos homens chegados senilidade; eles so tratados como se tambm sua alma tivesse se tornado senil. Acontece mesmo que sejam regularmente mortas, antes de terem alcanado a velhice, as personalidades privilegiadas, reis ou sacerdotes, tidas como detentoras de um poderoso esprito cuja proteo a sociedade deve conservar. Quer-se assim evitar que esse esprito seja atingido pela decadncia fsica dos que so seus depositrios momentneos; para tanto, retiram-no do organismo em que reside antes que a idade possa enfraquec-lo e o transportam, enquanto nada perdeu ainda de seu vigor, para um corpo mais jovem, no qual poder conservar intacta sua vitalidade. Assim, quando a morte resulta da doena ou da velhice, parece que a alma s pode conservar foras minguadas; e, uma vez dissolvido definitivamente o corpo, no se percebe como ela poderia lhe sobreviver, se apenas seu duplo. A idia de uma sobrevivncia torna-se, desse ponto de vista, dificilmente inteligvel. H, portanto, um hiato, um vazio lgico e psicolgico entre a idia de um duplo em liberdade e a de um esprito ao qual se presta um culto. Esse intervalo afigura-se mais considervel ainda quando se sabe o abismo que separa o mundo sagrado do mundo profano, pois evidente que uma simples mudana de grau no poderia ser suficiente para fazer passar uma coisa de uma categoria outra. Os seres sagrados no se distinguem apenas dos profanos pelas formas estranhas ou desconcertantes que assumem ou pelos poderes mais amplos que possuem; entre ambos, tambm no h medida comum. Ora, na noo de duplo no h nada que possa explicar uma heterogeneidade to radical. Diz se que, uma vez libertado do corpo, o duplo pode fazer aos vivos ou muito bem ou muito mal, segundo a maneira pela qual os trata. Mas no suficiente que um ser cause inquietao no seu meio para que parea de uma natureza diferente daqueles cuja tranqilidade ameaa. verdade que, no sentimento que o fiel experimenta pelas coisas que adora, entra sempre alguma reserva e algum temor; mas um temor sui generis, feito de respeito mais que de pavor, no qual prevalece essa emoo muito particular que a majestade inspira ao homem. A idia de majestade essencialmente religiosa. Assim, pode-se dizer que nada se explicou da religio enquanto no se tiver descoberto de onde vem essa idia, a que ela corresponde e o que pode t-la despertado nas conscincias. Simples almas de homens no poderiam ser investidas desse carter pelo simples fato de terem desencarnado. o que mostra claramente o exemplo da Melansia. Os melansios crem que o homem possui urna alma que abandona o corpo na morte; ela muda ento de nome e
35 torna-se o que eles chamam um tindalo, um natmat, etc. Por outro lado, existe entre eles um culto das almas dos mortos: dirigem-lhes preces, invocaes, fazem-lhes oferendas e sacrifcios. Mas nem todo tindalo objeto dessas prticas rituais; somente tm essa honra os que emanam de homens aos quais a opinio pblica atribua, em vida, uma virtude muito especial que os melansios chamam de mana. Mais adiante teremos de precisar a idia que essa palavra exprime; por ora, ser suficiente dizer que o carter distintivo de todo ser sagrado. O mana, diz Codrington, " o que permite produzir efeitos que esto fora do poder ordinrio dos homens, fora dos processos ordinrios da natureza". Um sacerdote, um feiticeiro, uma frmula ritual tm o mana, assim corno uma pedra sagrada ou um esprito. Portanto, os nicos tindalo aos quais so prestadas homenagens religiosas so aqueles que, quando seu proprietrio era vivo, j eram por si mesmos seres sagrados. Quanto s outras almas, as dos homens comuns, da multido dos profanos, elas so, diz o mesmo autor, "nada, tanto depois como antes da morte. A morte, portanto, espontaneamente e por si s, no possui nenhuma virtude divinizadora. Como ela consuma, de uma maneira mais completa e definitiva, a separao da alma em relao s coisas profanas, pode muito bem reforar o carter sagrado da alma, se esta j o possui, mas no o cria. Alis, se realmente, corno supe a hiptese animista, os primeiros seres sagrados foram as almas dos mortos e o primeiro culto o dos antepassados, deveramos constatar que, quanto mais as sociedades so de um tipo inferior, tanto mais esse culto tem importncia na vida religiosa. Ora, antes o contrrio que se verifica. O culto ancestral s se desenvolve e, inclusive, s se apresenta sob urna forma caracterstica em sociedades avanadas como a China, o Egito, as cidades gregas e latinas; ao contrrio, est ausente nas sociedades australianas que representam, corno veremos, a forma de organizao social mais baixa e mais simples que conhecemos. Nelas encontramos, certamente, ritos funerrios e ritos de luto; mas essas prticas no constituem um culto, ainda que s vezes lhes tenha sido dado, erradamente, esse nome. Com efeito, um culto no simplesmente um conjunto de prescries rituais que o homem obrigado a seguir em certas circunstncias; um sistema de ritos, de festas, de cerimnias diversos que apresentam todos a caracterstica de retomarem periodicamente. Eles correspondem necessidade que sente o fiel de manter e fortalecer, a intervalos de tempo regulares, o vnculo com os seres sagrados dos quais depende. Eis por que se fala de ritos nupciais, e no de um culto nupcial; de ritos de nascimento, e no de um culto do recm-nascido: que os acontecimentos que ensejaram esses ritos no implicam nenhuma periodicidade. Do mesmo modo, s h culto dos antepassados quando sacrifcios so feitos de tempos em tempos sobre os tmulos, quando libaes neles so derramadas em datas mais ou menos aproximadas, quando festas so regularmente celebradas em honra do morto. Mas o australiano no mantm com seus mortos nenhum comrcio desse gnero. Claro que deve sepultar seus restos conforme o rito, chor-los durante o tempo prescrito e da maneira prescrita, ving-los, se for o caso. Mas, uma vez quitados esses deveres piedosos, uma vez dessecados os ossos, e tendo o prazo do luto terminado, tudo est dito e os sobreviventes no tm mais obrigaes para com seus parentes que deixaram de existir. H, verdade, uma forma pela qual os mortos continuam a conservar um lugar na vida de seus prximos, mesmo depois que o luto terminou: com efeito, conservam-se seus cabelos ou alguns de seus ossos, por causa das virtudes especiais que lhes so atribudas. Mas nesse momento eles cessaram de existir como pessoas; reduzem-se categoria de amuletos annimos e impessoais. Nesse estado, no so objeto de nenhum culto; servem apenas a fins mgicos. H, no entanto, tribos australianas em que so periodicamente celebrados ritos em honra de antepassados fabulosos que a tradio coloca na origem dos tempos. Essas
36 cerimnias consistem geralmente em representaes dramticas nas quais so imitadas as aes que os mitos atribuem a esses heris legendrios. S que os personagens assim colocados em cena no so homens que, aps terem vivido uma vida de homens, teriam sido transformados em espcies de deuses pelo fato da morte. Supe-se que, em vida, desfrutavam j de poderes sobre-humanos. Atribuem-lhes tudo o que se fez de grande na histria da tribo e mesmo na histria do mundo. Eles que teriam feito em grande parte a terra tal como ela e os homens tais como eles so. A glria que continua a cerc-los no lhes vem, portanto, apenas do fato de serem antepassados, mas de um carter divino que sempre lhes foi atribudo; para retomar a expresso melansia, eles so constitutivamente dotados de mana. Portanto, no h nada a que demonstre ter a morte o menor poder de divinizar. Inclusive no se pode, sem impropriedade, dizer que esses ritos constituam um culto dos antepassados, visto que no se dirigem aos antepassados como tais. Para que possa haver um verdadeiro culto dos mortos, cumpre que os antepassados reais, os parentes que os homens perdem realmente todo dia, se tomem, quando mortos, objeto de um culto; ora, uma vez mais, de um culto desse gnero no existem vestgios na Austrlia. Assim, o culto que, segundo a hiptese, deveria ser preponderante nas sociedades inferiores, em realidade inexiste nelas. Definitivamente, o australiano s se ocupa de seus mortos no momento mesmo do falecimento e imediatamente aps. No entanto, esses mesmos povos praticam, como veremos, em relao a seres sagrados de uma natureza completamente diferente, um culto complexo, feito de cerimnias mltiplas que ocupam s vezes semanas e at meses inteiros. E inadmissvel que os poucos ritos que o australiano cumpre ao perder um parente tenham sido a origem desses cultos permanentes, que retornam regularmente todos os anos e preenchem uma boa parte de sua existncia. O contraste entre ambos mesmo tal que h fundamento em perguntar se no foram os primeiros que derivaram dos segundos, se as almas dos homens, longe de terem sido o modelo com base no qual se imaginaram os deuses, no foram concebidas, desde a origem, como emanaes da divindade. IV - A partir do momento em que o culto dos mortos no primitivo, o animismo carece de base. Poderia parecer intil, portanto, discutir a terceira tese do sistema, a que diz respeito transformao do culto dos mortos em culto da natureza. Mas, como o postulado sobre o qual ela repousa aparece mesmo em historiadores que no admitem o animismo propriamente dito, tais como Brinton, Lang, Rville e o prprio Robertson Smith, necessrio fazer seu exame. Essa extenso do culto dos mortos ao conjunto da natureza viria do fato de tendermos instintivamente a representar todas as coisas nossa imagem, isto , como seres vivos e pensantes. J vimos que o prprio Spencer contestava a realidade desse suposto instinto. Uma vez que o animal distingue claramente os corpos vivos dos corpos brutos, parecia-lhe impossvel que o homem, herdeiro do animal, no tivesse, desde a origem, a mesma faculdade de discernimento. Por mais certos, porm, que sejam os fatos citados por Spencer, eles no tm, no ponto em questo, o valor demonstrativo que lhes atribui. Seu raciocnio supe, com efeito, que todas as faculdades, os instintos e as aptides dos animais passaram integralmente ao homem; ora, muitos erros tm por origem esse princpio, que se toma indevidamente como uma verdade bvia. Por exemplo, do fato de o cime sexual ser geralmente muito forte nos animais superiores, concluiu-se que ele devia verificar-se no homem, desde o incio da histria, com a mesma intensidade. Ora, est constatado hoje que o homem pode praticar um comunismo sexual que seria impossvel se esse cime no fosse suscetvel de atenuar-se
37 mesmo desaparecer quando necessrio. que homem, com efeito, no apenas o animal com algumas qualidades a mais: outra coisa. A natureza humana deveu-se a uma espcie de remodelagem da natureza animal, e, ao longo das operaes complexas de que resultou essa remodelagem, ocorreram perdas e ganhos ao mesmo tempo. Quantos instintos no perdemos! A razo disso que o homem no est apenas em relao com um meio fsico, mas tambm com um meio social infinitamente mais extenso, mais estvel e mais ativo que aquele que influencia os animais. Portanto, para viver, preciso que ele se adapte a esse meio. Ora, a sociedade, para poder manter-se, requer com freqncia que vejamos as coisas sob um certo ngulo, que as sintamos de um certo modo; conseqentemente, modifica as idias que seramos levados a ter dessas coisas, os sentimentos a que estaramos inclinados se obedecssemos apenas nossa natureza animal; ela os altera ao ponto mesmo de substitu-los por sentimentos contrrios. Acaso no chega a fazer-nos considerar nossa prpria vida algo de pouco valor, quando ela , para o animal, o bem por excelncia? Portanto, enganoso buscar inferir a constituio mental do homem primitivo tomando como base a dos animais superiores. Mas, se a objeo de Spencer no tem o alcance decisivo que lhe atribua seu autor, o postulado animista no poderia, em troca, tirar nenhuma autoridade das confuses que as crianas parecem cometer. Quando ouvimos uma criana xingar com clera um objeto que a feriu, conclumos que ela v nesse objeto um ser consciente como ela; mas interpretar mal suas palavras e seus gestos. Em realidade, isso no corresponde ao raciocnio complicado que lhe atribumos. Se ela chuta a mesa que lhe causou um ferimento, no que a suponha animada e inteligente, mas sim por ter-lhe causado um ferimento. A clera, provocada pela dor, tem necessidade de se extravasar; portanto, busca algo sobre o que se descarregar e se dirige naturalmente para a coisa que a provocou, embora esta no .tenha culpa. A conduta do adulto, em semelhante caso, muitas vezes igualmente pouco razovel. Quando ficamos violentamente irritados, sentimos necessidade de invectivar, de destruir, sem que por isso atribuamos aos objetos sobre os quais despejamos nossa clera uma espcie de m vontade consciente. H to pouca confuso que, quando a emoo da criana se acalmou, ela sabe muito bem distinguir uma cadeira de uma 'pessoa: no se comporta da mesma forma com as duas. E uma razo anloga que explica sua tendncia a tratar seus brinquedos como se fossem seres vivos. a intensa necessidade de brincar que cria uma matria apropriada para si, assim como, no caso precedente, os sentimentos violentos que o sofrimento desencadeara criavam a sua. Portanto, para poder brincar conscienciosamente com seu polichinelo, a criana o imagina uma pessoa viva. Alis, a iluso ainda mais fcil na criana por ser a imaginao soberana; ela quase s pensa por imagens, e sabe-se o quanto as imagens so coisas flexveis que se dobram facilmente a todas as exigncias do desejo. Mas ela no se ilude com sua prpria fico e seria a primeira a se espantar se, de repente, esta virasse realidade e seu fantoche a mordesse. Deixemos de lado, portanto, essas duvidosas analogias. Para saber se o homem esteve primitivamente inclinado s confuses que lhe imputam, no o animal nem a criana de hoje que devemos considerar, mas as prprias crenas primitivas. Se os espritos e os deuses da natureza so realmente constru dos imagem da alma humana, eles devem trazer a marca de sua origem e evocar os traos essenciais de seu modelo. A caracterstica por excelncia da alma ser concebida como o princpio interior que anima o organismo; ela que o move, que produz sua vida, de modo que, quando dele se retira, a vida se detm ou suspensa. no corpo que ela tem sua residncia natural, pelo menos enquanto existe. Ora, no isso o que acontece com os espritos atribudos s diferentes coisas da natureza. O deus do Sol no se encontra necessariamente no Sol,
38 nem o esprito desta pedra na pedra que lhe serve de hbitat principal. Claro que um esprito mantm estreitas relaes com o corpo ao qual est ligado; mas emprega-se uma expresso inexata quando se diz que ele a alma desse corpo. "Na Melansia, diz Codrington, no parece que se creia na existncia de espritos que animam um objeto natural, como uma rvore, uma queda d'gua, uma tempestade ou uma rocha, de maneira que estejam para esse objeto como a alma, supe-se, est para o corpo humano. Os europeus, verdade, falam dos espritos do mar, da tempestade ou da floresta; mas a idia dos indgenas, assim traduzida, bem diferente. Estes pensam que o esprito freqenta a floresta ou o mar, e tem o poder de provocar tempestades e fazer adoecer os viajantes". Enquanto a alma encontra-se essencialmente no interior do corpo, o esprito passa a maior parte de sua existncia fora do objeto que lhe serve de substrato. Eis j uma diferena que no parece testemunhar que a segunda idia tenha vindo da primeira. Por outro lado, se de fato o homem tivesse tido necessidade de projetar sua imagem nas coisas, os primeiros seres sagrados teriam sido concebidos sua semelhana. Ora, o antropomorfismo, longe de ser primitivo, antes a marca de uma civilizao relativamente avanada. Na origem, os seres sagrados so concebidos sob uma forma animal ou vegetal da qual a forma humana s lentamente se desvencilhou. Veremos adiante de que maneira, na Austrlia, animais e plantas situam-se no primeiro plano das coisas sagradas. Mesmo entre os ndios da Amrica do Norte, as grandes divindades csmicas, que comeam ali a ser objeto de um culto, so com muita freqncia representados sob espcies animais. "A diferena entre o animal, o homem e o ser divino, diz Rville, que constata o fato no sem surpresa, no sentida nesse estado de esprito e, na maioria das vezes, dir-se-ia que a forma animal a forma fundamental.". Para encontrar um deus construdo inteiramente com elementos humanos, preciso chegar quase at o cristianismo. Aqui o Deus um homem, no somente pelo aspecto fsico sob o qual manifestou-se temporariamente, mas tambm pelas idias e os sentimentos que exprime. Mas mesmo em Roma e na Grcia, embora os deuses fossem geralmente representados com traos humanos, vrios personagens mticos traziam ainda a marca de uma origem animal: Dioniso, que vemos seguidamente sob a forma de um touro ou pelo menos com os chifres de touro; Demter, representada com uma crina de cavalo, P, Sileno, so os Faunos, etc. Faltava muito, portanto, para que o homem estivesse inclinado a impor sua forma s coisas. E mais: ele prprio comeou por conceber-se como participando intimamente da natureza animal. Com efeito, uma crena quase universal na Austrlia, tambm muito difundida entre os ndios da Amrica do Norte, que os antepassados dos homens foram animais ou plantas, ou, pelo menos, que os primeiros homens tinham, na totalidade ou em parte, os caracteres distintivos de certas espcies animais ou vegetais. Assim, longe de ver em toda parte apenas seres semelhantes a ele, o homem comeou por pensar a si prprio imagem de seres dos quais especificamente se diferenciava. V - A teoria animista implica, alis, uma conseqncia que talvez sua melhor refutao. Se fosse verdadeira, seria preciso admitir que as crenas religiosas no passam de representaes alucinatrias sem nenhum fundamento objetivo. Supe-se, com efeito, que todas sejam derivadas da noo de alma, j que no se vem nos espritos e nos deuses nada mais que almas sublimadas. Mas a noo de alma, esta, inteiramente construda, segundo Taylor e seus discpulos, com as vagas e inconstantes imagens que ocupam nossos espritos durante o sono, pois a alma o duplo, e o duplo no seno o homem tal como aparece a si mesmo enquanto dorme. Desse ponto de vista, os seres sagrados seriam, portanto, apenas concepes imaginrias que o homem teria produzido numa espcie de delrio que dele se apodera regularmente todo dia, sem
39 que se possa perceber para que fins teis elas servem ou a que correspondem na realidade. Se o homem reza, se faz sacrifcios e oferendas, se se submete s privaes mltiplas que o rito lhe prescreve, que uma espcie de aberrao constitutiva o fez tomar os sonhos por percepes, a morte por um sono prolongado, os corpos brutos por seres vivos e pensantes. Assim, no apenas, como muitos tendem a admitir, a forma sob a qual as foras religiosas so ou foram representadas no as exprimiria exatamente; no apenas os smbolos atravs dos quais elas foram pensadas mascarariam parcialmente sua verdadeira natureza, mas tambm, por trs dessas imagens e dessas figuras, no haveria outra coisa seno pesadelos de espritos incultos. A religio seria apenas, em ltima instncia, um sonho sistematizado e vivido, mas sem fundamento no real. Eis por que os tericos do animismo, quando buscam as origens do pensamento religioso, se contentam, em suma, com muito pouco. Quando julgam ter conseguido explicar de que maneira o homem pde ser induzido a imaginar seres com formas estranhas, vaporosas, como os que vemos em sonho, o problema lhes parece resolvido. Em realidade, ele no foi sequer abordado. inadmissvel, com efeito, que sistemas de idias como as religies, que ocuparam na histria um lugar to considervel, nos quais os povos de todas as pocas vieram buscar a energia necessria para viver, sejam apenas tecidos de iluses. Todos reconhecem hoje que o direito, a moral, o prprio pensamento cientfico nasceram na religio, durante muito tempo confundiram-se com ela e permaneceram penetrados de seu esprito. Como que uma v fantasmagoria teria podido modelar to fortemente e de maneira to duradoura as conscincias humanas? Seguramente, deve ser um princpio, para a cincia das religies, que a religio no exprime nada que no esteja na natureza; pois s existe cincia de fenmenos naturais. Toda a questo est em saber a que reino da natureza pertencem essas realidades e o que pde levar os homens a conceb-las sob essa forma singular que prpria do pensamento religioso. Mas, para que essa questo possa ser colocada, necessrio comear por admitir que so coisas reais que so assim representadas. Quando os filsofos do sculo XVIII faziam da religio um vasto erro imaginado pelos padres, eles podiam ao menos explicar sua persistncia pelo interesse da casta sacerdotal em enganar as multides. Mas se os prprios povos foram fabricantes desses sistemas de idias errneas e, ao mesmo tempo, vtimas deles, como que esse logro extraordinrio pde perpetuar-se ao longo de toda a histria? Deve-se mesmo perguntar se, nessas condies, o termo cincia das religies pode ser empregado sem impropriedade. Uma cincia uma disciplina que, no importa como seja concebida, se aplica sempre a uma realidade dada. A fsica e a qumica so cincias, porque os fenmenos fsico-qumicos so reais e de uma realidade que no depende das verdades que elas demonstram. H uma cincia psicolgica porque h realmente conscincias cujo direito existncia no depende dos psiclogos. Ao contrrio, a religio no poderia sobreviver teoria animista, a partir do momento em que esta fosse reconhecida como verdadeira por todos os homens, pois estes necessariamente abandonariam os erros cuja natureza e origem lhes seriam assim reveladas. Que cincia seria essa, cuja principal descoberta consistiria em fazer desaparecer o objeto mesmo de que trata?
Вам также может понравиться
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksОт EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (20003)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionОт EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyОт EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItОт EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (3270)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionОт EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2506)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationОт EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2499)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)От EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (9054)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionОт EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (9752)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)От EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (7769)