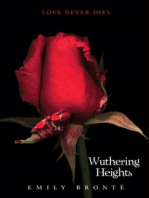Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Introduc Ao A Topologi A Diferecial Elon Lages Lima
Загружено:
betho1992Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Introduc Ao A Topologi A Diferecial Elon Lages Lima
Загружено:
betho1992Авторское право:
Доступные форматы
Introduo Topologia
Diferencial
Main
2011/2/25
page i
i
i
i
i
i
i
i
i
Prefacio
Existe, em Matematica, uma disciplina bastante ex-
tensa e geral, chamada Topologia, que se ocupa da no cao
de fun cao contnua no seu sentido mais lato. Isto e, seu
ambito e a categoria de todos os espa cos topologicos. Ora,
em que pese a importancia e a adequabilidade desse con-
ceito, e impossvel demonstrar um teorema nao trivial sobre
um espa co topologico qualquer, dada a extrema variedade
de especies contidas no genero em questao. Assim, para
poder trabalhar honestamente, o topologo precisa impor
restri coes ao tipo de espa cos que vai considerar. Segundo
a natureza dessas restri coes, e tambem segundo o tipo de
instrumentos auxiliares empregados, podemos destacar os
seguintes ramos da Topologia.
a) Topologia Geral. Aqui, as restri coes impostas aos
espa cos topologicos consistem em acrescentar um ou mais
axiomas que se referem diretamente aos conjuntos aber-
tos do espa co, ora garantindo a existencia de um n umero
sucientemente grande deles (axiomas de separa cao), ora
evitando que existam abertos demais (compacidade), etc.
De qualquer maneira, o que caracteriza a Topologia Geral
Main
2011/2/25
page ii
i
i
i
i
i
i
i
i
ii
e que os espa cos que ela estuda nao possuem outra estru-
tura senao a de espa co topologico, nem sao empregados
novos instrumentos de trabalho, senao praticamente aque-
les provenientes da Teoria dos Conjuntos.
b) Topologia Combinat oria. Aqui sao estudados tipos
especiais de espa cos topologicos, os poliedros, os quais sao
dotados de uma estrutura adicional, que poderamos cha-
mar de localmente am. Um poliedro e uma reuniao
nita de vertices, segmentos de reta, triangulos, tetrae-
dros, etc., objetos genericamente designados com o nome
de simplexos, os quais se acham regularmente dispostos,
como num poliedro comum de espa co euclidiano. Conside-
rando-se (num certo sentido!) a topologia de um simplexo
do espa co euclidiano como trivial, resulta que, para estu-
dar a topologia de um poliedro, nao e necessario penetrar
no amago de cada um dos seus blocos constituintes, os
simplexos, mas apenas olhar para cada um deles como um
elemento e ver como eles estao dispostos uns relativamente
aos outros (como os blocos de um brinquedo de armar) para
constituir o poliedro. Conclui-se entao que, sob este ponto
de vista global, a no cao basica na topologia dos poliedros
e o conceito de incidencia (tal segmento e lado de quais
triangulos?, tal triangulo e face de quais tetraedros?), me-
diante o qual passa-se de um poliedro para o seu esquema
abstrato, formado por um n umero nito de objetos, ligados
por uma rela cao unica, de incidencia. O estudo deste es-
quema e, entao, um problema combinatorio, donde o nome
deste ramo da Topologia.
c) Topologia Algebrica. O que distingue a Topologia
Algebrica da Topologia Geral e da Topologia Combinatoria
(bem como da Topologia Diferencial, que abordaremos em
Main
2011/2/25
page iii
i
i
i
i
i
i
i
i
iii
seguida), nao e a natureza dos espa cos que ela considera,
nem as estruturas adicionais que existam ou deixem de exis-
tir nesses espa cos, mas antes de tudo, o metodo de trabalho.
A Topologia Algebrica e, `as vezes, mais geral do que a To-
pologia Geral pois nela se consegue demonstrar teoremas
nao triviais que se aplica, a todos os espa cos topologicos.
Por outro lado (e aqui reside o motivo do paradoxo acima),
a Topologia Algebrica nao e exatamente um ramo da Topo-
logia, mas um metodo de transi cao desta para a
Algebra.
A ideia basica e a seguinte. As estruturas algebricas sao,
em geral, mais simples do que as estruturas topologias. Por
exemplo, determinar se dois grupos abelianos dados sao ou
nao isomorfos (principalmente quando eles sao nitamente
gerados) e, quase sempre, um problema mais simples do
que o de determinar se dois espa cos topologicos dados sao
homeomorfos ou nao. Uma vez admitida esta maxima,
adquire grande interesse todo processo que permita substi-
tuir, sistematicamente, espa cos topologicos por grupos (por
exemplo) e fun coes contnuas por homomorsmos, de modo
que se dois espa cos sao homeomorfos, entao os grupos a eles
associados por esse processo sao isomorfos. (Nao se pode
esperar a validez da recproca, pois isto implicaria que a
estrutura geral dos grupos seria tao complicada como a es-
trutura geral dos espa cos topologicos). Um processo desse
tipo e o que se chama um functor denido numa cate-
goria topologica, com valores numa categoria algebrica. A
Topologia Algebrica se ocupa do estudo desses functores.
cujos exemplos mais conhecidos sao os grupos de homologia
e de homotopia.
d) Topologia Diferencial. Este ramo da Topologia cara-
cteriza-se pela estrutura adicional dos espa cos topologicos
Main
2011/2/25
page iv
i
i
i
i
i
i
i
i
iv
de que se ocupa (variedades diferenciaveis) e, consequen-
temente, pelos metodos de trabalho, que sao, inicialmente,
aqueles do Calculo Diferencial e Integral classico, coadjuva-
dos pelos resultados da Topologia Algebrica. Trata-se aqui
de um retorno `as origens do assunto pois, como se sabe,
na primeira das memorias em que Poincare desenvolveu as
bases da moderna Topologia, os espa cos topologicos por
ele considerados eram subvariedades do espa co euclidiano,
homeomorsmo para ele era o que hoje chamamos di-
feomorsmo, e o esprito com que Poincare escreveu essa
memoria, motivada sem d uvida por problemas de Analise, e
o precursor do esprito atual da Topologia Diferencial. Pos-
teriormente e que, devido a razoes puramente tecnicas, ele
abandonou o ponto de vista diferencial, em prol do metodo
combinatorio, por falta de recursos adequados de Topolo-
gia Geral, entre os quais destaca-se a passagem do local
ao global permitida pela no cao recente de espa co para-
compacto.
Estas notas, representam uma versao elaborada de um
curso dado no 3
o
Coloquio Brasileiro de Matematica, em
Fortaleza, Ceara. Elas sao o que o ttulo diz: uma in-
trodu cao `a Topologia Diferencial. Nao sao inteiramente
auto-sucientes, pois pressupoem do leitor alguma famili-
aridade com as no coes mais elementares sobre Variedades
Diferenciaveis, as quais podem ser encontradas na biblio-
graa citada no Captulo I.
O Captulo II contem a classica cao homotopica das
aplica coes contnuas de uma variedade de dimensao n na
esfera S
n
. O Captulo III demonstra que a soma dos ndices
das singularidades de um campo vetorial generico sobre
uma variedade compacta M e um invariante de M, cha-
Main
2011/2/25
page v
i
i
i
i
i
i
i
i
v
mado a caracterstica de Euler. O Captulo IV demonstra o
Teorema da Curvatura
Integra. Para chegar ate estes resul-
tados, varias ideias e tecnicas importantes sao introduzidas,
como a aproxima cao de fun coes e homotopias contnuas por
outras diferenciaveis, a no cao de grau, a integra cao de for-
mas diferenciais, o conceito de transversalidade, o n umero
de interse cao de duas subvariedades, etc.
A rigidez implacavel do prazo em que estas notas de-
veriam estar prontas nao permitiu dar-lhes, como era a
inte cao inicial, um ritmo de exposi cao mais sossegado. Nes-
te particular, o pecado mais grave e a falta de um desenvol-
vimento adequado para os 3 exemplos do m do Captulo
III.
Meus agradecimentos a Wilson Goes, pelo tempo recorde
com que datilografou o trabalho.
Braslia, 21 de junho de 1961
Elon Lages Lima
Main
2011/2/25
page vi
i
i
i
i
i
i
i
i
Prefacio da segunda edi cao
Alem de algumas corre coes e pequenas modica coes,
esta nova edi cao contem os paragrafos 5 e 6 do Captulo
III, em substitui cao aos 3 exemplos nais daquele captulo,
que existiam na 1
a
edi cao. Tais paragrafos introduzem o
conceito dendice de uma singularidade isolada qualquer de
um campo vetorial contnuo, e demonstram que toda vari-
edade cuja caracterstica de Euler e zero admite um campo
vetorial contnuo sem singularidades. Gostaria de agrade-
cer a Oscar Valdivia e Augusto Wanderley, que corrigiram
os originais desta edi cao e a Guilherme de la Penha, que
fez os desenhos do texto. A feitura desta trabalho contou
com o apoio do Air Force Oce of Scientic Research.
Rio de Janeiro, 1
o
de outubro de 1961
Elon Lages Lima
Main
2011/2/25
page vii
i
i
i
i
i
i
i
i
Sumario
I Variedades Diferenciaveis 1
II Homotopia 16
1 Introdu cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Homotopias em variedades diferenciaveis . . 23
3 O conceito de grau . . . . . . . . . . . . . . 28
4 Grau como razao entre volumes . . . . . . . 37
5 Classica cao homotopica de aplica coes . . . 61
6 Variedades nao orientaveis . . . . . . . . . . 79
III Campos Vetoriais 88
1 Generalidades e um teorema de Poincare e
Brouwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2 O espa co brado tangente . . . . . . . . . . 98
3 Transversalidade e suas aplica coes . . . . . . 106
4 A caracterstica de Euler de uma variedade . 124
5 A no cao de grau local . . . . . . . . . . . . . 134
6
Indice de uma singularidade isolada . . . . . 140
IVCurvatura Integral 152
1 Introdu cao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2 Curvatura gaussiana de uma hipersuperfcie 153
vii
Main
2011/2/25
page viii
i
i
i
i
i
i
i
i
viii SUM
ARIO
3 O grau da aplica cao normal . . . . . . . . . 158
4 O Teorema da Curvatura
Integra . . . . . . 160
5 Observa coes a respeito do teorema . . . . . 161
Referencias Bibliogracas 165
Main
2011/2/25
page 1
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo I
Variedades
Diferenciaveis
Neste captulo, faremos uma rapida revisao dos conceitos
e resultados basicos sobre Variedades Diferenciaveis que
serao usados nos captulos seguintes. Nao temos o in-
tuito de fazer uma exposi cao sistematica nem completa
desses preliminares. Sempre que for possvel, damos as
indica coes bibliogracas necessarias para que o leitor en-
contre as demonstra coes aqui omitidas. De um modo ge-
ral, as referencias para este captulo sao Chern [4], Milnor
[15], Pontrjagin [19], Honig [7], e as notas do autor [13].
(Vide lista de referencias bibliogracas no m deste vo-
lume. Os n umeros entre colchetes referem-se a essa lista).
Estes sao textos expositorios sobre Variedades. Certas
demonstra coes podem tambem ser encontradas em [25].
Um sistema de coordenadas locais num espa co topolo-
gico M e um homeomorsmo x: U R
n
de um aberto
U M sobre um subconjunto aberto x(U) do espa co
1
Main
2011/2/25
page 2
i
i
i
i
i
i
i
i
2 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
euclidiano R
n
; se p U e x(p) = (x
1
, . . . , x
n
), os n umeros
x
1
, . . . , x
n
chamam-se as coordenadas de p relativamente
ao sistema x.
Um atlas de dimensao n sobre um espa co topologico M
e uma cole cao A de sistemas de coordenadas locais x: U
R
n
tais que os abertos U cobrem M.
Um atlas A sobre um espa co topologico M diz-se di-
ferenci avel se, para todo par de sistemas de coordenadas
x: U R
n
, y : V R
n
em A, tais que U V = , o
homeomorsmo y x
1
: x(U V ) y(U V ), chamado
mudanca de coordenadas, e uma aplica cao diferenciavel do
aberto x(U V ) R
n
sobre o aberto y(U V ) R
n
.
Advertencia: Neste captulo, e nos seguintes, diferenci a-
vel signica C
, ou seja, innitamente diferenci avel.
Se um atlas A, de dimensao n, e diferenciavel, entao
todas as mudan cas de coordenadas y x
1
, relativas a
sistemas x, y A, sao difeomorsmos (isto e, o homeo-
morsmo inverso, x y
1
, sendo tambem uma mudan ca
de coordenadas, e diferenciavel). Em particular, se y
x
1
: (x
1
, . . . , x
n
) (y
1
, . . . , y
n
), entao o jacobiano
det(y
i
/x
j
) e = 0 em todos os pontos onde e denido.
Seja A um atlas diferenciavel, de dimensao n, sobre
um espa co topologico M. Um sistema de coordenadas lo-
cais z : W R
n
, em M, diz-se admissvel relativamente
a A se, para todo sistema de coordenadas x: U R
n
,
em A, com U W = 0, as mudan cas de coordenadas
z x
1
: x(U W) z(U W) e x z
1
: z(U W)
x(u W) sao diferenciaveis. Um atlas A, sobre M, diz-se
maximo quando contem todos os sistemas de coordena-
das locais em M que sao admissveis relativamente a A.
Main
2011/2/25
page 3
i
i
i
i
i
i
i
i
3
Todo atlas diferenciavel esta contido num unico atlas dife-
renciavel maximo: basta acrescentar-lhe todos os sistemas
de coordenadas locais admissveis.
Uma variedade diferenci avel de dimensao n e um espa co
de Hausdorf M = M
n
, com base enumeravel, munido de
um atlas maximo diferenciavel, de dimensao n.
Exemplos de variedades diferenciaveis
1. O espa co euclidiano R
n
. Seja A
0
o atlas dife-
renciavel sobre R
n
, formado pelo unico sistema de coorde-
nadas x = identidade: R
n
R
n
. Seja A o atlas maximo
diferenciavel sobre R
n
que contem A
0
. O espa co R
n
, mu-
nido do atlas A, e uma variedade diferenciavel de dimen-
sao n.
2. Subconjuntos abertos. Todo subconjunto aberto
A de uma variedade diferenciavel M
n
possui, de modo na-
tural uma estrutura de variedade diferenciavel de mesma
dimensao n. Basta tomar sobre A o atlas maximo dife-
renciavel formado pelos sistemas de coordenadas locais
x: U R
n
, pertencentes ao atlas maximo de M
n
, tais que
U A. Assim por exemplo, se considerarmos a variedade
diferenciavel M(n, R), formada por todas as matrizes reais
quadradas nn (ela nao e senao a variedade R
n
2
em nova
roupagem), e o subconjunto aberto GL(n, R) M(n, R),
formado pelas matrizes n n de determinante diferente
de zero, vemos que GL(n, R) possui uma estrutura natu-
ral de variedade diferenciavel de dimensao n
2
. Na reali-
dade, a estrutura mais simples possvel: GL(n, R) e um
aberto do espa co euclidiano R
n
2
. Como se sabe, as matri-
zes x GL(n, R) sao precisamente aquelas que possuem
inverso. Notemos que GL(n, R) possui exatamente duas
Main
2011/2/25
page 4
i
i
i
i
i
i
i
i
4 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
componentes conexas, uma delas formada pelas matrizes
cujo determinante e > 0, e a outra, pelas matrizes que tem
determinante < 0.
3. As esferas S
n
. Dada n > 0, S
n
e a esfera unitaria
n-dimensional, denida como o subconjunto S
n
R
n+1
,
formado pelos vetores x = (x
1
, . . . , x
n+1
) R
n+1
de modulo
(= norma) unitaria: |x|
2
= x
1
x
1
+ + x
n+1
x
n+1
= 1.
Obteremos sobre S
n
um atlas diferenciavel A
0
, com dois
sistemas de coordenadas locais. Sejam p = (0, . . . , 0, 1)
o polo norte de S
n
e q = (0, . . . , 0, 1) o polo sul. Os
sistemas de coordenadas serao as chamadas proje coes es-
tereogracas: : S
n
p R
n
e : S
n
q R
n
. Te-
remos (S
n
p) = R
n
e (s
n
q) = R
n
. Denamos
. Para cada ponto x = (x
1
, . . . , x
n+1
), diferente de p,
(x) = y = (y
1
, . . . , y
n
) R
n
sera o ponto de interse cao
do plano equatorial com a semi-reta
px. Uma formula
explcita para e a seguinte (x) = y = (y
1
, . . . , y
n
), onde
y
i
= x
i
/(1 x
n+1
), i = 1, . . . , n. Analogamente se de-
ne a proje cao estereograca , e se calcula sua expressao
analtica.
E um trabalho de rotina inverter essas formulas
e mostrar, por conseguinte, que e sao homeomors-
mos, donde A
0
= {, } e um atlas. Verica-se que A
0
e diferenciavel, logo esta contido num unico atlas maximo
A, que dene a estrutura diferenciavel de S
n
.
4. As variedades de dimensao 1. Existem es-
sencialmente duas variedades diferenciaveis conexas de di-
mensao 1 que sao o crculo S
1
(ou seja, a esfera unitaria
de dimensao 1) e a reta R. Este e um resultado bem co-
nhecido, mas raramente demonstrado em p ublico. A unica
referencia que conhecemos e o artigo de H. Kneser no Bul-
Main
2011/2/25
page 5
i
i
i
i
i
i
i
i
5
letin de la Societe Mathematique de Belgique, 1958, o qual
trata somente do caso C
0
(isto e, considera a continuidade,
mas nao a diferenciabilidade).
5. O produto cartesiano de duas variedades. Se-
jam M
m
e N
n
variedades diferenciaveis. A sua variedade
produto e o espa co topologico MN, munido da estrutura
de variedade diferenciavel de dimensao m + n, fornecida
pelos sistemas de coordenadas locais
x y : U V R
m+n
, x y(p, q) = (x(p), y(q)),
onde x: U R
m
percorre um atlas sobre M e y : V R
n
percorre um atlas sobre N. Os sistemas de coordenadas
x y constituem evidentemente um atlas em M N, de
dimensao m+n, contido num unico atlas maximo que de-
ne a estrutura de variedade produto M
m
N
n
.
De acordo com nossa deni cao de variedade, o intervalo
fechado I = [0, 1] nao e uma variedade diferenciavel. Com
efeito, nenhum sistema de coordenadas locais em I poderia
conter o ponto 0, nem o ponto 1, pois um aberto U I que
contenha, digamos o ponto 0, nao pode ser homeomorfo a
um subconjunto aberto da reta. Muitas vezes, no texto,
teremos de considerar o espa co produto M I, de uma
variedade diferenciavel M
m
= M, pelo intervalo I = [0, 1].
Como I nao e uma variedade, nao podemos usar o exemplo
5 para dotar o produto MI de uma estrutura de variedade
diferenciavel. O remedio e ampliar ligeiramente o conceito
de variedade, de modo a incluir I, e portanto o produto
M I.
Para obter o conceito de variedade com bordo, basta
ampliar, na deni cao anterior a no cao de sistema de coor-
denadas locais num espa co topologico M, admitindo que
Main
2011/2/25
page 6
i
i
i
i
i
i
i
i
6 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
x: U R
n
seja um homeomorsmo do aberto U M
sobre um aberto x(U) de R ou um aberto x(U) do semi-
espa co R
n
0
= {(x
1
, . . . , x
n
) R
n
; x
n
0}. As no coes de
atlas, atlas diferenciavel, atlas maximo, etc, sao denidas
do mesmo modo e o resultado da deni cao e um conceito
mais geral de variedade diferenciavel. Dada M
n
, uma des-
sas variedades no sentido amplo, consideramos o subcon-
junto aberto A M formado pelos pontos p M tais
que existe um sistema de coordenadas x: U R
n
, com
p U, e x(U) = aberto do espa co euclidiano R
n
. O con-
junto fechado M = M A, chama-se o bordo de M. Se
M for vazio, M sera uma variedade no sentido estrito.
Se M = , diremos que M e uma variedade com bordo.
Neste caso, sendo dimM = n, M e uma variedade dife-
renciavel (sem bordo!) de dimensao n1, como facilmente
se constata. Exemplo de variedade com bordo e o intervalo
fechado I = [0, 1], com I consistindo dos pontos 0 e 1.
Mais geralmente, a bola fechada B
n
= {x R
n
; |x| = 1} e
uma variedade com bordo, com B
n
= S
n1
. Finalmente,
se M
n
e uma variedade sem bordo, M
n
I e uma variedade
com bordo, e (M I) = (M 0) (M 1). (Vide [15],
[16], [19]).
As unicas variedades com bordo que teremos ocasiao
de considerar serao as do tipo M I, onde M nao pos-
sui bordo. A menos que o mencionemos explicitamente, o
termo variedade signicara variedade diferenciavel, sem
bordo.
Seja M
n
uma variedade e p um ponto de M. Indique-
mos com X
p
o conjunto de todos os sistemas de coorde-
nadas locais x: U R
n
, em M, tais que p U. Um
vetor tangente a M no ponto p e uma fun cao v : X
p
R
n
Main
2011/2/25
page 7
i
i
i
i
i
i
i
i
7
tal que, dados x, y X
p
se v(x) = (
1
, . . . ,
n
) e v(y) =
(
1
, . . . ,
n
), tem-se
j
=
n
i=1
y
j
x
i
i
,
as derivadas parciais sendo as de mudan ca de coordenadas
(x
1
, . . . , x
n
) (y
1
, . . . , y
n
), calculadas no ponto x(p) R
n
.
O conjunto M
p
de todos os vetores tangentes a M no
ponto p tem uma estrutura natural de espa co vetorial real,
a soma u + v de dois vetores tangentes e o produto v
de um n umero real por um vetor tangente sendo denidos
como as fun coes u +v : X
p
R
n
e v : X
p
R
n
tais que
(u + v)(x) = u(x) + v(x) e (v)(x) = v(x).
O espaco vetorial tangente M
p
tem a mesma dimensao
n da variedade M. Com efeito, a cada sistema de co-
ordenadas x X
p
podemos associar uma base de M
p
,
que indicaremos com
_
x
1
, . . . ,
x
n
_
, os vetores tangentes
x
i
sendo denidos como fun coes
x
i
: X
p
R
n
tais que
x
i
(y) =
_
y
1
x
i
(p), . . . ,
y
n
x
i
(p)
_
para todo y X
p
. Verica-
se sem diculdade que se trata realmente de uma base e,
na realidade, dados v M
p
, x X
p
, v(x) = (
1
, . . . ,
n
)
se, e somente se, v =
1
x
1
+ +
n
x
n
`
As vezes, para
sermos mais precisos, escreveremos
x
i
(p) em vez de
x
i
,
para salientar que estamos nos referindo a vetores de M
p
,
ja que o sistema x: U R
n
dene uma base
x
i
(q) para
todos os espa cos M
q
, q U.
Seja E um espa co vetorial de dimensao n. Seja B o con-
junto das bases (sempre trabalharemos com bases ordena-
das!) de E. Deniremos em B uma rela cao de equivalencia.
Diremos que duas bases {e
1
, . . . , e
n
} e {f
1
, . . . , f
n
} do espa co
Main
2011/2/25
page 8
i
i
i
i
i
i
i
i
8 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
vetorial E sao equivalentes (diremos, mais especicamente,
que elas sao coerentes) se e
j
=
n
i=1
i
j
f
i
(j = 1, . . . , n). onde
a matriz (
i
j
) tem determinante > 0.
E claro que B vai
repartir-se em duas classes de equivalencia, pois uma ma-
triz de mudan ca de bases ou tem determinante > 0, ou < 0.
Uma orienta cao no espa co vetorial E e uma dessas classes
de equivalencia. Um espa co vetorial orientado e um par
formado por um espa co vetorial E e uma orienta cao. As
bases de E pertencentes a esta orienta cao serao chamadas
positivas e as outras negativas.
Diremos que uma variedade diferenciavel M
n
e orienta-
vel quando for possvel orientar cada espa co tangente M
p
,
p M, de tal modo que a orienta cao dos M
p
varie continu-
amente no sentido seguinte: se x: U R
n
e um sistema
de coordenadas locais em M, com U conexa, entao a base
_
x
1
(p), . . . ,
x
n
(p)
_
M
p
, associada ao sistema x, ou e
positiva para todo p U, ou entao e negativa para todo
p U. No primeiro caso, diremos que o sistema de co-
ordenadas x: U R
n
e positivo, e escreveremos x > 0.
No segundo caso, diremos que x e negativo, e poremos
x < 0. Diremos que M esta orientada quando se esco-
lhe uma cole cao de orienta coes nos espa cos M
p
, do tipo
acima. Esta cole cao e a orienta cao de M.
Nem toda variedade diferenciavel e orientavel. O espa co
euclidiano (sendo, em particular, um espa co vetorial) e ori-
entavel. Todo subconjunto aberto de uma variedade ori-
entavel herda esta propriedade. A esfera S
n
e orientavel.
Basta tomar uma orienta cao em R
n
e orientar cada espa co
tangente (S
n
)
p
de modo que uma base positiva de (S
n
)
p
, `a
qual se faz seguir ao ultimo elemento a normal a (S
n
)
p
que
Main
2011/2/25
page 9
i
i
i
i
i
i
i
i
9
aponta para fora de S
n
, de uma base positiva de R
n
.
Notemos que R
n
possui uma orienta cao natural, deni-
da pela base canonica {e
1
, . . . , e
n
}, onde
e
1
= (1, 0, . . . , 0), . . . , e
n
= (0, . . . , 0, 1).
O produto M
n
N
n
de duas variedades orientadas
M e N possui uma orienta cao natural, chamada a ori-
entacao produto. Se {e
1
, . . . , e
m
} e uma base positiva de
M
p
a {f
1
, . . . , f
n
} e uma base positiva de N
q
, diremos que
{e
1
, . . . , e
m
, f
1
, . . . , f
n
} e uma base positiva de (MN)
(p,q)
.
Isto dene a orienta cao produto em M N.
Sejam M
m
, N
n
variedades diferenciaveis. Uma aplica-
cao f : M N diz-se diferenci avel num ponto p M
quando, dado um sistema de coordenadas y : V R
n
,
em N, com f(p) V , existe um sistema de coordena-
das x: U R
m
em M, com p U, tal que f(U) V
e a aplica cao composta y f x
1
: x(U) y(V ) e dife-
renciavel no ponto p.
E claro que, se isto acontecer com um
y e um x, acontecera com quaisquer outros x
, y
tais que
f(U
) V
. Diremos simplesmente que f e diferenciavel
se ela o for em todos os pontos de M.
Uma aplica cao diferenciavel f : M
m
N
n
induz, em
cada ponto p M, uma aplica cao linear f
: M
p
N
q
, q =
f(p).
`
As vezes, escreveremos f
p
em vez de f
, para deixar
claro que estamos lidando com o ponto p. A deni cao de f
e a seguinte: tomemos um sistema de coordenadas y : V
R
n
em N, com p V . Seja x: U R
m
um sistema de
coordenadas em M, com p U, tal que f(U) V . Dado
um vetor v M
p
, escrevamos v =
n
j=1
j
x
j
, e ponhamos
Main
2011/2/25
page 10
i
i
i
i
i
i
i
i
10 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
f
(v) =
n
i=1
i
y
i
, onde
i
=
m
j=1
y
i
x
j
j
(i = 1, . . . , n).
E
facil ver que f
e linear e que a deni cao de f
nao depende
das escolhas de sistemas de coordenadas feitas.
Dada uma aplica cao diferenciavel f : M
m
N
n
, di-
remos que um ponto p M e um ponto regular de f se
f
: M
p
N
q
, q = f(p), e uma aplica cao linear biunvoca.
Isto, naturalmente, obriga m n. Diremos que um ponto
q N e um valor regular da aplica cao diferenciavel
f : M
m
N
n
se, para cada p F
1
(p), a aplica cao li-
near f
: M
p
N
q
for sobre o espa co vetorial N
q
. Da
maneira como esta deni cao esta formulada, se f
1
(q) for
vazio, q sera automaticamente um valor regular de f. Se,
porem, q N e um valor regular de f com f
1
(q) = ,
entao m n.
Se uma aplica cao diferenciavel f : M
m
N
n
e tal que
todos os pontos p M sao pontos regulares de f, diremos
que f e uma aplicacao regular. (Nao daremos nome especial
a uma aplica cao f : M N tal que todo ponto q N e
um valor regular de f. Se tivessemos de adotar um nome
especial, diramos que f e uma bra cao).
Uma imersao de uma variedade M
m
numa variedade
N
n
e uma aplica cao diferenciavel regular f : M
m
N
n
que e, alem disso, um homeomorsmo de M em N.
Uma subvariedade S
s
de uma variedade M
m
e um sub-
conjunto S
s
M
m
, o qual possui uma estrutura propria
de variedade diferenciavel, relativamente `a qual a aplica cao
de inclusao : S M e uma imersao. Por exemplo: as
superfcies regulares do espa co euclidiano R
n
sao subva-
riedades deste espa co. Um difeomorsmo f : M
n
N
n
e um homeomorsmo diferenciavel cujo inverso tambem e
Main
2011/2/25
page 11
i
i
i
i
i
i
i
i
11
diferenciavel.
Um fato basico acerca de imersoes e o seguinte:
Teorema 1 (Whitney). Dada uma variedade diferenci avel
M
n
, existe sempre uma imersao f : M
n
R
2n+1
.
Na realidade, quando M e compacta, qualquer aplica cao
contnua g : M
n
R
2n+1
pode ser arbitrariamente apro-
ximada por uma imersao. Este resultado de aproxima cao
e ainda valido para variedades nao compactas, desde que
enfraque camos a deni cao de imersao, substituindo a
exigencia de que f : M
n
R
2n+1
seja um homeomorsmo
pela condi cao mais debil de que f seja apenas biunvoca.
Para demonstra coes do Teorema 1, o leitor pode con-
sultar [25], pag. 112, [15], pag. 21. O caso compacto pode
ser visto em [19], pag. 16, e em [13], pag. 184.
Observaremos aqui que o metodo de demonstra cao de
Whitney [25], exposto tambem por Milnor [15] permite, na
realidade concluir um resultado mais forte, segundo o qual,
dada uma variedade compacta M
m
e uma variedade qual-
quer N
2m+1
, toda fun cao contnua f : M
m
N
2n+1
pode
ser uniformemente aproximada por uma imersao g : M
m
N
2n+1
. O mesmo resultado vale sem a hipotese de compa-
cidade de M, desde que o conceito de imersao seja tomado
no sentido fraco acima mencionado.
Uma metrica riemanniana numa variedade diferencia-
vel M
m
consiste num produto interno em cada espa co tan-
gente M
p
. Indicando com u v o produto interno de dois
vetores u, v M
p
, exigiremos que este produto varie dife-
renciavelmente com o ponto p. Isto signica que, tomando
um sistema de coordenadas locais x: U R
n
em M, o pro-
duto interno g
ij
(p) =
x
i
(p)
x
j
(p) de dois vetores basicos
de M
p
deve ser uma fun cao diferenciavel g
ij
: U R.
Main
2011/2/25
page 12
i
i
i
i
i
i
i
i
12 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
Um corolario do Teorema de Whitney e que toda varie-
dade diferenciavel M
n
pode ser munida de uma metrica rie-
manniana. Com efeito, basta tomar uma imersao f : M
n
R
2n+1
e denir o produto interno de dois vetores u, v M
p
como u v = f
(u) f
(v), onde o produto interno do 2
o
membro e aquele do espa co euclidiano R
2n+1
.
A importancia do conceito de valor regular e, em grande
parte, devida ao teorema seguinte, cuja demonstra cao e
simples. No caso em que M e N sao abertos do espa co
euclidiano, veja-se [13], pag. 55. A demonstra cao do caso
geral e a mesma.
Teorema 2. Seja f : M
m
N
n
uma aplicacao dife-
renci avel, e q N um valor regular de f, com f
1
(q) = .
Entao f
1
(q) e uma subvariedade de dimens ao m n em
M
m
.
Podemos ainda acrescentar que, se M e N forem orien-
tadas, S = f
1
(q) possui uma orienta cao natural.
O teorema mais profundo a respeito de valores regulares
e o que arma que eles existem, e em grande quantidade,
qualquer que seja a aplica cao diferenciavel dada. Antes
de enuncia-lo, daremos uma deni cao: diremos que um
subconjunto X M
n
, numa variedade diferenciavel, tem
medida nula quando, para todo sistema de coordenadas
x: U R
n
, em M, o conjunto x(U X) tiver medida nula
em R
n
. Para isto, basta que exista uma cobertura de X por
abertos U, que sao domnios de sistemas de coordenadas,
com m(x(U X)) = 0 em R
n
. O complementar de um
conjunto de medida nula e, evidentemente, denso em M.
Uma reuniao enumeravel de conjuntos de medida nula tem
tambem medida nula.
Main
2011/2/25
page 13
i
i
i
i
i
i
i
i
13
Teorema 3 (Sard). Seja f : M
m
N
n
uma aplicacao
diferenci avel. O conjunto dos pontos de N que n ao s ao
valores regulares de f tem medida nula em N.
Para demonstra coes deste importante teorema, vejam-
se [11] e [19], pag. 19. Em [19], o Teorema de Sard e apre-
sentado numa versao ligeiramente mais fraca, em termos
da categoria de Baire. Em [11] encontram-se aplica coes
interessantes do referido teorema. No caso de ser dimM =
dimN, a demonstra cao do Teorema de Sard torna-se bem
mais simples. (Vejam-se [18] e [20], Chap. I). Exceto em
dois casos, utilizaremos aqui somente esta versao mais ele-
mentar.
E imediato que o Teorema de Sard para variedades
com bordo segue-se diretamente do caso sem bordo.
A hipotese de que toda variedade diferenciavel M
n
deve
ter base enumeravel equivale a admitir que ela e paracom-
pacta, isto e, que toda cobertura aberta de M pode ser
renada por uma cobertura localmente nita. (Vide [2]).
Utilizaremos a paracompacidade de M
n
sob o seguinte as-
pecto:
Lema 1. Dada uma variedade diferenci avel M
n
, toda
cobertura aberta de M pode ser renada por uma cober-
tura enumer avel {U
}, = 1, 2, . . . , localmente nita, tal
que existem sistemas de coordenadas x
: U
R
n
, com
x
(U
) = B(3) = bola aberta de raio 3 em R
n
, e, alem
disso, se pusermos V
= x
1
B(2)) e W
= x
1
(B(1)), os
W
ainda cobrir ao M.
Isto resulta diretamente da paracompacidade.
E um
fato de Topologia Geral, pura e simplesmente. Usamos
agora a existencia de uma fun cao diferenciavel : B(3)
R tal que 0 1, (B(1)) = 1, (B(3) B(2)) = 0
Main
2011/2/25
page 14
i
i
i
i
i
i
i
i
14 [CAP. I: VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS
(Vide [13], pag. 164; [25], pag. 372). Denimos, para cada
= 1, 2, . . . , uma fun cao real diferenciavel
: M R,
pondo
(p) = (x
(p)) se p U
, e
(p) = 0 se p / U
.
Em seguida, denimos novas fun coes
: M R pondo,
para todo p M:
(p) =
(p)
(p)
A cole cao {
; = 1, 2, . . . } de fun coes reais diferenciaveis
e tal que 0
(p) 1 para todo e todo p M,
(p) = 1 para todo p M e, alem disso,
(p) = 0 se
p / V
. As fun coes {
} formam o que se denomina uma
particao da unidade subordinada `a cobertura {V
}. Su-
bordinada a esta cobertura signica que cada
anula-se
fora de V
.
E claro que {
} tambem e subordinada a
{U
} e, mais geralmente a qualquer cobertura {Z
} tal
que V
para todo .
Um lema que sera grandemente utilizado no texto e o
seguinte:
Lema 2. Seja M
n
uma variedade conexa. Dados dois pon-
tos quaisquer p, q M, existe um sistema de coordenadas
x: U R
n
em M, com p, q U e com x(U) = R
n
.
Nao sabemos dar uma referencia para a demonstra cao
deste lema, embora ele seja bastante util e conhecido. Um
esbo co de demonstra cao e o seguinte: sendo M conexa,
existe uma curva L M (= imersao da reta em M) que
contem p e q. Consideremos uma vizinhan ca tubular T de
L em M. (No caso de subvariedades do R
n
, vizinhan cas
tubulares sao estudadas em [13], pags. 77 e 82. O caso
Main
2011/2/25
page 15
i
i
i
i
i
i
i
i
15
geral e analogo. Vide [19] pag. 82). A vizinhan ca tubular
e um espa co brado : T L sobre L. Mas sabe-se que
todo espa co brado sobre a reta e trivial (Vide [22], pag.
53). Logo T e difeomorfa ao produto LB
n1
, onde B
n1
(a bra) e uma bola aberta de dimensao n 1. Sendo L
difeomorfa a R, LB
n1
e difeomorfa a RB
n1
ou, seja
a R
n
. O difeomorsmo composto x: T R
n
demonstra o
Lema.
Main
2011/2/25
page 16
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo II
Homotopia
1 Introducao
Indicaremos com I = [0, 1] o intervalo fechado 0 t 1.
Sejam X e Y espa cos topologicos. Duas aplica coes
contnuas f, g : X Y dizem-se homot opicas quando e-
xiste uma aplica cao contnua
F : X I Y,
do produto cartesiano X I em Y , tal que F(x, 0) = f(x)
e F(x, 1) = g(x) para todo x X. Neste caso, F chama-se
uma homotopia entre f e g. Para indicar que f e ho-
motopica a g, escreve-se
f g : X Y ou, simplesmente, f g.
Usa-se tambem o smbolo F : f g para indicar que F
e uma homotopia entre f e g.
Seja Y
X
o conjunto de todas as aplica coes contnuas
de X em Y . A rela cao de homotopia e uma rela cao de
16
Main
2011/2/25
page 17
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: INTRODUC
AO 17
equivalencia no conjunto Y
X
, pois sao validas as seguintes
propriedades:
(1) Reexividade: f f, para toda f Y
X
;
(2) Simetria: se f, g Y
X
e f g, entao g f;
(3) Transitividade: dadas f, g, h Y
X
, se f g e
g
= h, entao f h.
As demonstra coes dessas propriedades se fazem de modo
direto. Dada f : X Y contnua, a aplica cao F : XI
Y denida por F(x, t) = f(x), x X, t I, e uma homo-
topia entre f e f, o que demonstra (1). Para demonstrar
(2), seja F : XI Y uma homotopia entre f e g. Entao,
denamos G: X I Y pondo G(x, t) = F(x, 1 t).
E
claro que G e contnua e, para todo x X, G(x, 0) =
F(x, 1) = g(x), G(x, 1) = F(x, 0) = f(x), donde G e uma
homotopia entre g e f. Finalmente, para demonstrar (3),
sejam F : f g e G: g h homotopias. Deniremos uma
aplica cao H: H I Y pondo H(x, t) = F(x, 2t) para
0 t 1/2 e H(x, t) = G(x, 2t 1) para 1/2 t 1.
A aplica cao H e bem denida pois, para t = 1/2, temos
F(x, 2t) = G(x, 2t 1) = g(x). Alem disso, H e contnua
em cada um dos subconjuntos fechados A = {(x, t)
X I; t 1/2} e B = {(x, t) X I; t 1/2} de
X I. Logo, H e contnua em X I = A B. E, como
H(x, 0) = F(x, 0) = f(x), H(x, 1) = G(x, 1) = h(x) para
todo x X, tem-se H: f h, o que conclui a demons-
tra cao.
Ilustraremos o conceito de homotopia com dois exem-
plos simples. Em primeiro lugar, observaremos que, dado
um espa co topologico X arbitrario, duas fun coes contnuas
Main
2011/2/25
page 18
i
i
i
i
i
i
i
i
18 [CAP. II: HOMOTOPIA
quaisquer f, g : X R
n
sao sempre homotopicas. Com
efeito, basta denir F : X I R
n
pondo F(x, t) =
(1t)f(x) +tg(x), x X, t I.
E claro que F e contnua
e, alem disso, para todo x X, temos F(x, 0) = f(x) e
F(x, 1) = g(x), donde F e uma homotopia entre f e g. A
homotopia F, vista geometricamente, consiste em deslocar
cada ponto f(x), ao longo do segmento de reta f(x)g(x),
em movimento uniforme (t = tempo) de modo a chegar em
g(x) para t = 1. Nota-se, entao que o mesmo resultado e
ainda valido se substituimos R
n
por qualquer subconjunto
convexo A R
n
.
Em seguida, mostraremos que, dado um espa co topologi-
co arbitrario X e a esfera unitaria n-dimensional S
n
, se uma
fun cao contnua f : X S
n
e tal que f(X) = S
n
, (isto e, se
f nao e sobre S
n
) entao f e homotopica a uma aplica cao
constante X q S
n
. Com efeito, se existe p S
n
tal que p / f(X) entao f pode ser considerada como uma
aplica cao contnua f : X S
n
p. Mas, usando a proje cao
estereograca, temos o homeomorsmo S
n
p = R
n
. U-
sando o resultado anterior, concluimos que f e homotopica
a qualquer aplica cao contnua g : X S
n
p e, em par-
ticular, a uma aplica cao constante. Isto tambem pode ser
visto diretamente, assim: seja q S
n
o antpoda do ponto
p. Entao, qualquer que seja y S
n
p, o segmento de reta
qy nao contem a origem 0 S
n
. Assim, para todo x X,
e 0 t 1, o ponto tq +(1t)f(x) R
n
e sempre distinto
de zero. Logo, a aplica cao F : X I S
n
, denida por
F(x, t) =
tq + (1 t)f(x)
|tq + (1 t)f(x)|
e contnua, e e uma homotopia entre f : X S
n
e a
aplica cao constante x q S
n
.
Main
2011/2/25
page 19
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: INTRODUC
AO 19
Quando se estudam os chamados grupos de homoto-
pia, desempenha um papel fundamental a proposi cao se-
guinte, que constitui o exemplo mais simples da conexao
existente entre a no cao de homotopia e o problema da ex-
tensao de fun coes contnuas.
Indicaremos com B
n+1
=
_
x R
n+1
; |x| 1
_
a bola
unit aria fechada de R
n+1
, cuja fronteira e a esfera S
n
.
Proposi cao 1. Seja X um espaco topologico qualquer.
Uma aplicacao contnua f : S
n
X admite uma extensao
contnua f : B
n+1
X se, e somente se, f e homot opica
a uma aplicacao constante S
n
c, c X.
Demonstra cao: Se f admite uma extensao contnua
f : B
n+1
X, entao a aplica cao F : S
n
I X, de-
nida por F(x, t) = f(tx) constitui uma homotopia entre
f e a aplica cao constante S
n
c, c = f(0) X. Re-
ciprocamente, seja F : S
n
I X uma homotopia entre
f e uma aplica cao constante S
n
c, c X. Denindo
f : B
n+1
X com f(x) = F
_
x
|x|
, 1|x|
_
, se 0 = x B
n+1
,
e f(0) = c, vemos que f e contnua e estende f.
Indicaremos com o smbolo [f] a classe de equivalencia
de uma aplica cao f : X Y segundo a rela cao de
homotopia. A classe [f] consiste pois de todas as aplica coes
contnuas de X em Y que sao homotopicas a f, e chama-se
a classe de homotopia de f. O espa co quociente de Y
X
pela rela cao de homotopia, isto e, o conjunto de todas as
classes de homotopia [f] das aplica coes contnuas f de X
em Y , sera indicado com [X, Y ].
O conjunto Y
X
das aplica coes contnuas de X em Y
pode ser tornado um espa co topologico, por meio da chama-
da topologia compact-open. (Para detalhes sobre essa topo-
Main
2011/2/25
page 20
i
i
i
i
i
i
i
i
20 [CAP. II: HOMOTOPIA
logia, vide [2]). Em todos os casos que consideraremos,
X e Y serao espa cos metricos localmente compactos, e
ela coincidira com a topologia da convergencia uniforme
nas partes compactas. Continuemos usando o mesmo
smbolo para indicar o espa co topologico Y
X
com a to-
pologia compact-open. Uma homotopia F : X I Y
entre duas aplica coes f, g : X Y pode ser interpretada
como um arco
F : I Y
X
no espa co topologico Y
X
, ligando o ponto f ao ponto g.
Com efeito, basta por
F(t) = elemento de Y
X
tal que
F(t)(x) = F(x, t). Ve-se sem muita diculdade, a par-
tir da maneira como foi denida a topologia em Y
X
, que
F : I Y
X
e de fato contnua e que, reciprocamente, to-
dos os arcos em Y
X
provem, desta maneira, de homoto-
pias. (Mais profundo, e o resultado segundo o qual a cor-
respondencia F
F acima descrita e, na realidade, um
homeomorsmo entre os espa cos Y
(XI)
e (Y
X
)
I
.)
Assim, cada classe de homotopia [f], com f : X Y
contnua, e a componente conexa por arcos do ponto f no
espa co topologico Y
X
e o conjunto [X, Y ] e o conjunto das
componentes conexas por arcos do espa co Y
X
.
No que se segue, nao faremos uso das considera coes
acima feitas sobre Y
X
como espa co topologico as quais,
entretanto, fornecem uma maneira util e bem intuitiva de
visualizar a no cao de homotopia.
Um dos problemas mais importantes da Topologia e
o da classica cao das aplica coes de um espa co X num
espa co Y por meio da rela cao de homotopia. Mais preci-
samente, esse problema consiste em determinar condi coes
necessarias e sucientes para que duas aplica coes contnuas
Main
2011/2/25
page 21
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: INTRODUC
AO 21
f, g : X Y sejam homotopicas, e obter informa coes sobre
a estrutura do conjunto [X, Y ], tais como n umero de ele-
mentos, opera coes algebricas que se podem denir natural-
mente entre as classes de homotopia, etc. Grande parte da
Topologia Algebrica que tem sido estudada nestes ultimos
25 anos tem sido dedicada a tal problema. Um certo n ume-
ro de casos particulares importantes foram efetivamente
elucidados, mas uma solu cao completa para o problema,
mesmo quando X e Y sao esferas do espa co euclidiano,
ainda nao foi obtida.
No presente captulo, estudaremos o problema da clas-
sica cao de aplica coes contnuas f : M
n
S
n
, onde M
n
e uma variedade diferenciavel compacta e conexa, de di-
mensao n, e S
n
e a esfera unitaria n-dimensional. Trata-se
de um caso particular do problema da classica cao, para o
qual um resultado simples e completo foi obtido. Ha dois
casos distintos a considerar:
(a) M
n
e orientavel. Orientaremos M
n
e mostrare-
mos que, a cada aplica cao contnua f : M
n
S
n
, e possvel
associar um inteiro k Z, chamado o grau de f tal que
duas aplica coes f, g : M
n
S
n
tem o mesmo grau se, e
somente se, sao homotopicas, e que todo n umero inteiro k
pode ser obtido como o grau de alguma aplica cao contnua
f : M
n
S
n
. Assim fazendo, estabeleceremos uma corres-
pondencia biunvoca
_
M
n
, S
n
Z.
Em particular, o conjunto [M
n
, S
n
] e innito, enumeravel,
e possui, de modo natural, uma estrutura de grupo cclico.
(b) M
n
nao e orientavel. Nese caso, nao e possvel
denir o grau como um n umero inteiro, mas deniremos
Main
2011/2/25
page 22
i
i
i
i
i
i
i
i
22 [CAP. II: HOMOTOPIA
uma especie de grau modulo 2: dividiremos as aplica coes
contnuas f : M
n
S
n
em duas classes, uma formada pelas
chamadas aplica coes pares e outra das aplica coes que
chamaremos mpares. Mostraremos que duas aplica coes
contnuas f, g : M
n
S
n
sao homotopicas se, e somente
se, sao ambas pares, ou ambas mpares. Seja Z
2
=
_
0, 1
_
o grupo de dois elementos. Associando a cada aplica cao
f : M
n
S
n
o elemento 0 ou o elemento 1 conforme f seja
par ou mpar, estabeleceremos uma correspondencia
biunvoca
_
M
n
, S
n
Z
2
,
pois e facil ver que existem aplica coes pares e aplica c oes
mpares.
O conceito de grau e devido a L. Brouwer, o qual de-
monstrou que duas aplica coes homotopicas tem o mesmo
grau. O fato de que duas aplica coes f, g : M
n
S
n
,
com o mesmo grau, sao homotopicas, foi demonstrado por
H. Hopf, que caracterizou, mais geralmente, o conjunto
[K
n
, S
n
], onde K
n
e um poliedro n-dimensional qualquer.
Nosso procedimento sera o seguinte: em primeiro lu-
gar, reduziremos o problema da homotopia de aplica coes
contnuas de uma variedade diferenciavel noutra a um pro-
blema de aplica coes diferenciaveis e homotopias diferencia-
veis. Mostraremos que toda aplica cao contnua f : M
m
N
n
e homotopica a uma aplica cao diferenciavel g : M
m
N
n
e que, se existe uma homotopia contnua F : MI N
entre duas aplica coes diferenciaveis f, g : M N, existe
tambem uma homotopia diferenciavel G: M I N.
Em seguida, deniremos o grau (resp. o grau modulo
2) de uma aplica cao diferenciavel f : M
n
N
n
, M
n
compacta orientada (resp. nao orientavel). Como duas
Main
2011/2/25
page 23
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: HOMOTOPIAS EM VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS 23
aplica coes homotopicas terao o mesmo grau, deniremos
o grau de uma aplica cao contnua simplesmente como o
grau de qualquer aplica cao diferenciavel que lhe seja ho-
motopica. Uma vez classicadas as aplica coes diferencia-
veis f : M
n
S
n
, segundo homotopias diferenciaveis, por
meio da no cao de grau, o caso geral de fun coes contnuas
segue-se imediatamente das observa coes acima feitas.
2 Homotopias em variedades dife-
renciaveis
O objetivo desta se cao e reduzir o problema da homotopia
em variedades diferenciaveis ao caso de aplica coes e homo-
topias diferenciaveis. Notemos que, se M
m
e uma variedade
diferenciavel (sem bordo), o produto cartesiano M
m
I e
uma variedade diferenciavel com bordo. O bordo de M
m
I
e igual a (M
m
0)(M
m
1). Uma homotopia diferenciavel
entre duas aplica coes diferenciaveis f, g : M
m
N
n
e sim-
plesmente uma aplica cao diferenciavel F : M
m
I N
tal que F(x, 0) = f(x) e F(x, 1) = g(x) para todo x
M. Neste caso, diz-se que f e g sao diferenciavelmente
homot opicas.
E imediato que esta rela cao e reexiva e
simetrica. Mas nao e obvio que seja transitiva. Demons-
tremos, entao, o resultado seguinte:
Lema 1. Sejam f, g, h: M
m
N
n
aplicacoes diferenci a-
veis e F : f g, G: g h homotopias diferenci aveis.
Entao existe uma homotopia diferenci avel H: f h.
Demonstra cao: Consideremos uma fun cao diferenciavel
qualquer : [0, 1/2] [0, 1] com as seguintes propriedades:
Main
2011/2/25
page 24
i
i
i
i
i
i
i
i
24 [CAP. II: HOMOTOPIA
(a) (0) = 0, (1/2) = 1
(b) Todas as derivadas
(r)
(t) se anulam nos pontos t = 0
e t = 1/2.
Uma tal fun cao pode ser obtida pondo-se (t) = (2t),
onde e a fun cao denida em [13], pagina 166. A expressao
explcita de e a seguinte:
(t) =
1
b
_
t
0
e
1/x(1x)
dx, com b =
_
t
0
e
1/x(1x)
dx.
Salientamos porem que uma formula explcita que de a
fun cao nao tem maior interesse. Somente as propriedades
(a) e (b) acima serao utilizadas. A partir das homotopias
F, G, e da fun cao , deniremos uma homotopia H: M
I N pondo, para x M e t I,
H(x, t) =
_
F(x, (t)) se 0 t 1/2;
G(x, (t 1/2)) se 1/2 t 1.
Como F(x, (1/2)) = G(x, (0)) = g(x), H e bem de-
nida e contnua. Alem disso, H(x, 0) = F(x, (0)) = f(x),
H(x, 1) = G(x, (1/2)) = G(x, 1) = h(x), para todo x
M. Portanto, H e uma homotopia entre f e h. Resta
mostrar que H e diferenciavel. Isto e claro, exceto nos
pontos da forma (x, 1/2). E, mesmo nesses pontos, nao
ha d uvidas quanto `a existencia das derivadas parciais de
H relativamente `as coordenadas de x. Devemos examinar
a existencia das derivadas parciais
r
H
t
r
(x, 1/2). Vejamos
a primeira derivada. Calculando as derivadas laterais no
ponto t = 1/2, obtem-se facilmente
H
+
t
(x, 1/2) =
(0)
G
t
(x, 0) = 0, pois
(0) = 0;
Main
2011/2/25
page 25
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: HOMOTOPIAS EM VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS 25
H
t
(x, 1/2) =
_
1
2
_
F
t
(x, 1) = 0, pois
_
1
2
_
= 0.
Assim existem e sao iguais as derivadas laterais de H em
(x, 1/2). Segue-se que H e de classe C
1
. Repetindo su-
cessivamente o mesmo argumento, verica-se que todas as
derivadas parciais laterais de H relativamente a t se anulam
para t = 1/2, donde H C
, como queramos demonstrar.
Passemos, em seguida, ao teorema principal da se cao.
Teorema 1. Sejam M
m
e N
n
variedades diferenciaveis
compactas. Entao:
(a) Toda aplicacao contnua f : M
m
N
n
e homot opica
a uma aplicacao diferenci avel g : M
m
N
n
:
(b) Se duas aplicacoes diferenci aveis f, g : M
m
N
n
s ao
homot opicas, elas s ao diferenciavelmente homot opicas.
Demonstra cao: O Teorema 1 segue-se imediatamente dos
lemas que demonstraremos a seguir.
Lema 2. Seja M
m
uma variedade diferenci avel compacta
e N
n
R
k
uma superfcie regular compacta do espaco eu-
clidiano R
k
. Dada uma aplicacao contnua e um n umero
> 0, existe uma aplicacao diferenci avel g : M N tal
que |f(x) f(x)| < para todo x M.
Demonstra cao: Seja T = T
(N) uma vizinhan ca tubular
de N, de amplitude 2, com < /2. Todo ponto z R
k
,
que dista menos de de algum ponto x N, pertence a
T. Com efeito, o ponto x
0
N que menos dista de z e
o pe de um segmento normal zx
0
. Como |z z
0
| < ,
Main
2011/2/25
page 26
i
i
i
i
i
i
i
i
26 [CAP. II: HOMOTOPIA
tem-se z T. Em seguida, sendo f contnua e M com-
pacta, existe uma cobertura aberta nita {V
1
, . . . , V
r
} de
M, tal que |f(x) f(y)| < sempre que x, y pertencem
ao mesmo V
i
. Seja {
1
, . . . ,
r
} uma parti cao diferenciavel
da unidade subordinada `a cobertura {V
i
}. Escolhamos, em
cada conjunto V
i
, um ponto x
i
e denamos uma aplica cao
diferenciavel h: M R
k
, pondo, para cada x M,
h(x) =
r
i=1
i
(x)f(x
i
).
Para determinar o grau de aproxima cao entre h e f, note-
mos que, para cada x M,
h(x) f(x) =
i
(x)f(x
i
)
i
(x)f(x)
=
i
(x)[f(x
i
) f(x)],
pois
i
(x) = 1. Examinemos cada parcela do ultimo
somatorio. Se x / V
i
, temos
i
(x) = 0, donde a parcela se
anula. Se, por outro lado, x V
i
, entao |f(x
i
) f(x)| < .
Assim, podemos escrever, para todo x M:
|h(x) f(x)| <
i
(x) = .
Segue-se que h(x) T para cada x M. Seja : T
N a proje cao associada `a vizinhan ca tubular T. Ponha-
mos g(x) = (h(x)), denindo assim uma aplica cao dife-
renciavel g : M N. Para cada x M, temos
|f(x) g(x)| |f(x) h(x)| +|h(x) g(x)| < + < ,
Main
2011/2/25
page 27
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: HOMOTOPIAS EM VARIEDADES DIFERENCI
AVEIS 27
pois g(x) = (h(x)), sendo o pe da normal de h(x) a N em
T
(N), nao pode distar mais de de h(x).
Lema 3. Seja N
n
R
k
uma superfcie regular com-
pacta. Existe um n umero > 0 com a seguinte propriedade:
dado um espaco topologico X qualquer e duas aplicacoes
contnuas f, g : X N tais que |f(x) g(x)| < para
todo x X, ent ao f e g s ao homot opicas.
Demonstra cao: Seja T = T
(N) uma vizinhan ca tubular
de N em R
k
. Seja > 0 um n umero tal que se p, q
N e |q p| < entao o segmento pq esta todo contido
em T. (Basta tomar < n umero de Lebesgue de uma
cobertura de N por bolas abertas contidas em T). Entao,
se |f(x) g(x)| < para todo x X, o segmento de
reta f(x)g(x) = {(1 t)f(x) + tg(x); 0 t 1} esta
contido em T e portanto tem sentido denir uma aplica cao
F : X I N pondo:
F(x, t) = [(1 t)f(x) +tg(x)],
onde : T N e a proje cao canonica da vizinhan ca tu-
bular.
E claro que F e contnua e, alem disso F(x, 0) =
(f(x)) = f(x), F(x, 1) = (g(x)) = g(x), donde F e uma
homotopia entre f e g.
Observa cao: Se X for uma variedade diferenciavel e f,
g forem aplica coes diferenciaveis, entao a homotopia F e
tambem diferenciavel, como se ve pela expressao que a de-
ne.
Mostremos agora como o Teorema 1 se deduz dos Lemas
acima.
Main
2011/2/25
page 28
i
i
i
i
i
i
i
i
28 [CAP. II: HOMOTOPIA
Primeiro a parte (a). Dada f : M N contnua, consi-
deramos uma imersao N R
k
. Pelo Lema 3, existe > 0
tal que toda aplica cao g : M N que diste menos de
de f e homotopica a f. Com este , usamos o Lema 2 e
obtemos uma aplica cao diferenciavel g : M N que dista
menos de de f e portanto e homotopica a f.
Em seguida, a parte (b). Dadas f, g : M N dife-
renciaveis, e uma homotopia (contnua) F : M I N
entre f e g, consideramos uma imersao N R
k
e o n umero
dado pelo Lema 3. Depois, usando o Lema 2, obtemos
uma homotopia diferenciavel g : M I N tal que
|F(x, t) G(x, t)| < (*)
para todo x M e t I. G e uma homotopia entre as
aplica coes diferenciaveis f(x) = G(x, 0) e g(x) = G(x, 1)
de M em N. Em virtude da desigualdade (*), tem-se
|f(x) f(x)| < e |g(x) g(x)| < para todo x M.
Segue-se (vide Observa cao seguinte ao Lema 3) que f f
e g g diferenciavelmente. Como G: f g tambem dife-
renciavalmente, o Lema 1 implica que f g diferenciavel-
mente, o que encerra a demonstra cao do Teorema 1.
Observa cao: O Teorema 1 e valido sem a hipotese restri-
tiva de que M e N sao compactas. Preferimos enuncia-lo
como o zemos porque a demonstra cao e mais simples e
nao usaremos aqui senao o presente caso.
3 O conceito de grau
Recapitularemos, inicialmente, a no cao de aplica cao pro-
pria. Para demonstra coes destes fatos de Topologia Geral,
Main
2011/2/25
page 29
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: O CONCEITO DE GRAU 29
veja-se [2], pag. 102 (Cap. I).
Sejam X, Y espa cos localmente compactos. Uma apli-
ca cao contnua f : X Y diz-se pr opria quando a imagem
inversa f
1
(K) de todo compacto K Y e um compacto
em X.
Indiquemos com
X = X {} e
Y = Y {} as com-
pactica coes de Alexandro dos espa cos X e Y respectiva-
mente. Uma aplica cao contnua f : X Y e propria se, e
somente se, a aplica cao
f :
X
Y denida por
f() =
e
f(x) = f(x) para x X for tambem uma aplica cao
contnua. Em particular, se X e Y sao metrizaveis ( unico
caso que consideraremos) uma condi cao necessaria e su-
ciente para que f : X Y seja propria e a seguine: dada
uma seq uencia (x
n
) em X que nao possui subseq uencias
convergentes (isto e: uma seq uencia divergente em X),
entao a seq uencia (f(x
n
)) e tambem divergente em Y . Em
linguagem intuitiva: se x
n
em X, entao f(x
n
)
em Y .
Por exemplo, se X e compacto, toda aplica cao contnua
f : X Y e propria. Por outro lado, se Y e compacto e
f : X Y e propria, entao X e necessariamente compacto,
pois X = f
1
(Y ).
As aplica coes proprias gozam de muitas propriedades
das aplica coes contnuas quaisquer denidas num espa co
compacto. Por exemplo, se f : X Y e propria e F X
e fechado, entao f(F) e fechado em Y . Isto resulta ime-
diatamente da caracteriza cao das aplica coes proprias em
termos da compactica cao de Alexandro. Em particular,
uma aplica cao propria biunvoca f : X Y e um homeo-
morsmo de X sobre f(X).
Main
2011/2/25
page 30
i
i
i
i
i
i
i
i
30 [CAP. II: HOMOTOPIA
Finalmente, observaremos que se f : X Y e propria,
se B Y e um subconjunto aberto e A = f
1
(B), entao
a aplica cao f
: A B, denida por f
(x) = f(x), x
A, e tambem propria. (Note-se que A, B sao localmente
compactos, por serem subconjuntos abertos de um espa co
localmente compacto). A demonstra cao e imediata.
Sejam M
n
, N
n
variedades diferenciaveis orientadas, da
mesma dimensao n, e f : M
n
N
n
uma aplica cao dife-
renciavel propria. Devemos denir o grau de f. Primei-
ramente deniremos o grau de f relativamente a um valor
regular p N. Depois mostraremos que, quando N e co-
nexa, esse grau nao depende do valor regular p escolhido.
De acordo com o Teorema de Sard, o conjunto dos va-
lores regulares p N da aplica cao f e denso em N. Alem
disso, sendo f propria, esse conjunto e aberto em N. Com
efeito, os pontos x M onde a aplica cao linear tangente
f
x
: M
x
N
f(x)
nao e sobre N
f(x)
formam um conjunto
fechado F M, pois sao denidos pela condi cao de anular-
se neles o determinante jacobiano de f
x
. Assim, f(F) e
fechado em N. Ora, o conjunto dos valores regulares de f
e precisamente N f(F).
Seja, pois, p N um valor regular de f. A imagem
inversa f
1
(p) e uma subvariedade compacta de dimensao
0 de M, donde consiste em um n umero nito de pontos:
f
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
} M.
Em cada ponto p
i
f
1
(p), a aplica cao linear tangente
f
p
i
: M
p
i
N
p
e um isomorsmo entre os espa cos vetoriais
orientados em questao. Diremos que o ponto p
i
e positivo
(p
i
> 0) ou negativo (p
i
< 0) conforme o isomorsmo f
p
i
conserve as orienta coes ou as inverta, respectivamente.
Main
2011/2/25
page 31
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: O CONCEITO DE GRAU 31
Deniremos entao o grau de f no valor regular p como o
n umero algebrico de pontos em f
1
(p), isto e, o n umero
de pontos positivos menos o n umero de pontos negativos
em f
1
(p). Usaremos a nota cao gr
p
(f) para indicar esse
n umero.
Exemplos: 1) Seja f : M
n
M
n
a aplica cao identidade.
Todo ponto p M
n
e um valor regular de f e gr
p
(f) =
1. Agora consideremos uma variedade N
n
que e igual a
M
n
, mas com a orienta cao oposta. A aplica cao identidade
g : M
n
N
n
e tal que todo ponto p N e um valor
regular mas o ponto p = f
1
(p) e negativo. Assim, para
todo p N, gr
p
(g) = 1.
2) Seja S
1
= {(x, y) R
2
; x
2
+ y
2
= 1} o crculo
unitario do plano. Para cada inteiro n Z, consideremos
a aplica cao f
n
: S
1
S
1
denida por f
n
(cos , sen ) =
(cos(n), sen(n)). Pensando cada ponto z = (x, y) =
(cos , sen ) em S
1
como o n umero complexo, de modulo
1, z = x + iy = cos + i sen , tem-se f
n
(z) = x
n
. Consi-
deremos primeiro n = 0. Cada ponto p S
1
e um valor
regular de f
n
pois, em termos de cada sistema de coordena-
das locais , f
n
assume a forma n. Para cada p S
1
,
f
1
(p) contem exatamente |n| pontos, todos positivos se
n > 0, todos negativos se n < 0. Assim, gr
p
(f
n
) = n para
todo p S
1
. Quando n = 0, f
0
e uma constante. Os va-
lores regulares sao os pontos p = (0, 1) e gr
p
(f
0
) = 0 para
todos esses valores p.
3) Seja S
n
= {(x
1
, . . . , x
n+1
) R
n+1
;
n+1
i=1
(x
i
)
2
= 1}
a esfera unitaria n-dimensional. Denamos uma aplica cao
diferenciavel
Main
2011/2/25
page 32
i
i
i
i
i
i
i
i
32 [CAP. II: HOMOTOPIA
f : S
n
S
n
pondo f(x
1
, . . . , x
n
, x
n+1
)=(x
1
, . . . , x
n
, x
n+1
).
Em outras palavras: f e a reexao relativamente ao hiper-
plano x
n+1
= 0. Consideremos o ponto p = (0, . . . , 0, 1)
em S
n
. Temos f
1
(p) = p
1
= (0, . . . , 0, 1). Os espa cos
vetoriais tangentes (S
n
)
p
, (S
n
)
p
1
e S
n
nos pontos p e p
1
sao paralelos: como subespa cos do R
n+1
tais que v =
(
1
, . . . ,
n
, 0). No que diz respeito `a orienta cao, diremos
que uma base {e
1
, . . . , e
n
} de um espa co tangente (S
n
)
q
e
positiva se, completando-a com o vetor normal v = q0 que
aponta para o exterior de S
n
, obtivermos uma base positiva
{e
1
, . . . , e
n
, v} de R
n+1
. Assim, por exemplo, se
e
1
= (1, 0, . . . , 0), . . . , e
n
= (0, . . . , 0, 1, 0), a base {e
1
, . . . ,
e
n
} e positiva para o espa co tangente (S
n
)
p
1
, pois v = p
1
0 = (0, . . . , 0, 1) determina a base positiva {e
1
, . . . , e
n
, v}
em R
n+1
. Por outro lado, no ponto p = (0, . . . , 0, 1) =
f(p
1
), a mesma base {e
1
, . . . , e
n
}, agora considerada como
base de (S
n
)
p
, e negativa, pois w = p 0 = (0, . . . , 0, 1)
determina a base negativa {e
1
, . . . , e
n
, w} para R
n+1
. Ora,
e facil ver que, indicando com f
a transforma cao linear
f
p
1
: (S
n
)
p
1
(S
n
)
p
induzida por f, tem-se f
(e
1
) = e
1
, . . . ,
f
(e
n
) = e
n
. Assim f
inverte as orienta coes e, por conse-
guinte, o ponto p
1
e negativo. Podemos entao armar que
gr
p
(f) = 1.
4) Consideremos as variedades M, N, de dimensao 1,
conforme indica a gura seguinte, orientadas segundo as
setas mostram, e a aplica cao f : M N que consiste de
uma proje cao central denida pelo centro do crculo N.
Cada ponto x M e positivo relativamente a f; todos os
pontos p N sao valores regulares de f. Mas, escolhendo
convenientemente o valor p N podemos ter gr
p
(f) = 1 ou
gr
p
(f) = 2. Isto contraria apenas aparentemente o teorema
Main
2011/2/25
page 33
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: O CONCEITO DE GRAU 33
principal deste paragrafo, segundo o qual, para N conexa,
gr
p
(f) nao depende do valor regular p. Razao: a aplica cao
f deste exemplo n ao e pr opria (nem poderia ser, pois N e
compacta e N nao e).
M
N
f x ( )
x
5) Sejam N a reta e M a variedade compacta de di-
mensao 1 imersa no plano segundo mostra a gura abaixo.
M
N
f
As orienta coes de M e N acham-se assinaladas na gura
por meio das setas. A aplica cao f : M N e a proje cao
perpendicular a N. Existem 6 pontos de N que nao sao
valores regulares de f (a saber: as imagens por f dos pontos
de M onde a tangente a M e perpendicular a N). Para
Main
2011/2/25
page 34
i
i
i
i
i
i
i
i
34 [CAP. II: HOMOTOPIA
cada valor regular p N, constata-se imediatamente que
gr
p
(f) = 0. Observa-se porem que o n umero de pontos na
imagem inversa f
1
(p) de um valor regular p pode ser 0, 2,
4 ou 6. Quando um ponto movel q percorre N, o n umero
de pontos em f
1
(q) sofre uma altera cao somente quando
q atinge um valor nao-regular de f.
Teorema 2. Sejam M
n
, N
n
variedades orientadas, de
mesma dimens ao, sendo N conexa, e f : M N uma
aplicacao diferenci avel pr opria. Entao o grau gr
p
(f) e o
mesmo, qualquer que seja o valor regular p N.
Demonstra cao: O Teorema 2 basea-se em 2 lemas, que
enunciaremos a seguir.
Lema 4. Nas condi coes do Teorema 2, todo valor regu-
lar p V possui uma vizinhanca V , formada apenas por
valores regulares, tal que gr
q
(f) = gr
p
(f) para todo q V .
Demonstra cao: Seja f
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
}. Em cada
ponto p
i
, a aplica cao linear f
, induzida por f, e biunvoca.
Pelo Teorema da fun cao inversa, existem vizinhan cas W
i
p
i
, as quais podemos tomar conexas e duas a duas disjun-
tas, tais que cada restri cao f
i
= f|W
i
e um difeomorsmo
de W
i
sobre a vizinhan ca f(W
i
) do ponto p. Segue-se entao
que, para um i xo (1 i r), todos os pontos de W
i
tem
o mesmo sinal relativamente a f. Basta portanto mos-
trar que existe uma vizinhan ca V de p tal que, para todo
q V , f
1
(q) consta precisamente de r pontos q
1
, . . . , q
r
,
com q
i
W
i
, isto e, q
i
= f
1
(q) W
i
. Ora, se tomarmos
a vizinhan ca V contida em f(W
i
) f(W
r
), veremos
que, para todo q V e todo W
i
, f
1
(q) W
i
e nao va-
zio. Como f e biunvoca em W
i
, f
1
(q) W
i
constara
Main
2011/2/25
page 35
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: O CONCEITO DE GRAU 35
de um unico ponto q
i
. Mas f
1
(q) poderia conter outros
pontos, fora de W = W
1
W
r
. Devemos entao mos-
trar que existe V p com f
1
(V ) W = W
1
W
r
.
Ora, se tal V nao existisse, obteramos uma seq uencia de
pontos y
n
= f(x
n
) em N, com y
n
p e x
n
M W.
Seja U uma vizinhan ca de p, cujo fecho U e compacto.
Como y
n
p, podemos supor que y
n
U para todo n.
Assim, cada x
n
F
1
(U). A aplica cao f sendo propria,
f
1
(U) e compacto. Passando a uma subseq uencia, se ne-
cessario, podemos entao admitir que x
n
x M. Te-
mos f(x) = f(limx
n
) = limf(x
n
) = limy
n
= p. Entao
x = p
i
para algum i, donde x W. Como W e aberto e
x
n
x, segue-se que x
n
W para todo n sucientemente
grande. Isto contradiz a constru cao, segundo a qual toma-
mos x
n
MW para todo n. Assim, a vizinhan ca V com
f
1
(V ) W de fato existe, e o Lema 4 esta demonstrado.
Escolio. A demonstra cao do Lema 4 contem, na reali-
dade, o seguinte resultado: Se p N e um valor regular
da aplicacao diferenci avel f : M
n
N
n
, ent ao existe uma
vizinhanca conexa V p tal que f
1
(V ) = V
1
V
r
(reuniao disjunta) onde f aplica cada V
i
difeomorcamente
sobre V .
Lema 5. Seja M
n
uma variedade orientada. Se f : M
n
R
n
e uma aplicacao diferenci avel pr opria, com valores no
espaco euclidiano R
n
, ent ao gr
p
(f) = gr
q
(f) quaisquer que
sejam os valores regulares p, q R
n
.
Nao demonstraremos o Lema 5. Ele decorrera dos re-
sultados do Captulo III (vide Corolario 2 do Teorema 5
daquele captulo). Por outro lado, uma demonstra cao di-
Main
2011/2/25
page 36
i
i
i
i
i
i
i
i
36 [CAP. II: HOMOTOPIA
reta e bastante clara do Lema 5 pode ser encontrada em
[11].
Mostremos agora como se deduz o Teorema 2 do Lema
5. Dada a aplica cao f : M
n
N
n
e considerados os va-
lores regulares p, q N, sendo N conexa, existem pontos
a
0
= p, a
1
, . . . , a
s
= q tais que, para cada i = 1, . . . , s, a
i1
e a
i
pertencem a uma mesma vizinhan ca coordenada V
i
, di-
feomorfa ao R
n
. Alem disso, deslocando ligeiramente a
i1
e a
i
, se necessario for, sem sair de V
i
, podemos supor que
todos os a
i
sao valores regulares de f, em virtude do Teo-
rema de Sard. Pelo Lema 5, obtemos gr
a
i1
(f) = gr
a
i
(f)
para cada i, donde gr
p
(f) = gr
q
(f), como queramos de-
monstrar.
Dadas as variedades orientadas M
n
, N
n
, sendo N cone-
xa, e uma aplica cao diferenciavel propria f : M N, cha-
maremos de grau de f ao n umero gr(f), igual a gr
p
(f) para
qualquer valor regular p N da aplica cao f. Em cirtude
do Teorema 2, o grau e bem denido. De agora por diante,
quando nos referirmos ao grau de uma aplica cao, supore-
mos implicitamente que f e propria e seu contradomnio e
conexo, mesmo quando isto nao seja expressamente.
Teorema 3. Dadas f : M
n
N
n
e g : N
n
P
n
,
gr(g f) = gr(f) gr(g).
Demonstra cao: Pelo Teorema de Sard, existe um ponto
p P que e um valor regular de g e de g f simul-
taneamente. Segue-se imediatamente que, se g
1
(p) =
{p
1
, . . . , p
r
}, todos os pontos p
i
sao valores regulares de
f. Para cada p
i
g
1
(p), poremos f
1
(p
i
) = {p
i1
, p
i2
, . . . ,
p
is
i
}. Entao (gf)
1
(p) = {p
ij
; i = 1, . . . , r ; j = 1, . . . , s
i
}.
Vemos que o sinal de p
ij
relativamente a gf e o produto do
Main
2011/2/25
page 37
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 37
sinal de p
ij
relativamente a f pelo sinal de p
i
= f(p
ij
) rela-
tivamente a q. Seja
i
o sinal de p
i
, isto e,
i
= +1 se p
i
e > 0 e
i
= 1 se p
i
< 0. Sejam, analogamente,
ij
o sinal
de p
ij
relativamente a f e
ij
= sinal de p
ij
relativamente
a g f. Temos gr(g) =
i
e
ij
= gr(f), independen-
temente de i, pelo Teorema 2. Alem disso,
ij
=
ij
i
e
gr(g f) =
i,j
ij
=
i
_
ij
_
i
=
i
gr(f)
i
gr(f)
i
= gr(f) gr(g).
Corolario. Dadas f : M
n
N
n
e g : P
r
Q
r
, seja f
g : MP N Q denida por f g(x, y) = (f(x), g(y)).
Entao gr(f g) = g(f) gr(g).
Demonstra cao: Temos f g = (f j) (i g), onde
i : M M e j : Q Q indicam aplica coes identicas.
Considerando cada variedade M P e N Q munida
da orienta cao produto, e claro que gr(f j) = gr(f) e
gr(i g) = gr(g). O Corolario segue-se entao do Teo-
rema 3.
Exemplo: 6) A aplica cao antpoda : S
n
S
n
, de-
nida por (x
1
, . . . , x
n+1
) = (x
1
, . . . , x
n+1
) tem grau
(1)
n+1
. Com efeito, emos = f
1
f
2
f
n+1
, onde cada
f
i
: (x
1
, . . . , x
i
, . . . , x
n+1
) (x
1
, . . . , x
i
, . . . , x
n+1
) tem
grau 1, em virtude do Exemplo 3. Pelo Teorema 3, temos
entao gr() = (1)
n+1
.
4 Grau como razao entre volumes
Inicialmente, faremos uma ligeira exposi cao dos fatos de
algebra multilinear que vao ser necessarios para a inte-
Main
2011/2/25
page 38
i
i
i
i
i
i
i
i
38 [CAP. II: HOMOTOPIA
gra cao de formas diferenciais numa variedade. Mais in-
forma coes sobre algebra multilinear podem ser obtidas em
[3], [4], [7].
Seja E um espa co vetorial (real) de dimensao n.
Uma forma r-linear em E e uma aplica cao
f : E E (r fatores) R,
ou seja, uma fun cao real de r variaveis em E, a qual e
linear separadamente em cada variavel. Em termos mais
explcitos, para todo ndice i, 1 i r, e todo valor dos
argumentos v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
r
, deve-se ter
f(v
1
, . . . , v
i
+ v
i
, . . . , v
r
) = f(v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
r
)+
+ f(v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
r
)
f(v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
r
) = f(v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
r
),
sendo tambem um n umero real arbitrario.
Um exemplo de forma r-linear e o produto f =
f
1
f
2
. . . f
r
de formas lineares f
i
E
. Por deni cao, e:
f(v
1
, . . . , v
r
) = f
1
(v
1
) f
2
(v
2
) . . . f
r
(v
r
).
O conjunto das formas r-lineares em E constitui, de
modo natural, um espa co vetorial L
r
(E), no qual a soma
de duas formas e o produto de uma forma por um n umero
real sao denidos da maneira usual, como opera coes sobre
fun coes reais.
Dada uma base {e
1
, . . . , e
n
} em E, o conjunto de todas
as formas r-lineares e
i
1
e
i
2
e
i
r
que se podem obter como
produtos de r elementos (nao necessariamente distintos)
da base dual {e
1
, . . . , e
n
} E
tem n
r
elementos.
E facil
Main
2011/2/25
page 39
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 39
vericar que esses produtos constituem uma base de L
r
(E),
de modo que este espa co tem dimensao n
r
.
Consideremos agora o subconjunto
r
(E
) L
r
(E)
composto das formas r-lineares alternadas. Uma forma
r-linear f L
r
(E) chama-se alternada quando satisfaz `a
condi cao:
f(v
1
, . . . , v
i
, . . . , v
j
, . . . , v
r
) = f(v
1
, . . . , v
j
, . . . , v
i
, . . . , v
r
),
isto e, quando muda de sinal quando se permutam as posi-
coes de 2 de seus argumentos. Uma condi cao equivalente a
esta consiste em exigir que f se anule sempre que dois dos
seus argumentos assumem valores iguais.
Uma maneira util de obter uma forma r-linear alternada
f, a partir de r formas lineares f
1
, . . . , f
r
E
, e tomar o
produto exterior f = f
1
f
r
das formas f
i
, o qual
e denido por:
f(v
1
, . . . , v
r
) = det(f
i
(v
j
)) =
f
1
(v
1
) . . . f
1
(v
r
)
..........................
f
r
(v
1
) . . . f
r
(v
r
)
Usando as propriedades elementares dos determinantes,
ve-se que f = f
1
f
r
, assim denida, e realmente uma
forma r-linear alternada em E.
O conjunto
r
(E
) das formas r-lineares alternadas,
como se ve facilmente, constitui um subespa co vetorial de
L
r
(E). Dada uma base {e
1
, . . . , e
n
} em E, consideremos a
base dual {e
1
, . . . , e
n
} E
. O conjunto de todos os pro-
dutos exteriores e
i
1
e
i
r
de r elementos da base dual
{e
i
}, tais que i
1
< < i
r
, constitui uma base de
r
(E
),
com
_
n
r
_
elementos. Por conseguinte, dim
r
(E
) =
_
n
r
_
. Se
r > n, e facil ver que
r
(E
) = {0}.
Main
2011/2/25
page 40
i
i
i
i
i
i
i
i
40 [CAP. II: HOMOTOPIA
Notemos que o produto exterior f = f
1
f
r
de r
formas lineares muda de sinal se permutamos dois dos seus
elementos:
f
1
f
i
f
j
f
r
= f
1
f
j
f
i
f
r
.
Isto equivale a dizer que f
1
f
r
= 0 sempre que
dois dos fatores f
i
forem iguais. Alem disso, tem-se as
propriedades:
f
1
(f
i
+ g
i
) f
r
= f
1
f
i
f
r
+ f
1
g
i
f
r
;
f
1
(f
i
) f
r
= f
1
f
i
f
r
( real).
Estas propriedades formais do produto exterior tambem
resultam imediatamente da deni cao, tendo em conta as
propriedades elementares dos determinantes. Por outro
lado, mencionemos que e possvel desenvolver a teoria das
formas r-lineares alternadas e produtos exteriores indepen-
dentemente de determinantes. Na realidade, a maneira
mais comoda de introduzir os determinantes e estudar suas
propriedades e atraves dessa algebra exterior.
Uma aplica cao linear A: E F, do espa co vetorial E
num espa co vetorial F, induz uma aplica cao linear
A
(r)
=
r
(A):
r
(F
)
r
(E
),
denida do seguinte modo: se f e uma forma r-linear al-
ternada em F, A
(r)
(f) e a forma r-linear alternada em E,
tal que
A
(r)
(f) (v
1
, . . . , v
r
) = f(Av
1
, . . . , Av
r
), v
1
, . . . , v
r
E. (1)
Main
2011/2/25
page 41
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 41
Estamos mais interessados nas formas n-lineares alter-
nadas num espa co vetorial E de dimensao n. Elas consti-
tuem um espa co vetorial
r
(E
) cuja dimensao e
_
n
n
_
, ou
seja, igual a 1. Dada uma base {e
1
, . . . , e
n
} em E, tomamos
sua dual {e
1
, . . . , e
n
} em E
, e a forma n-linear alternada
e = e
1
e
n
e uma base de
n
(E
). Sejam f
1
, . . . , f
n
for-
mas lineares em E. Entao f
1
=
1
j
e
j
, . . . , f
n
=
n
j
e
j
e, a partir das propriedades formais de produto exterior,
ve-se que
f
1
f
n
= det(
i
j
) e
1
e
n
.
Em particular, f
1
f
n
= 0 (para dimE = n)
se, e somente se, f
1
, . . . , f
n
sao linearmente independen-
tes em E
. Reciprocamente, dados os vetores v
1
, . . . , v
n
E e uma forma n-linear alternada f = 0 em E, tem-se
f(v
1
, . . . , v
n
) = 0 se, e somente se, os vetores v
i
sao inde-
pendentes. Com efeito, tem-se f = a e
1
e
n
, donde
f(v
1
, . . . , v
n
) = a det(e
i
(v
j
)).
Sejam E e F espa cos vetoriais da mesma dimensao n,
e A: E F uma aplica cao linear. Escolhidas as bases
{e
1
, . . . , e
n
} em E e {f
1
, . . . , f
n
} em F, se a matriz de
A relativamente a essas bases e (
i
j
), entao a matriz de
A
(n)
:
n
(F
)
n
(E
), relativamente `as bases {e
1
. . . e
n
}
e {f
1
. . . f
n
}, e det(
i
j
). (Como estes ultimos espa cos tem
dimensao 1, uma matriz identica-se a um n umero real).
Passemos agora a considerar uma variedade diferencia-
vel M
n
. Dado um ponto p M, todo sistema de coor-
denadas admissvel x: U R
n
, valido numa vizinhan ca
V de p, dene uma base
_
x
1
, . . . ,
x
n
_
no espa co tan-
gente M
p
, chamada a base associada ao sistema x. A base
Main
2011/2/25
page 42
i
i
i
i
i
i
i
i
42 [CAP. II: HOMOTOPIA
dual desta, em M
p
, sera indicada com {dx
1
, . . . , dx
n
}. As-
sim, dx
1
dx
n
constituira uma base para o espa co
uni-dimensional
n
(M
p
) das formas n-lineares alternadas.
Uma forma n-linear alternada qualquer
p
n
(M
p
) exprimir-
se-a, em termos dessa base, como
p
= a dx
1
dx
n
, (*)
onde a e um n umero real. A proposito, a coordenada a da
forma
p
relativamente `a base dx
1
dx
n
e caracterizada
pela igualdade:
s =
p
_
x
1
, . . . ,
x
n
_
,
isto e, a e o valor que a forma
p
assume na n-upla de ve-
tores /x
1
, . . . , /x
n
. Com efeito,
p
(/x
1
, . . . , /x
n
)
= adx
1
dx
n
(/x
1
, . . . , /x
n
) = adet(dx
i
(/x
j
))
= a det(
i
j
) = a.
Se, noutro sistema de coordenadas y : W R
n
, valido
na vizinhan ca W de p, a forma
p
assume a expressao
p
= b dy
1
dy
n
, (**)
a rela cao entre os coecientes a e b das expressoes (*) e
(**) e a seguinte:
a = b det(y
i
/x
j
), (***)
onde (y
i
/x
j
) e a matriz jacobiana da mudan ca de co-
ordenadas y x
1
, o determinante acima sendo calculado
no ponto x(p). Isto resulta simplesmente do fato de que,
para cada i, dy
i
=
j
y
i
x
j
dx
j
, donde dy
1
dy
n
=
det
_
y
i
x
j
_
dx
1
dx
n
, como ja vimos anteriormente.
Main
2011/2/25
page 43
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 43
Uma forma diferencial exterior de grau n ou, simples-
mente, uma forma diferencial de grau n numa variedade
M
n
e uma aplica cao
: p
p
n
(M
p
),
que associa a cada ponto p M uma forma n-linear al-
ternada
p
no espa co tangente M
p
. Dado um sistema de
coordenadas x: U R
n
em M, tem-se, para cada p U,
p
= a(p) dx
1
dx
n
,
onde a: U R e uma fun cao real do ponto p U. O
fato de a(p) ser uma fun cao diferenciavel nao depende do
sistema de coordenadas utilizado. Noutro sistema y : U
R
n
teramos, para todo p U,
p
= b(p)dy
1
dy
n
, com
b(p) = a(p) det(x
i
/y
j
) e b(p) seria ainda diferenciavel se
a(p) o fosse. Diremos entao que uma forma diferencial e
de classe C
se todo ponto p
0
M possui uma vizinhan ca
coordenada na qual admite uma expressao como a acima,
com a(p) diferenciavel.
Mesmo que nao o mencionemos explicitamente, todas
as formas diferenciais que considerarmos serao de classe
C
.
Sejam M
n
, N
n
variedades diferenciaveis de mesma di-
mensao, e f : M N uma aplica cao diferenciavel. A cada
forma diferencial , de grau n, sobre N
n
, f faz correspon-
der uma forma diferencial f
, de mesmo grau, sobre a
variedade M. Em cada ponto p M, (f
)
p
e a forma
n-linear alternada que associa a uma n-upla v
1
, . . . , v
n
de
vetores em M
p
o n umero
(f
)
p
(v
1
, . . . , v
n
) =
f(p)
(f
v
1
, . . . , f
v
n
),
Main
2011/2/25
page 44
i
i
i
i
i
i
i
i
44 [CAP. II: HOMOTOPIA
onde f
v
i
N
f(p)
sao as imagens dos vetores pela aplica cao
linear f
: M
p
N
f(p)
, induzida por f no ponto p. A
aplica cao f
e linear: f
( +
) = f
+ f
,
f
() = f
(), escalar constante. Na realidade, para
cada ponto p M, (f
)
p
nao e senao a forma que an-
teriormente havamos indicado por (f
)
(r)
(
f(p)
). Por con-
seguinte, (vide formula (1) acima) se y : V R
n
e um
sistema de coordenadas em N e x: U R
n
e um sistema
em M com f(U) V , podemos escrever:
= a dy
1
dy
n
(a: V R uma fun cao C
)
e da: f
= a det
_
y
i
x
j
_
dx
1
dx
n
. Mais precisamente,
para cada p U, temos:
(f
)
p
= a(f(p)) det
_
y
i
x
j
(x(p))
_
dx
1
dx
n
.
Observamos, de passagem, que, qualquer que seja a
forma diferencial , (f
)
p
e nula sempre que o ponto p
nao for um ponto regular de f (isto e, f
nao for biunvoca
em p).
Devemos agora denir a integral
_
M
de uma forma
diferencial , de grau n, sobre uma variedade orientada
M
n
, de dimensao n. Consideraremos inicialmente o caso
em que M e completa.
A deni cao de
_
M
sera feita em duas etapas.
1) Suponhamos, em primeiro lugar, que existe um sis-
tema de coordenadas positivo x: U R
n
, em M, tal que
p
= 0 para p M U. Podemos admitir (e o fare-
mos) que x(U) conjunto limitado em R
n
. Temos entao
Main
2011/2/25
page 45
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 45
= a dx
1
dx
n
, a: U R
n
e uma fun cao diferenciavel
que tende para zero na fronteira de U. Por abuso de
nota cao, consideraremos tambem a = a(x
1
, . . . , x
n
) como
uma fun cao diferenciavel, denida no conjunto limitado
x(U) R
n
, a qual se estende continuamente ao compacto
x(U), anulando-se na fronteira. Assim, a(x
1
, . . . , x
n
) e
uma fun cao contnua e limitada no conjunto limitado x(U),
donde integravel a. Poremos entao:
_
M
=
_
x(U)
a(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
,
onde a integral do 2
o
membro e tomada no sentido comum
de integral de uma fun cao numerica de n variaveis.
Resta mostrar que aa deni cao de
_
M
nao depende do
sistema de coordenadas escolhido. Com efeito, seja y : V
R
n
outro sistema positivo com
p
= 0 para todo p MV .
Considerando W = UV , temos tambem
p
= 0 para todo
p M W. Entao, escrevendo = b dy
1
dy
n
, com
b = b(y
1
, . . . , y
n
) uma fun cao numerica denida em y(V ),
temos:
_
x(U)
a dx
1
. . . dx
n
=
_
x(W)
a dx
1
. . . dx
n
e
_
y(V )
b dy
1
. . . dy
n
=
_
y(W)
b dy
1
. . . dy
n
.
Por outro lado, considerando-se o difeomorsmo y x
1
:
x(W) y(W) cujo jacobiano e sempre > 0, o teorema
classico de mudan ca de variavel nas integrais m ultiplas nos
Main
2011/2/25
page 46
i
i
i
i
i
i
i
i
46 [CAP. II: HOMOTOPIA
da
_
y(W)
b(y
1
, . . . , y
n
)dy
1
. . . dy
n
=
_
x(W)
b(y
1
(x
1
. . . x
n
), . . . , y
n
(x
1
. . . x
n
)) det
_
y
i
x
j
_
dx
1
dx
n
.
Mas, pela formula de mudan ca de coordenadas (***), acima
obtida, temos
b(y
1
(x
1
, . . . , x
n
), . . . , y
n
(x
1
, . . . , x
n
)) det
_
y
i
x
j
_
= b(p) det
_
y
i
x
i
_
= a(p) = a(x
1
, . . . , x
n
).
Logo
_
y(M)
b(y
1
, . . . , y
n
)dy
1
. . . dy
n
=
_
x(W)
a(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
,
como queramos demonstrar.
2) Seja, agora. uma forma diferencial arbitraria, de
grau n, na variedade compacta M. Consideramos uma
cobertura nita {U
1
, . . . , U
r
} de M por abertos onde valem
sistemas de coordenadas x
i
: U
i
R
n
, sendo cada x
i
(U
i
)
limitado em R
n
. Seja {
1
, . . . ,
r
} uma parti cao diferencia-
vel da unidade, subordinada a essa cobertura. Tomamos
as r formas diferenciais de grau n: =
1
, . . . ,
r
=
i
.
Main
2011/2/25
page 47
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 47
Cada fun cao
i
: M R sendo nula fora de U
i
, cada forma
i
tambem e nula fora desse mesmo conjunto. Podemos
entao, pela primeira parte, integrar
i
e denimos
_
M
=
i
_
i
.
Resta mostrar que o primeiro membro e bem denido,
independentemente da parti cao da unidade escolhida. Seja
entao {
1
, . . . ,
s
} uma nova parti cao da unidade, subordi-
nada a uma cobertura {V
1
, . . . , V
s
} de M por vizinhan cas
coordenadas do tipo que consideramos. Ponhamos
j
=
j
e
ij
=
i
j
. Notemos que como
i
=
j
=
1, para todo i e todo j, temos
ij
=
j
e
ij
=
i
. Assim vale, sucessivamente: (usando o fato de que
_
=
_
para somas nitas, e integrais no espa co eucli-
diano)
i
_
i
=
i
_
j
ij
=
i,j
_
ij
=
j
_
i
ij
=
j
_
j
,
o que mostra que a deni cao de
_
M
e, de fato, indepen-
dente da parti cao da unidade escolhida.
Para sermos completos, devemos observar tambem que
a deni cao de
_
dada no caso 1), em que e nula fora de
uma vizinhan ca coordenada U, coincide, neste caso, com a
Main
2011/2/25
page 48
i
i
i
i
i
i
i
i
48 [CAP. II: HOMOTOPIA
deni cao geral de
_
dada em 2). Com efeito, designe-
mos momentaneamente a integral denida em 1) por
_
,
e a denida em 2) por
_
. Entao, dada nula fora de
U, tomamos uma parti cao da unidade {
i
} em M. Cada
forma
i
e tambem nula fora de U e da, pela atividade
da integral no espa co euclidiano, temos:
_
=
_
i
=
i
=
_
,
como queramos demonstrar.
O leitor vericara sem diculdade que
_
M
( + ) =
_
M
+
_
M
e, se R,
_
M
=
_
M
.
Abordemos o caso de uma variedade orientada nao com-
pacta M
n
. Como se observa mesmo na reta, onde as formas
diferenciais de grau 1 identicam-se `as fun coes reais, exis-
tirao formas integraveis e formas nao-integraveis. No caso
geral, introduziremos primeiramente uma deni cao.
Diremos que uma forma diferencial de grau n, , em
M, e positiva (ou, mais precisamente, n ao-negativa), e es-
creveremos 0, quando para todo sistema de coordena-
das x: U R
n
, pertencente `a orienta cao de M, tivermos
= a dx
1
dx
n
, com a(p) 0 para todo p U.
Como M esta orientada, a propriedade de ser a(p) 0 nao
depende do sistema de coordenadas escolhido.
Main
2011/2/25
page 49
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 49
Deniremos, em primeiro lugar, a integral
_
M
de uma
forma diferencial 0. Se existir uma vizinhan ca co-
ordenada U, com x(U) limitado, tal que
p
= 0 para
p M U, deniremos
_
M
como em 1) acima. No caso
geral, tomaremos uma parti cao diferenciavel da unidade
{
1
,
2
, . . . ,
i
, . . . }, subordinada a uma cobertura local-
mente nita e enumeravel {U
1
, U
2
, . . . , U
i
, . . . }, e poremos
_
M
=
i=1
_
i
.
Bem entendido, no segundo membro temos uma serie de
n umeros reais 0. Se esta serie for convergente, diremos
que e integravel e a soma da serie denira a integral de
sobre M. Se a serie for divergente, a igualdade acima sig-
nicara tao somente que nao e integravel. Resta mostrar
que o fato de ser integravel e, no caso armativo, o valor
da integral, depende somente de mas nao da parti cao da
unidade considerada. Para tal, usaremos dois resultados
classicos de Analise. O primeiro deles arma que, numa
serie dupla de termos positivos, a convergencia e o valor
da soma nao dependem da ordem de soma cao. O segundo
diz que, para integrais sobre um domnio limitado do R
n
,
se f
k
e uma serie de fun coes contuas 0 cuja soma e
uma fun cao contnua f, tem-se
_
f =
_
f
k
=
_
f
k
.
(Este resultado e valido para integrais de Riemann, mas
sua demonstra cao e muito mais simples quando se usa a
integral de Lebesgue). Considerada, entao, outra parti cao
Main
2011/2/25
page 50
i
i
i
i
i
i
i
i
50 [CAP. II: HOMOTOPIA
da unidade {
1
,
2
, . . . ,
j
, . . . }, temos:
i
_
i
=
i
_
j
i
=
j
_
j
i
_
i
j
=
j
_
i
j
_
j
.
Cada uma dessas igualdades e valida no sentido forte,
isto e, se um dos membros for convergente, o outro tambem
sera e vale a igualdade. Ve-se portanto que
_
M
e bem
denida, para 0.
Dada uma forma contnua qualquer em M, pode-
mos escreve-la como diferen ca entre duas formas 0: =
. Esta decomposi cao e unica se exigirmos que,
em cada ponto p M, no maximo uma das formas
+
e
seja = 0. Entao
+
chama-se a parte positiva e
a
parte negativa de . Se, num dado sistema de coordena-
das x: U R
n
, positivo, tem-se = a dx
1
dx
n
,
entao
+
= a
+
dx
1
dx
n
e
= a
dx
1
dx
n
,
onde, para cada p U, a
+
(p) = max{a(p), 0} e a
(p) =
min{a(p), 0}. Como as fun coes a
+
e a
sao contnuas
(embora em geral nao diferenciaveis), segue-se que as for-
mas
+
e
sao contnuas sempre que o for, mas nao
serao sempre diferenciaveis, mesmo que o seja.
Diremos que e integravel quando as formas positivas
+
e
o forem, e deniremos, neste caso,
_
M
=
_
M
_
m
.
Main
2011/2/25
page 51
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 51
E facil ver que a integral (de formas integraveis) e linear
nessas formas, e que 0
_
0. Se 0 e existir
um ponto p M tal que
p
> 0, entao
_
M
> 0.
Discutiremos agora a existencia, em toda variedade ori-
entada, de uma forma diferencial contnua de grau n,
estritamente positiva ( > 0).
Teorema 4. Uma variedade diferenci avel M e orientavel
se, e somente se, existe sobre M uma forma diferencial
contnua , de grau n, tal que
p
= 0 para todo p M.
Demonstra cao: Suponhamos que exista contnua, com
p
= 0 para todo p M, e mostremos que M e orientavel.
Seja A o conjunto de todos os sistemas de coordenadas
x: U R
n
, admissveis em M, tais que U e conexa e a
expressao de relativamente a x e = a dx
1
dx
n
,
com a(p) > 0 para todo p U. Ve-se sem diculdade
(usando a continuidade de ) que A e um atlas sobre M.
Alem disso, se x: U R
n
e y : V R
n
pertencem a
A, com U V = , para todo ponto p U V tem-
se
p
= a(p)dx
1
dx
n
= b(p)dy
1
dy
n
, com
b(p) = a(p) det(y
1
/x
j
). Como a(p) > 0 e b(p) > 0,
segue-se que det(y
i
/x
j
) > 0 em todo ponto p U V .
Por conseguinte, o atlas A e coerente, e portanto fornece
uma orienta cao para a variedade M. Reciprocamente, su-
ponhamos que M e orientavel, e seja A um atlas coe-
rente sobre M, constituido pelos sistemas de coordena-
das x
: U
R
n
. Podemos admitir que as vizinhan cas
U
formam uma cobertura localmente nita de M. Seja
{
} uma parti cao da unidade subordinada `a cobertura em
questao. Denamos a forma pondo, para cada p M,
Main
2011/2/25
page 52
i
i
i
i
i
i
i
i
52 [CAP. II: HOMOTOPIA
p
=
(p)dx
1
dx
n
.
E claro que, nesta expessao,
comparecem efetivamente apenas as parcelas correspon-
dentes aos ndices com p U
. Alem disso, como o
atlas A e coerente, se reduzirmos a expressao de
p
dada
acima ao mesmo sistema de coordenadas x
, com p I
,
teremos
p
=
_
(p) det
_
x
i
x
j
__
dx
1
dx
n
,
onde a soma entre colchetes e evidentemente > 0. Segue-se
que
p
= 0, para todo p M.
Corolario. Numa variedade orientavel M existe sempre
uma forma diferencial contnua , de grau n, estritamente
positiva ( > 0).
Com efeito, pelo Teorema 4, existe sempre uma forma
contnua
em M, com
p
= 0 para todo p M. Segue-se
da que, em cada componente conexa de M, o sinal de nao
muda. Denamos entao pondo =
nas componentes
conexas de M onde
> 0, e =
nas componentes
de M onde
< 0.
Observa cao: Podemos denir uma orienta cao numa vari-
edade M como uma classe de equivalencia de formas cont-
nuas , sao equivalentes se
p
= (p)
p
, com (p) > 0
para todo p M. O Teorema 4 estabelece uma cor-
respondencia biunvoca entre as orienta coes denidas por
meio de atlas coerentes, e por formas diferenciais.
Um exemplo importante de forma contnua > 0 e dado
pelo elemento de volume numa variedade riemanniana ori-
Main
2011/2/25
page 53
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 53
entada. Seja pois M uma variedade de Riemann orien-
tada. Motivados pelo caso elementar de R
3
, deniremos,
em cada espa co tangente M
p
, o volume (orientado) do pa-
raleleppedo gerado por n vetores v
1
, . . . , v
n
M
p
atraves
da formula
vol(v
1
, . . . , v
n
) =
_
det(v
i
v
j
).
O sinal do volume e tomado + se v
1
, . . . , v
n
, nesta ordem,
denem a orienta cao positiva de M
p
; ele sera quando
esses vetores, na ordem dada, determinam a orienta cao ne-
gativa de M
p
. Se v
1
, . . . , v
n
sao linearmente dependentes,
o volume devera ser nulo e devemos mostrar, correspon-
dentemente, que neste caso o 2
o
membro da formula acima
e igual a zero. Devemos mostrar tambem que o determi-
nante da matriz formada pelos produtos escalares v
i
v
j
e sempre > 0, a m de que sua raiz quadrada seja real.
Para isso, consideramos uma base ortonormal {e
1
, . . . , e
n
}
no espa co M
p
. Para cada um dos vetores v
i
dados, temos
v
i
=
ik
e
k
, onde
ik
= v
i
e
k
em virtude da ortonorma-
lidade da base. Temos
v
i
v
j
=
ik
jk
=
k
(v
i
e
k
)(v
j
e
k
).
Pela regra de multiplica cao de determinantes, vem
det(v
i
v
j
) =
_
det(
ij
)
2
=
_
det(v
i
e
j
)
2
.
Vemos assim que det(v
i
v
j
) 0, como queramos demons-
trar. Vemos alem disso, se a base ortonormal {e
1
, . . . , e
n
}
for positiva em M
p
, teremos tambem
vol(v
1
, . . . , v
n
) = det(v
i
e
j
),
Main
2011/2/25
page 54
i
i
i
i
i
i
i
i
54 [CAP. II: HOMOTOPIA
onde {e
1
, . . . , e
n
} e qualquer base ortonormal > 0 em M
p
.
Somente a igualdade dos sinais nesta ultima formula esta
por justicar. Mas isto e imediato, pois, pela deni cao de
base > 0, os vetores v
1
, . . . , v
n
denem uma orienta cao > 0
se, e somente se det(
ij
) = det(v
i
e
j
) > 0. Finalmente,
det(v
i
v
j
) =
_
det(
ij
)
2
= 0 se, e somente se, os vetores v
i
sao linearmente dependentes. Estao justicados portanto
todos os detalhes relativos `a formula do volume de um pa-
raleleppedo.
Notemos ainda um fato adicional que de modo nenhum
e evidente a partir da formula vol(v
1
, . . . , v
n
) =
_
det(v
i
v
j
). Trata-se do seguinte: o volume do para-
leleppedo gerado pelos vetores v
1
, . . . , v
n
e uma forma n-
linear alternada em M
p
. Isto decorre imediatamente da
expressao do volume como det(v
i
e
j
).
Deniremos entao, na variedade de Riemann orientada
M, uma forma diferencial , de grau n, chamada o ele-
mento do volume de M, pondo, para todo p M,
p
(v
1
, . . . , v
n
) = vol(v
1
, . . . , v
n
) =
_
det(v
i
v
j
);
v
1
, . . . , v
n
M
p
.
Para mostrar que e uma forma contnua (na reali-
dade, diferenciavel, se a metrica de M o for), vejamos sua
expressao em termos de um sistema de coordenadas posi-
tivo x: U R
n
em M. Como de costume, para cada
p U, escrevemos g
ij
(p) =
x
i
(p)
x
j
(p) = produto esca-
lar de vetores da base de M
p
associada a x. Escrevamos
g(p) = det(g
ij
(p)). Entao
p
_
x
1
, . . . ,
x
n
_
=
_
det(g
ij
(p)) =
_
g(p),
Main
2011/2/25
page 55
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 55
onde o sinal + foi escolhido porque o sistema x e positivo.
Segue-se que
=
g dx
1
dx
n
.
Em particular, vemos que e contnua, > 0, e C
se
a metrica de M e C
. Como toda variedade diferenciavel
admite uma metrica riemanniana, o elemento de volume
fornece uma nova demonstra cao de que em toda variedade
orientavel existe uma forma contnua > 0.
O n umero c =
_
M
chama-se o volume da variedade
de Riemann M. Quando M e compacta, seu volume c e
sempre nito. No caso de M nao ser compacta seu volume
pode ser innito.
Quando M = M
1
e uma curva ou M = M
2
e uma
superfcie regular do espa co euclidiano R
3
, (com a metrica
riemanniana induzida) mostra-se por metodos elementares
de Calculo que o volume como foi acima denido coincide
com o comprimento de arco e a area de uma superfcie
respectivamente.
Lema 6. Em toda variedade diferenci avel orientada M
n
,
existe uma forma diferencial de grau n, de classe C
, es-
tritamente positiva e integravel.
Demonstra cao: A existencia de uma tal forma integravel
so constitui problema nas variedades nao compactas. Con-
sideramos uma cobertura enumeravel localmente nita
{U
}, = 1, 2, . . . formada por domnios de sistemas de
coordenadas positivos x
: U
R
n
em M, tais que cada
x
(U
) e um cubo de aresta unitaria em R
n
. Em seguida,
Main
2011/2/25
page 56
i
i
i
i
i
i
i
i
56 [CAP. II: HOMOTOPIA
tomemos uma parti cao da unidade {
} subordinada `a co-
bertura dada. Finalmente, para cada p M, ponhamos
p
=
=1
1
(p) dx
1
dx
n
.
Tem-se > 0. Quanto `a integrabilidade de , vale:
_
M
=
=1
1
2
_
x
(U
(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
2
< +,
pois cada fun cao
satisfaz 0
1 e o volume de
cada cubo x
(U
) em R
n
e igual a 1.
O Lema 6 implica o seguinte teorema:
Teorema 5. Toda variedade diferenci avel orientada M
pode ser dotada de uma metrica riemanniana relativamente
a qual M possui volume nito.
Demonstra cao: Basta mostrar, em virtude do lema, que
toda forma > 0 em M e o elemento de volume de al-
guma metrica riemanniana em M. Ora, dada > 0, con-
sideremos uma metrica arbitraria em M, cujo elemento de
volume associado indicaremos com . Indiquemos tambem
com u v o produto escalar de dois vetores tangentes se-
gundo essa metrica. Como as formas e sao ambas
> 0, existe, para cada p M, um n umero (p) > 0 tal
que
p
= (p)
p
. A fun cao real : M R e dife-
renciavel, desde que e o sejam. Deniremos agora
uma nova metrica em M atraves de um produto interno
que indicaremos por u v, o qual e assim introduzido: se
Main
2011/2/25
page 57
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 57
u, v M
p
, entao uv = (p)
2/n
2
uv. Ve-se facilmente que
o elemento de volume correspondente a esta nova metrica
e precisamente a forma inicialmente dada.
O teorema seguinte, que e o principal resultado deste
paragrafo, fornece uma expressao global para o grau de
uma aplica cao diferenciavel. Enuncia-lo-emos em termos
de volume numa variedade de Riemann, apenas com o ob-
jetivo de dar uma interpreta cao geometrica intuitiva ao seu
conte udo. Entretanto, o leitor nao tera diculdade de ob-
servar que o teorema e ainda valido quando se toma a forma
que nele consta como qualquer forma integravel > 0 em
N (nao necessariamente igual ao elemento de volume).
Teorema 6. Seja N
n
uma variedade de Riemann conexa,
orientada, de volume nito c =
_
M
, e f : M
n
N
n
uma
aplicacao diferenci avel pr opria. Entao f e uma forma
integravel em M e, alem disso, tem-se
1
c
_
M
f = gr(f).
Observa cao: Em cada ponto p M, o valor (f)
p
(v
1
,. . .,
v
n
) da forma f na n-upla de vetores tangentes v
1
, . . . , v
n
M
p
e igual ao volume (orientado) do paraleleppedo ge-
rado pelos vetores f
(v
1
), . . . , f
(v
n
) em N
f(p)
. Intuitiva-
mente, isto signica que f e o elemento innitesimal do
volume da imagem de M por f. Assim, a integral
_
M
f
tem o signicado de volume orientado da imagem de M
por f. (Isto e, o volume das partes cobertas positivamente
por f e contado com o sinal + e as partes cobertas negati-
vamente sao contadas com o sinal ). A formula exprime,
Main
2011/2/25
page 58
i
i
i
i
i
i
i
i
58 [CAP. II: HOMOTOPIA
portanto, que o grau de f e a rela cao entre o volume ori-
entado coberto por f(M) em N e o volume de N. Note-se
que nao e evidente a priori que o primeiro membro dessa
formula seja um n umero inteiro.
Demonstra cao:
1
o
caso. Suponhamos que a aplica cao f seja regu-
lar, isto e, que em todo ponto p M a aplica cao linear
f
: M
p
N
f(p)
seja um isomorsmo. Entao, em cada com-
ponente conexa de M, os pontos tem todos o mesmo sinal.
Ora, se M = M
j
e a decomposi cao de M como reuniao
de suas componentes conexas, e f
j
= f|M
j
, tem-se evi-
dentemente gr(f) =
j
gr(f
j
) e
_
M
f =
j
_
M
j
f
j
.
Portanto, basta demonstrar este 1
o
caso supondo que todos
os pontos de M tem o mesmo sinal. Para xar as ideias,
admitiremos que sao todos positivos. Sejam x
: U
R
n
,
= 1, 2, . . . , sistemas de coordenadas positivos em N, tais
que cada x
(U
) e limitado em R
n
e os abertos U
for-
mam uma cobertura localmente nita de N. Em virtude
do Lema 4, 3, (vide Escolio), podemos tomar os U
de
modo que f
1
(U
) = U
i
U
r
, reuniao disjunta,
onde f aplica cada U
i
difeomorcamente sobre U
. Seja
{
} uma parti cao diferenciavel da unidade subordinada `a
cobertura {U
}. Os abertos f
1
(U
) constituem uma co-
bertura localmente nita de M e as fun coes
f
deninem uma parti cao da unidade subordinada a esta co-
bertura. Diante das hipoteses feitas, a forma f e posi-
tiva, donde
_
M
f =
=1
_
M
(
f ), (1)
Main
2011/2/25
page 59
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: GRAU COMO RAZ
AO ENTRE VOLUMES 59
sendo f integravel se, e somente se, a serie do segundo
membro e convergente. Como facilmente se verica,
f = f (
). Alem disso, para cada ,
_
M
(
f ) =
_
M
f (
) =
r
i=1
_
U
i
f (
) (2)
pois
e nula fora de f
1
(U
) e este conjunto e a reuniao
disjunta dos U
i
. Por outro lado, para cada i, f e um
difeomorsmo de U
i
sobre U
. Segue-se entao do teorema
classico de mudan ca de variaveis em integrais m ultiplas que
_
U
i
f (
) =
_
U
,
pois estamos admitindo que o jacobiano de f e sempre > 0.
Como r = gr(f), temos
r
i=1
_
U
i
f (
) = gr(f)
_
U
.
Substituindo este valor sucessivamente em (2) e em (1),
obtemos:
_
M
f = gr(f)
_
U
= gr(f)
_
N
,
o que mostra ser f integravel e fornece a formula pro-
curada.
2
o
caso. A aplica cao propria f : M N e qualquer.
Reduziremos este caso ao anterior, da seguinte maneira.
Seja S o conjunto dos valores singulares de f em N, isto
Main
2011/2/25
page 60
i
i
i
i
i
i
i
i
60 [CAP. II: HOMOTOPIA
e, S e formado pelos pontos q N tais que, em algum
ponto p f
1
(q), f
nao e um isomorsmo. Entao S
e um conjunto fechado em N e, pelo teorema de Sard,
S tem medida nula. Por conseguinte,
_
N
=
_
NS
.
Consideremos agora f
1
(S) M. Temos f
1
(S) = A
B onde A e o conjunto dos pontos de M onde f
nao e
um isomorsmo (pontos singulares de f em M) e B e o
conjunto dos pontos regulares pertencentes a f
1
(S).
E
claro que f
1
(S) e fechado em M. Alem disso, os conjuntos
A e B sao tais que f se anula em todos os pontos de A, e
B ter medida nula. A primeira arma cao e obvia. Quanto
`a segunda, basta observar que todo ponto p B possui
uma vizinhan ca U que e aplicada difeomorcamente por f
sobre uma vizinhan ca V do ponto q = f(p), sendo claro
que f(U B) V S. Com V S tem medida nula em N,
segue-se que U B tem medida nula. Assim, todo ponto
p B possui uma vizinhan ca U em M tal que U B tem
medida nula e, por conseguinte, o conjunto M tem medida
nula. Entao
_
M
f =
_
Mf
1
(S)
f .
Agora, observemos que a restri cao de f dene uma aplica-
cao propria g : M f
1
(S) N S, a qual e regular e,
em cada ponto q N S, gr
q
(g) = gr
q
(f). Em virtude do
primeiro caso, podemos entao escrever:
_
M
f =
_
Mf
1
(S)
f =
_
Mf
1
(S)
g
= gr(g)
_
NS
= gr(f)
_
N
,
Main
2011/2/25
page 61
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 61
o que conclui a demonstra cao.
5 Classicacao homotopica de apli-
ca coes f : M
n
S
n
. (M
n
ori-
entavel)
Neste paragrafo, consideraremos uma variedade diferencia-
vel compacta orientada e conexa M
n
, e mostraremos que o
conjunto [M
n
, S
n
] das classes de homotopia das aplica coes
contnuas f : M
n
S
n
esta em correspondencia biunvoca
com o conjunto dos n umeros inteiros, sendo essa corres-
pondencia estabelecida por intermedio do conceito de grau.
No teorema abaixo, M nao precisa ser conexa. Na rea-
lidade este teorema e valido mais geralmente, (para aplica-
coes proprias e homotopias proprias) sem a hipotese res-
tritiva de compacidade, que usaremos. Entretanto, o caso
compacto e de demonstra cao mais simples e, alem disso,
o teorema completo de classica cao so e valido quando M
e compacta. Uma demonstra cao do Teorema 7 deduz-se,
tambem, do Teorema 5 do Captulo III (vide Corolario 1).
Teorema 7. Sejam M
n
, N
n
variedades compactas orien-
tadas, sendo N conexa. Se duas aplicacoes diferenci aveis
f, g : M N s ao homot opicas, ent ao gr(f) = gr(g).
Demonstra cao: Introduzamos uma metrica riemanniana
em N, cujo elemento de volume indicaremos por . Dada
a homotopia F : M I N entre f e g (a qual, pelos
resultados do 2, podemos supor diferenciavel), chamemos
de f
t
: M N a aplica cao denida por p F(p, t), para
Main
2011/2/25
page 62
i
i
i
i
i
i
i
i
62 [CAP. II: HOMOTOPIA
cada t I xo. Se c =
_
M
e o volume de N, temos
gr(f
t
) =
1
c
_
M
f
t
. Como gr(f
t
) e um inteiro, para todo
t I, para mostrarmos que gr(f) = gr(g), ou seja, que
gr(f
0
) = gr(f
1
), basta provarmos que a fun cao real :
_
M
f
t
e contnua em I. Vamos entao mostrar que e
contnua. Primeiramente notemos que, se
f
t
= a(p, t)dx
1
dx
n
e a expressao da forma f
t
em rela cao a um sistema de
coordenadas positivo x: U R
n
, de M, entao a fun cao
z : U I R e contnua. Com efeito, dado um par
(p
0
, t
0
) U I, tomemos um sistema de coordenadas posi-
tivo y : W R
n
em M, de modo que F(p
0
, t
0
) W, e
vizinhan cas v p
o
em M, H t
0
em I, com V U
e F(V H) W. Se a forma admite a expressao
= b(q)dy
1
dy
n
relativamente ao sistema y, a fun cao
b: W R e contnua. Ora, sabemos que
a(p, t) = det
_
y
i
(x(p), t)
x
j
_
b(f(p)), p V, t H,
onde (x
1
, . . . , x
n
) (y
1
(x, t), . . . , y
n
(x, t)) e a expressao
da aplica cao f
t
dada pelos sistemas de coordenadas x e
y.
E claro que cada y
i
(x, t) e uma fun cao diferenciavel
das coordenadas de x e de t. Logo o determinante acima
tambem o e. Assim, a(p, t) e contnua na vizinhan ca V H
do ponto arbitrario (p
0
, t
0
) U I.
Em seguida, tomemos uma cobertura nita {U
1
, . . . , U
r
}
de M por domnios de sistemas de coordenadas positivos
Main
2011/2/25
page 63
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 63
x
: U
R
n
, tais que cada U
e compacto e cada x
(U
)
e limitado em R
n
. Em rela cao a cada um desses sistemas,
temos
f
t
= a
(p, t) dx
1
dx
n
, (1)
com a
: U
I R contnua. Podemos obter uma nova
cobertura {V
1
, . . . , V
r
} tal que V
(sendo V
, natu-
ralmente, compacto). A forma f
t
admite ainda a ex-
pressao (1), porem agora com a vantagem de que a
: V
I R e uniformemente contnua. Como percorre um
conjunto nito, dado > 0 existe > 0 tal que |t t
| <
implica a
(p, t)a
(p, t
)| < /Ar, para todo = 1, . . . , r,
e todo p V
, onde A = max{vol|x
(V
)|; = 1, . . . , r}.
Seja {
1
, . . . ,
r
} uma parti cao da unidade subordinada `a
cobertura {V
}. Se |t t
| < , entao
_
f
t
_
f
t
=
=
(p)((a
(p, t) a
(p, t
))dx
1
dx
n
(p)|a
(p, t) a
(p, t
)|dx
1
dx
n
=1
A r
vol(x
(V
)) ,
o que demonstra a continuidade de e portanto o teorema
tambem.
Aplica coes do Teorema 7:
1. Denicao de grau de uma aplicacao contnua. Seja,
M
n
, N
n
variedades compactas, orientadas, sendo N co-
nexa. Dada uma aplica cao contnua f : M N, o grau de
Main
2011/2/25
page 64
i
i
i
i
i
i
i
i
64 [CAP. II: HOMOTOPIA
f e denido do seguinte modo: como sabemos, existe uma
aplica cao diferenciavel g : M N, homotopica a f (Teo-
rema 1, 2). Poremos entao gr(f) = gr(g), por deni cao. O
Teorema 7 mostra que gr(f), assim denido, nao depende
da aplica cao diferenciavel g escolhida. Com efeito, feita
outra escolha g
f, teremos, por transitividade, g
g,
donde gr(g
) = gr(g). Notemos que, se f nao for sobre N,
podemos tomar g sucientemente proxima de f para que
g tambem nao seja sobre N, e portanto gr(f) = gr(g) = 0.
2. Se uma aplicacao contnua f : S
n
S
n
n ao possui
pontos xos, ent ao gr(f) = (1)
n+1
.
Com efeito, como f(x) = x para todo x S
n
, o seg-
mento de reta que liga x a f(x) nao passa pela origem de
R
n+1
e portanto a aplica cao F : S
n
I S
n
, denida por
F(x, t) =
(1 t)f(x) + tx
|(1 t)f(x) tx|
,
e contnua e e uma homotopia entre f e a aplica cao antpo-
da x x. Como ja vimos, esta possui grau (1)
n+1
,
donde gr(f) = (1)
n+1
. De modo inteiramente analogo,
mostra-se que se g : S
n
S
n
e tal que, para todo x S
n
,
o ponto g(x) nao e o antpoda de x, entao g e homotopica
`a identidade, donde gr(g) = 1.
3. Teorema fundamental da
Algebra. Considere-
mos a esfera S
2
como a compactica cao de Alexandro
do plano R
2
: S
2
= R
2
{} mediante a proje cao este-
reograca que identica R
2
com S
2
{}. Interpretemos
R
2
com o conjunto dos n umeros complexos, e considere-
mos um polinomio f : R
2
R
2
, f(z) = a
0
z
n
+ a
1
z
n1
+
+ a
n1
z + a
n
, de grau n > 0 (a
0
= 0). Como f e uma
Main
2011/2/25
page 65
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 65
aplica cao propria
_
lim
z
f(z) = , como se sabe
_
, a ex-
tensao
f : S
2
S
2
, denida por
f() = ,
f(z) = f(z),
se z R
2
, e contnua. (Na realidade,
f e diferenciavel,
como se mostra facilmente). Se provarmos que o grau de
f e igual a n, concluiremos que
f e sobre S
2
, da, que
f : R
2
R
2
e sobre R
2
, donde existira algum z R
2
tal
que f(z) = 0. Assim, o teorema fundamental da
Algebra
e uma conseq uencia do fato de que gr(
f) = n. Para cal-
cular o grau de
f, observemos primeiramente que o fato
de todo n umero complexo nao nulo ter n raizes n-esimas
implica imediatamente que gr( g) = n, onde g : S
2
S
2
e a
aplica cao denida por g() = , g(z) = a
0
z
n
, se z R
2
.
Por outro lado, tem-se
f =
f, como demonstraremos agora.
Com efeito, seja F : S
2
I S
2
a aplica cao denida por
F(, t) = , seja qual for t I e, se z R
2
,
F(z, t) = a
0
z
n
+ (1 t)
_
a
1
z
n1
+ + a
n1
z +a
n
E claro que F(x, 0) =
f(x) e F(x, 1) = g(x), para todo x
S
2
, de modo que resta apenas mostrar que F e contnua.
Tal continuidade e obvia em R
2
I. Assim sendo, basta
provar que F(z, t) quando z e t t
0
I. Na
realidade, mostraremos mais: dado A > 0, existe B > 0
tal que |F(z, t)| > A sempre que |z| > B, seja qual for
t I. Dado A, escrevamos C = |a
1
| + +|a
n
| e tomemos
B = max{(A + C)/|a
0
|, 1}. Entao, |z| > B implica
|F(z, t)| |a
0
|B
n
_
|a
1
|B
n1
+ +|a
n1
|B +|a
n
|
_
|a
0
|B
n
CB
n1
|a
0
|B C A,
o que conclui a demonstra cao.
Main
2011/2/25
page 66
i
i
i
i
i
i
i
i
66 [CAP. II: HOMOTOPIA
4. Sejam N
n
uma variedade compacta, conexa, orien-
tada e B
n+1
= {x R
n+1
; |x| 1} a bola unit aria. Se
uma aplicacao contnua f : S
n
N
n
admite uma extensao
contnua f : B
n+1
N
n
, ent ao gr(f) = 0.
Com efeito, pela Proposi cao 1, 1, f e homotopica a
uma aplica cao constante S
n
c, c N
n
, donde o grau de
f e igual ao de uma aplica cao constante, isto e, zero.
Teorema de Brouwer. Toda aplicacao contnua f : B
n+1
B
n+1
possui um ponto xo.
Com efeito, suponhamos, por absurdo que f(x) = x
para todo x B
n+1
. Entao, podemos denir uma aplica cao
contnua g : B
n+1
S
n
pondo, para todo x B
n+1
g(x) =
f(x)x
|f(x)x|
Pelo resultado anterior (4), a restri cao g = g|S
n
:
S
n
S
n
tem grau zero. Por outro lado a aplica cao F : S
n
I S
n
, dada por F(x, t) =
(1t)f(x)x
|(1t)f(x)x|
e uma homotopia
entre g e a aplica cao antpoda x x, donde o grau de g
e (1)
n+1
. Esta contradi cao demonstrara o teorema, desde
que mostremos que F esta bem denida, ou seja, que o de-
nominador |(1t)f(x)x| nunca se anula. Ora, para todo
x S
n
, f(x) S
n+1
; donde |f(x)| |x|. Se tivessemos
(1 t)f(x) = x, teria de ser t = 0, pois f nao possui ponto
xo. Da seguir-se-ia que |x| < |f(x)|, o que e absurdo.
5. A suspens ao de uma aplicacao f : S
n
S
n
. A es-
fera S
n
pode ser pensada como o equador da esfera S
n+1
,
isto e, S
n
= {x = (x
1
, . . . , x
n+1
, x
n+2
) S
n+1
; x
n+2
= 0}.
Chamemos de J = [1, +1] o intervalo fechado cujos ex-
tremos sao 1 e +1. A esfera S
n+1
pode ser considerada,
de modo natural, como o espa co quociente do produto
S
n
J pela rela cao de equivalencia que consiste em iden-
ticar todos os pontos (x, 1), como x S
n
, ao polo sul
Main
2011/2/25
page 67
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 67
q = (0, . . . , 0, 1) S
n+1
e todos os pontos da forma (x, 1)
em S
n
J ao polo norte p = (0, . . . , 0, 1) de S
n+1
. Com
efeito, a aplica cao : S
n
J S
n+1
, denida por
(x, t) =
_
1 t
2
x
1
, . . . ,
1 t
2
x
n+1
, t
_
,
x = (x
1
, . . . , x
n+1
) S
n
,
S
n
J
S
n
S
n+1
q
leva S
n
(1, +1) difeomorcamente sobre S
n+1
{p, q},
transformando cada conjunto S
n
t difeomorcamente so-
bre o paralelo de S
n+1
cuja ultima coordenada e constante,
igual a t. Alem disso, (x, 1) = q e (x, 1) = p, para
todo x S
n
. Em virtude desse fato, podemos indicar os
pontos de S
n+1
com a nota cao (x, t), onde x S
n
e t J,
entendendo-se que, para todo x S
n
, o smbolo (x, 1)
indica sempre o polo sul q S
n+1
e (x, 1) indica sempre
o polo norte p. Analogamente, para denir uma aplica cao
contnua f : S
n+1
X, (onde X e qualquer espa co to-
pologico) basta denir uma fun cao contnua f(x, t) de duas
variaveis x S
n
e t J, de tal modo que f(x, 1) e f(x, 1)
sejam constantes em x.
As considera coes acima encerram o fato de que a es-
fera S
n+1
e a suspens ao da esfera S
n
. A cada aplica cao
Main
2011/2/25
page 68
i
i
i
i
i
i
i
i
68 [CAP. II: HOMOTOPIA
contnua f : S
n
S
n
corresponde, de modo bem denido,
uma aplica cao Sf : S
n+1
S
n+1
, chamada a suspensao
de f, e caracterizada pela equa cao Sf(x, t) = (f(x), t). A
opera cao de suspensao f Sf goza de varias propriedades
naturais. Por exemplo S(g f) = Sg Sf e, se f g entao
Sf Sg, como o leitor facilmente vericara. Entretanto,
f pode ser diferenciavel, sem que Sf o seja. Fora dos po-
los p e q, Sf e diferenciavel com f pois coincide, atraves
do difeomorsmo : S
n
(1, +1) S
n+1
{p, q}, com
f id, onde id: J J e a aplica cao identidade. Mas,
em geral, Sf nao e diferenciavel nos polos. (Basta con-
siderar a aplica cao F : S
1
S
1
denida por f(z) = z
2
.
Interpretando novamente S
2
= R
2
{} como a esfera de
Riemann, os polos de S
2
sao 0 e . Para z = 0, , ve-se
que Sf(z) = z
2
/|z|, enquanto Sf(0) = 0. Esta aplica cao
Sf : R
2
R
2
nao e diferenciavel no ponto 0, pois coin-
cide, ao longo do eixo dos x, com a aplica cao x |x|).
Armamos que, dada f : S
n
S
n
, gr(f) = gr(Sf). Como
f g Sf Sg, podemos supor f diferenciavel. Em-
bora Sf nao seja tambem diferenciavel, introduziremos
uma nova aplica cao diferenciavel S
f : S
n+1
S
n+1
, que
poderemos chamar a suspensao diferenciavel de f, denida
do seguinte modo. Consideramos uma fun cao : J J
tal que:
(a) (t) = 1 para t 1/2;
(b) (t) = 1 para t 2;
(c) (0) = 0 e
(0) > 0.
(Por exemplo, podemos tomar (t) = 2
_
t +
1
2
_
1, onde
e a fun cao considerada no Lema 1, 2). Em seguida, de-
nimos S
f : S
n+1
S
n+1
pondo S
f(x, t) = (f(x), (t)).
E
claro que S
f e diferenciavel fora dos polos. Alem disso,
Main
2011/2/25
page 69
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 69
S
f e constante numa vizinhan ca de cada polo, donde e
tambem diferenciavel nos polos. A aplica cao diferenci avel
S
f : S
n+1
S
n+1
tem o mesmo grau que f : S
n
S
n
.
Com efeito, no equador S
n
, S
f coincide com f, pois (0) =
0. Seja y S
n
um valor regular de f. Entao f
1
(y) =
{y
1
, . . . , y
r
} = (S
f)
1
(y), e cada y
i
e tambem um ponto
regular da aplica cao S
f pois, fora dos polos, S
f = f
: S
n
(1, t) S
n
(1, +1), donde, no ponto y
i
,
(S
f)
= f
, sendo
calculada em t = 0. Mas
temos
(0) > 0. Logo f
= (S
f)
e um isomor-
smo positivo ou negativo, conforme f
o seja. Para con-
cluir a demonstra cao de que gr(f) = gr(Sf), resta apenas
mostrar que S
f = Sf. Isto porem e simples. Deni-
mos a homotopia F : S
n+1
I S
n+1
pondo F(x, t; s) =
(f(x), st + (1 s)(t)), x S
n+1
, t J, s I. Ve-se que
F e uma homotopia entre S
f e Sf.
Pelo Exemplo 2, 2, dado qualquer inteiro k Z, existe
uma aplica cao f : S
1
S
1
com gr(f) = k. Pelo resultado
acima, a suspensao Sf : S
2
S
2
tem tambem grau k.
Por suspensoes repetidas, concluimos que, para cada n >
0 e cada k Z, existe uma aplica cao g : S
n
S
n
com
gr(g) = k.
Teorema 8. Seja M
n
uma variedade compacta, conexa e
orientada, e seja S
n
uma esfera de mesma dimens ao que
M. Se duas aplicacoes f, g : M
n
S
n
tem o mesmo grau,
ent ao f e g s ao homot opicas.
Na demonstra cao do Teorema 8, desempenha um pa-
pel importante um tipo de aplica cao de S
n
em S
n
, cuja
existencia estabeleceremos no lema abaixo.
Main
2011/2/25
page 70
i
i
i
i
i
i
i
i
70 [CAP. II: HOMOTOPIA
Lema 7. Seja S
n
a esfera unit aria n-dimensional e p S
n
um ponto qualquer. Dada uma vizinhanca v p em S
n
,
existe uma aplicacao diferenci avel
V
: S
n
S
n
com as
seguintes propriedades:
(a)
V
(g) = z numa certa vizinhanca de p, contido em V .
(b)
V
(y)=q (= ponto antpoda de p) para todo y S
n
V ;
(c)
V
identidade.
Demonstra cao: Mediante uma mudan ca de eixos emR
n+1
,
podemos supor que p e o polo norte, donde seu antpoda q e
o polo sul de S
n
. Representemos os pontos de S
n
por pares
(x, t), x S
n1
, t J = [1, +1]. Como V e uma vizi-
nhan ca de p = (x, 1), existe > 0 tal que (x, t) V para
todo t > 1 2 em J. Seja W a vizinhan ca de p formada
pelos pontos (x, t) com 1 < t 1. A aplica cao
V
que
construiremos reduzir-se-a a identidade em W. Considere-
mos uma aplica cao diferenciavel : J J tal que (t) =
1 para t 12 e (t) = t para 1 t 1. (Para ob-
ter , basta tomar uma aplica cao diferenciavel : R R,
crescente, com (0) = 0 para t 1 2, (t) = 1 para
t 1 e 0 (t) 1 sempre. A constru cao de e ime-
diata. Em seguida, tome-se (t) = (1 + t)(t) 1). De-
namos entao
V
: S
n
S
n
pela regra:
V
(x, t) = (x, (t)).
As propriedades (a) e (b) sao evidentes. Para ter uma ho-
motopia F : S
n
I S
n
entre
V
e a identidade, basta
por: F(x, t; s) = (x, st + (1 s)(t)), s S
n1
, t J,
s I.
Se os pontos a, b S
n
nao sao antpodas, entao (1
t)a + tb = 0 para todo t I. Neste caso, chamamos de
segmento geodesico de extremos a e b ao conjunto
ab
de
todos os pontos
ab
(t) =
(1t)a+tb
|(1t)a+tb|
S
n
, t I.
Main
2011/2/25
page 71
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 71
E claro que, para a e b nao antpodas, o ponto
ab
(t)
depende diferenciavelmente de a, b S
n
e t I.
Demonstraremos, em seguida, o Teorema 8 num caso
especial:
1
o
caso: Se existe p S
n
, um valor regular de f e g, tal
que f
1
(p) = g
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
} e f
= g
em cada p
i
,
ent ao f g.
Demonstra cao: Em cada p
i
, por ser f
= g
, os difeo-
morsmos locais f e g coincidem a menos de um innitesi-
mo de 2
a
ordem e da segue-se, sem diculdade que existe
uma vizinhan ca V
i
p
i
tal que, para todo x V
i
p
i
,
os pontos f(x) e g(x) nao sao antpodas e o ponto p
S
n
nao pertence ao segmento geodesico
f(x)g(x)
. Sejam
V = V
1
V
2
e V = V V = fronteira de V . A
reuniao de todos os segmentos geodesicos
f(x)g(x)
quando
x V e um subconjunto fechado de S
n
(imagem do com-
pacto V I pela aplica cao contnua (x, t)
f(x)g(x)
(t)
que nao contem p. Logo p possui uma vizinhan ca W tal
que
f(x)g(x)
S
n
W para todo x V . Consideremos
a aplica cao
W
: S
n
S
n
, introduzida no Lema 7. Como
W
= identidade, temos f =
W
f e g =
W
g. Denamos
uma aplica cao F : M I S
n
pondo
F(x, t) =
_
W
(
f(x)g(x)
(t)), se x V
q(= ponto antpoda de p), se x M V.
Existe d uvida sobre a continuidade de F apenas nos pontos
(x, t), onde x V . Num desses pontos, F(x, t) = q. Por
outro lado, se x
n
x e t
n
t (basta considerar o caso
em que todos os x
n
estao em V ), temos lim F(x
n
, t
n
) =
lim
W
(
f(x
n
)g(x
n
)
(t
n
)) =
W
(
f(x)g(x)
(t)) = q, pois, sendo
Main
2011/2/25
page 72
i
i
i
i
i
i
i
i
72 [CAP. II: HOMOTOPIA
x V , o segmento geodesico
f(x)g(x)
esta contido em
S
n
W. Assim F e contnua. Ora, para todo x M,
F(x, 0) =
W
(f(x)) e F(x, 1) =
W
(g(x)). Logo F e uma
homotopia entre
w
f e
W
g. Temos entao a cadeia de
homotopias f
W
f
W
g g, o que demonstra 1
o
caso do Teorema 8.
Em seguida, passemos a um caso mais geral do
que o 1
o
.
2
o
caso. Existe p S
n
, valor regular de f e g, tal que
f
1
(p) = g
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
} e, para cada i, o sinal de p
i
em rela cao a f e o mesmo que em rela cao a g, entao f g.
Demonstra cao: Sejam U
1
, . . . , U
r
vizinhan cas disjuntas
dos pontos p
1
, . . . , p
r
respectivamente, onde sao validos
os sistemas de coordenadas positivos x
i
: U
i
R
n
, com
x
i
(p
i
) = 0 e x
i
(U
i
) = R
n
. Seja y : S
n
q R
n
um sistema
de coordenadas positivo com y(p) = 0 e y(S
n
q) = R
n
,
q = antpoda de p. (Por exemplo: y = proje cao este-
reograca). Para cada i, consideremos a transforma cao
linear A
i
: R
n
R
n
cuja matriz na base canonica de R
n
e
a matriz jacobiana de y f x
1
i
no ponto 0 = x
i
(p
i
),
ou seja, a matriz jacobiana de f no ponto p
i
relativa-
mente aos sistemas x, y. Analogamente denimos as trans-
forma coes lineares B
i
, usando g em vez de f. Para cada
i, det(A
i
) e det(B
i
) tem o mesmo sinal. Seja W p o he-
misferio norte de S
n
. Denimos as aplica coes diferenciaveis
h, k: M
n
S
n
pondo
h|U
i
=
W
y
1
A
i
x
i
, h|(M U
i
) = constante = q.
k|U
i
=
W
y
1
B
i
x
i
, k|(M U
i
) = constante = q.
Temos h
= f
e k
= g
em cada ponto p
i
. Logo, pelo 1
o
caso, f h e g k. Como, para cada i, as transforma coes
Main
2011/2/25
page 73
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 73
lineares A
i
, B
i
: R
n
R
n
pertencem `a mesma componente
conexa de GL(n, R), existe uma curva contnua A
i
(t), 0
t 1, formada por transforma coes lineares invertveis A
i
(t),
com A
i
(0) = A
i
, A
i
(1) = B
i
. Denamos uma homotopia
F : M I S
n
pondo F(a, t) = (
W
y
1
A
i
(t) x
i
)(a)
se a U
i
e F(a, t) = q, se a M U
i
.
E imediato que F : h k, donde concluimos que f g.
3
o
caso. Se existe um ponto p S
n
, valor regular de f e
g, com f
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
} e g
1
(p) = {q
1
, . . . , q
r
} onde,
para cada i = 1, . . . , r, o sinal de p
i
em relacao a f e igual
ao de g
i
em relacao a g, ent ao f g.
Demonstra cao: Seja x: U R
n
um sistema de coorde-
nadas positivo em M, como p
1
, q
1
U e g
1
(p)U = {q
1
}.
Podemos admitir que x(U) = B(3) = bola aberta de raio 3
em R
n
, e que x(p
1
) = (1, 0. . . . , 0), x(q
1
) = (1, 0, . . . , 0).
Consideremos, entao, uma homotopia H: B(3)I B(3),
com as seguintes propriedades:
(i) H(x, 0) = x, para todo x B(3);
(ii) H(x, t) = x, para todo t I e todo x B(3) = B(2);
(iii) Para cada t I, a aplica cao x H(x, t) e um dife-
omorsmo de B(3);
(iv) H(x(p
1
), 1) = x(q
1
).
Para obter H, pode-se proceder do seguinte modo. Tem-
se uma fun cao diferenciavel : R R tal que 0 (t)
1, (t) = 0 para |t| 2, (t) = 1 para |t| 1. Em se-
guida, considera-se uma curva parametrizada diferenciavel
Main
2011/2/25
page 74
i
i
i
i
i
i
i
i
74 [CAP. II: HOMOTOPIA
t
t
, 0 t 1, formada por aplica coes lineares ortogo-
nais
t
: R
n
R
n
, tais que
0
= identidade e
1
(x(p
1
)) =
x(q
1
). Por exemplo, podemos fazer
t
(x
1
, x
2
, x
3
, . . . , x
n
)
= (x
1
cos t x
2
sen t, x
1
sen t, x
1
sen t
+ x
2
cos t, x
3
, . . . , x
n
).
A homotopia H dene-se entao por H(y, t) = (y, t (|y|))
onde, por simplicidade, estamos escrevendo (z, s) em vez
de
s
(z). As propriedades estipuladas para H sao facil-
mente constatadas. Obtida H, denimos uma homotopia
F : M I S
n
, pondo F(a, t) = g(x
1
(H(x(a), t))) se
a U e F(a, t) = g(a) se a M U. F e uma homotopia
entre g e uma aplica cao h: M S
n
que admite p como va-
lor regular e h
1
(p) = {p
1
, q
2
, . . . , q
r
}. Alem disso, o sinal
de p
1
relativamente a h e o mesmo sinal de q
1
relativamente
a g, como resulta do fato de que a homotopia H dene, em
cada instante t, um difeomorsmo. Repetindo o argumento
r vezes, obtemos uma aplica cao diferenciavel k: M
n
S
n
,
k g, com k
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
}, satisfazendo tambem as
demais exigencias do 2
o
caso, donde k f. Segue-se que
f g.
Finalmente, a demonstra cao do Teorema 8 se comple-
tara com a demonstra cao do lema abaixo, juntamente com
a observa cao de que, pelo Teorema de Sard, dadas duas
aplica coes diferenciaveis f, g : M
n
S
n
, existe sempre um
ponto p S
n
que e valor regular de f e g simultaneamente.
Lema 8. Seja f : M
n
S
n
uma aplicacao diferenci avel.
Dado um valor regular p S
n
, existe uma aplicacao dife-
renci avel k: M
n
S
n
, homot opica a f, admitindo ainda
Main
2011/2/25
page 75
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 75
p como valor regular, e tal que em k
1
(p) = {q
1
, . . . , q
r
}
todos os pontos p
i
tem o mesmo sinal.
Demonstra cao: Basta provar que, se f
1
(p) = {p
1
, p
2
,
. . . , p
r
} onde p
1
> 0 e p
2
< 0, entao existe k homotopica a
f, admitindo ainda p como valor regular, tal que k
1
(p) =
{p
3
, . . . , p
r
}. Repeti cao deste argumento demonstrara o
Lema 8. Seja x: U R
n
um sistema de coordenadas
positivo em M, tal que p
1
, p
2
U e U nao contem outros
pontos de f
1
(p). Alem disso, tomaremos U de modo que
x(U) = R
n
e os pontos x(p
1
), x(p
2
) sejam simetricos relati-
vamente ao hiperplano x
1
= 0 em R
n
. Sejam A
1
e A
2
bolas
em R
n
, com centros em x(p
1
) e x(p
2
) respectivamente, com
fechos disjuntos, e simetricas relativamente ao hiperplano
x
1
= 0.
A
1
A
2
x p ( )
2
x p ( )
1
x
1
=0
Seja y : S
n
q R
n
um sistema de coordenadas po-
sitivo em S
n
, com y(p) = 0, y(s
n
q) = R
n
(por exemplo:
proje cao estereograca). Desejamos obter uma aplica cao
h: M
n
S
n
, homotopica a f, admitindo p como valor
regular, com h
1
(p) = f
1
(p), e tal que
(i) hx
1
: R
n
S
n
toma valores iguais em dois pontos
simetricos relativamente ao hiperplano x
1
= 0;
Main
2011/2/25
page 76
i
i
i
i
i
i
i
i
76 [CAP. II: HOMOTOPIA
(ii) Fora de A
1
A
2
, h x
1
e constante, igual a q.
Para isto, consideremos as aplica coes ans L
1
, L
2
: R
n
R
n
denidas por
L
1
(x
2
, . . . , x
n
) = (x
1
, . . . , x
n
) x(p
1
),
L
2
(x
1
, . . . , x
n
) = (x
1
, x
2
, . . . , x
m
) x(p
1
).
Note-se que L
1
(x(p
1
)) = L
2
(x(p
2
)) = 0 e, se b
R
n
e
o simetrico de b relativamente ao hiperplano x
1
= 0, entao
L
1
(b) = L
2
(b
). Deniremos h primeiramente em U. Seja
V = y
1
(L
1
(A
1
)) = y
1
(L
2
(A
2
)). Poremos: h(a) = (
V
y
1
L
1
x)(a) se a x
1
(A
1
), h(a) = (
V
y
1
L
2
x)(a),
se z a
1
(A
2
) e h(a) = q se a U [x
1
(A
1
) x
1
(A
2
)].
Para denir h em MU, tomamos vizinhan cas disjun-
tas U
i
p
i
(i = 3, . . . , r) com fechos contidos em M U,
nas quais sao validos os sistemas de coordenadas positivos
x
i
: U
i
R
n
, e como no 2
o
caso, pomos h|U
i
=
V
y
1
L
i
x,
onde L
i
e dada pela matriz jacobiana de f no ponto p
i
(i = 3, . . . , r). Pomos, tambem h(s) = q se a nao pertence
a U
i
algum. Ficam assim cumpridas as exigencias que ze-
mos sobre h, sendo a homotopia h f garantida pelo 2
o
caso. (Note-se que det(L
1
) > 0 e det(L
2
) < 0).
Para concluir, devemos denir uma homotopia F : M
I S
n
entre h e uma aplica cao diferenciavel k que tem
as propriedades desejadas. A nalidade dessa homotopia
sera, como sabemos, a de eliminar os pontos p
1
e p
2
da
imagem inversa h
1
(p). (F sera contnua, naturalmente,
mas nao sera diferenciavel em todos os pontos). Basta
denir uma homotopia H: R
n
I S
n
entre a aplica cao
h x
1
e a aplica cao constante R
n
q S
n
, de tal modo
que H(z, t) = q para todo t I e todo z fora de um certo
compacto K R
n
. A homotopia F : M I S
n
sera
Main
2011/2/25
page 77
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: CLASSIFICAC
AO HOMOT
OPICA DE APLICAC
OES 77
entao denida pondo-se F(a, t) = H(x(a), t) se a U e
F(a, t) = h(a) se a M U. Para obter H faremos uso
essencial do fato de h x
1
assumir valores iguais em dois
pontos simetricos em rela cao ao hiperplano x
1
= 0, e ser
constante, igual a q, fora de qualquer compacto K, desde
que K A
1
A
2
. Por simplicidade, suporemos que A
1
e
A
2
estao contidas na faixa |x
1
| 1 do espa co R
n
.
A
1
A
2
x
R
n
=0 x
1
| | t
}
Poremos entao
H(x
1
, . . . , x
n
; t)=
_
h x
1
(t, x
2
, . . . , x
n
), se |x
1
| t
h x
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), se |x
1
| t
Isto dene uma aplica cao contnua H: R
n
I S
n
. (No
instante t, H transforma de igual maneira cada hiperplano
x
1
= c, com |c| t). H e precisamente a homotopia que
procuravamos.
Observa cao: As demonstra coes que demos do 3
o
caso
e do Lema 8 valem somente quando n > 1. Para n =
1 seriam necessarios pequenos cuidados adicionais que o
leitor facilmente encontrara.
Main
2011/2/25
page 78
i
i
i
i
i
i
i
i
78 [CAP. II: HOMOTOPIA
Teorema 9. Seja M
n
uma variedade compacta, conexa
e orientada e S
n
a esfera unit aria de mesma dimens ao.
A correspondencia que associa a cada aplicacao contnua
f : M
n
S
n
o inteiro gr(f) induz uma correspondencia
biunvoca [M
n
, S
n
] Z entre o conjunto [M
n
, S
n
], das
classes de homotopia de aplicacoes contnuas de M
n
em
S
n
, e o conjunto Z dos inteiros.
Demonstra cao: Em virtude dos Teoremas 7 e 8, a cor-
respondencia que associa a cada classe de homotopia [f]
[M
n
, S
n
] o grau gr(f) Z de alguma aplica cao f [f] e
bem denida e biunvoca. Resta apenas mostrar que todo
inteiro k Z e o grau de alguma aplica cao f : M
n
S
n
.
Para isto, tomemos o polo norte p S
n
e a proje cao es-
tereograca y : S
n
q R
n
correspondente. Seja W p
o hemisferio norte de S
n
e
W
: S
n
S
n
uma aplica cao
diferenciavel como no Lema 7. Em seguida, considere-
mos k pontos p
1
, . . . , p
k
M e sistemas de coordenadas
x
i
: U
i
R
n
(todos > 0 se k > 0, e todos negativos
se k < 0), x
i
(U
i
) = R
n
, e tendo os U
i
fechos disjuntos
(i = 1, . . . , k). Depois disso, denamos uma aplica cao di-
ferenciavel f : M
n
S
n
, pondo f(a) = (
W
y
1
x
i
)(a)
se a U
i
, e f(a) = q se a M U
i
.
E evidente que
gr(f) = k.
Corolario. Uma aplicacao contnua f : S
n
S
n
estende-
se continuamente a f : B
n+1
S
n
(onde B
n+1
R
n+1
e
a bola unit aria) se, e somente se, gr(f) = 0.
Com efeito, se f existe, ja vimos que gr(f) = 0 (cfr.
a 4
a
aplica cao do Teorema 7, no 5). Reciprocamente,
se gr(f) = 0, entao, pelo Teorema 9, f e homotopica
a uma aplica cao constante, donde admite uma extensao
Main
2011/2/25
page 79
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6: VARIEDADES N
AO ORIENT
AVEIS 79
f : B
n+1
S
n
, em virtude da Proposi cao 1, 1.
6 Variedades nao orientaveis
Consideraremos aqui o problema da classica cao homotopi-
ca das aplica coes contnuas f : M
n
S
n
, quando M
n
e
compacta, conexa e nao-orientavel.
Inicialmente, dada uma aplica cao diferenciavel propria
f : M
n
N
n
(onde as variedades em questao podem ser
orientaveis ou nao), e uma valor regular p N, deniremos
o grau modulo 2 de f relativamente ao ponto p como sendo
gr
p
(f) = 0 (mod 2) se o n umero r de pontos em f
1
(p) =
{p
1
, . . . , p
r
} for par, e pr
p
(f) = 1 (mod 2) se f
1
(p) possuir
um n umero mpar de pontos.
Dada a deni cao acima, deve-se demonstrar que, se N
for conexa, o grau modulo 2 de uma aplica cao propria
f : M
n
N
n
e o mesmo em rela cao a todos os valores
regulares p N. Para isto, estabeleceremos o teorema a
seguir.
Teorema 10. Seja F : M
n
I N
n
uma aplicacao dife-
renci avel pr opria, que e uma homotopia entre as aplicacoes
(diferenci aveis, pr oprias) f, g : M
n
N
n
. Se p N e um
valor regular de f e g, ent ao gr
p
(f) = gr
p
(g) (mod 2).
Demonstra cao: Pelo Lema 4, existe uma vizinhan ca V
p, formada somente de valores regulares de f e g, tal que
gr
p
(f) = gr
q
(f) e gr
p
(g) = gr
q
(g) (mod 2) para todo q V .
Pelo Teorema de Sard, existe um ponto q V , o qual e
valor regular de f, g e F. Logo, nao constitui perda de
generalidade supor que o ponto p do enunciado e tambem
um valor regular de F. Entao F
1
(p) e uma subvariedade
Main
2011/2/25
page 80
i
i
i
i
i
i
i
i
80 [CAP. II: HOMOTOPIA
(compacta) de dimensao 1 em M I, a qual consta de
um n umero nito de componentes conexas, homeomorfas
a crculos ou a intervalos fechados.
M 1
MI
M 0
F
N
p
p
1
p
2
p
3
q
1
q
2
q
3
q
0
Um crculo C, contido em F
1
(p), nao pode tocar o bordo
(MI) = (M0)(M1). Com efeito, suponhamos que
exista q
0
C(M1). Seja v um vetor = 0, tangente a C
no ponto q
0
. Entao v e tangente a MI no mesmo ponto.
Como F|(M 1) = g, e q
0
g
1
(p), p = valor regular de
g, temos F
(v) = 0. Por outro lado, sendo F constante ao
longo de C, F
(v) = 0. Esta contradi cao mostra que os
crculos contidos em F
1
(p) nao tocam o bordo (M I).
Concentraremos nosssa aten cao nas componentes conexas
de F
1
(p) que sao homeomorfas a intervalos compactos da
reta. As extremidades de cada uma dessas componentes
estao em (M I). Com efeito, se G = F|(M I
(M I)), entao G e uma aplica cao entre variedades sem
bordo, donde G
1
(p) = F
1
(p) (M I (M I)) e
uma variedade de dimensao 1, sem bordo. Logo, os pontos
Main
2011/2/25
page 81
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6: VARIEDADES N
AO ORIENT
AVEIS 81
de F
1
(p) fora de (M I) nao podem ser extremos de
F
1
(p). Como f
1
(p) = F
1
(p) (M 0) e g
1
(p) =
F
1
(p) (M 1), segue-se que os segmentos compactos
de F
1
(p), ou ligam um ponto de f
1
(p) a um de g
1
(p),
ou ligam dois pontos de f
1
(p), ou dois pontos de g
1
(p).
Todos os pontos de f
1
(p) e g
1
(p) sao extremidades em
tais segmentos, o que basta para demonstrar o teorema.
(Vide gura).
Corolario. Seja f : M
n
N
n
uma aplicacao pr opria,
com N conexa. Dados dois valores regulares p, q N quais-
quer, tem-se gr
p
(f) = gr
q
(f) (mod 2).
Demonstra cao: A demonstra cao do 3
o
caso do Teo-
rema 8 nos fornece uma homotopia F : N I N tal
que F(x, 0) = x para todo x N, F(x, 1) = g(x), onde
g : N N e um difeomorsmo tal que g(q) = p, e, alem
disso, para cada t I xo, a aplica cao x F(x, t) e um
difeomorsmo de N. Entao a aplica cao F f : MI N e
propria e e uma homotopia entre f e g f. Segue-se imedia-
tamente das propriedades de F que p e um valor regular de
f e de gf. Logo, pelo Teorema 10, gr
p
(f) = gr
p
(gf). Mas
(g f)
1
(p) = f
1
(g
1
(p)) = f
1
(q). Assim gr
p
(g f) =
gr
p
(f), donde gr
p
(f) = gr
p
(f).
Observa cao: Se as variedades M e N fossem orientaveis,
poderamos, na demonstra cao do Corolario acima, argu-
mentar que a homotopia F fornece uma famlia contnua
a um parametro de difeomorsmos de N, come cando com
a identidade e terminando com g. Por conseguinte, o si-
nal de cada ponto em f
1
(g) seria o mesmo, quer relativa-
mente a f quer relativamente a gf. Ter-se-ia entao, ainda,
Main
2011/2/25
page 82
i
i
i
i
i
i
i
i
82 [CAP. II: HOMOTOPIA
gr
p
(g f) = gr
p
(f) e gr
p
(f) = gr
q
(f). Evidentemente,
esta observa cao nao faz muito sentido agora, mas sera uti-
lizada na demonstra cao do Corolario 2 do Teorema 5, Ca-
ptulo III.
Dadas duas variedades M
n
, N
n
, sendo N conexa, divi-
diremos as aplica coes diferenciaveis proprias f : M
n
N
n
em duas classes. Diremos que f e par se o seu grau modulo
2 e igual a zero, isto e, se para algum (donde para todo)
valor regular p N, f
1
(p) tem um n umero par de pontos.
Diremos que f e mpar se, pelo contrario, o grau modulo 2
de f e igual a 1, ou seja, f
1
(p) contem um n umero mpar
de pontos, qualquer que seja o valor regular p N.
Continuando, devemos demonstrar que, quando M
n
e
compacta, conexa e nao orientavel, e S
n
e a esfera, vale a
recproca do Teorema 10. Pela primeira vez neste paragrafo,
e essencial aqui a nao-orientabilidade de M.
Teorema 11. Seja M
n
uma variedade compacta, conexa
e n ao orientavel. Duas aplicacoes f, g : M
n
S
n
, que s ao
ambas pares ou ambas mpares, s ao homot opicas.
A demonstra cao do Teorema 11 se baseia em argumen-
tos analogos aos ja usados para demonstrar o Teorema 8. O
unico fato novo e, de resto, essencial e o lema a seguir. An-
tes de enuncia-lo, daremos uma deni cao: Seja x: U R
n
um sistema de coordenadas numa variedade diferenciavel
M, com U conexo. Dados a, b U e {e
1
, . . . , e
n
} N
a
,
{f
1
, . . . , f
n
} M
b
, bases nesses espa cos tangentes, dire-
mos que estas bases sao coerentes relativamente a x se,
escrevendo-se e
j
=
i
j
x
i
e f
j
=
i
j
x
i
, os determinan-
tes det(
i
j
) e det(
i
j
) tem o mesmo sinal. No caso contrario,
diremos que as bases dadas sao incoerentes relativamente
Main
2011/2/25
page 83
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6: VARIEDADES N
AO ORIENT
AVEIS 83
ao sistema x. Numa variedade orientavel conexa, serem co-
erentes ou incoerentes e uma propriedade intrnseca do par
de bases dado: nao depende do sistema x escolhido. Ja o
oposto se da numa variedade nao orientavel, como mostra
o lema abaixo.
Lema 9. Seja M
n
uma vairedade conexa, compacta, n ao
orientavel, dados a, b M e duas bases {e
1
, . . . , e
n
}
M
a
, {f
1
, . . . , f
n
} M
b
, existem sistemas de coordenadas
x: U R
n
; y : V R
n
, com a, b U, a, b V , x(U) =
y(V ) = R
n
, e tais que as bases dadas s ao coerentes em
relacao a x e incoerentes em relacao a y.
Demonstra cao: Variedades de dimensao 1 sao orientaveis.
Quando a dimensao n e igual a 2, sabe-se que M
2
e obtida
de um polgono convexo do plano mediante identica cao
conveniente de alguns pares de lados. (Vide [21], captulo
6). Entre essas identica coes, tendo em vista M
2
ser nao
orientavel, devera haver uma que dara origem a uma faixa
de Moebius F em M.
m
m
b
.
a
.
Como facilmente se constata, a faixa de Moebius F
pode ser sempre obtida de modo a conter os pontos da-
dos a e b em seu interior. (Pois a representa cao de M
2
como espa co quociente de um polgono pode sempre ser
Main
2011/2/25
page 84
i
i
i
i
i
i
i
i
84 [CAP. II: HOMOTOPIA
feita de modo que a e b provenham de pontos situados no
interior do polgono).
F
a
C
1
C
2
b
Na faixa de Moebius F M
2
, para separar os pontos
a e b, sao necessarios dois cortes C
1
e C
2
. Podemos tomar
U = F C
1
e V = F C
2
, ou U = F C
2
, V = F C
1
,
conforme sejam as orienta coes das bases dadas em M
a
e
M
b
. O Lema ca entao facilmente demonstrado em di-
mensao 2.
Consideremos agora n > 2. Como M
n
nao e orientavel,
existe um caminho desorientador em M, come cando e ter-
minando em a. Trata-se de uma aplica cao contnua : S
1
M
n
, do crculo unitario S
1
em M, tal que a (S
1
). Como
M e conexa, podemos tambem admitir que b (S
1
).
Sendo dimM > 2 dimS
1
+ 1, podemos aproximar por
uma imersao : S
1
M.
E claro que podemos ainda su-
por que a, b (S
1
). Seja P
1
= (S
1
). Consideremos uma
vizinhan ca tubular T = T
(P) da subvariedade P em M,
a qual e dotada de uma proje cao : T P. Sendo ho-
meomorfa a um crculo, a subvariedade P e a reuniao de
dois segmentos abertos: P = A B, de modo que a, b A
e a, b B. Os abertos
1
(A) e
1
(B) em M sao vizi-
nhan cas tubulares nos segmentos A e B respectivamente, e
sao portanto difeomorfos aos produtos AR
n1
, BR
n1
ou seja, sao ambos difeomorfos a R
n
. Tentativamente, po-
nhamos U =
1
(A), V =
1
(B), e sejam x: U R
n
,
Main
2011/2/25
page 85
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6: VARIEDADES N
AO ORIENT
AVEIS 85
y : V R
n
difeomorsmos. Se a imersao : S
1
M for
tomada sucientemente proxima de , entao e o
caminho sera ainda desorientador. Entao, ou as bases
{e
i
} e {f
j
} sao coerentes relativamente a x e incoerentes
relativamente a u, ou vice-versa. No primeiro caso, mante-
remos a nota cao escolhida e, no segundo caso, trocaremos
as denomina cao x y, U V , para car de acordo com
o enunciado do lema.
Demonstra cao do Teorema 11: Sejam p S
n
um valor
regular de f e g. Consideremos a aplica cao f : M
n
S
n
.
Seja f
1
(p) = {p
1
, . . . , p
r
}. Se r > 1, escolhemos bases
{e
1
, . . . , e
n
} em M
p
1
e {f
1
, . . . , f
n
} em M
p
2
que sao trans-
formadas por f
na mesma base de (S
n
)
p
. Usando o lema
anterior, tomamos um sistema de coordenadas x: U R
n
,
com x(U) = R
n
, p
1
, p
2
U, de modo que as bases {e
i
} e
{f
j
} sejam incoerentes relativamente a x e que U nao con-
tenha outros pontos de f
1
(p) alem de p
1
e p
2
. Tomando
sempre como referencia o sistema x, podemos dizer que
p
1
e p
2
sao pontos que tem sinais opostos relativamente
a f. Pelo Lema 8, obtemos uma aplica cao h: M
n
S
n
,
homotopica a f, tal que p e ainda um valor regular de h
e h
1
(p) = {p
3
, . . . , p
r
}. Se r (isto e, f) e par, prosse-
guindo analogamente, chegaremos a obter uma aplica cao
k: M
n
S
n
, k f, com k
1
(p) = . Entao k(M
n
)
S
n
p, donde k constante e portanto f constante.
Assim, se f e g sao ambas pares, teremos f g pois serao
ambas homotopicas a constantes. Mas se f e g saompares,
aplicando repetidamente o processo de redu cao acima indi-
cado, chegaremos a obter aplica coes h, k: M
n
S
n
, com
h f, k g, ambas admitindo p como valor regular, e
tais que h
1
(p) = p
0
, k
1
(p) = q
0
. Novamente, tomamos
Main
2011/2/25
page 86
i
i
i
i
i
i
i
i
86 [CAP. II: HOMOTOPIA
bases {e
1
, . . . , e
n
} M
p
0
e {f
1
, . . . , f
n
} M
q
0
, tais que
h
(e
i
) = k
(f
i
), i = 1, . . . , n. Pelo lema anterior, existe
um sistema de cordenadas x: U R
n
, com p
0
, q
o
U,
x(U) = R
n
, tal que as bases dadas sao coerentes relati-
vamente a x. A tecnica de demonstra cao do Teorema 8 se
aplica entao ipsis literis para concluirmos que h k, donde
f g.
Dada uma aplica cao contnua f : M
n
N
n
(N co-
nexa), diremos que f e par se existe uma aplica cao dife-
renciavel g : M
n
N
n
, tal que g f e g e par. Pelo Te-
orema 10, se isto acontecer, entao qualquer aplica cao dife-
renciavel h: M
n
N
n
, homotopica a f, sera tambem par.
Se, porem existir uma aplica cao diferenciavel k: M
n
S
n
,
homotopica a f e mpar, diremos que f e mpar. Pelo Te-
orema 10, duas aplica coes contnuas homotopicas sao am-
bas pares ou ambas mpares. Enunciaremos agora o teo-
rema nal que da a classica cao homotopica das aplica coes
contnuas f : M
n
S
n
, M
n
nao orientavel.
Teorema 12. Seja M
n
uma variedade compacta, conexa
e n ao orientavel. Existem precisamente duas classes de
homotopia de aplicacoes contnuas f : M
n
S
n
: a classe
das aplicacoes pares e a classe das aplicacoes mpares.
Demonstra cao: Tendo em vista os Teoremas 10 e 11,
basta demonstrar que, para toda M
n
, existe pelo menos
uma aplica cao par M
n
S
n
e uma aplica cao mpar. A
primeira e evidente: basta tomar uma aplica cao constante.
Para obter uma aplica cao mpar, consideraremos um sis-
tema de coordenadas x: U R
n
em M, com x(U) =
R
n
, uma proje cao estereograca y : S
n
q R
n
, e uma
aplica cao
W
: S
n
S
n
do tipo do Lema 7, com W =
Main
2011/2/25
page 87
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6: VARIEDADES N
AO ORIENT
AVEIS 87
hemisferio de S
n
contendo o ponto antpoda de q, pondo
em seguida f =
W
y
1
x em U e f(a) = q para todo
a M U.
Main
2011/2/25
page 88
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo III
Campos Vetoriais
1 Generalidades e um teorema de
Poincare e Brouwer
Um campo vetorial v, sobre uma variedade diferenciavel
M
n
, e uma correspondencia que associa a cada ponto
p M um vetor v
p
M
p
, tangente a M no ponto p. Dado
um campo vetorial v sobre M, um sistema de coordenadas
x: U R
n
em M permite escrever, para todo p U:
v
p
=
n
i=1
i
(p)
x
i
(p).
Assim, em cada sistema de coordenadas x, o campo v ca
denido pelas n fun coes reais
i
: U R que dao, em
todo ponto p U, as n coordenadas de v
p
relativamente
a base
_
x
i
(p)
_
. Diremos que o campo v e contnuo, ou
diferenci avel, quando, para todo sistema de coordenadas
x em M, as fun coes
i
forem contnuas, ou diferenciaveis.
88
Main
2011/2/25
page 89
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: GENERALIDADES E UM TEOREMA DE POINCAR
E E BROUWER 89
Nao nos interessarao campos que nao sejam, pelo menos,
contnuos.
De acordo com a versao classica, um campo vetorial v
pode tambem ser denido como uma correspondencia que
associa a cada sistema de coordenadas locais x: U R
n
,
admissvel em M, n fun coes reais
i
: U R (as coor-
denadas do campo v no sistema x) de tal modo que, se
y : V R
n
e outro sistema com U V = , entao as
fun coes
i
: V R
n
determinadas pelo campo v e o sis-
tema y, relacionam-se, com as
j
do modo seguinte:
i
(p) =
n
j=1
j
(p)
y
i
x
j
(p) (i = 1, . . . , n).
E claro que esta deni cao de campo vetorial equivale `a
que foi dada inicialmente. Se M
n
e um subconjunto aberto
de R
n
, como existe a um sistema de coordenadas canonico,
um campo vetorial em M sera simplesmente uma cole cao
de n fun coes reais
i
: M R.
Seja v um campo vetorial sobre M. Uma trajetoria,
ou uma curva integral de v e uma curva parametrizada
(pelo menos de classe C
1
) : I M, denida num inter-
valo aberto I da reta, cujo vetor tangente em todo ponto
p = (t) e igual ao vetor v
p
, dado pelo campo. Se, rela-
tivamente a um sistema de coordenadas x: U R
n
, ad-
missvel em M, a curva parametrizada e denida por
t (x
1
(t), . . . , x
n
(t)) e o campo vetorial v e representado
por n fun coes reais
i
: U R, entao a condi cao para que
a curva seja uma trajetoria de v se exprime por meio das
equa coes
dx
i
dt
=
i
(x
1
(t), . . . , x
n
(t)), i = 1, . . . , n.
Main
2011/2/25
page 90
i
i
i
i
i
i
i
i
90 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Segue-se, entao, do teorema classico de existencia e uni-
cidade para equa coes diferenciais ordinarias, que, dado um
campo vetorial diferenciavel sobre uma variedade M (classe
C
1
seria suciente), por cada ponto p M passa uma e
somente uma trajetoria de origem p. (Diremos que a tra-
jetoria : I M tem origem em p se 0 I e (0) = p).
Alem disso, outro teorema basico sobre equa coes diferenci-
ais arma que a solu cao de um sistema depende diferencia-
velmente das condi coes iniciais. Em termos mais precisos,
isto signica o seguinte: se indicarmos com t (p, t) a
trajetoria de v que tem origem no ponto p, a qual se ca-
racteriza pelas propriedades (p, 0) = p e
d
dt
(p, t) = v
(p,t)
,
entao o ponto (p, t) M depende diferenciavelmente de
p e de t.
Se a variedade M e compacta, entao as trajetorias de
um campo vetorial diferenciavel v sobre M podem ser to-
das estendidas de modo a carem denidas na reta inteira.
(Vide [7], pag. 33). Entao obtemos uma aplica cao di-
ferenciavel : M R M onde, para cada p M e
cada t R, (p, t) e o ponto de parametro t na tra-
jetoria de v que tem origem no ponto p. A aplica cao
: MR M dene, para cada valor xo de t R, uma
translacao
t
: p (p, t) ao longo das trajetorias. As
transla coes
t
sao difeomorsmos de M. Com efeito, tem-
se evidentemente
0
= identidade e, como mostraremos ja,
t+s
=
t
s
. Da segue-se que
s
t
=
t
s
e que
t
t
=
t
t
= identidade, donde
t
e um difeomor-
smo, cujo inverso e
t
. A igualdade
t+s
=
s
t
decorre
imediatamente da unicidade da trajetoria que tem origem
num ponto. Ela signica que (p, t + s) = ((p, t), s),
ou seja, que o ponto de parametro s na trajetoria de ori-
Main
2011/2/25
page 91
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: GENERALIDADES E UM TEOREMA DE POINCAR
E E BROUWER 91
gem (p, t) e o mesmo que o ponto de parametro t + s
na trajetoria de origem p = (p, 0). Para demonstra-la,
seja : R M a trajetoria de origem p ((t) = (p, t)).
Dado t
0
R arbitrario, denamos : R M pondo
(s) = (t
0
+ s). Devemos mostrar que e a trajetoria de
origem (t
0
). Ora, temos (0) = (t
0
). Alem disso, para
todo s
0
R, temos
d
ds
(s
0
) =
d
dt
(t
0
+s
0
) v
(s
0
+t
0
)
= v
(s
0
)
.
Pela unicidade, e a trajetoria de origem (t
0
).
Assim, todo campo vetorial diferenciavel numa varieda-
de compacta M da origem a um grupo de difeomorsmos
{
t
; t R}, formado pelas transla coes ao longo das tra-
jetorias. Este grupo e uma imagem homomorca do grupo
aditivo dos n umeros reais, pela aplica cao t
t
.
Um ponto p M chama-se uma singularidade de um
campo vetorial v sobre M quando v
p
= 0.
Se p M e uma singularidade do campo diferenciavel
v sobre M, entao
t
(p) = p, qualquer que seja o difeo-
morsmo
t
do grupo determinado por v. Com efeito, a
trajetoria de v que contem p reduz-se ao proprio ponto
p. Reciprocamente, se p e um ponto xo de todo difeo-
morsmo
t
do campo determinado por v, entao p e uma
singularidade de v, pois v
p
=
d
dt
(p, 0) = 0, ja que a curva
t (p, t) e constante.
Neste Captulo, estaremos interessados em estudar as
singularidades dos campos vetoriais sobre uma variedade
compacta. O ponto de partida para este estudo foi o teo-
rema classico de Poincare, segundo o qual todo campo veto-
rial contnuo sobre a esfera S
2
admite pelo menos uma sin-
gularidade. Mais precisamente, Poincare associou a cada
singularidade isolada de um campo vetorial v sobre uma su-
perfcie compacta M
2
um n umero, que ele chamou o ndice
Main
2011/2/25
page 92
i
i
i
i
i
i
i
i
92 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
da singularidade. (Uma singularidade p diz-se isolada se
existe uma vizinhan ca de p na qual o campo nao possui
outras singularidades). As singularidades de um campo
contnuo constituem evidentemente um conjunto fechado.
Assim, se um campo vetorial contnuo v, numa variedade
compacta M, possui somente singularidades isoladas, estas
sao em n umero nito. Poincare demonstrou o resultado
bastante surpreendente, segundo o qual a soma dos ndices
das singularidades de um campo contnuo v sobre uma M
2
compacta nao depende do campo v. (Supondo que as sin-
gularidades sao todas isoladas). Esta soma de ndices e um
n umero, chamado a caracterstica de Euler da superfcie
M
2
, indicado com (M
2
). Na esfera, (S
2
) = 2, donde
todo campo vetorial contnuo sobre S
2
deve possuir, pelo
menos, uma singularidade.
Generalizando o resultado de Poincare, Brouwer de-
monstrou o teorema abaixo:
Teorema 1. Existe um campo vetorial contnuo sem sin-
gularidades na esfera S
n
se, e somente se, n e mpar.
Demonstra cao: Em primeiro lugar, se n = 2k 1 e um
n umero mpar, entao S
n
= {p = (x
1
, . . . , x
2k
) R
2k
: x
i
x
i
= 1} e, para cada ponto p = (x
1
, . . . , x
2k
) S
n
, o vetor
v
p
= (x
k+1
, . . . , x
2k
, x
1
, . . . , x
k
) R
2k
e tangente a S
n
no ponto p pois e perpendicular ao raio p 0. Assim, a
correspondencia p v
p
dene um campo vetorial contnuo
(alias diferenciavel) sobre S
n
, o qual nao tem singularida-
des, pois |v
p
| = 1 para todo p S
n
. Para demonstrar a
recproca, faremos uso dos dois lemas abaixo, cuja demons-
tra cao daremos logo mais adiante.
Main
2011/2/25
page 93
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: GENERALIDADES E UM TEOREMA DE POINCAR
E E BROUWER 93
Lema 1. Seja v um campo vetorial diferenci avel sobre uma
variedade compacta M
n
, e indiquemos com {
t
; t R}
o grupo de difeomorsmos de M determinado por v. Se
o campo v n ao possui singularidades, ent ao existe > 0
tal que
t
(p) = p, qualquer que seja p M, desde que
0 < t < .
Lema 2. Se existe, sobre uma variedade M
n
, um campo
vetorial contnuo sem singularidades, ent ao existe tambem
um campo diferenci avel sem singularidades.
Admitidos estes lemas, suponhamos, por absurdo, que
exista um campo vetorial contnuo sem singularidades so-
bre uma esfera S
n
, cuja dimensao n e par. Pelo Lema
2, podemos supor que este e um campo diferenciavel v.
Tomando o n umero > 0, dado pelo Lema 1, e xando t,
com 0 < t < , o difeomorsmo
t
: S
n
S
n
nao tera pon-
tos xos. Logo como vimos no Captulo II (consequencia
do Teorema 7), o grau de
t
sera igual a (1)
n+1
= 1.
Por outro lado, a aplica cao F : S
n
I S
n
, dada por
F(p s) =
(1s)t
(p), 0 s 1, e uma homotopia entre
t
e a aplica cao identidade (
0
). Logo, o grau de
t
e igual
a 1. Esta contradi cao demonstra o teorema.
Passemos agora a demonstrar os lemas admitidos.
Demonstra cao do Lema 1.
Como M e compacta, basta demonstrar que, dado um
ponto arbitrario p M, existem uma vizinhan ca V p e
um n umero (p) > 0 tais que
t
(q) = q para todo q V
e 0 < t < (p). Trata-se, pois, de um problema local. Po-
demos entao admitir que temos : R
n
R R
n
tal que
(x, 0) = x e
t
(x, 0) = 0 para todo x R
n
. Fixemos um
valor particular x = p. Queremos obter uma vizinhan ca
Main
2011/2/25
page 94
i
i
i
i
i
i
i
i
94 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
U (p, 0) em R
n
R tal que (x, t) = x, para todo (x, t)
U, com t = 0. Isto sera conseguido se mostrarmos que
(x, t), (x, t
) U e t = t
implicam (x, t) = (x, t
), pois
ja temos (x, 0) = x. Esta ultima identidade nos mostra
que
x
i
(p, 0) = i-esimo vetor da base canonica do espa co
R
n
. Alguma coordenada do vetor
t
(p, 0) sendo = 0, pode-
mos supor, para xar as ideias, que tal coordenada e a pri-
meira. Entao os n vetores
x
2
(p, 0), . . . ,
x
n
(p, 0),
t
(p, 0)
sao linearmente independentes em R
n
. Assim, se denir-
mos a aplica cao H: R
n
R R R
n
, pondo H(x, t) =
(x
1
, (x, t)), a aplica cao linear H
, induzida no ponto (p, 0),
sera um isomorsmo. Portanto, existira uma vizinhan ca
U (p, 0) em R
n
R, tal que a restri cao H|U e um dife-
omorsmo. Esta e a U procurada pois se (x, t), (x, t
)
U e t = t
, entao (x
1
, (x, t)) = H(x, t) = H(x, t
) =
(x
1
, (x, t
)), donde (x, t) = (x, t
).
O Lema 2 decorre imediatamente do teorema geral de
aproxima cao de campos contnuos por campos diferencia-
veis, o qual demonstraremos a seguir. Em primeiro lu-
gar, digamos algumas palavras acerca de aproxima cao
ou seja, da distancia entre dois campos vetoriais.
Sejam M
n
uma variedade compacta. Devemos introdu-
zir uma topologia no conjunto dos campos vetoriais con-
tnuos sobre M. Consideremos uma cole cao nita de siste-
mas de coordenadas x
0
: V
0
R
n
, = 1, . . . , r, de modo
que
r
=1
V
= M. Seja {U
1
, . . . , U
r
} uma cobertura de M
por abertos tais que U
0
V
. Dado um campo veto-
rial contnuo v sobre M, a cada = 1, . . . , r correspon-
dem n fun coes reais contnuas a
1
, . . . , a
n
0
: V
0
R tais que
Main
2011/2/25
page 95
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: GENERALIDADES E UM TEOREMA DE POINCAR
E E BROUWER 95
v
p
=
n
i=1
a
i
(p)
x
i
(p). As fun coes a
i
sao limitadas no com-
pacto U
. Seja c
i
= sup
_
|a
i
(p)|; p U
_
e ponhamos
|v| = max{c
1
; = 1, . . . , r ; i = 1, . . . , n}. Fixadas as
coberturas {V
} e {U
}, bem como os sistemas de coor-
denadas x
0
, a aplica cao v |v| dene uma norma no
espa co vetorial (de dimensao innita) dos campos vetori-
ais contnuos sobre M. Em particular, podemos considerar
a distancia |v w| entre dois campos vetoriais contnuos,
como a norma do campo diferen ca.
E claro que diferen-
tes escolhas das coberturas {V
} e {U
}, ou dos sistemas
x
, dao origem a diferentes normas no espa co dos campos
vetoriais contnuos, mas e facil ver que a topologia subja-
cente a todas essas normas e a mesma. No que se segue,
quando nos referirmos `a distancia entre dois campos veto-
riais contnuos, temos sempre em mente a metrica denida
por uma qualquer dessas normas, a qual permanecera xa
no decorrer de uma dada discussao. Assim, por exemplo,
no enunciado do teorema abaixo esta implcito que xamos,
de antemao, as coberturas {U
} e {V
}, bem como os sis-
temas de coordenadas x
, em rela cao aos quais e denida
a distancia entre dois campos vetoriais.
Teorema 2. Seja M
n
uma variedade compacta. Dado um
campo vetorial contnuo v sobre M e um n umero > 0,
existe um campo vetorial diferenci avel w sobre M, tal que
|w v| < .
Demonstra cao: Seja {
; = 1, . . . , r} uma parti cao di-
ferenciavel da unidade subordinada `a cobertura U
. Para
p V
, seja v
p
=
n
i=1
a
i
(p)
x
i
(p). Se V
= , indi-
quemos com (x
i
/x
j
) a matriz jacobiana da mudan ca de
Main
2011/2/25
page 96
i
i
i
i
i
i
i
i
96 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
coordenadas x
x
1
. Seja
d = sup
_
x
i
x
j
(p)
;
p U
; , = 1, . . . , r; i, j = 1, . . . , n
_
.
Aproximemos as fun coes contnuas a
i
por fun coes dife-
renciaveis b
i
: V
R, tais que |b
i
(p) a
i
(p)| < /dnr
para todo p U
. Denamos, em seguida, o campo veto-
rial diferenciavel w sobre M pondo, para cada p M,
w
p
=
,i
(p) b
i
(p)
x
i
(p).
(Bem entendido, se p / V
todas as parcelas de ndice
devem ser omitidas, o que esta de acordo com o fato de ser
(p) = 0 neste caso). Para = 1, . . . , r, e p V
, temos
w
p
=
i
c
i
(p)
x
i
(p),
onde
c
i
(p) =
,j
(p)
x
i
x
j
(p) b
j
(p).
Por outro lado,
a
i
(p) =
(p) a
i
(p) =
,j
(p)
x
i
x
j
(p) a
j
(p).
Main
2011/2/25
page 97
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 1: GENERALIDADES E UM TEOREMA DE POINCAR
E E BROUWER 97
Logo, para todo p U
, temos
c
i
(p) a
i
(p) =
,j
x
i
x
j
(b
j
a
j
),
donde |c
i
(p) a
i
(p)| < , pois o segundo membro e soma
de nr parcelas, todas elas de valor absoluto inferior a d
(/dnr). Logo |w v| < .
Corolario. Se existe sobre M um campo vetorial contnuo
sem singularidades, existe tambem um campo vetorial dife-
renci avel sem singularidades.
Com efeito, se o campo contnuo dado e v, com v
p
=
i
a
i
(p)
x
i
, para p V
, ponhamos
= inf
_
n
i=1
|a
i
(p)|; p U
; = 1, . . . , r
_
.
Como v nao possui singularidades, temos > 0. Apro-
ximemos v por um campo diferenciavel w, com|wv| <
2n
.
Entao, para todo , e p U
, temos w
p
=
i
b
i
(p)
x
i
,
com |b
i
(p) a
i
(p)| < /2n. Logo,
i
i|a
i
(p)
i
|b
i
(p) a
i
(p)| +
i
|b
i
(p)|
2
+
i
|b
i
(p)|,
donde
i
|b
i
(p)|
2
quaisquer que sejam p U
e =
1, . . . , r. Assim w
p
= 0 em todo ponto p M.
Main
2011/2/25
page 98
i
i
i
i
i
i
i
i
98 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
De maneira analoga, se verica que a existencia de m
campos vetoriais contnuos linearmente independentes so-
bre M implica a existencia de m campos diferenciaveis li-
nearmente independentes.
2 O espaco brado tangente
Um campo vetorial sobre uma variedade M, como foi de-
nido no 1, e, na realidade, uma aplica cao de M no con-
junto formado pela reuniao
p
M
p
de todos os espa cos veto-
riais tangentes a M.
E de grande conveniencia munir esta
reuniao de uma estrutura de variedade diferenciavel, de
modo que os campos vetoriais contnuos ou diferenciaveis
sobre M sejam aplica coes contnuas ou diferenciaveis de M
nessa nova variedade. Assim fazendo, podemos aplicar aos
campos vetoriais as tecnicas gerais, relativas `as aplica coes
contnuas e diferenciaveis. Neste paragrafo, introduziremos
essa variedade dos vetores tangentes de uma variedade M.
Dada uma variedade diferenciavel M
n
, indicaremos com
(M) a variedade diferenciavel de dimensao 2n formada
por todos os vetores tangentes em todos os pontos de M.
Chamaremos (M) o espaco brado tangente de M. Dare-
mos, em seguida, uma breve descri cao de (M). Maiores
detalhes podem ser encontrados em [4], [13], [22].
O conjunto (M) consta de todos os pares (p, v), onde
p M, e v M
p
e um vetor tangente a M no ponto
p. Existe uma proje cao natural : (M) M, sobre M,
denida por (p, v) = p. A estrutura de variedade dife-
renciavel de (M) e introduzida a partir da estrutura de
M, tomando-se como sistemas de coordenadas locais em
Main
2011/2/25
page 99
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: O ESPACO FIBRADO TANGENTE 99
(M), as aplica coes x:
U R
2n
, onde x: U R
n
e um
sistema de coordenadas em M,
U =
1
(U), e
x(p, v) = (x
1
(p), . . . , x
n
(p),
1
, . . . ,
n
), se v =
i
x
i
Os sistemas x assim obtidos constituem um atlas
A de
dimensao 2n em (M). Este atlas e diferenciavel pois, se
y : V R
n
e outro sistema de coordenadas em M, com
U V = , e se indicarmos, abreviadamente, a mudan ca
de coordenadas y x
1
com (x
1
, . . . , x
n
) (y
1
, . . . , y
n
),
entao o sistema y :
V R
2n
, com
V =
1
(V ) e
y(p, v) = (y
1
(p), . . . , y
n
(p),
1
, . . . ,
n
), v =
i
y
i
,
relaciona-se com o sistema x atraves da mudan ca de coor-
denadas y x
1
, dada por
(x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
n
)
_
y
1
, . . . , y
n
,
y
1
x
i
i
, . . . ,
y
n
x
i
i
_
,
a qual e, sem d uvida, diferenciavel.
Assim, (M) e uma variedade diferenciavel, de dimen-
sao 2n. Notemos que a matriz jacobiana da aplica cao y x
1
e formada por quatro blocos quadrados n n, assumindo
o aspecto:
_
_
_
y
i
x
j
_
0
_
2
y
1
x
k
x
j
k
_
_
y
i
x
j
_
_
_
Assim, o determinante jacobiano da aplica cao y x
1
e igual
a
_
det(y
i
/x
j
)
2
e e, portanto, > 0 em todos os pontos.
Main
2011/2/25
page 100
i
i
i
i
i
i
i
i
100 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Em outras palavras, o atlas
A sobre (M) e coerente e, em
particular, (M) e sempre orientavel, quer M o seja, quer
nao.
A proje cao : (M) M e diferenciavel pois, em ter-
mos de um sistema de coordenadas locais x em M e do
sistema correspondente x em (M), se exprime como a
proje cao (x
1
, . . . , x
n
,
1
, . . . ,
n
) (x
1
, . . . , x
n
).
Um campo vetorial na variedade M pode agora ser de-
nido como uma aplica cao v : M (M) tal que, para
todo p M, (v(p)) = p. Isto equivale a dizer que um
campo vetorial e uma correspondencia que associa a cada
ponto p M um vetor v
p
M
p
, tangente a M no ponto p,
sendo v(p) = (p, v
p
) (M). Logo, esta deni cao e equi-
valente `a que foi dada no paragrafo anterior. Um campo e
contnuo (resp. diferenci avel ) se, e somente se, a aplica cao
v : M(M) e contnua (resp. diferenciavel).
Seja v : M (M) um campo vetorial diferenciavel na
variedade M. Como v = identidade (onde : (M)
M e a proje cao), ve-se imediatamente que v e uma imersao
de M em (M).
Indicaremos, de uma vez por todas, com : M (M)
o campo de vetores identicamente nulo:
p
= 0 para todo
p M.
Seja p M uma singularidade do campo vetorial dife-
renciavel v : M (M), isto e, v
p
= 0. Diremos que p e
um singularidade simples se os subespa cos vetoriais v
(M
p
)
e
(M
p
) de (M)
(p,0)
tiverem apenas o vetor 0 em co-
mum. Isto equivale a dizer que
(M
p
)v
(M
p
) = (M)
(p,0)
e, geometricamente, signica que as subvariedades (M),
v(M) (M) intersetam-se transversalmente no ponto
(p, 0) = v(p) = (p).
Main
2011/2/25
page 101
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: O ESPACO FIBRADO TANGENTE 101
Lema 2. Seja x: U R
n
um sistema de coordenadas
em M, onde a singularidade p do campo v pertence a U.
Temos v
p
=
i
a
i
(q)
x
i
, q U, e a
i
(p) = 0, i = 1, . . . , n.
A singularidade p e simples se, e somente se, det
_
a
i
x
j
_
= 0
no ponto p.
Demonstra cao: Em termos dos sisemas de coordenadas
x em M e x em (M), as aplica coes v e se exprimem da
forma
: (x
1
, . . . , x
n
) (x
1
, . . . , x
n
, 0, . . . , 0)
v : (x
1
, . . . , x
n
) (x
1
, . . . , x
n
, a
1
(x
1
, . . . , x
n
), . . . ,
a
n
(x
1
, . . . , x
n
)).
Uma base de M
p
e dada pelos vetores
x
i
, i = 1, . . . , n.
A condi cao de ser simples a singularidade, signica que os
vetores
_
x
1
_
, . . . ,
_
x
n
_
, v
_
x
1
_
, . . . , v
_
x
n
_
sao linearmente independentes. Ora, em rela cao ao sis-
tema de coordenadas x, cada vetor
_
x
i
_
tem coordena-
das (0, . . . , 1, . . . , 0, 0, . . . , 0), isto e, todas nulas exceto a
i-esima, que e igual a 1. E as coordenadas do vetor v
_
x
j
_
no mesmo sistema x sao
_
0, . . . , 1, . . . , 0,
a
1
x
j
(p), . . . ,
a
n
x
j
(p)
_
,
onde as n primeiras coordenadas sao nulas, com exce cao
da j-esima. Assim, a matriz quadrada cujas colunas sao
as coordenadas dos vetores
_
x
i
_
e v
_
x
j
_
relativamente
Main
2011/2/25
page 102
i
i
i
i
i
i
i
i
102 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
ao sistema x assume a forma abaixo, onde os quatro blocos
sao matrizes n n:
_
I I
0
_
a
i
x
j
_
_
Os 2n vetores em questao sao linearmente independentes
se, e somente se, esta matriz tem determinantes = 0. Mas
este determinante e evidentemente igual a det
_
a
i
x
j
(p)
_
, o
que demonstra o Lema.
Corolario. As singularidades simples de um campo ve-
torial diferenci avel v s ao isoladas no conjunto de todas as
singularidades de v.
Seja p M uma singularidade simples de v. Devemos
mostrar que existe uma vizinhan ca V p tal que p e a unica
singularidade de v em V . Ora, num sistema de coordenadas
x: U R
n
, com p U e v
q
=
i
a
i
(q)
x
i
, q U, temos
a
i
(p) = 0, i = 1, . . . , n, e det
_
a
i
x
j
(p)
_
= 0. Logo, pelo
teorema da fun cao inversa, existe uma vizinhan ca V p
tal que a aplica cao (x
1
, . . . , x
n
) = q (a
1
(q), . . . , a
n
(q)) e
um difeomorsmo de V sobre uma vizinhan ca do ponto
(0, . . . , 0). Portanto, para todo q = p em V , teremos
(a
1
(q), . . . , a
n
(q)) = (0, . . . , 0), isto e, nenhum outro ponto
q V , alem de p, e uma singularidade de v.
As singularidades de um campo vetorial contnuo sobre
M formam evidentemente um subconjunto fechado de M.
Segue-se entao do Corolario acima que se M e compacta e
v e um campo diferenciavel sobre M cujas singularidades
sao todas simples, estas sao em n umero nito apenas.
Main
2011/2/25
page 103
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: O ESPACO FIBRADO TANGENTE 103
Outra interpreta cao para o conceito de singularidade
simples e a seguinte. O campo diferenciavel v sobre M
determina o conjunto de difeomorsmo
t
: M M, t real.
Se p e uma singularidade de v, entao
t
(p) = p para todo t.
Logo, cada
t
induz uma aplica cao linear (
t
)
: M
p
M
p
.
Por simplicidade, escrevamos A(t) = (
t
)
. Seja A
=
dA
dt
(0). Entao, a singularidade p e simples se, e somente
se, A
: M
p
M
p
e uma aplica cao linear invertvel. Na
realidade, um resultado mais preciso vale: o determinante
de A
e igual a det
_
a
i
x
j
(p)
_
, com a nota cao do Lema 3.
Com efeito, numa vizinhan ca de p, onde e valido um
sistema de coordenadas x, os difeomorsmos
t
, para t
sucientemente pequeno, sao dados por
t
(x
1
, . . . , x
n
) =
(
1
(x, t), . . . ,
n
(x, t)), x = (x
1
, . . . , x
n
). Seja, para simpli-
car, x(p) = 0. Entao a matriz de (
t
)
= A(t): M
p
M
p
, no sistema x e igual
_
i
x
j
(0, t)
_
. Logo A
=
dA
dt
(0)
tem para matriz
_
d
dt
_
i
x
j
__
=
_
x
j
_
d
i
dt
__
=
_
a
i
x
j
_
, pois
d
i
dt
(0) = a
i
em virtude de ser integral de v. Logo,
det(A
) = det(a
i
/x
j
).
Segue-se da, em particular, que, numa singularidade
p, o valor do determinante det(a
i
/x
j
) tem signicado
intrnseco, independente do sistema de coordenadas x em
torno de p.
Diremos que o ndice da singularidade simples p do
campo v e igual a +1 se det(a
i
/x
j
) > 0 no ponto p.
Se, ao contrario, tivermos det(a
i
/x
j
) < 0 no ponto p, di-
remos que o ndice de p e 1. Pelo que mostramos acima,
o ndice de uma singularidade simples e um conceito bem
denido, independente do sistema de coordenadas usado.
Este fato tambem pode ser vericado diretamente, sem re-
curso `a integra cao do campo v.
Main
2011/2/25
page 104
i
i
i
i
i
i
i
i
104 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Com efeito, sejam x, y sistemas de coordenadas em
torno de p, com v
q
=
i
a
i
(x(q))
x
i
=
i
b
i
(y(q))
y
i
, q
numa vizinhan ca U de p. Temos a
i
(x(p)) = b
i
(y(p)) = 0,
para i = 1, . . . , n. Sabemos tambem que
b
i
(y(q)) =
j
a
j
(x(q))
y
i
x
j
(x(q)), i = 1, . . . , n, q U.
Derivando esta igualdade em rela cao a y
k
no ponto y(p),
temos
b
i
y
k
=
j,s
a
j
x
s
x
s
y
k
y
i
x
j
=
j,s
a
j
2
y
1
x
j
x
s
x
s
y
k
Mas, no ponto p, todos os a
j
sao iguais a zero. Assim, a
segunda parcela acima desaparece. Obtemos assim a igual-
dade seguinte, onde o produto e dado pela multiplica cao de
matrizes:
(b
i
/y
i
) = (y
i
/x
j
) (a
i
/x
j
) (x
i
/y
j
),
ou seja:
(b
i
/y
j
) = (y
i
/x
j
) (a
i
/x
j
) (x
i
/y
j
)
1
.
Segue-se que det(b
i
/y
j
) = det(a
i
/x
j
).
Exemplo: Consideremos a esfera unitaria S
n
R
n+1
, a
qual e reuniao do hemisferio norte U = {p = (x
1
, . . . , x
n+1
)
S
n
; x
n+1
> 0}, mais o hemisferio sul V = {p = (x
1
, . . . ,
x
n+1
) S
n
; x
n+1
< 0} e mais o equador E = {p = (x
1
, . . . ,
x
n+1
) S
n
; x
n+1
= 0}.
Main
2011/2/25
page 105
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: O ESPACO FIBRADO TANGENTE 105
Como sabemos, sao denidos nos hemisferios sistemas
de coordenadas x: U R
n
, y : V R
n
, que consistem
em, simplesmente, desprezar a (n+1)-esima coordenada de
um ponto (de U ou de V ), considerado como ponto de R
n+1
.
Deniremos agora um campo vetorial diferenciavel v sobre
S
n
. No hemisferio sul, poremos v
p
= y
1
y
1
+ + y
n
y
n
,
onde (y
1
, . . . , y
n
) = y(p), p V . Se, porem, p U e um
ponto do hemisferio norte, com x(p) = (x
1
, . . . , x
n
), pore-
mos v
p
=
_
x
1
x
1
+ + x
n
x
n
_
. Para cada ponto p per-
tencente ao equador E, poremos v
p
= (0, . . . , 0, 1) R
n+1
.
E claro que v
p
(S
n
)
p
, para todo p E e, alem disso, nao
ha diculdade em vericar que o campo v, assim denido,
e diferenciavel sobre S
n
(ver gura). As unicas singulari-
dades de v sao o polo norte a = (0, 0, . . . , 0, 1) e o polo
sul b = (0, . . . , 0, 1). A matriz que consta no Lema 3 e
constante, igual `a identidade I no hemisferio sul, e igual a
I no hemisferio norte. Logo, os determinanes correspon-
dentes as singularidades a e b sao respectivamente iguais a
(1)
n
e 1. Assim, os polos sao singularidades simples de v.
O ndice do polo norte relativamente ao campo v e +1 se
n e par e 1 se n e mpar, enquanto o ndice do polo sul e
sempre 1, quer n seja par, quer seja mpar.
Main
2011/2/25
page 106
i
i
i
i
i
i
i
i
106 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Nosso principal objetivo neste captulo sera mostrar que
todo campo vetorial contnuo sobre uma variedade pode ser
arbitrariamente aproximado por um campo diferenciavel
cujas singularidades sao todas simples, e que a soma dos
ndices das singularidades de um campo que so tem singu-
laridades simples e um invariante da variedade compacta
M, isto e, nao depende do campo escolhido. Sendo a no cao
de singularidade simples um caso particular do conceito
geral de transversalidade, faremos um estudo sucinto so-
bre transversalidade no paragrafo seguinte.
3 Transversalidade e suas aplica-
coes
O conceito de aplica cao f : M
m
N
n
transversal a uma
subvariedade S
s
N
n
e uma generaliza cao natural da
no cao de aplica cao que admite um ponto q N como
valor regular. Este conceito vem sistematizar, dentro da
categoria das variedades diferenciaveis, a ideia de guras
que se intersetam em posi cao geral, ideia esta que se a-
presenta como inevitavel em diversas teorias geometricas.
A deni cao de aplica cao transversal e uma variedade foi
dada por Thom [23], a quem se deve tambem o teorema
geral de aproxima cao que daremos a seguir. Para desen-
volvimentos mais elaborados da ideia de transversalidade e
suas aplica coes, o leitor podera consultar a exposi cao [24]
e os trabalhos la citados.
Seja f : M
m
N
n
uma aplica cao diferenciavel. Fixe-
mos tambem uma subvariedade S
s
N
n
. Diremos que f
Main
2011/2/25
page 107
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 107
e transversal a S num ponto p f
1
(S) quando
f
(M
p
) + S
q
= N
q
, q = f(p) S,
isto e, quando a imagem f
(M
p
) N
q
mais o subespa co
S
q
N
q
gerarem o espa co N
q
. Diremos que f e transversal
a S, simplesmente, quando, para todo ponto p f
1
(S),
f for transversal a S no ponto p.
Por exemplo, quando S = {q} reduz-se a um ponto,
f : M N e transversal a q se, e somente se, o ponto q
e um valor regular de f. Quando f(M) S = , entao
f : M N e automaticamente transversal a S. Se f(M)
S = e f e transversal a S, entao m + s n. Ou seja,
quando dim(M) + dim(S) < dim(N), f : M N so pode
ser transversal a S se f(M) S = . Isto ilustra a ideia
intuitiva de que f e transversal a S quando f(M) interseta
S o mnimo possvel. A no cao que acabamos de de-
nir ganha maior conte udo geometrico quando M e S sao
ambas subvariedades de N e f : M N e a aplica cao de
inclusao. Neste caso, diz-se que M e S intersetam-se trans-
versalmente, ou estao em posicao geral, para signicar que
f e transversal a S.
Dada uma variedade M
m
, seja v : M (M) um cam-
po vetorial diferenciavel. Considerando o campo vetorial
identicamente nulo : M (M), o qual determina a
subvariedade (M) (M), a aplica cao diferenciavel v
e transversal a (M) num ponto p v
1
((M)) (isto e,
numa singularidade p do campo v) se, e somente se, p e
uma singularidade simples. As singularidades do campo v
sao todas simples se, e somente se, a aplica cao v e trans-
versal `a subvariedade (M), isto e, as subvariedades v(M),
(M) (M) estao em posi cao geral. Com estas inter-
Main
2011/2/25
page 108
i
i
i
i
i
i
i
i
108 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
preta coes e que aplicaremos os teoremas gerais sobre trans-
versalidade para demonstrar resultados sobre singularida-
des de campos vetoriais.
Seja f : M
m
N
n
uma aplica cao diferenciavel e S
n
N
n
uma subvariedade. Tomemos um sistema de coordena-
das y : V R
n
em N, tal que V S = {q V ; y
s+1
(q) =
= y
n
(q) = 0}. Nas considera coes que faremos agora,
chamaremos R
s
0
ao subespa co de R
n
formado pelos veto-
res (
1
, . . . ,
s
, 0, . . . , 0) que tem as ultimas coordenadas
nulas. Assim, y(V S) = y(V ) R
s
0
, e y
(S
q
) = R
s
0
para todo q V S. Seja : R
n
R
ns
a proje cao
denida por (y
1
, . . . .y
n
) = (y
s+1
, . . . , y
n
), de modo que
( y)
1
(0) = V S, 0 R
ns
. Finalmente, seja U M
um aberto tal que f(U) V . Nestas condi coes, podemos
enunciar o
Lema 3. A aplicacao f : M
m
N
n
e transversal a S em
todos os pontos de U f
1
(S) se, e somente se, 0 R
ns
e um valor regular da aplicacao y f : U R
ns
.
Demonstra cao: Seja pUf
1
(S). ponhamos q=f(p).
A aplica cao f sera transversal a S no ponto p se, e
somente se, f
(M
p
) + S
q
= N
q
. Sendo y
: N
q
R
n
um
isomorsmo e y
(S
q
) = R
s
0
, a ultima condi cao equivale a
(y f)
(M
p
) +R
s
0
= R
n
. Ora, dado um subespa co vetorial
E R
n
, tem-se (E) = R
ns
se, e somente se, E + R
s
0
=
R
n
. Logo, f e transversal a S no ponto p se, e somente se,
(yf)
(M
p
) = R
n+s
. Como Uf
1
(S) = (yf)
1
(0),
concluimos que f e transversal a S em todos os pontos
p U f
1
(S) se, e somente se, 0 e um valor regular de
y f.
Main
2011/2/25
page 109
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 109
M
U
S
N
V
R
n-s
f
p
q
y
y V ( )
y V S ( ) 0
Corolario. Se f : M
m
N
n
e transversal a subvariedade
S
s
N
n
, ent ao f
1
(S
s
) e uma subvariedade de M
m
, de
dimens ao igual a m+ s n.
Com efeito, para cada p f
1
(S), seja q = f(p), e
tomemos um sistema de coordenadas y : V R
n
em N,
com q V , nas condi coes do Lema 3. Escolhamos U
p um aberto tal que f(U) V . Entao U f
1
(S) =
( y f)
1
(0), 0 R
ns
sendo valor regular de y f.
Da resulta que U f
1
(S) e uma subvariedade de U, de
dimensao m (n s) = m + s n. Assim, todo ponto
p f
1
(S) tem uma vizinhan ca U em M tal que a parte
de f
1
(S) em U e uma subvariedade de U. Logo, f
1
(S)
e uma subvariedade de M.
Observa coes: 1) Tomando M
m
como subvariedade de N
n
e f : M
m
N
n
como a aplica cao de inclusao, concluimos
que, se duas subvariedades M
m
, S
s
N
n
estao em posi cao
geral, entao M
m
S
s
e uma subvariedade de M
m
, (donde
de N e de S) cuja dimensao e m + s n.
Main
2011/2/25
page 110
i
i
i
i
i
i
i
i
110 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
2) Como recurso mneumonico para gravar o n umero m+
s n, basta lembrar que dimM dimf
1
(S) = dimN
dimS, ou seja, f
1
(S) tem a mesma codimensao que S.
Antes de demonstrarmos o Lema da Transversalidade
(Teorema 3, a seguir) diremos algumas palavras acerca
de algumas topologias que se podem introduzir no espa co
F(M
m
, N
n
) das aplica coes diferenciaveis de M
m
em N
n
.
Por simplicidade, suporemos que M e compacta, ja que so
teremos ocasiao de utilizar este caso.
Temos, em primeiro lugar, a topolocia C
0
, que pode
ser descrita do seguinte modo. Imergimos M e N num
espa co euclidiano R
k
. Em seguida, dadas f, g : M
m
N
n
diferenciaveis, denimos a distancia
d
0
(f, g) = sup{|f(p) g(p)|; p M},
onde a norma |f(p) g(p)| e a do espa co R
k
. A metrica
d
0
depende, evidentemente, das imersoes de M e N em R
k
mas facilmente se ve que a topologia por ela denida em
F(M
m
, N
n
) e a mesma, quaisquer que sejam essas imersoes.
Esta e a topologia C
0
que e simplesmente a topologia da
convergencia uniforme.
Para nos aqui, sera mais util a topologia C
1
em F(M
m
,
N
n
), para a deni cao da qual come camos tambem com
imersoes M
m
, N
n
R
k
e, a partir destas, introduzimos a
distancia d
1
(f, g) entre duas aplica coes diferenciaveis f, g :
M
m
N
n
como o maior dos dois n umeros abaixo:
d
0
(f, g) e sup{|f
(u) g
(u)|; u M
p
, |u| = 1, p M},
sendo ainda a norma |f
(u) g
(u)| aquela existente en-
tre os vetores de R
k
. Como no caso anterior, a distancia
Main
2011/2/25
page 111
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 111
d
1
(f, g) depende das imersoes de M e N em R
k
, mas a
topologia que esta distancia dene em F(M
m
, N
n
) nao de-
pende das imersoes. Ela e a topologia C
1
e a convergencia
por ela denida signica convergencia uniforme da fun cao
e de todas as suas derivadas.
Teorema 3. Sejam M
m
uma variedade compacta, f : M
m
N
n
uma aplicacao diferenci avel, S
s
N
n
uma subvari-
edade, e X M um subconjunto fechado tal que f e trans-
versal a S em todos os pontos de X f
1
(S). (Em muitas
aplicacoes do teorema, o conjunto X e vazio). Entao, dado
> 0, existe uma aplicacao diferenci avel g : M
m
N
n
tal
que:
d
1
(f, g) < , g e transversal a S, e g coincide com f em X.
Demonstra cao: Sejam y
: Y
R
n
sistemas de coorde-
nadas locais em N, tais que f(M) Y
e cada Y
S
e o conjunto dos pontos de Y
cujas ultimas n s coor-
denadas no sistema y
sao nulas. Sendo imediato que o
conjunto dos pontos de f
1
(S), nos quais f e transversal a
S, e aberto em f
1
(S), podemos obter um aberto U X
em M, tal que f e transversal a S em todos os pontos de
U f
1
(S). Sejam x
: U
R
m
( = 1, . . . , r) sistemas
de coordenadas locais em M tais que U
X = , MU
U
1
U
r
, x
(U
) = B(3) e, pondo V
= x
1
(B(2)),
W
= x
1
(B(1)), os W
ainda cobrem M U. Como
f e contnua, podemos ainda tomar os U
de modo que,
para cada , exista um = () com f(U
) Y
. Se-
jam
1
, . . . ,
r
: M R fun coes reais diferenciaveis em
M, com 0
1,
(W
) = 1,
(M V
) = 0.
Deniremos, indutivamente, uma sequencia de aplica coes
f
0
, f
1
, . . . , f
r
: M N, diferenciaveis, tais que f
0
= f, cada
Main
2011/2/25
page 112
i
i
i
i
i
i
i
i
112 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
f
coincide com f
1
em M U
(donde, em particular,
cada f
coincide com f em X), cada f
e transversal a S
nos pontos de (U Q
1
W
) f
1
(S) e, nalmente,
d
1
(f
, f
1
) < /2
. Uma vez obtidas estas aplica coes, po-
remos simplesmente g = f
r
. Come camos tomando f
0
= f.
Supondo denidas f
0
, . . . , f
1
, passemos `a obten cao de
f
. Seja a
R
ns
um vetor a determinar. Indique-
mos com a
o vetor correspondente em R
n
(cujas primei-
ras s coordenadas sao nulas e as restantes coincidem com
as de a
).
W
V
U
f
-1
Y
()
R
n
y
R
n
R
s
0
a
a
0
Ponhamos entao
f
0
(p) =
_
y
1
(y
(f
1
(p)) +
(p)a
), se p U
;
f
1
(p), se p M U
.
Devemos agora mostrar que a
pode ser determinado de
forma que f
satisfa ca `as propriedades estipuladas para a
Main
2011/2/25
page 113
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 113
indu cao. Em primeiro lugar, examinemos se f
e bem de-
nida e diferenciavel. Para isto, basta mostrar que, na ex-
pressao y
1
(. . . ), o que esta dentro do parenteses pertence
a y
(Y
), para todo p U
. Isto e claro quando p U
pois, neste caso,
(p) = 0. Se porem, p V
, o compacto
y
(f
1
(V
)) estando contido no aberto y
(Y
), basta to-
mar a
de modo que |a
| seja menor do que a distancia
de y
(f
1
(V
)) a R
n
y
(Y
). Em segundo lugar, mos-
traremos que, para todo a
sucientemente pequeno, te-
mos d
1
(f
, f
1
) < /2
. Isto e claro no que se refere
a d
0
(f
, f
1
). Quanto `as derivadas, basta observar que,
para todo p V
, (f
= (f
1
)
e, nos pontos p V
,
para todo u M
p
, com |u| = 1, temos
(f
(u) = (f
1
)
(u) + (y
1
[(
(u) a
].
(Onde (
(u) e um n umero, pois
e uma fun cao real).
Sendo V
compacto, ve-se sem diculdade que existe > 0
tal que, para todo a
R
ns
com |A
| < , a 2
a
parcela
do segundo membro tem modulo inferior a /2
, donde
|(f
(u) f(f
(u)| < /2
. Finalmente, resta mostrar
que a
pode ser escolhido de forma a ter f
transversal a
S em todos os pontos de (U W
1
W
) f
1
(S),
alem de satisfazer `as condi coes anteriores. Como f
=
f
1
em M V
e f
1
e transversal a S nos pontos de
(U W
1
W
1
) f
1
(S), basta mostrar que a
pode ser escolhido de modo que f
seja transversal a S, em
W
f
1
(S) e em K = V
(UW
1
W
1
)f
1
(S).
Armamos que, para ter f
transversal a S nos pontos de
W
f
1
(S), basta tomar a
0
de modo que a
seja valor
regular da aplica cao y
f
1
: U
R
ns
. Com efeito,
se isto acontece, entao 0 sera valor regular da aplica cao
Main
2011/2/25
page 114
i
i
i
i
i
i
i
i
114 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
p y
f
1
(p) + a
, de U
em R
ns
, e portanto a
aplica cao p y
1
(f
1
(p)) +a
), de U
em N, sera trans-
versal a S (Lema 3). Mas esta aplica cao coincide com f
em W
, pois
(p) = 1 para todo p W
. Logo, para
tal escolha de a
, f
sera transversal a S em todos os pon-
tos de W
f
1
(S). Em seguida, mostraremos que existe
> 0 tal que, para todo a
R
ns
com |a
| <
, f
e
transversal a S em todos os pontos do compacto K acima
denido. Isto equivale a provar que, para tais valores de
a
, a aplica cao p y
f
1
(p) +
(p) a
, de U
em R
ns
, tem matriz jacobiana de caracterstica maxima,
n s, em todos os pontos de K. Ora, a matriz jacobiana
desta aplica cao, num ponto p K, e igual a J(p)+L(p)a
,
onde J(p) e a matriz jacobiana, (n s) m, da aplica cao
p y
f
1
(p) e L(p) e a matriz jacobiana, 1 m, da
fun cao real
. (Como U
e o domnio do sistema de coor-
denadas x
, tem sentido falar em matrizes jacobianas. Es-
tamos sempre usando as coordenadas do sistema x
. Para
efeito de multiplicar matrizes, consideramos tambem os ve-
tores como colunas). Pela hipotese de indu cao, para cada
p K, a matriz J(p) tem caractersitca maxima, n s,
pois f
1
e transversal a S nos pontos de K. Assim, o
conjunto {J(p); p K} e tambem compacto, donde limi-
tado no conjunto de todas as matrizes 1m. Assim, existe
um
> 0 tal que, para todo a
R
ns
com |a
| <
, a
matriz produto L(p) a
(de ordem (n s) m) satisfaz
a |L(p) a
| <
qualquer que seja p K, e portanto
J(p) +K(p) a
tem caracterstica ns, para todo p K.
Isto mostra que, para a
R
ns
com |a
| <
, f
e trans-
versal a S em todos os pontos de K. Como certamente
entre estes a
s existe um tal que a
e valor regular de
Main
2011/2/25
page 115
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 115
y
f
1
: U
R
ns
com este a
teremos tambem
(como foi provado acima) f
transversal a S nos pontos de
W
f
1
(S), o que conclui a demonstra cao.
Teorema 4. Todo campo vetorial diferenci avel v : M
(M) pode ser arbitrariamente aproximado (na topologia
C
1
) por um campo cujas singularidades s ao todas simples.
Demonstra cao: Consideremos o campo vetorial identica-
mente nulo : M (M). Fazendo S = (M) no Teorema
3, vemos que e possvel aproximar arbitrariamente (na to-
pologia C
1
) a aplica cao v : M (M) por uma aplica cao
g : M (M) que e transversal a (M). Infelizmente,
porem, nada nos garante que g seja um campo vetorial (isto
e, que se tenha g = identidade, onde : (M) M e a
proje cao canonica). Nem ao menos sabemos que g e uma
imersao. Entretanto, e um fato que o conjunto dos dife-
omorsmos de M sobre M e um aberto na topologia C
1
de F(M, M). (Isto acha-se demonstrado explicitamente
em [13], pag. 187, apenas para difeomorsmos de M num
espa co euclidiano R
k
, mas a demonstra cao se aplica ipsis
literis para o caso presente). Ora, a identidade (= v)
e um difeomorsmo de M. Logo, se g estiver suciente-
mente proximo de v na topologia C
1
, entao = g estara
tambem sucientemente proximo de v (= identidade) de
modo a ser ainda um difeomorsmo. Consideremos entao
a aplica cao diferenciavel w = g
1
: M (M). Como
w = g
1
= (g)(g)
1
= identidade, vemos que
w e um campo vetorial. Alem disso, como g e transversal
a (M) e
1
: M M e um difeomorsmo, e claro que
w = g
1
e tambem transversal a (M). Finalmente,
escolhendo g bastante proxima de v, e possvel fazer
1
Main
2011/2/25
page 116
i
i
i
i
i
i
i
i
116 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
arbitrariamente proximo da identidade, logo podemos ob-
ter tambem w = g
1
arbitrariamente proximo de v, o
que conclui a demonstra cao.
Deniremos agora o importante conceito de n umero de
interse cao de duas subvariedades, contidas numa variedade
maior.
Sejam M
n
, S
s
subvariedades compactas de uma varie-
dade N
m+s
, cuja dimensao e a soma das dimensoes de M
e S. Suporemos inicialmente, tambem, que M, S e N sao
orientadas, e que M e S estao em posicao geral em N (isto
e, a aplica cao de inclusao f : M N e transversal a S).
Nestas condi coes, M S e uma subvariedade fechada de
dimensao 0 de M, donde M S = {p
1
, . . . , p
r
} e formada
por um n umero nito de pontos. Para denir o n umero
de interse cao M#S das variedades M e S em N, a ordem
(primeiro M, depois S) e importante. Em muitos casos,
teremos M#S = S#N. Dado M S = {p
1
, . . . , p
r
},
como M e S estao em posi cao geral, para cada i = 1, . . . , r
temos N
p
i
= M
p
i
S
p
i
. Diremos que o ponto p
i
MS e
positivo, ou negativo (aqui a ordem (M, S) entra em jogo)
conforme uma base positiva {e
1
, . . . , e
m
} M
p
i
, seguida
de uma base positiva {e
1
, . . . , e
s
} S
p
i
, de origem a uma
base positiva ou negativa {e
1
, . . . , e
m
, e
1
, . . . , e
s
} de N
p
i
.
Deniremos entao M#S como o n umero algebrico de pon-
tos em M S, isto e, o n umero de pontos positivos me-
nos o n umero de pontos negativos em M S. Ve-se que
M#S = (1)
ms
S#M.
O leitor facilmente construira exemplos onde se podem
calcular n umeros de interse cao de curvas. (Aten cao: em
R
n
, ou na esfera S
n
(n > 1) estes n umeros serao sempre
zero, em virtude do Teorema 5, juntamente com o fato
Main
2011/2/25
page 117
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 117
de que duas curvas quaisquer nestes espa cos sao sempre
homotopicas a curvas disjuntas, sendo claro que M S =
M#S = 0). Uma variedade simples e interessante
para esses exemplos e o toro.
Ha um caso bastante importante, em que se pode denir
o n umero de interse cao M#S, sem supor que M e S sejam
orientaveis.
E quando se tem dois campos vetoriais dife-
renciaveis v, w: M (M), sobre a variedade compacta
M, a qual pode nao ser orientavel. Entao v(M) e w(M) sao
subvariedades de variedade (sempre orientavel, e natural-
mente orientada!) (M), as quais suporemos estarem em
posi cao geral. (No caso que nos interessa mais de perto, em
que w = campo identicamente nulo, isto signicara que
as singularidades de v sao todas simples). Entao o conjunto
v(M) w(M) e nito e esta em correspondencia biunvoca
com o conjunto (v(M) w(M)) = {p
1
, . . . , p
r
} M. Os
p
i
sao precisamente os pontos de M tais que v(p
i
) = w(p
i
).
( ) M
w M ( )
v M ( )
M
p
1
p
2
p
3
Diremos que um desses pontos p
i
e positivo se, dada uma
base qualquer {e
1
, . . . , e
m
} M
p
i
, o conjunto {v
(e
1
), . . . ,
v
(e
m
), w
(e
1
), . . . , w
(e
m
)}, assim ordenado, for uma base
positiva em (M), no ponto v(p
i
) = w(p
i
). Mudando a
base em M
p
i
, a nova base asssim obtida em (M)
v(p
i
)
difere
Main
2011/2/25
page 118
i
i
i
i
i
i
i
i
118 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
da anterior por uma matriz cujo determinante e o quadrado
do determinante da mudan ca de base em M
p
i
. Logo o
conceito de ponto positivo e bem denido. Quando p
i
nao for positivo, diremos que ele e negativo.
Deniremos entao v(M)#w(M), o n umero de interse-
cao dessas duas suvariedades de (M), ou o n umero de
coincidencias dos dois campos vetoriais v e w, como o
n umero algebrico de pontos em v(M) w(M), isto e, o
n umero de pontos positivos p
i
acima considerados, menos o
n umero de pontos negativos. Em particular, v(M)#(M)
e a soma dos ndices das singularidades (supostas todas
simples) do campo v, conforme denimos no paragrafo an-
terior.
Assim, o n umero de coincidencias de dois campos veto-
riais e mesmo a soma dos ndices das singularidades (sim-
ples) de um campo, nao e um caso particular da no cao ge-
ral de n umero de interse cao de duas subvariedades, exceto
quando os campos vetoriais em questao acham-se denidos
numa variedade orientavel, pois o n umero de interse cao s o
tem sentido, em geral, para subvariedades orientadas. De-
senvolveremos aqui, apenas, considera coes acerca do n ume-
ro de interse cao de subvariedades. Assim, com todo o rigor,
poderemos aplicar os resultados obtidos apenas para cam-
pos vetoriais sobre variedades (compactas) orientaveis. En-
tretanto, usaremos livremente esses resultados para campos
vetoriais sobre quaisquer variedades compactas. Justica-
remos o nosso procedimento com as seguintes pondera coes:
1
o
)
E facil adaptar as demonstra coes dadas, para o caso
restante:
2
o
) Dado um campo vetorial v sobre uma variedade
nao orientavel M, com singularidades todas simples, to-
Main
2011/2/25
page 119
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 119
mamos o recobrimento duplo orientavel
M de M. A v
corresponde sobre
M um campo vetorial v, cujas singulari-
dades sao tambem simples. Para cada singularidade p de v
existem duas singularidades de v, com o mesmo ndice de
p. Assim, a soma dos ndices das singularidades de v, isto
e, v(
M)#(
M), e igual a 2[v(M)#(M)].
O fato principal a respeito do n umero de interse cao
M#S e que ele permanece invariante quando se submete
uma das subvariedades M ou S (ou ambas) a uma de-
forma cao em N. Para lidar com este problema conve-
nientemente, e tambem para incluir a no cao de grau de
uma aplica cao como caso particular da no cao de n umero
de interse cao, vamos generalizar um pouco mais esta ultima
no cao.
Sejam entao M
m
, S
s
, N
m+s
variedades orientadas, as
duas primeiras compactas, com S
s
N
m+s
. Consideremos
uma aplica cao diferenciavel f : M
m
N
m+s
, transversal
`a subvariedade S N. Embora f(M) nao seja necessa-
riamente uma subvariedade de N, deniremos o n umero
de interse cao f(M)#S, de modo analogo ao caso ante-
rior. Pelo Corolario do Lema 3, f
1
(S) e uma subvarie-
dade (fechada) de dimensao 0 de M. Logo consta de um
n umero nito de pontos: f
1
(S) = {p
1
, . . . , p
r
}. Ponhamos
q
i
= f(p
i
). Para cada i, temos f
(M
p
i
) S
q
i
= N
q
i
, devido
`a transversalidade. Diremos que p
i
e um ponto positivo ou
negativo conforme a imagem por f
de uma base positiva
de M
p
i
, seguida de uma base positiva de S
q
i
, de uma base
positiva ou negativa de N
q
i
. Deniremos f(M)#S como o
n umero algebrico de pontos de f
1
(S).
Dada uma aplica cao diferenciavel f : M
m
N
n
(M, N
compactas, orientaveis) e um ponto p N, f e transversal
Main
2011/2/25
page 120
i
i
i
i
i
i
i
i
120 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
`a subvariedade {p} N se, e somente se, p e um valor
regular de f. Neste caso, temos imediatamente gr
p
(f) =
f(M)#{p}, o que inclui a no cao de grau como caso parti-
cular deste conceito generalizado de n umero de interse cao.
Teorema 5. Sejam M
m
, S
s
, N
m+s
, com S
s
N
m+s
,
variedades orientadas, as duas primeiras sendo compactas.
Sejam f, g : M
m
N
m+s
aplicacoes diferenci aveis, trans-
versais `a subvariedade S. Se f e g s ao homot opicas, ent ao
f(M)#S = g(M)#S.
Demonstra cao: Seja F : M I N uma homotopia di-
ferenciavel entre f e g. Usando o Teorema 3, com X =
(M 0) (M 1) e, digamos, = 1, obtemos uma ho-
motopia H: M I N, entre f e g, a qual e transversal
a S. A imagem inversa H
1
(S) e uma subvariedade com-
pacta, de dimensao 1, de M I, a qual possui, portanto,
um n umero nito de componentes conexas, cada uma de-
las homeomorfa a um segmento de reta compacto ou a um
crculo. Facilmente se ve (como na demonstra cao do Te-
orema 10, 6, Captulo II) que estes crculos nao tem
pontos em comum com M 0 nem com M 1, e que as
extremidades desses segmentos formam precisamente o
conjunto f
1
(S) g
1
(S) = {a
1
, . . . , a
r
}{b
1
, . . . , b
k
}. As-
sim, um segmento em H
1
(S) ou liga um ponto a
i
a um
ponto b
j
, ou liga dois pontos a
i
, a
j
ou entao liga um ponto
b
i
a um ponto b
j
. Para mostrar que f(M)#S = g(M)#S,
tudo o que nos resta fazer e provar que, se um segmento
liga um ponto a
i
a um ponto b
j
, estes pontos tem o mesmo
sinal e, nos outros dois casos, as extremidades (a
i
, a
j
), ou
(b
i
, b
j
) do segmento tem sinais opostos. Para isto, observe-
mos inicialmente que cada um dos segmentos em questao e
Main
2011/2/25
page 121
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 121
transversal a M0 ou a M1 em suas extremidades (isto
e, numa extremidade a
i
, o vetor tangente do segmento nao
pode ser tangente a M0, nem ser tangente a M1 numa
extremidade b
j
).
N
S
H
b
1
b
2
b
3
b
4
b
5
a
1
a
2
a
3
Se uma tal coisa acontecesse, concluiramos, por exem-
plo, que f
(M
a
i
) teria um vetor nao nulo em comum com
S
f(a
i
)
, o que estaria em contradi cao com a transversali-
dade de f. Em seguida consideremos, para xar as ideias,
um segmento L, ligando a
i
M 0 a b
j
M 1, em
H
1
(S). Seja L(), 0 1, uma parametriza cao de
L, com L(0) = a
i
, L(1) = b
j
e tal que v(), o vetor
tangente a L no ponto L(), e sempre = 0. Considere-
mos tambem as famlias de vetores v
1
(), . . . , v
m
(), de-
pendendo diferenciavelmente de , tais que para cada ,
{v
1
(), . . . , v
m
(), v()} seja uma base positiva do espa co
vetorial tangente a MI no ponto L() e {v
1
(), . . . , v
m
()}
seja, para = 0, uma base de M
a
i
, e para = 1 uma base
de M
b
j
. (Estas duas condi coes de contorno podem ser
satisfeitas porque, em suas extremidades, L e transversal
Main
2011/2/25
page 122
i
i
i
i
i
i
i
i
122 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
a M 0 e M 1). Entao as bases {v
1
(0), . . . , v
m
(0)}
M
a
i
e {v
1
(1), . . . , v
m
(1)} M
b
j
tem o mesmo sinal. (Se,
pelo contrario, as extremidades de L fossem ambas do tipo
a
i
, a
j
M 0, por exemplo, estas bases teriam sinais
opostos (Vide diagrama a seguir). Agora observemos
o seguinte: em cada ponto L() M I, pondo q =
H(L()) S, indicando com [H
v
1
(), . . . , H
v
m
()] o
subespa co de S
q
gerado pelos vetores dentro dos colche-
tes, temos [H
v
1
(), . . . , H
v
m
()] S
q
= N
q
, em virtude
da transversalidade de H. Assim, os
v()
v()
v
1
()
v
1
()
vetores H
(v
k
()) nesta ordem, seguidos de uma base > 0
de S
q
, formam uma base de N
q
, a qual tem o mesmo si-
nal para todo valor de , devido `a conexidade de L. To-
mando = 0, = 1, notando que H
(v
k
(0)) = f
(v
k
(0)),
H
(v
k
(1)) = g
(v
k
(1)), e que as bases {v
k
(0)} M
a
i
e
{v
k
(1)} M
b
j
tem o mesmo sinal, concluimos que os pon-
tos a
i
e b
j
tem o mesmo sinal. De modo analogo racioci-
naramos nos dois casos restantes.
Main
2011/2/25
page 123
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: TRANSVERSALIDADE E SUAS APLICAC
OES 123
Corolario 1. Sejam M
m
, N
m
variedades orientadas, onde
M e compacta. Sejam f, g : M
m
N
m
, aplicacoes dife-
renci aveis que admitem o mesmo ponto p N como valor
regular. Se f g, ent ao gr
p
(f) = gr
p
(g).
Corolario 2. Sejam M
m
, N
m
nas condi coes do Corolario
1, e f : M
m
N
m
diferenci avel. Se N for conexa ent ao,
quaisquer que sejam p, q N, tem-se gr
p
(f) = gr
q
(f).
O argumento para demonstrar o Corolario 2 e o mesmo
que serviu para deduzir do Teorema 10, 6, Captulo II o
seu Corolario. (Vide a Observa cao que segue aquele Co-
rolario).
Corolario 3. Seja M
m
uma variedade compacta (orienta-
vel ou n ao) e y, w: X (M) campos vetoriais diferenci a-
veis tais que as subvariedades v(M), w(M) (M) est ao
em posicao geral. Entao o n umero de coincidencias v(M)#
w(M) n ao depende dos campos escolhidos v e w.
Com efeito, seja v
: M (M) um novo campo dife-
renciavel, ainda transversal a w(M). A aplica cao H: M
I (M) dada por H(p, t) = (1 t)v(p) + tv
(p) e uma
homotopia entre v e v
. Segue-se do Teorema 5, entao que
v(M)#w(M) = v
(M)#w(M). Do mesmo modo racioci-
naramos com w.
Teorema 6. Seja M uma variedade compacta. A soma
dos ndices de um campo vetorial diferenci avel sobre M cu-
jas singularidades s ao todas simples e um invariante de M,
isto e, n ao depende da escolha do campo nestas condi coes.
Demonstra cao: Isto decorre imediatamente do Corolario
3 pois se v : M (M) e um campo diferenciavel cujas
Main
2011/2/25
page 124
i
i
i
i
i
i
i
i
124 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
singularidades sao todas simples entao a soma dos ndices
das singularidades de v e igual ao n umero de coincidencias
v(M)#(M) de v com o campo vetorial identicamente nulo
e este n umero, pelo Corolario 3, nao depende do campo v.
Corolario. Seja M
m
uma variedade compacta de dimens ao
mpar. Se um campo diferenci avel v : M (M) possui
apenas singularidades simples, a soma dos ndices dessas
singularidades e igual a 0.
Com efeito, pelo Teorema 6, a soma dos ndices das
singularidades do campo v e a mesma que de v. Mas as
singularidades de v sao as mesmas que as de v e, numa
destas singularidades p o ndice em rela cao a v e o sinal de
um determinante det
_
a
i
x
j
_
, enquanto o ndice em rela cao
a v e o sinal de det
_
a
i
x
j
_
= (1)
m
det
_
a
i
x
j
_
Logo
= (1)
m
, donde = 0.
Uma outra alternativa para demonstrar este Corolario
e a seguinte: = v(M)#(M) = (1)
m
2
(M)#v(M).
Por outro lado, sendo v , temos v(M) = (M) =
(M)#v(M). Como m e mpar, vem = 0.
4 A caracterstica de Euler de uma
variedade
Seja M uma variedade diferenciavel compacta. No paragra-
fo anterior, mostramos que a soma dosndices das singulari-
dades de um campo vetorial diferenciavel sobre M, quando
essas singularidades sao todas simples, e um n umero inteiro
intrinsecamente associado a M: nao depende do campo
Main
2011/2/25
page 125
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: A CARACTER
ISTICA DE EULER DE UMA VARIEDADE 125
escolhido. A este n umero, chamaremos caracterstica de
Euler de M e o indicaremos com o smbolo (M).
O principal problema associado a esta deni cao consiste
em calcular (M) quando se tem informa coes sobre M.
Neste paragrafo, apresentaremos uma breve discussao desse
problema. Consideraremos uma serie de casos.
1) A esfera S
n
. Quando n e mpar, (S
n
) = 0. Quando
n e par, (S
n
) = 2. Com efeito, para n mpar existe so-
bre S
n
um campo vetorial diferenciavel sem singularidades
(Teorema de Poincare-Brouwer). Para n par, foi construido
sobre S
n
(2) um campo diferenciavel com duas singulari-
dades simples, ambas com ndice igual a 1.
2) Variedades de dimens ao mpar. Se M
m
e uma va-
riedade compacta cuja dimensao m e um n umero mpar,
entao (M) = 0, conforme resulta do 3.
3) Variedades desconexas. Se M
m
= M
m
1
M
m
k
e uma reuniao disjunta de variedades compactas, entao
(M) = (M
1
) + + (M
k
). Em particular, se M e
uma variedade compacta de dimensao 0, formada por k
pontos, entao (M) = k.
4) (MN) = (M) (N). Seja M
m
N
n
o produto
cartesiano de duas variedades compactas M
m
e N
n
. Dados
os campos vetoriais diferenciaveis u sobre M e v sobre N,
cujas singularidades sao todas simples, seja w = u v o
campo vetorial, sobre M N, tal que, para todo (p, q)
MN, w
(p,q)
= u
p
v
q
(MN)
(p,q)
= N
p
N
q
. As sin-
gularidades de w sao os pontos (p, q) MN tais que p e
uma singularidade de v e q e uma singularidade de q. Cada
singularidade (p, q) de w e simples, como se verica imedia-
tamente atraves do criterio de determinantes introduzidos
Main
2011/2/25
page 126
i
i
i
i
i
i
i
i
126 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
no 2. Realmente se x e y sao sistemas de coordenadas
em M e N, validos em torno de p e q respectivamente,
entao z = x y e um sistema de coordenadas em M N,
valido em torno de (p, q). Sejam u = a
i
x
i
a expressao
do campo u no sistema y, e v = b
j
y
j
a expressao de v
no sistema y. Como
z
k
=
x
k
(k = 1, . . . , m),
z
k
=
y
km
(k = m + 1, . . . , m + n), temos w = c
k
z
k
, com c
k
= a
k
(k = 1, . . . , m) e c
k
= b
km
(k = m + 1, . . . , m + n). Por
conseguinte, a matriz
_
c
k
z
1
_
assume a forma
_
c
k
z
i
_
=
_
_
_
a
i
x
j
_
0
0
_
b
i
y
i
_
_
_
,
donde det
_
c
k
z
1
_
= det
_
a
i
x
j
_
det
_
b
i
y
j
_
Sendo p e q singu-
laridades simples, segue-se que det
_
c
k
z
i
_
= 0, donde (p, q)
e uma singularidade simples de w. Alem disso, se indicar-
mos com p
1
, . . . , p
r
as singularidades de u, com q
1
, . . . , q
s
as singularidades de v, com
i
o ndice de p
i
, com
j
o
ndice de q
j
e com
ij
o ndice de (p
i
, q
j
), a expressao acima
mostra que
ij
=
i
j
para todos o valores de i e j em
considera cao. Logo
(M N) =
i,j
ij
=
i,j
i
j
=
j
_
i
_
j
=
j
(M)
j
= (M)
j
= (M) (N).
Assim, por exemplo, como (S
1
) = 0 e o toro T
2
e igual a
S
1
S
1
, temos (T
2
) = 0 0 = 0.
Main
2011/2/25
page 127
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: A CARACTER
ISTICA DE EULER DE UMA VARIEDADE 127
5) Espacos de recobrimento. Sejam M
m
, N
m
variedades
compactas, de mesma dimensao m, e : M
m
N
m
uma
aplica cao diferenciavel tal que
: M
p
N
q
(q = (p))
e sempre um isomorsmo. Da resulta (use o Escolio que
segue o Lema 4, do Captulo II) que, para N conexa, a ima-
gem inversa
1
(q) de cada ponto q N possui o mesmo
n umero k de elementos. Diz-se entao que : M N e
um recobrimento com k folhas. Armamos que, neste
caso, tem-se (M) = k (N). Com efeito, seja u um
campo vetorial sobre N, cujas singularidades q
1
, . . . , q
r
sao
todas simples. Seja
i
o ndice da singularidade q
i
. Temos
(N) =
i
. Construamos um campo vetorial v sobre M
pondo v
p
= (
)
1
(u
q
), para todo p M, onde q = (p).
E imediato que v e um campo diferenciavel sobre M (use
o Lema 4, Captulo II), cujas singularidades sao os pontos
p
ij
tais que (p
ij
) = q
i
(i = 1, . . . , r; j = 1, . . . , k). Ve-
se tambem que o ndice de cada p
ij
e igual ao ndice de
q
i
= (p
ij
). Resulta da que a soma dos ndices dos p
ij
e igual a (M) = k
i
= k (N). Por exemplo, a
proje cao canonica : S
n
P
n
, da esfera S
n
sobre o espa co
projetivo P
n
, e um recobrimento de duas folhas. Logo,
(P
n
) =
1
2
(S
n
) = 1 se n e par e = 0 se n e mpar.
6) Espacos brados. Este exemplo incluira como casos
particulares os exemplos 4) e 5). Seja : M
m
N
n
uma
bra cao diferenciavel, com bra tpica F
mn
, sendo M, N,
F variedades compactas. Armamos que (M) = (N)
(F). Com efeito, sejam u, sobre N, e v, sobre F, campos
vetoriais diferenciaveis cujas singularidades p
1
, . . . , p
r
N
e q
1
, . . . , q
s
F sao todos simples. Seja {V
} ( = 1, . . . , r)
uma cobertura nita de N tal que cada singularidade de
u pertence a um aberto V
somente e, para cada , existe
Main
2011/2/25
page 128
i
i
i
i
i
i
i
i
128 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
um difeomorsmo
:
1
(V
) V
F. Seja ainda {
}
uma parti cao da unidade subordinada a cobertura {V
}.
Para cada = 1, . . . , r, consideremos o campo w
= u v
sobre V
F, construido como no exemplo 4), a partir dos
campos u, sobre V
, e v, sobre F. Denamos, em seguida,
um campo vetorial diferenciavel w, sobre M, pondo, para
cada p M, w
p
=
((p)) (w
)
q
, q =
(p). As
singularidades de w sao os pontos p M tais que a = (p)
e uma singularidade de u (que pertence a uma unica V
)
e
(p) = (a, b), onde b F e uma singularidade de v.
Pelo que vimos no exemplo 4), ve-se que p e simples e seu
ndice e o produto do ndice de a pelo ndice de b. Conclui-
se sem diculdade que (M) = (N) (F). Assim, por
exemplo, se N
n
R
n+k+1
e uma subvariedade compacta e
T
2
(N) e uma vizinhan ca tubular de N com amplitude 4
(i.e., raio 2), seja M = T
(N) = fronteira de T
(N) em
T
2
(N) = conjunto dos pontos pT
2
(N) tais que |p
(p)
| =
. Entao a proje cao , restrita a M, dene uma bra cao
: M N cuja bra tpica e a esfera de raio e dimensao
k. M identica-se canonicamente com o espa co brado dos
vetores unitarios normais a N em R
n+k+1
. Temos entao
(M) = (N) (S
k
). Logo (M) = 2(N) se k e par, e
(M) = 0 se k e mpar.
7) Supercies compactas. Seja M
2
uma superfcie com-
pacta orientavel, de genero g. Isto e, M
2
e uma esfera com
g buracos. Armamos que (M
2
) = 2 2g. Para isto,
imaginemos M
2
colocada verticalmente em R
3
e consi-
deremos sobre M
2
o campo vetorial dado pelo gradiente
da fun cao altura (a fun cao : M
2
R tal que (p) = z,
onde p = (x, y, z) R
3
). Na gura da pagina seguinte,
Main
2011/2/25
page 129
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: A CARACTER
ISTICA DE EULER DE UMA VARIEDADE 129
temos uma superfcie de genero 2 (dois buracos) situada
verticalmente em R
3
. Os pontos a,b,c,d,e,f assinalados sao
as singularidades do gradiente da fun cao altura. Como se
sabe, o vetor gradiente e perpendicular, em cada ponto `a
curva de nvel que passa por aquele ponto. Neste caso, as
curvas de nvel sao simplesmente as interse coes de M
2
com
os varios planos horizontais. Ve-se portanto que as singu-
f
e
d
c
b
a
laridades a e f tem ndice 1 e as demais (que sao pon-
tos de sela) tem ndice 1. Logo (M) = 2 = 2 2g.
Este raciocnio e geral, aplicando-se a uma superfcie com-
pacta orientavel, de genero g arbitrario. Quando M
2
nao
e orientavel, temos (M
2
) =
1
2
(
M
2
), onde
M
2
e o re-
cobrimento duplo orientavel de M
2
. Este processo nos da
novamente que as caractersticas de Euler da esfera S
2
e do
toro T
2
sao 2 e 0 respectivamente. O plano projetivo P
2
e a
garrafa de Klein K
2
, admitindo, respectivamente, S
2
e T
2
como recobrimento duplo orientavel, tem caractersticas de
Euler iguais a 1 e 0, respectivamente. Estas sao as unicas
Main
2011/2/25
page 130
i
i
i
i
i
i
i
i
130 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
superfcies compactas com (M) 0. Para as demais,
g > 1, donde (M) = 2 2g < 0 (caso orientavel) ou
(M) = 1 g < 0 (caso nao orientavel).
7
) Superfcies compactas: novo metodo. Seja M
2
uma
superfcie compacta. Desta vez nao distinguiremos o caso
orientavel do nao orientavel. Consideremos uma trian-
gula cao de M
2
, isto e, uma cole cao de triangulos cur-
vilneos (imagens difeomorfas de triangulos do plano) que
cobrem M
2
, de tal modo que dois quaisquer deles, ou nao
se intersetam, ou tem somente um vertice em comum, ou
entao tem precisamente um lado em comum. Seja
0
o
n umero de vertices,
1
o n umero de arestas (lados dos
triangulos) e
2
o n umero de faces (triangulos) desta tri-
angula cao. Vamos denir um campo vetorial v sobre M
2
e
mostrar que a soma dos ndices das singularidades de v e
igual a
0
1
+
2
. Assim, qualquer que seja a triangula cao
de M
2
, teremos (M
2
) =
0
1
+
2
. Na esfera S
2
, u-
sando a nota cao classica da Geometria Elementar: V =
0
,
A =
1
, F =
2
, obteremos V F + A = 2, que e o teo-
rema classico de Euler para poliedros, justicando assim o
nome dado a (M). Passemos entao a construir o campo v,
associado `a triangula cao de M
2
. Em vez de denir v expli-
citamente, daremos as suas curvas integrais, devidamente
orientadas, o que vem a ser o mesmo. Come camos subdi-
vidindo baricentricamente cada triangulo de M
2
. (Isto e,
subdividimos cada triangulo de M
2
em 6 outros, tra cando
suas 3 medianas). Em seguida, enchemos cada triangulo
com as linhas integrais do campo. Cada linha integral
parte sempre do centro de um elemento de dimensao me-
nor para o centro de um elemento de dimensao maior: de
um vertice para o meio de um lado, de um vertice para o
Main
2011/2/25
page 131
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: A CARACTER
ISTICA DE EULER DE UMA VARIEDADE 131
centro do triangulo, ou do meio de um lado para o centro
do triangulo. (Vide gura).
Cada elemento (vertice, aresta ou face) contribui precisa-
mente com uma singularidade do campo. O centro deste
elemento e um ponto singular. Assim, o campo v tera
0
+
1
+
2
singularidades. Acontece, porem, que num
vertice as curvas integrais todas saem daquele ponto. Ja
no centro de um triangulo, todas as curvas integrais en-
tram. Em qualquer destes dois casos, o ndice da singulari-
dade e 1. No meio de um lado, porem, ha curvas integrais
que entram e outras que saem. Tem-se a um ponto de
sela classico. (Vide, por exemplo Hurewicz Dierential
Equations). Entao o ndice desse ponto e 1. Assim, a
soma dos ndices das singularidades do campo v e igual a
1
+
2
.
8) Primeira express ao geral. A teoria da homologia en-
sina a associar a cada variedade compacta M
n
, n umeros
Main
2011/2/25
page 132
i
i
i
i
i
i
i
i
132 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
inteiros 0 b
0
, b
1
, . . . , b
n
. Cada b
i
e chamado o n umero de
Betti de dimens ao i. (Veja [21]). Tem-se entao (M) =
(1)
i
b
i
. Ha varias maneiras de demonstrar esta formula,
mas nenhuma delas pode ser exposta com todos os deta-
lhes aqui, pois sao necessarios os recursos da teoria da ho-
mologia. Esbo caremos dois metodos de demonstra cao. O
primeiro utiliza a Teoria de Morse. Existe pelo menos uma
fun cao real diferencavel f : M R cujo campo gradiente
(relativamente a uma metrica riemanniana arbitraria) so
admite singularidades simples. Na realidade, o conjunto
destas fun coes e denso na topologia C
1
das fun coes reais
diferenciaveis em M. (Vide [19] pag. 30). A teoria de
Morse implica que a soma dos ndices das singularidades
deste campo vetorial gradiente e igual a (1)
i
b
i
. (Vide
[14], pag. 117). Logo, (M) = (1)
i
b
i
. O segundo
metodo de demonstra cao utiliza o teorema dos pontos -
xos de Lefschetz. (Vide [21], ultimo captulo). Segundo
este teorema, a cada ponto xo isolado de uma aplica cao
contnua f : M M, associa-se um n umero, chamado
o ndice do ponto xo, de tal modo que, se f identi-
dade, entao a soma dos ndices dos pontos xos de f e
igual a (1)
i
b
i
. Ora, um campo vetorial v sobre M, cu-
jas singularidades sao todas simples, determina um grupo
{
t
; t R} de difeomorsmos de M (vide 1), todos ho-
motopicos `a identidade. Existe um t tal que os unicos pon-
tos xos de
t
: M M sao as singularidades de v. O
ndice de uma singularidade p M coincide com o ndice
do ponto xo p de
t
. Logo, a soma dos ndices das singu-
laridades de v e igual a (1)
i
b
i
.
Entre o exemplo 8) e o seguinte, observamos que os
n umeros de Betti sao denidos para uma classe de espa cos
Main
2011/2/25
page 133
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 4: A CARACTER
ISTICA DE EULER DE UMA VARIEDADE 133
topologicos muito mais geral do que a classe das variedades
diferenciaveis compactas e, para um espa co X desta classe,
a expressao (X) = (1)
i
b
i
serve de deni cao para a
caracterstica de Euler.
8
) Segunda express ao geral. Assim como o exemplo
8) constitui-se uma generaliza cao direta do exemplo 7),
este exemplo sera uma generaliza cao do calculo feito em
7
). Nao somente as superfcies compactas, mas todas as
variedades diferenciaveis compactas M
n
podem ser trian-
guladas. Para uma demonstra cao deste fato, veja-se [25],
pags. 124 e 135. Dada uma triangula cao de M
n
, indi-
quemos com
i
o n umero de faces de dimensao i dessa
triangula cao (i = 1, . . . , n). Utilizando um processo intei-
ramente analogo ao de 7
), constroi-se sobre m um campo
vetorial diferenciavel, cujas singularidades, todas simples,
sao os baricentros das faces da triangula cao. E a singulari-
dade correspondente a uma face de dimensao i tem ndice
(1)
i
. Segue-se que a soma dos ndices das singularidades
de v, ou seja (M), e igual a (1)
i
i
. Em particular,
tem-se (1)
i
i
= (1)
i
b
i
, resultado que, de resto, e
valido para todos os espa cos triangulaveis. Para maiores
detalhes a respeito da constru cao do campo v neste caso
geral, veja-se [22], pag. 202.
9) Hipersuperfcies. Mostraremos, no captulo seguinte,
que se M
n
e uma variedade compacta que pode ser imersa
em R
n+1
(ou seja, se M
n
e uma hipersuperfcie) entao
(M
n
) e um n umero par. Com efeito, teremos (M
n
) = 0
se n for mpar e (M
n
) = 2 vezes o grau da aplica cao
normal de Gauss, para n par.
Main
2011/2/25
page 134
i
i
i
i
i
i
i
i
134 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
5 A nocao de grau local
Desejamos estender o conceito de ndice de uma singula-
ridade de um campo vetorial, a m de abranger todas as
singularidades isoladas, sejam elas simples ou nao. Ondice
agora podera assumir qualquer valor inteiro, e sera denido
como o grau local de uma certa aplica cao associada ao
campo. No caso de uma singularidade simples, o ndice
tera o valor 1, e coincidira com o ja denido no 2.
Trataremos, neste paragrafo, do conceito de grau local.
Sejam X, Y espa cos topologicos. Uma aplica cao cont-
nua f : X Y diz-se uma equivalencia homot opica quando
existe uma aplica cao contnua g : Y X tal que g f
id: X X e f g id: Y Y . Neste caso, g chama-se
uma equivalencia inversa de f e os espa cos X, Y dizem-se
ter o mesmo tipo de homotopia.
Por exemplo, dado a R
n
, seja B = B
n
(a; ) a bola
fechada de centro a e raio > 0 em R
n
. Armamos que
B a e a esfera unitaria S
n1
tem o mesmo tipo de ho-
motopia. Com efeito, sejam =
a,
: B a S
n1
e
j = j
a,
: S
n1
B a as aplica coes denidas por
(x) =
x a
|x a|
, j(y) = a +y.
Temos j = id: S
n1
S
n1
e tambem j id: B
a Ba. Para vericar este ultimo fato, basta considerar
a homotopia F : (B a) I B a, onde
F(x, t) = (1 t)
_
a +
x a
|x a|
_
+ tx.
Fazendo = no exemplo acima, obtemos B = R
n
.
Continuamos tendo R
n
a e S
n1
do mesmo tipo de homo-
Main
2011/2/25
page 135
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: A NOC
AO DE GRAU LOCAL 135
topia; a equivalencia homotopica =
a,
: R
n
a S
n1
dene-se do mesmo modo, mas sua inversa j = j
a,
: S
n1
R
n
a e denida por j(y) = a + y.
Usaremos consistentemente as nota coes acima introdu-
zidas. Dadas varias bolas B, B
, B
, etc., escreveremos
j, j
, j
, ,
, etc. para indicar as equivalencias ho-
motopicas correspondentes.
Sejam agora U R
n
um aberto, a U, b R
n
,
e f : U a R
n
b uma aplica cao contnua tal que
lim
xa
f(x) = b. Nestas condi coes, deniremos o grau local
a
(f), da aplica cao f no ponto a, do seguinte modo:
Escolhemos uma bola fechada B = B
n
(a; ) U e con-
sideremos as equivalencias homotopicas j = j
a,
: S
n1
B a,
=
b,
: R
n
b S
n1
, ha pouco introduzidas
S
n1
j
B a
f
R
n
b
S
n1
.
Pomos
a
(f) = gr(
f j) = grau (global) da aplica cao
composto
f j : S
n1
S
n1
.
Devemos mostrar que
a
(f) nao depende da escolha da
bola fechada B = B
n
(a; ) U. Com efeito, seja B
=
B
n
(a;
) U. Suponhamos que
. Entao B
B.
Seja k: B
a B a a aplica cao de inclusao.
E obvio
que k j
j : S
n1
B a.
S
n-1
S
n-1
B-a
B-a
R-b
n
j
j
k
f
Como f k: B
a R
n
b e simplesmente a restri cao de
f a B
a, o grau local de f, denido por meio da bola B
Main
2011/2/25
page 136
i
i
i
i
i
i
i
i
136 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
em vez de B, e o grau da aplica cao
fkj
: S
n1
S
n1
.
Mas
fkj
fj, donde gr(
fkj
) = gr(
fj) = grau
local de f, denido por meio da bola B.
Observa coes: 1) O grau local
a
(f) depende somente
do comportamento de f numa vizinhan ca arbitrariamente
pequena do ponto a. Mais precisamente, se U, V R
n
sao
abertos contendo a, e f : U a R
n
b, g : V a
R
n
b sao aplica coes contnuas tais que f|W = g|W para
W aberto e a W U V , entao
a
(f) =
a
(g). Basta,
na deni cao de grau local, tomar a bola B nao pequena
que B W e usa-la para calcular
a
(f) e
a
(g).
2) Se f g : U a R
n
b, entao
a
(f) =
a
(g).
Com efeito, temos entao f g : B a R
n
b, donde
fj =
gj e da
a
(f) = gr(
fj) = gr(
gj) =
a
(g).
Teorema 7. Sejam U, V R
n
abertos, a U, b V ,
c R
n
, f : U a R
n
b, g : V b R
n
c contnuas,
com f(U a) V b. Entao
a
(g f) =
b
(g)
a
(f).
Demonstra cao: Tomemos B
= B
n
(b;
) V e, em
seguida, B = B
n
(a; ) U tal que f(B) B
. Entao
a
(g f) = gr(
gfj)
S
n-1
S
n-1
B-a B-b
j
f
g
R
n
-c
S
n-1
j
Sejam
: B
b S
n1
e j
: S
n1
B
b as equivalen-
cias homotopicas naturais. Entao j
id: B
b
B
b, donde
gfj
gj
fj e portanto gr(
gfj) =
Main
2011/2/25
page 137
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: A NOC
AO DE GRAU LOCAL 137
gr(
gj
) gr(
fj), pelo Teorema 4, Captulo II. Ora,
b
(g)
= gr(
gj
), enquanto
a
(f) = gr(
fj), onde
: R
n
b S
n1
. Mas e claro que
|B
b, donde
fj =
fj e da
a
(f) = gr(
fj). Concluimos que
a
(g f) =
b
(g)
a
(f).
Corolario. Se f : U a R
nb
aplica W a homeo-
moramente sobre V b (onde W, V , s ao abertos, com
a W U e b V ) ent ao
a
(f) = 1.
Exemplos: 1) Considerando cada ponto z = (x, y) R
2
como um n umero complexo z = x + iy, seja f : R
2
0 R
2
0 denida por f(z) = z
k
. Entao
0
(f) = k.
Com efeito, tomando B = B(0; 1), temos j(z) = z, donde
fj : S
1
S
1
e a restri cao de f a S
1
. Logo gr(
fj) = k,
cfr. Exemplo 2, 3, Cap. II.
2) Seja f : R
n
R
n
uma aplica cao linear invertvel.
Entao f(R
n
0) = R
n
0. Calculemos o grau local
0
(f).
Mostraremos que
0
(f) = 1 se det(f) > 0 e
0
(f) = 1 se
det(f) < 0. Com efeito, se det(f) > 0, entao f pertence
`a componente conexa da identidade em Gl(n, R) e entao
existe uma aplica cao contnua t f
t
, t [0, 1], f
t
Gl(n, R), com f
0
= f, f
1
= id: R
n
R
n
. Cada aplica cao
linear f
t
, sendo invertvel, e tal que f
t
(R
n
0) R
n
0.
Temos assim uma homotopia f id: R
n
0 R
n
0, donde
0
(f) =
0
(id) = 1, em virtude da Observa cao
2 acima. Por outro lado, se det(f) < 0, seja : R
n
0 R
n
0 a reexao relativamente ao hiperplano x
n
=
0. Entao
0
() = 1 e, como det(f) > 0, temos 1 =
0
(f) =
0
()
0
(f) =
0
(f) e portanto
0
(f) = 1.
3) Seja f : U R
n
diferenciavel, a U, b = f(a).
Suponhamos que f(Ua) R
n
b, de modo que podemos
Main
2011/2/25
page 138
i
i
i
i
i
i
i
i
138 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
falar no grau local
a
(f) da aplica cao f : U a R
n
b.
Admitamos agora que a aplica cao linear f
: R
n
R
n
,
induzida por f no ponto a, e invertvel. Ou seja, det(f
) =
0 no ponto a. Entao f aplica homeomorcamente uma
vizinhan ca de a sobre uma vizinhan ca de b. Pelo Corolario
do Teorema 7, concluimos que
a
(f) = 1. Mostraremos
agora que
a
(f) = 1 se o jacobiano det(f
) e > 0 e
a
(f) =
1 se det(f
) < 0. Tendo em conta o exemplo anterior,
basta mostrar que
a
(f) =
0
(f
), onde f
: R
n
0
R
n
0. Consideraremos primeiramente o caso em que a = 0
e f(a) = 0. Entao repetiremos (com mais detalhes) um
argumento usado no Lema 7, Cap. II. Seja
A = inf{|f
(u)|; u R
n
, |u| = 1}.
Entao A > 0. Sabe-se que, numa vizinhan ca de 0, pode-se
escrever:
f(x) = f
(x) + (x), onde lim
x0
|(x)|
|x|
= 0.
Seja W aberto, com 0 W U, e tal que
|(x)|
|x|
< A, para todo x W, x = 0.
Entao, quaisquer que sejam x W 0 e 0 t 1, temos
(1 t)f(x) + tf
(x) = (1 t)f
(x) + (1 t)(x) + tf
(x)
= f
(x) + (1 t)(x) = |x|
_
f
_
x
|x|
_
+ (1 t)
(x)
|x|
_
= 0.
Assim, podemos denir uma homotopia F : (W 0) I
R
n
0 entre as restri coes f, f
: W 0 R
n
0, pondo
F(x, t) = (1 t)f(x) + tf
(x).
Main
2011/2/25
page 139
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: A NOC
AO DE GRAU LOCAL 139
Segue-se das Observa coes 1) e 2) acima que
0
(f) =
0
(f
)
= 1 (conforme seja det(f) > 0 ou < 0). O caso geral, em
que a U e um ponto qualquer e b = f(a) pode ser = 0,
reduz-se ao anterior mediante as transla coes : x x a
e : y y b, as quais tem, evidentemente, grau local 1.
Teorema 8. Sejam U R
n
um aberto, a U, f : Ua
R
n
b contnua. Entao
a
(f) = 0 se, e somente se, para
toda bola fechada B = B
n
(a, ) U, existe uma aplicacao
contnua g : U R
n
b que coincide com f em U intB.
Demonstra cao: Se existe g : U R
n
b contnua, com
g(x) = f(x) para todo x U intB, consideremos a
aplica cao usual j = j
a.
: S
n1
B a e chamemos de
B
= B
n
(0, 1) a bola fechada unitaria, com centro na ori-
gem o R
n
. A mesma formula que dene j, dene tambem
um homeomorsmo j : B
B. O diagrama abaixo (onde
a seta vertical indica a inclusao) e comutativo, pois f coin-
cide com g em j(S
n1
):
S
n-1
S
n-1
B-a
B
j
f
R
n
-b
j
-
B
g
Isto signica que h =
fj : S
n1
S
n1
estende-se a
uma aplica cao contnua h:
gj : B
S
n1
. Entao, pelo
Corolario do Teorema 9, Cap. II,
a
(f) = gr(
fj) = 0.
Seja agora
a
(f) = 0 e tomemos uma bola fechada
qualquer B = B
n
(a; ) U. Temos gr(
fj) = 0, com
j = j
a,
: S
n1
B a. Pelo Teorema 8, Cap. II,
concluimos que
fj const. (
). Considerando a equi-
valencia homotopica j
: S
n1
R
n
b, inversa de
, temos
Main
2011/2/25
page 140
i
i
i
i
i
i
i
i
140 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
j
id: R
n
b R
n
b. (
). Segue-se das rela coes
(*) e (**) que
fj = id(fj) j
fj j
const. = const. : S
n1
R
n
b.
Pela Proposi cao 1, Cap. II, vemos que fj : S
n1
R
n
b admite uma extensao h: B
R
n
b (onde
B
e a bola unitaria). Considerando novamente o homeo-
morsmo j : B
B, denimos a aplica cao g : U R
n
b
pondo g(x) = f(x) se x U intB e g(x) = h[j
1
(x)] se
x B. Verica-se imediatamente que g e contnua e pre-
enche os requisitos do enunciado.
6
Indice de uma singularidade iso-
lada
Seja v : M (M) um campo vetorial contnuo sobre uma
variedade diferenciavel M = M
n
. Seja p M uma singu-
laridade isolada de v, isto e, v
p
= 0 mas existe uma vizi-
nhan ca V p tal que v
q
= 0 para todo q V p. Para
denir o ndice da singularidade p, tomaremos uma vizi-
nhan ca V que seja domnio de um sistema de coordenadas
x: V R
n
. Sejam U = x(V ) R
n
e a = x(p) U.
Entao, para todo ponto q V , temos
v
q
=
n
i=1
i
(x(q))
x
i
(q)
onde, para cada i = 1, . . . , n,
i
: U R e uma fun cao
contnua. Obtemos assim uma aplica cao contnua f : U
R
n
, denida por f(u) = (
1
(u), . . . ,
n
(u)), u U. Como
Main
2011/2/25
page 141
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 141
p e a unica singularidade de v em V , temos f(u) = 0 R
n
apenas para u = a, donde f(U a) R
n
0.
O ndice da singularidade p do campo v sera denido
como o grau local
a
(f) da aplica cao f : Ua R
n
0.
Devemos, em seguida, mostrar que o ndice, como o
denimos, nao depende da escolha do sistema de coorde-
nadas x.
Com efeito, seja y outro sistema de coordenadas, valido
numa vizinhan ca do ponto p. Como o grau local depende
apenas de uma vizinhan ca arbitrariamente pequena do pon-
to onde ele e tomado, podemos admitir que os sistemas de
coordenadas x e y sao denidos na mesma vizinhan ca V
do ponto p M e que U = x(V ) e uma bola de centro a =
x(p). Sejam W = y(V ), b = y(p) e v
q
=
i
(y(q))
y
i
(q),
q V . Fica denida a aplica cao contnua g : W R
n
,
onde g(w) = (
1
(w), . . . ,
n
(w)), w W, com g(b) = 0 e
g(W b) R
n
0. Devemos mostrar que
a
(f) =
b
(g).
Ora, a formula de mudan ca de coordenadas de um vetor
nos da, para cada q V e i = 1, . . . , n:
i
(y(q)) =
n
j=1
y
i
x
j
(x(q))
j
(x(q)).
Se, para cada ponto u U, indicarmos com T
u
= (y x
1
)
a aplica cao linear de R
n
, induzida pelo difeo-
morsmo y x
1
: U W no ponto u, as equa coes acima
signicam que g(y(q)) = T
x(q)
[f(x(q))] para todo q V .
Podemos ainda escrever esta rela cao sob a forma:
[g (y x
1
)](u) = T
u
(f(u)), para todo u U. (*)
Consideremos a aplica cao Q: U a R
n
0, denida
Main
2011/2/25
page 142
i
i
i
i
i
i
i
i
142 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
por Q(u) = T
u
(f(u)). A igualdade (*) implica:
b
(g)
a
(y x
1
) =
a
(Q). (**)
Por outro lado, a aplica cao F : (U a) I R
n
0,
denida por
F(u, t) = T
(1t)u+ta
(f(u)),
e uma homotopia F : Q T
a
f : U a R
n
0, entre
Q: U a R
n
0 e a aplica cao composta T
a
f : U a
R
n
0.
U-a
yx .
g
W-b
R
n
- 0 R
n
- 0
T
a
Q
f
-1
Segue-se desta homotopia, que
a
(Q) =
0
(T
a
)
a
(f). (***)
Mas T
a
= (yx
1
), e a aplica cao linear induzida pelo difeo-
morsmo y x
1
no ponto a da bola U. Logo,
0
(T a) =
a
(y x
1
) = 1, como vimos no exemplo 3), dado acima.
Assim, as igualdades (**) e (***) implicam
b
(g) =
a
(f),
como queramos mostrar.
Indicaremos com I
v
(p) o ndice da singularidade isolada
p do campo vetorial contnuo v.
Resulta imediatamente da deni cao, juntamente com o
exemplo 3), que se p e uma singularidade simples do campo
vetorial diferenciavel v, entao I
v
(p) coincide com o ndice
anteriormente denido (vide 2).
Main
2011/2/25
page 143
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 143
Teorema 9. Seja v um campo vetorial contnuo sobre uma
variedade M = M
n
. Sejam p
1
, p
2
M duas singularidades
isoladas de v. Dado um aberto conexo V M tal que
p
1
, p
2
V s ao as unicas sinularidades de v em V , existe
um campo vetorial contnuo u sobre M, que coincide com
v em MV , e que admite apenas uma singularidade p em
V . Alem disso, temos I
u
(p) = I
v
(p
1
) + I
v
(p
2
).
Demonstra cao: Como V e conexo, existe um sistema de
coordenadas x: U R
n
, valido num aberto U V , tal
que p
1
, p
2
U, e x(U) = R
n
. (Basta tomar uma imersao
: R V , com p
1
, p
2
(R), e, em seguida, tomar U
como uma vizinhan ca tubular de (R), contida em V .
M
V
U
p
2
p
1
Aplicando-se o argumento nal do Lema 2, Cap. I, obtem-
se o difeomorsmo x: U R
n
. Sejam a
1
= x(p
1
) e
a
2
= x(p
2
). Consideremos uma bola fechada B = B
n
(0, r),
contendo os pontos a
1
e a
2
em seu interior. A expressao
v
q
=
n
i=1
i
(x(q))
x
i
(q), q U, do campo v em termos
do sistema de coordenadas x, nos fornece uma aplica cao
contnua f : R
n
R
n
, f(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)), z R
n
,
a qual assume o valor f(z) = 0 R
n
apenas para z = a
1
e
z = a
2
. Em particular, f(z) = 0 sempre que |z| = r, isto
Main
2011/2/25
page 144
i
i
i
i
i
i
i
i
144 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
e, sempre que z perten ca ao bordo de B. Denimos uma
nova aplica cao g : R
n
R
n
, pondo:
g(x) =
_
_
f(z), se |z| r;
|z| f
_
r
|z|
z
_
, se 0 < |z| r;
0, se z = 0.
Entao g : r
n
R
n
e contnua, coincide com f fora da bola
B, e assume o valor 0 R
n
somente no ponto 0 R
n
.
Sejam
1
, . . . ,
n
: R
n
R
n
as fun coes contnuas tais que
g(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)), e denamos um campo vetorial
u: M (M), pondo u
q
= v
q
se q M U, e
u
q
=
n
i=1
i
(x(q))
x
i
(q)
se q U.
E claro que u e contnuo, coincide com v em
M V e a unica singularidade de u em V e o ponto p =
x
1
(0).
Em seguida, mostraremos que o ndice I
u
(p) e igual
`a soma I
v
(p
1
) + I
v
(p
2
). Sejam B
1
e B
2
bolas disjuntas,
de centros a
1
e a
2
respectivamente, contidas na bola B =
B
n
(0, r) ha pouco considerada.
S
1
S
2
a
1
a
2
S
0
Main
2011/2/25
page 145
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 145
Sejam S
0
, S
1
, S
2
as esferas que servem de bordo `as bolas
B, B
1
, B
2
. Indiquemos com j
0
: S
n1
B0, j
1
: S
n1
B
1
a
1
e j
2
: S
n1
B
2
a
2
as equivalencias homotopicas
usuais. Temos
I
v
(p
1
) = gr(
fj
1
), I
v
(p
2
) = gr(
fj
2
),
I
u
(p) = gr(
gj
0
) = gr(
fj
0
),
a ultima igualdade sendo valida porque g|S
0
= f|S
0
, S
0
=
j
0
(S
n1
). O resultado desejado segue-se entao do lema
abaixo.
Lema 5. Sejam S
1
, S
2
R
n
esferas mutuamente exterio-
res, de centros a
1
, a
2
respectivamente, contidas no interior
de uma esfera S
0
. Seja f : R
n
{a
1
, a
2
} S
n1
uma
aplicacao contnua, e ponhamos f
i
= f|S
i
, i = 0, 1, 2. Se
orientarmos igualmente as esferas S
i
, teremos gr(f
0
) =
gr(f
1
) + gr(f
2
).
Demonstra cao: Suponhamos, em primeiro lugar, que f
seja diferenciavel. Seja D uma bola fechada contida em
R
n
{a
1
, a
2
}, tal que f(D) nao cubra toda a esfera S
n1
.
Mediante uma deforma cao simples, podemos transformar
as esferas dadas em superfcies alongadas, como elipsoides,
S
0
, S
1
, S
2
, de modo que as esferas nao toquem a
1
nem a
2
durante a deforma cao e, no nal, S
0
coincida com S
1
S
2
fora de D. Mais precisamente, devemos ter S
0
D =
(S
1
D) (S
2
D), reuniao disjunta. Evidentemente,
teremos gr(f
i
) = gr(f
i
), onde f
i
= f|S
i
, i = 0, 1, 2, pois o
grau nao se altera por deforma coes. Seja agora c S
n1
um valor regular de f
0
, com c S
n1
f(D). Como
S
n1
f(D) e aberto e nao vazio, c existe.
Main
2011/2/25
page 146
i
i
i
i
i
i
i
i
146 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
S
2
S
1
S
0
a
1
a
2
D
Alem disso, como f
1
(c) D e, fora de D, f
0
coincide
com f
1
ou com f
2
, vemos que c e valor regular de f
1
e de
f
2
, e que
(f
0
)
1
(c) = (f
1
)
1
(c) (f
2
)
1
(c),
(reuniao disjunta!). Logo gr(f
0
) = gr(f
1
) + gr(f
2
), o que
fornece o resultado que procuramos.
Finalmente, consideremos o caso em que a aplica cao
f : R
n
{a
1
, a
2
} S
n1
e apenas contnua. Tomamos
uma aplica cao diferenciavel g : R
n
{a
1
, a
2
} S
n1
tal que
|f(x) g(x)| < 2 para x S
0
S
1
S
2
. Pondo g
i
= g|S
i
,
vemos que g
i
= f
i
: S
i
S
n1
, donde gr(g
i
) = gr(f
i
),
recaindo assim no caso anterior.
Corolario 1. Seja v um campo vetorial contnuo sobre
uma variedade diferenci avel M, admitindo um n umero -
nito de singularidades p
1
, . . . , p
m
. Dado qualquer aberto
conexo V , contendo todas estas singularidades, existe um
campo vetorial contnuo u sobre M, que coincide com v em
MV , e que possui apenas uma singularidade p M, com
I
u
(p) =
m
i=1
I
v
(p
i
).
Main
2011/2/25
page 147
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 147
Com efeito, consideremos primeiro as singularidades p
1
e p
2
. Seja V
12
V um aberto conexo dentro do qual as
unicas singularidades de v sao p
1
e p
2
. Aplicando o Teo-
rema 9, obtemos um campo contnuo u
1
sobre M, coinci-
dindo com v em MV
12
(donde em MV ), o qual possui
somente uma singularidade, q
2
, em V
12
, com I
u
1
(q
2
) =
I
v
(p
1
) + I
v
(p
2
). Em seguida, consideremos um aberto co-
nexo V
23
contendo q
2
, p
3
, e nenhuma outra singularidade de
u
1
. Aplicando novamente o teorema, obtemos um campo
vetorial contnuo u
2
sobre M, coincidindo com u
1
em M
V
23
(donde com v em M V ), o qual possui apenas uma
singularidade, q
3
, em V
23
, com I
u
2
(q
3
) = I
v
(p
1
) + I
v
(p
2
) +
I
v
(p
3
). Prosseguindo analogamente, obteremos no nal um
campo contnuo u = u
m1
sobre M, o qual coincide com v
em MV , e admite apenas uma singularidade p = q
m
em
M, sendo seu ndice I
u
(p) =
m
i=1
I
v
(p
i
).
Corolario 2. Em toda variedade compacta existe um cam-
po vetorial contnuo com apenas uma singularidade.
Com efeito, dada a variedade compacta M, existe sem-
pre sobre M um campo vetorial contnuo (e mesmo dife-
renciavel) com um n umero nito de singularidades: basta
tomar um campo contnuo w qualquer sobre M (por exem-
plo, w
q
= 0 para todo q M) e aproxima-lo por um campo
diferenciavel v cujas singularidades sao todas simples (vide
Teorema 4). As singularidades de v sendo isoladas, e sendo
M compacta, elas sao em n umero nito. Aplicamos o Co-
rolario 1 ao campo v e obtemos u com apenas uma singu-
laridade.
Main
2011/2/25
page 148
i
i
i
i
i
i
i
i
148 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Observa cao: Em toda variedade compacta M, existe mes-
mo um campo vetorial diferenci avel com apenas uma sin-
gularidade. Para obter este resultado, usa-se o mesmo
princpio da demonstra cao do Corolario 1, com uma mo-
dica cao apenas. Come camos com um campo vetorial di-
ferenciavel v, com apenas um n umero nito de singula-
ridades, o qual existe sobre M, como vimos na demons-
tra cao do Corolario 2. Em seguida aplicamos o Teorema
9 repetidas vezes, como no Caorolario 1, para obter um
campo u com uma singularidade apenas. A diculdade
que surge e que a demonstra cao do Teorema 9 nao fornece
um campo diferenciavel u, mesmo quando partimos de um
campo diferenciavel v. De fato, a aplica cao g : R
n
R
n
(vide demonstra cao do Teorema 9) nao combina necessa-
riamente com o valor de v fora de U para dar um campo
diferenciavel u. Mas e possvel modicar a constru cao de
g e obter este desideratum. (Basta, na deni cao de g, por
g(z) =
_
|z|
2
r
2
_
f(r z/|z|), onde e a fun cao considerada
no Lema 1, 2, Cap. II).
Teorema 10. Seja v um campo vetorial contnuo sobre
uma variedade compacta M, com um n umero nito de sin-
gularidades p
1
, . . . , p
m
. Tem-se I
v
(p
1
) + + I
v
(p
m
) =
(M) = caracterstica de Euler de M.
Demonstra cao: Pelo Corolario 1, existe um campo veto-
rial contnuo u sobre M, que possui somente uma singula-
ridade p, com I
u
(p) =
m
i=1
I
v
(p
i
). Devemos entao mostrar
que I
u
(p) = (M). Seja x: V R
n
um sistema de coorde-
nadas em M, com p V , e tal que x(V ) = R
n
. Tomemos
uma bola fechada B R
n
, de centro a = x(p), e chamemos
Main
2011/2/25
page 149
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 149
de S a esfera que serve de bordo a B. Aplicando o Teo-
rema 4, tomemos um campo vetorial diferenciavel w sobre
M, que possui somente singularidades simples, e esta tao
proximo de u que satisfaz as condi coes seguintes:
1
o
) Nao existem singularidades de w em Mx
1
(intB)
2
o
) Se f, g : R
n
R
n
sao as aplica coes denidas por
f(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)), g(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)), onde
u =
i
x
i
e w =
i
x
i
em V , entao
f(z)/|f(z)|
g(z)/|g(z)|
< 2 para todo z S = bordo de B.
A ultima condi cao signica que
f(z) e
g(z) nunca
sao antpodas, qualquer que seja z S. Ou seja,
fj
gj : S
n1
S
n1
(na nota cao introduzida no 5). Por
conseguinte,
I
u
(p) =
a
(f) = gr(
fj) = gr(
gj).
Assim, I
u
(p) e igual ao grau de restri cao (
g)|S, onde
g e denida pelo campo w em termos do sistema de co-
ordenadas x. Ora, w possui apenas um n umero nito
de singularidades q
1
, . . . , q
n
em M, as quais pertencem a
x
1
(intB). Alem disso, estas singularidades sao todas sim-
ples, de modo que
i
I
w
(q
i
) = (M). Sejama
1
= x(q
1
), . . . ,
a
r
= x(q
r
) intB. Tomemos pequenas esferas disjuntas
S
i
, de centro a
i
, contidas em S. Considerando a aplica cao
h =
g : R
n
{a
1
, . . . , a
r
} S
n1
,
temos I
u
(p) = gr(h|S) e I
w
(q
i
) = gr(h|S
i
). Assim, (M) =
i
gr(h|S
i
). Mas, pelo Lema 5, (evidentemente generali-
zavel para r > 2) vale gr(h|S) =
i
gr(h|S
i
), o que implica
(M) = I
u
(p), como queramos demonstrar.
Main
2011/2/25
page 150
i
i
i
i
i
i
i
i
150 [CAP. III: CAMPOS VETORIAIS
Teorema 11. Seja M uma variedade diferenci avel com-
pacta. Existe um campo vetorial contnuo sem singularida-
des sobre M se, e somente se, (M) = 0.
Observa cao: Pelo Corolario do Teorema 2, existe um
campo vetorial contnuo sem singularidades sobre M se,
e somente se, existe um campo vetorial diferenciavel sem
singularidades.
Demonstra cao: Metade do teorema e obvia. Suponha-
mos entao que (M) = 0. Entao existe um campo vetorial
diferenciavel v sobre M, cujas singularidades p
1
, . . . , p
m
sao
todas simples, e
m
i=1
I
v
(p
i
) = (M) = 0. Usando o Corolario
1, obtemos um campo contnuo u sobre M, com uma unica
singularidade p M, tal que I
p
(u) = 0. Seja x: V R
n
um sistema de coordenadas, com p V e x(V ) = R
n
. Seja
u
q
=
i
(x(q))
x
i
(q), q V . Isto dene uma aplica cao
f : R
n
R
n
, onde f(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)). Para a =
x(p), temos f(a) = 0 R
n
, f(R
n
a) R
n
0, e
a
(f) = 0. Tomemos uma bola fechada B de centro a,
em R
n
. Pelo Teorema 8, existe uma aplica cao contnua
g : R
n
R
n
0, que coincide com f em R
n
intB. Seja
g(z) = (
1
(z), . . . ,
n
(z)), z R
n
. Denamos um campo
vetorial w sobre M, pondo w
q
= v
q
se q M x
1
(B) e
w
q
=
i
(x(q))
x
i
(q), se q x
1
(B). Entao o campo w e
contnuo e nao possui singularidades.
Observa cao: Os Teoremas 10 e 11 valem unicamente para
variedades compactas. Se M e uma variedade nao com-
pacta, dado um inteiro k qualquer, existe em M um campo
vetorial contnuo, com um n umero nito de singularidades
(ate mesmo uma singularidade, se quisermos) cuja soma
Main
2011/2/25
page 151
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 6:
INDICE DE UMA SINGULARIDADE ISOLADA 151
dos ndices e igual a k. Do mesmo modo, em qualquer va-
riedade nao compacta e possvel denir um campo vetorial
contnuo sem singularidades.
Main
2011/2/25
page 152
i
i
i
i
i
i
i
i
Captulo IV
Curvatura Integral
1 Introducao
A nalidade deste captulo e demonstrar o Teorema da
Curvatura
Integra de Hopf, segundo o qual a integral
(convenientemente normalizada) da curvatura gaussiana de
uma subvariedade compacta M
n
do espa co euclidiano R
n+1
,
n par, e igual `a metade da caracterstica de Euler de M.
Este teorema, que se situa na linha das ideias introduzi-
das por Gauss em Geometria Diferencial, e completa um
dos seus resultados mais importantes, constitui, ademais,
um dos mais simples e expressivos exemplos das rela coes
existentes entre a Topologia e a Geometria Diferencial.
No caso elementar de uma superfcie compacta M
2
,
contida no espa co euclidiano ordinario R
3
, o teorema em
questao decorre imediatamente do classico teorema de
Gauss-Bonnet, que fornece a integral da curvatura gaus-
siana sobre um domnio simplesmente conexo de M
2
, em
termos da curvatura geodesica ao longo do bordo desse
152
Main
2011/2/25
page 153
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: CURVATURA GAUSSIANA DE UMA HIPERSUPERF
ICIE 153
domnio. Exposi coes desse caso particular encontram-se
em quase todos os textos de Geometria Diferencial. (Vejam-
se, por exemplo, [1] e [10]).
A demonstra cao original do Teorema da Curvatura
Integra encontra-se na tese de Hopf [8].
Ela se baseia na formula que exprime o n umero algebri-
co de coincidencias de duas aplica coes f, g : M
n
S
n
como gr(f) + (1)
n
gr(g). Ao escrever sua tese, Hopf sus-
peitava, mas nao tinha ainda demonstrado, que a soma
dos ndices das singularidades de um campo vetorial sobre
uma variedade M e igual `a caracterstica de Euler (M)
(denida como a soma alternada dos n umeros de Betti de
M). Este resultado foi obtido por ele logo depois, e publi-
cado no volume seguinte do Mathematische Annallen [9].
A demonstra cao do Teorema da Curvatura
Integra, que
daremos aqui, usa o teorema sobre as singularidades de
um campo vetorial, em vez do ndice de coincidencia. Na
realidade, porem, todos esses fatos pertencem ao mesmo
domnio de ideias, que giram em torno das no coes de in-
terse cao e transversalidade, as quais se originaram de
Brouwer, e alcan caram forma matematica denitiva com a
teoria geral dos pontos xos e coincidencias de Lefschetz.
2 Curvatura gaussiana de uma hi-
persuperfcie
Seja M
n
R
n+1
uma hipersuperfcie (isto e, uma subvari-
edade diferenciavel, de dimensao n) compacta e orientavel
do espa co euclidiano R
n+1
. Observaremos, sem demons-
trar, que a orientabilidade de toda hipersuperfcie compacta
Main
2011/2/25
page 154
i
i
i
i
i
i
i
i
154 [CAP. IV: CURVATURA INTEGRAL
e um teorema, e nao uma hipotese. (Vide [21], pag. 433).
Entretanto, como a demonstra cao desse teorema nos afas-
taria demasiadamente do rumo tra cado, preferimos tomar
a orientabilidade como hipotese e indicar ao leitor onde a
demonstra cao pode ser encontrada.
Fixaremos, de uma vez por todas, uma orienta cao em
M. Isto equivale, como se sabe, (vide [13], pag. 64) a de-
nir um campo diferenciavel de vetores normais unitarios so-
bre M. Indicaremos com (p) o vetor unitario desse campo
que corresponde ao ponto p M. Assim, : p (p) de-
ne uma aplica cao diferenciavel : M
n
R
n+1
tal que,
para todo p M, (p) M
p
, isto e, (p) e um vetor de
R
n+1
, perpendicular a todos os vetores tangentes v M
p
.
Como |(p)| = 1, temos, na realidade, uma aplica cao dife-
renciavel
: M
n
S
n
de M
n
na esfera unitaria S
n
R
n+1
. (Se imaginassemos
o vetor normal como localizado no ponto p, diramos que
: M
n
S
n
associa, a cada ponto p M, o vetor locali-
zado na origem 0 R
n+1
e paralelo ao vetor normal dado
pela orienta cao no ponto p. Do modo como estamos pro-
cedendo, todos os vetores sao livres, o que da no mesmo
que supo-los todos localizados na origem 0 R
n+1
. As-
sim, por exemplo, o espa co tangente M
p
e, para nos um
subespa co vetorial de R
n+1
, passando portanto pela ori-
gem 0, e nao uma variedade am contendo o ponto p).
A aplica cao diferenciavel : M
n
S
n
, denida pelo
campo de vetores normais unitarios associado `a orienta cao
de M
n
, chama-se a aplicacao normal de Gauss.
A propriedade mais importante da aplica cao normal
e que, para todo p M, o espa co vetorial tangente M
p
e
Main
2011/2/25
page 155
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: CURVATURA GAUSSIANA DE UMA HIPERSUPERF
ICIE 155
o espa co vetorial tangente (S
n
)
(p)
, tangente `a esfera no
ponto (p), coincidem como subespa cos vetoriais de R
n+1
.
Com efeito, (S
n
)
(p)
ortogonal a (p), pois todo vetor tan-
gente `a esfera S
n
no ponto (p) e perpendicular ao raio.
Assim, em cada ponto p M, a aplica cao linear
: M
p
(S
n
)
(p)
, induzida por , e na realidade uma aplica cao
linear de um espa co vetorial em si proprio:
: M
p
M
p
.
Como tal,
possui algumas propriedades particulares.
Por exemplo, podemos denir o determinante da aplica cao
linear
, e, cada ponto p M, sem que o valor desse
determinante venha a depender da escolha de uma base
em M
p
.
A curvatura gaussiana da hipersuperfcie M
n
R
n+1
e
a fun cao real
K: M R
tal que, para cada p M, K(p) = determinante de
: M
p
M
p
.
E claro que a curvatura gaussiana e uma fun cao
real diferenciavel denida em M
n
.
Observa cao: Verica-se facilmente que, quando n e par,
a curvatura gaussiana K nao depende da orienta cao esco-
lhida em M, mas, quando n e mpar, a mudan ca da ori-
enta cao de M acarreta uma troca de sinal de K.
Recordamos que, se E e um espa co vetorial (real) mu-
nido de um produto interno, uma aplica cao linear T : E
E diz-se auto-adjunta (ou simetrica) se, para cada par de
vetores u, v E, tem-se uTv = Tuv, onde o ponto indica
o produto interno em E.
Main
2011/2/25
page 156
i
i
i
i
i
i
i
i
156 [CAP. IV: CURVATURA INTEGRAL
Lembramos tambem que um n umero real k diz-se um
valor pr oprio da aplica cao linear T : E E se existe um
vetor v = 0 em E tal que Tv = kv. Neste caso, o vetor v
diz-se um vetor pr oprio de T, pertencente ao valor proprio
k. O teorema fundamental a respeito das aplica coes li-
neares auto-adjuntas T : E E arma que, dada uma
delas, T, existe em E uma base ortonormal {v
1
, . . . , v
n
}
formada por vetores proprios de T. (Vide [6], pag. 156).
Os n umeros k
1
, . . . , k
n
tais que Tv
i
= k
i
v
i
podem nao
ser todos distintos, mas usaremos sempre a numera cao de
forma que k
1
k
2
k
n
. Como se sabe, o produto
k
1
k
2
. . . k
n
e igual ao determinante de T.
Teorema 1. A aplicacao linear
: M
p
M
p
, induzida
pela aplicacao normal de Gauss, e auto-adjunta, para todo
p M.
Demonstra cao: Basta vericar a igualdade u
(v) =
(u) v quando u e v descrevem uma base xa de M
p
.
Para isto, consideraremos uma parametriza cao : A
n
U
de uma vizinhan ca U de p em M, sendo A
n
um aberto
de R
n
. Como sabemos, os vetores
x
i
= (
1
/x
i
, . . . ,
n
/x
i
) R
n
, constituem uma base de M
p
(derivadas
calculadas no ponto p). Dado (x
1
, . . . , x
n
) A
n
, escrevere-
mos (x
1
, . . . , x
n
) em vez de ((x
1
, . . . , x
n
)) por um abuso
de nota cao que nos levara a escrever : A
n
S
n
, em vez
de : A
n
S
n
. Temos entao (q)
x
i
(q) = 0 para
todo i = 1, . . . , n, e q A
n
. Derivando em rela cao a x
j
,
obtemos
x
j
x
i
+
2
x
i
x
j
= 0
em todo ponto q A
n
, e para i, j = 1, . . . , n. Como
x
i
x
j
=
2
x
j
x
i
, concluimos da que
x
j
x
i
=
x
i
x
j
=
Main
2011/2/25
page 157
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 2: CURVATURA GAUSSIANA DE UMA HIPERSUPERF
ICIE 157
2
x
i
x
j
, para todos os valores de i e j. Como
x
i
_
=
x
i
e
x
j
_
=
x
j
, segue-se que
x
i
_
x
j
=
x
i
x
j
_
,
o que conclui a demonstra cao do teorema.
Em cada ponto p M, temos portanto os n valores
proprios (nem todos distintos) k
1
(p) k
2
(p) k
n
(p)
da aplica cao linear auto-adjunta
: M
p
M
p
. O valor
proprio k
i
(p) chama-se a i-esima curvatura principal de M
no ponto p. A curvatura gaussiana K(p) satisfaz portanto,
em todo ponto p M, a condi cao:
K(p) = k
1
(p) k
2
(p) . . . k
n
(p).
A ttulo de ilustra cao, observaremos que a segunda for-
ma quadratica de M e a correspondencia que associa a cada
ponto p M a forma quadratica II
p
, denida em M
p
pela
formula:
II
p
(u) = u
(u), u M
p
.
Em termos de uma parametriza cao : A
n
U, de uma
vizinhan ca U do ponto p em M, se u =
i
x
i
, entao
(u) =
j
x
j
, donde
II
p
(u) = u
(u) =
j
x
i
x
j
=
j
2
x
i
x
j
ou seja
II
p
(u) =
i,j
_
2
x
i
x
j
(p)
_
j
Main
2011/2/25
page 158
i
i
i
i
i
i
i
i
158 [CAP. IV: CURVATURA INTEGRAL
o que generaliza a formula classica da 2a. forma quadratica
de uma superfcie M
2
R
3
.
3 O grau da aplicacao normal
Como subvariedades do espa co euclidiano R
n+1
, M
n
e S
n
estao dotadas de metricas riemannianas naturais, o pro-
duto interno em cada espa co vetorial tangente sendo indu-
zido pelo produto interno existente em R
n+1
.
Indicaremos com o elemento de volume de M
n
e
com o elemento de volume da esfera S
n
. Escreveremos
c
n
=
_
S
n
para indicar o volume da esfera S
n
. Como
se sabe, tem-se c
1
= 2, c
2
= 4 e, para n 3, c
n
ad-
mite uma expressao conhecida, em termos da fun cao gama.
(Vide Courant, Dierential and Integral Calculus, vol. II,
pagina 303).
Pelos resultados do Captulo II, o grau da aplica cao
normal : M
n
S
n
e igual a
1
c
n
_
M
. Vamos agora
exprimir este grau em fun cao da curvatura gaussiana de M.
Em primeiro lugar, observaremos que em M
n
(como,
de resto, em qualquer variedade riemanniana orientada)
podemos integrar nao somente formas diferenciais de grau
n como tambem fun coes reais f : M
n
R. Basta usar o
elemento de volume de M e denir a integral
_
M
f(p)dp
de f sobre m pela igualdade:
_
M
f(p)dp =
_
M
f ,
Main
2011/2/25
page 159
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 3: O GRAU DA APLICAC
AO NORMAL 159
onde f e a forma diferencial tal que (f )
p
= f(p)
p
,
para todo p M.
Assim, podemos denir a curvatura integral (ou curva-
tura ntegra) da hipersuperfcie M
n
R
n
como a integral
_
M
K(p)dp
da curvatura gaussiana de M estendida a toda a varie-
dade M.
O teorema abaixo fornece a expressao procurada do
grau da aplica cao normal .
Teorema 2. O grau da aplicacao normal : M
n
S
n
e
igual a
1
c
n
_
M
K(p)dp, c
n
= volume de S
n
.
Demonstra cao: Basta mostrar que, em todo ponto p
M, tem-se K(p)
p
= (
)
p
. Tomemos n vetores v
1
, . . . , v
n
em M
p
. Lembremos aqui um fato de
Algebra Linear: dada
uma aplica cao linear T : E E, onde E e um espa co
vetorial munido de um produto interno, e indicando com
vol[u
1
, . . . , u
n
] o volume orientado do paraleleppedo ge-
rado pelos vetores u
i
, tem-se vol[Tv
1
, . . . , Tv
n
] = det(T)
vol[v
1
, . . . , v
n
]. Assim sendo, vale sucessivamente:
(
)
p
(v
1
, . . . , v
n
) =
(p)
(
(v
1
), . . . ,
(v
n
))
= vol[
(v
1
), . . . ,
(v
n
)] = det(
) vol[v
1
, . . . , v
n
]
= K(p)
p
(v
1
, . . . , v
n
).
Como esta igualdade e valida para p M e v
1
, . . . , v
n
M
p
arbitrarios, concluimos que K =
, o que demonstra
o teorema.
Main
2011/2/25
page 160
i
i
i
i
i
i
i
i
160 [CAP. IV: CURVATURA INTEGRAL
4 O Teorema da Curvatura
Integra
Demonstraremos, agora, o resultado principal deste captulo.
Teorema 1. Seja n um n umero par e M
n
R
n+1
uma
hipersuperfcie compacta (orientada) de dimens ao n, cuja
curvatura gaussiana em cada ponto p indicaremos com K(p).
Entao
1
c
n
_
M
K(p)dp =
1
2
(M),
onde c
n
= volume de S
n
e (M) e a caracterstica de Euler
de M.
Demonstra cao: Sejam a, b S
n
pontos antpodas tais
que ambos sao valores regulares da aplica cao normal : M
n
S
n
. (Para obter a e b, basta considerar a proje cao
canonica : S
n
P
n
, de S
n
sobre o espa co projetivo P
n
,
tomar um valor regular d P
n
da aplica cao composta
: M
n
P
n
, e por {a, b} =
1
(d)). Seja u um campo
vetorial diferenciavel em S
n
, cujas unicas singularidades
sao os pontos a e b, ambos positivos, ou seja, com ndices
iguais a +1. A hipotese de que n e par intervem preci-
samente para assegurar a existencia do campo u. Dena-
mos, em seguida, um campo vetorial diferenciavel v em M,
pondo v
p
= u
(p)
para todo p M. Como (S
n
)
(p)
= M
p
,
v esta bem denido. Como u anula-se apenas nos pon-
tos a, b S
n
, segue-se que v se anula somente nos pon-
tos p M tais que (p) = a, ou (p) = b. Ou seja,
as singularidades de v em M sao os pontos dos conjun-
tos {a
1
, . . . , a
r
} =
1
(a) e {b
1
, . . . , b
s
} =
1
(b). Ora, na
vizinhan ca de cada um dos pontos a
i
e b
j
, e um difeo-
morsmo, pois a e b sao valores regulares de . Segue-se
Main
2011/2/25
page 161
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: OBSERVAC
OES A RESPEITO DO TEOREMA 161
que os pontos a
i
e b
j
sao todos singularidades simples do
campo v.
E claro que cada um desses pontos e positivo
ou negativo relativamente ao campo v se, e somente se, o
e relativamente `a aplica cao . Concluimos, entao, que o
n umero algebrico de singularidades de v e igual ao nu-
mero algebrico de pontos a
i
mais o n umero algebrico
de pontos b
j
relativamente a aplica cao . Pela deni cao
da caracterstica de Euler, e pela deni cao de grau, isto
signica que (M) = gr
a
() +gr
b
() = 2 gr(). Tendo em
vista o Teorema 2, podemos escrever
(M) =
2
c
n
_
M
K(p)dp,
o que demonstra o teorema.
5 Observacoes a respeito do teo-
rema
1. Quando uma variedade M
n
pode ser imersa em R
n+1
,
esta imersao pode ser feita numa innidade de maneiras
distintas. (A gura abaixo mostra uma imersao do toro
em R
3
, bem diferente da imersao usual).
Main
2011/2/25
page 162
i
i
i
i
i
i
i
i
162 [CAP. IV: CURVATURA INTEGRAL
Ao variar a imersao de M
n
em R
n+1
, a curvatura gaussi-
ana K: M
n
R muda consideravelmente. Entretanto, o
Teorema 3 arma que, quando M e compacta, orientavel
e de dimensao par, a integral
_
M
K(p)dp depende apenas
da topologia de M, e nao da maneira particular como M
se contorce dentro do espa co euclidiano R
n+1
.
2. O Teorema 3 vale ainda em circunstancias mais ge-
rais, quando, em vez de uma imersao M
n
R
n+1
, tem-se
apenas uma aplica cao regular f : M
n
R
n+1
(isto e, para
cada p M, a aplica cao linear f
: M
p
R
n+1
e biunvoca,
embora f nao o seja necessariamente), supondo ainda M
n
compacta e orientada. Neste caso, a orienta cao de M dene
ainda um campo de vetores normais : M
n
S
n
onde,
para cada p M, (p) e o unico vetor unitario em R
n+1
que
e perpendicular a f
(M
p
) e tal que, se {e
1
, . . . , e
n
} e uma
base positiva de M
p
, {f
(e
1
), . . . , f
(e
n
), (p)} e uma base
positiva de R
n+1
. Uma vez denida a aplica cao normal
, a curvatura gaussiana K de M dene-se como no caso
anterior, e a demonstra cao do Teorema 3 se faz da mesma
maneira.
3. Um problema natural seria o de indagar o que acon-
tece quando a dimensao n da hipersuperfcie M
n
e mpar.
Uma resposta para esta questao foi obtida por Hopf. (Vide
a exposi cao de Milnor [17]). Quando n e mpar, o grau de
aplica cao normal : M
n
S
n
nao e um invariante to-
pologico da variedade M, depende da maneira como M
n
esta imersa em R
n+1
. Mais precisamente, se for possvel ob-
ter uma imersao M
n
R
n+1
tal que tem grau par, entao e
possvel obter imersoes de M
n
em R
n+1
que dao como grau
qualquer outro n umero par escolhido. Do mesmo modo,
Main
2011/2/25
page 163
i
i
i
i
i
i
i
i
[SEC. 5: OBSERVAC
OES A RESPEITO DO TEOREMA 163
se existe uma imersao M
n
R
n+1
tal que o grau de e
mpar entao, dado um n umero mpar qualquer, existe uma
imersao de M
n
em R
n+1
que tem esse n umero como grau
de .
4. Outro problema natural seria o seguinte. Dada uma
imersao M
n
R
n+k+1
(ou mesmo, mais geralmente, uma
aplica cao regular f : M
n
R
n+k+1
), onde M e uma va-
riedade compacta orientada, podemos considerar o espa co
brado (M), formado pelos pares (p, v), tais que p M
e v e um vetor unitario de R
n+k+1
, perpendicular a M
p
.
O espa co (M) e uma variedade compacta orientada, de
dimensao n + k. (Vide [13], pags. 154 e 162). Existe uma
aplica cao normal : (M) S
n+k
, denida por (p, v) =
v. A pergunta surge: qual e o grau de ? Chern demons-
trou que, quando k > 0, o grau de e igual `a caracterstica
de Euler (M). Uma exposi cao deste resultado, feita por
Lashof e Smale, acha-se em [12]. (Observamos que o fato
1/2, que aparece no Teorema 3, corresponde ao fato de,
para k = 0, possuir o espa co brado (M) duas compo-
nentes conexas, ambas difeomorfas a M). Assim, o unico
caso em que o grau de nao e um invariante topologico
de M e quando n e mpar e k = 0. Para rela coes entre a
curvatura integral de M
n
R
n+k+1
e a topologia de M,
veja-se Chern e Lashof [5].
Main
2011/2/25
page 164
i
i
i
i
i
i
i
i
Main
2011/2/25
page 165
i
i
i
i
i
i
i
i
REFER
ENCIAS BIBLIOGR
AFICAS 165
Referencias Bibliogracas
[1] W. Blaschke, Vorlesungen uber Dierentialgeometrie I, 3a.
ed. Springer, Berlim, 1930.
[2] N. Bourbaki, Topologie Generale Chapitre I, II, 2a. ed.
Hermann, Paris 1951; Chapitre X, 1a. ed. Hermann, Paris
1949.
[3] N. Bourbaki, Alg`ebre Chapitre III (Alg`ebre Multilineaire)
1a. ed. Hermann, Paris, 1948.
[4] S.S. Chern, Dierentiable Manifolds (Textos de Matem atica
no. 5) Instituto de Fsica e Matem atica da Universidade de
Recife.
[5] S.S. Chern e R.E. Lashof, On the total curvature of immersed
manifolds. American Journal of Mathematics, vol. 79 (1957),
pp. 306-318.
[6] P.R. Halmos, Finite Dimensional Vector Spaces, 2a. ed. Van
Nostrand, New York, 1958.
[7] C.S. H onig,
Algebra Multilinear e Variedades Diferenciaveis,
Sao Paulo, 1957.
[8] H. Hopf,
Uber die Curvatura Integra geschlossener Hypera-
cher, Mat. Annalen 95 (1925), pp. 340-367.
[9] H. Hopf, Vektorfelder in Mannigfaltigkeiten, Math. Annalen
96 (1927), pp. 225-250.
[10] H. Hopf, Lectures on Dierential Geometry in the Large,
Stanford University, 1956.
[11] E.D. J udice, O Teorema de Sard e suas Aplica coes. (Em
prepara cao).
[12] R.K. Lashof e S. Smale, On the immersion of manifolds in
Euclidean space. Annals of Math. vol. 68 (1958), pp. 562-
583.
[13] E.L. Lima, Introdu cao `as Variedades Diferenciaveis. Instituto
de Matem atica da Univ. do R.G. do Sul, Porto Alegre, 1960.
Main
2011/2/25
page 166
i
i
i
i
i
i
i
i
166 REFER
ENCIAS BIBLIOGR
AFICAS
[14] E.L. Lima, Teoria de Morse Atas do 2
o
Col oquio Bras. de
Matem atica, S. Paulo, 1961, pp. 99-124.
[15] J. Milnor, Dierential Topology. Princeton University, 1958
(notes by J. Munkres).
[16] J. Milnor, Lectures on Characteristic Classes. Princeton
University, 1957 (notes by James Stashe).
[17] J. Milnor, On the immersion of manifolds in (n + 1)-space.
Comm. Math. Helv. vol. 30 (1956), pp. 275-284.
[18] M. Nagumo, A theory of degree of mapping based on inni-
tesimal analysis, American Journal of Math. vol. 73 (1951),
pp. 486-496.
[19] L.S. Pontrjagin, Smooth manifolds and their applications in
homotopy theory. Am. Math. Soc. Translations, vol. 11.
[20] G. de Rham, Varietes Dierentiables. Hermann, Paris, 1956.
[21] H. Seifert e W. Threlfall, Lecciones de Topologia, Publicaci-
ones del Instituto Jorge Juan de Matem aticas, Madrid, 1951.
[22] N. Steenrod, The Topology of Fibre Bundles, Princeton Univ.
Press, Princeton, 1951.
[23] R. Thom, Quelques proprietes globales des varietes dierenti-
ables. Commentarii Math. Helv. vol. 28 (1954), pp. 17-86.
[24] R. Thom, Singularities of dierentiable mappings, I. Mathe-
matisches Institut der Universitat, Bonn, 1960 (notes by H.
Levine).
[25] H. Whitney, Geometrie Integration Theory, Princeton Univ.
Press, Princeton, 1957.
Вам также может понравиться
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (20001)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionОт EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2506)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItОт EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (3269)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (5794)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksОт EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionОт EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyОт EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (3321)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationОт EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2499)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionОт EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (9752)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)От EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (9054)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)От EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Рейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (7769)