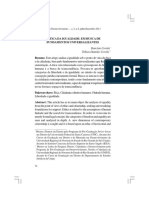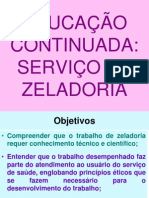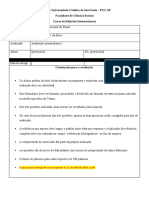Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Desafios Éticos - CFM
Загружено:
Fábio Henrique MotterИсходное описание:
Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Desafios Éticos - CFM
Загружено:
Fábio Henrique MotterАвторское право:
Доступные форматы
DESAFIOS TICOS CFM Sumrio
- a tica uma Cincia? Luciano Zajdsznajer - Da Modernidade Tcnica a Modernidade tica Cristovam Buarque - tica e Poltica Roberto Saturnino Braga - tica e o Direito Jos de Aguiar Dias - tica e Direitos Humanos Roberto Armando Ramos de Aguiar - tica e Ambiente Paulo Marchiori Buss - Ser Possvel uma tica Ps?Moderna? Horcio Macedo - A tica do Ensino Mdico e o Ensino da tica Mdica Roberto Wagner Bezerra de Arajo - A tica do Estudante de Medicina Benedictus Philadelpho de Siqueira - Sigilo Profissional Hrcules Sidnei Pires Liberal - Relao Mdico?Paciente no Final do Sculo XX Jos Eberienos Assad - tica e Seguradoras Antnio de Oliveira Albuquerque - tica e Cooperativismo Jorge Farha
- A Greve dos IMLs Genival Veloso de Frana - A tica na Emergncia Luiz Carlos Sobania - Aspectos ticos Y Legales de La Reproduccin Asistida Jorge Ms Diaz Jlio Gonzles Hernandez Maria Elena Cobas Cobiella Patrcia Gonzles Vitalta Alejandro Prez Rodriguez - tica e Sexualidade Jerusa Figueredo Netto - Conflitos ticos em Psiquiatria Ivan de Arajo Moura F - tica e Psicanlise Antnio Carlos M. Cesarino - Aids e tica Guido Carlos Levi - A tica Mdica e a Verdade do Paciente Dalgimar Beserra de Menezes - Paciente Crnico - Paciente Terminal - Eutansia Mrcio Palis Horta - Atestados Mdicos - Consideraes tico-Jurdicas Srgio Ibiapina Ferreira Costa - Percia Mdica Elias Cavares de Arajo - Os Monstros so Filhos do Segredo Ennio Candotti - tica e Tecnologia Jos Liberato Ferreira Caboclo - Transplante e tica Jos Roberto Coelho da Rocha - tica e Imprensa e a tica da Imprensa
Sydnei Rezende - tica das Publicaes Mdicas Jlio Czar Meirelles Gomes Apresentao Jos Eberienos Assad Percutes Sidnei Pires Liberal Hilrio Loureo de Freitas Jnior No momento em que a sociedade brasileira, em um intenso paro-xismo de eticidade, mobilizou-se para dar um basta aos descalabros e desmandos do governo central, desaguando pela vez primeira em uma Histria de "impeachment presidencial", a temtica tica revivida e tra-zida tona do cotidiano da vida de cada um de ns. Nesta mesma toada, o Conselho Federal de Medicina resolveu edi-tar o livro Desafios ticos em que a tica, rompendo a redoma do abstracionismo em que alguns a querem envolver, faz sua irrupo para o ter-reno da realidade, e mais do que isto, para a realidade atual. Nas circun-vizinhanas do novo sculo duas vertentes afloram viosas, densas e fortes: as vertentes ecolgica e tica. Ser aleatrio o fortalecimento destas duas vigas? Ou ser que entre elas existe algo em comum? lgico que existe, pois tanto ecologia quanto tica so instrumen-tos vitais e vigorosos de preservao da vida. Em Desafios ticos so abordados assuntos genricos, relaciona-dos com a vida, a relao entre os homens e a inter-relao entre dife-rentes cincias, alm de uma parte especifica, ligada medicina. No se pode esquecer que o desenvolvimento cientfico e tecnol-gico acarreta contenciosos de matiz tica, e fundamental que o medi-co que exercer a medicina no prximo milnio saiba que junto ao avan-o surgem novas iatrogenias e decises que mexem com a intimidade, a cidadania, a axiologia da pessoa humana. Neste livro desfilam temti-cas da maior atualidade e autores da maior expresso nas reas que escrevem. Temos certeza de que Desafios ticos haver de preencher uma incomensurvel lacuna que existia, transformando-se em uma fon-te de consulta e inspirao para o desenvolvimento dos tpicos ligados tica. Este livro servir sem dvidas a sociedade como um todo, e em particular classe mdica e aos profissionais de sade. a tica uma Cincia? Luciano Zajdsznajer Constitui, contemporaneamente, uma fortssima preocupao prti-ca com as questes ticas e um amplo debate sobre o tema. Em termos nacionais, impe-se uma
mudana de padres em todas as esferas da vida, tanto pblica quanto privada. Mas isto exige tambm que avance-mos em termos de conhecimento das questes ticas, isto , como for-mul-las, como fundament-las, como justific-las. Dai a pergunta: que tipo de saber a tica? Para lidar com esta pergunta, temos de realizar uma analise mais ou menos ampla, porque o que se entende por questo tica tambm amplo e variado. Pretendemos, assim, contribuir para uma instrumenta-o dos debates e, tambm, para uma prtica mais esclarecida. Em primeiro lugar, no distinguimos semanticamente entre tica e moral, pois, embora o primeiro termo tenha origem etimolgica grega e o segundo latina, ambos dizem respeito duplamente a questes de car-ter e de conduta. Dizemos, portanto, que uma questo tica quando se refere a aes humanas julgadas segundo a perspectiva de serem boas, corretas, acertadas. Mas como os meios tecnolgicos tambm po-dem ser assim julgados e as aes de natureza estratgica tambm po-dem ser corretas ou acertadas, podemos afirmar, para distinguir mais precisamente o territrio da tica, que ela diz respeito a aes corretas ou acertadas luz de uma vida humana boa e digna. Desta forma, a questo tica encontra-se indissoluvelmente ligada s idias sobre a vi-da humana como um todo. A vida humana tomada como um todo um assunto que envolve uma discusso obrigatoriamente interminvel, se ela se baseia exclusiva-mente na razo e no lana mo das revelaes religiosas, que nos di-zem o que estamos fazendo "aqui", o que podemos esperar e o que devemos fazer. Entretanto, mesmo a partir destas premissas, as divergncias se estabelecem, como indica a histria dos debates teolgicos no interior de cada uma das grandes religies tradicionais. Se nos restringimos, porm, a uma discusso regulada pela razo, podemos distin-guir trs nveis de questes: -o que uma vida humana boa e digna tomada em termos indi-viduais? -o que uma vida humana boa e digna tomada em termos gru-pais-entre casais e amigos, nos grupos e nas organizaes? -o que e uma vida humana boa e digna em termos sociais, ou ainda, o que uma sociedade que propicie tal vida? Os aspectos e facetas presentes nestas questes so to variados, que permitido dizer que contm tudo: do sexo comida, da distribui-o de renda ao direito do voto, das questes mdicas s questes edu-cacionais. Tudo pode e-melhor dizendo-deve ser avaliado segun-do uma perspectiva tica, isto , luz da idia de uma vida humana boa e digna. H, porem, que indicar, no caminho, certas questes paradoxais. No se pode definir completamente o que uma boa vida, sem se depa-rar e enfrentar os detalhes, as particularidades. O que ocorre que o to-do-a vida boa-define-se pela parte, e esta tem como referncia aquela. Como exemplo: um trabalho que serve ao crescimento indivi-dual e contribui para o bem geral pode ser classificado como um traba-lho tico. Veja-se que leva em conta tanto a parte-o indivduo-quan-to o todo- o bem da sociedade.
Quanto mais nos adentramos no territrio da tica percebemos a presena de interrelaes e a pouca valia de um pensamento linear, que partisse de determinados axiomas e fosse deduzindo rigorosamen-te o que deve ser feito em situaes particulares. Isto no quer dizer que o pensamento dedutivo no tenha lugar na tica, mas o seu lugar como parte, no detendo uma posio exclusiva. Retornemos, agora, nossa questo central: que tipo de saber es-t envolvido com a questo tica? A pergunta foi colocada na forma: se-r a tica uma cincia? Vamos enfrentar o desafio desta questo em trs direes. Na primeira, vamos analisar os diversos espaos em que se coloca a questo tica. Na segunda, vamos indagar sobre a nature-za do empreendimento cientfico. Na terceira, vamos buscar concluir so-bre a natureza da indagao tica. A tica realiza-se nos seguintes espaos: 1-Da atividade humana propriamente dita. Trata-se do ato es-pecifico: quando decidimos se contamos ou no a verdade, se aceita-mos ou no um suborno, se realizamos um trabalho ao qual faltam algu-mas caractersticas essenciais, o que viria se constituir provavelmente num logro. Este o espao de base: este nvel e esta ao que a con-siderao tica tem em vista. algo que pode ser objeto de uma descri-o fenomenolgica. E tambm neste plano que se colocam as divises interiores-entre o que tenho a fazer e o que devo fazer-e tambm os sentimentos de angstia, culpa ou mesmo de superioridade moral. 2-Da reflexo tica. Em parte, este espao algo como um subconjunto do anterior: aquele em que examinamos as questes que se encontram em jogo e tendemos a apresentar razes ou justificativas para os nossos atos. verdade que, em certos casos, este espao pode ser muito amplo e em outros quase se apagar diante do impulso de agir. No quer dizer que o impulso seja unicamente no sentido de um agir imediatista. Pode-se manifestar tambm em termos de seguir uma norma tica, reflexo de um habito fortalecido e repetido de agir eticamente. 3-Das normas ou dos cdigos. Este o espao do discurso e das instituies sociais em que se afirmam os deveres e expectativas. E um campo eminentemente complexo e difcil de ser separado dos gran-des conjuntos ideolgicos de natureza filosfica ou religiosa, de um la-do, e, de outro, daquele que dito e aceito nas prticas cotidianas da sociedade. Envolve, de uma parte, enunciados universais do tipo: "no fazer aos outros o que no queres que te faam" e tambm um conjun-to de permisses que se distribuem entre os diversos grupos sociais, al-guns mais rigorosos do que outros. So normas que permitem que se abandone aquelas de natureza mais universal-que podem ser resumi-das na proibio de mentir, roubar e matar. 4-Dos conceitos ticos. Trata-se, por assim dizer, dos termos que constituem o universo do discurso dos trs espaos anteriormente assinalados. So por assim dizer os ns conceituais dos discursos ti-cos, dos juizes e das reflexes. Listemos alguns deles: liberdade, respon-sabilidade, culpa, dever, inclinao, virtudes e vicias, justia e eqida-de, felicidade. De fato, trata-se de conceitos de natureza a um s tem-po terica e prtica. So levados em considerao tanto nos atos de de-ciso quanto na sua analise e, especialmente, nas questes do prxi-mo espao a ser considerado.
5-Das teorias ticas. Enquanto os cdigos ticos afirmam que temos de atuar de determinado modo, seja por revelao divina, seja porque costumeiro, as teorias ticas so elaboraes filosficas que se encaminham em trs direes. A primeira uma elucidao da natu-reza da situao tica, exatamente uma descrio e um esclarecimento do que consideramos como sendo o primeiro espao anteriormente des-crito. Ou, dito de outro modo: tem-se como objetivo distinguir uma situa-o ou um caso tico em relao a outros, como os casos estticos, tcnicos ou polticos. A segunda direo uma elucidao conceitual: a te-oria filosfica pergunta pelo que a liberdade, o dever, a responsabilida-de, a felicidade. Entretanto, esta elucidao conceitual encontra-se inte-grada com o objetivo primrio das teorias ticas, qual seja: o de apresen-tar as razes para que obedeamos s normas ticas. Em ultima anli-se, constituem exames e respostas as questes: O que a vida huma-na? O que nos cumpre fazer? Dirigindo-se agora questo das cincias, importa elucidar que elas possuem duas orientaes. De uma parte, as cincias da natureza esto voltadas para fornecer explicaes dos fatos naturais do tipo fsico, qumico e biolgico, atravs da elaborao terica e do seu teste ex-perimental. De outra parte, as cincias sociais e humanas-ou como as vezes costumam ser chamadas: as cincias do esprito-esto me-nos voltadas para a explicao causal do que para a compreenso, atra-vs da interpretao de condutas e da apreenso de regras que so se-guidas pelos atores sociais na economia, na poltica, nas interaes em geral, na cultura etc. Parece bvio que o modelo das cincias naturais pouco ou nada tem a contribuir em relao a questes ticas. Entretanto, dada a ampli-tude de questes que so apresentadas s cincias e especialmente de-vido ao avano da pesquisa sobre o crebro, parece possvel que sejam formulados projetos de pesquisa correlacionando caractersticas biologi-camente moleculares a certos padres de comportamento ou de desvios ticos. Neste particular, encontra-se no sabemos dizer se um sonho ou uma obsesso antiga de obter da cincia os elementos de controle psicolgico, social e, por extenso, ticos. Este caminho apresentase, no entanto, duvidoso e mesmo questionvel. J a contribuio das cincias humanas e sociais e mais evidente, sendo que j foram chamadas, no passado, de cincias morais. De fa-to, possvel dizer que originalmente as cincias humanas exibiram ligaes bsicas com as questes morais. As cincias sociais apresentam duas faces. Uma delas mais prxima das cincias naturais, buscando correlaes explicativas. Por exemplo, ao tentar mostrar a relao entre o crescimento dos ndices de criminalidade e alteraes negativas no funcionamento do sistema econmico. Mas na compreenso das for-mas de arranjo social ou humano e nas etapas das transformaes que as cincias sociais e humanas encontram o seu lugar mais preciso. Neste sentido, as cincias sociais e humanas podem contribuir e muito para entender situaes como as, por exemplo, que tm vigora-do no Brasil, com o afastamento dos padres ticos. Para interpretar, de um lado, e dar conta do fato, de outro, integram dados histricos, in-formaes psicossociais, apreendem padres culturais e, desta forma, realizam uma sntese interpretativa.
Entretanto, o trabalho destas cincias no toma a forma positivis-ta de uma constatao ttica, pois o seu carter interpretativo envolve um engajamento que podemos dizer de natureza filosfica. Para melhor esclarecer este engajamento, devemos discorrer brevemente sobre a na-tureza da interpretao. O sculo XX , sem dvida, aquele em que o pensamento voltou-se para compreender a atividade de interpretao. E o sculo da psica-nlise e do desenvolvimento das investigaes sobre a hermenutica, especialmente em termos das contribuies dos filsofos alemes como Heidegger e Gadamer. O sentido fundamental das contribuies des-tes foi a concepo do chamado "circulo hermenutico", ou seja, a idia de que a interpretao precedida de algumas concepes necessrias sua realizao. Ou seja, a interpretao realiza-se a partir de pressu-postos que a tornam possvel. Isto vale, certamente, para o esforo inter-pretativo das cincias humanas e sociais. E como estes pressupostos dizem respeito natureza das relaes humanas e sociais e possuem um fundo filosfico, parece aceitvel hoje em dia a idia de uma interpe-netrao entre as cincias humanas e sociais e a filosofia. Neste sentido, a resposta questo acerca de se a tica cincia tem um sentido bastante ambivalente . Dada a amplitude das questes ticas, as operaes do saber envolvidas so bastante variadas. Exami-nemos os diversos casos. Relativamente reflexo tica (item 2), podemos dizer que o que se encontra em jogo uma espcie de sabedoria prtica, atravs da qual se determina o que para ser feito ou como se deve agir. Esta sa-bedoria prtica apropria-se da experincia anterior, interpreta a situao, vale-se de exemplos, leva em conta os conhecimentos acerca dos cdi-gos e normas em vigor-ou das criticas a eles feitas. Relativamente s teorias ticas (item 5), a operao essencial-mente filosfica, desenvolvendo-se atravs de anlises conceituais, des-cries de base e formulaes do problema tico. muito importante destacar que a formulao do problema tico constitui a sua contribui-o principal. Porque as vises filosficas distinguem-se tanto mais pe-la sua formulao quanto pelas respostas que fornecem. Relativamente s normas e cdigos sociais, a operao extrema-mente complexa, porque entram em jogo a sabedoria prtica, as contri-buies das prticas sociais e da revelao religiosa e os resultados cientficos. E exatamente neste espao que a problemtica tica apresentasse mais viva em termos de suas conseqncias, isto , dos efeitos so-bre a vida individual, grupal e social. Neste sentido, o enfrentamento da questo tica por uma socieda-de faz-se atravs de uma arregimentao variada, com ctase e importncias diversas nas operaes filosficas, cientficas e da sabedoria pr-tica comum. No questionamento e no desenvolvimento da tica, todas estas formas de pensamento tm a sua contribuio a dar. Ocorre, entre-tanto, que em certos casos algum aspecto torna-se mais importante ou ento encontra-se aqum da contribuio que poderia dar. No caso bra-sileiro, dadas as condies especiais em que estamos vivendo, encontra-mo-nos carentes em todos os setores e h que realizar um desenvolvi-mento em vrias direes.
Da Modernidade Tcnica Modernidade tica Cristovam Buarque I. A contestao da modernidade tcnica 1. Os dois sustos do final do sculo: tcnico e utpico At os anos 80, a preocupao dos estrategistas era com os meios tcnicos para realizar objetivos predeterminados e generalizadamente aceitos. A partir das ltimas dcadas surgem dvidas sobre os propsi-tos e os estrategistas passam a ter uma preocupao no apenas com os meios, mas tambm com a tica que define os objetivos. Uma das causas desta mudana est nos dois grandes sustos que o final do sculo XX trouxe aos homens. Primeiro, o susto positivo da imensa realizao tcnica realizada ao longo destes cem anos. Segundo, o susto negativo do fracasso em construir uma utopia, com base nestas tcnicas. Quando comparamos todas as criaes tcnicas disponveis no fi-nal do sculo com as expectativas criadas h cem anos, percebemos que muito mais foi realizado do que se esperava. As mais radicais previ-ses do comeo do sculo ficaram tmidas diante do que foi realizado. Ningum imaginou que neste final de sculo o mundo estaria to integra-do culturalmente, to intercomunicado, to rico, com tantas tcnicas m-dicas, de transporte, com tanto conhecimento cientfico. Do ponto de vista tcnico, muito antes de terminar, o sculo XX j tinha realizado e superado todas as expectativas que existiam no comeo. Ao mesmo tempo, quando se compara os sonhos utpicos imagina-dos h cem anos com a sociedade que foi construda nesse perodo, constata-se que a civilizao no caminhou como se esperava. Em al-guns aspectos at se afastou da utopia desejada. Do ponto de vista utpico, o final do sculo XX no se apresenta como um grande xito civilizatrio. Neses cem anos: -a A engenharia industrial realizou maravilhas de automao, au-mentou de uma forma inimaginvel as escalas de produo, mas no ampliou substantivamente o tempo livre das pessoas e, quando ampliou, jogou milhes no tdio e na droga; no re-solveu e at agravou o problema da escassez entre uma enorme parcela da populao mundial, criou um srio desequilbrio ecolgico, gerou um desemprego crnico; -graas engenharia e biotecnologia, a agricultura do sculo XX capaz de produzir mais, em quase qualquer local, com muito menos trabalho, em melhores condies, com uma inima-ginvel produtividade, controlando a terra e as epidemias, no conseguindo
ainda controlar o tempo, mas reduzindo muito seus efeitos, mas no resolveu e at acirrou o problema da desnutrio. -ao mesmo tempo em que graas ao avano tcnico o homem conseguiu criar riquezas em nveis no imaginados poucas dcadas atrs, a desigualdade se ampliou entre os homens e entre as naes; -as cincias medicas conseguiram quase que dobrar a vida m-dia das pessoas, conseguiu adiar o envelhecimento, fazer trans-plantes e prtese de rgos, mas no conseguiu fazer com que estas vidas mais longas fossem certamente mais felizes; -ao mesmo tempo em que conseguiu integrar o planeta, o scu-lo XX desintegrou a sociedade humana, entre pases e entre gru-pos sociais dentro de cada pais. O que se percebe que a modernidade tcnica foi plenamente re-alizada, mas que a modernidade utpica no foi realizada em nenhuma parte do Planeta. 2. O susto tico Independentemente da corrente social, todos os analistas do final do sculo passado e da primeira metade deste viam as tcnicas como a panacia para a construo da utopia desejada por todos. Os econo-mistas neoclssicos mostravam como isto ocorreria graas ao livre jogo das foras produtivas reguladas pelo mercado. Os marxistas defendiam que isto ocorreria por revolues sociais cuja finalidade era na verdade liberar o avano tcnico das amarras sociais. As criticas e os alertas de risco do avano tcnico eram restritos a pequenos grupos de pessimis-tas, que no dispunham de base para comprovar seus temeres. s a partir dos anos 60, graas a quatro fatores, que surgem as primeiras dvidas concretas sobre a eficincia civilizatria das tcnicas em si: -primeiro, a ocorrncia de fatos como a tragdia de Minamata, no Japo, mostrando o risco das tcnicas; o que era restrito ao risco da exploso nuclear, em caso de guerra, passa a ser tambm uma preocupao em tempos de paz devido ao processo industrial; -segundo, a disponibilidade de dados estatsticos em escala mun-dial, a elaborao de modelos matemticos com sistemas glo-bais e o potencial de processamento de dados pelos grandes computadores permitiram observar a gravidade dos efeitos ecol-gicos e os limites ao crescimento econmico; -terceiro, a conscincia do reduzido espao da Terra fotografa-da de naves espaciais; -quarto, a constatao da crescente desigualdade que se mani-festa no mundo a partir dos anos 80, com a integrao econ-mica e cultural internacional e as desintegraes sociais nacionais. Mesmo assim, no final do sculo, com a derrocada dos regimes comunistas, com o conspcuo enriquecimento europeu, cresceram, em vez de diminuir, os sonhos de uma
sociedade de consumo em escala mundial, atravs do mercado, pelo neoliberalismo. Apesar de contradi-zer a realidade, a palavra modernidade retoma fora como ideologia do-minante das elites do mundo inteiro. Salvo que ocorra uma rpida revoluo tecnolgica em setores no previsveis-como reduo do custo dos equipamentos industriais, ba-rateamento dos servios de recuperao ambiental inclusive em escala atmosfrica e substituio dos recursos naturais energticosque mu-de toda a estrutura produtiva, de consumo e mesmo social, todas as anlises mostram que impossvel distribuir a toda populao mundial os beneficias da modernidade atingida pelos pases ricos. A realidade ecolgica, que comea a esgotar certos recursos, co-mo o petrleo, poluir o meio ambiente, depredar toda a biosfera, inclusi-ve a camada de oznio, mostra, sem dvida, que sem uma mudana do padro tecnolgico de produo, que no est a vista, ser impossvel ampliar significativamente a produo. A simples incorporao da populao de um nico pais, como o Brasil, nos padres de consumo dos EUA, j produziria uma escassez de petrleo e uma dramtica am-pliao do buraco da camada de oznio. A realidade financeira mostra tambm que no h recursos em capital suficiente para ampliar a produ-o, gerar emprego para os quatro bilhes de excludos. A simples incorporao dos 60 milhes de miserveis brasileiros ao nvel de pobre-za, 2.000 dlares de renda ao ano, nos padres tecnolgicos atuais, exi-giria um investimento de 340 bilhes de dlares, inexistentes no mun-do. O fcil trabalho de recuperao da Alemanha Oriental j exige do mundo um capital que a Alemanha no dispe, sendo obrigada a elevar sua taxa de juros para carregar recursos no exterior; o dficit norte-ame-ricano fora os EUA a atrair capital do mundo inteiro; a Rssia, que a menina dos olhos do Ocidente, luta desesperadamente para tentar ob-ter 20 bilhes, em dez anos. impossvel copiar, para todos, os padres de consumo das popu-laes ricas do mundo. Ainda mais grave, a continuao do processo de modernizao, no seu sentido tcnico do sculo vinte, levara a uma crescente desigualdade, ao ponto de criar-se, como j h indicaes, dois tipos diferenciados biologicamente de seres humanos. Talvez este seja o maior susto. To grande, que procura-se evitar de reconhec-lo. Depois de 2.000 anos de cultura crist, de 300 de iluminismo, de cem anos da abolio da escravatura oficial, o homem acostumou-se idia de igualdade de direitos entre todos os seus semelhantes. Mas, enquanto recusada teoricamente, ela est sendo construda na prtica. A Europa, que na busca da igualdade realizou a maior migrao em toda a histria, comea a proibir a entrada de imigrantes oriundos de pases pobres. O movimento neonazista se espalha, com muita tolerncia de parte dos trabalhadores que defendem seus direitos e privilgios contra os novos imigrantes. Os EUA, que receberam milhes de imigrantes, dando-lhes um tratamento igualitrio nas oportunidades, freiam a imigrao para os milhes de pobres latino-americanos e caribe-nhos. Mas a segregao no se d apenas entre pases ricos e pases pobres.
Os ricos dos pases ricos aceitam com naturalidade e sem racis-mo os oriundos dos pases pobres, desde que provem serem ricos. Dentro dos pases pobres, os ricos recusam aproximao com os seus compatriotas pobres. No Kualte, defendido como smbolo de demo-cracia pelos pases ricos, os descendentes de imigrantes jamais obtm os direitos civis nacionais. No Brasil, as parcelas de classes mdia e al-ta esto armadas, cercadas, protegidas contra os pobres, em sistemas em nada menos nazistas do que aqueles usados pelos. europeus. Forma-se assim, no mundo integrado, uma nao formada com os ricos do mundo inteiro, no importa a distancia em que estejam fisica-mente; e separados dos pobres do mundo inteiro, no importa a aproxi-mao que estejam fisicamente. O mais grave a observao de que estes dois caminhos, de apro-ximao e desagregao, se aprofundam com velocidade crescente, le-vando clara possibilidade de uma distino entre os homens, definitiva-mente, atravs da biologia que se forma com o tempo. A diferena de hoje entre um habitante do mundo moderno, na Eu-ropa ou no Brasil, e um habitante do mundo atrasado, na Somlia ou no Brasil, muito maior do que era entre escravos e patrcios na Grcia Clssica, ou entre o Rei Sol e os camponeses de seu tempo. A diferena que os patrcios pregos no eram hipcritas e se as-sumiam superiores, diferenciados, em relao a todos os brbaros. Influenciados pelo cristianismo e pelo iluminismo, os habitantes ri-cos do mundo moderno negam-se a reconhecer que a civilizao caminha em direo explicitao da segregao, do apartheid. Mas, no deixam de percorrer este caminho, usando a tcnica e em breve a bio-tecnologia, no sentido de consolidar esta diferena ao ponto de eliminar outra vez, dentro de dcadas, o constrangimento da diferenciao, j que a diferena existir de fato. A nica forma de continuar o rumo da modernidade tcnica fa-zer duas naes parte. Duas universalidades separadas. Isto se observa no dia a dia do Planeta e de cada pais. Nos pases ricos, o freio imigrao, o assalto aos refugiados. No Brasil, a soluo para problemas como arrasto. 3. 0 susto da lgica Esta hiptese assusta e no satisfaz imediatamente, porque contra-diz os princpios bsicos da modernidade do sculo XX, segundo a qual o avano tcnico era no apenas o caminho da utopia, mas um caminho inexorvel para a utopia. Alm destes sustos bvios para o observador, o final do sculo per-mite um outro susto, no to bvio, para o analista que procura uma ex-plicao para esta contradio. o susto
de imaginar que o fracasso na construo da utopia decorrente direto do xito na construo tcnica. Ao avanar, a tcnica foi formando a sociedade conforme os mol-des que melhor lhe serviam. Mas, diferentemente do que imaginou Marx, em vez de a tcnica forar uma igualdade para continuar se desenvol-vendo, diante dos limites do crescimento, as tcnicas serviram para im-plantar a desigualdade, como forma de continuar evoluindo. O que aconteceu a partir deste sculo que o avano tcnico dei-xou de ser um elemento intermedirio na construo das utopias, pas-sando a ser a prpria utopia, em si. Os sistemas sociais contemporneos existem e se estruturam para viabilizar o avano tcnico. A prpria racionalidade econmica foi organizada para justificar o avano tcnico, qualquer que fosse o resultado social. Os objetivos so-ciais foram subordinados tcnica. Para tanto, os valores ticos foram abandonados. Cederam lugar ao propsito esttico representado pelas tcnicas. A sociedade contempornea se organizou, portanto, seguindo uma hierarquia de smbolos da modernidade: -a tcnica, sendo o propsito, subordinou -a racionalidade econmica, que subordinou -os objetivos sociais, todos ignorando -os valores ticos. Para viabilizar o uso de tcnicas depreciadoras de recursos e que exigiam concentrao de renda: -a economia foi organizada de maneira a no levar em conta os efeitos poluentes, nem atribuir valor natureza; -a pobreza foi vista como uma etapa cujos efeitos seriam elimina-dos quando a riqueza fosse ampliada; -como isto implicava em tolerncia com a misria e com a destrui-o ecolgica, os valores ticos que norteariam esta preocupa-o ficaram esquecidos. 4. 0 caso brasileiro O Brasil um excelente caso do projeto civilizatrio contemporneo da modernidade tcnica. Aqui, a modernidade significou: - grficas equivalentes s mais sofisticadas tecnicamente e com produtos com a maior qualidade, mesmo que o pais tivesse 30% da populao analfabeta; apenas 10% da populao concluin-do o ensino bsico;
- os jornais brasileiros se modernizaram porque compraram no-vas e mais eficientes mquinas, mesmo que o nmero de leito-res no crescesse; - a sade moderna significou a realizao de transplante de r-gos, mesmo que o pais nunca deixasse de ter as mais arcai-cas doenas endmicas ; - a modernizao da televiso significou ser colorida e em cadela nacional, mesmo que isto ocorresse sem qualquer compromis-so educativo e sob a mais brutal censura de informaes e de idias; - a indstria automobilstica foi um smbolo da modernidade, mes-mo que dois salrios mnimos, recebidos por quase 80% da po-pulao, fosse insuficiente para pagar diariamente o nibus en-tre a casa e o trabalho; - a produo de automveis com ar con-dicionado j deixou de ter utilidade bsica como forma de con-trolar o calor, serve sobretudo para isolar os passageiros do in-desejado contato com os pedintes, vendedores ambulantes, me-ninos de rua; - a arquitetura das mais modernas em todo o mundo, mas os arquitetos no tm a menor preocupao em criar casas que se-jam acessveis a um programa habitacional de massas; a modernidade est em poder comprar gua mineral gasosa im-portada, mesmo que a populao no tenha gua encanada e os poos estejam cheios de bacilo do colara; - a modernidade agrcola brasileira est no uso de biotecnologia, equipamentos de mecanizao e na exportao, mesmo que o pais tenha um dos maiores contingentes de desnutridos em to-do o mundo; - a educao moderna consistiu em ter boas universidades e cen-tros de pesquisas, que se concentram em problemas com pouca relao com as reais dificuldades nacionais, funcionando em mundo parte com sustos peridicas. H poucas semanas, na minha sala de professor da UnB, uma universidade onde os currculos e os equipamentos de computao no se diferenciam muito daqueles usados no primeiro mundo, fui surpreendido com a entrada de um jovem que pedia auxilio para custear seu trans-porte at um leprosaria prximo; estendeu para receber a aju-da, uma mo j carcomida, sem dedos. -nos esportes, sinnimo de modernidade ser o pais com o maior nmero de corredores em frmula um, mesmo que seja um dos ltimos pases em medalhas nas olimpadas; A construo do Brasil deformado seguiu uma lgica. Para poder justificar as mquinas da grfica como melhor smbolo de modernidade do que numero de pessoas alfabetizadas, foi preciso fazer com que a economia medisse a sua eficcia pelo PIB, e no pelo grau de cultura. A implantao de uma grfica provoca um impacto maior no PIB do que a alfabetizao de milhes de pessoas. A exportao de alimentos se reflete melhor na economia do que a alimentao da populao. A inds-tria automobilstica de carros particulares serve muito mais como carro -chefe do que a educao, a sade ou mesmo um eficiente transporte urbano coletivo para as massas.
A economia foi subordinada tcnica. Ainda mais grave, para que as tcnicas caractersticas de pases ricos fossem viabilizadas em um pais com baixa renda, como o Brasil, foi adotada uma estratgia que exigiu: -concentrao da renda para um mercado de alta renda entre 20% da populao, o que levou os demais 80% misria e diferenciao que hoje comea a provocar a necessidade da apartao social; -sacrificar os investimentos sociais, embrutecer a sociedade, des-moralizar a moeda para construir a infra-estrutura econmica que permitisse indstrias de pais rico em um pais pobre. Para tanto era preciso ignorar os valores ticos. E sobretudo defi-nir, como utopia a ser procurada e estrategicamente realizada, a prpria tcnica utilizada. Os resultados esto visveis. Mas, ainda mais grave, esto visveis, mas no esto inteligveis. Todos passaram a raciocinar prisioneiros da hierarquia que pe a tica como o ltimo passo da ca-deia de responsabilidade social. E isto no um privilgio de uma parte ou outra da populao. Quando os trabalhadores do ABC vem seus empregos e salrios ameaados pela recesso, preferem acordo com as empresas e com o Estado, para sacrificar impostos, visando a manter o poder de compra dos ricos e quase -ricos que compram automveis, propsito de moderni-dade. Em um pais onde uma parte imensa da populao precisa de ele-vados sacrifcios para comprar alimentos sujeitos a impostos, os ricos compram carros sem impostos. Quando as escolas pagam ridculos salderios aos professores e no tm dinheiro para comprar giz, o governo ab-dica de impostos para viabilizar a compra de carro pelos ricos e pela classe mdia. Toda a sociedade brasileira, como toda a civilizao contemporanea, foi capturada pela lgica da utopia como sinnimo do crescimento econmico, pela modernidade como smbolo da tcnica. Conhecendo os limites, os estrategistas que desejam construir a modernidade devero optar no apenas pelo caminho a ser seguido, como ocorria at recentemente, mas tambm pelo tipo de modernidade: -continuar na busca da modernidade tcnica entendendo e aceitando os seus limites, que impedem a distribuio de seus beneficios a todos, e explicitando uma sociedade humana de seres diferenciados nos direitos sociais e mesmo nas caractersticasbiolgicas; -aceitar os limites da tolerncia tica e recusar a diferenciao e o aparheid, revendo a modernizao tcnica e formulando novos propsitos civilizatrios, onde a sociedade humana seja vista em sua integridade.
O primeiro passo de uma estratgia alternativa subverter a lgica tradicional da evoluo civilizatria. Definir de imediato quais os valores ticos a que a sociedade se prope. Com base nestes valores ticos, definir quais os objetivos sociais. Em funo destes, qual a racionalida de da economia. E s ento definir qual a opo tcnica a ser feita. II. As bases para uma modernidade tica A substituio de uma modernidade tcnica por uma modernida de tica exige de sada a definio dos principias que norteariam o futuro desejado e, em conseqncia, qual a estratgia a ser cumprida. Desde os anos 30 a sociedade brasileira tem defendido o desenvolvimento econmico como uma meta aceita hegemonicamente. A partir dos anos 60, os meios para executar esta hegemonia tiveram de recorrer aos mtodos autoritrios. Com o esgotamento deste modelo, a modernidade tradicional entra em crise e em colapso, mas nenhum projeto alternativo surge claramente, ainda menos um projeto que disponhade hegemonia no conjunto da sociedade. Longos anos talvez ainda sejam necessrios para que estes principios venham a ser definidos e aceitos. De qualquer forma, um passo para isto e, portanto, para o inicio da definio de uma estratgia, pode ser a sugesto de cinco pontos bsicos: 1. Democracia, incluindo liberdade individual, e nesta a liberdade e direito s atividades empresariais Em uma sociedade do tipo brasileiro, com profundas razes na viso europia de mundo, no se pode imaginar um futuro desejado, portanto uma modernidade que no seja implantada dentro de normas democrticas e visando constante ampliao desta democracia. A modernidade em pases com outras culturas pode prescindir da democracia e da liberdade individual. Este no o caso do Brasil. Os quinhentos anos de convivncia com a Europa, mesmo como colnia, criaram, felizmente, um sentimento de importncia para a liberdade indi-vidual e a prtica democrtica. Por outro lado, a liberdade empresarial, alm de um direito indivi-dual, uma necessidade de maior eficincia do processo produtivo e, portanto, tambm social, desde que esta liberdade esteja sintonizada com os demais objetivos da sociedade em sua busca por uma utopia. Castrar a energia pessoal de empresrios, com base na necessidade de regular o poder das pessoas criativas, e uma ao to estpida quan-to castrar o potencial de terras produtivas apenas com base no direito propriedade, embora ao lado da terra haja mo-de-obra buscando tra-balho e uma demanda por alimentos. 2. Abolio da apartao
No final do sculo XX, a democracia no se basta nem se justifica se ficar, como no tempo da tica dos pregos clssicos ou na tecnicamen-te moderna frica do Sul, restrita apenas a uma parte da populao. A idia de uma modernidade do tipo sul-africano, excluindo partes da po-pulao, no tica nem eficiente. O custo de manter a desigualda-de termina, como no caso atual do Brasil, por criar custos adicionais ele-vados mesmo para a minoria privilegiada. Quaisquer que sejam os detalhes da utopia a ser construda no Bra-sil, ser necessrio que ela solucione o problema da apartao social, incorporando a totalidade da populao no mnimo bsico para uma vi-da digna. No se trata de retomar a idia da utopia da igualdade nos moldes propostas por Marx e pelos socialistas utpicos no sculo passado e que se manteve acesa at recentemente. Aquela igualdade era etica-mente justa e tecnicamente possvel em um tempo em que a produo estava quase toda concentrada nos bens bsicos. Hoje, apenas uma parte menor da produo voltada para os bens bsicos. A maior par-te do processo de produo est voltada para bens suprfluos que tec-nicamente no podem ser produzidos para todos, e eticamente no exi-ge ser para todos. Mas, tecnicamente e possvel e eticamente absolutamente necess-rio assegurar a todos condies de alimentao, educao e sade bsicas, um cho para morar em condies saneadas e transporte urbano entre a famlia e o trabalho. Nada impede que o Brasil, com sua infra-estrutura, sua disponibilidade de terra e o conhecimento tcnico de que dispe, atenda estas necessidades a toda sua populao. 3. Uma economia eficiente tambm na produo de bens suprfluos. No atual estgio da sociedade brasileira, se se deseja um regime democrtico, no basta abolir a necessidade de bens bsicos. necessrio que 0 processo produtivo seja capaz de continuar, com eficincia a produo e a oferta de bens considerados suprfluos. Para viabilizar estas duas premissas-abolio do apartheid social e simultaneamente manter uma economia eficiente no setor de bens suprfluos-, preciso entender se a economia brasileira tem condies de realizar este esforo duplo e se, em caso de confronto, qual deve ser a hierarquia no uso do potencial disponvel. Em se tratando de um compromisso democrtico, uma hierarquia de prioridades deve colocar o bsico sobre o suprfluo. Se a produo de vdeos no Brasil for insuficiente para atender demanda por equipamentos na educao pblica e os desejos particulares das classes mdias, o governo deve manter suas compras visando a equipar as escolas, mesmo que para isto o mercado fique sofrendo de escassez. O mesmo pode ser dito da disputa entre automveis e veculos para transporte coletivo, de alimentos para exportao ou para atendimento das necessidades nacionais. O que deve servir como incentivo para a proposta de casar democracia, fim da apartao e eficincia econmica em geral, o fato deque o potencial econmico do pais permite
otimismo quanto possibilidade de atender todas estas necessidades, dentro de uma estrategia em que o tempo no ser muito longo. 4. Relaes internacionais abertas Em um mundo em franco processo de integrao e em um Brasil com sculos de relaes intensas com o exterior, no h modernidade isolada. O Brasil no pode imaginar como modernidade um chauvinismo que o isole do resto do mundo, que impea contato com a cultura universal, nem que o restrinja das vantagens do comrcio internacional. Mas, se estas relaes so um objetivo da modernidade desejada, ridcula a idia de que elas so a modernidade em si. As relaes internacionais so modernas sempre que contribuam para a realizao dos objetivos anteriores. O que se observa nos ltimos anos uma promessa falsa e incompetente de solucionar os problemasbrasileiros atrases das relaes comerciais internacionais livres. Uma promessa ridcula, porque todos os pases subordinam suas - relaes internacionais aos interesses nacionais, e no o contrrio. Os exemplos dados como exito do internacionalismo so fruto do desconhe- cimento ou da manipulao. E uma promessa incompetente, porque a liberdade comercial, em um pais do tamanho do Brasil, no produzir os impactos esperados e o de ter efeitos negativos. No que se refere ao fluxo de capital, preci-so lembrar que entre os produtos das multinacionais no esto muitos dos itens necessrios para eliminar a misria entre os 60 milhes de muito pobres do Brasil. Ao mesmo tempo, dentro do padro tecnolgi-co atual, a eliminao da pobreza exigiria uma quantidade de recursos superior a qualquer disponibilidade no mundo. O Brasil no pode cair na ingenuidade de se negar a receber capi-tal estrangeiro, que pode ajudar no seu projeto de modernidade, ainda menos na estupidez de imaginar que deste capital vir soluo para os grandes problemas nacionais. O pais deve objetivar abrir-se, e abrir-se desde j, mas esta abertura tem que estar subordinada aos principias ticos. 5. Equilibro ecolgico, diversidade e descentralizao Finalmente, no se pode imaginar uma modernidade no final do sculo XX que no reserve o potencial e o patrimnio mundial para o fu-turo, o que exige um rgido compromisso com o equilibro ecolgico. A modernidade do comeo do sculo tem sido uma modernidade antagnica com a natureza. At recentemente, o discurso da sociedade brasi-leira era nitidamente antiecolgico. O representante brasileiro na ECO-I, em Estocolmo, explicitou o desejo brasileiro de ampliar seu grau de po-luio ambiental, como indicativo de desenvolvimento. Toda a filosofia ocidental foi de desprezo natureza, independente-mente de ser capitalista ou socialista, neoclssica ou marxista. A nova modernidade tica e a estratgia
para realiz-la devem levar em conta o equilbrio e o valor da natureza como um principio tico a ser seguido. Da mesma forma, o futuro deve romper com o passado que via to-das as sociedades imitando, em todos os detalhes, o desenvolvimento industrial europeu. A viso de um mundo idntico nos gostos, nos valo-res, nas opes estticas e ticas deve dar lugar a um mundo capaz no apenas de tolerar, mas de ver riqueza na diversidade entre as socie-dades. O sentimento brasileiro de que nossos grupos indgenas eram smbolo da pobreza e que sua destruio ajudaria a construir a utopia mo-dernista deve dar lugar a uma viso que entenda a dimenso de rique-za que h em uma sociedade diversa, desde que seja respeitada a de-mocracia interna deste grupo para definir seu futuro e que as condies bsicas de sobrevivncia, conforme definidas pelo prprio grupo, estejam atendidas. A poltica social tem de unificar o bsico a toda a populao, mas permitindo as diversidades que possam surgir quanto aos gostos e as formas de fazer a sociedade. Os modelos econmicos devem perder a iluso do objetivo de um desenvolvimento industrial em que cada regio procura imitar o impossvel modelo do Sudeste, como foi tentado e demonstrado inconveniente no Nordeste. A poltica industrial do futuro deve visar a caminhos alternativos e diferenciados, desde que o bsico se-ja garantido em todas`as partes. Para que isto seja realizado, ser necessrio uma reverso na ten-dncia integracionista, buscando economias de escala para viabilizar as tcnicas importadas, em direo a uma descentralizao do pais. De-pois da integrao fsica necessria, os custos econmicos e sociais da integrao forada, em um pais com as dimenses brasileiras, precisam ser agora revertidos de maneira a criar-se bolses de relativa auto-sufici-ncia. Sem isto, ser impossvel garantir um sistema energtico capaz de manter o irracional sistema de mobilizar madeiras, combustveis, fru-tas, flores, por milhares de quilmetros entre a produo e o consumo. Esta descentralizao vai exigir uma diversidade na estrutura da produo e do consumo, entre regies da nao, como um fato em na-da negativo para uma viso utpica de uma modernidade subordinada a principias ticos. Em compensao, a diversidade no significar a apartao que hoje se observa ser crescente entre as pessoas da mesma nao. No se trata de repudiar as vantagens da integrao, mas de subordinar a integrao aos objetivos sociais, em vez do contrrio, subordinar os obje-tivos sociais ao processo de integrao a qualquer custo. Um exemplo disto est nas telecomunicaes. Seria indesejvel abolir o maravilhoso sistema de comunicaes implantado em cadeia nacional, dando simultaneidade ao pais. Mas esta simultaneidade, quando vista como o objeti-vo, tem depredado e violentado as culturas locais, forando no apenas a simultaneidade, mas tambm a unificao da cultura nacional pelo mimetismo aos especificas valores de uma pequena regio e de uma re-duzido setor social: os artistas e intelectuais do eixo Rio-SP. Em vez dis-to, o sistema de simultaneidade pode continuar, levando a todo o pais as culturas locais de cada regio, de cada setor da nao. As cadelas nacionais de televiso precisam ser prestigiadas em seus papis de integradoras e de difuso em escala nacional, mas as centrais de produo devem se abrir para
absorver uma rede de pequenas produes locais, espalhadas em todo o Brasil. O mesmo se aplica a muitos outros setores. III. A Estratgia 1. A orfandade de modelos Ao longo de 60 anos, todas as estratgias brasileiras visavam a de-finir os meios para realizar o projeto previamente aceito para o futuro do pais. A diferena para hoje que no basta definir os meios, mas tam-bm os prprios fins. Nenhum dos chamados problemas brasileiros de hoje ser resolvido sem uma modificao dos objetivos que a socieda-de brasileira deve perseguir em sua nsia modernizadora. A modernizao de hoje exige a modernizao do prprio concei-to de modernidade, o que muda o trabalho estratgico, dificultando a base de apoio para isto, por causa dos interesses divergentes e da ne-cessidade de fazer hegemnicos os novos interesses, como alguns dos principias citados anteriormente. facil justificar todos os cinco principias anteriores, enquanto no se percebe que h divergncia entre eles e os tradicionais. As dificuida-des entre ter uma escola competente e atender a demanda privada por automveis, videocassetes; atender o desejo de equilibrio ecolgico e o ainda existente desejo de elevado consumo de bens que so intrinseca-mente depredadores. Para complicar, estas estratgias brasileiras tero de ser construi-das em um momento de crise dos paradigmas estrangeiros. Os pensado-res brasileiros e os politicos e estrategistas brasileiros esto rfos de projetos. No h como justificar uma estratgia com base na luta contra um comunismo que j acabou. J no h como justificar a estratgia de construir sociedades socialistas nos moldes conhecidos No h co-mo inteligente e honestamente defender a estratgia neoliberal em uma sociedade mundial que no conhece neoliberalismo, salvo como instru-mento de propaganda to abstrato e desviado da realidade quanto era a propaganda comunista. Alm do que o neoliberalismo, se implantado, leva necessariamente para um sistema de apartao mundial, o que ne-ga o primeiro principio assumido para a nova modernidade. Mas, se esta orfandade dificulta o trabalho terico dos estrategis-tas, que acostumados a copiar modelos estrangeiros se negavam a pen-sar modelos prprios, ela tem a vantagem de forar os novos modelos a estarem mais adaptados realidade da natureza e aos desejos da so-ciedade brasileira. O grande erro do Brasil neste sculo, de solucionar a crise dos anos 60 proibindo o debate de alternativas, ocorreu em grande parte de-vido priso ideolgica dos pensadores e politicos brasileiros. Uns ofere-cendo a alienigena alternativa do socialismo europeu, e os demais im-pondo a alienigena alternativa do capitalismo rico dos europeus. Os pri-meiros assustaram a populao e permitiram que os demais manipulas-sem a opinio pblica receosa, com razo, dos riscos do estrangeiris-mo do comunismo, do materialismo, do fim da propriedade privada, da ditadura de um proletariado que praticamente nem existia no pais. Os outros conseguiram impor o caminho, proibiram o surgimento de novas
alternativas e criaram as condies para que todos os demais erros fos-sem cometidos na tarefa de construir, em uma economia de baixa ren-da, uma economia baseada no consumo de bens de alta renda. A esquerda cometeu o erro que felizmente no tem condies de voltar a cometer, de ter seu projeto vinculado explicitamente ou no a projetos utpicos importados, em geral projetos que no atendiam os pre-requisitos da democracia e aos interesses brasileiros. Por sua vez, a direita, em vez de enfrentar o debate e desmoralizar o colonialismo ideolgico da esquerda imitativa, preferiu implantar uma ditadura que vetou o debate, consolidou privilgios que s seriam possveis com a concentrao e a desagregao social. Agora, felizmente, estes modelos esto em crise e no oferecem alternativas para o Brasil. O Leste Europeu desapareceu e o Ocidente tende a recusar pases como o Brasil, salvo se apenas uma parte da po-pulao brasileira se integrar a ele. Nestas condies, surge a grande possibilidade de que os estrate-gistas que buscam um caminho para o Brasil pensem, pela primeira vez na nossa histria, em um caminho brasileiro para o Brasil. 2. A equao social Diante do Brasil, como do Planeta, h dois caminhos: a explicita-o de uma sociedade de apartheld ou de uma modernidade alternati-va subordinada a principias ticos. A alternativa do apartheld tem dois pontos contrrios: o primeiro, por razes de principio, para os que acreditam ainda nos valores huma-nistas desenvolvidos ao longo de 2.000 anos; o segundo, por razes tc-nicas, por entender que o custo de implantao de uma sociedade apar-tada extremamente elevado para toda a sociedade, inclusive para os que esto includos na modernidade. No caso do Brasil, este elevado custo que comea a despertar a conscincia coletiva do povo brasileiro para a necessidade de subver-so da ordem quando combinam valores ticos, objetivos sociais, ra-cionalidade econmica e opes tcnicas. A concentrao no ltimo como smbolo de modernidade criou uma sociedade de elevados custos para todos. A minoria privilegiada brasileira comea a ter de pagar um eleva-do preo pela desigualdade da qual ela se beneficia. O abandono educao, embora concentrado nas classes pobres, est gerando uma sociedade que incomoda a todos, uma ineficincia que dificulta o funcionamento global da economia e da sociedade. A ma-nuteno da ordem e a proteo do patrimnio e da segurana pessoal custam aos ricos e quase-ricos do Brasil manter uma fora militarizada quase do tamanho do prprio Exrcito, sob a forma de vigilncia priva-da. Alm de ameaar a dignidade do Exrcito, ao propor-lhe o papel de vigilante de banhistas contra arrastes. O custo econmico e a presso sobre os preos provocada por este exrcito se somam ao prprio risco, no mdio prazo, deste exrcito de pobres armados para defender os
ri-cos. A soluo do problema da gua potvel, realizada pelos ricos e clas-ses mdias, transportando anualmente bilhes de litros em garrafas por milhares de quilmetros, alm de ter um custo inflacionrio e depredati-vo do ponto de vista energtico, permitiu, ao abandonar o sistema mais correto de gua potvel para todos, o desenvolvimento do clera, que traz prejuzos no apenas para os que contraem a doena, mas tambm para toda a sociedade. No cenrio internacional, a desigualdade, a po-breza gritante e a violncia no apenas degradam no exterior os prprios ricos brasileiros, como tambm criam uma relao em que o pais pas-sa a ser visto como mais uma das naes parias do mundo contemporneo. Esta situao favorvel a uma estratgia de mudana, desde que seja possvel apresentar um caminho onde os custos das reformas que incorporem a totalidade da populao no sejam demasiado elevados para os privilgios dos ricos e quase ricos. Para ser eficiente, uma estratgia alternativa no deve basear sua proposta em apelos solidariedade nacional, mas sim mostrar as vanta-gens de um projeto alternativo para o conjunto da nacionalidade. No se trata de mostrar a necessidade de uma distribuio de renda nacio-nal, mas de elaborar uma equao em que a distribuio seja benfica inclusive para aqueles que tero esta renda distribuda. A consistncia desta equao est em que a renda distribuda te-nha valor inferior ao beneficio que recebero os que se sacrificarem pe-la distribuio. Seria tecnicamente impossvel distribuir renda e dar um acrscimo de bem-estar em funo da prpria renda e do consumo de-la decorrente. A soluo est em diferenciar os conceitos de nvel de consumo e qualidade de vida. A populao rica e de classe mdia vai pagar maiores impostos ou ver parte dos bens que deseja comprados pelo Estado, mas vai ter uma escola boa de qualidade e gratuita para seus filhos e vai viver em uma sociedade em que todas as crianas pas-sariam por escolas boas de qualidade e gratuitas. A distribuio de protenas para toda a populao pode inviabilizar o costume dos churras-cos de rodzio, j inexistentes e inimaginveis em pases ricos, mas a economia vai ter a eficincia de uma populao bem alimentada, e a so-ciedade, a dignidade de no ter pessoas com fome ao lado da abundncia de uns poucos. Esta viso exige no apenas novos propsitos para a sociedade, como tambm uma reviso do apego dos estrategistas ao pensamento economista. No se trata, como pensam muitos, de uma simples e hipottica distribuio de renda, ou ainda menos que uma simples elevao dos salrios. Nem se trata de concentrar a distribuio retirando apenas dos muito ricos para os muito pobres. A distribuio ter que atingir todos que tm acesso ao consumo, o que no Brasil inclui a chamada classe mdia, para todos que se bene-ficiaro, diretamente, como os pobres, e indiretamente, mesmo os ricos. Apesar de os intelectuais brasileiros no gostarem de escutar, a distri-buio de bens e servios no pode se limitar a tirar dos muito ricos, porque eles so to poucos, que, mesmo quando cada um deles for um consumiste depredativo, o consumo global de sua classe ainda ser pequeno. A grande concentrao do consumo no Brasil est entre os 25 a 30 milhes que caracterizam a classe mdia.
Alm disto, o conceito de luta de classe concentrada dentro do pro-cesso de produo, como visto por Marx, no resiste realidade do sis-tema capitalista atual, em que trabalhadores e capitalistas se aliam, sem-pre que necessrio, para manter seus privilgios mtuos. Diferentemen-te do velho slogan de unidade do proletariado em todo o mundo, o que se observa que os trabalhadores, em seus partidos e sindicatos, nos pases ricos, tm uma viso de aliana com os seus patres, contra os trabalhadores dos demais pases. Na Europa, os trabalhadores apoiam ou ficam omissos diante das manifestaes e do crescimento das foras nazistas. No Brasil, j h muitas alianas entre trabalhadores e patres, sem que nenhum destes tenha uma preocupao com as grandes mas-sas deserdadas. Na frica do Sul, os trabalhadores brancos votaram em uma percentagem muito menor do que os empresrios e profissio-nais liberais, no plebiscito para o fim do apartheid racial. Esta nova situao tem uma explicao. No sculo passado, os tra-balhadores estavam excludos dos bens suprfluos. Hoje, quando ingres-sam no setor moderno, eles participam destes bens, nos quais no ca-bem todos os habitantes do mundo, nem a maioria dos habitantes dos pases pobres e com grandes populaes. Alm disto, no caso de incorporao das grandes massas no mnimo bsico, so os trabalhadores integrados, mas de renda mais baixa, que vo sacrificar o padro de consumo ao qual conseguiram ascender. So os trabalhadores brancos que vo disputar o mercado de emprego e as praias com a maioria ne-gra livre do apartheld. Os ricos brancos continuaro em suas casas e seus empregos de nvel superior, sem concorrncia, por muitos anos. Por outro lado, enganam-se os que, em uma viso economicista, pregam esta distribuio pelo salrio. Com uma renda per capita de pou-co mais de 2.300 dlares ao ano, mesmo que houvesse uma necessria reduo da taxa de apropriao por lucros e juros de quase 60% para 30% da renda nacional, ainda assim a massa de salrios no passaria de 245 bilhes de dlares. Para uma fora de trabalho da ordem de 70 milhes de trabalhadores, um programa de emprego e de aumento de salrios s poderia elevar os salrios at o mximo de 270 dlares men-sais (considerando o instituto do dcimo terceiro ms). Para algum ga-nhar mais que isto, ser necessrio algum ganhar menos. Trs constataes podem ser feitas: primeira, a de que esta igual-dade forada claramente impossvel sem um regime autoritrio, o que negaria o primeiro principio, o da democracia; segunda, a de que mes-mo este valor no permitiria retirar os trabalhadores da pobreza; tercei-ra, de que se isto fosse feito, o processo produtivo, estruturado para uma economia com compradores de alta renda, entraria em colapso, pro-vocando ainda mais misria. esta dependncia da concentrao da renda para manter o mercado dinmico que faz com que trabalhadores ABC de So Paulo tenham defendido a reduo dos impostos dos automveis, o que significa concentrao da renda, para poder manter seus empregos. A populao em geral ver seus servios pblicos degrada-dos, para que os automveis continuem sendo vendidos. Isto significa que as massas brasileiras esto condenadas pobre-za, se a luta contra a pobreza se fizer por meios economicistas. No ha-ver capital suficiente para criar emprego suficiente, nem renda suficien-te para pagar salrio suficiente para todos.
Mas, nada impede que a misria seja erradicado por caminhos dife-rentes. Em vez de elevados investimentos no setor produtivo para o mer-cado e de salrios para viabilizar o acesso dos pobres aos bens de mer-cado, investimentos no setor social gratuito que oferea os servios cu-ja ausncia caracteriza pobreza-como educao, sade e saneamen-to-e elevao da produo de bens agrcolas e industriais bsicos, de forma a reduzir o custo dos mesmos. 3. Alguns pontos para a execuo da estratgia a) A construo da democracia Ao longo dos ltimos dez anos, o Brasil caminhou rpida e plena-mente para um regime poltico democrtico. Foi possvel resistir a todo o liberalismo e corporativismo sindical, ao caos partidrio, ao impeach-ment de presidente eleito, ao controle e manipulao dos meios de co-municao. Apesar de tudo isto, o pais no deu um nico passo em dire-o a uma real distribuio dos resultados de sua economia. Democratizou-se a fala a organizao, a prtica poltica, sem qual-quer concesso social. Em alguns aspectos, como no caso do setor agr-rio, a democracia provocou um retrocesso em relao aos instrumentos legais do tempo do regime autoritrio. A democracia brasileira no avanou porque ela no conseguiu dar o passo fundamental de sair da organizao corporativa para uma organizao social e nacional. O Congresso tem toda liberdade, mas seus deputados quase sempre foram eleitos e representam grupos cor-porativos, perdendo a capacidade de ver, entender e representar interes-ses da sociedade em geral e, especialmente, das camadas marginaliza-das. Os sindicatos, patronais e trabalhistas, passaram a ser vistos co-mo elementos de democratizao, quando eles representam apenas a parte integrada na modernidade e tomam quase sempre decises contra os interesses das grandes massas. As universidades consideram-se de-mocratizadas porque elegem seus reitores, mesmo que esta democracia interna seja usada muitas vezes para evitar mudanas que levem a uni-versidade a um compromisso maior com a sociedade. O maior exemplo, porm, da democratizao emperrada na corpo-rativizao est na "democracia" dos meios de comunicao social, que foi capaz de eliminar a censura, permitir o livre debate, mas manteve rdias e televises subordinados aos interesses do lucro ou da manipulao de opinio por parte de seus proprietrias, que, livres da censuraestatal, exercem suas prprias censuras. Diretamente para censurar, manipular, ou indiretamente para que os meios de comunicao sejam apenas elementos de gerao de lucros, e no de participao, de educao e de promoo cultural. No funcionar uma estratgia de democratizao que no elimine a corporativizao da sociedade e que no ponha os meios de comunicao livres do Estado e tambm do controle por parte de seus proprietrios. A construo da democracia vai exigir mudanas no sistema eleitoral, no sistema de governo e tambm nos compromissos e no papel do sistema de telecomunicaes.
Atualmente, mesmo quando se fala nessas mudanas, elas ficamlimitadas aos aspectos polticos distanciados do social. Busca-se democratizar o processo eleitoral como se isto bastasse para eliminar o fosso social que separa as classes ricas e pobres no Brasil, inviabilizando a nacionalidade. Busca-se a estabilidade das instituies polticas, e no a estabilidade nacional. A idia do sistema parlamentarista, ou do regime monarquista, tem este desvio. Concentra-se 0 debate na forma do agente poltico sem discutir as reformas sociais necessrias. Esquece-se que um sistema com dezenas de partidos, nenhum deles ao menos com uma identidade prpria, no ser capaz de fazer nenhuma reforma, se o governo no dispuser de um mnimo de garantia de mandato para exercer seu poder e realizar sua estratgia. B) Todas as crianas na escola boa de qualidade gratuita. b Todas as crianas na escola boa de qualidade e gratuita. O Brasil tem 31 milhes de crianas em idade escolar. Vinte e se-te milhes conseguem ser matriculadas, destas, sete milhes no termi-naro nem ao menos a primeira srie do primeiro grau; apenas 10 mi-lhes terminaro as quatro primeiras sries; s cinco milhes terminaro o primeiro grau; e apenas trs milhes, 10%, chegaro ao final do ensi-no bsico. Mesmo as crianas que terminarem o segundo grau tero fei-to cursos incompletos no contedo, insatisfatrios nos mtodos, interrom-pidos por greves longas e sucessivas, de professores desmotivados pe-los baixos salrios e pelo pouco reconhecimento social que recebem. Nenhum fator real, ao nvel da economia e da sociedade, impede uma reverso desta situao: -o Brasil tem um nico idioma, o que facilita radicalmente o pro-cesso educacional; -tem uma massa critica de profissionais, tem universidades, es-critores; -tem uma industria capaz de oferecer os bens necessrios para a construo e equipamento das escolas e produo de todo o material didtico necessrio; -tem um nvel econmico capaz de garantir o funcionamento das escolas, atravs de salrios para professores; -tem ainda uma mquina estatal capaz de regular o funcionamento; -tem um sistema de telecomunicaes capaz de complementar a escola e completar a educao; - tem um setor industrial e de transporte capaz de transportar dia-riamente todas as crianas e professores, entre as escolas e as casas. Se ao lado dos quase um milho de professores, o Brasil decidir contratar mais 500 mil, tem disponvel este pessoal, desde que sejam oferecidas duas condies: salrios
satisfatrios e um sistema eficiente de formao e reciclagem. S na universidade, entre os quase dois mi-lhes de alunos, seria possvel obter at 300 mil jovens com condies de serem professores emergencialmente por alguns anos, sem que suas sadas das universidades provocassem dificuldades no desenvolvimen-to cientifico e tecnolgico do pais. Mesmo com uma substancial elevao do salrio media para at 400 dlares por ms para cada professor, e a contratao de mais 500 mil professores, o custo anual, incluindo dcimo terceiro ms, sem contar as transferencias dos beneficias sociais, e um custo de reciclagem e for-mao emergencial de 300 dlares ao ano, o custo dos professores se-ria de 8 bilhes de dlares ao ano. Se incorporasse custos operacio-nais adicionais equivalentes a outros 8 bilhes de dlares para livros, material didtico, incluindo investimentos espalhados ao longo do ano, o total de 16 bilhes de dlares seria inferior a 5% do PIB, menos do que se gasta em quase todos os pases do mundo com um mnimo de ateno educao. Se acrescenta a este custo uma bolsa por estu-dante carente que arrimo de famlia, mesmo considerando 10 milhes nestas condies e oferecendo 30 dlares por ms de aula, para cada um deles, o custo total seria de apenas 5,5% do PIB. Na atual situao fiscal, valor bem inferior ao mnimo previsto pela Constituio. certo que neste valor no est includo o elevado e necessrio custo com merenda e sade, o que, mesmo devendo ser distribuda nas escolas, trata-se de um custo dos demais setores a serem observados abaixo. Mesmo considerando os custos com educao superior, que deve-ria ser vista como parte da infra-estrutura pelos mdicos, engenheiros, professores e filsofos que forma, e no da educao diretamente, o to-tal gasto pelo pais na formao de seu pessoal ainda seria inferior ao que se gasta em outros pases. O problema, portanto, rido de potencial, mas de estratgia da ad-ministrao da produo e da distribuio do processo econmico. Como produzir mais vdeos para escola do que para o mercado; como pro-duzir mais transporte coletivo para crianas do que automveis privados; como fazer uma reforma fiscal que assegure ao governo recursos para pagar aos professores e demais gastos. No mundo contemporneo, a educao no pode se limitar esco-la e famlia. Os meios de comunicao tm um papel crescente na for-mao das pessoas e na divulgao cultural. Por esta razo, qualquer estratgia educacional tem de incorporar os meios de comunicao en-tre os instrumentos fundamentais. No Brasil estes meios foram, desde o inicio, usados com a finalidade de dinamizar o setor econmico. O pa-pel educativo e cultural ficou subordinado economia, como elementos de dinmica do marketing e de criao de uma viso de mundo propicia ao crescimento econmico como meta do projeto civilizatrio. Esta realidade ter de mudar. Uma estratgia para a modernizao tica exige formas de manter a liberdade dos meios de comunicao, evitar todo monoplio inclusive por parte do Estado, mas garantir o direi-to social de acesso televiso e rdio. Exige sobretudo que o tempo destes veculos tenha um compromisso educativo. Mesmo que prepara-dos livremente pelas empresas, mesmo com intervalos comerciais, os programas de televiso nos perodos matinais e comeo das tardes po-deriam ser utilizados pelas escolas como
complementao didtica, ca-so no se limitassem apenas aos shows, que no momento So chama-dos de programas infantis. c) Nenhum brasileiro sem uma alimentao mnima necessria No se pode imaginar modernidade tica, se no for possvel a abolio da desnutrio no pais. A viso economicista imagina que isto possvel atravs apenas de uma poltica salarial. Havendo demanda, surgir a produo de alimentos para o mercado interno. Esquece que: a) apesar dos aumentos, os salrios continuaro baixos no Brasil; b) a diferena de renda no Brasil, quando comparada com os pases ricos, faz com que, por muito tempo ainda, fique difcil concorrer com o poder de compra destes pases. Pelo mercado, a agricultura nacional continua-r preferindo alimentar os animais de uma Europa rica, aos pobres da sociedade brasileira. Um programa de aumento da produo voltada para o mercado in-terno ter que: a) fazer uma reorganizao do uso da terra, incluindo, em algumas reas, uma modificao de sua propriedade. No se trata de abolir a propriedade da terra, condio que j demonstra ser ne-cessria para viabilizar uma agricultura eficiente. Mas, trata-se de subordinar a propriedade da terra a interesses sociais. Se, corretamente, a lei ameaa com desapropriao as propriedades usadas para produzir drogas, nenhuma tica humanista justifica a proteo da propriedade da terra que impede milhes de pessoas com fome de serem alimentadas; b) reorientar a produo voltada para o exterior em direo ao abas-tecimento das necessidades internas; c) no caso em que seja mais eficiente a exportao, estabelecer o compromisso do uso dos dlares amidos com exportao de ali-mentos, para importar alimentos que o Pais no esteja produzin-do para sua populao. Com estas linhas de ao, no h impedimento para elevar consi-deravelmente a produo de alimentos: o Brasil dispe de terra suficien-te, de mo-de-obra abundante, de conhecimento tcnico suficiente, de uma indstria de fertilizantes, de equipamentos, de um sistema financei-ro implantado nacionalmente. Resta o problema financeiro de como garantir preos que sejam suficientemente altos para oferecer lucros aos produtores e suficiente-mente baixos para serem acessveis a uma populao com baixa renda mdia. A soluo, igual a todos os demais pases, ser utilizar mecanis-mos de compensao, com subsidias, e programas de distribuio assis-tencial de alimentos, como tambm feito em todos os demais pases, em momentos emergncias. H, na elite e na lgica brasileiras, uma resistncia concesso de subsidias ou distribuio emergencial gratuita de alimentos. comum, neste debate, escutar de professores universitrios a idia de que estas prticas so assistncias, em vez de descobrir se so justas e eficien-tes. Ao mesmo tempo, como repudiam o auxilio educacional aos pais cujos filhos so arrimo de famlia, no repudiam ticket restaurante para os que trabalham. O
Brasil o nico pais onde a elite recebe ticket restaurante, que no consideram paternalismo, mas onde repudiado auxi-lio de alimentos para os pobres, em nome de evitar-se paternalismo. Um programa desenvolvido pelo SESI em Braslia serve como indi-cador do custo para se eliminar a fome, e de como isto est ao nvel do possvel no Brasil. Cada sopa, de elevada qualidade nutritiva e de gosto, custa 7 centavos de dlar. A oferta diria de uma sopa deste ti-po a cem milhes de brasileiros custaria por ano 2,5 bilhes de dlares. Embora estas contas no sirvam para indicar que o problema seria solu-cionado ao nvel do real, que exige aumento de produo, serve para mostrar que, caso haja interesse de aumentar a produo, o custo a ser financiado inicialmente por uma distribuio da renda seria reduzido dian-te do impacto positivo que a medida produziria. d) Nenhum doente ou aposentado em fila para receber atendimento Com exceo do triste espetculo dos meninos de rua, nada mais deprimente e compromete mais a modernizao tica do que o quadro de sade de sua populao. Uma estratgia de modernizao real ter que evitar esta situao. O Brasil dispe de todos os meios para isto. Tem mdicos em quantidade, tem indstria qumico- farmacutica competente, tem cincia e tecnologia. Falta apenas uma organizao que procure definir corretamente o problema. A soluo do problema da sade pblica no est na implantao do seguro privado, quase sempre financiado com recursos pblicos, que atende apenas os includos no setor da modernidade tcnica. Esta soluo defendida pelos que j so beneficiados por este sistema de aparfao, como funcionrios de estatais e empregados das grandes indstrias e outros que pensam ingressar nesta soluo esquecendo todos os demais. A crise da sade em um pais com a riqueza dos EUA mostra que impossvel o sistema privado resolver o problema. O seguro sade s atende quem est empregado, quem tem salrio capaz de pagar seguro, funcionrio de entidades de alta rentabilidade, ou empresas pblicas, onde o Estado mantm sistema de privilgios apenas para alguns: seus empregados. No Brasil, a situao to desviada, que at o sistema de sade pblica criou um sistema privado mantido com recursos pblicos, exclusivo de seus funcionrios. Um sistema de sade pblica no pode ser baseado no seguro privado, at porque ele comea antes da sade, comea na alimentaoe no saneamento. Sem uma garantia de saneamento, o custo da sade ter uma di menso desnecessria. Todos os recursos necessrios para implantar um sistema de saneamento e gua potvel esto disponveis, desde que as opes tcnicas sejam adaptadas ao que j se conhece, sintonizadas| com os recursos industriais e financeiros, evitando-se a imitao das tcnicas de grandes construes que elevam os custos sem melhorar os servios. Da mesma forma que o Brasil pode oferecer um sistema de atendimento de sade capaz de eliminar toda espera para os doentes, possvel eliminar toda fila para o atendimento de
aposentados. Mas, para tanto, precisa eliminar um dos mais deplorveis sistemas de apropriao de recursos publicas, sob a forma de aposentadorias precoces de jovens brasileiros, muitos deles bem remunerados, mentidos pelos mais jovens, em razo de leis conquistadas por corporaes, especialmentedo setor publico das estatais. e) Nenhum processo produtivo com custos entrpicos de curto prazo Quando o poder tecnolgico era limitado, incapaz de provocar modificaes no curto prazo, as estratgias no necessitavam pensar no longo prazo. A partir das ltimas trs dcadas, com a descoberta dos impactos ecolgicos no processo de desenvolvimento, tornase necessrio incorporar esta nova dimenso em qualquer estratgia que no deseje ser interrompida em um prazo relativamente curto. O Brasil, como um retrato do Planeta, um dos pases que mais necessita levar em conta este impacto. No possvel imaginar uma estratgia sria de futuro que no le-ve em conta a necessidade de conservar os recursos naturais, as fontes energticas, o meio ambiente em geral. Qualquer projeto de modernida-de, inclusive a eliminao da pobreza, deve tomar em considerao os limites fsicos que existem no atual nvel de desenvolvimento tecnolgico. Lamentavelmente, no isto o que ocorre. Ao ritmo atual de consu-mo definido pela presente estratgia energtica brasileira, as reservas de petrleo do Brasil estaro esgotadas em poucas dcadas. Enquanto outros pases j tomam medidas contra a depredao de suas reservas, o que se observa no Brasil que o aumento da explorao de petroleo e visto como um xito, e no como um risco. O mesmo pode ser dito de diversos outros recursos, assim como do nivel de degradao ambiental do ar, da gua e do territrio brasilei-ro em geral. A modernidade tica vai exigir limites explorao anual de petr-leo, de acordo com a disponibilidade de suas reservas; definir reas de explorao da Amaznia; impor medidas protetores do meio ambiente a serem cumpridas pelas indstrias; e proibir o uso de certos tipos de insumos qumicos na agricultura. f) Descentralizao e descorporativizao Um ponto chave de uma estratgia de longo prazo para o Brasil consistir em dois passas simultneos: um processo de descentraliza-o na execuo do processo econmico e social e a reduo da corpo-rativizao que gera perdas, deseconomias e ineficincia. O processo educacional, por exemplo, em um pais como o Brasil, no pode ter execuo e controle centralizados. O que se necessita um sistema central de arrecadao e distribuio de recursos, tendo em vista a grande desigualdade da distribuio espacial da
renda. Mas a execuo deve ser descentralizada ao nvel de municpios e at ao nvel de escolas isoladas. O setor industrial deve descentralizar sua produo de maneira a evitar os custos desnecessrios de transporte, que so cometidos em nome da viso de uma esquisita economia de escala que no leva em conta as externalidades custeadas pela sociedade. Isto exigir uma poltica de subsidias e uma poltica de alocao industrial completamente diferente da falsa liberdade que se baseia no apoio pblico para cobrir gastos. 9) Relaes internacionais Finalmente a estratgia deve prever um sistema de abertura para as relaes exteriores, mas desde que subordinadas aos interesses nacionais. Trata-se de ter como estratgia nacional uma sociedade aberta para o exterior, mas com uma abertura subordinada radicalmente aos interesses da sociedade e da nacionalidade brasileiras. Em nenhuma hiptese deve haver abertura para a definio de modernidade nem dos propsitos nacionais. A abertura se d depois de definidos estes objetivos, em uma cooperao que possa facilitar atingi-los e no distanciar-se deles. IV. Um Planeta chamado Brasil O Brasil um retrato do Planeta Terra, com uma populao 30 vezes menor. S o Brasil e o Planeta inteiro tentaram o progresso industrial por tanto tempo com tanto xito econmico e tanto fracasso social. Os demais passes ou no tentaram com tanto xito ou no fracassaram O PIB (real) per capita, corrigido segundo a metodologia das NNUU, de US$ 4.340,00, para o mundo, e de US$ 4.620,00, para o Brasil; a esperana de vida de um habitante do mundo ao nascer de 65,5 anos, no Brasil, 62,8; a mortalidade infantil no mundo de 104 por 1.000, e de 85 por 1.000, no Brasil. A crise ecolgica e a distribuio da renda ocorrem de forma muito parecida no Mundo, visto como um todo, e no Brasil, isoladamente. Salvo no que se refere educao, em que o Brasil est pior do que o Mundo, o Brasil um retrato do planeta Terra. Mas o mais forte trao caracterstico do planeta que o Brasil reproduz a existncia de um sistema de apartao social de sua populao. a fora dos ricos para impedir a distribuio de seus privilgios, ao mesmo tempo que tentam manter a farsa de que so solidrios e defendem a igualdade entre os homens. Esta a marca principal do planeta Terra no final deste sculo: a integrao fsica, que permite a migrao em massa entre pases, e a segregao social entre as populaes nos pases. A integrao fsica que permite aos habitantes de todas as partes do mundo assistirem ao encontro da ECO-92, e a segregao social que obriga os brasileiros a expulsarem os pobres do centro da cidade, durante a mesma ECO-92.
Um dos aspectos que um dia ser escrito na histria da ECO-92 a aventura de muitos participantes hospedados em hotis protegidos ou em casas em condomnios fechados, que se deslocavam em estradas protegidas por soldados e tanques e entravam no recinto fechado cercado do Frum Global, para discutir o futuro do mundo. Este aspecto caracterstico de um Brasil perfeitamente representante do Planeta. O que acontece nos pases ricos, obrigados a impedir a imigrao de pessoas dos pases pobres, o que acontece no Brasil, com shopping centers, condomnios fechados, guardacostas, evitando a convivncia entre os includos e os excludos do progresso. Nestas condies, o futuro do Brasil ser parecido com o do planeta. Se quiser continuar o atual modelo de crescimento, o Brasil ter que implantar o mesmo tipo de segregao, explicitando a apartao entre ricos modernos e pobres atrasados. Se rejeitar esta alternativa obscena, e inventar um caminho diferente, o Brasil pode vir a ser um retrato do que o planeta desejaria para o conjunto do Mundo. Da mesma forma que tem todas as deformaes, o Brasil tem to-das as qualidades do planeta. Os pases muito pobres dificilmente pode-ro oferecer uma alternativa. Os pases ricos no sentem a necessida-de de alternativa. Mas nos pases ricos cada vez mais ser difcil conviver com uma tica internacional do crescimento auto-sustentado e uma democracia que limita o direito de voto apenas aos nacionais. A maioria dos ricos continuar, democraticamente, votando para isolar-se cada vez mais dos pobres do mundo. Da mesma forma que Bush, democraticamente de olho nos votos americanos, no quer assinar o tratado da biodiversi-dade para o planeta. No Brasil, tica e democracia podem estar casados. Porque o fim das desigualdades coincide com os interesses das grandes massas na-cionais e internacionais. O retrato do mundo atual que o Brasil representa pode servir para que o Brasil elabore o retrato que o mundo do futuro pode ser, em um projeto em que tica e democracia se casem. Atravs de uma socieda-de que respeite as liberdades individuais, elimine toda forma de aparta-o, concentre o esforo humano na ampliao do patrimnio cultural das sociedades, respeitando o equilbrio ecolgico, sem abandonar, mas considerando por ltimo, o sonho do consumo suprfluo como parte da meta civilizatria. tica e Poltica Roberto Saturnino Braga Preliminar O presente artigo no um texto acadmico composto em linguagem de rigor filosfico, mas reflete um propsito que mais de convoca-o ao interesse geral sobre um tema to rico quanto importante para o Brasil dos dias correntes, vivendo a mais grave crise de sua
histria, demandando toda uma reconstruo da sua vida poltica e exigindo um reforo substancial da dimenso tica desta prtica. tica um dos grandes capitulas em que se divide o pensar do ser humano desde os primrdios da filosofia, na Grcia Antiga. E des-de essa origem a tica teve e tem uma intima ligao com a poltica, chegando mesmo a uma quase identificao naquele momento da Anti-gidade. que tica um conceito Iminentemente ligado ao coletivo seja esse coletivo a corporao (o caso das ticas profissionais), a na-o ou a humanidade (onde se colocam todas as questes dos direitos humanos). Assim que a filosofia poltica foi sempre tratada dentro do grande capitulo da tica que, com a fsica (e a metafsica) e a lgica, compunham o quadro geral da filosofia na Antigidade. O conceito de tica tambm algo estreitamento vinculado ao sen-timento dos povos, ao seu modo de viver e aos seus costumes, como in-dica a raiz grega da palavra (ethos), e tem naturalmente evoludo no seu contedo, como evoluem esses costumes ao longo do tempo e da hist-ria. As ticas de hoje so em vrios aspectos profundamente diferentes das antigas, e a forma de encarar a escravido provavelmente o exem-plo mais conspcuo dessas diferenas que abrangem muitos outros as-pectos relevantes. Os antigos no conheciam, por exemplo, nenhuma tica da humanidade e um dos seus princpios de virtude era o de fazer o mal aos povos inimigos. Quanto poltica, a sua idia se desdobra em dois conceitos dife-rentes que convivem quotidianamente na opinio dos cidados e na motivao da ao dos polticos: um o de que a poltica, a mais nobre das ocupaes humanas, o empenho na realizao do bem comum, do bem da coletividade ao qual se aplica como a um propsito final; a concepo de Plato e de Aristteles, dos filsofos pregos que a explici-taram na sua polmica de afirmao da filosofia (que se confundia para eles com a poltica), contra o pragmatismo dos sofistas e dos retricos que ensinavam a linguagem eficaz para o manejo das assemblias e das funes polticas. O outro o de que a poltica a arte e a sabedo-ria de conquistar e de manter estvel o poder; o fazer o bem; nesta vi-so, no propriamente um fim, mas um meio de ganhar o apoio dos cidados para a conservao e a estabilizao do poder, empregado em paralelo com outros meios tambm vlidos, como o marketing, o con-trole da mdia, o clientelismo, o populismo e at mesmo a mentira, a vio-lncia e a corrupo. Este o conceito derivado das interpretaes mais correntes dos conselhos de Maquiavel e o que melhor se enqua-dra nas concepes da cincia poltica moderna, entendida a cincia co-mo conhecimento neutro, isto , destacado de qualquer considerao de natureza tica. Ambos os conceitos so correntes no mundo e nos tempos, tenden-do a prevalecer, no geral, o "realismo" do segundo. Assim que, entre ns, contemporaneamente, a virtude mais popular da poltica a esper-teza, que a linguagem simples tem chamado de "jogo de cintura", junta-mente com a coragem, macheza ou ousadia; qualidade das quais nas-ce a confiana no poltico, como algum capaz de bem dirigir o povo com pulso e habilidade. A idia do bem, entretanto, estar sempre pre-sente e importante, a fazer a critica permanente do pragmatismo, impe-dindo o poder de violar certos limites ditados pela tica e levando-o mes-mo a fazer concesses a muitas de suas postulaes, ainda que vistas freqentemente como romnticas ou quixotescos. E o propsito do bem, a sua busca pela poltica, tende a
ganhar dimenso de hegemonia nos momentos de crise grave que abale os fundamentos ticos da socieda-de, gerando verdadeiros momentos revolucionrios que operam profundas transformaes poltico-sociais. As relaes da tica com a poltica se do principalmente em trs vertentes, quais sejam, as relaes de conflito, as de convergncia ou encontro e aquelas que se desdobram numa dialtica de condicionamen-to ou de iluminao. Relaes de Conflito Um primeiro campo de relacionamento, que tem sempre suscita-do mais interesse nas especulaes e nos debates que se travam sobre o tema, o dos conflitos entre os principias da tica e a realidade da poltica. Formou-se neste campo uma verdadeira dialtica do pragmatismo dos fins com o dever dos meios que assumiu formas diversas ao curso da histria. Na Antigidade, a critica pela perspectiva da tica era feita pelos filsofos em nome do ideal da "vida digna" sobre as polticas dos governantes que buscavam a glria e especialmente dos tiranos que exerciam o poder por cima das leis. Na Idade Mdia, o objetivo do prag-matismo estava ligado a estabilidade dos reinas e glria dos prncipes, enquanto a critica pela perspectiva tica era feita em nome dos princi-pios da moral crist que deviam pautar os "bons governos". Na moder-nidade, o eixo do pragmatismo transferiu-se para a eficcia vista pela tica do econmico, enquanto a critica tica se fundava nas ideologias da igualdade econmica e da justia social. Assim, tica e poltica sempre tiveram uma intensa relao dialti-ca de conflito, na convivncia, variando os termos e os temas desse con-fronto. Entre esses temas, sempre se ressaltou o da mentira poltica, co-mo uma espcie de agresso mais aceitvel aos principias morais. Pla-to, por exemplo, dava aos mdicos e aos polticos o direito ao uso da "mentira til", aquela capaz de agir como um frmaco sobre os indivi^ duos e sobre a plis em estado de doena. Modernamente, a polmica da mentira e da verdade se tem situado em torno do conceito da "razo de Estado" que se originou nas relaes de diplomacia entre os Esta-dos monrquicos e se estendeu s relaes governantes-sditos, signifi-cando projetos e informaes que tinham de ser mentidos em segredo nos crculos mais ntimos do poder. Negar peremptoriamente a existen-cia de um projeto ou dispositivo de defesa que no pode ser conhecido um caso tpico, a manuteno de segredos militares; forjar imagem negativa de uma nao inimiga ou do seu lder outro. Muito alm do uso da mentira, casos bem mais graves de violao de princpios morais, como o assassinato de inimigos perigosos, so cometidos secretamen-te em nome dessas razes de Estado e, quando revelados posteriormen-te, podem ser compreendidos e at aceitos por grande parte da opinio corrente, desde que justificados com a apresentao de um fim que pos-sa ser considerado eticamente mais forte, como a defesa da nao ame-aada. Tal aceitao, todavia, nunca consensual, mesmo nos casos mais leves, e sempre suscita reaes e criticas que fazem do conceito de "razes de Estado" motivo de muita polmica e contestao. O uso da mentira nas aes polticas pode tambm ultrapassar o conjunto dos casos caracterizadamente decorrentes de "razo de Esta-do" e continuar tendo aceitao, muitas
vezes at mais consensual, sob o ponto de vista da critica feita segundo a tica. Por analogia, poder-se-ia invocar para esses casos uma justificativa reconhecida como "razo de Governo". Exemplo tpico o de um congelamento de preos, ou qualquer outra medida de governo que no possa ser conhecida com antecedencia, sob pena de provocar especulaes e manobras destrui-doras dos efeitos intentados; a negao desses atos pelo governante at o dia em que so decretados uma mentira poltica bastante aceit-vel pelos critrios ticos correntes, desde que explicada imediatamente aps pelos proprios fatos. A dialtica da politica com a mentira tem ainda outras reas de con-tato, a atividade politica necessariamente tem uma dimenso que o "fa-zer imagem", construir e cultivar a imagem do lider, a imagem do candi-dato, a imagem do partido, algo que facil e corretamente escorrega pa-ra o "forjar imagem", com o sentido de forar os limites da verdade, e se confunde freqentemente com a impostura e a mentira til para o for-jador. sabido que a politica lida muito com "verses", e no tanto com verdades cientificas, cujo estabelecimento misso da histria, com seus mtodos e sua perspectiva de tempo. A verso um tipo de infor-mao imediata e oportunista, naturalmente sujeita ao erro e ao equivo-co, podendo resvalar com freqncia para a mentira fazedora de imagem, sem que seja fcil detectar a inteno maldosa. Dentro desta mesma rea de contato, colocam-se tambm os esforos de mobilizao para adeses populares de sustentao a posies de governo ou de oposi-o, que trabalham com verses, com compromissos apenas relativos com a verdade, com promessas sabidamente irrealizveis, buscando an-tes a eficcia no que concerne aos objetivos colimados. O entendimento que compatibiliza esses conflitos da tica com a politica o de que ambos os conceitos tem tudo a ver com a vida huma-na, com o Ser do homem em sociedade, e este Ser recusa qualquer ti-po de enclausuramento dentro de principias absolutamente rigidos. Se a moral, no mbito do individuo, admite margens de flexibilidade no que respeita aos seus principias (e s na teoria aceita os imperativos categ-ricos, no obstante a enorme lucidez de Kant para mostrar que no exis-te diferena entre teoria e prtica), a tica, que preside as aes na pers-pectiva da coletividade, invoca tantas vezes a razo, atributo essencial desse Ser, a fim de validar margens de tolerncia para as aes politi-cas, sem que tenha de renunciar ou abrir mo de seus principias, sim-plesmente flexibilizando-os. No seria preciso chamar Hegel para com-preender a fora racional dessas realidades. H formas e feies desses conflitos que so especificas do funcio-namento da democracia representativa que se vai consolidando como sistema politico em todas as partes do mundo. o caso, por exemplo, da promessa politica, usada, larga e genericamente, de maneira mais ou menos tica, como meio de conquista do voto, que a via de legiti-mao propria do sistema. A promessa, que o mais das vezes uma demanda do prprio eleitor (e por isso to intensamente usada), decor-re da necessidade humana de alimentar expectativas existenciais positi-vas e assume formas extensamente variaveis no que tango possibilida-de de compatibilizao com a tica, desde aquelas realistas e licitas, fei-tas com o propsito de cumprimento, at as que envolvem favores pes-soais particulares e no divulgveis (mesmo cumpridas), e as falsas pro-messas, que se enquadram no capitulo da mentira politica, mas sem ne-nhuma relao ou justificao possivel sob argumentos de razes de Estado ou de Governo.
A promessa aqui referida a que se dirige a indivduos ou a gru-pos constitutivos da clientela do candidato, no a promessa ligada a compromissos programticos ou de governo, apresentada ao todo da comunidade eleitora. Esta verdadeiramente uma exigncia da repre-sentao e da democracia, embora ela tambm possa freqentemente resvalar para a mentira, pela via da demagogia, e tornar-se incompatvel com a tica. Outras questes do regime democrtico dizem respeito comparti-mentao de representao poltica pelo corporativismo e tendncia manifesta nas democracias modernas ao desinteresse crescente da po-pulao em relao esfera das coisas pblicas, desinteresse mesmo pelo que concerne ao destino nacional respectivo. Penso que esta uma questo que tambm tem a ver com a tica: a constatao de que a preocupao absolutamente predominante em assegurar as franquias e direitos da esfera da sociedade civil, e a exacerbao das disputas tpicas das sociedades de mercado, as disputas de interesses legitimas dentro desta esfera (sociedade civil), como que vo amesquinhando a tica eminentemente poltica, a tica de Hegel, e gradativamente substi-tuindo-a pela tica do Gerson, para usar o jargo que o nosso povo en-tende. E a tica no pode ficar contida na esfera da vida privada em seus confrontos, a tica no se separa da poltica, da esfera da vida p-blica. A tica poltica, matria pblica, ou no tica, pode ser mo-ral, conjunto necessrio de princpios das aes individuais. Logo adian-te voltarei a comentar este ponto to relevante. E, ainda nessa abordagem de questes especficas do sistema de-mocrtico, h finalmente os que pretendem afirmar a relativa falta de importncia de qualquer tica de valores universais (de fundo racionalista ou religioso) no mundo ps-moderno, sustentando, pragmaticamente, que o que relevante o respeito s normas positivas da democracia liberal, verdadeira garantia da boa convivncia entre os homens em to-dos os sentidos. Todavia, o avano e a consolidao da democracia neste final de sculo vo produzindo, tambm, em contrapartida, linhas de pensamen-to que parecem impor-se progressivamente, constituindo uma tendncia a resolver esses conflitos cada vez mais em favor da tica. No que tan-ge mentira poltica sob todas as suas formas, incluindo as variantes da promessa, crescem as exigncias da chamada "transparncia" de todas as aes pblicas, polticas e governamentais, sendo cada vez mais o direito verdade visto como condio necessria efetivao da liberdade de opinio consagrada em todas as constituies, na medi-da em que, sem a informao completa e correta, no pode haver opi-nio no sentido pleno da expresso, no sentido compreendido por essas constituies. No que tango aos aspectos ligados ao desinteresse pela poltica e ao menoscabo pelos principias ticos na dimenso coletiva, a contrapartida vem da critica ao que se pode chamar de "democracia de resultados" e da conseqente exigncia de novas formas de demo-cracia mais participacionistas e menos "representativas" na acepo clssica do liberalismo. Entretanto, se possvel inferir ou vislumbrar uma tendncia ao encontro da tica com a poltica na evoluo da democracia, este ser um encontro a muito longo prazo, um encontro de tipo assinttico, no o encontro imediato e historicamente momentneo tratado a seguir. Relaes de Reencontro
Ao contrrio da dialtica de conflito que caracteriza as relaes correntes da tica com a poltica, mediadas pela compreenso da tolerncia e tendentes, provavelmente, a uma afirmao crescente e paulati-na da tica com a evoluo da cultura democrtica, ocorrem momentos histricos de verdadeiro encontro ou identificao dos conceitos quan-do uma sociedade ou nao mergulha em crise profunda de desestrutu-rao. So momentos de descontinuidade no processo histrico das na-es, momentos potencial ou efetivamente revolucionrios que produzem transformaes profundas, radicais, definidoras de um novo rumo poltico do pais. O Brasil Ia teve na sua histria esses "momentos ticos" no scu-lo passado, do meio da dcada dos 70 at o final dos 80, com a aboli-o da escravatura que resultou na Repblica; no sculo atual, o perodo que se iniciou em 1922, que produziu a Revoluo de 30 e desdo-brou-se no desenvolvimentismo dos 50. Os dias atuais prenunciam o despertar de um novo desses momen-tos criticas, e em todos os pontos do pais explode o debate sobre as de-finies da tica e da poltica, em busca da justaposio dos conceitos como exigncia da prpria sobrevivncia nacional. Ao mesmo tempo, cresce a exigncia de formulao de um novo projeto poltico e econmico para uma nova etapa do desenvolvimento nacional. Nesse debate, recorre-se naturalmente aos clssicos do pensamen-to filosfico para examinar-se a realidade nacional luz de suas medita-es. E a referencia bsica da qual se parte mais freqentemente a fundamentao da moral kantiana com seu imperativo de universalidade: agir como se cada ao respeitasse uma regra ou mxima absoluta-mente universal a que todos se submetessem. Mas a moral do indivduo em sociedade, como referido anteriormente, no chega a responder com-pletamente s preocupaes e exigncias desses momentos ticos, que so mais amplas na medida em que abrangem as relaes da ativida-de pblica. A critica de Hegel e definitiva, ao mostrar que a nao po-de ter como principio decisivo de suas aes a soma algbrica das von-tades individuais e corporativas em competio na sociedade civil, mes-mo que pautadas pelos imperativos da moralidade e da legalidade. A tica da nao muito mais, a responsabilidade verdadeiramente cole-tiva, o principio que rege a esfera do poder pblico na qual todos es-to presentes como um todo maior que a soma das partes. Repetindo o que foi dito, a tica a moral da nao em seu conjunto e na ativida-de pblica, na poltica que ela se consubstancia e se revela. tica e poltica se completam necessariamente; nos momentos crticos esta con-cluso se explicita com clareza e se verifica ento que pela poltica, e s pela poltica, que se pode e se deve empreender a reconstruo da tica desestruturada. E importante insistir e ressaltar este ponto, porquanto nesses mo-mentos de reencontro que fica bem claro que a tica deve compreen-der o sentimento popular com respeito ao destino da nao, s aspira-es da sociedade quanto a este destino. O conceito de tica obrigato-riamente abrange o interesse de cada um e de todos pelo destino nacio-nal, e este interesse, os sentimentos e aspiraes referidos, necessaria-mente se define sob a forma de consensos, sob pena de tornar-se invi-vel a manuteno da fidelidade e por conseguinte da unidade nacional. O separatismo que se alastra hoje pelo mundo reflete esta exigncia; no um enfraquecimento dos laos, lealdades e sentimentos nacionais, mas, ao contrrio, a
necessidade de redefinies das unidades, tendo em vista a realidade dos nacionalismos dos vnculos consensuais de as-piraes quanto ao destino comum. Deve-se observar, entre parnteses, que prpria da poca atual ainda a extenso do campo de abrangncia da tica para compreender tambm os sentimentos e o interesse com relao ao destino da huma-nidade. Na medida em que no se conflito, mas se componha com as aspiraes nacionais, este interesse vai crescendo visivelmente, afirman-do-se e tornando possvel na pratica o que parecia completamente utpi-co ao tempo de Kant, a consecuo de "paz perptua" prevista por ele. O sentimento nacional e o interesse pelo destino comum confluem para a formulao de um projeto nacional, que no um documento escrito recheado de metas econmicas, mas um conjunto de consensos cada vez mais amplos que se vo estabelecendo no debate. Este deba-te, muito mais filosfico do que tcnico, fruto da crise e da afirmao do esprito democrtico mais radical, que exige a postura tica e consequentemente a verdade. Deste debate se pode extrair o entendimento propiciado pela razo comunicativa, descrita por Habermas no trabalho filosfico contemporneo mais importante sob o ponto de vista da com-patibilizao da verdade com a realidade, da tica com a poltica. Podem emergir os consensos, tanto nas questes tericas como nas questes prticas, configurando-se o que se pode chamar de uma tica comunica-tiva, cujos princpios ganham aceitao progressivamente mais ampla. O problema maior da universalizao do debate est nos veculos propi-ciadores, na imprensa e nos meios de comunicao em geral, que funcionam movidos por interesses econmicos especficos, dificultando a formao das condies essenciais da tica comunicativa (o livre aceso ao debate e a igualdade de condies de participao). Romper e superar estes obstculos e o desafio dos nossos dias para deixar desabro-char um novo momento tico na nossa histria. Dialtica de Iluminao Um terceiro campo de relaes da tica com a poltica situa-se no conjunto de consideraes correntemente feitas sobre o contedo tico dos diferentes sistemas polticos e econmicos em confronto. Nos dias de hoje, esse confronto continua a ser colocado em termos da opo pelo socialismo ou pelo capitalismo. A derrocada do sistema sovitico e as promessas da unificao eu-ropia, espao poltico da social-democracia, facilitaram extremamente a montagem da verso que consagra uma suposta definio histrica em favor do capitalismo como sistema scio-econmico. Como se o con-fronto socialismo-capitalismo tivesse encontrado um fim, que seria tam-bm uma espcie de fim da histria, como uma vitria definitiva do se-gundo. Trata-se de uma verso jornalstica interessada, largamente di-vulgada e apoiada em opinies e textos acadmicos, mas uma verso falsa. Primeiro porque o mundo socialista sofreu um gravssimo abalo ssmico em suas estruturas, mas sobreviveu e continua a mostrar um dinamismo econmico incontestvel e um grau de justia social muito mais elevado, retratado na distribuio eqitativa do produto gerado, a par de uma espantosa capacidade de responder a desafios mostrada no caso de Cuba.
A segunda razo bsica para afirmar que falsa a verso da vit-ria definitiva do capitalismo est no quadro do confronto tico que se de-senvolve paralelamente ao econmico, cotejo que ainda conta e sempre contar nas decises e opes da humanidade a respeito dos sistemas polticos. este o ponto que aqui nos interessa. H uma tendncia de degradao moral no mundo capitalista que no mostra sinais de rever-so e que parece ligada a um esvaziamento tico produzido nessas so-ciedades pela exacerbao do individualismo, do utilitarismo, do consu-mismo e do dinheirismo, que sentido de forma vaga pela sua popula-o, que suscita reaes desencontradas em direo a uma religiosidade quase primitiva, mas que no mostrou ainda resultados palpveis em termos de opes polticas. Todavia, o pndulo que acompanha o movimento ondulatrio das opinies de massa, que hoje se encontra no extremo pr-capitalismo, pode estar invertendo o sentido do seu mo-vimento nesse final de sculo que prenuncia acontecimentos graves tam-bm na banda ocidental do Planeta. No fcil caracterizar objetivamen-te, com medies, esse fenmeno to multiforme de desestruturao ti-ca que ocorre nos grandes centros capitalistas. Cresce, entretanto, o sentimento e a preocupao com as manifestaes de alienao e desinteresse poltico, de corrupo e de escndalo, de violncia e de criminalidade, de desagregao familiar, de apatia da juventude e de consumo de drogas, de rejeio da razo e de adeso a seitas religiosas e pseu-docincias primitivas. E esse desfazimento acelerado de padres sedi-mentados um fenmeno tpico do Primeiro Mundo e da periferia que mais se lhe aproxima. H uma diferena ntida e essencial entre os valores bsicos que fundam uma e outra das ticas em confronto: a do socialismo sobre a justia, a igualdade e a fraternidade, a do capitalismo sobre a utilidade dos resultados em termos de bem-estar material. A liberdade valor es-sencial de ambos, apesar das impugnaes e mesmo imprecaes de lado a lado, a dizer que o socialismo, no real, desprezou-o inteiramente e que o capitalismo, aceitando as diferenas de classe, mutilou a liberda-de das massas assalariadas. O fato que as ticas so bem diferentes nos seus fundamentos, e a critica que o socialismo faz no se dirige apenas idia matriz do liberalismo econmico segundo a qual o esforo individual de cada um para a realizao do seu bem pessoal produz o bem geral. H mesmo o reconhecimento de que essa idia se materializa parcialmente: cada um, elevando a sua capacidade produtiva pelo preparo e pelo esforo, produz um aumento da riqueza global. A critica vai ao fundo do contem do moral desta racionalizao essencialmente utilitarista, que no aten-de s exigncias mais rigorosas de uma tica da razo, que pressupe a igualdade e a justia, e de valores humanistas como a fraternidade. Se a critica mais difundida mostra que, na prtica, esse liberalismo eco-nmico, que e o fundamento moral do capitalismo, no produz um bene-ficio para todos, mas freqentemente enseja uma concentrao dos fru-tos desse progresso em favor de uma minoria que detm o controle dos mecanismos de organizao do poder e da produo, outra critica, em vertente mais profunda, fala do desprezo desta racionalizao por valo-res ticos que so prprios da humanidade e que s podem ser sufoca-dos enquanto o ser humano vive a luta da sobrevivncia, a guerra hob-besiana de todos contra todos que se processa na sociedade burguesa. O capitalismo um sistema essencialmente consumiste, onde com-pulsoriamente o consumo precisa crescer, sob pena de desabamento de toda a estrutura; a tica do
capitalismo forcosamente consumiste e acaba por transformar todos os valores em consumo, em dinheiro, em valores de mercado. O mercado o centro organizador da socieda-de capitalista, e a tica do mercado a tica do capitalismo. A viso socialista, na vertente desta critica, observa e acredita que se processa um desenvolvimento da humanidade, que vai do econmi-co ao tico, libertando o homem da imanncia e dos carecimentos vitais para afirmar progressivamente esses valores que so eternos. Esse pro-cesso, que sobrepassa os projetos e mesmo a conscincia individual de cada um, cujo tempo muito mais largo do que o das geraes humanas e cujas etapas no so perceptveis seno sob a perspectiva his-trica de muito longo prazo, modifica o relacionamento produtivo e exis-tencial entre os homens, levando cada um a ver no outro cada vez me-nos um concorrente, um competidor, um adversrio ou um inimigo, al-gum sobre quem se tem de levar sempre alguma vantagem, e cada vez mais um aliado, um scio, com quem se deve buscar um entendi-mento, algum cuja emancipao ou elevao propicia (e no embarga) a prpria elevao ou emancipao. E essa elevao j no tem ento um significado apenas material, ganhando cada vez mais uma dimenso espiritual e moral como componente indispensvel do bem-estar e da fe-licidade almejada por cada um. Nesta chave de compreenso das diferenas, a tica do capitalis-mo aparece como claramente conservadora, atrasadora, na medida em que afirma a imutabilidade do comportamento humano marcado para sempre por um egosmo essencial e irredutvel; enquanto a do socialis-mo acredita que esse comportamento se altera segundo um processo de evoluo do sentimento moral do ser humano, derivado do desenvol-vimento da razo que no hoje a mesma das cavernas, nem mesmo a das civilizaes da Antigidade. O homem, ser racional contemporneo, no tolera mais a escravido, a tortura, as penas cruis (a prpria pena de morte), como repudia frontalmente qualquer espcie de privilgio institucionalizado, de diferena de castas e at mesmo de largas dife-renas sociais sedimentadas. Esta tica v tais transformaes da sensi-bilidade humana como definitivas e progressivas, como resultado no tanto de pregaes religiosas, que muito conviveram com essas condi-es repudiadas, mas como produto da razo cultivada e desenvolvida. E o socialismo quer ser o Estado da razo, e, por isso mesmo, tico, emancipador e humanista. Quando Hobbes comeou a caminhada em busca desse Estado da razo, o intolervel era a angstia da inseguran-a; hoje, cada vez mais, o intolervel e a angstia da competio fren-tica no mar de desigualdades. Essas consideraes em torno da questo tica levam, quando pas-sadas realidade, discusso sobre o futuro do Terceiro Mundo. mais que difcil, impossvel acreditar que o capitalismo liberal, que at hoje nenhum resultado de xito apresentou, possa oferecer uma soluo digna a esses bilhes de seres que vegetam na pobreza e na misria. At porque da lgica da tica utilitarista do Primeiro Mundo no querer que tal acontea-a melhoria dos padres de vida dessas populaes em escala considervel-pelo menos num horizonte de tem-po suficientemente distante para que se possam ver realizados avanos tcnicos e cientficos hoje sequer vislumbrados. Esse querer lgico o resultado de um simples clculo de utilidades produzidas globalmente a partir de uma base de recursos naturais do Planeta que no basta pa-ra atender s aspiraes de todos: se o Terceiro Mundo tivesse hoje pa-dres de
consumo semelhantes aos do Primeiro, os recursos globais rapidamente se esgotariam e a poluio tornaria a Terra verdadeiramente inabitvel. E como vai ficar isso? frica, ndia, Indonsia, Amrica Latina, Bra-sil, como vo aceitar esta condenao? Esta a pergunta conspcua na virada do sculo, prenunciando claramente que o conflito proeminen-te no mundo dos anos 2000 ser o do confronto Norte-Sul, como foi nos 1900 o do Leste-Oeste. Pelo que se evidencia, essa realidade, entretanto, ainda no foi conscientizada no Sul e a estratgia adotada nesses pases a de inte-grar as suas minorias ricas e dominantes no mundo dos ricos e prome-ter aos pobres uma ascenso futura, sempre adiada e bem policiada. Trata-se de uma estratgia fadada ao fracasso, e o Brasil, inserido nes-se dilema, no vai suportar essa imposio pelo tempo que outras na-es podem faz-lo. O salto quantitativo e qualitativo que deu neste s-culo que finda criou-lhe um dinamismo interno insopitvel. um pais que ainda est nos pores da nave planetria cujos convs superiores, as naes ricas, querem manter para elas porque sabem que no d para todos. Mas esta tambm uma questo tica, e o Brasil, por natu-reza, est destinado a contestla. A tica e o Direito Jos de Aguiar Dias Abandonando as definies de tica, que so inmeras, segundo as vrias opes filosficas, procurarei abordar o assunto sob um pris-ma prtico, pelo qual tica se apresenta como uma exigncia do convvio social. Assim, eu a tenho como a verdadeira educao, que no se confunde com a instruo, nem com as chamadas boas maneiras, mas aquilo que se exige dos homens no relacionamento social e que Fernando Sabino, em obra outra que no a biografia de uma senhora de sua amizade, define com estas letras: "P.N.O", isto , "pensar nos ou-tros", o que, fielmente observado, garante a harmonia social. A tica no direito no difere desse conceito. As normas at bole no superadas do direito romano-"alteram non laedere, honesta vive-re e suam cuique tribuere"-, isto , no lesar a outrem, viver honesta-mente e dar a cada um o que seu, dispensam consideraes mais pro-lixas na observncia da tica na aplicao do direito, de modo a condu-zi-la proviso da justia, que a sua busca e a sua explicao. Nesse propsito, concorrem juiz, advogado e Ministrio Pblico. E errneo estabelecer hierarquia entre esses participantes da tarefa de fa-zer Justia. Nada mais contundentemente exato do que a equilibrada advertncia de Calamandrei: "O juiz que falta ao respeito devido ao advogado ignora que beca e toga obedecem lei dos vasos comunicantes: no se pode bai-xar o nvel de um sem baixar o nIvel do outro." (Eles, os juizes, vis-tos por ns, os advogados). Se assim se deve encarar o aparelho da Justia, no ha como ter como normal e conforme tica a conduta do juiz que se recusa a rece-ber os advogados e s admite a comunicao com eles por intermdio de funcionrios, sacrificando a defesa de interesses que Ihe so
confiados; do juiz que no se comove ante as splicas do advogado que pleiteia a vista dos autos necessrios instruo de uma defesa em proces-so criminal ou para formao de precatrio; do juiz que retarda decises de rotina, apenas, talvez, para mostrar autoridade; do juiz que calunia a parte e processa criminalmente o advogado que se revolta e reage; do juiz que se supe um monarca absoluto, esquecido de que chegou a seu posto graas democracia, pelo que, pelo menos por gratido, deve agir, tambm, democraticamente. No tem sentido fechar-se em um bunker, mas deixar que seu gabinete seja acessvel a todos interes-sados, porque assim distribui Justia e concorre para seu prestigio, com-batendo a iniqidade, em lugar de destruir esperanas e provocar o de-salento no direito e a descrena naqueles que a aplicam. O "indefiro" sistemtico uma odiosa contratao do dever de julgar. A ao at agora, por demais confiante, dos rgos disciplinares, tem responsabilidade na lamentvel conduta de certos magistrados. Eles no so muitos, mas so suficientes para gerar no povo a convic-o de que a classe toda merece a sua repulsa. Urge maior ateno so-bre os seus desvios. Uma decretal de Carlos Magno continha esta saborosa ironia: auto-rizava o litigante a quem o juiz retardasse a proviso judicial a transpor-tar-se para a casa do magistrado, at que este desse seguimento ao feito. O ministro Mrio Guimares, do Supremo Tribunal Federal, susten-tou que "os juizes tardineiros, relapsos, que no se preocupam com pra-zos e deixam os autos empilharem-se nos armrios, so merecedores de penas severas, porque esto lesando, com a tardana, patrimnios respeitveis, seno procrastinando anseios de liberdade"(O juiz e a for-mao judicial, Forense, Rio, 1958, p.231). Por seu lado, no procede de acordo com a tica e a lei o fiscal da lei que se isola em incomunicabilidade afrontosa aos advogados, que retarda seu parecer por meses e meses, com prejuzo da parte e at com agravamento de anus que deveria evitar ao errio, e tambm o pro-curador que no l os autos e opina contra o direito condensado em suas folhas. E, por sua vez, afronta a tica o advogado que pretende exercer o seu oficio sem estudar, que frauda os clientes e o errio, que ignora os deveres impostos pelo seu Cdigo; que, por inominvel covar-dia, no reage denegao da Justia, aos atropelos dos maus juizes e grosseria do tratamento que alguns deles supem ser prova de auto-ridade, que esquece, em suma, que s advogado aquele que no tem receio de desagradar o poderoso para ficar com o seu dever perante o cliente. A Justia precisa libertar-se da arrogncia e da vaidade, para se conformar, cada vez mais, tica, sem cuja observncia o direito se con-verte em diablica negao e passa a ser instrumento de arbtrio e tirania. Matias Ayres, em suas Reflexes sobre a vaidade dos homens, dei-xou-nos estas advertncias Que nunca devem ser esquecidas pelos juizes: "Na cincia de julgar, alguma vez desculpvel o erro de entendi-mento, o da vontade nunca; como se o entender mel no fosse cri-me, erro sim; ou como se houvesse uma grande diferena entre o erro e o crime: o entendimento pode errar, porm s a vontade po-de delinqir. Assim se desculpam
comumente os julgadores, mas porque neo vem que o que dizem procedeu ao entendimento; se bem se ponderar, procedeu unicamente da vontade. um par-to suposto, cuja origem no aquela que se d. Querem os sbios enobrecer o erro, com o fazer vir do entendimento, e com ele enco-brir o vicio que trouxe da vontade; mas quem que deixa de no ver que o nosso entendimento quase sempre se sujeita ao que ns queremos e que o seu maior empenho servir a nossa inclinao; por isso raras vezes se ope, e o mais em que ocupa em confor-mar-se de tal sorte ao nosso gosto, que ainda a ns mesmos fique parecendo que foi resolvido do entendimento aquilo que no foi se-no ato da vontade. O entendimento a parte que temos em ns mais lisonjeira; daqui vem que nem sempre segue a razo e a jus-tia, a inclinao sim; inclinamo-nos por vontade, e neo por conse-lho; por amor, e no por inteligncia; por eleio do gosto, e no por arbtrio do juzo: as paixes que nos movem, nos inclinam; a todas conhecemos, isto , sabemos que amamos por amor que aborrecemos por dio, que buscamos por interesse e que deseja-mos por ambio: mas no sabemos sempre que tambm a vaida-de nos faz amar, aborrecer, desejar, buscar; daqui vem que o julga-dor se engana quando se presume justo s porque no acha em si, nem amor, nem dio, nem ambio, nem interesse; mas v que vaidoso e que a vaidade basta para fazer o injusto, cruel, tirano. No v que, se no tem amor a outrem, tem-no a si; que se no tem dio ao litigante humilde, tem-no ao poderoso, s porque na opresso deste quer fundar a sua fama; neo v que, se no tem in-teresse de alguns bens, tem interesse de algum nome e, se no tem ambio das honras, tem ambio da glria de as desprezar e, finalmente, no v que, se lhe falta o desejo da fortuna, sobra- lhe o desejo da reputao. Que mais necessrio para perverter um julgador? E com efeito que importa que a reputao proceda de um principio conhecido, ou de um principio oculto, isto , de uma vaidade, que o mesmo julgador no conhece nem percebe? O efeito da corrupo sempre o mesmo. Que importa que o julga-dor se faa injusto, s por passar por justiceiro? A conseqncia da injustia tambm vem a ser a mesma; o mal que se faz por vai-dade no menor que aquele que se faz por interesse; o dano que resulta da injustia igual; o juiz amante, ou vaidoso, sempre em juiz injusto." ainda do primeiro dos nossos clssicos estas palavras que no poderiam ser mais atuais porque representam um verdadeiro retra-to do bom juiz: "No assim o magistrado, ou o julgador prudente: este severo sem injria, nem dureza; inflexvel sem arrogncia, reto sem aspe-reza; nem malevolncia; modesto sem desprezo, constante sem obstinao; incontrastvel sem furar, e douto sem ser interpretador, satilizador, ou legislador; o seu carter um animo Cndido, since-ro e paro; amigo de todos, inimigo de ningum; alegre e afvel por natureza, mas reservado por obrigao do oficio; sensvel ao divertimento honesto, mas sem uso dele por causa do lagar; em tu-do moderado, circunspecto, diligente, laborioso e atento; a ningum pesada a sua autoridade, e quando foi promovido a ela todos co-nheceram que foi justa e acertada a eleio; todos viram que ti-nham nele um protetor seguro da verdade e um medianeiro discre-to e favorvel para tudo o que fosse favor, clemncia, generosida-de; chegou aquele emprego por meio das virtudes, e no por meio da fortuna; um alto merecimento o fez chamar; e as gentes se ad-miram, no de que fosse chamado, mas de que o no fosse mais cedo; a ele neo assombra nem a grandeza dos sujeitos, nem dos lagares, nem das matrias; neo atende mais do que a justia: es-ta tem por objeto singular, para esta que olha; a razo a sua regra, ele a segue, e a aclama em qualquer lagar que a ache; no seu conceito neo valem
mais, nem o pobre por humilde, nem o gran-de por poderoso; distingue as pretenses dos homens pelo que elas so, e neo por de quem so; no atende a qualidade dos ro-gos, mas a qualidade das coisas .." O direito nada pode sem a tica, e no pode haver paz sem Justi-a. Toda regra de Justia envolve amor, que resume, em seu mais am-plo sentido, a verdadeira idia da convivncia entre os homens. A justia se faz tambm com a compaixo. Nenhum infrator perde, com seu erro, a indestrutvel condio humana, com os direitos inalienveis que lhe pertencem. Pode e deve ser punido. No pode, porm, ser insultado pelo juiz, para satisfao de sentimentos estranhos ao poder de punir. tica e Direitos Humanos Roberto A. R. de Aguiar A discusso sobre o problema das relaes entre tica e direitos humanos exige uma conceituao prvia de termos, a fim de que no caiamos em idias formalistas, que s serviro para tornar a anlise retrica Antes de tudo, preciso lembrar que na filosofia e nas cincias sociais, Herclito superou Parmnides, isto , o movimento e a transformao se impuseram diante das essncias imutveis e fixas. O ser humano um ser no tempo, que nele se transforma e constantemente se cons-titui. O tempo humano denomina-se histria. Logo, valores, instituies e direitos s podem ser estudados e praticados no interior da historicida-de, j que o ser humano est sempre in fieri. Outro ponto que deve ser previamente tratado o da necessria eliminao de um entendimento da sociedade como um todo harmni-co formado de individualidades. As sociedades humanas so complexas e os seus membros se atraem ou se repelem em funo de sua pertinn-cia. O homem s no existe, mesmo quando solitrio. Para se construir e entender-se, o homem precisa pertencer. Essa pertinncia vai desde a linguagem, passa pelos grupos e classes sociais e invade as culturas, os saberes, e at mesmo as idiossincrasias. As sociedades no so essencialmente harmnicas. Elas esto sempre se transformando a partir dos conflitos e das contradies que a fazem mover e se transformar. Assim, as sociedades funcionam, muito mais, pela lgica das contradies do que pela lgica da identidade. luz desses primeiros entendimentos que os direitos devem ser vistos. No mais direitos que apenas se cristalizam em leis ou cdigos, mas que se constituem a partir de conflitos, que traduzem as transformaes e avanos histricos da humanidade. No podemos mais entendlo como fruto de uma sociedade abstrata de sujeitos individuais, mas como a expresso coativa de tenses e contradies engendradas pelos embates de interesses e projetos de grupos sociais. O direito, para ser entendido em sua concretude, necessita de ser visto sob o angulo do contexto que lhe deu origem, dos processos que o constituram, das for-mas como foi normatizado e dos efeitos que gera nas sociedades.
Outro ponto importante que no deve ser descurado o da eviden-te natureza valorativoideolgica do direito. Tratar de direito significa tra-tar de concepes do mundo e do homem, tratar de escolhas valorati-vas de condutas a serem premiadas, ou punidas, tratar das concepes de sociedade e Estado. Assim, inarredvel a dimenso tica ou antiti-ca do direito, dependendo do olhar do grupo social que o encara. O direito um fenmeno complexo. Muitas vezes ele confundi-do com lei, que uma de suas expresses-o denominado direito po-sitivo. Mas o direito tambm est se fazendo no dia-a-dia das socieda-des por aqueles que esto excluidos de suas normas. Dai podermos con-cluir que o direito positivo, por expressar os comandos de quem detm o aparelho do Estado, no tutela o bem de todos, mas daqueles que pertencem aos grupos hegemnicos em dada sociedade. Isso no quer dizer que outros direitos no esto surgindo pelas lutas, reivindicaes e presses dos que se organizam para ter seus direitos consignados. O "humano" no um conceito unvoco. O entendimento que os seres humanos tm de si, individual e coletivamente, varia no tempo, no espao e nas culturas. Logo, falar em direitos humanos no sculo XVIII francs no tem o mesmo significado de tratar o mesmo tema, ho-je, no Brasil. As mudanas histricas impuseram novos problemas e no-vos entendimentos que propiciam um outro referencial para os direitos humanos. A Grcia nos legou a primeira criteriologia para se aferir a justia ou no do direito. Quando os sofistas distinguiram logos de nomos, isto , a lei natural da lei humana, introduziram um modo de aferir a justia e adequao das leis da sociedade. Justa seria a lei humana que no desobedecesse aos difames da lei natural. Isso pressupunha a existn-cia de um universo imutvel, com leis eternas, s quais as leis humanas deveriam se subordinar. Est ai uma das fontes do que hoje se enten-de por direito natural. Esse entendimento foi complementado, mais tarde, pelo pragmatis-mo romano, que, tratando das relaes entre os homens, definiu Justi-a como honesta vivera, alteram nan laedere, suum caique tribuere, tra-duzindo: viver honestamente, no lesar o outro, dar a cada um o que seu. Percebe-se ai, por detrs de uma expresso aparentemente edifi-cante, uma estratgia de exerccio de poder, pois nela no esto defini-dos os valores da honestidade, quem o outro e qual o seu de cada um. Assim, com essa conceituao de Justia, Pinochet ou Hitier pode-ria justificar suas aes. Mas ser na Grcia e em Roma que o concei-to de cidadania vai ser utilizado no mbito politicojuridico. Esse conceito tinha um tom bem diferente do atual. O cidado grego, mesmo na u-rea poca de Pricles, em Atenas, era o nascido de familia cidad de determinada cidade-estado. Os escravos, os estrangeiros, os "periecos" moradores da periferia, no eram cidados. Numa cidade-estado, era in-fima a percentagem de cidados, o que evidencia a presena de uma cidadania oligrquica nessas cidades. O mesmo pode ser dito de Ro-ma, que dividia seu direito entre Jus Civile, ou direito dos cidados, e Jus Gentium, o direito das gentes ou daqueles que no eram cidados, que obviamente tinham menos direitos que os primeiros. S na poca de Caracala a cidadania foi estendida a todos que habitassem os territ-rios ocupados pelo Imprio Romano. Na Idade Mdia feudal o sentido de direito e de cidadania passa por profundo retrocesso. Inicialmente pela aceitao de uma outra esfe-ra de leis, isto , no mais as leis humanas e naturais, mas, acima de todas elas, as leis divinas. Com isso, foi consolidada a hegemonia
ideol-gica e politica da Igreja, enquanto nos feudos vigia o mais violento abso-lutismo do senhor, que era a fonte unica das normas que l vigiam, obedecendo to-somente aos difames divinos traduzidos pela Igreja. Ora, como a Igreja tambm era senhora feudal, ela no iria enfraquecer as relaes entre os senhores (suserania e vassalagem), nem diminuir os seus poderes no interior dos feudos. De qualquer modo, o que pode ser inferido dessa situao que os principlos ticos que eram passados pela Igreja tinham um carter individual, j que o direito no era dos ho-mens, mas sim de Deus, pois sua fonte era a divindade que falava e or-denava pelas bocas dos sacerdotes e dos senhores feudais. O campo tico estava apartado do ser humano, uma vez que era a vontade divi-na c rbitro da justia dos direitos. O declinio do feudalismo e o surgimento de uma nova classe que no mais baseava sua riqueza na terra, mas no dinheiro-a burguesia -, ensejar o aparecimento de novos valores que vo propiciar a reutili-zao do direito romano, abandonado pelas prticas sociais do feudalis-mo. O mercantilismo nascente reps o direito no ambito dos homens, que deveriam criar normas para regular as novas relaes econmicas que surgiam. Mas preciso ressaltar que ser esse mesmo grupo que, em aliana com o maior suserano-o rei-, vai dar origem unifica-o dos feudos sob um s comando, fazendo emergir, pela primeira vez na histria, os estados nacionais, com uma configurao prxima dos atuais. Tais estados, a partir do sculo XIV, vo ser governados por reis absolutistas, que tambm se tornam a fonte nica do direito. Eles so a fonte nica porque a justificativa de suas presenas no poder est no fato de eles terem sido escolhidos por Deus. o momento da emergn^ ela das diversas teorias justificadoras da origem divina do poder. So as normas menores relativas aos negcios eram costumeiramente estabele-cidas pela burguesia, que detinha grande parte das riquezas nas mos, mas no participava do poder politico. nesse momento da histria que o lucro passa a ser padro de justia. A riqueza passa a ser marca de virtude. Tanto isso verdade que os movimentos de reforma protestante adequam o cristianismo s perspectivas burguesas, fazendo cair a vigncia da bola papal, que proibia o lucro para os cristos. A Repblica de Calvino um exemplo claro dessa nova situao. Para exemplificar juridicamente essa caracterstica, lembramos o surgimento, nessa poca, da curatela dos prdigos. Quem eram os prdigos? Eram os loucos do mercantilismo, a se usar a expresso de Foucault. Eram aquelas perigosas pessoas que dissipavam seu patrimnio, que afrontavam o sagrado principio do lucro e da intermediao vantajosa de mercadorias, origem da riqueza para os economistas da poca. Mas essa estrutura to slida de relaes sociais, a partir do scu-lo XVII europeu, comea a ser trincada. O racionalismo progressivamen-te emerge, reivindicando para os homens portadores da razo a condu^ o dos assuntos econmicos, sociais e polticos. Ao mesmo tempo, uma nova burguesia entra em cena, a industrial, que j no mais acredi-tava na intermediao das mercadorias como origem da riqueza, mas deslocava esta origem para a produo de bens. Para essa burguesia no mais serviam os monoplios do rei, nem a simples deteno do po^ der econmico. Era preciso, para otimizar essa nova interveno econ-mica no mundo, que ela detivesse tambm o poder poltico. Eis o momento da ecloso das chamadas revolues burguesas: a Revoluo Gloriosa, de 1688, na Inglaterra; a Independncia America-na, em 1776, que criou os Estados Unidos da Amrica do Norte; e a Re-voluo Francesa, de 1789, que originou a declarao dos
direitos huma-nos mais conhecida-a Declarao dos Direitos 'do Homem e do Cidado-e propiciou o aparecimento do documento legal que vai ser a base de grande parte das legislaes ocidentais: o Cdigo Civil de Napoleo, de 1810. A Revoluo Gloriosa, ainda no sculo XVII, derruba o absolutismo monarca, inaugurando a monarquia constitucional. A lei j no mais a palavra de Deus pela boca do rei. A lei produto da razo e ela est acima do rei. Esse deslocamento de posio da lei abre espao para o constitucionalismo moderno e propicia classe burguesa ditar as normas segundo seus interesses, projetos e valores. O rei tem de governar segundo os principlos e mandamentos da burguesia. A Revoluo Americana traz para a modernidade a questo democrtica, que havia sido esquecida por longo tempo. Os burgueses da colnia j no mais suportavam as imposies da metrpole inglesa. A Revoluo Francesa consigna um conjunto de princpios ticos em sua Declarao que vai ser base e bandeira para inmeros movimentos de independncia pelo mundo. Mas, o homem do lluminismo era um desterrado. Ele j no tinha mais a segurana de um cosmos hierarquizado medieval, no possuia a segurana de Deus e era considerado como um tmo individual, que financiava a produo ou vendia sua fora de trabalho. Sua nica mis-so a de transformar o mundo por seu trabalho. a partir disso que a cincia passa a ter importncia crescente, a fim de melhorar os pro-cessos produtivos, renovar a organizao dos poderes e manter os traba-lhadores com Uo1 minimo de condies para produzir. Nesse quadro, al-guns direitos humanos passam a ser paradigmaticos: o direito liberda-de, o direito segurana pessoal, o direito a um julgamento justo, o di-reito privacidade, inviolabilidade do domicilio, nacionalidade, pro-priedade, a livre expresso do pensamento, dentre outros. Percebe-se que tais direitos humanos eram essencialmente indivi-duais, ja que o ser humano era entendido como um individuo racional portador de uma vontade livre. Ainda a concretude social no havia si-do atingida, apesar dos evidentes avanos na consignao e respeito a direitos assegurados como inviolveis. Os valores ticos ali consignados eram os da liberdade, entendida de uma forma concorrencial e justificadora da fora, conforme a expres-so, at hoje muito usada, segundo a qual minha liberdade termina on-de comea a liberdade do outro; da propriedade, para que se evitasse danos a um dos institutos fundamentais do modo de ser e de produzir da burguesia; da seguranca, com o fito de se evitar que um novo absolu-tismo viesse a desconstituir as conquistas alcanadas; da igualdade, ba-seado no fato de todos os seres humanos serem portadores de razo e vontade livre. Esses valores traduziam as concepes vigentes da bur-guesia e significaram a definitiva laicizao dos direitos, que passam a ser dos homens, constroidos por eles para regular suas relaes, segun-do principias racionais. A Primeira Revoluo Industrial fez emergir, com clareza, novas re-laes sociais de produo. Capital e trabalho se situam em campos contraditorios, uma vez que o lucro da produo, na poca, vinha da ex-plorao brutal da fora de trabalho. Os operrios das
indstrias traba-lhavam em situaes ignbeis, com salrios vis, sem quaisquer direitos estabelecidos. O deus mercado, hoje redivivo, para a burguesia, dirigia a sociedade com sua "mo invisivel". A dimenso social dos direitos humanos ainda no tinha sido pensada, uma vez que eles eram prerro-gativas dos cidados individualmente considerados. a partir desse conflito que os trabalhadores passam a se organi-zar laboral e politicamente para conseguir minimos direitos. Ao lado dis-so, Marx, fundindo as contribuies dos economistas ingleses, dos socia-listas libertrios e do idealismo alemo, consubstancia um pensamento que explicao e bandeira mobilizadora de luta para os trabalhadores. Os direitos j no so mais de Deus, da Natureza, do homem burgus ou da Razo. Ele fruto das lutas dos homens concretos, que tentam buscar a justia pela consignao de novas pautas de prerrogativas. No mais a democracia formal, mas a democracia social; no mais a li-berdade como confronto de espaos individuais, mas a libertao crescente dos seres humanos em busca de sua dignidade e de sua plenificao existencial; no mais o direito de escolher trabalho, mas o direito de obter os frutos desse trabalho; no mais a segurana do patrimnio, mas a segurana da vida; no mais o direito de participar da ordem pelo trabalho, mas de construir novas ordens sociais sob a gide do proletariado crescentemente organizado; no mais a igualdade nacional dos cidados, mas a solidariedade proletria internacional. Esses conflitos inauguraram a preocupao com os direitos humanos sociais, que sero, muito mais tarde, consignados na Declarao Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Nela encontramos os novos valores ticos traduzidos pelos direitos de reunio e associao, de governar, eleger e ser eleito, de previdncia social, de trabalho, de condies justas e favorveis de trabalho, de proteo contra o desemprego, de remunerao justa e satisfatoria, de organizao de sindicatos, de repouso, lazer, frias remuneradas e limite razovel das horas de trabalho, alm dos direitos sade, instruo, bem-estar, alimentao, vesturio, habitao, cuidados mdicos e aos beneficias do progresso cientfico, dentre outros. Percebe-se que o entendimento do ser humano mudou. Ele compreendido como um ser social, portador de uma dignidade individual e coletiva, um ser produtor imerso em relaes desiguais e de opresso, o que obriga aos direitos humanos tentar garantir as prerrogativas dos explorados, dos reprimidos e dos oprimidos, procurando relaes politicas e laborais mais justas. A justia passa a ter como critrio o reconhecimento entre os homens, a aceitao segundo a qual sua igualdade no uma questo geomtrica, mas social, econmica e poltica. O homem abstrato e individual das primeiras declaraes de direitos substitudo pelo ho-mem concreto, imerso nas contradies sociais. A liberdade sai da dimenso de essncia ou ddiva, para ser conquista diuturna. A cidadania estendida a todos, e a democracia, muito mais que um jogo de pesas e contrapesos formais, passa a ser um direito inalienvel do ser huma-no, que a cria e inventa, a cada passo da histria. O ser humano, pela nova Declarao, passa a ser sujeito da histria. A contemporaneldade vai urdindo novas situaes que demandam por novas opes ticas e pela consignao de novos direitos. A produ-o apresenta sua clara dimenso fustica, a se usar a expresso de Marshall Bermann. Quanto mais ela avana, mais ela destroi, em um processo entropisante assustador. As distancias sociais entre os pases desenvolvidos e os subdesenvolvidos aumentam de modo devastador, no somente a partir
de seus indicadores econmicos, como tambm por sua produo de saber, o que faz alguns autores vislumbrarem uma terceira fase do capitalismo traduzida pela produo de know how. Ao mesmo tempo, o ser humano chegou sofisticao de poder se suici-dar enquanto espcie zoolgica pelas armas que ele prprio produz e, cada vez menos, controla. Os anos 30 voltam sinistros com a reapario agressiva dos racismos. As distancias sociais nos pases subdesenvolvidos so assustadoras, uma vez que uma intima minoria detm parcela significativa dos bens. o caso do Brasil, onde cerca de 1% da populao detm mais de 17% dos bens. A criana e o adolescente tornam-se, assim como os velhos, marginais no crescente processo de urbanizao dos paises perifricos. A sade pblica, como no se enquadra na ~ lgica do mercado, apresenta gravissimos problemas. O meio ambiente e a qualidade de vida so degradados por um processo produtivo sujo, que atinge, com mais fora, os paises menos desenvolvidos. Problemas como esses suscitam o aparecimento de direitos humanos de terceira gerao, que no esto contidos na Carta de 1948, mas esto se constituindo perante essas novas situaes que as contradies sociais engendram. A grande questo tica imbricada no breve relato at aqui feito a de optarmos sobre questes valorativas que no admitem meio termo. Estamos ao lado da vida ou da-morte, em termos de conduta e no somente no discurso? A opo pelo valor vida significa a luta concreta no sentido da preservao e melhor qualidade de vida, no campo dos direitos humanos. Optamos pela inveno democrtica, ou pela preservao das leis autoritrias iniquas? A opo tica que fizermos nos levar a uma participao, enquanto cidados organizados, na construo de uma sociedade participativa, com maior igualdade, onde o poder politico esteja centrado na coletividade. Esta uma forma de constituir a liberdade no processo histrico. Procuramos participar em nossa categoria profissional como seu agente transformador e a promovemos como agente coletivo de concretizao dos direitos humanos? Tais perguntas podem, primeira vista, parecer personalistas. Mas no podemos nos esquecer que os direitos s podem ser concretizados por uma ao tico-politica. O recente caso do impeachment presidencial mostra a correlao necessria entre tica, politica e direito. No possivel tratarmos direitos humanos, ou mesmo o direito positivo, sem que nos refiramos a ideologias, valores, projetos histricos, opes existenciais coletivas e pessoais. Tambm no possivel entendermos direitos, sem que tenhamos em mente que os direitos sempre so politicos, j que so normas de controle de poderes, ou so pautas ainda no realizadas pelos poderes sociais ou, ainda, so prenncio de novos poderes. Se empobrecermos a tica, deixando-a para o campo dos mandamentos dos cdigos, se admitirmos o direito to-somente como um conjunto de leis de um dado Estado, toda esta discusso no tem sentido, pois retira a tica de seu papel de expresso valorativa do crescimento humano e coloca o direito como mero conjunto de procedimentos rituais sintaticos. A luta passa pela movimentao no sentido do respeito aos direitos que j esto consignados na Constituio e desborda pela construo solidria de uma sociedade em que a justia signifique o fim das represses, das opresses, dos preconceitos, das desigualdades
sociais, da degradao ambiental e humana, do desrespeito ao trabalhador, a criana, ao sem-terra, para citar alguns exemplos, e promoo da vida e da dignidade humana. Isso quer dizer que a luta continua, rdua, difcil, e exige de ns, a todo tempo, a construo e reconstruo tica, se optarmos pela concretizao dos direitos humanos da historia. tica e Ambiente Paulo Marchiori Buss Em torno do Conceito de tica So inmeras as definies de tica. Na sua concepo mais gen-rica e tradicional, a tica trata "dos costumes ou dos atos humanos, e seu objeto a moralidade, entendendo-se por moralidade a caracteriza-o desses mesmos atos como bem ou mal" (Vzquez, 1986). Para Carneiro Leo (1992), "a tica representa um conjunto de de-cises sobre os valores chamados a orientar e a guiar as relaes indivi-duais e, sobretudo, as relaes sociais (...) frente a um leque de possibi-lidades e de fenmenos reais". O termo usado normalmente em seu sentido prprio, isto e, co-mo cincia dos costumes, abrangendo os diferentes campos da ativida-de humana, inclusive as relaes do ser humano com o ambiente e a sade. As doutrinas ticas surgem e sofrem transformaes em diferentes pocas e esto relacionadas com a complexidade da sociedade. Nesse sentido, segundo a tica social, a origem ltima da moral estaria nas li-vres decises pelas quais cada sociedade regulamenta arbitrariamente sua prpria vida. A tica social conceitua-se, assim, como uma "histria natural dos costumes": os critrios morais so relativos no tempo e no espao, em todo caso traduzindo os diversos graus de conscincia hu-mana, e a regulao da conduta, em seus motivos e seus fins, uma expresso da vida social traduzida em frmulas que, de maneira aproxi-mada, realizam a distino socialmente til do bem e do mal (Vzquez, 1986). Para os fins a que se destina o presente artigo, sero tambm teis as acepes de tica poltica e tica econmica, bem como a de tica natural. No verbete correspondente tica poltica do Dicionrio de Cin-cias Sociais (Silva, 1986), registra-se que "o Estado, como comunidade que tem seus fundamentos nos fins existenciais do homem, faz parte da ordem tica e um valor desse tipo. Nada caracteriza tanto a essn-cia tica do Estado como sua funo de realizar o mnimo tico de convivncia humana" (Vzquez, 1986). Ao se discutir a tica do desenvolvi-mento e suas repercusses sobre a sade e o ambiente, a tica poltica deve ser invocada no questionamento do papel regulador do Estado na relao entre crescimento econmico e desenvolvimento social, bem como no campo das relaes internacionais. Como parte da tica social, a tica econmica (...) busca proteger as pessoas e os direitos de cada um e promover o desenvolvimento da produo, levando em conta os direitos de todos os interessados (Vz-quez, 1986). A hegemonia do crescimento econmico a qualquer preo sobre o desenvolvimento social est na base da caracterizao do mode-lo de desenvolvimento adotado contemporaneamente nos pases do Ter-ceiro Mundo em geral, incluindo a Amrica Latina e o Brasil, e colocasse como uma das questes centrais no debate do tema tica e ambiente.
Para a nossa discusso importam, ainda, as concepes desenvol-vidas no interior de um novo campo da tica, a denominada biotica. Cunhada pelo oncologista V.R. Potter nos anos 70 (Potter, 1971 apud Schramm 1992), a biotica indica, desde ento, o conjunto de reflexes ticas e morais relativas s conseqncias prticas da medicina e da biologia. Segundo Potter, o homem que rompeu os equilbrios naturais perdeu tambm o "instinto" que assegurava a continuidade da vida so-bre a Terra. A conseqncia principal desta perda seria a necessidade de desenvolver uma "cincia da sobrevivncia", baseada numa concepo ampliada da biologia, isto , uma biotica, cujos componentes prin-cipais sejam o conhecimento biolgico e os valores humanos. Como uma espcie de "biotica generalizada", situa-se a tica na-tural ou tica egocntrica, a tica do sujeito responsvel pelo bem-es-tar do mundo natural, comprometido com a preservao das condies da estrutura qual pertence enquanto ser vivo. Ela incluiria, em princi-pio, as vrias dimenses reconhecidas que fariam parte de um novo con-trato natural (Serres, 1990),ou seja, o conjunto dos direitos do indivduo, dos direitos do "outro" e dos direitos da Terra. De fato, a problemtica ecolgica lato sensu tem adquirido modernamente pertinncia como po-tencialmente aglutinadora de um debate transformador e enquanto uma nova maneira de se conceber as possibilidades de vida sobre a Terra. Se percebe a questo ecolgica como uma preocupao com os di-reitos fundamentais do planeta Terra (Serres, 1990), ai includa a preocu-pao com o Homem, trata-se fundamentalmente de vincular, de manei-ra significativa, individual e coletivamente, responsabilidades e liberda-des. neste contexto tico-ecolgico que podem ser colocados os pro-blemas do subdesenvolvimento, questo no s econmica ou poltica, mas transversal "humanitude do Homem", atingindo sua identidade humana, psquica e social. Portanto, "a questo ecolgica pode ser con-siderada como um problema essencialmente tico" (Schramm, 1992), fundamentada na responsabilidade individual que cada ser humano tem (ou teria) consigo e com o "outro de si". Num amplo debate levado a cabo na Escola Nacional de Sade Pblica sobre tica, ambiente e sade que, pela importncia e abrangn-cia, reproduzo abaixo nas suas principais concluses, colocou-se a ques-to da "crise da tica", que requer, para alguns, a criao de uma "no-va tica" (Carneiro Leo, 1992) e, para outros, "a recuperao da tica, trans-histrica e atemporal, ou seja, estrutural" (Schramm, 1992). A dimenso tica, para Schramm, " a estruturao ontogentica do ser pelo outro, relao que obriga o sujeito a ser responsvel por si, mas enquanto representante de todos os outros, fato que torna possvel a moral e a poltica, as normas codificadas do ser social". A tica , por-tanto, a possibilidade de estruturao do sujeito no mundo e no pode ser confundida com as suas manifestaes prticas-a moral e a poltica-embora aquela no se d seno encarnada nesta em cada mo-mento histrico. Dito de outra maneira, embora inseparveis praticamen-te, tica e moral so distinguveis teoricamente, da mesma forma como discutimos a fundamentao e a finalidade das suas manifestaes. A tica questiona tambm, em cada poca, os fundamentos e as finalida-des da moral e da poltica e pode, ento, ser considerada como a teoria ou a critica do agir (Schramm, 1992).
Numa outra perspectiva de anlise, Carneiro Leo refere-se cri-se da tica e a situa nos principias de ordenamento e de organizao das relaes e comportamentos a que foi submetido o mundo industrial capitalista, atravs das possibilidades abertas pelo desenvolvimento da tcnica e da cincia (Carneiro Leo, 1992). A nova ordem industrial, se-gundo o autor, vai sendo construda pelo homem, mas no se edifica para ele. neste contexto que julgo importante discutir a questo tica e am-biente, pois na origem das complexas condies ambientais e sanitrias em que nos encontramos est o modelo de desenvolvimento capitalista contemporneo, com a diviso internacional do trabalho e dos mercados, com a constituio dos blocos geopolitico-econmicos, com um trato es-pecfico em relao ao valor relativo do ambiente e da sade, e com seu referencial tico (ou atico) de base no tocante vida em sociedade. Desenvolvimento, Ambiente e Sade No documento Nosso Futuro Comum (Our Comon Future, prepara-do pela Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Naes Unidas (CMMAD, 1987), fica estabelecido, pela primeira vez, um novo enfoque global da problemtica ecolgica, isto , o das inter-re-laes entre as dimenses fsicas, econmicas, polticas e socioculturais. Desde ento, vm se impondo, entre especialistas ou no, a com-preenso sistmica do ecossistema hipercomplexo em que vivemos e a necessidade de uma mudana nos comportamentos predatrios e irres-ponsveis, individuais e coletivos, a fim de permitir um desenvolvimento sustentvel, capaz de atender s necessidades do presente, sem comprometer a vida futura sobre a Terra (CMMAD,1987). No conjunto de relaes entre meio ambiente e desenvolvimento, " relatrio da Comisso Mundial destaca "os vinculas entre pobreza, de sigualdade e deteriorao ambiental ( ), que chega a fazer da pobreza um dos maiores flagelos do mundo". Para a Comisso, limitar o problema ecolgico as meras questes ambientais strioto sensu seria grave omisso, pois "o meio ambiente no existe como esfera desvinculada das aes ambientais e necessidades humanas" (CMMAD, 1987). Como afirma Schramm (1992), "ambiente, desenvolvimento e condies de sade formam um nico problema, multifatorial e complexo, cuja soluo impe-se como um dos principais desafios do futuro prximo e comum da espcie humana no seu conjunto". Assim, no se pode mais reduzir a crise ambiental a uma questo de manter limpo o ar que respiramos, a gua que bebemos ou o solo que produz os alimentos que consumimos. O desenvolvimento, como processo de incorporao sistemtica de conhecimentos, tcnicas e recursos na construo do crescimento qualitativo e quantitativo das sociedades organizadas, tem sido reconhecido como ferramenta eficaz para a obteno de uma vida melhor e mais duradoura (Banco Mundial, 1991). No entanto, este desenvolvimento pode conspirar contra o objetivo
comum, quando se baseia em valores, premissas e processos que interferem negativamente nos ecossistemas e, em conseqncia, na sade individual e coletiva. De fato, "muitas das atuais tendncias de desenvolvimento resultem em um nmero cada vez maior de pessoas pobres e vulnerveis, alm de causarem danos ao meio ambiente" (CMMAD, 1987). O exame do processo de desenvolvimento brasileiro nas ltimas dcadas paradigmtico, neste sentido, dadas as desastrosas conseqncias sobre as condies de vida, de sade e sobre o ambiente (Leal et alli, 1992). A anlise das suas caractersticas suscita de imediato um profundo questionamento a respeito do seu carter tico, seja por suas conseqncias ambientais, seja pelos efeitos sobre a sade da populao. A renda per capita vem diminuindo e se distribui menos eqitativamente em todo o Terceiro Mundo. S na Amrica Latina, por exemplo, estima-se que vivam mais de 180 milhes de pessoas abaixo da linhade pobreza (ops,1990). No brasil , seriam 45 milhes de pessoas em estado de pobreza (ganhando at 1 salrio mnimo), distribudas em 11 milhes de famlias. Destas famlias, 35% vivem em estado de misria absoluta, percebendo rendimentos de 1/4 ou menos do salrio mnimo per capita (Saboia, 1991). Em anos recentes, a j concentrada distribui-o de renda concentrou-se ainda mais: segundo a PNAD/1989, os 10% mais ricos detinham 53.2% da renda no Brasil, enquanto os 50% mais pobres restringiam-se a no mais que 10.4% da riqueza nacional (IBGE, 1990). As conseqncias so por demais conhecidas, quanto s condi-es de vida e sade. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, para exem-plificar, atinge 95 por mil em famlias com renda mensal abaixo de 1 sa-lrio mnimo, enquanto em famlias de renda mais elevada (acima de 5 salrios mnimos mensais) de 38.8 por mil (Oliveira e Simes, 1986). O mesmo fenmeno da concentrao de renda, que hoje alcana sua expresso mxima nas sociedades urbanas, est tambm na base da exploso da violncia social, da marginalizao e da excluso, que afe-ta principalmente os grandes conglomerados urbanos (Minayo, 1991), com conseqncias espantosas: os bitos por causas externas, aciden-tes e violncias em geral j so a terceira causa de morte para todas as idades e ambos os sexos no pais, sendo a primeira na faixa etria entre 5 e 44 anos para ambos os sexos (Cenepi, 1992). A ausncia de investimentos nacionais em saneamento bsico, o aumento j referido da pobreza urbana e a suspenso ou limitao de programas de preveno e controle favorecem o aumento das taxas de incidncia de endemias e doenas que considervamos sob controle. Tal e o caso da tuberculose, malria, dengue, febre amarela, enfermida-des de transmisso sexual, dentre outras. Por outra parte, configurou--se o cenrio adequado para o aparecimento de outras doenas que acre-ditvamos erradicadas do continente e do Pais, como o clera (Rodri-guez et alii, 1992). A desigualdade tambm teve bases territoriais. O modelo de acu-mulao, ligado explorao irracional dos recursos naturais e alimenta-do pela concentrao dos mercados, criou espaos desenvolvidos e sub-desenvolvidos dentro de um mesmo territrio. Gerou tambm pobrezas urbanas e rurais de diferente natureza estrutural, condicionando as ex-
pectativas de vrias geraes a suas relaes scio-econmico-espaciais com os centros dinmicos de expanso ou espoliao (Sabroza e Leal, 1992). Em termos de condies de vida e sade no nosso pais, as marca-das diferenas regionais e, dentro das "regies", entre classes sociais, so sobejamente conhecidas: o Nordeste rene, simultaneamente, a maior concentrao de renda, os maiores percentuais de famlias pobres e em misria absoluta, as piores condies de saneamento, as menores taxas de utilizao de servios de sade, os maiores indicas de analfabe-tismo e as mais elevadas taxas de mortalidade infantil e desnutrio, alm de um padro de morbi-mortalidade tpico das sociedades mais atra-sadas do mundo. Nas grandes metrpoles do Centro-Sul mais desenvol-vido , este padro se reproduz nas regies perifricas, nos enormes conglomerados favelados e em muitas reas rurais. Particularmente em relao ao ambiente o modelo ou estilo de de-senvolvimento revelou grande capacidade de impacto. A modernizao da agricultura, o processo acelerado de urbanizao, a transformao sustentada dos recursos naturais e a dependncia energtica de fontes no renovveis representam componentes de um modelo tecnolgico transnacionalizado e de uma tendncia de homogeneizao da econo-mia mundial, com forte capacidade de agresso aos ecossistemas. Por seu lado, o mundo desenvolvido mostra um interesse funda-mentalmente reparativo (2), de natureza tecnocrtica, ao mesmo tempo em que tenta impor uma poltica de deteno no desenvolvimento ecoa-gressivo dos pases subdesenvolvidos. Estes, por sua vez, reclamam seu direito ao desenvolvimento, sem questionar os custos globais de reproduo tardia do modelo em questo (Rodriguez et alIi, 1992). O extenso e pormenorizado documento preparado por tcnicos bra-sileiros para a Conferencia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CIMA, 1991) traa um quadro bastante sombrio da re-alidade ambiental brasileira, tambm ele atribuindo ao modelo de desen-volvimento adotado no pais, nas ltimas dcadas, a causa da degradao do nosso meio ambiente. Nas produes agrcola e industrial e na atividade extrativista, a economia brasileira caracterizou-se, nas ltimas dcadas, pela prioriza-o do mercado externo. Os incentivos exportao, visando a gerar divisas para o pagamento da divida externa, foram os responsveis pe-la proliferao de culturas destinadas ao mercado internacional, como a soja, o caf, a laranja e a cana-de-acar. O crescimento dessas culturas deixa um lastro de destruio, ca-racterizado pela perda da cobertura florestal, pela poluio por adubos qumicos e pela eroso das terras agrcolas. responsvel tambm pe-la impressionante concentrao na posse da terra e pelo subassalaria-mento do trabalhador do campo, que induzem expulso de amplos contingentes da populao rural para os centros urbanos. A expanso industrial, por sua vez, obedeceu a padres de concen-trao em reas que hoje enfrentam, por isso mesmo, problemas ambien-tais de dimenses assustadoras. O complexo industrial de Cubato, implantado em rea de solo inadequado disperso de poluentes, 0 Plo Petroqumico de Camaari e o Programa Grande Carajs, que est con-
tribuindo para acelerar o processo de desmatamento da Regio Amaz-nica, so apenas trs dentre os muitos exemplos que se poderia citar como resultantes da poltica ecoagressiva que tem representado o mode-lo de desenvolvimento adotado no pais. A extenso da fronteira agrcola ao Norte e Centro-Oeste do pais e o garimpo na Amaznia so duas atividades econmicas que trazem, com seu crescimento na ltima dcada, importantes conseqncias ambientais e sanitrias e, por conseguinte, problemas ticos de relevo quanto sade e ao ambiente. S na dcada de 80, segundo o Ministrio da Sade (MS/SNVS, 1991), como dejetos da atividade garimpeiro, foram lanadas cerca de 51 toneladas anuais de mercrio na rede fluvial da Regio Amaznica, com srias conseqncias sobre a flora e a fauna e, por extenso, sobre a sade humana. Em muitas espcies de peixes foram detectadas taxar de mercrio at cinco vezes superiores concentrao mxima aceitvel. Diversos casos de intoxicao humana e anomalias congnitas vnsendo descritas na regio e relacionados com as elevadas concentraes do metal no ambiente ou ao contacto ocupacional. O uso de agrotxicos difundiu-se de maneira espantosa na agricultura brasileira nas duas ltimas dcadas. O esforo pela produtivida de agrcola e pela exportao levou a populao geral do pais a uma exposio de 0.41 kg de agrotoxicos por pessoa, enquanto entre os trabalhadores rurais este indico chega a 2.21 kg (Henao, 1991). O baixo nvel de instruo da maioria dos usurios (trabalhadores agrcolas) amplia o risco da contaminao ocupacional, enquanto j se detecta um nvel tambm alto de contaminao dos alimentos que chegam mesa dos consumidores. Outras condies de trabalho tambm apresentam fatores importantes de risco ambiental: os trabalhadores de sade, pelo uso de produtos radiolgicos e material biolgico potencialmente infestante; os trabalhadores da indstria petrolifera e da indstria qumica, pelos riscos de contaminao pelos insumos ou pelo processo de trabalho; alm dos trabalhadores da construo civil, recordistas de acidentes de trabalho no pais. Estas categorias profissionais, entre tantas outras, constituem-se em vitimas de relaes de trabalho que se encontram ainda num estgio bastante primitivo, que precisam ser aperfeioadas em nome da dignidade, da tica e, porque no dizer, tambm da prpria produtividade econmica. Outras questes devem ser tambm referidas no contexto do debate sobre tica e ambiente, seja pelo seu impacto sanitario ou ambiental na vida contempornea ou por vir, seja porque tem adquirido crescente importncia social e poltica. E o caso, por exemplo, das novas tecnologias, molas mestras do crescimento econmico, que simultaneamente desacelerao do corasumo perigosamente rpido dos recursos finitos, engendram srios riscos, com novos tipos de poluio e ao surgimento, no planeta, de novas variedades de formas de vida que podem alterar o rumo da evoluo (CMMAD, 1987)-. Este um dos problemas mais sensveis sobre os quais
se vem debruando este novo campo da tica, a biotica. A fome, flagelo histrico e social decorrente da manipulao econmica da produo e comercializao dos alimentos, um dos maiores problemas ticos e sanitrios do mundo contemporneo, constituindo-se em presena cotidiana nos servios de sade (e nos lares) de todo o Terceiro Mundo. O desenvolvimento tecnolgico alcanado pela humanidade e as terras arveis existentes permitiriam a produo quantitativa e qualitativamente suficiente de alimentos para suprir adequadamente toda a populao humana. As sucessivas epidemias de fome na Africa com milhares de vitimas fatais, principalmente crianas-so apenas a face mais brutal deste problema que toma a forma de silenciosa endemia que atinge, sob a forma de desnutrio, mais de um quarto da populao do planeta (Bittencourt et alli, 1992). Na base do problema da fome e suas conseqncias esto prti-cas econmicas eticamente condenveis, ainda que "legais" e tolera-das pelo establishment mundial, como a concorrncia desleal, os prote-cionismos comerciais, a especulao com estoques etc. A elevada con-centraco na posse da terra, o desestimulo aos pequenos agricultores, o incentivo produo para a exportao em detrimento dos produtos componentes do padro alimentar das populaes locais e a profundamente desigual distribuio da renda so fatores estruturais que sustentam o problema em diversos lugares do mundo. muito provvel que, se tomada como prioridade poltica pelos movimentos sociais, como o foi a questo ambiental em tempo pretri-to recente, receba tambm a questo da fome o tratamento de flagelo eticamente insuportvel para a humanidade, por parte da comunidade internacional e dos governos nacionais, podendo encaminhar-se ento para uma soluo definitiva. A questo demogrfica encerra uma das mais notveis polmicas no debate sobre o tema da poluio, da degradao ambiental e do futuro da espcie humana. Segundo diversos informes, a superpopulao mundial, de pobres, evidentemente, a principal causa da poluio e da degradao ambiental em escala planetria. Como j descrevemos em texto sobre educao ambiental (Buss, 1992), "trata-se de argumentao ideologicamente agressiva, que igno-ra propositalmente o papel dos padres de consumo na gnese da escassez e dos problemas ambientais as sociedades mais desenvolvidas tm sido efetivamente responsabilizadas pelo maior consumo energti-co per capita e pela mais expressiva poluio do planeta". No nosso pais, vem-se observando uma queda marcante na fecun-didade: de 6.16 filhos por mulher em idade frtil na dcada de 40, decli-namos para 4.35 na dcada de 80, com perspectivas de atingirmos o milnio com cerca de 2 filhos por mulher, infelizmente atravs da mais agressiva medida de controle conhecida: a esterilizao em massa de mulheres brasileiras (Giffin, 1992). O Censo de 1991 confirmou as tendncias de que este declnio se observa em todas as classes sociais e em todas as regies do pais. Assim, pelos seus elevados custos e pelos
problemas ticos que envolve, no se justifica a manuteno de nenhum programa de controle da nata-lidade, seno o acesso a informaes e mtodos ticos de planejamen-to familiar, propiciados pelos servios de sade. Um outro problema tico de relevo so as conseqncias ambien-tais e econmicas (que se interligam) da corrida armamentista e da guer-ra. Em termos globais, os gastos militares totalizam mais de USS 1 tri-lho anualmente, e no cessam de subir, consumindo em muitos pases to grande proporo do produto interno bruto que paralisam qualquer esforo de desenvolvimento ou implementao de polticas sociais. De outro lado, ainda que em processo desacelerado de produo, o acmu-lo de armas nucleares j suficiente para destruir muitas vezes o plane-ta, conduzindo ao fenmeno do inverno nuclear capaz de destruir ecos-sistemas vegetais e animais e deixar as espcies sobrevivestes, inclusi-ve a humana, em um mundo devastado e quase inabitvel. Por fim, sa-bemos que as mortes e as seqelas fsicas e mentais em conseqncia das guerras atingem milhares de pessoas em todos os quadrantes do planeta, representando hoje, em muitos pases, um dos maiores, seno o maior problema de sade prevalente. As relaes internacionais constituem-se numa das questes cen-trais referidas ao desenvolvimento numa conjuntura em que, alm do acentuado aumento da interdependncia econmica entre as naes, te-mos agora sua crescente interdependncia ecolgica. Os pases em de-senvolvimento tem de atuar em um contexto em que se amplia o fosso entre a maioria das naes industrializavas e em desenvolvimento em matria de recursos, em que o mundo industrializado impe as regras que regem as principais organizaes internacionais, e em que esse mundo industrializado j usou grande parte do capital ecolgico do pla-neta. Assim, essa desigualdade nas relaes interpaises e interregies do mundo e o maior problema "ambiental" da Terra (CMMAD, 1987). Devido "crise da divida" da Amrica Latina, por exemplo, os re-cursos naturais dessa regio esto sendo usados no para o desenvolvi-mento, mas para cumprir as obrigaes financeiras contradas com os credores estrangeiros. Esse enfoque do problema da divida e insensato sob vrios aspectos: econmico, poltico e ambiental. Exige que pases relativamente pobres aceitem o aumento da pobreza, ao mesmo tempo em que exportam quantidades cada vez maiores de recursos escassos (CMMAD, 1987). Ainda segundo a CMMAD, a agricultura, a silvicultura, a produo energtica e a minerao geram pelo menos a metade do produto nacio-nal bruto de muitos pases em desenvolvimento, proporcionando empregos e meios de subsistncia. A exportao de recursos naturais conti-nua sendo um fator importante em suas economias, mas, devido as enormes presses econmicas, tanto externas como internas, a maioria desses pases explora excessivamente sua base de recursos naturais. Poderamos estender-nos indefinidamente, descrevendo situaes e casos ilustrativos das estreitas relaes existentes entre desenvolvi-mento, ambiente e sade, todas elas envolvendo aspectos ticos de gran-de relevncia. Creio, entretanto, que o conjunto arrolado permite-nos concluir, como se v, que no so crises isoladas: uma crise ambiental, uma crise do desenvolvimento, uma crise energtica, uma crise tica. So, na verdade, uma s crise (CMMAD, 1987).
Uma nova tica para o Desenvolvimento Desenvolvimento sustentvel e o conceito-chave de uma srie de propostas que circulam entre organismos internacionais, governos nacio-nais e movimentos sociais, para fazer frente a esta "crise global" em que se v envolvido o mundo neste final de sculo. Ele supe os compo-nentes de participao e eqidade e tambm o de crescimento econmi-co. Tratar-se-ia, entretanto, no plano conceitual e tico, de um crescimen-to econmico direcionado ao atendimento das necessidades humanas em termos de qualidade de vida e que conserve e expanda a base de recursos ambientais (CMMAD, 1987). Tal crescimento absolutamente necessrio para mitigar a grande pobreza que se vem intensificando na maior parte do mundo em desen-volvimento. De fato, embora o crescimento econmico no deva ser confundido com o objetivo do desenvolvimento, sua realizao condio fundamental para atingi-lo. Como afirma a Comisso Mundial para o Meio Ambiente e o Desen-volvimento, a pobreza generalizada j no inevitvel. Mas, para haver um desenvolvimento sustentvel, preciso atender as necessidades b-sicas de todos (...), pois um mundo onde a pobreza endmica estar sempre sujeito a catstrofes ecolgicas ou de outra natureza (CMMAD, 1 987). O documento da CMMAD insiste na necessidade do crescimento econmico, mas aponta veementemente para o principio da eqidade na distribuio dos recursos. E afirma que "tal eqidade seria facilitada por sistemas polticos que assegurassem a participao efetiva dos cida-dos na tomada de decises e por processos mais democrticos na to-mada de decises em mbito internacional" (CMMAD, 1987). A adoo de estilos de vida compatveis com os recursos ecolgi-cos do planeta-quanto ao consumo de energia, principalmente nas sociedades desenvolvidas, por exemplo-, bem como mudanas na for-ma de explorao dos recursos naturais, na orientao dos investimen-tos, nos rumos do desenvolvimento tecnolgico e nas relaes interna-cionais, so posturas e compromissos indispensveis a serem assumi-dos em escala planetria pelos organismos internacionais e governos nacionais e difundidos para o debate e adoo, no que couber, pela po-pulao. O marco tico para um desenvolvimento adequado est na neces-sidade de que ele ocorra como um processo participativo, eqitativo e sustentvel (CEPAL, 1991). Participativo porque deve assegurar o con-curso de todos em sua construo; eqitativo porque seus beneficias devem universalizar-se em funo das necessidades; e sustentvel por-que, na sua realizao, no deve comprometer a possibilidade de uma vida adequada para as futuras geraes sobre a Terra. Ou seja, um no-vo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano no apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e por muito tempo (CMMAD, 1987).
O conceito de sade, articulado com este modelo, precisa ser dife-rente do atual, contemplando outras dimenses da vida humana, inclusi-ve suas interaes com um ambiente protegido e no apenas domina-do pelas relaes econmicas. Uma nova tica passa pela valorizao da informao, consideran-do o indivduo no apenas como receptor, mas garantindo seu acesso ao conhecimento acumulado pela sociedade. Informao, importante que se ressalte, dirigida para o desenvolvimento de estratgias de produ-o, e no para definir padres de consumo. Uma nova tica pressupe tambm um mundo integrado, mas que assegure o direito diversidade em relao aos processos econmicos, culturais e ambientais. Uma nova tica implica em compromisso com a democracia, signi-ficando este conceito um novo modelo de relao entre os indivduos e, destes, com o Estado, alm de uma outra ordem internacional (Rodri-guez, 1991). Para que a nova tica no seja apenas uma utopia, mas o funda-mento para um novo modelo de desenvolvimento, indispensvel a su-perao do nvel de misria e da falta de instruo de grande parte da populao, o que impede sua insero efetiva no processo econmico e poltico e, portanto, o controle sobre suas condies concretas de exis-tncia, pressuposto da cidadania. Os ajustes inevitveis na conjuntura atual, para as crises polticas, econmicas e ambientais, por sua vez, no podem resultar em um estrei-tamento das possibilidades de transformaes estruturais, comprometen-do o futuro, mas sim tem de considerar a necessidade e as possibilida-des de fundao de uma nova ordem mais justa e equnime, baseada nos princpios da solidariedade entre naes, povos e grupos sociais. No suficiente, portanto, propiciar respostas tecnolgicas ou mo-dificar os modelos de crescimento econmico vigentes sem revisar si-multaneamente os valores sobre os quais sustentar a nova ordem inter-nacional necessria. Desenvolvimento com eqidade, aproveitamento ra-cional dos recursos naturais baseado em conceitos de sustentabilidade, solidariedade universal expressa em uma nova concepo de coopera-o, transferncia rpida de conhecimentos e processos de revalorizao da vida em seu componente qualitativo parecem constituir requisitas e urgncias do presente. Fundar uma nova tica do desenvolvimento, num contexto onde a questo ambiental seja uma causa planetria, exige uma nova posturar das naes desenvolvidas para com as naes em desenvolvimento e, I destas, um maior compromisso com a eqidade social (Mdici e Aguiar, 1992). De fato, a maioria dos documentos insiste na necessidade de se estabelecer uma cooperao internacional efetiva para lidar com a interdependncia ecolgica e econmica. Assim, uma mudana de orientao nos rgos internacionais que tratam de emprstimos para o desenvolvimento, regulamentao do comrcio, desenvolvimento agrcola etc. -que pouco consideram a importancia dos efeitos de suas atividades sobre o meio ambiente- fator essencial a ser logrado na consertao multilateral em torno da questo ambiental. A facilitao e, mesmo, o estimulo na transferncia de tecnologias industriais limpas (ao invs
da sucata industrial com que brindam o Terceiro Mundo as multinacionais) e de tecnologias adequadas para a proteo e a recuperao ambientais so acordos minimos a serem celebrados na regulao das relaes econmicas interpaises, com a superviso dos organismos internacionais. Caso contrrio, estaremos trafegando na v avenida da retrica que com grande freqncia preside os foros internacionais. Da mesma forma, o tratamento adequado para a divida externa dos paises do Terceiro Mundo, que se transformaram na dcada de 80 em exportadores lquidos de capital, com as tremendas conseqncias humanas e ambientais j apontadas, ser possivelmente a medida de maior impacto que se lograr no terreno ecolgico, em nvel planetrio. A questo saber a servio de quem esto os organismos multilaterais e internacionais que tratam da questo da divida e qual o compromisso das lideranas do Primeiro Mundo com a proteo ambiental do planeta: retrica ou efetiva? Finalmente, uma referncia viso da ecosofia de Guattari (1990), "um eixo de valores tico^politicos que conjugariam a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia mental". Segundo o autor, a questo ambiental e as lutas ecolgicas no podem ficar circunscritas simplesmente esfera da produo, esfera do Estado, ou seja, esfera do mercado e esfera estrutural. As lutas ecolgicas contemporneas no podem permanecer reduzidas a um programa de ao democrtico, de transformaes sociais, na escala do Estado, das regies, na escala politica. Por no negar a importancia dessas lutas, o autor considera indis^ pensvel, nesse nvel, a renovao da expresso poltica e, portanto, das relaes de foras polticas em grande escala. Entretanto, considera imprescindvel a considerao dos outros nveis, microssociais, microinstitucionais, familiares e existenciais. Se no houver uma recomposio das prticas sociais no nvel do urbanismo, da vida cotidiana, das Para o autor no h prioridade transcendente da relaes interindividuais-o que ele chama de ecologia mental-e das relaes dos indivduos com o ambiente, pouco se poder esperar em termos de avanos concretos na proteo e preservao ambiental. Para o autor no h prioridade transcendente da organizao poltica sobre as outras formas de reapropriao da vida social e da subjetivi-dade, ou seja, uma hierarquia entre as instancias de representao do real. A luta democrtica, a luta pela representatividade, a interveno nas correlaes de foras polticas e sociais precisam existir. Porm, em uma situao de horizontalidade democrtica com as lutas pelo meio ambiente imediato, com as ONGs, com os artistas, com o movimento "ecosfico", com a renovao da pedagogia etc, num movimento de enriquecimento mtuo, mais do que numa relao de subordinao entre estes componentes. As implicaes destas reflexes de Guattari conduzem perspecti-va de uma articulao dinmica entre as lutas sociais e polticas no terre-no ecolgico e no campo democrtico em geral, com uma profunda trans-formao na postura individual diante de si, dos outros e da natureza, o que poder significar um radical e transformador reposicionamento ti-co diante da vida como um todo. Para muitos, o discurso do desenvolvimento sustentvel uma in-vestida ideolgica de empresas e governos, no sentido de preservar, ao mesmo tempo, os recursos naturais e as estruturas scio-politicas. Cabe aos que acreditam na primazia da vida, na justia social e
na de-mocracia encontrar formas de solidariedade que permitam resistir s pres-ses que pretendem congelar, pelo maior tempo possvel, a velha ordem econmica, a tica e ecoagressiva, mesmo que ao custo de guerras, des-truio ambiental, doenas e morte. Bibliografia . Bittencourt, S.A. et alii 1992. Nutrio, meio ambiente e desenvolvimento, in ref. Leal, M.C. et alii, vol. 2. . Buss, P.M.1992. Educao ambiental e sade. Rio de Janeiro, mimeo, 17pp. . Banco Mundial 1991. Relatrio sobre o Desenvolvimento Mundial. Rio de Ja-neiro, Ed. FGV. . Carneiro Leo, E.1992. A tica do desenvolvimento, in ref. Leal, M.C. et alii, vol 1. . CENEPI/Centro Nacional de Epidemiologia 1992. Informe Epidemiolgico do SUS 1(2). Braslia: Ministrio da Sade. . CEPAUComisso Econmica para Amrica Latina e Caribe 1991. El desarrol-lo sustentable: transformacin produtiva, equidad y medio ambiente. Santia-no de Chile, Doc. LC/G 1986. . ClMA/Comisso Interministerial para a Preparao da Conferncia das Na-es Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 1991. Subsdios tcni-cos para a elaborao do Relatrio Nacional do Brasil para a .CNUMAD. Braslia: IBAMA. . CMMAD/Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Na-es Unidas 1987. Nosso Futuro . Comum. Rio de Janeiro: Editora da Funda-o Getulio Vargas, 1991, 2a. ed. . IBGE/PNAD 1990. Sntese de indicadores da pesquisa bsica da PNAD de 1981-1989. Rio de Janeiro: IBGE Giffin, K.M. 1992. A modernidade perversa e a reproduo humana no Brasil, in ref. Leal M.C. et alii, vol 2. . Guattari,F. 1990. As Trs Ecologias. So Paulo: Papirus. . Henao, S. et alii 1991. Diagnstico preliminar do uso de agrotoxicos no Brasil e seus impactos sobre a sade humana e ambiental. Braslia: Ministrio da Sade, Reunio sobre Agrotxicos, Sade Humana e Ambiental no Brasil, mimeo. . Leal, M.C.; Sabroza, P.C.; Rodriguez, R.H. e Buss, P.M. 1992. Sade, ambien-te e desenvolvimento. So Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 2 vol.
. Mdici, A.C. e Aguiar, M.A. de S. 1992. Desenvolvimento sem tica. Polticas Governamentais Vlll(80): 3944, mai/jun. . Minayo, M.C. de S. 1991. Desenvolvimento, violncia e ecologia. Documento apresentado ao Encontro Nacional sobre Sade e Meio Ambiente. Rio de Ja-neiro: Fiocruz, mimeo, 20 pp. . MS/SNVS 1991. Projeto Ambiente. Braslia: Ministrio da Sade. . Oliveira, L.A.P. e Simes, C.C.S.1986. A mortalidade infantil recente nas re-as urbanas: aspectos regionais e relaes scio-econmicas, in Perfil Estatstico de crianas e Mes no Brasil: aspectos scio-econmicos da mortalidade infantil em reas urbanas. Rio de Janeiro: IBGE. . OPS/Organizacion Panamericana de la Salud 1990. Condiciones de salud en las Amricas. Washington, D.C.: OPS. . Potter, V.R. 1971. Bioethics, bridge to the future. Englewood Cliffs (NJ): Prenti-ce-Hall. . Rodriguez, R.H. 1991. La tica del desarrollo. Texto apresentado na Reunio Preparatria da Pr-Conferncia sobre Sade e Ambiente/Rio-92. Rio de Ja-neiro: FIOCRUZ, mimeo. . Rodriguez, R.H., Sabroza, P.C., Leal, M.C. e Buss, P.M. (1992). A tica do desenvolvimento e as relaes com sade e meio ambiente, in ref. Leal, M.C. et alii, vol. 1. . Saboia, J. (1991). Emprego nos anos oitenta-uma dcada perdida. Rio de Janeiro: ENSPICLAVES, mimeo. . Sabroza, P.C. e Leal, M.C. Sade, ambiente e desenvolvimento-alguns con-ceitos fundamenteis (1992), in ref. Leal, M.C. et alli, vol 1. . Serres, M. 1990. 0 contrato natural. So Paulo: Cia das Letras. . Silva, B. (coord) (1986). Dicionrio de Cincias Sociais; Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1986. . Schramm, F.R. (1992). Ecologia, tica e sade: o principio da responsabilida-de, in ref. Leal, M.C. et alii, vol 1. s . Schramm, F.R. et alii. (1992). tica e ecologia: algumas reflexes comuns, in ref. Leal, M.C. et alii, vol 1. . Vzquez, J.M. (1986). tica in ref. Silva, B. (coord). Ser Possivel um tica Ps-Moderna? Horcio Macedo
O esfacelamento da sociedade do ps-guerra provoca alteraes substanciais na possibilidade de ser formulada uma tica capaz de ser um dia, incorporada pela sociedade como um todo. s dificuldades que, no passado, se opunham a esta formulao adicionamse, neste decnio final do sculo, as que se originam nas perdas de referncias sociais e culturais de grandes grupos e na consolidao da influncia cultural con-traditria das classes dominantes. Talvez seja possvel conceitualizar os novos problemas ligando-os aos que se formaram e solveram historicamente, mediante a anlise da alienao do homem na sociedade moderna e da hegemonia exercida pelos portadores e detentores do capital. Na vida de qualquer homem, instituem-se processos, sobre os quais exerce pouco ou nenhum controle, que o alienam, estranham-no, apartam-no de si mesmo e da sua prpria atividade social. Assim, na observao clssica, o trabalhador se aliena do produto do trabalho, que, embora fruto direto da sua atividade social e indivi-dual, foge do seu controle e da sua vontade, objeto da posse, que , do detentor do capital. Esta forma de alienao-a do homem social ativo e produtivo -frente ao resultado da sua atividade acentuou-se sobremaneira em fa-ce do gigantismo automatizado dos sistemas produtivos modernos. Num grande sistema automatizado, cada homem exerce uma tarefa que cons-titui um tomo do sistema todo, cuja complexa integridade e dominada por muito poucos. A alienao do produtor se acentua, ento, pela es-pessa nuvem de ignorncia em que se v mergulhado. Embora o trabalha-dor moderno tenha de ter, em alguns casos, qualificao profissional tal-vez mais apurada que antigamente, a participao de cada um relativa-mente menor do que a existente na linha de produo fordiana do passa-do. No se pode minimizar este novo tipo de alienao-a do produtor ativo diante do instrumento de trabalho. Um operador de torno automatizado, por exemplo, no dispe de conhecimentos, nem de saber, para corrigir o funcionamento da mquina, nem muito menos para diagnosticar sua operao. O analista de sistema impotente diante de um grande computador e dificilmente ser capaz de interferir com a sua estrutura material. O tcnico de microeletrnica, por seu lado, ser capaz de diagnosticar uma imperfeio de um circuito impresso e corrigi-la, mas e incapaz, nos casos correntes, de utiliz-lo numa programao. Desta forma, a alienao do trabalhador no processo produtivo no mais de-terminada pela inexorvel corrente da linha de produo, como nos Tem-pos Modernos de Chaplin. A inexorabilidade provm, agora, da ignorncia especfica de cada um e da repartio de saberes pelos diferentes e inumerveis tcnicos e operadores do sistema produtivo. Tem-se ento, neste final de sculo, no apenas a alienao do tra-balhador em face do produto do trabalho (que se traduz pela apropria-o do produto por quem no o produziu), mas tambm a alienao de trabalhador em face do instrumento do trabalho (que se traduz pela impotncia do domnio global e total do instrumento pelo trabalhador). Este entranhamento do homem em face da sua atividade produti-va s se obsta quando a atividade e o produto se renem indissoluvel-mente e visam a atingir, sem intermedirios, a pessoa humana. Neste final de sculo, mais do que antes, so os artistas que podem fazer
est superao na esfera da produo do que correntemente se denominam "bens culturais"msica, pintura, teatro, literatura, etc. Entendamo-nos bem: podem os artistas fazer esta superao; no quer dizer que obrigatoriamente a faam nem que no contribuam para o agrava mento da alienao mencionada anteriormente. A capacidade antialie-nante dos artistas sempre uma virtualidade que pode no se manifestar nesta ou naquela circunstncia. Temos entre ns os exemplos do Graciliano, do Portinari, do Niemeyer, do Milton Nascimento e de muitos outros, alm de outros muitos que ficam num outro campo... Aparentemente, neste final de sculo, o sistema capitalista caminha para um processo de entranhamento das grandes massas da populao trabalhadora e a formao de uma sociedade materialmente cindida numa classe dominante fechada e uma inumervel classe de produtos dominados. Panorama terrificaste de um Admirvel Mundo Novo n sculo XXI. Ser? Talvez no, pois o sentido de permanncia histrico do sistema capitalista exerce um controle sutil e eficiente sobre a sociedade que no acarreta, necessariamente, a adoo de mtodos mecnicos de coao e domnio. o que consegue com o exerccio da Regem Na poltica e social que se insinua, filamentosamente, em todos os setores da vida em sociedade organizada. A hegemonia do capital foi construda historicamente. Conquista do o poder poltico (nos sculos XIX e XX), s vezes violenta e sangrentamente, o processo de consolidao do poder foi o processo da construo da hegemonia. O processo da substituio histrica das concees doutrinarias do "ancien regime" pelas concepes no menos dou-trinrias dos iluministas do sculo XV111, dos economistas clssicos da pragmtica Inglaterra, dos idealistas democrticos da revoluo norte-americana, dos radicais defensores do cidado burgus, dos revolucionrios de 89. a hegemonia conceitual que se codifica no sistema jurdico, transmite-se nos sistemas educacionais, corporifica-se nos instrumen-tos coercitivos do Estado, define-se e aprimora-se nas instituies cultu-rais, aprisiona e oprime as manifestaes artsticas. Com este poder multifacetado, podem as classes dominantes no capitalismo exercer um firme e forte domnio social sem recorrer-a no ser em instantes de crise, ou contra grupos contestadores explcitos da sua hegemonia-a mecanismos de coero violenta. Ao mesmo tem-po podem manter, em cada pais, caractersticas nacionais favorveis ao exerccio da competio em nvel internacional. Nos dias atuais, canaliza-se a manuteno cotidiana, incansvel, da hegemonia capitalista, nos instrumentos de comunicao de massa. Comunicao que tem, com certeza, o poder de, durante espaos de tempo dilatados, em territrios extensos, fazer prevalecente a viso do-minante sobre problemas e questes controvertidas; mas que no tem, importante acentuar, a capacidade de superar a contradio social e individual expressa na alienao do homem produtivo. A grande ameaa hegemonia do capitalismo, no sculo XX, foi a experincia socialista da antiga Unio Sovitica. Esta experincia apon-tava para a possibilidade da construo de uma sociedade diferente da capitalista, em que desaparecia a alienao do trabalhador no seu traba-lho e em face do produto do trabalho, e a hegemonia na sociedade se construa
com a participao da totalidade da populao, e no apenas de uma limitada classe social. Numa frase bastante gasta, mas no por isso menos bonita, era uma sociedade em que o reino da necessidade seria substitudo pelo reino da felicidade. O fato de a experincia no ter tido o xito desejado por milhes e milhes em todo o mundo no diminui a sua importncia nem o seu significado. Pela primeira vez, na conflituosa histria da humanidade, formulava-se o claro objetivo de o trabalho ser uma fonte de prazer, e no processo de alienao; dizia-se que a hegemonia poltica e social seria construda pelo conjunto dos trabalhadores em beneficio destes trabalhadores, no para manter uma certa estrutura social, mas, ao con-trrio, para destrui-la e iniciar um perodo de construo da vida de to-dos e de cada um muito diferente do que fora at ento possvel. Era o pensar uma utopia em termos materiais, com uma nova tica nas rela-es humanas. Com o que retornamos ao problema inicial, o da tica na socieda-de deste fim de sculo. Em face do que foi esboado, ser possvel formular-se uma tica que possa valer para toda a sociedade? E evidente que no. A tica na sociedade capitalista elemento importante da hegemonia burguesa. parte integrante do aparelho ideolgico da burguesia. uma tica "bo-a" para os dominados, "irrelevante" para os dominantes. Os valores que aponta-disciplina no trabalho, respeito ordem, moderao nos costumes, honestidade nas relaes pessoais etc.-valem para os alie-nados, mas no para os alienantes. E exatamente por isso que os por-tadores da tica do dominante usam-na como imperativo categrico para os dominados, mas como expediente pragmtico para si mesmos. Os recentes acontecimentos polticos no Brasil evidenciaram, com bas-tante propriedade, esta diferena. Vimos prceres reconhecidos e res-peitados do estamento nacional fazerem, sem estremecer um nico clio, o jogo da corrupo de administradores pblicos. No se podem descartar, no entanto, sem exame nem ponderao, os princpios da tica proclamada pela hegemonia do capital. Ao se cons-truir uma sociedade no alienante, ser importante e desejvel a disci-plina no trabalho, a honestidade nas relaes pessoais, o mtuo respei-to ao cidados etc. O problema, no entanto, no o de valorizar estes principias numa sociedade a construir, baseada na solidariedade, na fra-ternidade, na cooperao; o problema o de saber se a imensa maioria dos dominados, numa sociedade de classes capitalista, pode assumir estes valores de uma sociedade solidria, fraterna, cooperativa. A res-posta s pode ser negativa. possvel que um trao ou outro desta ti-ca venha tona e que grupos, correntes, subcamadas, camadas, corpo-raes, adotem-nos com o maior empenho e maior conscincia da sua importncia. A hegemonia cultural da burguesia impede, no entanto, que se radiquem e expandam na sociedade. E esta hegemonia provo-ca, inelutavelmente, o divrcio entre o discurso e a prtica. Nada mais tico, fraterno e humano que o juramento de muitas corporaes profis-sionais; mas nada menos tico, fraterno e humano que a atividade de muitos e muitos profissionais. E to menos tica quanto mais alienados os profissionais se sintam em face do trabalho que executam. Ficamos ento num beco sem sada? Condenados a viver numa sociedade que no se pode denominar selvagem, em respeito aos selva-gens habitantes da selva, mas que envolve
traos de ferocidade, de violncia, de desrespeito inter-humano, como poucas sociedades histricas? H sadas e caminhos trilhados pela histria. Um deles o da for-mulao da tica pela via religiosa. Durante muitos sculos foi a tica religiosa dos oprimidos no Imprio Romano que possibilitou, como par-te de uma contra-hegemonia, a derrubada do sistema escravista da anti-gidade europia. Esta mesma tica, transformada na tica dominante, foi elemento essencial da hegemonia que moldou a sociedade feudal e a sociedade dos privilgios na Europa do sculo X at o sculo XIX. Foi uma tica calcada na religio que forneceu base ideolgica firme para a construo do capitalismo do sculo XIX. Nesta construo, a tica re-ligiosa foi instrumento poderoso de submisso dos povos coloniais, foi elemento to importante para a expanso do capitalismo em escala mun-dial quanto as tropas e os exrcitos das grandes potncias. A tica religiosa pode ter um elemento contra-hegemnico se a re-ligio, qualquer que seja, fizer uma opo pelos pobres. Quando os de-fensores da teologia da libertao fazem esta opo, na Amrica Latina, certamente esto lanando as bases de formulao de uma tica que, qualquer que seja a sua conotao com elementos do saber extraterre-no, capaz de contribuir no combate tica alienante do capitalismo. A outra via e a da formulao da tica de uma corrente poltica que assume, de principio e claramente, a idia da necessidade apodctica de construo de uma sociedade diferente da atual, desallenadora, e que subordine toda sua atividade ao carter essencialmente humano desta sociedade. Era esta a tica que se queria na construo do socialismo. tica em que os meios da construo so parte integrante dos fins e em que, sempre e em todas as circunstncias, o homem a medida das coisas, o irmo e o companheiro dos outros homens. Este referencial de tica est hoje comprometido pelo fracasso da construo do socialismo, pela consolidao das relaes capitalistas, pelo atraso crescente do Terceiro Mundo, provocado e agravado pela ao dos pases do Primeiro Mundo. Restaurar este referencial, reconstrui--lo, ser a tarefa dos partidos polticos que, teimosa e imperiosamente, iro projetar no sculo XXI a utopia dos pensadores do sculo XIX-a construo de uma sociedade humana e por isso tica. Como diz, vin-da do sculo XIX, a poderosa voz de Marx: "A doutrina materialista (vulgar), segundo a qual os homens so produto das circunstncias e da educao, e que, portanto, homens mo-dificados so produto de outras circunstncias e de uma educao mo-dificada, esquece-se de que so precisamente os homens que modificam as circunstncias e de que o prprio educador precisa ser educado...". Nesta observao se concentra toda a possibilidade da construo de uma tica para combater a tica egosta, falsa e hipcrita do capitalis-mo dominante. A tica do Ensino Mdico e o Ensino da
tica Mdica Roberto Wagner Bezerra de Arajo Introduo No momento em que elaboro este trabalho, numerosas questes envolvendo eutansia, abortamento, esterilizao humana, atestados mdicos, segredo profissional, relao medico-paciente, relao entre colegas e muitas outras situaes concretas esto sendo vivenciadas por mdicos, estudantes e pacientes nos mais diferentes locais do pais. Tais questes pertencem ao domnio da tica, para ser mais atual, ao campo da biotica. Boa parte das solues dadas aos problemas assinalados nos re-mete necessariamente a que faamos uma reflexo acerca do tipo de formao que atualmente recebem os profissionais de sade, notada-mente os mdicos. O aparelho formador, a escola mdica, est na berlinda: ela tem um papel relevante ou secundrio na questo dos valores? O aparelho formador, sua participao no modo de produo brasi-leira, e a complexidade das relaes sociais abrem um verdadeiro leque de possibilidades explicativas nas condutas tomadas diante dos dilemas ticos. Vamos nos contentar em delimitar nossa abordagem questo da tica do ensino mdico em confronto com o ensino da tica mdica. Estudaremos, portanto, a capacidade que teria a formao medi-ca de gerar, reproduzir, ou mesmo inculcar valores. Tais valores, no custa lembrar, desde a antigidade foram preocupao de filsofos co-mo Scrates, Plato e Aristteles. J que mencionamos a palavra valor, sem a inteno e a compe-tncia para discorrer sobre sua complexidade, queremos apenas assina-lar o texto clssico de Hessen(1), que nos mostra as direes tomadas pela filosofia neste campo particular do conhecimento. Os caminhos per-corridos permitem dizer que pelo menos sete linhas desdobraram-se na anlise da questo do valor; foram elas: a) uma corrente psicolgica; b) uma corrente neokantiana; c) uma corrente neofichteana; d) uma corrente fenomenolgica; e) uma corrente derivada da escola de Remke e, finalmente, uma corrente neoescolstica. No vamos atiar muito os nimos dos pragmatistas; encerremos esta etapa da colocao do proble-ma com a definio que considero valiosa (desculpem a coloca-o do termo) para a problemtica do ensino mdico. Valor , portanto,(...) "algo que objeto de uma experincia, de uma vivncia"(2).
Quando pronunciamos a palavra valor podemos estar querendo dizer pelo menos trs coisas distintas(3): (...) "a vivncia de um valor; a qualidade de valor de uma coisa, ou a prpria idia de valor em si mesma". Neste sentido, dizemos que o ensino mdico reproduz e inculca valores, e, se isto ocorre, possvel para ns traarmos uma anlise cien-tifica sobre moral do ensino mdico. Porm, contentemo-nos em limitar nossa abordagem a questo da tica no ensino mdico em confronto com o ensino da tica. Mas, existe uma tica no ensino mdico? Talvez seja melhor definirmos em que persp ectiva situamos a definio do que tica para em seguida analisarmos melhor o tema. tica deve ser entendida como uma anlise cientfica sobre a mo-ral induzida pelo ensino mdico. Poderemos dessa forma emitir juzos acerca da positividade ou negatividade dos valores transmitidos. Como as pessoas se posicionam diante dos problemas ticos? De um modo geral, as pessoas podem enfrentar os problemas ti-cos em pelo menos duas perspectivas: uma, que aponta para a resolu-o dos dilemas com base numa slida formao moral individual. Pa-ra tais pessoas, uma boa formao escolar seria suficiente para que, dian-te de situaes ticas, a atitude por elas tomadas reproduza os modelos preconizados pela tica mdica. Outra vertente de pensamento percebe as questes morais como sendo reflexos, decorrentes do modo de produo da sociedade, da relao que os homens mantm entre si, da forma como eles se colocam diante da diviso do trabalho e da reproduo do modelo de sociedade vigente. Assim, dependendo do modo como nos posicionamos, propo-mos solues ou idealistas ou materialistas, para os dilemas ticos, no sentido filosfico dos termos. Entendemos que o ensino mdico, e de modo geral o ensino de primeiro, segundo e terceiro graus, determinado pela lgica de funcio-namento da sociedade, portanto, os valores por eles reproduzidos refle-tem a contradio que lhes inerente. Deixando um pouco sombra comentrios acerca do funcionamen-to da sociedade, em rpidas pinceladas tentaremos dissecar alguns fato-res por ns considerados importantes na lgica da gerao de valores na educao mdica. O ensino mdico tradicional recebeu a influncia de dois fatores que contriburam, sem sombra de dvidas, para uma viso mdica que marcada por uma perspectiva moral caracterstica dos novos tempos.
O primeiro deles foi a influncia da viso cartesiana de mundo, que inaugurou a possibilidade do mecanismo dualista. Ou seja, a sepa-rao mente-corpo e a lgica de que a cada efeito corresponde uma causa. O segundo foi a influncia da perspectiva cientificista na prtica medica. Porm, o fator mais importante que influenciou uma concepo de mundo em medicina foi a colocao de um currculo tendo como filo-sofia bsica a abordagem Militarista e pragmtica. O Modelo de Ensino Mdico O modelo mdico moderno difere profundamente do modelo mdico hipocrtico. As diferenas vo desde o aparecimento de uma teoria explicativa das doenas (modelo anatomopatolgico), apangio da medi-cina atual, passando pela aplicao da tecnologia em detrimento da aten-o ao paciente. O que ganhamos em tcnica perdemos em tica. Expli-co melhor, se a medicina hipocrtica dedicava maior parte do seu tem-po para a ateno mdico-paciente, a medicina moderna no pode, por motivos variados, dedicar a mesma ateno que antes. Hoje, o exame complementar ocupa um espao volumoso da ateno mdica, o que subtrai momentos importantes na anamnese e no exame fsico, fatores primordiais no exerccio da medicina hipocratica. A Cincia Moderna O ponto de inflexo, que fez a medicina avanar, comea no scu-lo XVI. A juno entre uma prtica empirista e um modelo manipulador da realidade fez com que o paciente, que antes era visto como algum portador de um distrbio cujas causas eram inacessveis, passasse ago-ra a ser visto como um objeto de estudo. A teoria dos germes de Pasteur, juntamente com a teoria celular, readaptada luz da teoria de Vir-chow, criou uma verdadeira ruptura epistemolgica no saber mdico. Portanto, a abordagem das doenas, segundo Galeno, foi substituda pela anlise da anatomia patolgico; inaugurava-se uma nova forma de praticar a medicina e possibilitava-se o nascimento da clnica como ho-je a concebemos. O Modelo Flexner Na dcada de 40, a Amrica do Norte lana para o mundo um mo-delo de currculo mdico que passar a ser adotado como a forma mais eficaz de transmisso dos conhecimentos mdicos. O modelo passou a ser chamado de flexneriano e tinha como base a cincia e uma aborda-gem biocntrica dos problemas de sade. A formao mdica , portanto, de carter cientificista e pragmti-ca, implicando numa postura "fria", "neutra" e "objetiva", atributos da cincia. O conflito tico mais importante, que se passa em decorrncia da formao mdica, o conflito entre o principio tradicional do primam non necere e a vontade de saber, j que a tecnologia moderna impe o uso de aparelhagem potencialmente nociva, seja para diagnstico, ou mesmo para tratamento.
Vencidas as etapas iniciais desta anlise, gostaria de enfocar, den-tro do processo de ensino, algumas caractersticas que reputo como con-seqncias de um ensino marcado pela lgica utilitarista. O sistema educacional tem a sua lgica. Nele o processo ensinar aprender assume uma dimenso no apenas tica, mas tambm poltica. Vinculado ao sistema social, ele, ao mesmo tempo em que promo-ve a mudana de classe social, possibilita a difuso dos valores vigen-tes na sociedade. Assim, acreditamos que o ensino mdico possui uma tica. Os valo-res transmitidos tm relao direta com o modelo assumido para o ensino. Com a cincia, abriu-se o campo para investigaes que muitas vezes ultrapassam o que Kant chamava de imperativo categrico. Para Kant, o homem deve sempre ser um fim em si mesmo e ja-mais meio. Este principio tico tem norteado cdigos de tica do mun-do inteiro e entra em contradio com a liberdade do mdico para fazer uso de seu arsenal teraputico, obtido pela unio entre cincia e tecnologia. O desejo de experimentar limitado pelo direito do paciente de se posicionar diante dos procedimentos da medicina moderna. Uma perspectiva puramente cientificista leva o mdico a um embo-tamento de sua capacidade de avaliar com bom senso os riscos e os beneficias de um determinado procedimento tcnico. Porm deixemos de lado esta abordagem sobre a tica do ensino mdico, j que entendemos ser ela capaz de influenciar a reproduo de valores e coloquemos em foco nossa ateno para o ensino da tica mdica. O Ensino da tica Mdica Aqueles que se defrontam no dia - a -dia com ensino da tica podem sentir, inicialmente, o relativo desprezo que as pessoas tm com as questes ticas, principalmente quando o tema abordado numa perspectiva terica explicao deve ser buscada na idia vigente de que assuntos filosficos so estreis e, portanto, que no teriam um carter fundamental terico , o que no parece despertar nos alunos o interesse esperando. Na nossa experincia didtica, procuramos dar ao ensino da tica medica um carter problematizador. Os alunos assumen uma postura diferente com relao ao conhecimento quando trazemos situaes concretas a serem resolvidas. H uma atividade e extremanente proveitosa com a qual encerramos nosso curso de tica, que o julgamento tico-profissional simulado no qual os alunos vivenciam a difcil tarefa que julgar algum . Estas proposta de trabalho so mecanismo alternativos, que buscamos para que o ensino da tica deixe de ser uma experincia passiva de aprendizado para se transformar em algo que contribua para o desenvolvimento do potencial crtico do aluno e da sua capacidade de resolver problemas.
O ensino da tica mdica sofre as limitaes de um currculo mdico voltado para uma perspectiva utilitarista e pragamtica. Assim como ele, os valores que so repassados so os mesmo de uma sociedade com base no individualismo e na competio, valores que devem ser substitudo pela necessidade de uma nova forma de viver em sociedade . O comportamento moral que se espera dos profissionais mdicos, em nossa opinio, no depende de uma transformao na forma de ensinar, e sim, na busca de um novo paradigma para a medicina e para a sociedade. Para finalizar, gostaramos de dizer ,como Monroe(4), que o sentido da educao reside na conciliao entre interesse e esforo, em outras palavras, tentar solucionar o problema do indivduo e da sociedade; este, sem dvida, tem sido o problema educativo e tico desde o comeo da vida humana. A tica do Estudante de Medicina Benedictus Philadelpho de Siqueira A tica, entendida como a teoria ou cincia do comportamento mo-ral do ser humano no relacionamento com seu semelhante e o meio am-biente, sofre modificaes de acordo com o momento histrico em que se d esta relao, com a complexidade da sociedade e das transforma-es que o homem vai produzindo no ambiente. O estudante de medicina, como ator dessas transformaes, deve ter seu cdigo de tica permanentemente atualizado, no no sentido da permissividade, mas do comportamento adequado aos que lidam com o bem mais precioso do ser humano, que a vida. O Estudante e a Escola Mdica Nos ltimos 30 anos assistimos, no Brasil, a um crescimento exage-rado do nmero de escolas mdicas. De 28 no inicio dos anos 60, che-gam a 80, no inicio dos anos 90. Nesse processo, freqentemente a pre-ocupao com a qualidade do ensino, que no estava ausente das me-tas dos organizadores das novas escolas, esbarrou na dura realidade do cotidiano, que impunha limitaes financeiras ampliao, qualifica-o e dedicao do corpo docente, e a investimentos fsicos e materiais (bibliotecas, laboratrios, hospitais etc.). As dificuldades encontradas fize-ram com que, em alguns casos, a opo por se manter a escola funcio-nando, mesmo sem as condies adequadas do ponto de vista da forma-o do mdico, comprometesse o objetivo final. Uma sociedade em rpida transformao, em que um dos poucos canais de ascenso social a formao universitria, favorece a tendn-cia dos jovens a se conformarem com as condies inadequadas de en-sino, passando a ver na escola apenas um meio de obterem um titulo. No caso da escola mdica no foi diferente. As falhas do ensino, em termos de conhecimentos e habilidades, os alunos resignaram-se em supe-r-las na vida prtica. As
atitudes e comportamentos ticos e o compro-misso social quase nunca constituram preocupao dos jovens que es-to nessas faculdades. Este comportamento, de manter a escola funcionando sem as con-dies necessrias, absolutamente incompatvel com os objetivos de qualquer escola, principalmente daquelas que tm como compromisso maior a defesa da vida. O estudante de medicina tem de exigir da escola mdica todas as condies para que adquira os conhecimentos necessrios e, o que mais importante, maneiras de manter-se atualizado, em um mundo on-de a obsolescncia se d de forma vertiginoso. fundamental tambm que se desenvolvam as habilidades que a profisso requer. Ainda, es-sencial que a escola se preocupe em incorporar no aluno atitudes e com-portamentos ticos que a sociedade espera do mdico, destacando seu compromisso social. O aluno deve, assim, contribuir para a identificao das falhas exis-tentes, quer em termos de recursos materiais ou do corpo docente. A escola e os professores no podem discrimin-lo por denunciar os des-vios da instituio. O estudante de medicina tem o direito de ter professores competen-tes e dedicados, no apenas para ministrar-lhe aulas tericas, mas prin-cipalmente para acompanh-lo na relao aluno/paciente, discutindo o processo sade/doena e sua interao com o indivduo e a sociedade. O verdadeiro docente deve possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas habilidades psicomotores, ao mesmo tempo em que fornece parmetros socialmente justos e eticamente aceitos de relacionamento mdi-co/paciente. O estudante de medicina no pode aceitar que na escola mdica existam patamares diferenciados de cidadania, tanto entre os colegas, como principalmente entre os pacientes dos hospitais de ensi-no, locais privilegiados de sua prtica clinica. Se o estudante de medicina no pode discriminar, ele tambm no pode sofrer discriminao. No se admite qualquer restrio por razes de natureza tnica, religiosa, poltica ou social. O Estudante de Medicina, seus Deveres e Limitaes A defesa da vida deve ser a principal preocupao do estudante de medicina. Neste sentido, sua participao nas atividades desenvolvi-das pela instituio na qual faz seu curso mdico deve pautar-se pela in-transigente valorizao da vida humana. Deve abster-se de praticar quaisquer atos que possam significar risco para a vida e no permitir que nenhum membro da equipe de sade da qual participe os pratique. Qualquer interveno que venha a praticar ou participar deve ser olha-da como se fosse nele mesmo. O que for bom, justo e oportuno para ele deve ser tambm para o paciente. Dentro desta mesma premissa, deve orientar sua formao, evitan-do que em qualquer momento sua deficincia possa colocar a vida ou a qualidade da vida em risco. Sabendo que os conhecimentos atuais so verdades passageiras, deve buscar em sua vida acadmica a formao, e no apenas a infor-mao. A procura do conhecimento onde ele
est sendo gerado deve ser uma preocupao constante, e o mtodo cientfico, ferramenta de tra-balho cotidiana. A integrao com grupos de pesquisa necessita ser per-manente. A escola mdica que no realiza investigao e gera conheci-mento no merece esse nome, no passando de um grande e anacrni-co colgio de 3 grau. Como a profisso mdica exige habilidades psicomotores, o estu-dante de medicina deve procurar desenvolv-las continuamente. Este desenvolvimento, contudo, no pode ser feito as custas de riscos para a vida do paciente ou de manipulaes e de atos lesivos. Todo procedi-mento que vier a ser feito no paciente deve ser prvia e exaustivamen-te praticado em manequins e/ou animais de experimentao (ressalva-dos os preceitos ticos na relao com os animais). O estudante de medicina necessita desenvolver seu raciocnio clini-co e entender que os exames complementares existem para confirmar diagnstico. No se admite, desta forma, um profissional mquina/depen-dente, que faz com que a medicina se desumanize e seu custo se ele-ve geometricamente, tornando-a inacessvel grande maioria, violando seu compromisso social. O relacionamento mdico/paciente o ponto central da profisso mdica. Somente pode haver ensino mdico de qualidade onde exista uma relao efetiva aluno/paciente/comunidade. No centro dessa rela-o tem de estar o paciente. Pacientesujeito, e no objeto de estudo entendido e tratado de acordo com sua cultura. O estudante no pode se esquecer de que, no momento em que o indivduo perde a sua sade, necessita de uma compreenso maior, sua dependncia cresce e sua sensibilidade aflora com maior intensidade. Espera-se que nesta cir-cunstancia o estudante saiba ouvir com ateno, ter calma e prudncia nas atitudes, ser tolerante e razovel com as manifestaes do pacien-te, ter respeito e dedicao. No deve jamais participar de procedimen-tos desumanos e/ou cruis contra a pessoa humana, ou fornecer infor-maes ou meios que permitam a outrem realiz-los. A Escola Mdica, os servios de sade e o estudante A escola mdica o locas privilegiado para a consolidao das ati-tudes e comportamentos que o estudante trouxe de sua famlia e tam bm para permitir a formao de novas atitudes e comportamentos ine-rentes profisso. Para tanto, fundamental que seu conjunto-pro-fessores, funcionarias e alunos-persiga insistentemente o anrimo, mento de suas atitudes, comportamentos e compromissos. O relaciona-mento entre os trs segmentos (docentes, funcionrios e alunos) deve espelhar a busca da eqidade e da justia. A escola mdica no pode aceitar o isolamento do contexto social. Os servios de sade devem ser o local por excelncia do ensino/aprendizado, buscando sempre no tratamento do processo sade/doena, quer no indivduo ou na coletivi-dade, melhorar a eqidade, a resolubilidade, a eficincia e a eficcia. Seus hospitais devem funcionar integrados a uma rede regionalizada e hierarquizada. Somente assim os preceitos da tica-medica e social -podero ser apreendidos pelos alunos. Dentro desta tica e da estratgia aprender/trabalhando que a escola mdica estar cumprindo a sua funo social e consequentemente permitindo a seus alunos incorpo-rarem este compromisso, evitando a mercantilizao da medicina. Esta mercantilizao, imposta ao mdico pelo complexo
mdico-industrial, a grande responsvel pela quebra da relao medico-paciente, pelo des-prestigio e desrespeito do mdico junto sociedade, enfim pela desuma-nizao da medicina. E dever do estudante lutar para que a escola m-dica atinja este grau de integrao com a sociedade e, em particular, com os servios de sade. ainda dever tico dos alunos zelar pelo patrimnio da instituio (escola, hospital, biblioteca), impedindo que o que coletivo sofra des-gastes maiores do que aquele imposto pelo uso racional. O coletivo de todos e de cada um em particular, contrariamente ao que s vezes se apregoa, no pertencente a ningum. Sigilo Profissional Hercules Sidnei Pires Liberal Os conturbados anos que vo de 1830 a 1836, em Paris, registra-ram uma clebre e jurisprudencial frase, preferida por um conhecido ci-rurgio-Dupuytren-s portas de seu hospital: "Je n'ai pas v d'in-surgs dans mes Saltes d'hspital, je n'ai vu que des blesss". No ano de 196O, importante autoridade do Ministrio da Justia to-mou conhecimento de que certo cidado estrangeiro, com visto de turis-ta e candidato cidadania brasileira, encontrava-se internado no Hospi-tal Charcot, em So Paulo. Interessava ao Ministrio da Justia saber se a doena do referido estrangeiro era daquelas que, na forma da legislao ento vigente, impedia a concesso do visto permanente. Diligncias sucessivas para obteno das informaes esbarraram em firmes recusas do diretor do hospital, que entendia tratar-se de inviolvel caso de sigilo mdico. A corajosa posio assumida por Dupuytren diante da guarda nacional orleanista, assim como a negativa do diretor do hospital paulista-no, reforou a compreenso de que o segredo mdico representa, talvez, o mais importante pilar de sustentao do prestigio da medicina. " o esteio, a coluna mestra de toda a deontologia mdica", afirma Flami-nio Favero. Repetem-se, incessantemente, atravs dos sculos, desde Hipcra-tes, antes de Cristo, at os dias atuais, as obstinadas recomendaes dos mestres aos seus seguidores para o compromisso do segredo mdi-co. A principio, um compromisso mstico, intuitivo, lgico. Pouco a pou-co, insere-se nas normas e cdigos, at, finalmente, adquirir o status de lei. As idias libertrias da Revoluo Francesa propiciaram novos ins-trumentos do conhecimento cientfico. Ai, uma vez mais, refora-se o se-gredo mdico, encabeando as teses da Faculdade de Montpellier: "Quoi que je vale ou entende dans la societ pendant /'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besein d'tre divolgu, regardant la discrtion comme un decair em pareil cas". (Theses de la Facult de Montpellier). O segredo mdico, como ressalta o jurista Antnio Carlos Mendes, constitui instituto erigido em favor do paciente e responde, ao mesmo tempo, aos interesses dos familiares, dos mdicos e da sociedade (con-sultar Louis Kornprobst-Responsabilits do mdecin devant la loi e la jurisprudence franaises, citado por A. de Almeida Jnior).
o segredo mdico uma espcie de segredo profissional, devido pelos denominados confidentes necessrios, cujas confidncias so ex-postas por imperiosa necessidade de busca de auxilio para reparao de um estado mrbido ou de leses de ordem moral ou patrimonial. Ali-nham-se, neste caso, os sigilos impostos aos profissionais que, para prestao de qualquer tipo de servio, necessitem penetrar na intimidade do cliente. Assim, a mxima agostiniana, "aquilo que sei pela confisso eu o sei menos do que o que jamais soube", consagra primordial orientao do Direito Cannico em relao ao sigillum sacramentale, cuja importncia superou a autoridade da prpria Inquisio. sua vez, os advoga-dos lidam, via de regra, com o homem indefeso, acuado, que necessita de seus conhecimentos tcnicos e sua compreenso, estando, dessa forma, submetidos a rigoroso dever de sigilo, cuja exigncia e determina da pelo preceito constitucional da garantia da defesa. J os jornalistas reclamam o privilgio da garantia penal dos seus segredos, com a inten-o de eximir o profissional da obrigao de depor e de revelar as fon-tes que utilizou para produzir sua matria jornalstica. Com isso, garan-tem a manuteno do fluxo de informaes que brotam de suas fontes (pessoas), garantindo-lhes a preservao da identidade e o direito da in-formao ao pblico. Como espcie de segredo profissional, o segredo mdico est con-solidado no Direito Universal, ora se manifestando de forma absoluta, ora de modo ecltico, em ambos os casos, pela via da lei ou da jurispru-dncia. Assim, a jurisprudncia das cortes e tribunais franceses tem mantido o carter absoluto do segredo mdico. Segundo Brouardel, o Tribunal de Rouen, posteriormente apoiado pela Corte Suprema, recu-sou-se a tomar conhecimento de informaes que haviam sido obtidas mediante apreenso dos livros de um hospital. Afirma Nelson Hungria que a vontade do segredo deve ser protegida ainda quando correspon-da a motivos subalternos ou vise a fins censurveis. "Assim, o mdico deve calar o pedido formulado pela cliente para que a faa abortar, do mesmo modo que o advogado deve silenciar o confessado propsito de fraude processual do seu constituinte". Escolhe-se, desse modo, o mal menor da impunidade do autor de um crime, para preservar o patri-mnio social das confidncias necessrias, enfim, do segredo profissional. Na Inglaterra e na Blgica e, posteriormente, na Argentina, em furaco das peculiaridades da gnese do Direito naqueles pases, o mdi-co chamado aos tribunais no pode reclamar do privilgio do silncio, caso a revelao seja necessria para fins da justia. Entretanto, os juizes ingleses se prevalecem desse poder excepcional com extrema parcimnia. No Brasil, em face da base legal disponvel, o mdico somente prestar informaes s autoridades policiais ou judicirias se o caso estiver contido nas hipteses de "justa causa", que, como veremos adiante, deve estar circunscrita s determinaes do legislador. Por outro lado, o pensamento ecltico parece subestimar o fundamento absoluto do estatuto do segredo, considerando-o dogmtico ou sacramental, em favor do que podem interpretar como sendo interesses maiores da sociedade: "A revelao do segredo mdico no pode constituir um crime quando feita pela necessidade de proteger-se um interesse contrrio mais importante" (Genival Veloso de Frana). Seguindo es-
sa mesma linha de raciocnio, Nerio Rojas afirma que em certos pases, como a Frana, a ambigidade da lei e a tradio da doutrina sob este aspecto se chocam freqentemente com as exigncias da vida social; que, embora presentes no antigo cdigo argentino, os conflitos j no so tanto de ordem legal, mas sim de ordem moral. Cabe aqui sugerirmos uma necessria reflexo em face do arbtrio depositado no profissional que, via de regra, como entende Marco Segre, depara-se com dois importantes fatos muito freqentes: desconhecimento dos mecanismos de justia e insegurana, conseqncia do primeiro, que favorece o medo de conseqncias funestas ante uma simples acusao contra ele. A nossa Constituio estabelece que ningum ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, seno em virtude da lei, e que so inviolveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. So principias que abrigam os dispositivos legais que se referem ao segredo profissional, em particular 0 segredo medico. O Cdigo Penal, o Cdigo Civil, o Cdigo de Processo Penal, a Lei das Contravenes Penais e o Cdigo de Processo Civil fundamentaram nosso Cdigo de tica Mdica, Resolues e Pareceres do Conselho Federal deMedicina. As excees determinadas no artigo 104 do Cdigo de tica Mdica reforam a exceo da "justa causa" que o artigo 154 do Cdigo Penal estabelece, derrogando a obrigao do segredo que algum tenha cincia em razo de funo, ministrio, oficio ou profisso. Entretanto, consideramos de fundamental importncia conceituarmos adequadamente a "justa causa" diante das inmeras interpretaes superficiais e eclticas daqueles que defendem grande amplitude ao seu universo. Muitas das excees que citam alguns autores como "justa causa" so, em realidade, fatos e circunstancias que devem justificar o descumprimento da norma geral do segredo, no indicando determinao para que o mdico descumpra a norma; no servem para obrigar o mdico a revelar o segredo, e sim para descaracterizar o crime do profissional que tenha revelado segredo de que teve conhecimento no exerccio de sua profisso. De acordo com Anibal Bruno, "pode legitimar o fato como causa geral de excluso do injusto, como o consentimento do ofen-dido, que torna o agente,autorizado a dispor do segredo, o exerccio de um direito, o cumprimento de um dever legal, a defesa do interesse pr-prio ou alheio". Mas, adverte o autor, que a justa causa tem seus limi-tes fixados pelo Direito, no admitindo circunstancias estranhas que con-duziriam fatalmente "impreciso e alargamento excessivo da posio justificativa, com o enfraquecimento da tutela penal". A esse respeito, coincide a observao de Joo Bernadino Gonza-ga, ao recomendar "prudente rigor no estabelecimento do que seja cau-sa justa, tendo em vista que o indispensvel prestigio da categoria a que pertence o agente, aos olhos da confiana pblica, impe-lhe tenaz apego discrio".
necessrio, pois, estarmos atentos s recomendaes eclticas, de "deixar ao mdico a deciso do que h de fazer" e que o problema do seu segredo se resolve "na conscincia profissional". Nesse caso, o confidente se arrisca ao constrangimento de ver sua opo recusada pelo juiz. Ficamos com a idia do citado autor de que geralmente o pr-prio legislador, explicita ou implicitamente, autoriza a quebra do sigilo, caracterizando a "justa causa", e de que, na falta do dispositivo legal, a apreciao valorativa "ter de ficar na dependncia de critrios que se possam extrair da ordem jurdica". A situao brasileira se reveste de excepcional harmonia entre o ordenamento jurdico e as normas ticas, resultando em indispensvel equilibro entre os interesses individuais e o da coletividade. Se, por um lado, existe o dever de todo cidado de colaborao com a justia e com o interesse da sociedade, por outro, deve-se considerar a medi-da e a extenso desse dever, em igual amplitude com que se faz neces-srio compreender a exata medida da inviolabilidade do segredo mdi-co. E no poderia ser de outra forma. Com efeito, o ordenamento jurdico e a norma tica no apresentam contradies conflitivas que possam resultar em choque de interesses, vez que o Cdigo de tica Mdica contm normas jurdicas especiais, submetidas a regime semelhante ao das normas e atos normativos federais, porquanto elaborado sob tute-la da Lei n 3.268/57. Desse modo, contemplam a existncia de razes relevantes, no aleatrias nem para "prevalecer o bom senso", de modo impreciso, mas reconhecidas e reguladas pelo Direito, identificadas pela expresso "justa causa", que balizam os limites da inviolabilidade do segredo m-dico. Assim, reconhecem a inexistncia de ato ilcito quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal ou no exerccio re-gular de direito. Claro est que a autoridade expressa do paciente, em seu beneficio, desobriga o mdico da guarda do sigilo. uma relevan-te razo. A "justa causa" constitui, dessa forma, o conjunto de excees re-conhecidas pelo ordenamento jurdico, e tico, que contempla, ao mes-mo tempo, os interesses da coletividade e a confiabilidade do relaciona-mento mdico-paciente, no se constituindo "amplo universo" de abertu-ra ao fundamento do segredo mdico. Ao contrrio, reforamno, vez que a regra se confirma-juridicamente-pelas excees previstas na prpria regra. As informaes s autoridades sanitrias da ocorrncia de doen-as ditas de notificao compulsria so previstas na legislao sanit-ria e visam a atender ao interesse da sade pblica, de extrema relevncia sob a tica da ordem jurdica e irrelevante como fator de agresso ao fundamento do segredo mdico. Vale lembrar que a forma sob a qual se manifestam as informaes garante o conhecimento do segre-do por um universo restrito de profissionais, tambm estes submetidos pela lei ao dever do sigilo. A comunicao de crimes outra imposio da lei aos mdicos. Contudo, a obrigao esta limitada aos crimes de ao pblica que inde-pendem de representao da pessoa ofendida e que no submeta o pa-ciente, quando ofensor, a procedimento criminal (Lei das Contravenes Penais). As normas legais vigentes, nesses casos, desobrigam (Cdigo de Processo Civil) e at probem (Cdigo de Processo Penal) aos mdi-cos de depor em juzo, como testemunhas, salvo no interesse do seu paciente, por sua solicitao.
Cabe aqui a ressalva de Nelson Hungria de que o segredo devi-do pelo mdico ao seu paciente, e no seu algoz. Assim, como exempli-fica Antnio Carlos Mendes, ao tomar conhecimento de tentativa de abor-to por parte do cliente, o mdico devera calar-se, porque a sua pacien-te estar sujeita a procedimento criminal. Entretanto, caso constate que a tentativa foi de outrem e revelia da cliente, o medico deve comuni-car o crime. Na legislao brasileira observamos outras determinaes legais, no mbito da "justa causa", que desobrigam o medico do dever do sigi-lo: as declaraes de nascimento e de bito, na ausncia dos respons-veis legais, as notificaes de acidentes e de doenas do trabalho, o exerccio de funo pericial e outras, alm das informaes que forem solicitadas pelos Conselhos Regionais e Federal de Medicina, em decor-rncia de suas prerrogativas estatudas em lei, amparadas, portanto, pe-la nossa ordem jurdica. No trataremos aqui, embora reconheamos a pertinncia de sua anlise em estudo mais amplo sobre a matria, das questes colocadas no mbito do denominado "estado de necessidade" ou da "legitima de-fesa", que consideramos relacionadas aos fatos e circunstncias, co-mo J o dissemos, que servem para o medico justificar o descumprimento da norma penal e tica e que no servem para determinar a revela-o do segredo, servem apenas para descaracterizar o crime do profissional que tenha revelado segredo de que teve conhecimento no exercicio de sua profisso. O avano da tecnologia e das cincias representa inestimvel con-quista para a humanidade, muito embora sua aplicao no campo da medicina esteja, ainda, disposio de uma minoria privilegiada e nega-da maioria dos cidados comuns. Da mesma forma, as transforma-es observadas nas relaes da medicina com seus usurios so coro-lrios das modificaes experimentadas nas relaes sociais, em face da busca incessante de relaes justas entre os homens. Elas determi-nam mudanas no contrato social, que pode se manifestar pela tutela do Estado ou pela explorao da iniciativa privada, ou, simultaneamen-te, em alternncia de hegemonia, de acordo com compromissos da idealogia dominante. Contudo, qualquer que seja a relao da medicina com o usurio, os valores ticos e morais, como o segredo mdico, devem permanecer intocveis, no capitulando liberalidade econmica pregada pela dou-trina do livre mercado como ideologia nica do pensamento humano. As conquistas da humanidade no campo da cincia e sua aplicao medicina no devem influir nos valores consagrados ao interesse da relao mdico-paciente como condio do prestigio da prpria medicina. De outro lado, os valores ticos e morais no so adaptveis a cada nova realidade, pois esto em outra escala de valores. De certa forma, presidem, perenemente, a evoluo experimentada pela humanidade, como valores referenciais ao comportamento desejvel a cada passo. Por isso, no ser destitudo de fundamento querer-se reforar a luta por uma relao mdico-paciente que mantenha as mesmas caractersticas morais e ticas necessrias, j identificadas desde o ano 460 antes de Cristo. A evoluo da medicina acompanha, necessariamente, com a acumutao do conhecimento cientfico, a evoluo da sociedade, desde | sua forma mais primitiva at os
dias atuais, constatando-se, ao longo ' dos sculos, os grandes saltos qualitativos do homem em busca de uma | relao social igualitrio e justa. fato, no entanto, que os grandes avanos nas relaes humanas e no conhecimento cientifico no devem des-cartar nem descaracterizar os valores morais e ticos do relacionamento humano. Com essa compreenso, podemos entender porque em 1944- -mais de dois mil e quatrocentos anos depois de enunciado o principio deontolgico pelos pregos-a humanidade contabilizou mais uma prova da consolidao do segredo mdico como instrumento de prestigio da medicina. Refiro-me ao seguinte telegrama enviado pelo presidente do Conselho Nacional da Ordem a todos os mdicos franceses aos quais o nazifascismo queria obrigar a denunciar os feridos da Resistncia: "... condition ncessaire de la confiance que les melades portent a leur mdicin. II n'est aucune considration administrativa qui puisse nous en dgager". Bibliografia - Alcntara, H.R.Deontologia e diceologia. So Paulo, Organizao Andrei,1979. - Almeida Jnior, A. Questo relativas ao segredo mdico. Parecer cremesp. Arquivos do conselho regional de medicina do Estado de So Paulo.So Paulo,CREMESP, ano 1,n.1,out. 1960. P.39-41. - BROUARDEL.P.La responsabililit mdicale. Paris, J.B. Bailliere, 1898. - Le secret mdical.Paris,1887. - BRUNO, A Direito pebal . parte especial, I Tomo IV. - FAVERO, F. Medicinal Legal.11.ed .Belo horizonte,1980.v2. - FRANA .G.V.Direito mdico. 5.ed. So Paulo, Fundo BYK, 1992. - GONZAGA. J.B. Violao de segredo profissional. So Paulo, Max Limonad, 1976. - HUNGRIA, N. comentrios ao Cdigo Penal. Rio de Janeiro, 1962. - LIBERAL, H. S. Parecer n24/90, exagerado para o Conselho Federal de Medicina .Envio de pronturio mdico justia .Brasilia,1990. - MENDES, A . C. Segredo mdico. Parecer exagerado para o Conselho Regional de Medicina do Estado de So Paulo .tica mdica. So Paulo , CREMESP, ano 1,n.1,1988,p. 144-150. - ORDRE NATIONAL DES MDECINIS. Guide d exercicise profissionnel: a l usage des mdicinis. 12.ed.Paris , Masson,1980.
- ROJAS, N. Medicina legal .Buenos Aires, EL Ateneu, 1953. - SEGRE , M. O Mdico e a justia. Re v. AMB .So Paulo, Associao Mdica Brasileira, (5/6):106-108. Relao Mdico-Paciente no Final do Sculo XX Jos Eberienos Assad A medicina talvez a mais vetusta das profisses, arte milenar da cura. Ela varou os sculos, os milnios, calcada em duas prerrogativas intransponveis: a relao mdicopaciente e o sigilo profissional. Nos primrdios, era mais arte que cincia, e, como todo artista, o mdico de ento tinha uma sensibilidade hipertrofiada, j que os recur-sos diagnsticos e o arsenal teraputico eram to parcos quanto os conhecimentos cientficos da poca. A medicina encontrava-se na fase desta-explicativa, em que se procurava conferir origens extraterrenas as doenas, sem qualquer embasamento fisiopatolgico. O prprio Hipcrates justificava as artrites com a reuma, um fluido que, partindo do crebro, percorria todo o corpo. Dai o termo reumatismo. Nesta poca, o mdico estava junto de seu paciente, e este se agar-rava como tbua de salvao medicina praticada. Com o desenvolvimento cientfico, as bases anatmicas, patolgi-cas e fisiopatolgicas foram sendo estatudas. William Harvey, em 1628, descrevia a circulao humana de mo-do preciso, em um ano abenoado para a cincia, pois nele surge a qumica orgnica a partir da sntese da uria, alcanada com a transforma-o do carbonato de amnia, conseguida por Wohler. A descoberta do estetoscpio por Laenec, um dos maiores clnicos da poca, no sculo XVII, e avanos outros do instrumental semitica davam-lhe consistncia. No sculo XVI11, perodo excepcional da histria da humanidade, com as maravilhas da arte e com a Revoluo Francesa marcando um novo perodo histrico, a Idade Contempornea, surge uma arma teraputica consagrada at os dias de hoje: a digital, descoberta por Withe-rin em 1785. Mas a medicina se afirma mesmo a partir do momento em que o suspeitado passa a ser confirmado pelo estudo necroscpio, e isto se dava no sculo XIX. No sculo XX, indiscutivelmente a afirmao da psicanlise, dos ensinamentos de Sigmund Freud, d-se de maneira slida e passa a abrir um novo campo da abordagem da problemtica psquica e emocional do cidado, seus conflitos, suas angstias e frustraes.
Contudo, neste sculo que surgem alguns complicadores da rela-o mdico-paciente, entre eles a tecnologia, a superespecializao, a interposio institucional e o papel dos meios de comunicao. A tecnologia tirou o mdico da cabeceira de seu paciente, fazendo com que a mo que sentia, tocava, percutia e acariciava fosse substituda por visores luminosos e sonoros, por aparelhagem cada vez mais sofisticada. O calor humano do profissional, vrias vezes, tornou-se mais distan-te, e a ciberntica desprezou o contato mais intimo e carinhoso do mdico. No se pode desejar que a medicina e a tecnologia reproduzam o que ocorreu com Eus e Aurora na mitologia grega: "Eus foi solicitar a Zeus que lhe desse longevidade, e o Deus supremo do Olimpo o atendeu. Eus viveu, viveu, ficou anoso e muito falan-te, esquecendo, contudo, de solicitar, alm de longevidade, vitalidade, lucidez e qualidade de vida. Aurora, com seu poder reducionista, transformou Eus em uma ci-garra cantante." Havemos de volitar que o desenvolvimento tecnolgico e cientfico seja colocado disposio da sade do homem e que tenha como consectario imediato e direto seu bemestar e melhoria de sua qualidade de vida. O que no podemos aceitar que este avano sirva para afas-tar o mdico de seu paciente e vice-versa. Se isto vier a acontecer, a exemplo do que ocorreu com Eus, a medicina estar sendo reduzida, diminuda e cair do patamar alcandorado de respeitabilidade e admira-o, que ao longo dos anos cristalizou. No h computador, no existe software, no se dispe de hardwa-re capaz de substituir o mdico, que desfila ateno, que abastece seu paciente de esperana, que d seu carinho e seu consolo, porque esta uma profisso que cura algumas vezes, salva outras, mas consola sem-pre, tornando-a sem dvida incomparvel, porque todo o paciente tem no mdico a escora em que se apela para superar suas dificuldades. Evidentemente que no se pode desprezar os beneficias que os cientficos e tecnolgicos trouxeram cinciadica, mas tambm no podemos negar que eles tornaram o mdico mais afastado do seu paciente. Erradamente, vezes outras, a tomografia computadorizada substitui a anamnese, a ultrasonografia dispensa a palpao e a percusso, eletrocardiograma faz a eliso da ausculta. A avalanche febril da solicitao de exames complementares dispensveis tem posto em risco a viabilidade da prestao da assistncia mdica, pela grande incidncia de exames normais de elevado custo. Note-se que o mdico executor da semitica complementar no o responsvel pelo paciente, e s vezes o mdico que assiste o paciente se v no emaranhado dos resultados, no labirinto dos achados que ele e s ele, que tem o contato constante com o paciente, tem a obrigao de desvencilhar.
Um outro aspecto que a democratizao entre mdico e pacien-te centrifugou o autoritarismo embutido, algumas vezes, nesta convivn-cia, tornando-a a mais elaborada, participativa e respeitosa. No podemos olvidar que a doena humilha, deprime e angustia. O simples fato de o paciente no poder se colocar de p j um fator para alimentar e intensificar esta depresso, pois a dependncia que passa a ter de outras pessoas, que invadem sua privacidade, sua intimi-dade, transforma-se num fermento capaz de aumentar esta depresso e esta humilhao. O dito "quem sabe da sua vida e de sua sade sou eu mdico" no cabe mais, pois do paciente o poder decisrio sobre ele mesmo, pois vida e sade so direitos inalienveis de cidadania, que pertencem ao paciente, deles no podendo dispor qualquer pessoa. O respeito, o simples fato de acatar os valores do paciente, j coloca ns mdicos num estgio de admirao e, mais do que isto, transforma-nos num blsamo de esperanas e de felicidade. A relao mdico-paciente deve ter no respeito e na conquista de credibilidade ingredientes indispensveis ao seu xito. O direito infor-mao assegurado na Constituio da Repblica Federativa do Brasil, e no foi aleatoriamente que dela consta, pela vez primeira, o "habeas-data", instituto que assegura a qualquer cidado conhecer informaes que lhe dizem respeito. E por ai passa tambm o direito ao acesso informaes insertas nos pronturios e arquivos mdicos. A medicina, atravs dos tempos, tem tambm se transformado num escoadouro natural de humilhados e ofendidos, de suas angustias, apre-enses e opresses da populao, em especial nos regimes discricionrios. Quando a cidadania e amarfanhada, vilipendiada e desrespeitada, quando o estado de direito desestabilizado, o mdico a nica fonte que exala democracia, ouvindo a voz daqueles que o autoritarismo emu-deceu, que a truculncia calou, tornando-se confidentes de infindveis preocupaes, fiel depositrio de segredos que pem em risco a integri-dade e a vida de quem os confessa e de quem deles toma conhecimento. Um outro complicador desta relao indubitavelmente a superes-pecializao, que serviu para entupigaitar o paciente, que, inseguro de suas possibilidades, incerto quanto a seu futuro, peregrina de consultrio em consultrio, num priplo interminvel, de laboratrio em laborat-rio, de aparelho em aparelho. Hoje a superespecializao segmentou o paciente, que visto pe-lo mdico especialista em narina esquerda, plpebra direita e onde P do eletrocardiograma, embotando-se assim a viso holistica do pacien-te, o que certamente dificulta a sua vinculao ao seu mdico e vice-versa. A interposio institucional tambm impe uma incomodidade nes-ta relao, seja pblica ou privada, em que o paciente no tem tempo de conhecer seu medico, nem este de saber sequer o nome de quem trata.
O poder pblico, a medicina de grupo e as conversadas se interpu-seram nesta relao, afrouxando os grilhes outrora consistentes de uma relao reciprocamente terna e duplamente gratificante. A histria comportamental humana tem dois fatos que aluram seu destino: a plula anticoncepcional e a televiso. Este meio de comunicao trouxe intimidade da vida das pesso-as, alm de conhecimentos indiscutveis, esclarecimentos especficos para a rea mdica. Isto fez o paciente ter um nvel de informaes sobre patologias outras e sobre a sua prpria, trazendo o dilogo com seu mdico para um patamar diferente. Alm do mais, algumas campanhas difamatrias por parte da im-prensa contra a classe medica, e algumas noticias verdadeiras de desli-zes ticos, de alguma forma levam a que alguns hostilizem o mdico, tornando uma possvel relao fraterna em algo agressivo. E ai que des-ponta a competncia do mdico para redirecionar esta relao para um lado agradvel, no permitindo que se estabelea um ambiente em que no se possa alcanar avanos e angariar conquistas que resultem em beneficio do paciente e em satisfao do seu medico. Enganam-se aqueles que tentam argumentar que a relao mdico-paciente fora forte, enquanto a medicina era liberal. Qualquer que seja o seu modelo institucional, seja no Sistema nico de Sade ou no consultrio particular, ela pulsar firme, cabendo ao mdico embal-la, pois, sem ela, no haver medicina. No importam as ironias, como a de Voltaire, que dizia que "mdi-co aquele homem que engana enquanto a natureza cura". No impor-ta. No menos procaz "Deus cura e o mdico manda a conta", de Benjamim Franklin. Ou ainda como afirmou Jaques Boren: "Recebi a conta da operao, agora sei porque aqueles mdicos usavam mscaras". Estas afirmaes so muito tnues diante da grandeza de uma rela-o mdico-paciente herclea. O modus operandi com que o mdico repassa a verdade a seu pa-ciente no pode ser um instrumento de alivio da tenso do profissional e um verdadeiro desmonte estrutural do paciente, agravando suas incertezas e minando suas esperanas de uma vida saudvel e feliz. Ns mdicos temos, para com nossos pacientes, compromissos que transcendem sade e que mergulham nuclearmente no terreno pantanoso da felicidade do cidado. A hora em que a medicina for s cincia, sem ser arte, e solidariedado, ela comear a se contabescer, exaurindo-se no conceito que a humanidade Ihe dedica.
Mais do que nunca a relao mdico-paciente continuar sendo o pilar fundamental desta cincia humanistica, cujo nico alvo deve ser o homem, sua sade, seu bem-estar e sua felicidade. O computador e a tecnologia tm de contribuir para que a postura humanstica seja reforada. Caso contrario, estaro colaborando para o extermnio da cincia mdica. Somente os temperos altrustico e humanistico sobrepujam a dura realidade de que todo homem mortal. E de que toda vida tem a sua finitude decretada assim que se inicia. A relao mdico-paciente estabelece entre ambos um contrato, que e um ato jurdico perfeito e que pode ser de obrigaes de resulta-dos ou de obrigaes de meios. No primeiro modelo contratual, o mdico est obrigado ao xito do procedimento e, como o nome diz, ao resultado satisfatrio. Como ressalta Jan Pinlau em seu livro Responsabilit do Mdicin, poucas so as situaes em que as obrigaes de resultado se estabelecem. Entre elas, a cirurgia plstica, a transfuso sangnea e procedimentos contra-tados a um medico, quando este no o pode realizar e por isto envia um assistente ou outro substituto. J na obrigao de meios, o mdico se compromete ao empenho de colocar todos os meios semiticas e te-raputicos em beneficio de seu paciente, sem obrigao de xito, e es-ta modalidade a mais comum dos contratos de obrigao. O ato mdico gera responsabilidade civil por suas aes, e os tribu-nais de justia e as cortes ticas esto pletricos de jurisprudncia a es-te respeito. As trs figuras acovilhadas nos Cdigos Penal, Civil e de tica M-dica-impercia, imprudncia e negligncia-so as mais evocadas nestas casas de justia. O Cdigo de tica Mdica, no seu artigo 29, j trata destas figuras e apregoa: " vedado ao mdico: praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como impercia, imprudn-cia e negligncia". Perscrutando o l/cabalrio Jurdico de Plcido Silva, encontramos: Impercia-Derivado do latim imperitia, de imperitus (ignorante, inbil, inexperiente), entende-se, no sentido jurdico, a falta de prtica ou ausncia de conhecimentos que se mostram necessrios para o exerccio de uma profisso ou de uma arte qualquer. A impercia, assim, revela-se na ignorncia, como na inexperincia ou inabilidade acerca da matria, que deveria ser conhecida, para que se leve a bom termo ou se execute com eficincia o encargo ou servi-o, que foi confiado a algum. Evidencia-se, assim, no erro ou engano de execuo do trabalho ou servio, conseqente da imaestria na arte ou desconhecimento dos preceitos, que deveriam ser atendidos nesta execuo.
A impercia erro prprio dos profissionais ou tcnicos cuja inabili-dade se manifestou, ou de todo aquele que se diz hbil para um servio, e no o faz com a habilidade, que seria mister, porque Ihe falecem os conhecimentos necessrios. A impercia conduz o agente culpa, responsabilizando-o, civil ou criminalmente, pelos danos que sejam causados por seu erro ou falta. Distingue-se da imprudncia e da negligncia, das quais tambm resultam faltas imputveis. Nestas no h a ignorncia nem a inabilidade. Revelam-se pela imprevidncia e pela omisso do que no se devia desprezar. Imprudncia-Derivado do latim imprudentia (falta de ateno, imprevidncia, descuido), tem sua significao integrada na de impreviso. Mas, na terminologia jurdica, possui sua acepo prpria, que o distingue de outros vocbulos, compreendidos na classe das imprevises tal como negligncia. Assim, resulta da impreviso do agente ou da pessoa em relao s conseqncias de seu ato ou ao, quando devia e podia prev-las. Mostra-se falta involuntria, ocorrida na prtica de ao, o que a distingue da negligncia (omisso faltosa), que se evidencia, precisamente, na impreviso ou imprevidncia relativa a precauo que dever ter na prtica da mesma ao. Funda-se, pois, na desateno culpvel, em virtude da qual ocorre um mal que podia e deveria ser atendido ou previsto pelo imprudente. Em matria civil, se da imprudncia decorre ofensa a direito alheio de prejuzo material, includo o imprudente na culpa in committendo (diz-se se in ommittendo para o caso de negligncia ou omisso), responsvel pela ofensa que tenha causado indenizando a vitima ou o prejudicado dos prejuzos ou danos que tenha sofrido. Em matria penal, argido tambm de culpado, o imprudente rsponsabilizado pelo dano ocasionado vitima, pesando sobre ele a impoutao de um crime culposo. A imprudncia, alm de distinguir-se da negligncia, configura-se diferente da impercia. Negligncia-o latim negligentia, de negligere (desprezar, desatender, no cuidar), exprime a desateno, a falta de cuidado ou de percauo com que se executam certos atos, em virtude dos quais se manifestam resultados maus ou prejudiciais, que no adviriam se mais ateciosamente ou com a devida precauo, alis ordenada pela prudncia, fossem executados.
A negligncia, assim, evidencia-se falta decorrente de no se acompanhar o ato com a ateno com que deveria ser acompanhado. a falta de diligncia necessria execuo do ato. Nesta razo, a negligncia implica a omisso ou inobservncia de dever que competia ao agente, objetivando nas precaues que lhe eram ordenadas ou aconselhadas pela prudncia, e vistas como necessrias, para evitar males no queridos e evitveis. A negligncia difere da imprudncia e da impercia. A imprudncia mais que falta de ateno, a imprevidncia acer-ca do mal que se devia prever. A impercia o que se faz sem conhecimento da arte ou da tcni-ca com a qual se evitaria o mal. A negligncia mostra culpa do agente. O negligente , assim, res-ponsvel pelos danos decorrentes de seu ato, executado negligentemen-te, quando dele resultam males ou prejuzos a terceiros, salvo se mostra-do que a precauo omitida era daquelas que no podia atender: Negli-gens non dicitur, qui non potest facere. Tribunais inundados de aes, nem isto conseguiu erosar o concei-to de medicina, pois esta mais que o mdico que erra e se fortalece com as aes mdicas inumerveis daqueles que a engrandecem e a tornam uma cincia respeitada e apreciada. No h nem haver substitu-to para a mo que ao mesmo tempo palpa e afaga, percute e acaricia, ressuscita e abraa, opera e acena carinhosamente. Em 1624, John Doune alertava que "a morte de cada homem me diminui e que os sinos dobram por ns". Esta deve ser a viso da medi-cina, que tem na relao mdico-paciente um vetor de grande magnitu-de na busca da harmonia e felicidade daqueles que nos procuram. Esta cincia divina ainda tem no Poema Didtico, de Paulo Men-des Campos, o modelo de conduta que lhe ensejou perpassar os tem-pos quando diz que "Em desprezando a outrora impedi que a rosa me perturbasse; e no olhei as ferrovias, mas o homem que sangrou na fer-rovia; e no olhei a fbrica, mas o homem que se consumiu na fbrica e no olhei a estrela, mas o rosto que resplandeceu o seu fulgor". Ao terminar, quero reafirmar que a relao mdico-paciente uma arma poderosssima em beneficio de ambos. lgico que o paciente an-cora suas esperanas e afeies no medico, que representa ainda um misto de tcnico, cientista e figura mtica, e, se este corresponde com ateno, zelo, carinho e pertinncia, com freqncia, mesmo em haven-do acidentes de percurso, estes sero contornveis.
Refiro-me a uma relao pura e desarmada, no quela dolosa em que o paciente antev alguma vantagem, diante de qualquer inter-corrncia. Alis, isto est sendo entusiasticamente alimentado pela sa-ga sedenta de uma minoria que pretende fazer do insucesso um manan-cial de enriquecimento e tornar frtil o terreno para florescer a indstria do erro mdico, que abarrotar de lucros, certamente, a j balofa casta das seguradoras. Entretanto, mais do que tudo a relao mdico-paciente bem tra-balhada, reciprocamente desejada, que no atropelada jamais pelos avanos tecnolgicos e cientficos, sempre bem-vindos, quando voltados para a felicidade da pessoa humana. No so raras as vezes em que o mdico se transforma em juiz de contenciosos familiares, em consultas de negcios, em transmissor de noticias desagradveis e delicadas para seus pacientes e parentes. E de se perguntar: quem ao longo das centrias foi o responsvel por isto? bvio que a relao mdico-paciente o credor desta faanha envaidecedora. E, nos tempos atuais e adestrando o novo sculo, a me-dicina, com o desenvolvimento da semitica invasiva, das teraputicas vigorosas e da utilizao de frmacos cada vez mais variados, tem so-mente nesta relao bem conquistada e competentemente produzida o instrumento indispensvel para neutralizar desentendimentos e dissol-ver fracassos e intercorrncias, j que as introgenias so companheiras indissolveis do desenvolvimento mdico. E, por derradeiro, em especial aos mdicos jovens e aos acadmi-cos de medicina que adestraro o sculo XXI exercitando esta profisso, fascinados que estaro com os avanos da biologia molecular, da enge-nharia gentica, do campo de imunologia, do mundo fascinante dos mtodos de diagnsticos, em especial de imagem, no permitiro que es-te fascnio, este orgasmo de embevecimento, lhes permita esquecer que muito maior do que isto o paciente, um ser que tem alegrias e tristezas, esperanas e depresso, medo e perseverana, que chora e que ri e que acima de tudo tem, no mdico, e muito nele, a chama ardente que clareia seu astral, e de quem espera ouvir palavras de carinho, de ateno e de afetividade. Pois, jovens doutores, se ns fracassamos algumas vezes na cura, no podemos ser derrotados na solidariedade, no sorriso e no afago que temos a obrigao de perenemente levar aos nossos pacientes. Bibliografia - Cdigo Civil e Legislao em vigor: Negro, T-Editora, Revista dos Tribu-nais-7! edio, atualizada at 05/01/87. - Cdigo Penal Anotado: Delmanto, C. Editora Saraiva-5! edio-1984. - Vzquez, A.S.-tica, Da Ed., Editora Civilizao Brasileira, Rio de Janeiro, 1983.
- Assad, J.: A maior Fraude-Jornal do Brasil, 08/08/91, Opinio, Pag. 11. - Assad, J.: A discusso Essencial-O Globo, 25/01/90, O pais, Pg. 04. - Assad, J.: Atualidade da tica-O Dia, 24112/92, Pg. 06. - Assad;J.: O Despertar da Cidadania-Jornal do Brasil, 22109192, Opinio, Pg.11. - Assad, J.: tica e Politica-Jornal do Brasil-29106192, Opinio, Pg. 11. - Assad, J.: Tempos Modernos-Jornal do Brasil-06105192, Opinio, Pag. 11. - Assad, J.: Revoluo tica-Jornal do Brasil-30101192, Opinio, Pag. 11. - Assad, J. Etica e Sociedade-Jornal do Brasil-12111192, Opinio, Pg. 11. - Assad, J. UmaQuestode Etica-Jornal do Brasil-05/10/91, Opinio, Pag. 11. - Silvio, Placido: Vocabulario Juridico, Edio Universitaria. . Pineau, Jan: "La responsabilit du medicin". tica e Seguradoras Antnio de Oliveira Albuquerque E, seguramente, este capitulo, um dos pontos fundamentais do sis-tema de sade que atravessa o nosso pais, nos dias de hoje. No seria, portanto, devidamente esclarecedor para os que vierem a ler este capitu-lo ou estudar este problema, sem que antes fizssemos um histrico de todos os antecedentes, daquilo que deu origem, direta ou indireta-mente, ao sistema de prestao de servios mdicos no pais, atravs das empresas de medicina de grupo e das seguradoras que hoje aten-dem a um contingente de cerca de 30 milhes de brasileiros, includas desde as classes trabalhadoras de nvel mais baixo, atravs dos convnios feitos diretamente com as empresas, passando pelos nveis diver-sos da classe mdia e atingindo em cheio a chamada classe alta. Certamente, pelo desenrolar dos fatos que aqui sero enumerados, podero todos sentir o como e porque se desenrolou e desenvolveu-se no Brasil um sistema de prestao de servio populao que h pou-co e aos poucos vai asfixiando todo o sistema de sade publica do pas, em quaisquer dos seus ramos: municipal, estadual ou federal. Como funcionava o Sistema de Sade no Brasil A sade pblica, de um modo geral, era e , como at hoje, susten-tada pelos poderes pblicos municipal, estadual ou federal, e a estes segmentos se juntavam os sistemas caritativos do tipo santas casas de misericrdia, espalhadas pelo pais inteiro e tendo como base a velha, a velhssima Santa Casa de Misericrdia do Rio de Janeiro, fundada em 24 de maro de 1582, pelo padre Jos de Anchieta, e ainda entidades congneres que prestavam
assistncia mdica gratuita a setores deter-minados da sociedade, constitudos por classes ou colnias estrangeiras, como as venerveis ordens de So Francisco da Penitncia, So Fran-cisco de Paula, e tantos outros santos e santas espalhadas pelo pais in-teiro. E ai vinham, tambm, geralmente antecedidos do nome de um santo ou sem ele, as diferentes beneficncias: Portuguesa, Espanhola, Italia na e outras. Estas organizaes prestavam servios regionalizados e eram custeadas por pequenas contribuies de seus scios ou doaes de patronos de alto poder econmico s pessoas a elas filiadas, sendo o seu atendimento to completo que muitas vezes se estendia desde a maternidade at o sepultamento em cemitrio prprio. O servio de sade no pais era prestado, portanto, sob formas dife-rentes: o servio de sade pblica, custeado pelo municpio, pelo esta-do ou pelos rgos federais; o servio gratuito e caritativo, atravs das santas casas, beneficncias e ordens diversas; o servio prprio, constitudo pelas empresas que no visam ao lucro neste ramo, como a Sou-za Cruz, a Coca-Cola e outras grandes empresas e os diferentes rgos estatais e paraestatais, como Banco do Brasil, Caixa Econmica, Ban-cos e Caixas Estaduais, as cooperativas mdicas e finalmente, com um nmero reduzidssimo, talvez 2 ou 3% da populao, daqueles que ocu-pam, na ordem financeira, o vrtice da pirmide, a chamada clinica particular, que abrangia os hospitais e casas de sade, onde militava e pon-tificava a medicina liberal. Podemos afirmar, porm, que a diversificao, o fracionamento do velho sistema, com a distribuio da populao em castas cada vez mais diferenciados, foi mais uma praga introduzida neste pais pelo siste-ma vigente a partir de 1964, que prejudicou fundamentalmente o mdi-co e o paciente. A criao de 44 faculdades de medicina, no curto perodo de 20 anos, contra as 43 existentes criteriosa e paulatinamente criadas ao lon-go de 140 anos, arrasou com o nvel do ensino mdico e alcanou certa | mente o objetivo capitalista tupiniqum, da lei da oferta e da procura. Os Institutos de Previdncia No primeiro governo Getlio Vargas (1930-1945), foram criados os diversos institutos de previdncia: dos comercirios, dos industririos, dos martimos, dos bancrios e assim por diante. Estes institutos, como os seus prprias nomes indicavam, no eram apenas de previdncia, e sim de assistncia e, principalmente, a assistncia mdica. Na parte de assistncia mdica, foram sendo criados hospitais, sa-natrios, postos de assistncia ligados as diferentes classes trabalhado-ras, havendo at uma certa competio no sentido de prestar uma assis-tncia mdica mais completa e de melhor qualidade do que seu congnere, e ai tivemos hospitais da melhor qualidade e atendimento mdico de primeira ordem. O que dizer do antigo Hospital dos Servidores do Estado, com sede no Rio de Janeiro e na poca o nico classe "A" em toda a Amrica do Sul? Quem, antigo, no se lembra do Hospital dos Bancrios? Do Sanatrio dos Bancrios, onde hoje fica o Hospital Geral de Jacarepagu? Eram todos servios modelares, onde se prestava o melhor da
assistncia medica aos trabalhadores das diferentes cate-gorias profissionais existentes no pais. Estes institutos, porm, deram origem a um tipo de assistncia me-dica que certamente foi o embrio da verdadeira catstrofe dos dias de hoje: o credenciamento. Com o aumento populacional desenfreada, com uma taxa de nata-lidade crescendo a cada ano na ordem de 3 a 4% e mais um fluxo mi-gratrio dos pases empobrecidos da Europa do ps-guerra, o sistema no suportou os seus prprios ps e evoluiu para o credenciamento no s de instituies hospitalares, mas tambm de mdicos e servios m-dicos de toda ordem: a casa de sade "X" era credenciada pelo IAPC, o hospital "Y", pelo IAPI, enquanto a clnica "Z" tinha credenciamento pelo IAPB. As vezes, uma determinada organizao hospitalar tinha 2, 3 e mais credenciamentos com vrios lAPs. Desses credenciamentos surgiram os privilegiados. chefes de servi-o que tinham sua disposio um determinado nmero de mdicos aos quais pagavam por servios prestados em proporo muito inferia; ao trabalho realmente realizado pelo mdico e, logicamente, ao dinhei-ro recebido pelo poderoso chefe, surgindo ento a figura do "tubaro" e a do "bagrinho" ou "bagrinhos". A estes credenciados aos diferentes institutos, geralmente apadri-nhados dos poderosos de cada rgo de previdncia, cabiam maior par-te do bolo de arrecadao por servios prestados. Ai, temos possivel-mente o sistema inicial do que viria a dar origem, um pouco mais tarde, aos organizadores dos chamados "Servios Mdicos da Indstria e Co-mrcio", "Servio Mdico dos Comercirios", "Servio Mdico das Em-presas da Indstria e do Comrcio" e assim por diante. As Unidades de Servios ou US Possivelmente no sentido de coibir a explorao dos contratantes de servios mdicos, o Departamento Nacional de Previdncia Social pela Resoluo CD/DNPS-1657, de 3 de julho de 1962, criou uma tabela de remunerao de servios mdicos, com valores fixados pelas Unidados de Servio ou "US". A tabela fixava os valores em Unidades de Servio, para todos os procedimentos mdicos. A US correspondia a 1/100 (um centsimo) do salrio mnimo de maior valor no Brasil, sendo reajustvel a cada mudana do valor do dito salrio, o que inicialmente se verificava de ano em ano (bons tempos ). Assim, se o maior salrio mnimo regional fosse de Cr$ 197,00 (cento e noventa e sete cruzeiros)l a US teria o valor de CrS 1,97 (um cruzeiro e noventa e sete centavos). A US foi de imediato assimilada para todos os procedimentos mdicos dos diferentes institutos, comeando pelo Instituto dos Bancrios e, em seqncia, pelas recm-fundadas empresas que se iniciavam na explorao do trabalho mdico. Posteriormente, com a fuso dos diferentes institutos dando origem ao Instituto Nacional da Previdncia Social, no Governo Castello Bran-co, a US acompanhou a fuso e se encastelou em todos os procedimen-tos mdicos, atos, internaes etc. do recm-criado
instituto. Acresa-se a este fato que, em prejuzo do mdico, foi a dita US tendo o seu valor progressivamente diminudo e no mais obedecia proporo de um centsimo como fora inicialmente estipulado por 135. A esta verdadeira barafunda no escapavam as empresas estatais, cada qual com sua prpria tabela baseada sempre em US, ou Unidades de Servio. A coisa chegou a um tal ponto, que um medico que fosse creden-ciado em 5 (cinco) convnios diferentes tinha tambm 5 (cinco) tabelas diferentes, 5(cinco) remuneraes por horrios diferentes, 5 (cinco) tipos de pagamento de acomodaes e assim por diante . A Tabela de Honorrios da AMB Aps a criao da Tabela de Remunerao de Servios Mdicos, pela Resoluo 1657, de 03 de julho de 1962, como era de se esperar, todo o servio mdico prestado por autnomos ou por organizaes mdicas de qualquer tipo-hospitais, sanatrios, laboratrios, clinicas de toda ordem-passou a fazer a cobrana em conformidade com a dita tabela. Surgem porm, aps a Resoluo de 1962, as empresas de medicina j referidas anteriormente e destas, no final da dcada de 60, as empresas de medicina de grupo. Muitas dessas empresas e tambm muitos dos servios prprios criaram as suas prprias tabelas, e da' surgiu uma verdadeira parafernlia de preos, horrios e atos mdicos. A AMB, que j estudava a questo, reuniu os seus diferentes departamentos administrativos e cientficos e, com a opinio, sugesto e colaborao de todos, aps uma luta insana, publicou, em agosto de 1967, a sua tabela de honorrios mdicos, a qual dizia em seu preambu l: "A atuao desenvolvida pela categoria mdica em favor da livreescolha tornou necessria a aplicao de uma tabela de honorrios...." "...Tal providncia coube ao Departamento Nacional de Previdn-cia Social, que criou uma tabela de honorrios", e, aps vrias outras consideraes, arrematava: "Adotadas essas preliminares, subsistiram, para a devida complementao do trabalho ora exposto, duas premissas: que as instituies previdencirias e mecanismos financeiros realmente equivalentes apliquem percentuais adequados da tabela da AMB s res-pectivas reas; que sejam encaminhadas AMB ou s suas Federadas todas as sugestes sobre a matria". Nem uma premissa foi observa da. A Tabela da AMB arrastou-se aos trancas e barrancos, at 1984, quando ento j com a participao de uma comisso nacional de honor-rios mdicos, constituda pelos diferentes segmentos da classe mdica -Associao Mdica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e Federao Nacional dos Mdicos-, surgiu uma tabela que mereceu de ime-diato a aprovao da maioria absoluta da classe medica, e todos, da Fe-derada AMB ao Sindicato, da Sociedade Especializada ao Conselho Regional de Medicina, passaram a trabalhar intensamente pela sua implan-tao definitiva. Ns prprios publicamos na Revista no 02 do CREMERJ-agos-to de 1984-um artigo intitulado "Os Convnios", em que tratvamos da explorao da categoria, pelas prestadoras de servios mdicos. Di-ziamos em certo trecho: "A AMB dever promulgar,
dia 17 de agosto prximo, por ocasio do lil Encontro Nacional de Entidades Mdicas, a Tabela de Honorrios Mdicos, que dever estabelecer um teto minimo para os servios prestados". No foi e ainda no est sendo facil implantar em carter definiti-vo a dita tabela: greves e greves temos feito, algumas com durao de at sete meses, com o apoio de todas as entidades mdicas, com mui-tas vitrias e muitos tropeas, a maioria dos quais oriundos de determi-naes esdrxulas do governo, outros, infelizmente, pelo centralismo da prpria AMB, que dita modificaes, de cima para baixo, sem ouvir sequer a sua prpria Comisso de Honorrios Mdicos. A Criao do Seguro Sade Pelo Decreto-Lei n 73, de 21 de novembro de 1966, que dispe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, fica estabelecido: Capitulo Xl-Seo I-Do Seguro-Saude: "Art. 125-Fica instituido o Seguro-Sande para dar cobertura aos riscos de assistncia mdica ou hospitalar. Art. 130-A garantia do Seguro-Sade consistir no pagamento em dinheiro efetuado pela Sociedade Seguradora pessoa fisica ou jurdica prestante da assistncia mdico-hospitalar ao segurado. Pargrafo 1. . Pargrafo 2.-A LIVRE ESCOLHA DO MDICO E DO HOSPITAL CONDIO OBRIGATRIA nos contratos referidos no item ante-rior. " Com o Decreto 73, de 21 de novembro de 1966, estava, portanto, transformado em lei o seguro de sade no Brasil, pois a despeito da obri-gatoriedade da lei, ainda hoje luta-se tenazmente para que o segurado tenha o direito de ressarcimento pelas despesas com mdicos quando no constem das listas de credenciamento dos diferentes seguros de sa-de existentes no Brasil. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, atravs de uma Resoluo (n. 19/87), lapidar na histria do seguro m-dico no pais, fez valer os termos do referido Decreto, plena e totalmen-te em vigor. O no-registro nos Conselhos Regionais de Medicina das empre-sas seguradoras de sade constitui, antes de tudo, um desrespeito Lei n. 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exerccio de profisses e as-sim reza: "O Presidente da Repblica.
Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-guinte Lei: Art. 1.-O registro de empresas e anotao dos profissionais le-galmente habilitados, delas encarregados, sero obrigatrios nas entida-des competentes para a fiscalizao do exerccio das diversas profis-ses, em razo da atividade bsica ou em relao quela pela qual prestem servios a terceiros. Art. 2.-Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao. Art. 3.-Revogam-se as disposies em contrrio. Joo Figueiredo-Presidente da Repblica Murilo Macedo-Ministro do Trabalho A falta de inscrio das empresas e dos seus diretores mdicos no Conselho Regional de Medicina respectivo, aproveitando-se de que ditas seguradoras so submetidas gide da Superintendncia de Segu-ros Privados, constitui no s uma afronta ao disposto em lei, como ain-da uma fuga a fiscalizao da atividade dessas empresas ao rgo com-petente. No sabemos, porm, se pelos termos em que foi estabelecido o Seguro de Sade ou por qual razo, o fato que as companhias segura-doras no se interessaram de imediato pela implantao do Seguro-Sa-de. Em seu lugar, comearam a surgir os chamados planos de sade, geralmente tendo como base um ou mais hospitais que, atravs de um sistema de adeso ou associao, prestavam assistncia mdica s pessoas inscritas, no seu prprio hospital. No credenciavam mdicos fora de sua rede prpria e no pagavam internaes ou despesas mdicas fora do seu mbito de ao. Das pequenas casas de sade, surgiram posteriormente grandes hospitais que seriam os ncleos formadores das futuras grandes empre-sas de medicina de grupo. Para citar como exemplo, do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, surgiu a Golden Cross, inicialmente rotulada como Assistncia Internacional de Sade em outras tantas lhe sucederam, principalmente no Rio de Janeiro e So Paulo. No Rio, concentraram-se as grandes empresas de credenciamento; em So Paulo, as de servio prprio. Poderamos citar aqui 100 (cem) ou mais dessas empresas espalhadas pelo Brasil, algu mas de mbito local apenas e outras com abrangncia nacional. As Empresas de Seguro-Sade Finalmente, as grandes seguradoras, como Sul-Amrica, Bradesco, Itau e, agora, o Bamerindus, acordaram para o filo de ouro em que se transformou a prestao de assistncia mdica no Brasil e entraram com o seu poderio econmico e com o know how de que dispunham at de sobra. Afinal de contas, um mercado de mais de dois bilhes de dla-res no se deixa ao deus-dara.
Aproveitando-se de que as empresas de medicina de grupo no podiam usar o titulo de seguradoras, pois estas, por lei, estavam subor-dinadas Superintendncia de Seguros Privados, muito embora, confor-me demonstramos anteriormente, ditas empresas estivessem por lei obri-gadas ao registro nas respectivas entidades fiscalizadoras do exerccio de profisses, no caso os Conselhos Regionais de Medicina (Lei n 6.840), o Bradesco comprou a parte de Seguro-Sade da Golden Cross, incluindo-se ai todo o Seguro Internacional, e entrou firme no mercado, dominado por ditas empresas que hoje detm 20% da populao brasi-leira, ou seja, cerca de 30 milhes de pessoas. Deste dito mercado de 30 milhes, as companhias de seguro j conseguiram uma fatia bem ra-zovel de 4,5% enquanto as demais prestadoras de servios mdicos guardam em linhas gerais as seguintes propores: empresas de medi-cina de grupo, 48,5%; empresas de autogesto, como Souza Cruz, Coca-Cola e outras, e bem assim todas as estatais que adotam a medici-na supletivo, como Petrobrs, Banespa, Banco do Brasil, Caixa Econ-mica, Furnas e tantas outras, absorvem 28% desses 30 milhes e, final mente, as Unimeds, ou cooperativas de servios mdicos, com 19% do. bolo. Em linhas gerais, estatisticamente, esta a distribuico da medici-na no governamental e no caritativo no Brasil. Para este nmero, que nos parece extremamente grande-20% de toda a assistncia mdica -, concorreu fortemente o impulso dado pelo sistema dito revoluciono rio, de 1964 a 1985, que procurou por todos os meios e modos-como dissemos ao tratar da criao das faculdades de medicina para uma oferta de mdicos acima do tolervel-dilapidar, sucateira, reduzir ao p, a assistncia mdica pblica do Brasil, at chegar ao ponto onde est hoje e que todos conhecem. Teria sido isso proposital? Como dizia Nelson Rodrigues, "os fatos so os fatos...". A Resoluo 19/87 Sentindo o avano e a falta de controle dos rgos mdicos sobre as poderosas empresas de medicina de grupo, o Cremerj (Conselho Re gional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) teve a coragem de edi-tar a Resoluo 19/87. A resoluo, com data de 19 de agosto de 1987, punha um basta aos descalabros que at ento se verificavam por par-te dos servios mdicos prestados por empresas de medicina de grupo. Trazia, como trouxe, a reposio da tica mdica por parte de ditas em-presas, no s no concernente ao mdico, mas e, principalmente, ao paciente. A resoluo, como no poderia deixar de acontecer, trouxe, de imediato, uma reao pronta de ditas empresas, que entraram com uma ao junto 1 a Vara Federal, assinada por 13 das mais importan-tes, contra a vigncia da mesma. O art. 1., que reza: "A contratao de servios mdicos por empresas de medicina de grupo que atuam no Estado do Rio de Janeiro obedecer aos seguintes critrios: a) o paciente tem ampla e total liberdade de escolha do mdico;... d) os honor-rios para convnios obedecero aos limites fixados pela tabela de hono-rrios mdicos;... h) as empresas contratantes esto obrigadas a garan-tir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Cdigo Inter-nacional de Doenas da Organizao Mundial de Sade", desencade-ou, principalmente a alinea h, um mandado de segurana contra o Cremerj. Dita resoluo foi respaldada pela sentena da MMa. Juza da 1! Vara Federal Tnia de Meio Bastos Heine. De apelao em apelao, perdendo em todas, as empresas de medicina de grupo e o prprio Cre-merj aguardam a sentena final, a ser preferida pelo Tribunal Federal de Recursos. A Resoluo 35/91
Com o aumento do nmero de pacientes soropositivos ou portado-res de AIOS, as empresas prestadoras de servios mdicos e ai, princi-palmente, as seguradoras, e destas o Bradesco, negavam-se a prestar a necessria assistncia aos portadores da Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida. At mesmo as internaes, as ditas empresas se negavam a faz-las, e isto nos quadros agudos abdominais, pulmonares ou cere-brais, o que motivou a Resoluo 35, que especificamente vem em es-foro afines "H" da Resoluo 19 e ainda dispe de artigos diversos, como o 8: " responsabilidade do Diretor Tcnico ou Diretor Mdico das instituies intermediadoras dos servios de sade de qualquer natu-reza, inclusive seguradoras, a autorizao para exames complementares dos pacientes associados ou segurados portadores de AIOS", que obriga todas as empresas, no somente as de medicina de grupo, mas tam-bm as seguradoras e cooperativas, a dar o atendimento tico e mdi-co aos portadores da AIOS. No se concebe, e esperamos que a atual gesto administrativa do pais tome as providncias devidas, que seguradoras que exploram o ramo de assistncia mdica fiquem fora da superviso da tica profis-sional, da disciplina a que so obrigados os que praticam a medicina, dos canones, enfim, a que esto sujeitos todos os mdicos. Esperamos, por outro lado, que os diferentes rgos de medicina se empenhem nesta luta que de todos ns. No do Cremerj, do CFM, da AMB ou da Federao Nacional dos Mdicos, de todos os mdicos, pela defesa do prprio mdico, pela tica e, principalmente, pelo "doente". tica e Cooperativismo Jorge Farha A abordagem do cooperativismo do ponto de vista tico ensejo uma reflexo sobre o universo das relaes entre os diversos elementos envolvidos nessa atividade, uma vez que a tica se ocupa basicamente das relaes humanas e seus juzos de valor. A cooperativa, os cooperados, os usurios e os prestadores de ser-vio nas suas interrelaes tm aspectos prprios, s vezes conflitantes, que devem ser cortejados. Inicialmente cabe um enfoque sobre as origens do cooperativismo, seu iderio e objetivos, para se ter uma idia do espirito que preside ou deveria presidir o comportamento dos indivduos no cotidiano dessa atividade. A constituio de uma cooperativa pressupe a formao de um coletivo para desempenhar determinada atividade econmica e visa, por um lado, a facilitar o acesso dos que desempenham aquela atividade ao mercado, e por outro repartir igualitariamente os beneficias gerados. A idia de Cooperar-trabalhar em conjunto-nasceu de condi-es sociais adversas satisfao de necessidades bsicas de alguns indivduos na competio do mercado e representa uma tentativa de transpor as dificuldades interpostas queles que esto em desigualda-de. O trabalho solidrio, portanto, na medida em que procura agrupar e articular
esses indivduos entre si, amplia as oportunidades antes inafianveis por cada um isoladamente. Mais que o ajuntamento de indivduos, a cooperativa forma um or-ganismo novo, em que as aes individuais se interligam e interagem para produzir reflexos no todo, de tal modo que a produtividade, a eficincia e a prpria viabilidade econmica da cooperativa em grande par-te dependero da postura tcnica e tica de cada um dos seus mem-bros cooperados. A postura solidria no trabalho cooperado, com a pre-ocupao voltada para o interesse coletivo, no configura apenas uma imposio de natureza tica, mas, como foi dito, um pr-requisito para viabilidade econmica da empresa e mesmo a sua validao social. Caracterstica da cooperativa o fato de ser uma sociedade de pessoas, no de capital, em que cada indivduo tem peso igual nas as-semblias, o que contribui para evitar a manipulao de grupos econ-micos nas decises de interesse geral. No que se refere relaes de trabalho e sua forma de remunera-o a cooperativa, portanto, situa-se no polo oposto ao das congneres mercantilistas e concentradoras de capital. Podemos ento dizer que a cooperativa encerra, em sua concep-o, dois valores ticos universais: o primeiro e o igualitarismo, que con-fere oportunidades iguais a seus membros na oferta dos bens produzios e na gesto da empresa; o segundo, que pode ser conseqncia o primeiro, o solidarismo, que deve presidir as relaes dos coopera-dos entre si para viabilizar e fortalecer a atividade cooperativista. Desde as primeiras experincias bem-sucedidas no final do sculos passado em Rochdale, na Inglaterra, o sistema de cooperao se deenvolveu em praticamente todas as sociedades, independentemente o regime poltico em vigor. Contudo, o comportamento das cooperativas, numa sociedade em as relaes econmicas so reguladas quase que exclusivamente elo mercado, est grandemente influenciado pela continua tentativa te adaptar-se concorrncia. Esta competio tem contribudo para ditar rumos novos, antes no suspeitados atividade cooperativista. O embate com a concorrncia tem servido para justificar a criao e outras frentes de atividade, algumas, no caso de cooperativa mdi-a, afastadas da atividade assistencial. Em certos casos observa-se mesmo uma agresso queles principias que nortearam a criao das cooperativas como e o caso do seguro-sade, que comea a ser comercializano por algumas cooperativas de seguro pertencestes ao sistema, a criao de servios prprios e at aquisio de hospitais, com assalariamento de mdicos. A finalidade dessas novas frentes seria fortalecer o sistema coope-rativista e, em particular, dar sustentao econmica cooperativa a fim de coloc-la em condies de competir com eficincia com as concorrentes.
Teme-se que, a mdio ou longo prazo, foras conjunturais acabem fazendo dessas atividades, hoje acessrias em relao a atividade mdi-ca cooperada, um filo lucrativo e hegemnico, desfigurando o iderio cooperativismo original. Esse tema polmico e est em intenso debate no momento. Os exemplos citados aqui tm a finalidade to somente de mostrar a influncia que as foras do mercado podem imprimir nos rumos do cooperativismo. Mesmo na atividade assistencial,observa-se por parte das cooperativas um receio de criar algo novo, diferente do que praticadopela concorrncia, em benefcio dos usurios. As restrines contratuais para usuios, e inclusive cooperados, em planos especiais se assemelham ao pra-ticado por aquelas empresas. Mais adiante falaremos das relaes usuario-cooperado-cooperativa, suas particularidades e as expectativas envolvidas nessa relao. Aqui cabe uma referncia ao intercmbio entre cooperativas no aten-dimento dos usurios. Nem sempre tem prevalecido a atitude solidria nessa relao. Em alguns casos, pequenas cooperativas tm, no atendi-mento aos usurios de cooperativas maiores, em cidades ou municpios vizinhos, uma fonte importante de receita, e no raro ocorrem conflitos face aos exageros praticados por ocasio de cobrana dos servios pres-tados. Razes de ordem poltica e administrativa alimentam tambm indis-posies entre algumas singulares dificultando um atendimento integra-do e solidrio, e a organizao de uma Rede estruturada e eficiente a nvel Estadual ou Nacional. Em beneficio do cooperativismo esses obstculos tero que ser su-perados e as divergncias explicitadas. E preciso sobretudo abrir essa discusso para o conjunto dos cooperados, principais interessados, pa-ra que possam compreender a necessidade e a importncia de um inter-cambio eficiente e consolidado, para sade do cooperativismo. A Autogesto: Sempre um Desafio Mesmo sem ter sido claramente reconhecida como imperativo de ordem tica, a autogesto, desde os primrdios do cooperativismo, foi e continua sendo um fator de diferenciao e de indiscutvel densidade tica, posto que operacionalizar a apropriao coletiva do patrimnio, que e a cooperativa. O grande obstculo, entretanto, a uma efetiva autogesto, a uma participao consciente dos cooperados nos destinos da cooperativa tem sido, ao longo da histria do cooperativismo, o fator ideolgico. Numa sociedade culturalmente marcada pela competio, pelo individualismo e pelo interesse na acumulao progressiva, ou seja, pelo triunfo de uns em detrimento de outros, o trabalho em cooperao se constitui numa exceo. No ser sem esforo, para quem tem sua vida sintonizada a uma viso de mundo onde prevalecem aqueles valores, subitamente orientar sua aes com base em valores coletivos, de interdependncia e solidar riedade.
Todos sabemos que boa parte dos cooperados no alcanou ain-da um grau de conscincia capaz de faz-los tomar a cooperativa co-mo obra sua, como algo que depende de sua iniciativa, de sua participa-o. Muitos orientam sua conduta tomados por uma convico individua-lista, de obteno imediata de vantagens, s vezes de forma ilcita, em detrimento dos demais. Este comportamento, embora traduza um dos aspectos da deteriozao da vida social, particularmente nos grandes centros, no deixa de ser anti-tico e claramente pernicioso ao sistema de cooperao. Aqui mais do que nunca, deveria prevalecer aquilo que Kant definiu como imperativo categrico do comportamento tico: "Age de modo a que possas querer que 0 motivo que 0 levou a agir seja uma lei universal". No possvel, afinal, conceber uma sociedade onde todos possam se aproveitar de todos. Um fenmeno que tambm tem contribudo para um distanciamen-to dos cooperados com relao vida da cooperativa a crescente ex-panso, diversificao e incorporao de novas metodologias de geren-ciamento sua cultura. De tal forma vem se tornando complexa a tarefa de administrar es-ta nova realidade, que foi inevitvel a profissionalizao dos diversos se-tores administrativos mediante a contratao de tcnicos para cada um desses setores. Isso, sem dvida, introduziu um elemento de ponderao desconhe-cido da maioria dos cooperados, tanto em nvel interno-diretoria e con-selho de administrao; quanto externo, nas assemblias. H sempre um profissional a opinar tecnicamente quando algo rele-vante sobre a administrao est em discusso. possvel que essa nova cooperativa, ao abolir o modelo de em-presa familiar e a figura do grande benfeitor dirigente, identificado com os cooperados e sua ansia de emancipao e, ao contrrio, procura se empenhar no sentido de incorporar os mtodos das grandes empresas, ampliar progressivamente seu porte, fazendo surgir interesses aparente-mente estranhos atividade-fim, j no fale a linguagem que os coopera-dos entendiam com facilidade. Este processo de desidentificao entre cooperado e cooperativa pode estar contribuindo para o afastamento dos cooperados nas assem-blias, criando assim mais um obstculo para a concretizao da auto-gesto. Por isso, um dos grandes desafios da cooperativa atualmente ser precisamente consolidar uma administrao profissional e eficien-te sem perder a sensibilidade para com os problemas e as expectativas dos seus cooperados, e para isso ter de reconstruir com criatividade novos canais de participao e interferncia na cooperativa. Finalmente, deve-se reconhecer tambm que a solidariedade e o igualitarismo que precisam permear as relaes entre cooperados depen-dero tambm do grau de sucesso
administrativo conquistado pela dire-o da cooperativa, da capacidade de mobilizar seus integrantes para alcanar objetivos previamente discutidos e definidos, do grau de transparncia de seus atos, elementos indispensveis para uma liderana genuna e respeitvel. Os conflitos que ocorrem entre cooperados e cooperativa no paga-mento da produo, quando freqentes, resultam de falhas na operacionalizao dos procedimentos administrativos, e mais, quando o clculo pr-rata da unidade de trabalho no alcana a expectativa dos coopera-dos, sero fatores de desestimulo ao espirito cooperativo, particularmen-te se resultam de uma administrao ineficiente. A Cooperativa e os Prestadores de Servio Os prestadores de servio so indispensveis ao trabalho coopera-do, contudo, a relao dos mesmos com a cooperativa se d mediante regras prprias. Os servios e procedimentos so faturados contra a cooperativa conforme tabela em vigor, no estando sujeitos a definio pr-rata dos valores. No lhes facultado, como bvio, a participao com voz e voto nas assemblias gerais. Os maiores conflitos observados entre este segmento e a coopera-tiva ocorrem quando da cobrana dos servios. O superfaturamento em suas mltiplas modalidades uma prtica ainda observada na cultu-ra de muitos empresrios. Isso adquire relevncia na medida em que os gastos com os presta-dores de servio s vezes ultrapassam o dobro do gasto total com o tra-balho cooperado. O rigoroso controle desses gastos tornou-se vital pa-ra a cooperativa e fez dessa necessidade um dos fatores que impuisionou a cooperativa para a profissionalizao e modernizao dos proce-dimentos administrativos. Nem tudo, porem, est ao alcance dos sistemas de controle, e h os casos em que a forte suspeita sem a devida prova documental ou tes-temunhal impede uma providncia concreta contra o infrator. Houve ocasio em que os gastos com este setor, em algumas co-operativas, alcanaram cifras que comprometiam a remunerao do tra-balho cooperado, obrigando-as a praticar glosas lineares e arbitrrias so-bre as faturas. Durante algum tempo, esses fatos serviram para temperar de des-confiana e ressentimento as relaes com alguns prestadores de servio. A superao dessas dificuldades, o que alis vem se observando com a crescente profissionalizao das cooperativas, imprescindvel para recolocar esta relao numa atmosfera de confiana onde prevale-am a justia e o comportamento profissional responsvel. inaceitvel do ponto de vista tico que a qualidade do atendimen-to ao usurio venha a ser comprometida, por exemplo, com carncias superdimensionadas ou clusulas restritivas, como meio de compensar falhas na administrao do sistema. A necessidade de
viabilizar o siste-ma cooperativo a longo prazo faz crer que o caminho que muitas cooperativas j comearam a trilhar irreversvel. Agora mais do que nunca a consolidao do cooperativismo encontra uma conjuntura bastante favorvel, por mais paradoxal que isto possa parecer; o processo recessivo por que passa o pais est criando dificuldades para as empresas de natureza mercantilista pois, habituadas aos grandes lucros, concentra-o do capital, tero dificuldade de conservar este modelo e, ao mes-mo tempo, garantir a qualidade do atendimento ao usurio e a dionida A peculiaridade da cooperativa no pode se restringir organiza-o de seus membros para inserir seu trabalho no mercado e dai para frente igualar-se s congneres mercantilista. Ou seja, os usurios tam-bm devem ter por parte da cooperativa e dos cooperados um tratamen-to que lhes permita perceber a diferena. O fato de tratar-se de uma empresa de propriedade coletiva com-posta e dirigida exclusivamente por mdicos cria, certamente, uma ex-pectativa positiva nos usurios. Ocorre no imaginrio das pessoas uma transferncia dos atributos prprios dos mdicos (sensibilidade humana, solidariedade, prioridade aos interesses dos pacientes, alm do conheci-mento mdico) para a prpria cooperativa. Assim, tanto cooperado quanto cooperativa deveriam conduzir-se de tal forma a ratificar aqueles atributos. A cooperativa, contudo, como empresa que no visa lucro, que investe em seus prprios membros e no aperfeioamento constante de sua atividade, dever almejar ir mais adiante, alm de suas concorrentes. Dever traduzir esta diferena em beneficias aos usurios, como ampliao de coberturas, reduo de res-tries e custos devidamente dimensionados. Muitas cooperativas hoje esto razoavelmente equipadas com r cursos tcnicos e humanos capazes de planejar estes objetivos com se-gurana. Boa parte dessas cooperativas, inclusive, j remunera o trabalho cooperado acima da tabela de honorrios em vigor e adota calendrio de pagamento a intervalos quinzenais. No se pode negar que isto aca-ba redundando em melhor atendimento do usurio pelo cooperado, con-tudo, isto representa muito pouco diante do potencial do sistema coope-rativista. A Greve nos IMLs Genival Veloso de Frana Ate onde legitimo o direito de greve dos mdicos que trabalham em instituies mdico-legais? Tm essas atividades ou esses servios a indispensabilidade reclamada no texto constitucional e regulamenta da em lei especial? Qual o limite da licitude dessas greves luz da ti-ca e da moral? Vejamos. Ningum hoje discute mais o fato de os medicas exercerem o direi-to de greve como recurso de presso social, de forma consensual e tem-porria, quando defendem interesses publicas ou de sua categoria, des-de que respeitem necessidades inadiveis e essenciais da populao. Entendem todos que essa profisso, embora cercada de delicados mo-mentos e de circunstancias to especiais, experimentou, nestes ltimos tempos, profundas e
compulsivas transformaes, todas elas originarias de uma barulhenta avalanche de acontecimentos que se esbarram a ca da instante. O ato mdico, de atividade elitista e quase exclusivamente liberal, passou a ser exercido hodiernamente em instituies pblicas e priva-das, e o mdico virou um assalariado no conjunto dos trabalhadores. Mesmo que ele continue decidindo as questes mais cruciais nas ativida-des de sade, ningum pode contestar o direito de o mdico usar os mesmos recursos de outros obreiros, na tentativa de conquistar melho-res condies de trabalho, de estabelecer uma adequada estratgia na prestao de servios e, tambm, no h como negar, de conseguir re-munerao justa e capaz de assegurar-lhe, juntamente com a famlia, uma existncia compatvel com a dignidade humana e com as necessi-dades vigentes de sua categoria. Por outro lado, no h como deixar de reconhecer que toda greve mdica fere interesses vitais e traz prejuzos indiscutveis e que no dei-xa de apresentar, para alguns, aspectos antipticos e contraditrios. Mas, todos passam a entender que, em certos momentos, a greve o nico caminho para alcanar melhores condies de vida, utilizada co-mo ultima ratio, face a intransigncia do patronato avaro ou do poder pblico insensvel ante a populao assalariada. No h como aceitar mais a velha e Burrada idia de que servir comunidade esta acima do direito de fazer greve, como se os grevistas no fossem pessoas como as outras, omitidas e aviltadas, nas suas humanas e desesperadas trag-dias de cada dia. Excluir o mdico do direito de greve uma discrimina-o imperdovel e um desprezo s suas prerrogativas de cidadania, por-que a garantia constitucional desse direito est fundada nos princpios mais elementares da liberdade do trabalho. Seria injusto exigir dele ape-nas a condio de sacerdote e negar-lhe o que todo ser humano neces-sita para sobreviver. Assim, a greve medica, para constituir-se num ato juridicamente .protegido e politicamente justificado, tem de acatar certos fundamentos que demonstrem a justeza dos seus fins: ser um embate simtrico e paralelo entre duas foras sociais, expressar uma resposta de autodefesa socialmente legitima, representar a ultima razo depois de esgotadas to-das as tentativas de negociao e manifestar o respeito s atividades exercidas nos servios considerados essenciais. No h tambm como censurar o mdico que participa dos movi-mentos organizados da categoria e das lotas coletivas, na busca de ga-rantir vantagens como forma de proteo social. Isso est assegurado em seu Cdigo de tica, quando se l: "Deve o mdico ser solidrio com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remu-nerao condigna, seja por condies de trabalho compatveis com o exerccio tico-profissional da Medicina e seu aprimoramento tcnico". Mais adiante, enfatiza que lhe proibido "posicionar-se contrariamente a movimentos legitimas da categoria mdica, com a finalidade de obter vantagens". Em suma, resta evidente que, tambm sob o ponto de vis-ta tico, o profissional da medicina tem o direito de fazer greve, como meio extremo de conseguir beneficias pessoais e de prover as condi-es ticas de trabalho em favor da comunidade.
Este mesmo cdigo, no entanto, de forma peremptrio, diz que vedado ao mdico "deixar de atender em setores de urgncia e emer-gncia, quando for sua atribuio faz-lo, colocando em risco a vida dos pacientes, mesmo respaldado por deciso majoritria da categoria". Na-da mais claro para se entender que o direito de greve no absoluto e que o mdico no pode nunca, nem de forma alguma, paralisar suas ati-vidades em servios de pronto atendimento. Mas, ser que, na atividade mdica, apenas as urgncias e emer-gncias devem merecer medidas de proteo, como meios indispens-veis e imperativos de funcionamento? E como ficam, por exemplo, as atividades inadiveis e intransferveis dos IMLs? Em primeiro lugar, necessrio entender que essas instituies, infelizmente, por uma distoro histrica, continuam como apndices das delegacias de policia e o legista, quase sempre, como mero auxiliar da autoridade policial. Ante esse desagradvel engano, permanece ain-da hoje, entre muitos, a idia de que a legispericia parte integrante da atividade policial. E o mais grave: fez com que se criasse, numa certa frao de legistas, uma postura nitidamente policialesca que se satisfaz com os portes de arma, com as carteiras de policia e com as entradas francas em casas de exibio. Com essa vinculao,e difcil afastar de algumas, pessoas a idia de suspenso e de que, em certas ocasies, no possam existir pres-ses, notadamente quando se sabe que algumas dessas instituies es-tiveram seriamente envolvidas em casos de laudos contestados sobre vitimas do arbtrio e da violncia institucional. Ou seja, vitimas da prpria policia. Some-se a isso o fato inconteste de que parte da estrutura poli-cial tornou-se viciada pelo abuso e pela corrupo, imbuda de uma men-talidade repressiva, reacionria e preconceituosa, na mais absoluta fide-lidade que o sistema lhe exige. A verdade que esse aparelho repres-sor perdeu a credibilidade da populao e lhe causa medo. Por isso, te-mos defendido, sempre e sempre, de forma obstinada, a proposta de imediata desvinculao dos institutos de medicina legal da rea das se-cretarias de segurana, para as secretarias de justia, ou para o Minist-rio Pblico, ou para as universidades. Isso, no s pela possibilidade de desfazer um engano, seno, ainda, pela oportunidade de afastar de vez qualquer dvida sobre a imparcialidade do ato parcial. Foi com esse pensamento que a Comisso de Estudos do Crime e da Violncia, criada pelo Ministrio da Justia e presidida pelo profes-sor Viana de Moraes, props ao governo a desvinculao dos institutos medico-legais das secretarias de segurana, como meio "de evitar a imagem de comprometimento sempre presente, quando por interesse da justia, so convocados para participar de investigaes sobre auto-ria de crimes atribudos policia". Desse modo e mais do que nunca, sente-se a necessidade premen-te de transformar esses institutos em rgos auxiliares do Poder Judici-rio e sempre com a denominao de Instituto Mdico-Legal, como a tra-dio os consagrou no seu verdadeiro destino em favor dos direitos hu-manos. Atualmente, h uma tendncia tcnica. Nisso, comete-se um du-plo equivoco: nem se pode admitir policia como cincia, nem muito me-nos medicina legal como policia.
Hoje, a medicina legal no pode deixar de ser vista como um ncleo de cincia a servio da administrao judiciria, e o mdico legista, nestas condies, sempre um auxiliar do juiz, e no um preposto da autoridade policial. No efetivo desempenho dessa atividade, exigem-se informaes especiais por cuidar de assuntos exclusivamente seus, en-tre eles, conhecimentos jurdicos que s podem ser assimilados com a intimidade dos tribunais, no trato permanente das questes mdicas inerentes lei. preciso tambm saber o significado de uma leso violen-ta, naquilo que pode existir de mais insondvel e misterioso, expondo todos os seus elementos de convico, esmiuando, comparando, compondo e recompondo-os como quem arma as pedras de um intrincado quebra-cabea. A importncia da medicina legal, portanto, deflui da pr-pria gravidade dos interesses da sociedade, quando possam estar em jogo a honra, a liberdade e, at mesmo, o destino de cada homem e de cada mulher, evitando que o julgamento dos fatos no se transfor-me numa tragdia. E ainda: a importncia da medicina legal no deve cessar nas portas dos tribunais. E indispensvel que transponha suas soleiras para que a verdade no seja o atributo de uma convico inti-mista, solitria e individual. Esta digresso tem o sentido de mostrar que a atividade legisperi-cial exibe caractersticas distintas da atividade mdica curativo ou pre-ventiva, que apresenta um relacionamento funcional complexo e singu-lar, e que sua paralisao deve merecer uma ateno especial. Por um lado, pelos estranhos vinculas de uma origem viciada e, por outro, pela delicadeza das circunstncias e pela inexistncia, nos demais setores pblicos ou privados, de uma correspondncia de atividades. Mesmo que o aparelho policialjudicirio possa valer-se legalmente dos chama-dos peritos ad hoc, e o juiz venha formar sua convico pela livre apre-ciao da prova assim produzida, fica o poder pblico a estender a mo ao altrusmo de um ou de outro e a depender de uma percia de qualida-de discutvel. Isso, para atender imprescindibilidade do laudo nos au-tos e para cumprir sua formalidade processual. Opinamos, ainda, que os conselhos regionais de medicina no tm como impedir ou punir o mdico, no pertencente aos servios medico-legais, indicado perito ad hoc para exercer o munas pericial, principalmente quando nomeado pe-la autoridade judiciria, durante uma greve. Por outro lado, acreditamos que, no exerccio da medicina, devam ser consideradas atividades essenciais no s a prestao da assistn-cia mdica nos setores de urgncia e emergncia, mas, tambm, outros instantes de atendimento indispensvel, capazes de evitar danos irrepa-rveis e males irreversveis ao paciente. Em principio, no somos contra a greve nos servios mdico-legais, principalmente quando tal fato venha constituir-se no derradeiro instru-mento de reivindicao, depois de exauridos todos os meios de dilogo e de negociao. Todavia, no se pode deixar de levar em conta certos cuidados, a fim de evitar danos ou situaes incontornveis, notadamen-te em casos de avaliao imediata ou em acontecimentos que possam criar srios mal-estares s vitimas, aos seus familiares e sociedade. No ha corno justificar, verei grafia, a omisso de um legista, mes-mo em greve, diante de uma leso ou de uma perturbao de carter transeunte, cuja falta de registro redundasse em insanvel prejuzo pa-ra a vitima. No h justificativa para deixar-se de proceder a uma necrpsia de morte violenta, concorrendo para que o cadver seja inumado sem a causa da
morte, usando-se os indefectveis diagnsticos de "causa- indeterminada", vindo a ser exumado posteriormente, sujeito s restries e aos enganos que permitem os fenmenos post mortem e s in-convenincias da mais repulsiva de todas as percias. Ainda, mais, quando se sabe das presses que sofrem os legistas para liberar os corpos dos afortunados e protegidos, a qualquer hora do dia ou da noite, muitas vezes, ate sem os indispensveis procedimen-tos, apenas para satisfazer interesses poltico -demaggicos, nem sem-pre recomendveis a quem lida com a coisa pblica. No justo deixar nas cmaras frigorificas ou expostos decomposio, somente os cad-veres dos pobres, dos desarrimados de bero, ou dos que findaram aco-bertados pelo crepe do esquecimento. Duvidamos de que o cadver de algum mais ilustre fosse enterrado com um diagnstico provisrio, su-jeito a exumao aps a greve. Desse modo, no vemos nenhum dano ao movimento de paralisao prestao de servios mnimos indispensveis, com critrios tcnicos defendidos pela prpria categoria prevista. Acreditamos existirem outros mecanismos de presso capazes de conciliar os interesses da categoria com o respeito dignidade huma-na e com as necessidades de ordem pblica, inspirados na tica social da vida coletiva. Assim, os exames que no forem imperativos e inadi-veis podem ser realizados depois, tendo-se sempre o dever de explicar populao os motivos da greve e pedir sua compreenso. Nos casos indispensveis, fazer os exames indicados, utilizando toda tcnica e to-dos os recursos recomendados, podendo at no se expedir os laudos. Admitimos que, apenas depois de ser considerada a greve abusiva, po-de o perito sofrer as sanes por desobedincia disciplina judiciria, quando, nomeado pela autoridade competente, deixar de acudir a sua intimao ou ao seu chamado, no comparecer no dia e local designa-dos para o exame, no der o laudo, ou concorrer para a percia no ser feita, nos prazos estabelecidos. Mesmo assim, entendemos que devam existir critrios para estabelecer o que e estritamente indispensvel e definir os meios de manuteno das atividades dos setores, cuja parali-sao resultaria em prejuzo irreparvel. Recomendam-se, tambm, a liberao dos cadveres e a expedi-o dos atestados de bito, com seus respectivos diagnsticos de cau-sa mortis. ningum pode tolerar uma greve alimentada na insensibilida-de e na indiferena, intransigentemente refratria aos principias da adequao social. Nesse momento to pungente na vida de uma famlia- quando tudo desespero e desalento-, o respeito dor alheia de tal magnitude, que a intuio humana criou regras de conduta que impe-dem crueldades inteis, permitindo que se ocultem seus mortos nas ca-vas silenciosas da inrcia. E mais: o abandono de um cadver injusto e indefensvel, em razo de gerar outros muitos e infindos abandonos que pedem rever e desfazer. O da criana, por exemplo, o mais medonho e o mais triste, porque tem clamores que atingem o mais distante dos distantes e o mais indiferente dos indiferentes, ofendendo a razo e o sentimento. Os laboratrios dos servios mdico-legais, por sua vez, devem acatar o material de exame que recolherem ou lhes for encaminhado e, nos casos em que possa ser conservado, que se o faam. Quando no for possvel preserv-lo, o exame deve ser realizado, mesmo que no se venha expedir o competente relatrio, pois esse material, na maioria das vezes, de valor probante incalculvel, no pode ser substitudo pe-la sua restrita e imperiosa exclusividade. Embora com atividades de caractersticas no tanto semelhantes aos
laboratrios, o pessoal do setor de radiologia desses servios pode haver-se pelo mesmo raciocnio. Tais procedimentos esto fundados no fato de considerarmos par-te das tarefas dos IMLs como atividades essenciais no atendimento das necessidades inadiveis da populao. E a sua paralisao radical, um abuso do direito de greve. A tica na Emergncia Lus Carlos Sobania A emergncia representa uma situao ameaadora, brusca e que requer medidas imediatas de correo e de defesa. Tambm significa acidente e necessidade urgente. A urgncia no dicionrio mdico cons-ta como um estado patolgico que se instala bruscamente em um pacien-te, causado por acidente ou molstia e que exige teraputica mdica ou cirrgica urgente. Que urge, que deve ser feito com rapidez. Em todas as cidades existem servios denominados de emergn-cia ou de urgncia ou como comumente falado "prontos-socorros". Uma questo que de inicio exige uma reflexo que nesse inicio de d-cada, nestes anos 90, talvez muitos dos chamados prontossocorros no poderiam nem assim ser denominados, porque no apresentam as mnimas condies de prestao dos servios que seriam obrigados a pres-tar, e isto estaria muito mais na esfera da justia comum do que na disdiscusso tica, que mais profunda. E no vamos perder tempo com o que do mbito Da poltica e do poder judiciario.; e um, vs. A emergncia mdica muito diferente da medicina do posto de sade, do consultrio. do tratamento programado, quer seja ou no em hospitais, porque na emergncia ns temos uma situao nica em que a deciso mdica e a deciso tica tem de ser imediatas. E esse imedia-tismo tem de estar pronto, portanto as pessoas que trabalham nesses locais tm de estar preparadas mdica e eticamente dentro dos princpios mdicos e ticos para dar um atendimento competente e um res-peito aos direitos do paciente, que, por ser em um servio de urgncia, mais facilmente corre o risco de ser ameaado. emergncia, os pacientes so levados muitas vezes contra a sua vontade, recusando o atendimento mdico padro. Muitas vezes podem estar com o seu estado mental perturbado, quer seja por um problema psiquitrico, por uma doena ou at por uma intoxicao. Os mdicos que ai trabalham tm muito pouco tempo para ter acesso a capacidade de raciocnio, ou competncia do paciente em tomar decises que protejam sua sade, e tem que tomar decises rpidas, sem ter o beneficio de poder consultar as comisses de tica, por exemplo. Em muitos luga-res, existe o atendimento pr-hospitalar, em que o pessoal no mdico trabalha e os mdicos tambm so responsveis pelas decises dessas pessoas e autorizam medidas, sem ver diretamente os pacientes. Na emergncia, o trabalho e longo, duro, estressante, sem adequa-do repouso e alimentao. Os mdicos so solicitados a tomar conta e a coordenar o cuidado de muitos pacientes simultaneamente. Eles tm de estar cientes de suas limitaes e capacidades para
dar o melhor cuidado aos seus pacientes e mesmo assim no diminuir sua efetivida-de pela fadiga ou frustrao. O paciente tem dificuldade em manter um relacionamento confiden-cial em um ambiente aberto no qual medicas, enfermeiras, pacientes, segurana, policia, socorrista e tcnicos em medicina interagem simulta-neamente. Associado a tudo isso, acrescentam-se os problemas ocasionados por um imperfeito sistema de sade, que acaba sendo mais bem demons-trado em um setor de emergncia, dificultado pelas ms condies de trabalho, de poder dar o atendimento adequado, e acrescentando a is-so, em nosso pais, a inadequada remunerao dos profissionais da rea da sade, facilitando o risco de que o atendimento seja alterado pelo sta-tus social, pelo tipo da doena, do trauma e at da possibilidade de pa-gar, de ter ou no ter dinheiro. A medicina uma profisso a servio da sade do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminao de qualquer natu-reza, e o mdico deve agir com o mximo de zelo e o melhor de sua ca-pacidade profissional. Para que isso acontea, deve ter boas condies de trabalho e ser remunerado de forma justa, de tal maneira que possa viver tranqilamente e possa se atualizar constantemente, podendo sem-pre indicar o procedimento adequado ao paciente. Pelo nosso Cdigo Penal, Cdigo Civil e pelo Cdigo da tica M-dica, vedado ao mdico deixar de atender em setores de urgncia e emergncia, quando for de sua obrigao faz-lo, colocando em risco a vida dos pacientes. Esta e a obrigao maior da profisso mdica e, sem discusso, atravs dos tempos, o respeito pela vida de outra pessoa. Dai o porque de devermos ser sempre contra a greve na emergn-cia e por extenso pena de morte e tortura. A porta de entrada a um sistema de sade se faz ou por meio da ateno primria em nvel dos postos de sade, dos consultrios ou por meio da emergncia, quando, de repente, por inmeras razes, necessitemos de uma ateno a mais imediata possvel, seno corremos o ris-co de termos nossas vidas realmente alteradas. E por esta razo que na situao da emergncia existe uma obrigao real do Estado de prestar e assegurar este tipo de atendimento, que totalmente independen-te da questo ideolgica, porque algum inconsciente no tem a capaci-dade e a competncia de determinar o seu destino e a sociedade co-mo um todo tem de assegurar por meio do Estado o atendimento ade-quado ao cidado. Esta a questo tica mais importante, e ainda no est resolvi-da, porque o restante depende de competncia tcnica que pode ser aprendida nos bancos escolares e no relacionamento humano entre m-dico e paciente, que tambm pode ser ensinado e que deveria s-lo nos bancos escolares. O acesso a setor de emergncia um direito individual de toda a pessoa, e devemos lutar de todas as maneiras a remover as barreiras que impeam esse acesso. O direito emergncia igual ao direito vida. A sociedade como um todo tem de tomar conhecimento deste di-reito para poder assegurar um direito que se estende desde a fase
pr--hospitalar, hospitalar, seguimento ambulatorial e a reabilitao. A fase pr-hospitalar uma extenso do setor de emergncia dentro da comu-nidade. Os pacientes devem ter acesso rapidamente a pessoas treina-das para que possam ser atendidas e transportadas adequadamente a hospitais onde possam receber o atendimento correto. O acesso a es-ses servios no pode ser limitado, e cabe comunidade, como um to-do, participar junto com os que governam assegurando os recursos mnimos para que isso acontea. Para que, quando a populao necessi-tar, no lhe seja negado o atendimento, tomando por base considera-es de ordem financeira. Como exigir condutas ticas, se a parte fundamental no est cor-rigida? Este fator fundamental que leva os mdicos e os pacientes a muitas vezes de digladiarem, a colocar grades nas portas dos pronto-so-corros para que s possam entrar pessoas em estado real e flagrante da situao urgente, negando assistncia a quem procura mdico e vai ao prontosocorro porque sabe que l tem mdico 24 horas. O que ur-gncia? Para quem tem dor de cabea, urgente que ela passe. Como detectar isso? A dor subjetiva. Como limitar o atendimento? Faltam postos de sade, as pessoas esto sendo atendidas nos lugares errados. Os recursos para rea de sade so nfimos. Quanto cada um de ns, as empresas, contribuem para isso? Quanto o Estado separa para a sa-de? Como resolver as questes ticas do relacionamento individual da microssociedade, se a macrossociedade no se importa com isso. Antes da discusso da tica mdica, temos de discutir a tica na sociedade. Enquanto ns cidados no estivermos preocupados com a sade, enquanto com sade, como poderemos ns quando traumatiza-dos, injuriados, doentes, intoxicados, gritar por nossos direitos? Por es-sa razo no nosso pais, neste ano de 1993, encontramos na rea mdi-ca atividades de ponta altamente sofisticadas em pleno funcionamento, ao lado de servios de emergncia sujos, mal estruturados, pondo pacientes internados em corredores, quando deveriam estar em unidades de terapia intensiva. Como discutir tica de relacionamento mdico-pacien-te, se de repente ele se acostumou a esta situao? Os ministros da rea da Sade vm se renovando constantemen-te, e no vejo que, pelo menos na minha vivncia nos ltimos 15 anos tenham realmente contribudo para que esta situao que deve assegu-rar o direito vida venha a melhorar. Deve a sociedade por meio do Es-tado assegurar o direito vida, e na rea da medicina deve existir um setor de emergncia em cada vila, em cada cidade, que assegure, dentro dos recursos disponveis e com prioridade, condies adequadas de tratamento por pessoal devidamente treinado profissional e eticamente. Como conseguir isso? Na vida ns aprendemos que as decises importantes devem iniciar por quem as vai usufruir. Na reas da sade devero, portanto, participar os usurios por meio logicamente de suas representaes, os mdicos e demais profissionais da rea da sade, a rea governamental correspondente e todas aquelas outras pessoas que de alguma forma tm o interesse de manter a sade da populao. Te-mos ai, portanto, pessoas que por certo procuraro encontrar as melho-res solues para um sistema de sade. Tero de ter funo deliberati-va e, se isso funcionar, em nvel de cada governo, isto , em nvel municipal, estadual e federal teremos finalmente pessoas que iro em busca de recursos, que
lutaro para que as decises na rea do oramen-to atinjam realmente a sade e saiam do discurso puramente eleitoral cumprindo o disposto na Constituio: "A Sade um Direito de Todos". Esta a maneira que os pases civilizados utilizam para que seus sistemas de sade possam funcionar, e todos com certa prioridade para emergncia. No nosso pais, essas idias j esto na Constituio e nas leis, falta apenas operacionaliz-las. So os Conselho de Sade, soluo ou pelo menos encaminhadores efetivos com possibilidades de soluo na reas da sade. Se ns tivermos o principio bsico da emergncia resolvido, ficar mais fcil discutir os diferentes aspectos ticos do atendimento. A relao mdico-paciente comea quando o paciente entra literalmente no sistema. O contato inicial geralmente efetuado por pessoal do hospital em um balco de triagem, em uma sala de espera. Algumas vezes o paciente pode at escolher o seu mdico, mas no o mais comum. O ideal seria que essa primeira entrevista fosse efetuada por pessoa da rea da sade e, neste caso, uma enfermeira especializada em atendimento de emergncia que na forma de pr-consulta pudesse levantar os dados bsicos, a histria, as queixas principais e os dados vitais fundamentais. Com isso ela poderia, em um julgamento sumrio conceder a prioridade ou no no atendimento. A ordem aqui de que seroprimeiramente atendidos os casos mais graves, mas todos sero atendidos. Nesta pr-consulta se percebe a angstia, a ansiedade, e isto pode ser tambm prioritrio. A outra forma de entrada e quando vem trazi-da por ambulncia, tendo sido atendida na rua, em casa pelo pessoal mdico e socorrista do sistema pr-hospitalar de atendimento, onde o primeiro contato foi efetuado, por exemplo, por um socorrista bombeiro que foi acionado por um telefone padro por algum da comunidade, atendido em uma central de emergncia por mdico que despachou uma ambulncia para o local, informando que l chegaria em um prazo mnimo de tempo e que, dependendo da informao, estaria tambm presente um mdico. Na urgncia esse atendimento rpido no local do acidente, por exemplo transmite uma tranqilidade e uma esperana de salvamento. Sendo atendida no local por socorrista, por mdico e transportada adequadamente para o hospital, convenientemente selecio-nado, inicia uma relao mais fcil porque esta entrada ao hospital j direta ao setor mdico, uma vez que j iniciou a fase de pr-consulta e em parte j de consulta o que facilita a comunicao com o hospital a situao mais ou menos critica do paciente. Desta forma, o prprio hos-pital j pode se preparar para o atendimento. Nesta fase pr-hospitalar, podem se apresentar pelo menos duas dificuldades, a primeira a neces-sidade de deslocar ou no um medico para o local do acidente, porque, na questo do trauma, a funo pode na fase pr-hospitalar ser delega-da sob superviso mdica, pois em um primeiro momento ns no pre-cisamos fazer um diagnstico exato do que est lesado, e sim tratar de suas conseqncias: proteger o ferimento; diminuir a hemorragia; man-ter a respirao e as batidas do corao. Precisa ou no precisa do m-dico no local. Esta a deciso a ser tomada baseada nas informaes de quem pediu socorro e nas informaes do socorrista no local do aci-dente. Na duvida, dever ter disponvel e enviar um mdico ao local? A outra situao ainda na fase pr-hospitalar na relao com o pacien-te, que deseja ser conduzido para determinado hospital que e aquele que no esta na relao dos hospitais dentro do
sistema de emergncia da cidade e que muitas vezes tem a competncia para efetuar o trata manto. O que fazer? Obedecer rigidamente ao sistema. O que pode ser a soluo mais fcil desde que essa regra tenha sido aprovada pelo Con-selho Municipal da Sade, ou ento saber administrar caso a caso. O que tem de ser uma deciso rpida porque nesse momento est em jo-go o resultado final, e cabe a responsabilidade pelo caso a quem aten-de o paciente. Se o resultado final do atendimento for mau, aquele que levou para determinado hospital tambm responsvel em parte pelo mau resultado. No hospital, o mdico, ao entrar em contato com o paciente, deve-r dar o melhor de sua competncia, respeitando a dignidade de seu paciente. Dever obrigatoriamente comunicar, se possvel, honesta e efe-tivamente, as decises que dever tomar para a proteo da sade. O primeiro objetivo, portanto, dar um caminho para se obterem resulta-dos semelhantes, e isto existindo, nos teremos que respeitar o direito de autodeterminao dos pacientes adultos que tenham capacidade de tomar uma deciso apropriada. O direito do paciente e um principio fun-damental da nossa sociedade e, nesse sentido, para que ele possa decidir, e necessrio ser adequadamente informado. Por exemplo, em algu-mas reas da medicina o tratamento poder ser cirrgico ou conservador, com Inconvenientes em ambos os processos. Se no dia do aciden-te, o paciente no tiver muitas condies de tomar decises, talvez o dia seguinte seja o melhor momento. Lembro-me de um caso de meu pro-fessor de ortopedia, que na visita mdica hospitalar geral aos doentes diante de um paciente que apresentava fratura de fmur e que estava sob trao esqueltica, comentou que seria assim que gostaria de estar se tivesse soando um acidente em uma de nossas estradas e, tendo perdido a conscincia, acordasse no dia seguinte em um leito hospitalar onde ao lado visse um mdico jovem que Ihe dissesse: "O senhor so-freu uma fratura diafisria do fmur e uma contuso craneana, e ns co-locamos essa trao para que agora o senhor pudesse decidir entre um tratamento cirrgico que Ihe possibilitar ficar livre deste leito, que seja feito aqui, ou em sua cidade; ou o senhor deseja permanecer em trao que tambm e um bom mtodo de tratamento, s que ter de permanecer no leito de 60 a 90 dias?". Lembrou ainda que poderia acon-tecer de outra forma, ter acordado no dia seguinte e ao lado do leito o medico Jovem Ihe dissesse : O senhor teve traumatismo craniano leve e, como apresentasse bom estado geral, e uma fratura de fmur trans-versa, ns aproveitamos e j fizemos o tratamento adequado. Operamos e colocamos uma haste intramedular de tal modo, que o senhor dentro de poucos dias poder se locomover com muletas e ficar livre do leito hospitalar". Este caso representa o exemplo tpico que pode acontecer no setor de urgncia. O que passa no crebro de um traumatizado ao se dar conta do seu problema? Em um primeiro momento houve um aci-dente, no sabe bem o que aconteceu, houve vozes, gritos algum Ihe atende, pergunta se est tudo bem, tirado do local, "Graas a Deus" algum est atendendo, colocado em um leito duro e dai, em cima de uma maca ou algo parecido conseguir ver o cu, depois o teto de uma ambulncia, rostos preocupados, dar entrada em outro ambiente continuando vendo rostos e tetos e depois no v mais nada, de repen-te acorda com algum vestido de mdico que no conhece, que no sa-be aonde esta, que hospital que est, que cidade est, que condies tem esses hospital, falam tanto em infeco hospitalar e eu j fui opera-do. Como proceder, deve agradecer por que algum cuidou de mim, devo questiona?
Em principio, quando realmente for possvel o mdico obrigado a dar um tempo suficiente para informar honestamente e respeitosamen-te as informaes para que o paciente possa entender e avaliar as opes e decidir o que seria o melhor atendendo aos seus interesses, na Informao deve estar claramente colocado os riscos e os beneficios. O tempo que o mdico dedica a esse ponto em um setor de emergncia vai estar necessariamente ligado a obrigao com os outros pacientes. Na situao de emergncia esta questo est levantada desde que haja possibilidade para isso, se o paciente tem a capacidade e compe-tncia de tomar decises, nem sempre e possvel e na verdade nem sem-pre d tempo para isso, mas o que se v que parece nunca haver tem-po e nos sabemos que em muitas situaes isto perfeitamente possvel. O mdico deve estar tambm consciente quando atender menores de idade, resguardando os casos em que existe risco de vida ou de gra-ve perda funcional inadivel onde o mdico tem autoridade e competn-cia de agir. O consentimento para tratamento deve ser obtido dos pais ou de quem o representa legalmente, portanto nas condies menos ur-gentes deve o mdico envidar esforos em obter o consentimento dos pais. Poderemos ter situaes em que os pais recusam determinado ti-po de tratamento, mas a severidade da leso possa requerer uma inter-veno imediata. Nessa situao especifica, seria importante a opinio de um segundo mdico, que corrobore com a necessidade da interven-o. E necessrio estar documentado, assim como a comunicao do fato ao diretor tcnico da instituio. O nosso cdigo de tica tambm prev que, em determinadas situaes de menores prximos da maturi-dade, eles mesmos possam tomar as decises que devem ser consideradas. Outra questo que deve ser considerada similar aos menores a dos pacientes mentalmente incapacitados, seja naturalmente ou pela propicia causa que originou a urgncia. Deve o mdico procurar obter, se possvel, o consentimento dos pais, ou de membros da famlia. A verdade fundamental e deve ser apresentada de maneira que o paciente ou seus responsveis possam entender, em algumas situa-es, a presena de um mdico conhecido da famlia poder ajudar a compreender a necessidade de uma interveno e restabelecer um rela-cionamento entre o mdico e paciente. A confidncia um outro principio bsico na relao mdico paciente. No cuidado adequado, o medico necessita obter informaes bastan-te intimas e deve, portanto, tomar cuidado para que essas informaes no sejam violadas e perturbem a relao e que mais pblico. H algu-mas situaes que podem gerar conflitos ticos. O mdico tem a obrigao de seguir as leis e proteger a sociedade como um todo. Se o paciente revela uma informao ou tem uma conduta que pos-sa indicar um perigo a si mesmo e ou aos outros, dever o mdico con-siderar se deve ou no violar a confidncia. Essas circunstncias em ge-ral incluem a comunicao de uma doena de notificao compulsrio e at de notificar a policia, se for crime de ao publica. Enquanto o me-dico coloca na mente estas dificuldades e faz o balano entre o pacien-te e a proteo da sociedade, deve lembrar que no agente de policia e que o principio da confiabilidade no
pode ser violado por qualquer coisa. O interesse no cuidado da sade do seu paciente deve ser a sua principal preocupao. No setor de urgncia, a questo da manuteno da vida e do aten-dimento parada cardio-respiratria com certeza o momento mais an-gustiante, na verdade a razo principal de ser do setor de urgncia. Todo o servio dever ter um protocolo de atendimento que dever ser seguido rigidamente em todos os seus tpicos, at que finalmente o responsvel considere o paciente morto. Esta situao de parada cardiorrespiratria poder eventualmente acontecer em momentos na vida de uma pessoa que possa apresentar situaes que meream consideraes, como, por exemplo, com uma doena terminal o paciente tenha manifestado o desejo de que no se tomasse medida de ressuscitao, caso tivesse uma parada cardior-respiratria. Quais os limites de resteitar esta deciso? Saber o paciente realmente de sua situao? Estara o mdico que o atende comumente com a certeza do diagnstico e evoluo? Neste ponto nos encontramos em um terreno que est entre tomar uma atitude mdica, e que na dvida deve ser tomada, ou entopassarmos a iniciar uma discusso que entra no campo da eutansia passiva, que no o assunto deste capitulo, mas que devemos encarar com maior serenidade, porquanto a eutansia ativa na nossa opinio no faz parte da prtica mdica e eticamente inaceitvel. A minha experincia no setor da urgncia tem mostrado outro cam-po que freqentemente desrespeitado. Como fica a famlia do acidenta-do, do doente? Ela habitualmente relegada a um canto, sem ter acesso s a nenhuma informao, como se ela no fizesse parte do caso, co-mo se o paciente que est sendo corretamente atendido no fosse mais parte daquela famlia, como se o setor de urgncia no tivesse obriga-o com aquelas pessoas. Lembra o passageiro de uma aeronave que no obtm nenhuma informao na eventual complicao a bordo e que isso diz respeito apenas aos que dirigem e cuidam do avio. Parece que esqueceram que os pais, os cnjuges, os filhos, os amigos no tm ser timentos, no tem dvidas, no sofrem angstias. Quantas vezes fomos chamados por um familiar amigo para ir at o pronto-socorro, uma vez que, por eu ser mdico, poderia ter acesso a um setor de urgncia e po-deria saber o que estava acontecendo com seu filho, se estava vivo, se estava morto, se tinha condies de sobrevivncia, pois j estava uma hora l dentro e ningum dizia nada. Em um tempo em que o homem assiste o parto de sua mulher, em um tempo em que a criana tem o direito de ter a presena da me ao lado de seu leito no hospital, ainda difcil a obteno de informaes em nvel do setor de urgncia. No servio de emergncia padro, deve existir a sala da famlia, onde algum profissional da rea da sade poder mant-los informados. O ideal tal-vez fosse uma psicloga, pois existem pessoas mais ou menos angustia-das a quem o mdico, no momento possvel, desde que no interfira na sua ao, tenha a obrigao de levar o conhecimento da real situao. Podem existir conflitos entre o mdico, o paciente, os familiares e a questo da transferncia de mdico ou de hospital pode surgir. Deve o mdico, considerar esta situao como natural e discutir o problema com quem de direito. A primeira situao seria, o que dever fundamen-tal do mdico que se o paciente necessitar de cuidados mais intensi-vos que o hospital no consiga resolver. O mdico que deve solicitar a transferncia, dando
toda a assistncia para que isso se efetive ade-quadamente. A outra poder ser a impresso do paciente e dos familia-res. Seno houver risco real de vida, deve o mdico expor claramente os outros riscos e concordar desde que os cuidados de transporte ou para onde se dirigir o paciente forem adequados. O melhor resultado ns vamos obter quando o paciente quiser ser por ns tratados. Um outro tpico se desenvolve e acaba acontecendo no setor de urgncia, a questo da morte enceflica, que leva a decises sobre a possvel doao de rgos para o transplante. O medico que atende urgncias tem de entender claramente os critrios de morte enceflica, e o paciente que acabou de ter decretada essa morte torna-se um candida-to a poder ajudar a outros pacientes. Cabe a esse mdico que durante horas lutou pela vida e com toda compaixo possvel, calmamente, infor-mar a famlia da situao para que ela possa entender, compreender e decidir pela doao, no caso de o paciente em vida no deixar nenhum documento explicitando este desejo, j que a lei lhe d esse direito. O setor de urgncia em um hospital o lugar onde principalmen-te em nosso meio h uma troca constante de pessoal pelo trabalho r-duo, estafante que l se exerce. O controle de qualidade, portanto, no fcil de ser mantido e deve e tem responsabilidade sobre este setor o diretor tcnico da Instituio no sentido de manter educao mdica con-tinuada, por meio de cursos e fundamentalmente no estabelecimento de protocolos em cada tipo de ao que exera. Isto manter uma roti-na em cada procedimento, que dever ser obedecida rigidamente em cada hora, em cada dia, por cada um dos plantonistas, de tal modo que a rotina seja mantida e as mudanas que existam sejam justificadas e todos os atos devidamente documentados. S desta maneira, teremos condies de verificar na evoluo a qualidade do atendimento. No se-tor de urgncia, o paciente procura ou conduzido ao hospital, no pro-cura diretamente este ou aquele profissional em um primeiro momento porque a situao de urgncia no esperada. A existncia de protoco-lo, a fiel, mas sucinta descrio dos atos executados, seguindo um pro-tocolo previamente discutindo e aprovado medicamente, coerente, em um pronturio, a maior defesa que o mdico ter, se for necessrio no mbito tico, bem como no campo da justia comum. O tratamento na rea da urgncia termina em geral ou na interna-o que se d ao redor dos 30% dos casos e onde ns teremos outros tipos de responsabilidades e condutas ticas que no cabem agora dis-cutir, ou ento no encaminhamento para casa e para um atendimento de seguimento ambulatorial que todo o hospital de emergncia deve ter. O paciente sair com uma receita do que fazer, e a este doente tero de ser fornecidas as informaes sobre o que possa acontecer principal-mente sobre as possveis complicaes que possam advir, quer pela evo-luo natural doena, quer por possveis complicaes do prprio trata-mento efetuado, pois em medicina no existe o absoluto. E uma profis-so de meios, apesar de que em parte em determinadas situaes seja tambm de resultado. O ideal que essas informaes, alm da descri-o oral, fossem feitas tambm por escrito, no sendo to difceis por-que elas j esto at padronizadas, e isto facilitaria o entendimento en-tre o mdico e paciente, principalmente se forem decorrentes do trata-mento. O paciente, quando atendido no setor da urgncia, pelo proble-ma apresentado que no era esperado, fica de certo modo perturbado e acaba muitas vezes no escutando o que o medico falou e, se rece-ber por escrito, com certeza ir ler no aconchego do seu lar.
O mdico trabalha com enfermeiras, tcnicos de raios x, tcnicos de laboratrio, assistentes sociais, psicolgicos, pessoal da ares de re-cepo, socorristas do atendimento prhcspitalar e outros mdicos. De-ve existir um inter-relacionamento em que alm da cordialidade e boa educao, prevalea a competncia profissional, que o que ir aten-der o melhor interesse do paciente. O mdico que tem a maior respon-sabilidade sobre os aspectos no manuseio do paciente, e toda a funo exercida por outros profissionais por ele delegada, para isso ele tem de ter a competncia de estar em dia com o avano sempre existente da medicina. Isto acontecendo, muito provavelmente por parte dele no existiria nenhum deslize tico. Mas quando a falta de cordialidade e de educao prevalecer, ento sim passaremos a ter dificuldades no relacio-namento. Quando a falta de competncia surgir, perder o mdico o seu espao e as outras profisses, principalmente a enfermagem, ocuparo o seu lugar. Ao que parece o que vem acontecendo com as diversas reas da sade, necessitando de repente revisar e definir o que ato mdico. E no campo da emergncia que o hospital est exposto maior quantidade de queixas e reclamaes. aqui que entra de modo impor-tante a comisso de tica da instituio, um frum relativamente recen-te e ainda no foi percebido pela populao como um lugar onde pode-r esclarecer suas dvidas e at encaminhar uma reclamao real de um atendimento no realizado corretamente. Recordo que em um dos hospitais de emergncia que eu visitei, em toda informao escrita, for-necida ao paciente, existia no final um aviso para que, se tivesse algu-ma discordncia ou reclamao a fazer, se dirigisse este fato para seus amigos e familiares. Outro fato importante seria estar afixado em local visvel os nomes da comisso de tica e o respectivo local onde pode-riam ser encontrados, em uma demonstrao clara de que o hospital es-ta preocupado com o bom atendimento de seus pacientes, para que se algo houve que no correspondeu, o hospital demonstre o firme propsi-to de corrigir falhas que porventura existam. O servio de pronto-socorro apresenta a oportunidade do mdico utilizar vrios sistemas de diagnsticos; no tratamento, a oportunidade de usar os mais variados tipos de implantes. Em virtude disso, tem de tomar cuidado com os presentes que possa ganhar da indstria biom-dica, que no podem e no devem influenciar no julgamento do que uti-lizar. Pequenos presentes ou alguma forma de melhorar a educao po-dem ser aceitas, mas presentes de alto custo, viagens que iro influen-ciar o julgamento clinico no podem ser aceitos. Na vida de uma cidade, existem momentos que podem se transfor-mar em grandes tragdias, que quando acontecem desastres como acidentes com transportes coletivos, nibus, avio, trem, em que ar mesmo tempo surgem dezenas de feridos. Nesses casos, o mdico que atende urgncias ter de tomar decises que beneficiem o maior numero de sobrevivestes. Isto acontecer na triagem de quem podara se be-neficiar dos recursos existentes, optando em primeiro lugar, por aquelas pessoas que julgar em estado grave, enquanto outras que apresentem leses menores devem ser colocadas em situao confortvel, para que possam aguardar a sua assistncia at que as coisas se acomodem. Todas as questes que apresentamos j foram estudadas, j foram discutidas, j esto escritas. Por que ser que levamos tanto tempo pa-ra operacionaliz-las? Por que ser que o ensino da emergncia-urgn-cia, a maneira de se comportar, encontra tanta dificuldade em ser ensi-nado, nas escolas mdicas? Ser porque a medicina se desenvolveu tan-to, com fatos detalhes tcnicos em cada ato que se tornou difcil junta--los todos em um s
indivduo e ao mesmo tempo consider-lo um ser humano que sente, que sofre que no sabe das coisas? Creio que no dedicamos o tempo suficiente para estudar, falar de pessoas; de como nos entender com elas. O curso mdico se transformou em informaes, conhecimentos e competncias tcnicas que so muito importantes. Mas a formao mdica s estar completa com o domnio do conheci-mento e do comportamento do homem sozinho ou vivendo em socieda-de, e na emergncia que a fragilidade da estrutura emocional se colo-ca na superfcie. Teremos de incentivar esses aspectos na formao do nosso profissional da rea da sade, principalmente o mdico, que nor-malmente comanda essa equipe. O ltimo tpico que gostaramos de discutir a greve na emergn-cia. Ns j vimos que o nosso cdigo da tica, que o cdigo da vida, d-nos o direito de fazer greve, mas, com a exceo do setor de urgn- cia. Do ponto de vista tico, a discusso terminaria aqui, pois vedado ao mdico deixar de atender em setores de urgncia-emergncia, quan-do for de sua obrigao faz-lo, colocando em risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por deciso majoritria da categoria. Mas, mesmo assim, alguns conceitos eu gostaria de emitir. Em todas as greves do setor sade que eu presenciei, existiam as conhecidas comisses ticas de triagem, que definiam o que era ou no emergncia e com toda certe-za ocorriam erros de diagnstico. O que emergncia? Nem os mdi-cos sabem com certeza delimitar os seus limites. O que no emergncia para o mdico nesse momento, pode se tornar daqui a pouco. E a emergncia que o mdico no viu que, defiagrada a greve, o paciente no procura atendimento porque sabe que no ser atendido, ento o caso se agrava e no d mais tempo de fazer alguma coisa. O sistema de sade francs foi em busca tambm da definio do que emergn-cia, mas, junto aos usurios do sistema, o que a populao entende por emergncia. Na verdade ns vamos lentamente nos envolvendo em to-do o conceito de greve no setor sade. As greves existentes ou que exis-tiram sempre foram contra instituies, e nunca contra os usurios, que normalmente contribuem com o que lhes pedido. Mas so eles as viti-mas, e o setor os usa como refns, justo? A greve no setor da sade, portanto, no meu entender, no tem tra-zido de forma clara os resultados almejados. Acredito que, somente quan-do discutirmos a crise do setor com aqueles que o usufruem e os fizer-mos entender que o ganho adequado e melhores condies de trabalho fundamental para o bom atendimento, ns teremos a soluo para es-ses problemas. J existe possibilidade que a representao mdica nos conselhos de sade, que podem deliberar para onde vo os recur-sos disponveis e com que prioridade. Finalmente, podemos tirar algumas concluses sobre a tica e a responsabilidade mdica na emergncia. Aqueles mdicos que traba-lham no setor tm a obrigao de dar o melhor de sua ateno tcnica e tica a todos os pacientes que procuram esse setor. E a instituio que o mantm tem obrigao de fornecer a ele direta ou indiretamente uma educao mdica continuada, que possa manter sua qualidade no atendimento, exigindo das organizaes mantenedoras que forneam os recursos; que eles sejam correspondentes s necessidades, manten-do em todas as reas sistemas de controle de qualidade, usando, se for necessrio, os rgos fiscalizadores das profisses, no se esouecen-do de lanar mo tambm da justia comum. Bibliografia
- American College of Emergency Physicians. Ethics Manual, Anais of Emer-gency Medicine. 20: October, 1991, 1153-1162. - Cdigo de tica mdica. Resol. CEM 1246/88. - Dicionario Mdico-Blakiston-2a Edio-Organizao Andrei Editora Ltda-So Paulo. - Dicionrio de Termos Mdicos-88 Edio: Dr. Pedro A. Pinto-Editora Cien-tifica-Rio, 1962. Aspectos Eticos Y Legales de La Reproduccion Asistida Dr. Jorge Ms Daz Dr. Julio Gonzlez Hernndez Lic. Mara Elena Cobas Cobiella Lic. Patrcia Gonzlez Vilalta Lic. Alejandro Prez Rodrguez RESUMEN La infertilidad constituye un problema que puede alectar a ambos miembros de la pareja. Con el tiempo, el conflicto puede agravarse y lle-gar a constituir un mativo de disolucin del vinculo afectivo, con la reper cusion psicosocial que estas rupturas traen aparejadas. Aunque la su perpoblacin es un problema mucho ms apremiante que los transtor nos de la reproducin, ho por ello estos ltimos dejan de ser una preacu pacin creciente para la sociedad. Con la aplicacin a nivel mundial de nuevas tcnicas de reproducin 0 concepcn as/stida, han surgido nuevos y graves problemas de indole tico legal. En nuestro trabajo se identifica la infertilidad como problema de salud. Se hace una revisin de los principales procederes teraputicos tuales y de los problemas surgidos con ellos a nivel internacional. S' analizan tambin las propuestas y recomendaciones e rganos e instituciones internacionales. Se exponen las limitantes que suponen las normas dispersas en las leyes vigentes y la ausencia de una legislacin e' pecifica. Se identifican los principales aspectos que pueden resultar conflictivos y se recomienda la creacin de Comisines Nacionales para el estudio y la solucin de estos problemas. INTRODUCCIN L determinacin de tener descendencia y el embazo son procesos complejos. En estos intervienen factores psicolgicos, sociales, econ-micos, religiosos, e incluso legales. Segn las estadisticas internacionales la infertilidad puede afectar entre el 8% y el 15% de las parejas en la etapa reproductiva de la vida. La bsqueda de remedios para la infertilidad se remonta a los tiem-pos biblicos, pero no es hasta el siglo actual, con el desarrollo de las nuevas tcnicas de reproduccin asistida, que este tema ha llamado la atencion de los juristas. Aunque en estas discusiones la
atencion esta centrada en la proteccion de la vida humana, su traduccin en las nume-rosas resoluciones y documentos emitidos por comisiones creadas at afec-to van desde el control estatal con un final abierto, hasta restricciones juridicas categricas. El impacto est dado, no tanto por la tecnologia en si, como por el reto que su aplicacin plantea a los juristas en lo refe-rente a determinar el alcance de los derechos y libertades previstos por las leyes. El papel creciente de los gobiernos nacionales en las institucio-nes e salud y en la seleccin de los participantes se ha extendido ade-ms, al control de la donacion y disposicin de los gametos y embriones humanos. De esta forma la tecnologia reproductiva se convierte en una excusa para fomentar dos tendencias: la ya presente ' medicalizcin'' de la reproduccin y la "judicializacin" del embarazo. Cbe entonces preguntarse hasta que punto es posible controlar (sin afectar) el desr-rollo de la tecnologia reproductiva y al mismo tiempo respetar los dere-chos legitimos de la persona. Sin dudas, la respuestas a esta interrogan-te no est al alcance de la mano, y es ahi donde el Derecho, haciendo uso de la experiencia y los recursos disponibles, y a travs de las perso-nas encargadas de redactar y conformar las Leyes, va a desempedar un papel determinante. LA REPRODUCCION A TRAVES DE LA HISTORIA El primer informe de la utilizacin de la fertilizacin in vitro es debi-do a Pincus, trabajando con conejos en 1930. En 1953 se informa el pri-mer nascimiento de un nino por inseminacion con semen congelado por Bunge y Sherman. En 1955 se llev a cabo el Primer Congreso Mundial sobre Esterelidad y Fertilidad. En el ano 1964, en las recomendaciones del IX Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en La Haya, se planteaba que las leyes nacionales reconocieran el aborto legal y la posibilidad de la inseminacion artificial con consentimento de los esposos. El nacimiento en Inglaterra en 1978 del primer "beb probeta" cons-tituy un momento culminante para la ciencia. A partir de ese momento, miles e parejas se han beneficiado con el empleo de esta y otras tcnicas de reproduccin asistida. En 1984 se realiz la primera transferencia de un embrin al utero de otra mujer que no era la madre gentica en Los Angeles (EEUU) por Buston. Todo esto ha traido como consecuencia que en los paises en los cuales comenzaron~a aplicarse tales tcnicas surgieran numerosos pro-blemas tico-legales, que han hecho necesario modificar las legislacio-nes existentes, o incluso la creacin de nuevas leyes, que reguien diver-sos aspectos de la filiacion, la herencia,la paternidad, el derecho de fa-milia e incluso, el derecho a la vida. LA INFERTILIDAD Y LA REPRODUCCION COMO PROBLEMAS DE SALUD La infertilidad es sin dudas un problema con repercusion social, que llega a afectar no solo el rendimiento laboral e intelectual del ser humano sino tambin la integridad de la familia y las relaciones inter-personaies de la pareja y, consecuentemente, su salud mental y fisica, si tenemos en cuenta la definicin de salud dada por la OMS "...un esta-do de perfecto bienestar fisico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad".
La evidencia demogrfica y epidemiolgica sugiere que aproxima-damente 8% de las parejas experimentan algn tipo de infertilidad du-rante su vida reproductiva. Cuando estos datos se extrapolan a la pobla-cin global representan de 50 a 80 millones de personas que pueden sufrir de infertilidad. El cambio en los patrones demogrficos ocurridos en los ltimos 50 ahos en los paises desarrollados y en los ltimos 20 ahos en algunos paises en desarrollo hace que la infertilidad adquiera una nueva magni-tud y se convierta en un motivo de preocupacin publica. La solicitud que se hace a la pareja de limitar voluntariamente su propia fertilidad debe estar acompahada de facilidades para regular todos los aspectos de su fertilidad incluyendo los servicios de asesoramiento, diagnstico y tratamiento de la infertilidad cuando la pareja desee tener su primer hijo u otro niho. An cuando la prevalencia de la infertilidad puede no aumentar, la demanda y la expectativa de los servicios para la infertili-dad aumentan como consecuencia de los cambios en los patrones fami-liares y la preocupacin pblica por la infertilidad y adems como resul-tado delo espectacular y la propaganda desplegada airededor de la ferti-lizacin in vitro, la transferencia intratubaria de gametos, la subrogacin y otros procederes. En 1978 el Programa Especial del Grupo Asesor de la OMS estu" vo de acuerdo en crear un equipo de rabajo para el diagnstico y trata-miento de la infertilidad. Las tasas de infertilidad primaria encontradas eran bastante cons-tantes en cada pais y en general variaron entre 1,% y 3,% en paises asiticos, 1,9% en Brasil y eran considerablemente altas en paises afri-canos (12% en Camern). Las tasas de infertilidad secundaria son difici-les de determinar pero parece que ellas aumentan con la edad y no fue posible distinguir entre infertilidad voluntaria e infertilidad no voluntaria. Las tasas en India, Tallandia y Vietnam estaban entre 7,5% y 15,3%, mientras que Pakistn era mucho ms alta: en Brasil era muy alta en comparacin con la baja prevalencia de infertilidad primaria. De todo esto podemos deducir,como lo hace Vaquero Puerta que, un aspecto de la infertilidad que la hace socialmente relevante es su alta prevalencia. Asumiendo una posicin intermedia, creemos que, si bien se trata de un problema social en la dinmica interna de la pareja, la infertilidad pudiera constituir un serio problema de salud que los gobiernos, sin des-cuidar el destino de los recursos, y atendiendo al orden de prioridade que debe existir cuanto a los males que aquejam la salud de la humani-dad, estn obligados a solucionar. CARACTERiSTICAS DEE PROCESO REPRODUTIVO Estadios en el desarrollo embrionario 1. Estadio preembrionario.
El total de clulas y tejidos derivados del vulo fertilizado hasta el estadio de 15 dias, cuando toma su primera forma como una entidad dis-tintiva, ha sido referido con los trminos de: conceptus, preembrin, pro-embrion o cigoto. Se considera que hasta el estadio de 8 o 16 clulas (3 dias des-pues de la fertilizacin), todas las clulas del conceptus son equivalen-tes unas con as otras y totipotenciales, en el sentido de que son poten-cialmente capaces de contribuir a la formacin de cualquier parte del fu-turo embrin o de la membrana extraembrionaria. En los proximos 10 dias conceptus crece hasta alcanzar miles de clulas, y grupos de ellas inician la formacin de estructuras extraembrionarias. El proceso de im-plantacin, dura del dia 7 al 14 despus de la fertilizacion. 2. Estadio embrionario. Se considera que el estadio embrionario dura desde la fertilizacion hasta la 8a semana, a partir de entonces utilizado el trmino es el de fe-to. En el embarazo humano normal comienza el dia 15 despues de la fertilizacin, cuando aparece la primera estria celular primitiva en la pla-ca embrionaria. La distincin entre estadio embrionario y preembrionario no es ar-bitraria: a partir del estadio de 15 dias el preembrin es isomrfico con el feto, el beb, y el adulto, de modo que es posible definir que clulas y tejidos van a contribuir a la formacin del feto de ahi al recin nacido y, cules van a contribuir a la formacin de las membranas extraembrionarias. El estadio de 15 dias es tambien el punto en el cual el desarrol-lo humano individual comienza, ya que es el ltimo punto en el cual pue-de ocurrir un gamelo monocigtico (los llamados idnticos). Si 2 estrias primitivas aparecen en la placa embrinaria, se desarrollarn 2 embrio-nes y si ambas sobreviven se desarrollar el embarazo gemelar. Este aspecto es muy importante para glosas. Status biolgico del nuevo ser. 1. Viable vs no viable. Desde el punto de vista mdico, un feto viable es aquel que ha al-canzado un estadio de madurez tal tencia independientemente. Despus del nacimiento, un feto viable es considerado un recin nacido. En Medicina, la frontera entre la viabilidad y la no viabilidad no es absoluta: depende de los recursos disponibles para el cuidado intensi-vo del beb prematuro. Cuando han nacido vivos el Derecho les conce-de proteccin, ya tienen personalidad juridica y por lo tanto, derecho a la salud. La teoria de la viabilidad aparece dentro de las que dan origen a la personalidad junto a 1 a de la concepcin, nacimiento y la teoria eclctica.
La teoria del nacimiento se basa en que. durante la concepcin del feto, no tiene vida independiente de la madre. El concebido como es considerado una esperanza de hombre (spes hominis) se le atribuyen derechos que no suponen reconocimiento de su existencia juridica, es-tos protegen intereses expectantes y futuros que slo con el nacimien-to pueden convertirse en derechos definitivos. Con respecto a la teoria de la viabilidad, se exige para reconoce' a la persona, no slo el hecho de nacer viva sino adems, la aptitud pa-ra seguir viviendo fuera del claustro materno, requisito ste exigido en-tre otros Cdigos por los de Francia e Italia. Del actual Cdigo Civil espahol podemos inferir, que la solucin que adopta es eclctica, pues, despues de sentar el principio de que: "el nacimiento determina la personalidad", adade que: "el concebido se tiene por nacido para todos efectos que le sean favorables , "el concebido se tiene por nacido para todos efectos que le sean favorables"siempre que tuviere figura humana yivere 24 horas enteramente desprendido del seno materno.
ESTADO ACTUAL DEL MANEJO DE LA PAREJA INFERTIL LAS NUEVAS TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS 1. Fertilizacin In Vitro (FIV) El trmino fertilizacin in vitro se utiliza para referirse al proceder Tdio del cual, se produce la fertilizacion extracorporea del volo, tando los gametos propios de la pareja. Entre las objeciones que se han hecho a este proceder estn: 1. Separa la creacin de la vida, de la relacin sexual. 2. La posibilidad de crear ninos con defectos fisicos o mentales, lo que en realidad no se ha comprobado. 3. De ser aprobado este proceder, se puede pesar a la aplicatin de otras variantes de la FIV, muchas de las cuales son rechaza-das por gran numero de personas. , 4. Como la infertilidad no es una afeccin que ponga en peligro la vida, la aplicacin de la FIV como modalidad teraputica pa-ra una condicin que no es mdicamente riesgosa puede llevar al terreno mdico otros problemas humanos bsicos. a muchos preocupa la utilizacin de experto y recursos para au-mentar la natalidad en un mundo ya superpoblado. Il. Inseminacin Artificial 1. Inseminacin con semen o espermatozoides del marido Inseminacin homloga Entre los senalamientos que se han hecho a este proceder estan:
a) Su eficacia es cuestionable, sobre todo en casos de infertilidad masculina de causa no bien definida. b) La preocupacin que la manipulacin del semen pueda ser utili-zada para la seleccin del sexo, separando los espermatozoides portadores del cromosoma X o Y, lo cual no se considera segu-ro ni tico. c) El riesgo de la "tecnificacion" de la reproduccin, al separar la procreacin de su expresin sexual. 2. Inseminacin con semen o espermatozoides de donantes Inseminacin heterloga Las principales preocupaciones que surgen con este proceder son as a la introduccin de gametos de terceras partes en la unidad fa, y son: a) La posibilidad de crear problemas psicolgicos en el esposo, la mujer receptora y/o el donante, si este ltimo es identificado o conocido. b) El riesgo de transmisin de afecciones geneticas graves o enfermedades infecciosas por el uso de semen donado. El esposo tambin puede verse afectado. c) La posibilidad de consanguinidad por el uso excesivo de mismo donante. d) Los efectos psicolgicos en el nidos. Este incluye la afectacin de las relaciones interpersonales por la necesidad de querer mantener el secreto sobre el origen del nino. Puede haber afectacin dei nino si en forma accidental llegar a conocer su origen. Ill. Variantes de la Fertilizacin In Vitro 1. FIV con semen donado Las criticas que se han hecho a este proceder son las mismas que las de la inseminacin artificial heterloga y las de la FIV. Con la FIV con semen de donante surge adems la duda acerca de la paternidad si el semen del donante es utilizado despus de haberse intentado la fertilizacion con semen del marido. 2. FIV con vulo donado Este proceder puede acarrear riesgos mdicos para el donante, el receptor y la descendencia. Pueden presentarse problemas en las rela-ciones familiares en el donante y el receptor, con posibles efectos sobre el nin. Es posible que haya rechazo inmunolgico al vulo implantado y finalmente, no existe una legislacin especfica que identifique quien es la madre cuando se usan vulos donados. La mayoria de los estados consideran a la madre
gestacional como la madre legal. Aunque no se presenten problemas en las relaciones entre el donante y la descenden-cia, debe considerarse al donante de vulos en la misma forma que al donante de semen. 3. Donacin de preembriones provenientes de la FIV Aunque es un proceder poco utilizado, su indicacin esta justifica-da cuando ambos miembros de 18 pareja tienen factores que impiden la fertilizacin. Las objeciones planteadas son similares a las que se hacen a las donaciones de gametos (espermatozoides y vulos). Al igual que con la donacin de ovulos, es posible la incompatibilidad de causa inmunologi-ca. El principal problema tico que se plantea surge de la utilizacin de gametos provenientes de terceras partes por su pareja en la cual ninguno de los dos tiene relaciones genticas lineales con la descendencia. Esta es una situacin algo similar a la adopcin. El status legal de preem-brion donado actualmente est en proceso de evolucin, aunque existe consenso general em la proteccin del conceptus bajo las leyes civiles y criminales. En lo que respecta a la maternidad del preembrin dona-do, la mayoria de las cortes se ha pronunciado porque la madre gesta-cional es la madre legal. 4. Lavado uterino para transferencia de preembriones Entre los sehalamientos que se han hecho a este proceder estan: a) La posibilidad de infeccion intrauterina debida a la manipulacin. b) El riesgo de transmitir infecciones a la donante, la receptora o al preembrin. Los problemas inherentes a la utilizacin de terceras partes, in-cluyendo la posibilidad de que el donante quiera conservar el preembrin. Si se ha utilizado el semen del marido de la espo-sa infrtil y la pareja quiere demostrar su relacin gentica con el nino, deben realizarse las pruebas de ra esto. IV. Criopreservacin 1. Criopreservacin de semen Las objeciones a este proceder son las mismas que las expresa-I as para la inseminacion con semen fresco. A estas se anade el riesgo e tencial de los efectos de la congelacindescongelacin sobre el embrin. Su principal ventaja est em que como media un periodo de laten-ia antes de que el semen sea utilizado, es posible realizar las pruebas ecesarias para el diagnstico de emfermedades como el SIDA y la hepatitis B. En caso de que el hombre muera despus que su semen ha sido ongelado para usarlo em su pareja, sta puede solicitar ser insemina-a con el semen de su esposo postmorten. Esto crea problemas que an ms all de los surgidos con la inseminacin artificial con semen fres-co . Ei hecho de haber tenido relaciones sexuales estables previas a la congelacion del
semen y a la muerte del esposo pudieran hacer esta po-| s bilidad mas aceptable que el uso de donante annimo. 2. Criopreservacin de vulos La principal preocupacin mdica respecto a este proceder est em que el vulo es una clula nica,con una masa relativamente grande de citoplasma, por lo tanto mas susceptibles a los posibles efectos negativos de la congelacin-descongelacion. 3. Criopreservacin de preembriones Con el desarrollo de las tcnicas de FIV se ha comprobado que la fertilizacin de multiples vulos aumenta la tasa de xitos de embarazo, pe ro se incrementan las posibil idades de em barazos gemelares o m lti-ples. Esto ha hecho que se tome en consideracin la preservacin por congelacin de los preembriones supernumerarios no utilizados para ser utilizados en embarazos posteriores de la pareja, o ser destinados a otros fines (donacin a parejas infrtiles, investigaciones cientificas). La principal preocupacin con el uso de preembriones criopreserva-dos es la posibilidad de dano provocado por la congelacin y desconge-lacin del material gentico. Otro riesgo potencial es el dano provocado por las fallas en el sistema de conservacin del material. Otro aspecto muy debatido es el concerniente al status juridico del preembrion. Los problemas de la posesin y los derechos de herencia del preembrin han sido identificados pero no resueltos. Desde el pun-to de vista de la moral, estas tcnicas representan una intrusin en el proceso natural de la reproduccin, al poner la vida humana en un esta-do de suspensin por congelacin profunda, por un periodo variable de tiempo antes de su utilizacin. Si no se estabelece una limitacin en tiem-po para este periodo de congelacion y su uso posterior, se pueden cre-ar graves problemas en la estructura social y familiar, al perderse la line-alidad genealgica. Por estas razones es importante, antes de empren-der estas tcnicas, explicar bien a la pareja las posibilidades de xito en cuanto al embarazo, asi como los posibles riesgos de alteraciones en el embrin, producto del proceso em si y solicitar previamente el con-sentimiento informado y por escrito de la pareja. El tiempo de almacena-miento de los preembriones debe estar limitado el tiempo, pero se reco-mienda que no debe exceder al periodo reproductivo del donante del vulo, o mientras prevalezca el objetivo para el cual fue previsto. Para muchos es inaceptable la transferencia de una generacin a otra. Antes de iniciar el proceso de preservacin debe quedar bien establecido por la pareja la disposicin de los preembriones no transferidos, el deseo mutuo de congelarlos para su propio uso, donarlos a otra pareja infrtil, o donarlos para su uso en investigaciones cientificas. V. Sibrogacin 1. Portadora subrogad~a, gestacin de alquiler o sustituta. Madre que gesta un embrion no ligado a ella geneticamente
La portadora subrogada aporta el componente gestacional (tero) de la reproduccin, pero no el componente gentico, a diferencia de la llamada madre sub-rogada que aporta tanto el componente gentico (vulol com el componente gestacional. El uso de uma portadora subrogada est indicado en mujeres cu-yos ovarios tienen la capacidad de producir vulos normalmente, pero son incapaces de llevar a termino la gestacion por defectos uterinos, malformaciones, problemas de capacidad, o por afecciones limitantes para la vida de la madre o que pueden poner en peligro la vida del nio. Existen opiniones contradictorias en cuanto al empleo de la porta-dora subrogada que pudieran resumirse en: a) Para algunos es impropio solicitarle a una mujer que acte como portadora subrogada, se someta a los riesgos de la gestacin y el parto sin recibir la compensacin natural a este esfuerzo. b) La pareja o la familia puede ejercer algn tipo de presin (social o econmica) sobre la posible portadora subrogada, lo que pudiera verse como una forma de explotacin. c) Puede haber afectacin de la pareja (padres genticos) si la su-brogada se niega a entregar el niho despus de su nacimiento. d) El nido puede verse afectado psicologicamente si llegara a cono-cer que es nacido de una portadora subrogada y quisiera conocerla. e) Existe la posibilidad de que la pareja pueda ser molestada por la portadora o algn intermediario, en la bsqueda de beneficios economicos por estos arreglos. f) Se ha criticado fuertemente el uso de una portadora subrogada por razones sociales ms que mdicas, como es el caso de artis-tas, modelos o ejecutivas, que por razones de trabajo o estti-cas, prefieren utilizar estos servicios. . Por otra parte, como en el caso de la donacin de rganos y tejios, la subrogacion ofrece a esta mujer la satisfaccin de contribuir y, para muchas de estas mujeres el embarazo em si es una satisfaccin. Otras preccupaciones relacionadas con el uso de la portadora subrogada estn centradas en: a) El riesgo potencial de daho fisico y/o psicolgico para todas las partes, incluyendo al niho. b) El pago de la portadora subrogada. Muchos aprueban la subro-gacion sobre la base de la voluntariedad, sin que medie un inte-rs econmico. Para otros, ei pago es necesario en caso de que no puede obtenerse una portadora voluntaria, o cuando los pa-dres quieren mantener el anonimato o no quieren usar un ami-go o familiar. c) La ausencia de leyes que protejan a la pareja que usa una porta-dora subrogada. En ese sentido, pueden ser tiles los arreglos previos entre las partes. en ocasiones, ha sido
necesario llevarel caso a las cortes y solicitar la inscripcin legal del nidos con los nombres de sus padres genticos, previo acuerdo con la su-brogada. d) De especial in~portancia es determinar la paternidad del niho. Existe la posibilidad de que la subrogada quede embarazada de su proplo compahero em forma inadvertida. Apesar de lo expuesto, existe el criterio generalizado de que el uso de la portadora subrogada por razones mdicas est justificado. 2. Madre subrogada, madre sustituta Una madre subrogada es una mujer que ha sido inseminada artifi-cialmente con el semen de un hombre que no es su esposo o compahe-ro: lleva a trmino el embarazo y despus del parto entrega el niho al padre gentico para su crianza y custodia. La primera indicacion para el uso de la madre subrogada es la inca-pacidad de una mujer para proveer los componentes geneticos y gesta-cionales del embarazo, como es el caso de mujeres a las que se les ha extirpado el tero y los ovarios. Otra indicacin es cuando existe la posi-bilidad de que la mujer pueda transmitir una enfermedad o defecto gen-tico a su descendencia. Este proceder ha suscitado inquietudes similares a las provocadas por ei empleo de la portadora subrogada. A estas hay que ahadir entre otras que: a) Debido a la indefinicin del status tegal de este proceder, la pa-reja de adopcin puede presionar a la subrogada para que se q uede con u n ni n que el la no ten ia i ntensiones de criar. Esto puede ocurrir si las pruebas de paternidad determinan que el padre del nido no es el que contrat a la subrogada, o cuando el niho nace con un defecto y la pareja lo rechaza. b) La pareja puede verse afectada econmicamente si la subroga-da llega a conecer su identidad y comienza a ejercer presiones econmicas. Si por otra parte la subrogada decide quedarse con el niho, el marido de la pareja que contrata sus servicios debe correr con los gastos de su manutencin, ya que l es el padre biolgico. c) La pareja que paga los servicios de una madre subrogada pue-de ser acusada y condenada por las leyes criminales en aquel-los Estados que prohiben el pago a una mujer por dar un hijo en adopcin. d) Para algunas personas la participacin de la madre subrogada puede aflojar los lazos de unin entre la pareja y minar la inte-gridad de la familia. e) Tambin se ha sedalado que con el pago a la madre subroga-da pro sus servicios, la reproduccin humana puede llegar a co-mercial~zarse, y el nifo convertirse en un articulo de consumo.
En general, debido a los riesgos legales, las preocupaciones ticas y morales, y los efectos fisicos y psicolgicos de la maternidad subroga-da, este parece ser el ms problemtico de los procederes reproductivos. PROBLEMAS ETICOS Y LEGAIS SURGIDOS CON LAS NUEVAS TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA Apesar de los esfuerzos realizados, pocos paises han logrado un consenso ~nterno que se traduzca en una legislacin o una politica nacio-nal coherente. Al revisar las regulaciones y disposiciones vigentes en diversos paises, asi como las recomendaciones de comits y organis-mos ~nternacionales, se comprueba que existen aspectos comunes en lo que respecta a la utilizacin de las tecnicas actuales. Estos son. 1. El acceso a stas tcnicas debe estar limitado a parejas hetero-sexuales casadas legalmente, o que mantengan una unin es-table. 2. Las instituciones y el personal mdico que ofrecen estos servi-c~os deben estar sujetos a supervisin y regulacin sanitaria. 3. La paternidad y la materoidad deben estar determinadas por leyes que nJan para todos los nacimientos logrados mediante estas tcnicas. 4. Las historias clinicas y la informacin deben conservase con carter confidencial. 5. La vida embrionaria in vitro deb estar limitada a 14 dias. 6. El almacenamiento de gametos y embriones debe estar limita-do en tiempo. 7. La implantacin y/o la inseminacin postmorten debe estar prohibida. 8. Las agencias o intermediarios para la subrogacin deben estar prohibidas. 9. Previamente debe obtenerse el consentimiento de los participantes. 10.Las tecnologias reproductivas deben estar libres de comerciali-zacn. 11. No debe haber seleccin del sexo, excepto en caso de enfer-mdades hereditarias ligadas al sexo, ni tampoco seleccin eu-genesica. 12. Prohibicin absoluta de la manipulacin gentica por tcnicas extremas de ingenieria gentica (cionaje, creacin de quimeras partenognesis, fertilizacin entre especies y otras). A pesar del acuerdo general sobre estos aspectos, las caracteristicas socioculturales, econmicas y religiosas en cada Estado pueden crear divergencias quanto a:
1. La cuestion de la remuneracin de los donantes. 2 . El acceso eventual del nino a la i nformacin sobre los do n antes y el tipo de informacin (gentica o nominativa). 3. La conservacin de la informacin: el tipo, tiempo, y quien de-be custodiarla. 4. La donacin y conservacin de los embriones, asi como la expe-rimentacin con el material embrionario humano: quien tiene ac-ceso a l, fines, duracion en tiempo y otros aspectos. 5. Limitacin en el nmero de nihos por donante. 6. El diagnstico gentico del embrin. De todo esto se desprende que, a la hora de establecer leyes y re-gulaciones que definan la politica interna en materia de reproduccin, cada Estado debe velar por que stas no atenten o interfieran con la li-bertad y los derechos humanos bsicos. Para esto han quedado deter-minados varios principlos, independientemente de las variaciones politi-cas, culturales y religiosas, que pudieran servir de base a futuras regula-ciones o acuerdos de carcter internacional, y que se resumen en: 1. El respeto por la dignidad humana. 2. La seguridad del material gentico. 3. La calidad de los servicios brindados. 4. La inviolabilidad de la persona. 5. La inallenabilidad del cuerpo humano. Los tres primeros constituyen mecanismos de proteccin de la per-sona, mientras que los restantes son un medio para asegurar el control sobre la libertad personal y cientifica, asi como el respeto a la dignidad humana que es en si el origen de todos los derechos humanos funda-mentales. ESTABELECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIN PARA LA PERSONA La necesidad del respeto a la dignidad inherente a la persona de-be ser reformulada a partir de nuevas concepciones relacionadas con el status del embrin. En principio, tan pronto como la persona existe hay un reconocimien-to legal.
La determinacin del status del embrin est muy ligada a la defi-nicin de que es la vida y, cuando es el inicio de la vida en el humano. El inicio de la vida ha sido definitivo desde diversos puntos de vis-ta sin se haya logrado un acuerdo internacional. Para los catlicos roma-nos la vida comienza con la concepcion. La base biolgica de este enfo-que fue expresada por Krinmel y Foley: "... visto desde la perspectiva de un organismo adulto, el cigoto representa la primera vez en que una forma de vida especifica est presente y una identidad especifica es atri-buible a la vida". Otros relacionan el inicio de la vida con la implantacin. Para algunos autores la personalidad se determina a las 2 o 3 se-manas despus de la implantacin; para otros, es entre la 7 y 8 sema-nas despus de la concepcin, en el momento en que el embrin ya res-ponde a estimulos. Grobstein considera relevante el momento en que el embrin tie-ne cierto grado de sensacin, o incluso volicin activa, y es poco probla-ble que estn presentes en el momento en que el embrin est in vitro. El momento en que ela embarazada siente los movimientos del fe-to, o la viabilidad, cuando el feto puede vivir independientemente de la madre, son tambin eventos que se han tenido en cuenta para conside-rar al feto como persona. Tambin el nacimiento y el desarrollo posterior han sido senalados como momentos definitorios. Teniendo encuenta la falta de unidad de criterios, algunos grupos de trabajo han emitido sus propias definiciones; asi, el Comit del Royal College of Obstetrician and Gynecologist (Londres) (RCOG Conmitee) ha dicho que "la cuestin mo-ral en si no es cundo comienza la vida, sino, en qu punto del desar-rollo del embrin debemos atribuirle la proteccin debida al ser humano". El Ethics Advisory Board Federal de EEUU ha respondido la per-gunta de la siguiente manera: "Despus de muchas discusiones y anli-sis respecto a la informacin cientifica y al status del embrin, este gru-po est de acuerdo en que el embrin humano merece profundo respe-to, pero este respeto no se acompana necesariamente de los plenos derechos legales y morales atribuidos a la persona". En Abril de 1981, el Congreso de los Estados Unidos, despus de consultar a un gran nmero de expertos decidio que, "segn la eviden-cia cientifica actual, el ser humano existe desde el momento de la con-cepcin". Segn el Premio Nobel J. Monod, la vida humana comienza hacia la octava semana del embarazo, cuando se inicia la actividad elctrica cerebral. Segn J.M.R. Delgado, la vida humana no comienza con la fecun-dacin, ya que las clulas sexuales tienen vida propria, y todas ellas, fe-cundadas o no, tienen el programa gentico para la creacin de seres humanos. Relacionar el comienzo de la vida humana con el momento de la fecundacin, es slo una interpretacin cultural de procesos embriolgicos. En resumen, tres corrientes filosficas resumen la literatura referen-e al status del embrin. La 1 a promueve la personificacin inmediata desde el inicio del embarazo. La 2a fija la personifcacin al nacer, cuan-do son posibles la vida independiente y las relaciones
humanas y la 3a, adopta el punto intermedio: en sta hay un reconocimiento gradual del status del embrin a determinados estadios del desarrollo biolgico. La responsabilidad del Estado para con la vida humana antes del nacimiento est representada, entre otras cosas, por los planes de pre-vencin de salud, asi como la atencin a la madre en el periodo prena-tal. Por tanto, incluso en ausencia de un derecho constitucional a la vi-da por parte del embrion, no debe haber un uso ilimitado de este como un objeto. En la bsqueda de resoluciones legales eventuales, algunos princi-pios deben quedar establecidos: Pri mero, el em brin humano debe considerarse merecedor de res-peto por su valor intrinseco, incluso en ausencia de personalidad. Segun-do, a pesar de no estar definido su status legal, el reconocimiento de su especficidad define las limitaciones para su uso. 1. La proteccin del embrin humano Las consideraciones ticas que sustentan la proteccin legal conce-dida al embrin humano son derivadas del respeto a la dignidad inheren-te a la persona de cualquier miembro de la familia humana. Es posible distinguir en el derecho positivo diferentes posiciones referentes a la personal idad j u ridica. M uch as de el las of recen proteccin legal especifica para la vida humana en forma de deberes y obligacines hacia la vida del que est por nacer. De esta forma es posible proteger la vida humana del abuso, la explotacin comercial, o la experimenta-cin no teraputica antes del nacimiento. En resumen, independiente-mente de cualquier consideracin legal, hay consenso general de que el embrin humano merece el reconocimiento inherente a su dignidad como miembro de la familia humana. slo asi puede cualquier pais pro-ceder a examinar qu practicas son contrarias al respeto de esa digni-dad y brindar proteccin al material gentico humano. LA SEGURIDAD DEL MATERIAL GENETICO HUMANO No esta lejo el dia en que a travs del diagnstico gentico en el embrin humano preimplantado podamos descifrar al patrimonio genti-co del individuo. Cuando el conocimiento de los constituyentes bsicos de la perso-na llega al nivel celular, hace posible su manipulacin o alteracin, y lo que es ms peligroso, esto se convierte en una fuente de informacin de un individuo, y de la identidad individual de la persona. La mayoria de los autores estn de acuerdo en la licitud de la deno-minada manipulacin gentica negativa (correccion de errores genticos). Los problemas surgen a propsito de la llamada manipulacin ge-ntica positiva (mejorar la naturaleza humana). Nadie, ni el Estado pue-de manipular el genoma de una persona sin la expresa voluntad de s-ta, respetando sus derechos fundamentales.
El derecho al patrimonio genetico surge por convergencia de otros tres derechos civiles y politicos: el derecho de propiedad, el derecho a la propia integridad y el derecho a la intimidad. 1 Prohibicin de la experimentacin no teraputica En general, la intervencin teraputica sobre el embrin no esta prohibida, pero existe unidad de criterio, y en algunos casos legislacio-nes nacionales,que condenan la experimentacin no teraputica en el embrin humano. Aunque los intereses de la ciencia y la humanidad son de inestima-ble valor, ellos no pueden prevalecer sobre la libertad y los derechos hu-manos fundamentales. Haciando un balance.entre la condena total y el pragmatismo facil la mayoria de los paises opta por la condena e cualquier tipo de interven-cion no teraputica cuyo fin sea la del patrimonio gentico de un individuo. La mayoria de los informes en tecnologia reproductiva no protundi-zan en lo relacionado a la gentica humana. En el estado actual de las ciencias slo esta permitida la intervencin teraputica en clulas som-ticas, y es unnime la prohibicin de efectuar acciones sobre la linea germinal. Esto es debido a la necesidad de proteger el patrimonio de cualquier alteracin que pudiera ser transmitida a las geraciones futuras y la necesidad de preservar la condicin nica de la identidad gentica individual. 2 Limitaciones en la experimentacin teraputica La mayoria de las jurisdicciones reconocen la legalidad de la exp~ rimentacin teraputica en el humano. Sin embargo, toda investigacin debe cumplir cuatro condiciones reconocidas internacionalmente: 1. Validacin cientifica verificada por un comit de revisin. 2. El consentimiento libre e informado por parte de los pacientes. 3. El balance de la relacin riesgo-beneficio. 4. La conformdad de la investigacin con la nocin de orden pblico. La mayoria de los paises permitem la investigacin con embriones humanos pero slo durante los primeros catorce dias del desarrollo in vitro, bajo una vigilancia estricta y slo cuando el embrin no va a ser reimplantado. Las investigaciones por razones de infertilidad o para mejorar las tcnicas de concepcin asistida y desarrollo embrionrio son aceptadas.
Algunos paises tambin permiten el estudio de alteraciones geneticas garantizando que las celulas germinales no sean afectadas y que no ha-ya reimplantacin del embrin. En todos estos casos es necesaria la au-trizacin o el consentimiento expreso de los donantes. La proteccin del embrin humano en la experimentacin terapu-tica se lleva a cabo a dos niveles. El primero es preventivo; todo protoco-lo de investigacin debe tener la aprobacin previa de un comit. el se-gundo nvel contempla sanciones penales cuando algunas de las condi-ciones para la experimentacin teraputica no se han cumplido. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1. Accesibilidad a la concepcion mdicamente asistida El lucro con la infertilidad, asi como el riesgo que las nuevas tcni-cas pueden causar cuando son empleadas por personal no calificado, han hecho necesario que con carcter urgente se establezca o se impon-ga cierto tipo de control, tanto sobre los que la practican, como sobre los beneficiarios. Toda la prctica mdica debe estar sujeta a legislaciones en mat-ria de salud o a cdigos de conducta deontolgica. Aquellos centros o profesionales que practiquen las tcnicas de la concepcin asistida de-ben estar sujetos a regulaciones especficas, y provistos de la acredita-cin adecuada. La legalidad de los bancos de gametos y/o embriones y su almacenamiento, debe estar contemplada en una legislacin similar. En la mayoria de los casos se requiere cierta forma de asesoramien-to o consejo psicolgico. El requerimiento marital bien puede ser consi-derado como un requisito discriminatrio a los efectos de las legislacio-nes internacionales o nacionales sobre Derechos Humanos. Como la concepcin asistida es en principio para parejas infrtiles, se requiere el consentimiento de sus miembros. Este consentimiento del esposo pa-ra el uso de gametos o embriones donados, la mayoria de las veces ase-gura que no exista una reclamacin respecto a la filiacion despus que nazca el nino. A diferencia de las limitaciones baseadas en el criterio social, des-de el punto de vista mdico es posible negar los servicios de la FIV en determinadas situaciones como la infertilidad de causa no estudiada, los defectos genticos, o el riesgo de infeccines (HIV, hepatitis, SIDA y otras). 2. Preservacion y confidenciabilidad de la informacion Las legislaciones que contemplen la regulacin de las tecnologias reproductivas deben abarcar, desde el control de las condiciones en las cuales estas se ofrecen, hasta la custodia o salvaguardia de la informa-cin relacionada con los participantes. Con la utilizacion de las historias clinicas computadorizadas se hace necesaria la proteccin de la informacin mdica almacenada en los _ bancos de datos.
En los casos de concepcin asistida en que intervienen terceras personas como donantes o receptores, los datos sobre todos los que intervienen sern recogidos y unidos a la informacin general del caso. La veracidad de la informacin, asi como las tasas de riesgos y xitos de las tcnicas es esencial para el bienestar de la pareja receptora y eventualmente para el nino. Cuando se ha utilizado un tercer como donante de gametos o embriones, en la mayoria de los casos tambin se respeta el anonimato del donante. En la mayoria de los casos se separa la informacin gentica o biolgica de ,a informacin nominativa, y hacen disponible la primera cuando sea necesario para bienestar de la pareja, manteniendo respeto por el anonimato de los donantes. INSTITUCION DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 1. La inviolabilidad de la persona El tratamiento mdico de la infertilidad requiere el consentimiento de la persona, esta manifestacin de voluntad tambin es necesaria cuan-do se trata de la donacin de gametos, embriones o tejidos por terceras "parts, ms an si se considera que no existe beneficio en tales actos. La donacin de gametos o embriones representa adems, la entrega del patrimonio gentico de una persona. 1.1 Naturaleza del control del donante El advenimiento de las nuevas tcnicas requiere la necesidad de nfatizar la naturaleza altruista del acto de donacin. Hay acuerdo general en cuanto a la necesidad del control por parte del donate sobre el uso o destino de sus gametos. La mayoria asume el control del donante como un drecho personal unido al ejercicio del derecho de inviolabilidad e integridad. La posibilidad de conservar gametos y embriones inclus mas all de la vida reproductiva del donante, y la probabilidad eventual de desacuerdo entre los donantes d lugar a cuestiones y legales fundamentales. El orden de sucesin est alterado cuando los gametos o embrio-nes son utilizados despus de la muerte del donante, o con el nacimien-to de gemelos con anos de diferencia entre ellos por conservacin de gametos e embriones. Esto hace necesaria un reevaluacion de los con-ceptos bsicos de transmisin lineal, genealgica, de filiacin, de familia y del orden de sucesin, a la luz de lo que hoy en dia es posible hacer centificamente y tecnicamente. La maioria de los informes recomiendan limitar la duracion de la conservacin de gam etos y em brio n es . Los desacu e rdos entre l os don an-tes, la muerte, el divorcio, o la separacin, requiere que el donante indi-que en forma expresa en el momento de la donacin el uso o destino de sus gametos o embrin en tales situaciones.
En conclusin, para garantizar el principio de inviolabilidad de la persona y el control por el donante del uso de sus gametos o embriones, ste debe ser interrogado en el momento de la donacin para que esta-belezca en forma explicita cualquier condicin dentro de los limites fija-dos por la ley. 2. La inallenabilidad de la persona El cuerpo humano siempre se ha considerado como fuera de toda forma de comercio. Este principio de la inalienabilidad de la persona ac-tualmente se est sometiendo a prueba debido a al incremento de la prc-tica de la subrogacin con beneficios. 2.1 La practica de la subrogacin o sustitucin Independientemente de la remuneracion el aspecto tico mas pro-blemtico relacionado con la sustitucin o subrogacin es la disociacin entre gestacin y maternidad, considerando la maternidad como tradicio-nalmente se le conoce. Las posibilidades de conflictos que pueden crearse entre el donan-te biolgico, la futura madre social, la madre gestacional y posiblemen-te su marido, relacionados con el cuidado y la custodia del nino son ili-mitadas. 2.2 Donacin de material gentico humano El Comit de Etica de la RCOG recomienda que al igual que en el caso de las donaciones de semen, el anonimato del donante de ovocitos debe ser preservado, y no se le debe decir si su ovocito fue o no el que produjo el embarazo. Otra posibilidad de reforma legal puede ser la inclusin especifica de los gametos y embrines en la lista de tejidos humanos protegidos con-tra la ganancia comercial, bajo ciertos acuerdos internacionales o regionales. RECOMENDACIONES I. De caracter general 1. Proponer a los organismos competentes la promulgacin de una legislacin que solucione la problemtica que se genera con la aplicacin de las tcnicas de reproducin asistida. 2. Creacin de una Comisin Nacional que analice norme y regu-le la actuacin en materia de reproduccin asistida. Esta Comi-sin deber estar integrada en primera instancia por juristas, so-cilogos, investigadores cientificos, especialistas en biotica, psiclogos, mdicos especializados y otros facultativos relaciona-dos con esta especialidad.
3. Que la legislacin reguladora de la reproduccin asistida debe estar en concordancia con el objeto de Derecho Mdico. Il. De carcter especfico 1. En lo referente a la tecnologia 1.1 Las tcnicas a aplicar deben equiparse con las utilizadas en lospaises de ms alto nivel de desarrollo en esta especialidad, teniendo en cuenta la seguridad del paciente y las condiciones econmicas del pais. 1.2 La aplicacin de estas tcnicas debe estar centralizada en los centros designados y bajo el control de la Comisin Nacional creada al efecto. 2. En lo referente al acceso a estas tecnicas 2.1 La seleccion de la parejas obedece a critrios mdicos y reque-rimientos juridicos. Tendrn acceso a estas tcnicas: a) Parejas heterosexuales unidas en matrimonio formalizado o en unin consensual. b) Mujeres solteras, divorciadas o vi uvas, de acuerdo a la legisla-cin vigente en cada pais. No tendrn acceso a estas tcnicas: a) Menores de 18 anos de edad. b) Parejas con relaciones de promiscuidad. c) Parejas de homosexuales. 3. En lo referente a la donacin de gametos y embriones 3.1 Determinar la naturaleza juridica del acto de donacin de ga-metos y embriones. 3.2 La donacin de gametos y embriones se considerar un acto voluntario y altruista, exento de todo tipo de comercializacin o presiones. . 3.3 Los donantes deben ser mayores de edad y gozar de plena sa-lud fisica y mental. 3.4 La seleccin de los donantes es responsabilidad del personal facultativo. 4. En lo referente a la utilizacin de gametos y embriones 4.1 Se debe autorizar las tcnicas con utilizacin de gametos ho-mologos y heterologos.
4.2 Que se prohiban las tcnicas que utilicen gametos criopreserv-dos despues de la muerte de uno o ambos miembros de la parela. 4.3 Que se prohibans la transferencia de embriones criopreserva-dos con posterioridad a la muerte de uno o ambos integrantes de la pareja. 5. En lo referente al almacenamiento y preservacion ae gum':-tos y embriones 5.1 Se recomienda la creacin de bancos de gametos y embriones siguiendo las normas internacionales. 5.2 Que se permita el almacenamiento de gametos y embnones de personas con riesgo potencial de afectacin de su fertilidad. 5.3 El periodo de almacenamiento debe estar limitado en tiempo de acuerdo a lo que establezca la Comisin Nacional. 5.4 Los embriones que se encuentren en estado de congelacin no tendrn derechos hereditrios. 6. En lo referente al destino de los gametos y embriones 6.1 Los pre-embriones y vulos supernumerarios pueden ser alma-cenados para uso posterior de la pareja, donado a otra pareja infrtil, con fines investigativos o destruidos. 7. En lo referente a la determinacin de la maternidad, paterni-dad y filiacin 7.1 Los hijos nascidos por estas tcnicas utilizando gametos propios o donados tendrnlos mismos derechos y sern inscritos de igual forma que los procreados de forma natural. 7.2 Que la paternidad legal del hijo concebido por tcnicas heterlogas se impute al cnyuge o companero estable y singular de la madre conforme a las presunciones de la ley. 7.3 Que se estabelezca la adopcin como via para que los padres genticos se conviertan en padres legales. 7.4 Ningn proceso de filiacin puede establecerse entre donante y el proceado por estas tcnicas. 7.5 En caso de donacin de embriones, la pareja receptora pue-de adquirir la paternidad legal atravs de la adopcin pre-natal. 8. Con respecto a la subrogacin 8.1 Que la subrogacin debe estar exenta de comercializacin o preciones de todos tipo.
8.2 Que el marido de la madre o portadora subrogada debe dar su consentimiento para la realizacin de estas prcticas. 8.3 Que la madre o portadora subrogada es la madre legal y no est obligada a entregar a su hijo. 9 En lo referente al consentimiento y la informacion 9.1 - ebe ser requisito indispensable el consentimiento informado de ,as partes por escrito y previo a la ap,icacin de estas tcnicas. 9.2 Se debe crear ,a documentacin que acredite ,a voluntariedad de los participantes en las decisiones tomadas. 9.3 Los datos de la identidad persona, y ,a informacin referente a , os don antes son de ca rcte r secreto , estrictam ente confiden-cial y s,o podrn ser reve,ados en casos excepciona,es en que esto sea necesario para evitar en peligro inminente para la vida de, procreado. 9.4 La informacin de cada caso contenidas en ,as historias c,ini-cas es de carcter confidencia, y su uti,izacin y/o divu,gacin debe ser autorizada por responsab,e de, programa o director de ,a institucin. 10. En lo referente al embrin 10.1 Otorgarle a ste los mismos derechos que a, concebido intratero. 10.2 La investigacin y experimentacin en embriones podr rea,i-zarse s,o en caso de que stos no vayan a ser imp,antados. 10.3 Deben estar prohibidas ,as prcticas extremas de ingenieria gentica. 11. En lo referente a las responsabilidades de los centros hos-p~talarios 11.1 El personal mdico deber responder ante ,a Ley en caso de vio,aciones de ,o estab,ecido. E, Jefe de, Programa y/o el Di-rector del Centro debern ve,ar por el estricto cump,imiento de estas medidas.
Bibliografia Padrn RS. Ms J: Apuntes histricos sobre la reproduccin humana. En: Padrn RS, eds. Temas de repruduccin feminina. La Habana, 1990:5-16. Ms Diaz J: Infertilidad feminina de origen endocrino. Tesis de Grado. INE, MINSAP, 1973.
Kaufmann AE: Tecnologias reproductivas, cambio social y panico moral. En: CortesPrieto J. Alvarez de los Heros Jl, Neves-E-Castro M. Vzquez-Benitez E. eds. Medicina de la Reproduccin Ano 2000. Madrid: Editora Universidad Alcala de Henares. 1990:135-139. Lince M: Social and psychosocial issues involved in medically conception. WHO Scientific Group.Geneva, 2-April. 1990. Agenda ITEM 7-1. Schenker JG: Gamete donation: medical, legal, religious and social aspects. En: CortesPrieto J, Alvarez de los Heros Jl. Neves-E-Castro M. Vzquez-Be-nitez E. eds. Medicina de la Reproduccin Ano 2000. Madrid: Editora Univer-sidad Alcala de Henares, 1990:129134. Castellano Arroyo M: Implicaciones mdico-juridicas de la reproduccin asis-tida. En: Gisbert Calabuig JA, eds. Medicina Legal y Toxicologia. Barcelona: Salvat Editores S.A. 4 Ed., 1991 84-92. Steptoe PC, Edwards RG: Birth after reimplantation of a human embryo. Lan-cet 2:336347, 1978. York Acad Sci 1980: 573-576. Steptoe P: Historical aspects of the Ethics of in vitro fertilization. Ann New. Constitucin de la Organizacin Panamericana de la Salud: Bol Of Sanit Pa-nam 105 (5):646, 1990. Gracia D: Problemas eticos de la ingenieria gentica. En: Cortes-Prieto J. Al-varez de los Heros Jl. Neves-E-Castro M. Vzquez Benitez E. eds. Medicina de la Reproduccin Aho 2000. Madrid: Editora Universidad Alcal de Hena-res, 1990: 147-159. Worid Health Organization Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (1979). Eighth Annual Report. WHO Geneva, 107-109. The Ethics Committee of the American Fertility Society. Ethical considerations of the new reproductive technologies. Fertil Steril (Supp1.1) 46(3):1-9OS, 1986. The American Fertility Society. New guidelines for the use of semen donor insemination. Fertil Steril (Supp1.2):46, 1986. Andrews LB: Ethical considerations in vitro fertilization and embryo transfer. En: V\blf DP, Quigley MM, eds. Human in vitro fertertilization and embryo transfer..- New York: Plenum Press, 1984:403-423. Andrews LB: Legal issues raised by in vitro fertilization and embryo transfer. En: Ublf DP, Quigley MM, eds HUman in vitro fertilization and embryo transfer. New York: Plenum Press, 1984:11-36.
Evanes Ml, Dixter AO: Human in vitro fertilization. Some legal issues. JAMA 245:2324, 1981. Marina Diz E. Medicina de la reproduccin. Inseminacin artificial. En: Galde-ano Armendia J. Fueyo Surez B, Almarza-Menica JM, eds. Innovaciones cientificas en la reproduccin humana. Aspectos biologicos, psicosociales, an-tropolgicos, ticos y juridicos. Salamanca: fundacin Friederich Ebert, 1987-205-210. Gmez H: La inseminacion y el problema mdico. En: Gomez H. eds. Introduc-cion al Derecho de Familia. Bogota: Libreria del Professional, 1981:293-299. Infertility. Medical and social choices. Washington: Congress of the United Sta-tes. Office of Technology Assessment. May 1988, 1-32. Lledo Yage F: La regulacin juridica de la inseminacion artificial y fecunda-ci~n in vitro. En: Galdeano Armendia J, Fuey Surez B, Almarza-Menica JM, eds. Innovaciones cientificas en la reproduccin humana. Aspectos biologicos, psicosociales, antropolgicos; ticos y juridicos. Salamanca: Fundacin Friede-rich Ebert, 1987:309-336. Hartz SC. Porter JB. Decherney AH: National documentation and quality as-surrance of medically assisted conception: the experience of the US IVF Re-gistry. Prepared for presentation at the WHO Scientific Groyp Meeting on Re-cent Advances in Medically Assisted Conception. Agenda iTEM 13. Geneve Switzerland April 2-, 1990:2-18. Department of Obstetrics and Gynaecology, Karolinska Hospital. Stokholm, Sweden. Swedish Law Concerning Insemination (1989) IPPF Med Bu1123(5):3-4. Fugger EF: Clinical status of human embryo cryopreservation in the United States of America. Fertil Steril 52:986-990, 1989. Silva-Ruiz PF: Manipulacion de embriones humanos. En: Proc. Sexto Congre-so Internacional sobre Derecho de Fami,ia. San Juan. Puerto Rico: Instituto de Derecho Civil de ,a Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990:1. Cdigo Civil. Ley N 59, La Habana: Organo de divulgacion del Ministerio de Justicia, Ene, 1988, Art. 24. Johnson MH: The onset of human identity and its relationship to legislation concerning research on human embryos. Ethical Problems in Reproductive Medicine 1:2-7, 1989. Krimmel HT, Foley MJ: Citado por Andrews LB (Cita 27). Curran CE: Citado por Andrews LB (Cita 27). Grobstein C: Citadopor Andrews LB (Cita 27). Grobstein C: Citado por Andrews LB (Cita 28).
Tiefel HO: Citado por Andrews LB (Cita 28). Royal College of Obstetrician and Gynaecologist: Report of the RCOG Ethics Committee on In Vitro Fertilisation and Embryo Replacement of Transfer. Cha-maleon Press, London, 1983. Delgado JMR: Nacimiento lento de los seres humanos. En: Cortes-Prieto J. Alvarez de los Heros Jl, Neves-E-Castro M, Vzquez-Benitez E. eds. Medici-na de la Reproduccin Ano 2000. Madrid: Editora Universidad Alcal de Hena-res, 1980:257-258. Knoppers BM; Reproductive technolopy and international mechanism of protec-tion of the human person. McGill Law J 32:336-358, 1987. Mc Laren A: Report on the use of human foetal, embryonic and pre-embryonic material for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and commercial purpo-ses. Prepared for the Council of Europe. Proc. Council of Europe. Agenda iTEM 12 May 1989, 1-53. Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Bol Of Sanit Panam 105(5-):648-649, 1990. Declaracin de Ginebra de la Asociacion Medica Mundial (Juramento de fideli-dad professional): Bol Of Sanit Panam 105(5-):620, 1990. Propuesta de normas internacionales para la investigacin biomdica en suje-tos humanos. Bol Of Sanit Panam 105(5-):629-637, 1990. Comit Consultatif National d'thique pour les Sciences de la Vie et de la San-t. Etal actuel des estudes conduites par le comite concernant les dons de ga-metes et d'embryons. 101 rue de Tolbiac, Paris, 1989 1-7. Report of the Committee to review the guidance on the research use of fetu-ses and fetal material. Review of the guidance on the reseach use of fetuses and fetal material. Presented to Parliament by Command of her Majesty, Jul. 1989. Lonfon, Her Majesty's Stationery Office. Dd 0502857 7/89, c45 58742 3382/1 o/n 69732 5206, iii-30. Osuna Fernndez-Largo A: Reflecciones tico-juridicas sobre el recurso de las tcnicas de la fecundacion artificial. En: Galdeano Armendia Jm Fueyo Surez B. A!marza-Menica JM, eds. Innovaciones cientificas en la reproduccin huma-na. Aspectos biolgicos, psicolsociales, antropolgicos, ticos y juridicos. Sala-manca: Fundacin Friederich Ebert, 1987:297-305.
Giebert Calabuing JA: Los cdigos Deontolgicos. En: Gisbert Calabuing JA, eds. Medicina Legal y Toxicologia. Barcelona: Salvat Editores S.A. 4 Ed. 1991 :97-106. Gouvernement du Quebec Conseil du Statut de la Femme. Les nouvelles tech-nologies de la reproduction. Avis Syntnse du Conseil du Statut de la Femme (1989):3-31. Warnock Committes, Report of the Committee of the Inquiry into Human Fertili-zation and Embriology (Chairman: Dama Mary Warnock) London: Department of Health and Social Security, 1984. Gonzlez P, Perez A, Oceguera JN: Reproduccin asistida. Consideraciones a tener en cuenta para una legislacion en Cuba, Tesis de Grado. Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 1982. Mas Diaz J: Mesa Redonda: Reproducciin Humana. Manipulacin del codi-go genetico. Congreso Etica y Sociedad. Consejo Federal de Medicina. Rio de Janeiro, Set 1992. Ms Diaz J: Prevencion gentica y prenatal en Cuba. Conferencia. Instituto Federico Fiqueras. Rio de Janeiro. Set. 1992. tica e Sexualidade Jerusa Figueiredo Netto No principio era a filosofia fonte de todo conhecimento. Depois vie-ram suas filhas, as cincias, que cresceram e se multiplicaram, dando origem a inmeros campos de estudo e de aplicao. Com o passar do tempo, as inteligentes cincias deram as costas para sua me, a sabia filosofia, e, associando-se tcnica, esqueceram do porqu e do para que fim, ficando com o como, quando e onde. O mundo nunca teve tanto cientista para to pouco filsofo. A cincia passou a inspirar leis morais, mas sua postura experimen-tal no lhe oferece condies para refletir sobre os significados ticos das suas descobertas. Alguns cientistas refletiram sobre a eticidade dos avanos cientficos (1). Assim mesmo, poucos, sendo, inclusive, a maioria originria no mbito das humanidades, que por sua natureza, no conseguiram romper to fortemente com sua origem, e, por isso mes-mo, passaram a ter sua condio epistemolgica, que lhe garante o sta-tus de cincia, questionada. (2) Na corrida para a descoberta cientifica, a tica ficou para trs, sen-do hoje difcil inclusive defini-la. Valss (3), ao iniciar seu livro sobre o te-ma, afirma: "A tica daquelas coisas que todo mundo sabe o que so, mas que no so fceis de explicar, quando algum pergunta". Adiante, esse autor define a tica como cincia normativa, descriti-va ou especulativa (4). A tica, na sua funo deontolgica, estuda os principias, funda-mentos e sistemas morais, buscando oferecer um tratado de deveres ao ser humano que garanta o seu bem em
nvel individual e social. A tica, porm, no pura abstrao dissociada de uma realidade existencial. Ela existe e tem significado, na medida em que se fundamenta na l estrutura existencial da pessoa humana. E tal fundamentao requer o estudo dos "esquemas de valorao dentro da sociedade e seus sistemas de legitimao" (5). A tica, portanto, na sua dimenso filosfica, oferece a reflexo so-bre o significado e finalidade da existncia humana, buscando definir a moralidade. A justificao dessa moralidade ou eticidade, porm, encon-tra-se no dilogo continuo e em confrontao permanente com as contri-buies dos diferentes conhecimentos cientficos a respeito do ser huma-no (e). A cincia rodou "quilmetros" de descobertas. O mundo recebeu a influncia conflitante de diferentes sistemas morais interessados e desinteressados (7). As sociedades participaram do confronto dicotmico ideolgico fundado no marxismo e no positivismo. O ser humano assistiu falncia de muitas verdades universais. Hoje, vive-se uma crise moral sem precedentes, alimentada pela rapidez do avano cientfico, cultivada pela convivncia diversificada e conflitiva dos sistemas de valores(8). Nunca se soube tanto sobre a pessoa humana, suas funes biolgicas, sua histria, sua cultura, suas linguagens, seus sistemas sociais, suas funes psicolgicas, seus processos cognitivos e afetivos. No entanto, nunca se esteve to perdido no que se refere escolha de uma orientao axiolgica existencial que possibilite a realizao pessoal e social, alm de oferecer uma referncia transcendental. A dimenso sexual humana constitui hoje o espao existencial em que o anteriormente descrito mais se evidencia. Se bem vejamos: A sexualidade humana foi resgatada do ocultamento e da patologia, do profano ou do sagrado, pela cincia, a partir do inicio deste sculo. O impacto que tal acontecimento provocou, no en-tanto, no foi de todo assimilado pela conscincia coletiva. O simples fato de comprovar seu aspecto natural, sua funo inte-gradora da pessoa humana e a dismistificao de preconceitos e tabus confunde tericos, clnicos, educadores, de um modo particular, e a sociedade como um todo. A filosofia, a cincia e a tcnica tm por finalidade promover o bem-estar do homem, e assim sendo, todo e qualquer avano nestas reas produz intensos efeitos sobre a vida humana. No momento em que a sexualidade e vida se confundem, embora sejam realidades distintas, a ao do desenvolvimento do conhecimento afeta muito mais este aspec-to do que outros da dinmica vital existencial. Para se avaliar a nature-za complexa da sexualidade, assim como a sua magnitude no mbito humano, faz-se necessrio: Apreender que a sexualidade encerra o mistrio da vida huma-na, pois, a partir dela, surge a vida no seus sentidos estrito e pleno, e em funo dela a vida continua aps a morte. Compreender que toda pessoa humana sexuada e que esta caracterstica integra todas as dimenses humanas, j sejam biolgica, psicolgica ou social, pois, como define a OMS (9), "sade sexual a integrao dos elementos somticos, emocionais, intelectuais e
sociais do ser sexual por meios que sejam positiva-mente enriquecedores e potenciem a personalidade, a comunica-o e 0 amor". -Finalmente, clarificar que a realizao humana no mbito pesso-al social e transcendental passa pelo modo prprio que cada pessoa tem de viver o fato de ser sexuado, ou seja, pela sua se-xualidade. E isto porque so funes da sexualidade a reprodu-o, o prazer e a comunicao, sendo esta a mais importante de todas, porque ela justamente quem potncia o amor, ni-ca fora motriz verdadeira para a realizao da reproduo desejada e a obteno do prazer pleno. A sada da sexualidade a luz que o desenvolvimento cientfico, tc-nico e social promoveu e continua promovendo, longe de esclarecer d-vidas, oferecer respostas certas e padres de conduta desejveis, ao contrrio, destruiu a base axiologica biolgica da sexualidade (reducio-nismo reprodutivo), provocando a exacerbao do hedonismo licencio-so biolgico (reducionismo do prazer). Como resultado, a confuso e a perplexidade se instalaram. A sociedade ocidental, aberta e pluralista em seus sistemas de valores, reagiu, reforando antigos tabus e precon-ceitos, assim como criando novos. s vezes negando a sexualidade, desacreditando-a, outras vezes, falando demais sobre ela e em nome de-la, impedindo ou desvirtuando a expresso natural e espontnea da sua lngua, refletindo a tenso existente entre as foras sociais apostas da manuteno e transformao. Cientistas e educadores com base nos conhecimentos sexolgicos tentam limpar o campo da sexualidade, os aproveitadores, com seus ob-jetivos mercantilistas prostitudos, sujamna. Os indivduos confundidos entre os novos conhecimentos e os velhos afetos, reforados por falsas e claras utilizaes, experimentam o conflito, vivenciam o medo ou se entregam inconseqncia das condutas irresponsveis. Hoje, assistimos "desordem amorosa"(10). Buscam-se orienta-es, receitas. o dobrar-se da sociedade sabedoria da tica, to ne-gada, agredida e desvalorizada. Atitudes at certo ponto mostram-se ine-ficazes e estreis. Por um lado, tem-se o absolutismo autoritrio, por ou-tro, o relativismo ortodoxo. Nas negaes implcitas de ambos, evidencia-se a radicalizao extremada, que impede a vigncia de uma valorao universal legitimada na dimenso scio-cultural especifica, cuja ultima instancia recai no mbito individual. pessoa cabe a escolha final entre o tradicionalismo conservador, expresso no "dever ser", universal, fun-dado em tabus, preconceitos e falsamente legitimado em abstraes, ou permissividade modernosa, normatizada com base no contraponto do "dever ser", que pretende ter legitimidade, baseada em falsos princi pios revolucionrios. Da norma do "nada pode", passasse norma do "tudo pode". A filosofia personalista oferece tica uma reflexo sobre o que a pessoa humana: "Uma totalidade viva com um passado, um presen-te e um futuro"(11), cuja autenticidade se expressa na realizao do pro-jeto de humanizao, que se sintetiza na valorizao intrnseca da vida I em si mesma. Ou seja, ser pessoa a vocao natural do ser humano, o que por si s constitui-se num valor supremo, central e eixo bsico de critrio avaliativo para todos os demais valores.
Temos, assim e portanto, a pessoa como valor, o qual d origem a um sistema de valores que por aquele legitimado, e do qual, por sua vez, originasse as normas morais. Sua legitimidade passa a existir quan-do confrontadas com o conhecimento cientfico atualizado, a qual se com-pleta em nvel prtico-social na medida em que houver a assimilao s-cio-cultural e a introduo coletiva consciente e responsvel destas e dos valores e principias que as fundamentam. A sexualidade humana um valor de vida, legitima-se, portanto, na dimenso humana. Ser pessoa o valor central humano cujo significado vida e cu-ja principal forma de expresso a sexualidade. Conclui-se aqui que o que promove a vida promove a pessoa huma-na, assim como sua expresso maior de vida: a sexualidade. Nesse mbito, a cada valor corresponde no outro valor, mas sim antivalores, ou valores de vida em contraposio e antivalores que poten ciam a morte. A sexualidade pode ser saudvel, prazerosa, cultivada no amor e potenciadora da vida. A maioria das pessoas, ainda apegadas a falsos valores ou encantadas pelo canto da sereia do prazer consumiste, ainda no descobriu essa possibilidade. Assistimos diariamente exposio clara e objetiva ou sutil e enganadora das questes relacionadas com a vivncia da sexualidade. Tal exposio, longe de nos proporcionar uma resposta satisfatria s nos-sas indagaes e conflitos, aumenta-os e torna-os mais complexos e di-versificados. O que fica evidente que nenhum tema na historia da humanidade foi, em qualquer tempo, mais trabalhado, atravs dos meios de comunicao de massa, desde diferentes tipos de publicao a pro-dues artsticas variadas. Os temas centrais do debate se dividem em dois amplos contextos: (a) reproduo (fecundao, anticoncepo, aborto); (b) prazer (mastur-bao, virgindade, relaes prmatrimoniais, homossexualidade, parafi-lias, erotismo, prostituio, pornografia). A abordagem, quase sempre e ainda, caracteriza-se pelo patolgico, o inusual, o chocante, evidencian-do a origem do conflito dramtico, que , em ltima instncia, o eixo se-parador da humanidade sexuada, isto , o ser homem e o ser mulher(12). E o velho padro de conduta que valoriza e enfatiza o negativo, o feio, Ia dor, a doena, o pecado, o mal, a morte. Para estabelecer uma tica da sexualidade, tem-se de abandonar esse velho padro e abraar o po-sitivo, o belo, o prazer, a sade, o bem, a vida. Considerando tudo o que foi exposto at aqui a respeito da tica e da sexualidade, como chegar a uma concluso sobre a tica da sexua-lidade? Seguindo algumas anlises apresentadas at aqui, neste capitulo, podemos chegar a algumas concluses fundamentais:
-A pessoa um valor em si mesma, legitimado pela vida huma-na. Como tal, ao mesmo tempo em que se constitui valor, tam-bm critrio de valores. -A sexualidade a principal fonte de expresso da pessoa e, portanto, da vida. Como tal, constitui-se um valor legitimado pe-la vida. Assim sendo, deve ser humanizada e compreendida co-mo o fator integrador da vida humana personificada. -Cada pessoa uma totalidade sexuada, nica e irrepetivel, com um modo prprio de viver, embora contextualizada em um tem-po e um espao definido. Isto significa dizer que, como ser hist-rico, nico, no pode estar atrelada a um sistema moral fecha-do universal, como ser histrico-social no pode negar sua contextualizao espao-temporal, o que implica, tambm, a nega-o de um sistema moral aberto ao relativismo ortodoxo. -A sexualidade como expresso maior da pessoa humana con-tingente a todas as implicaes que afetam esta. Como tal, por-tanto, deve ser tratada como o valor integrador do ser humano, buscando sua humanizao e personalizao. A tica tem a funo de oferecer principias, fundamentos e siste-mas morais. Assim sendo, apresentam-se, a seguir, os principias que devem orientar a tica da sexualidade: 1 - O principio da vida humana como base essencial para a realiza-o do projeto de personalizao. 2 - O principio da vivncia de uma sexualidade saudvel, integrado-ra das diferentes dimenses humanas e potenciadora da perso-nalidade, da comunicao e do amor. Tendo a vida, a pessoa e a sexualidade como um amlgama que constitui o critrio para a apreciao e definio de valores que possibili-tem a elaborao de um cdigo tico da sexualidade, cumpre-se o primeiro passo relativo e sintetizado na definio dos principias. Como segundo passo, definem-se os fundamentos que possibilitam a operacionalizao dos principias: amor, sade, liberdade e responsabi-lidade. No entanto, cairamos na ineficcia da norma absolutista autorit-ria que pretende a universalidade, ou no vazio do relativismo ortodoxo, se ficssemos apenas no mbito da estrutura existencial da pessoa humana, sem dar a devida importncia aos valores scio-culturais e aos valores do conhecimento cientfico. Toda e qualquer expresso da sexualidade, portanto, deve ser exa-minada luz: 1-Do principio da valorizao da vida humana. 2-Da estrutura existencial da pessoa concreta: - Valores potenciadores de vida (amor, sade, liberdade e responsa-bilidade). - Valores scio-culturais contextualizados.
3-Do conhecimento cientfico. A universalidade dos critrios morais est presente nos valores po-tenciadores da vida e nos valores cientficos. A relatividade destes esta garantida pelo referencial scio-cultural e pelo dimensionamento da estrutura existencial da pessoa concreta. Os principias fundamentam a ti-ca, assim como os valores potenciadores da vida, a justificativa e legitimidade desta se realizam na definio dos valores cientficos e scio-culturais. A diversidade e complexidade das condutas sociais exigiriam um compndio, se fosse nosso objetivo apresentar um cdigo moral que tivesse a abrangncia e especificidade para abordar toda a gama de questionamentos ticos que envolvem a sexualidade humana. Ao concluir este capitulo, entretanto, desejo sintetizar, de forma objetiva e clara, a mensagem que norteou a sua elaborao: 1-O problema da tica da sexualidade se reporta ao mbito da falsa ou inadequada valorizao da vida humana e dos valo-res que a potenciam. 2-A cincia j evidenciou o que a sexualidade, suas funes, peculiaridades, formas de expresso e seu significado no con-texto da pessoa humana. Existe, hoje, em nvel internacional, o reconhecimento de uma cincia que a tem como objeto de estudo e de um profissional que se dedica ao desenvolvimen-to terico e aplicado desta cincia, ou seja, a sexologia e o sexlogo. 3-Falta, portanto, a divulgao do conhecimento cientfico, a edu-cao conscientizadora e clarificadora sobre a vida, a pessoa e a sexualidade como valor central existencial, alm da forma-o especializada de profissionais ticos que possam promo-ver a leaiti mar socialmente tais valores. Em sintese, tudo o que se exige no trato das questes humanas: conhecimento cientifico, conscientizao clarificadora e responsabilidade. Bibliografia 1. Como exemplos pode-se citar: Skinner, B.F., Mas Alla de la Libertad y la Dignidad, Ed. Fontanella, Barcelona, 1980. 2. Veja-se: Morin, E. Ciencia con Consciencia, Ed. Anthropos, Barcelona, 1984. 3. Valis, A.L.M. O Que tica, Ed. Brasiliense, S.P., 1986 - Pg. 07. 4. Ibdem. 5. Vidal, M., Morat das Atitudes, Ed. Santurio, Aparecida, 1986, vol. 01, Pg.12. 6. Ibdem, Pg. 13. 7. Fullat, O. & Mlich, J.-C, Los Sistemas Morales, Ed. Vicens-vives, Barcelo-na, 1984.
8. Veja-se: Bartolom et allii, Educacin y Valores, Ed. Narcea, Madri, 1979. 9. OMS-Instruccion y Asistencia en Cuestiones de Sexualidad Humana: For-macion de Profesionales de la Salud, OMS-Genebra, 1975, Informes Tec-nicos, n 572, Pg. 08. 10. Veja-se: Bruckner, P. 8 Finkielkraut, A., El Nuevo Desorden Amoroso, Ed. Anagrama, Barcelona, 1979. 11. Cembranos, C. & Bartolom, M., Estudis y Experiencias Sobre Educacin en Valores, Ed. Narcea, Madri, 1981, Pg. 12. 12. Veja-se: Ameza E., Sexologia: Cuestion de Fondo y Forma, En Revista de Sexologia, Instituto de Sexologia, Madri, 1991, Pg. 172. Conflitos ticos em Psiquiatria Ivan de Arajo Moura F I-Introduo E dificil se imaginar um outro ramo da atividade humana que susci-te maior nmero de inquietaes e dvidas de ordem tica do que o exer-cicio da psiquiatria. Provavelmente, isto ocorre dada a prpria natureza do objeto com que trabalha a cincia psiquitrica, ou seja, a mente hu-mana, a razo, a conscincia, enfim, esta capacidade que significou um salto dialtica na ao elaboradora da natureza, ao distinguir de for-ma significativa o homem dos outros animais. O surgimento da razo, da conscincia, abriu para o bicho homem possibilidades completamen-te novas, entre as quais a de avaliar e julgar os prprios atos. Constituin-do-se, portanto, o homem dentro de uma nova perspectiva, com a facul-dade, a possibilidade de disciplinar suas emoes e suas manifestaes instintivas, ou seja, sendo-lhe possvel adquirir liberdade ante as suas emoes. Por outro lado, dispondo da razo, que lhe permite pautar suas aes por uma escala de valores, o homem se transformou em um ser moral. Entretanto, esta abertura de um novo universo, se por um lado sig-nificou para o homem um maravilhoso desafio, por outro se constituiu tambm em um risco. Por querer provar da rvore do conhecimento e assim poder distinguir entre o bem e o mal, o homem foi punido e ex-puiso do paraiso, diz a alegoria bblica. Na mitologia, na religio, na fol-ciore, vemos com freqncia manifestar-se esta intuio do homem de que o conhecer tem uma dupla face. E, em alguns momentos, surge a tendncia para o retorno ao paraiso da condio de primata, desprovi-do da razo, ou ao paraso mais recente da condio uterina. Tendo an-te si as possibilidades de desenvolver em toda a sua plenitude a luz da razo ou retornar ao estado primitivo, caminha o homem. II-O Significado da Enfermidade
A psiquiatria trabalha com a desrazo, ou a perda da razo, enten-dendo esta como uma condio doentia. Seria ento o caso de nos per-guntarmos: O que a doena para o homem? Qual tem sido o significa-do do adoecer na trajetria do ser humano pela existncia? Sendo a enfermidade uma ocorrncia comum e causando freqentemente desdobra-mentos relevantes para a vida das pessoas, diversos pensadores tm procurado desenvolver reflexes acerca do sentido da enfermidade e do grande papel que ela desempenha em nossa cultura, na vida do ho-mem e na vida dos povos. Primitivamente a enfermidade era compreen-dida como sendo o resultado da ao de seres sobrenaturais, como cas-tigo dos deuses e a manifestao da sua ira pela violao de tabus, ou como punio do pecado. Outras explicaes foram sendo dadas para as causas das doenas, ate o atual estado de estruturao cientfica do conhecimento mdico, mas em maior ou menor grau persistiram rema-nescentes desta vinculao primitiva entre doena e culpa. Isto se expres-sa de forma significativa no que se refere as doenas mentais e vai sur-gir com freqncia no contexto psiquitrico. Alis, a prpria expresso "doente mental" , s vezes, empregada com um sentido depreciativo, pejorativo, insultuoso, insinuando que atribuda culpabilidade ao porta-dor de tal condio. Mitscherlich diz que na enfermidade se perde a liberdade, e Henri Ey afirma que a doena mental a patologia da liberdade, a perda da liberdade interior. Entretanto, faz parte do conhecimento psiquitrico o | fato de que muitas vezes as pessoas se refugiam na doena, utilizam a enfermidade como mecanismo de fuga de situaes difceis. Assim, apenas mais um paradoxo a constatao de que, se a doena significa perda da liberdade, pode tambm ter a finalidade de proporcionar uma maneira de evitar o sofrimento. Tambm conhecido o aspecto da bipo-laridade, do duplo significado da doena e dos sintomas, expressando-se como manifestao de uma alterao patolgico e, ao mesmo tem-po, como clara demonstrao de um esforo para vencer as dificuldades emocionais. Alis, h situaes em que a pessoa s consegue realizar, pelo menos parcialmente, os mais elevados objetivos da vida, por meio da enfermidade. Na verdade, h exemplos claramente demonstrativos de que a doena no tem apenas um lado negativo, no atua apenas destrutivamente, mas tambm pode contribuir para o crescimento e pa-ra a realizao da vida. Estas concluses geram conseqncias do pon-to de vista da valorizao tica. Como um ser moral o homem procura critrios de valor para situar e avaliar os atos e os fatos de sua vida. Agindo segundo este principio, devemos nos perguntar se a doena mental tem algo a ver com as cate-gorias do bem e do mal. Poderemos partir do conceito de que o senti-do da vida consiste no desenvolvimento e na realizao de toda a potencialidade especificamente humana. O que se deve investigar se a doena mental se contrape consecuo deste objetivo e quando e em que medida isto ocorre. Em um primeiro instante, somos tentados a concluir que a saude algo de bom a alcanar e a doena algo de mal a se afastar. E, na verdade, esta a concepo geralmente aceita. Mas sera que a resposta a esta questo sempre to linear? E, igualmente, ser sempre pacifica e fcil a definio do que sade e do que doena, principalmente em psiquiatria, quando muitas vezes estas condies se confundem com as de normal e anormal? O adoecer uma vivncia multifacetada e plena de nuanas, que no deve ser vista sob a tica
de regras fixas e imutveis. Recordemos que vrios psiquiatras j observaram que, em muitos casos, a sintomatologia apresentada pelo paciente representa uma reao ao seu meio ambiente opressivo e um esforo para influencia-lo e modific-lo. Embora ainda no disponhamos de estudos conclusivos sobre a extenso em que isto ocorre, possvel visualizarmos que, na medida em que tratamos e extinguimos comportamentos que se destinariam a influenciar o meio ambiente que opressivo para o paciente, poderemos estar trabalhando a favor da manuteno dos sistemas sociais vigentes, do status quo. Convm que os psiquiatras estejam atentos para a possibilidade de a sintomatologia psiquitrica ser o nico meio que o paciente encontrou para expressar seu anseio de liberdade. III-A Finalidade da Psiquiatria necessrio que, neste ponto do nosso raciocnio, busquemos de-finir qual a finalidade da psiquiatria, quais so os seus objetivos. En-tendendo que a psiquiatria visa a compreender as manifestaes do psi-quismo humano e tratar as alteraes consideradas mrbidas da mente humana, adotamos a concepo de Henri Ey de que tratar significa contribuir para promover o crescimento, a liberdade e o amadurecimento emocional dos pacientes. Estas so metas que se mostram como bem mais amplas e importantes do que a simples remoo dos sintomas. Ora, evidente que, para serem alcanados to elevados objetivos, necessrio que sejam atendidas algumas premissas bsicas. Uma das mais importantes, de cujo cumprimento depende fundamentalmente o xito de qualquer tratamento psiquitrico a de que o psiquiatra deve ter um profundo respeito por seus pacientes. Isto significa, de principio, que o psiquiatra deve trabalhar tendo por referencial a verdade. Poucas coisas so to deletrias para o tratamento psiquitrico quanto o faiseamento da verdade, quer se de de maneira sutil ou sob a forma grossei-ra da mentira e do subterfgio, sendo fcil visualizarmos as conseqn-cias em termos de minar ainda mais a confiana do doente nas pesso-as em geral, reforar possveis componentes persecutrios ou incremen-tar sentimentos de menos valia e incapacidade. Chegamos mesmo a afirmar que tal distoro incompativel com a obteno dos resultados que entendemos a psiquiatria pretende alcanar. Alis, o reconhecimen-to da importncia da verdade como caminho para o autoconhecimento e o crescimento tem ocupado lugar importante nas idias dos grandes pensadores, bastando lembrar Scrates, com o seu "conhece-te a ti mesmo"; e as palavras de Cristo, no texto de Joo Evangelista (Jo.8.32): "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar". Adotando esta concepo, Freud, em mais uma demonstrao de sua genialidade, am-pliou enormemente o conceito de verdade, para incluir tambm aquilo que se encontrava em nivel no consciente e evidenciar de forma clara que o conhecimento dos fatores que esto agindo inconscientemente fundamental para libertar o homem das limitaes que esto cerceando seu desenvolvimento. Mas, ao falarmos no compromisso com a verdade, tambm esta-mos querendo nos referir ao esclarecimento que deve ser dado quando houver necessidade de tratamentos medicamentosos prolongados, com seus efeitos colaterais, suas complicaes e seus riscos, ou mesmo quan-do, na presena de um grave quadro de depresso, com persistentes idias de suicidio, estiver indicado o uso de ECT.
igualmente imprescindvel que o psiquiatra seja capaz de aceitar os valores culturais e ticos do paciente, seu modo de ver o mundo e sua maneira de agir, possivelmente diferentes do usual. Com efeito, no nos interessa o estabelecimento de uma postura autoritria, com o m-dico a impor seus valores aos pacientes. Como ressalta Frieda Fromm-Reichmann, necessrio que o psiquiatra tenha suficiente segurana e independncia em relao aos preconceitos e convenes vigentes e que se disponha a contribuir para que o seu paciente adquira este mes-mo grau de autonomia. Isto significa que, no trabalho psicoterpico, com-pete ao mdico estimular o paciente a se tornar mais consciente das suas dificuldades, dos problemas que podem lhe advir de condutas destoantes do que aceito socialmente, mas deve ter o paciente o direito de escolher se quer ou no desenvolver, juntamente com o mdico, um trabalho no sentido da mudana. IV-O Consentimento, o Tratamento Compulsrio Com esta compreenso de que o tratamento psiquitrico deve ser discutido entre mdico e paciente, fica claro que estamos nos referindo tambm quele que um dos aspectos centrais do contexto mdico-pa-ciente e que tem dado origem a muitas polmicas. Trata-se da questo do consentimento. Em medicina geral esta bem firmada e aceita a necessidade da ob-teno do consentimento do paciente ou de seus familiares para que se d a interveno mdica, a no ser que se trate de caso de emergn-cia, com risco iminente de vida. Esta conceituao visa a proteger um dos direitos fundamentais do homem, que a sua liberdade individual. E inaceitvel que, em caso de no emergncia, um paciente seja subme-tido, por exemplo, a uma cirurgia sem ter dado autorizao para tal. Mas como que este problema se apresenta no mbito da psiquiatria? E admissvel a imposio de tratamento independentemente da vonta-de do paciente? Em que condies isto seria justificvel? Dada a sua complexidade e a sua importncia, imprescindvel que esta questo seja analisada em toda a sua profundidade, tendo-se em vista todas as suas implicaes. H quem diga que a interveno do psiquiatra s es-t moralmente justificada, se precedida do consentimento do paciente. Entretanto, evidente que, quando falamos de consentimento, estamos nos referindo a consentimento lcido e informado. Consentir implica um ato de vontade livre e consciente. A dificuldade est em definir em que casos a prpria doena do paciente comprometeria de forma mar-cante sua capacidade de consentir e se, nestas condies, h suficien-tes razes que justifiquem a ao mdica independentemente do con-sentimento ou at mesmo contra a vontade manifesta do paciente. Caracterizar com preciso se h ou no comprometimento da capa-cidade de consentir com apoio em uma correta avaliao da realidade parece ser uma questo de competncia mdica para fazer um cuidado-so e bem fundado exame psiquitrico, que naturalmente leve em conta a enorme diversidade das manifestaes humanas e a realidade global do paciente. Afigura-se como mais complexa a delimitao de em quais destes casos caberia a adoo do chamado tratamento compulsrio, se que tal prtica admissvel. Ou seja, a questo que se coloca aqui se eticamente defensvel a instaurao de algum tipo de tratamento psiquitrico contra a vontade do paciente. Vrios estudiosos deste proble-ma tm afirmado que a prtica psiquitrica mostra que ha vrios casos em que se impe a ao mdica, podendo ser dispensado o consenti-mento. A preocupao aqui seria com o
estabelecimento de rigorosos critrios que embasassem tal procedimento, de modo a assegurar que o mesmo no estaria se constituindo em um abuso. Propugnam os defensores desta idia que cabvel o tratamento compulsrio nos casos de pacientes periculosos para si mesmos, ou para as outras pessoas, in-capazes de entender o carter doentio de suas manifestaes e nos quais se poderia esperar uma boa resposta ao tratamento. Porm, mes-mo aqui, dentro desta perspectiva, surgiro algumas duvidas. sabido como difcil estabelecer com preciso a natureza e a intensidade da periculosidade de um paciente, bem como evidenciar rigorosamente que esta no mais existe. Por outro lado, fcil imaginar casos em que no falte uma das trs condies aqui referidas, mas que so vistos como aqueles em que se impe a adoo do tratamento, principalmente nas psicoses com manifestaes agressivas. Positivamente o que ocorre que estamos inseridos em uma socie-dade que no sabe ou no quer conviver com a loucura, embora contribua bastante para produzi-la. A presena do fenmeno psictico causa tamanha angstia nas pessoas, que estas, se sentindo incapazes de su-port-la, julgam-se autorizadas a internar e tratar compuisoriamente os pacientes portadores desta condio. Talvez seja a psicose vista como uma ameaa situao de racionalidade em que o homem julga estar e da qual tanto se orgulha, ou possivelmente porque a presena do lou-co pode ser, em muitos casos, encarada como a expresso sintomtica e reveladora das profundas contradies do sistema vigente e do mal-estar da civilizao. Dai porque a loucura tem de ser isolada e aprisiona-da nos hospitais, os quais de preferncia devem ser situar em locais afas-tados das cidades, das aglomeraes urbanas. V-Os Limites da Ao Psiquitrica claro que existem doenas mentais graves, passiveis de trata-mento, e que h um importante lugar para a psiquiatria no conjunto dos recursos de que dispe o homem para o seu crescimento e o seu pro-gresso. O que inquieta, no entanto, a real possibilidade de a psiquia-tria, tanto quanto qualquer outro ramo do saber, ser utilizada no para o bem-estar do ser humano, mas para sua subjugao. Isto tem dado margem a que pensadores do porte de um Marcuse se preocupem com o fato de que a psiquiatria, sendo uma das grandes cincias libertado-ras do nosso tempo, possa se converter em um poderoso instrumento de represso. Com efeito, a psiquiatria tem sido acusada de, em muitos casos, atuar no sentido de adaptar as pessoas, e no cur-las, de tratar certos individuos como doentes pelo fato de estes no se acomodarem s regras do jogo social, enfim, de buscar sufocar e conter manifesta-es de rebeldia contra as opresses do sistema social e econmico. Entendemos que se constitui em um dever tico do psiquiatra, ter do como valor maior o respeito liberdade do ser humano, colaborar para que o paciente reencontre o caminho do crescimento e da maturi-dade emocional. No cumprimento desta tarefa, deve haver um importan-te esforo do mdico no sentido de ajudar o paciente a compreender melhor a origem e o significado dos seus sintomas. Como assinala Hal-leck, deve o paciente ser estimulado a buscar conhecer em que exten-so seus sintomas so uma tentativa de influenciar o meio ambiente e tambm a tornar-se ciente de como o alivio dos sintomas pode mudar seu relacionamento com o meio ambiente. E acrescenta que este esfor-o do psiquiatra para incrementar o conhecimento do paciente acerca: de sua insero social no apenas uma necessidade tica, mas uma parte essencial do bom tratamento psiquitrico.
Pode-se concluir que, tendo a exata perspectiva do alcance e dos limites da psiquiatria e uma clara definio dos seus objetivos ticos, possivel que os psiquiatras deem uma importante colaborao na amenizao da dor e do sofrimen-to humanos. Vejamos de que forma estas diretrizes se aplicam pesqui-sa cientifica e a outros aspectos da prtica mdica cotidiana. Vl-A Pesquisa em Sade Mental Um dos aspectos mais notveis da aventura do homem ao longo da histria tem sido seu constante anseio de buscar novas perspectivas, abrir horizontes desconhecidos, investigar possibilidades ainda inexploradas, enfim, ampliar o conhecimento. Desde seus primrdios, os seres humanos se dedicam a investigar e a pesquisar, sendo esta curiosidade, este desejo de conhecer, uma das mais significativas foras impuisoras da humanidade. O que leva o homem a esta inquietao, a esta busca intelectual? Qual a origem e o significado deste esforo do homem para superar a si prprio e ao seu mundo? assunto que tem ocupado exaustivamen-te os estudiosos. O fato que esta ininterrupta e incansvel luta pelo saber tem sido uma das mais importantes atividades do homem. Ocor-re que, ao dar vazo ao seu insacivel af de descobrir, criar, conquis-tar, ao tentar realizar em toda a sua plenitude a livre aventura do espiri-to, o homem se depara com seus limites. A Biblia relata que, com o objetivo de alcanar os cus, os homens decidiram construir uma alta torre, a qual ficou conhecida como a Torre de Babel, pois da experincia resultou a confuso, a desordem, o desenendimento, a discrdia, como castigo divino por uma ao tida como orgulhosa. Em outra perspectiva, esta questo abordada por Goethe, em seu notvel poema Fausto, onde o personagem central se angustia com a constatao da pequenez dos seus conhecimentos ante a imensi-do do desconhecido e decide passar por cima de quaisquer regras ou consideraes para empreender a tentativa de desvendar os mistrios da natureza, os enigmas do universo. A verdade que, muitas vezes, tem sido o homem tentado a querer ultrapassar sua prpria condio humana, e este anseio, esta fantasia, se expressa nas crenas, nos mitos, no folclore e nas produes artsticas e literrias, mesclado com a intuio dos riscos inerentes a esta "transgresso". Coloca-se, aqui, em questo a prpria finalidade do conhecimento para o ser e as medidas que devem ser tomadas para que se harmoni-zem e se identifiquem conhecimento e sabedoria. Dizia Aristteles que toda arte e investigao e igualmente toda ao e todo propsito pare-cem ter em mira um bem qualquer. Ora, aceitando-se que o objetivo, vis-to como bom, para o labor de investigar, o beneficio do homem e nun-ca seu prejuzo, dificilmente se admitiria, de um ponto de vista moral, que a caminhada com vistas a este beneficio, ou seja, os procedimentos destinados a fazer progredir o saber, pudesse fazer-se sem o respeito aos valores maiores do homem, tais como sua vida, sua sade, sua liberdade, sua dignidade. Todavia, se a histria registra como indiscutvel que a procura, a in-vestigao, a pesquisa tm desempenhado papel fundamental no progres-so humano, proporcionando descobertas nos vrios ramos do saber e conquistas indispensveis ao bem-estar do homem, tambm
assinala que, em muitos momentos os avanos do saber, a cincia, a tecnologia tm sido utilizados em detrimento do homem, para a sua subjugao, quando no para o seu extermnio. E a prpria investigao por vezes tem se realizado sem nenhum compromisso com os valores humanisti-cos. Estes fatos demonstraram de forma cabal a necessidade de se ela-borar normas ticas a serem aplicadas pesquisa. No se trata de criar obstculos ao progresso da cincia, no se trata de pr restries, pelas investigao, criatividade cientfica. Trata-se, isto sim, de se adotar providncias para que esta investigao se d na observncia de uma regulamentao tica bem definida e aceita. Este cuidado se torna imprescindvel nos casos de pesquisa cujo objeto de estudo o prprio homem, sua vida, sua sade ou sua doena, enfim, nos casos de pesquisa biomdica em seres humanos. Des-de sua origem, a medicina tem sido conceituada como uma profisso a servio da sade do ser humano, em beneficio da qual deve envidar to-dos os seus esforos. E sabido, no entanto, que em vrias pocas hou-ve violao dos direitos humanos na conduo de experincias mdicas. Estes abusos se tornaram mais gritantes e chamaram mais a ateno durante a Segunda Guerra Mundial, quando prisioneiros foram submeti-dos a experimentas altamente lesivos aos seus interesses, justificando--se os promotores destes crimes com a alegao de que pretendiam al-canar verdades cientficas que, em ltimo caso, poderiam beneficiar a humanidade. A denncia destas ocorrncias levou a um esforo mun-dial para que fossem estabelecidas normas internacionais que discipli-nassem a prtica da pesquisa mdica. Embora muitos achem que moralmente no admissvel a experimentao em seres humanos, outros entendem que o progresso do conhecimento mdico se faz em grande parte devido pesquisa e que a etapa da experimentao no homem ainda indispensvel, uma vez que os resultados obtidas da testagem em animais de laboratrio no podem ser transpostos integralmente pa-ra o homem, sob pena de se incorrer em graves erros. Sendo este o en-tendimento prevalente e com vistas a evitar as distores apontadas, foi inicialmente elaborado o chamado Cdigo de Nuremberg, em 1946, ten-do posteriormente a Assemblia da Associao Mdica Mundial aprova-do um importante documento, intitulado Declarao de Helsinki, onde esto explicitadas as normas ticas a serem seguidas pelos mdicos nos trabalhos de pesquisa biomdica em seres humanos. Esta importan-te carta de princpios, cujo detalhamento no cabe fazer aqui, foi adota-da pelo Conselho Federal de Medicina como guia a ser seguido pelos mdicos brasileiros em matria referente pesquisa clnica. Por sua vez, o Cdigo de tica Mdica, aprovado aps ampla dis-cusso de que participaram medicas de todo o Brasil e posto em vigor a partir de janeiro de 1988, contm alguns artigos sobre pesquisa medi-ca, dentre os quais destacamos opargrafo nico do artigo 123, que diz: "Caso o paciente no tenha condies de dar seu livre consentimento, a pesquisa somente poder ser realizada, em seu prprio beneficio, ' aps expressa autorizao de seu responsvel legal". J o Artigo 129 pontifica que: vedado ao medico... "Executar ou participar de pesqui-sa mdica em que haja necessidade de suspender ou deixar de usar te-raputica consagrada e, com isso, prejudicar o paciente". Este conjunto de normas consagrou os preceitos humansticos que milenariamente nortearam o exerccio da medicina, tendo por principio axial a prevalncia da pessoa humana sobre o conhecimento e a compreenso de que a cincia s se justifica se estiver a servio da humanidade.
Qual deve ser a aplicao dessas regras ticas na psiquiatria? Co-mo nas demais reas da medicina, a pesquisa necessria em psiquia-tria, at para se evitar que condutas mdicas incorretas e prejudiciais aos pacientes continuem sendo adotadas pelo simples fato de no pas-sarem pelo crivo da comprovao cientfica. H mesmo o dever moral de pesquisar, e, na verdade, se ocorrem males porque experimentaes so realizadas descumprindo normas ticas, tambm se verificam claros malefcios pelo fato de no se pesquisar. Ora, se em pesquisa clnica em geral no h segurana na transposio para o homem de dados obtidas em animais, em termos de concordncia de respostas, maior dificuldade vai existir na rea psiquitrica, uma vez que as doenas psi-quitricas, como as conhecemos, no ocorrem em animais; por outro la-do, os psicofrmacos usualmente empregados em psiquiatria tm pouco efeito sobre indivduos normais. De tal forma que mais imprescindvel se torna, para que se avance o conhecimento psiquitrico, que sejam I realizadas pesquisas em portadores de doena mental. Dadas as suas peculiaridades, no entanto, a pesquisa em psiquia-tria, alm de implicar necessariamente na observncia dos princpios ticos anteriormente mencionados, suscita questionamentos especficos de grande relevncia. O primeiro deles se refere ao problema do con-sentimento informado, ou consciente, to importante para a adequa-da participao de uma pessoa em qualquer pesquisa. Se a precisa ca-racterizao de quem tem ou no capacidade para consentir consciente-mente uma questo a ser equacionada pela cincia e pela tcnica psi-quitricas, ainda assim nos restar uma importante interrogao: o que fazer em relao aos pacientes que no tm capacidade mental para consentir conscientemente? O Cdigo de tica Mdica aponta um cami-nho, ao aceitar que o consentimento possa ser dado pelo responsvel legal do paciente. Mas impe a exigncia de que a pesquisa tenha que se destinar a beneficiar diretamente a pessoa submetida a mesma. Outra situao que d margem a dvidas aquela em que o pes-quisador suspende ou deixa de utilizar um tratamento j consagrado, para experimentar um novo tipo de teraputica, por exemplo, um novo medicamento. Tem de ser bem avaliada a possibilidade de o quadro psiquitrico vir a se agravar. Caso haja um componente depressivo severo, o risco de suicdio poder ser um fator de contra-indicao para este pro-cedimento. Igualmente h que se ter em conta que existem certos casos de esquizofrenia cujo prognstico parece piorar consideravelmente se ocorre uma demora na utilizao da medicao adequada. Em qualquer caso, nunca demais recordar o antigo principio hipocratico do primam non nocere. No se exige do mdico as habilidades de Blacaman, fan turstico personagem do escritor Gabriel Garcia Marques, capaz de curar os pacientes at de doenas que no tinham. Contudo, o mesmo que se pode esperar que a conduta mdica no venha a ser mais danoso que a doena. De todo modo, e indispensvel o estabelecimento de crit-rios bem definidos de incluso e excluso de pacientes psiquitricos em pesquisas mdicas. Se alguns pacientes no devem ser includos em virtude do seu quadro mental, outros tambm no devero s-lo por fatores tais como sua resposta a tratamentos realizados anteriormente. Referimo-nos a pacientes que, em crises pregressas, tiveram excelente melhora com o uso de determinada teraputica. No seria admissvel que se privasse estes pacientes do tratamento comprovadamente eficaz, para inclui-los em procedimentos de experimentao clnica.
Constata-se, assim, que existem hoje normas ticas bem elabora-das acerca da pesquisa em seres humanos, as quais, se fielmente ob-servadas, contribuiro para evitar que a luta pelo progresso do conheci-mento se faa revelia dos direitos humanos. Existe atualmente uma conscincia mais ntida a respeito da responsabilidade social e tica do cientista, do pesquisador, e a convico de que se pode fazer avanar a cincia, sem que seja necessrio firmar um pacto com o diabo. Des-ta forma, a pesquisa clnica, de tantos e to meritrios feitos, poder se realizar dentro de padres universalmente aceitos, respeitando-se a vi-da, a sade e a dignidade dos seres humanos. VII-Dilemas ticos na Prtica Psiquitrica O trabalho clnico dirio, por sua vez, freqentemente coloca o m-dico diante de situaes que requerem no apenas conhecimento tcni-co-cientifico e agudeza profissional, mas tambm compreenso e discer-nimento quanto s implicaes morais de sua atividade. E nem sempre fcil adotar a conduta mais acertada, consentnea com os difames ti-cos da profisso mdica. Algum poderia dizer que o Cdigo de tica Mdica j traz as linhas mestras que devem ser seguidas pelos mdicos em geral, inclusive os psiquiatras. Ai poderiam os profissionais da psiquiatria se orientar quanto aos vrios tpicos da tica profissional. E, na verdade, o Cdi-go de tica Mdica em vigor contm um moderno conjunto de regras, ' estabelecidas com o intuito de contribuir para o reencontro da medicina- com a sua vocao humanstica, do mdico com a dignidade do seu 1 trabalho. Incluindo dispositivos voltados para a questo dos direitos humanos, enfatizando as responsabilidades do medico como tcnico e co-mo ser social, condenando qualquer forma de discriminao ou de vio-lentao da pessoa humana, nossa carta de normas no omitiu os tradi-cionais temas da tica mdica, alguns dos quais podem ser aqui referi-dos. Um deles, que tem dado margem a tantas distores, o diagns-tico. Quantos de ns j tomaram conhecimento de casos em que o diag-nstico psiquitrico e utilizado como uma arma contra o doente, um es-tigma que favorece tantas vezes a discriminao e a violao de direitos. Intimamente relacionados com o diagnstico temos os captulos dos ates-tados mdicos e do segredo profissional, de implicaes ticas e jurdicas. J tomamos conhecimento de um caso em que os prprios familia-res de um paciente buscavam o atestado mdico com um diagnostico psiquitrico, com o objetivo de utiliz-lo para se apossar dos bens do do-ente. O mau uso e as manipulaes que podem estar associados ao diag-nstico e aos atestados mdicos no podem ser omitidos pelos psiquia-tras, os quais devem se acautelar para evitar que o seu trabalho, cuja finalidade se vincula ao zelo pela sade e a dignidade dos pacientes, venha a ser utilizado para manobras esprias. Tambm convm fazer algumas reflexes sobre o segredo mdico. S para exemplificar, lembremos as modalidades de terapia de grupo e a documentao do trabalho teraputico atravs de gravaes de som, vdeos etc., onde podem surgir novos aspectos do segredo. Pensamos no ser necessrio insistir na necessidade de autorizao, por parte do paciente ou seu responsvel, para que o trabalho teraputico seja assim documentado, bem como quanto ao uso necessariamente restrito e judi-cioso do material clnico e a cautela no que se refere a sua guarda.
H circunstncias, porm, em que o psiquiatra ter enormes dificuldades em discernir qual a conduta correta a adotar. Podem surgir si-tuaes em que o segredo mdico, to valorizado como um dos pilares da relao mdico-paciente, seja fortemente posto em xeque. Sandro Spinsanti relata um caso em que um medico psiquiatra foi processado pelos pais de uma moa assassinada por um de seus pacientes. Ocor-re que o paciente relatara previamente ao mdico ter planos de cometer homicidio. O profissional providenciou o internamento do paciente, mas no comunicou aos familiares da jovem ameaada o risco existente. Aps a alta, o paciente acabou por realizar seu intento. No julgamento do processo, o tribunal, embora reconhecendo ser de interesse social a confidencialidade das informaes obtidas no contexto teraputico, en-tendeu que, naquele caso, deveria ter prevalecido a preocupao com a segurana de terceiro contra a agresso do paciente e concluiu ser o psiquiatra culpado de negligncia profissional. Outra questo que traz grandes inquietaes e dvidas a vasta utilizao de psicotrpicos na pratica clnica. H uma tendncia a medi-car e uma expectativa de ser medicado. Vivemos em um mundo onde a dor, a ansiedade, a tristeza, em qualquer grau de intensidade, tm de ser combatidas por uma ao medicamentosa. Dai j ter sido dito que a nossa uma "cultura analgsica". Sem negarmos a extraordinria importncia dos psicofrmacos, principalmen-te no tratamento das psicoses, alertamos para a distoro que a medi-calizao ou "psiquiatrizao" dos problemas scio-econmicos ou existenciais. Recordemos o ensinamento dos clssicos pregos, de que o aprendizado se da no sofrimento, para valorizar o potencial do ser huma-no de desenvolver recursos adaptativos e de elaborao das situaes penosas. Ainda no tocante teraputica, assinale-se a crescente capacida-de de modificao do comportamento humano pelo uso das terapias psi-quitricas, sejam os psicofarmacos, as psicoterapias, a neurocirurgia ou a nascente engenharia gentica. O registro feito para, mais uma vez, enfatizarmos ser imprescindvel a coletividade encontrar meios de assegurar que a utilizao dos recursos cientficos se d sempre respei-tando-se os direitos humanos. Diversas outras interrogaes so inerentes ao cotidiano dos psi-quiatras. O verdadeiro paraso do homem aquele que se estruture sob o primado da razo? H espao, no competitivo mundo de hoje, para os que deliram ou alucinam? Pode-se admitir que os doentes mentais tm o direito de recusar qualquer forma de tratamento, ou, pelo menos, algumas condutas teraputicas? Como conciliar o respeito liberdade dos pacientes psiquitricos com o dever da sociedade de prestar assistncia aos doentes graves? V-Doena Mental e Cidadania Estas indagaes nos levam diretamente abordagem dos direitos dos pacientes psiquitricos. J pertence histria da psiquiatria o mo-mento em que houve o reconhecimento do direito dos doentes mentais ao tratamento, superando-se, assim, a fase em que estes pacientes eram simplesmente expulsos das comunidades, ou recolhidos s prises e hospcios, sem que lhes fosse ministrada qualquer assistncia sanitria. Entretanto, o processo de conscientizao de que a doena mental no exclui a cidadania, tendo, portanto, os pacientes psiquitricos, tanto quanto todas as outras pessoas, direito
liberdade, ao respeito e a considera-o dos membros da sociedade, ainda est longe de se completar. Os doentes mentais continuam sendo tratados como cidados de segunda categoria, vitimas de uma forma de apartheid social em que a tnica e a marginalizao, o preconceito, a discriminao. Que conseqncias teve esta viso acerca da doena mental pa-ra o tratamento dos pacientes? E que esforos tm sido feitos para um redirecionamento dessa questo? Ao longo dos tempos, tal maneira de ver as coisas resultou na adoo do internamento compulsrio prolonga-do como a forma predominante de tratamento psiquitrico. Deste modo, embora a psiquiatria se propusesse a avaliar o sofrimento psquico, ter-minava por contribuir para a excluso e o controle de um segmento social. Como j afirmamos em outra parte, "s aps muito tempo, porm, foram se tornando mais numerosos os que postulavam que a psiquiatria precisava, a partir de uma profunda reviso de suas premissas morais e cientficas, desvencilhar-se do inaceitvel papel de instrumento de se-gregao e controle social, reformular suas propostas e renovar sua ao teraputica. Tal perspectiva passou a apontar para o reconhecimento do doen-te mental como um ser humano integral, um sujeito de pleno direito. Ho-je multiplicam-se em vrios pases os movimentos com o objetivo de con-cretizar esta grande mudana de concepo e de prxis. Neste contex-to, inserem-se a lota contra a psiquiatrizao dos problemas sociais e econmicos, a discusso sobre o papel do hospital psiquitrico, a bus-ca de outras formas de assistncia sade mental que privilegiem a comunidade como o local ideal onde o paciente deve ficar e onde se dar seu esforo pelo crescimento e pela liberdade. So, por fim, alvo de gran-de reflexo temas de maior relevncia tica e moral, tais como a ques-to do consentimento e do tratamento compulsrio". Nesta linha de afirmao dos direitos dos doentes mentais inserem se o documento da ONU, intitulado "Princpios para a Proteo das Pes-soas que Padecem de Enfermidades Mentais e para a Melhoria da Assis-tncia em Sade Mental", de 1991, e o Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado, em tramitao no Parlamento Brasileiro. IX-Concluso O presente trabalho no tem por objetivo dar respostas definitivas, nem apresentar solues, mas formular algumas questes que nos pare-cem instigantes e suscitar nos psiquiatras uma atitude mais indagadora, um repensar dos valores automaticamente aceitos e um mais freqente questionamento das prticas adotadas no trato dos problemas psiquitricos. Queremos concluir com uma reflexo que tivemos o ensejo de formular em parecer apresentado em sesso plenrio do Conselho Nacio-nal de Sade: "A que serve a Cincia? A quem aproveita o saber? E de pronto respondemos: em qualquer momento de nossa caminhada ter como regra bsica que o saber, inclusive o saber psiquitrico, no po-de contribuir para o desrespeito, a discriminao, a subjugao do ser humano. Deve sim,
buscando harmonizar a cincia e a moral, colaborar ara que o ser humano cresa e alcance, em toda a plenitude, sua liberdade, realizando plenamente sua dimenso humana". Bibliografia __________ A Bblia Sagrada. Sociedade Bblica do Brasil, Braslia. 1969. __________ Cdigo de tica Mdica. Aprovado pela Resoluo CEM n 1246/88. de 08/01/88. .. ARISTOTELES. tica a Nicmaco. Coleo Os Pensadores, Nova Cultural, So Paulo, 1987. .. EY, H., BERNARD, P. e BRISSET, C. Manual de Psiquiatria. 5a ed., Editora Masson do Brasil Ltda., Rio de Janeiro, 1981. .. F, I.A.M. A Sade Msatal no Brasil e o Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado. Parecer exarado para o Conselho Nacional de Sade, Braslia, 1992. .. FRANA, G.V. Direito Mdico. 5a ed., Fundo BYK, So Paulo, 1992. .. FREUD, S. Obras Completas. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1967. .. FROMM^REICHMANN, F. Princpios de Psicoterapia Intensiva. 5a ed., Edicio nes Horm S.A.E., Buenos Aires, 1980. . JORES, A. El Hombre y su Enfermedad. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1981. .. SPINSANTI, S. tica Biomdica. Edies Paulinas, 1990. .. VAZQUEZ, A.S. tica, 6' ed., Editora Civilizao Brasileira S.A., Rio de Janei-ro, 1983. tica e Psicanlise Antonio Carlos M. Cesarino A psicanlise uma tcnica teraputica e um mtodo de pesquisa. No presente artigo, discutimos aspectos da utilizao tica desse ramo do saber por profissionais mdicos. No so apenas mdicos que se utilizam desses conhecimentos, mas a eles que nos referimos neste texto. Como tcnica teraputica pode-se, para fins deste capitulo, situ-la como uma das formas de realizar psicoterapia, aqui definida simplesmente como "tratamento de problemas e distrbios emocionais por meios psicolgicos" (H. Goto). Todo os que militam no campo da sade mental (e da sade em geral) sabem que esto exercendo algum tipo de influncia psicolgica sobre seus pacientes durante a relao terpeutica. Quando essa influncia e intencional e consciente podemos dizer que esto executando alguma forma de psicoterapia. Freqentemente, essa atuao e informada de maneira mais ou menos erudita por conhecimentos psicolgicos e ou psicanalticos. O que se expe a seguir fundamentalmente dirigido aos profissio-nais mdicos que se dedicam psicanlise como especialidade. Natu-ralmente, muito do que aqui se considerar
aplica-se tambm psicotera-pia mdica, em todas as suas formas. Essa questo no considerada neste escrito diretamente. De passagem vale a pena lembrar que no existe no Brasil legisla-o que regulamente a profisso de psicoterapeuta, ou que distinga psi-coterapeuta de psicanalista. Dessa maneira, a prtica da psicoterapia passou a ser um campo de atuao possvel para qualquer profissional de sade. H um parecer do Cremesp que "recomenda", mas no po-de exigir, que os mdicos que desejem trabalhar com psicoterapia faam sua analise pessoal e realizem um curso de especializao (H. Goto). Este texto, entretanto, refere-se aos psicanalistas. Aqui, novamente, colo-ca-se uma situao de difcil soluo. Como j foi dito, no existe uma legislao que defina com clareza o que o psicanalista mdico, nem se distingue uma especialidade mdica (como a de psiquiatra, por exem-plo, que no exige formao especifica em psicanlise ou em outra for-ma de psicoterapia, por mais estranho que parea). Assim, existem m-dicos que se autodefinem como psicanalistas sem pertencer a qualquer grupo organizado de profissionais. Talvez o grupo maior de psicanalistas mdicos organizados seja o de filiados Associao Brasileira de Psica-nlise, atravs de uma de suas organizaes regionais. H, entretanto, numerosos grupos, com estrutura e orientao doutrinaria variadas. Des-sa maneira, em relao indispensvel formao tcnica para uma atua-o profissional adequada, no podemos colocar grande nfase neste artigo. Como toda relao mdica de ajuda, a atuao do profissional deve se basear em princpios ticos definidos e claros. Nessa linha, o principio fundamental aquele que vale para toda a prtica mdica: "O al-vo de toda a ateno do mdico a sade do ser humano, em beneficio da qual dever agir com mximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional" (Cdigo de tica Mdica, artigo 2). Como se coloca neste contexto a preocupao de manter uma rela-o fundamentalmente tica? Para que se saiba com clareza sobre o que estamos falando, im-portante que posturas bsicas sejam colocadas desde j. No cabe aqui naturalmente desenvolver uma grande discusso filosfica a respei-to da tica e da moral, enquanto categorias tericas. Isso necessitaria um capitulo parte dentro deste livro. A prpria tica da psicanlise se presta a profundas e fecundas discusses, que so objeto de trabalhos importantes, que devem ser conhecidos por quem desejar se aprofun-dar no assunto. (O leitor interessado encontrar algumas indicaes bi-bliogrficas no fim deste capitulo). O complexo tica-moralideologia no ser jamais suficientemente discutido. Apenas alguns aspectos que nos parecem mais pragmticos podero ser lembrados neste texto. Talvez uma citao bastante significativa possa definir uma posio que nos parece fundamental; "Na poca em que Freud se tornou mdico, dois papis haviam sido estabelecidos para o psiquiatra e so ainda hoje grandemen-te aceitos: um o de agente da sociedade: o psiquiatra do hospi-tal do Estado, embora parea estar cuidando do paciente, est realmente protegendo a sociedade dos atos do paciente. O outro o papel de agente de todos e de ningum: rbitro dos conflitos entre o paciente e a famlia, entre o paciente e o empregador, e assim por diante: a lealdade desse tipo de psiquiatra dada aquele que o paga.
Freud recusou-se a desempenhar qualquer desses dois papis. Ao invs disso, criou um novo-o de agente do paciente. Em minha opinio, essa foi a sua maior contribuio para a psiquiatria (Thomas Szazs)." No seu livro A tica da Psicanlise, entre outras coisas, Szasz quer distinguir dois nivele de atuao, um nvel "psiquitrico" e um nvel psicanaltico, como atividades diferentes, de inteno e endereo di-ferentes. Quer falar da psicanlise, que executada para os ricos, e da "psiquiatria", dirigida aos que no tm dinheiro para a psicanlise. Uma discusso que se coloca-entre ns particularmente importante nos dias que correm- a de como se acomoda com um comportamen-to tico adequado essa situao dupla, vivida com freqncia pelos pro-fissionais mdicos entre ns. Com os pacientes "psiquitricos" do trabalho na instituio pblica (ou conveniada), trabalha-se com uma determi-nada postura, com os demais, no consultrio, essa postura diferente. Duas ticas, para duas situaes distintas? Mas nas duas o objeto o mesmo: o ser humano em sofrimento. Como se colocar a situao de "agente do paciente" nessas circunstncias? E exatamente nesta situao (de trabalho com pacientes carentes na instituio pblica), em que o terapeuta age fora de seu setting tradicional (aquele para o qual ele foi treinado), que a possibilidade de um tratamento verdadeiramente tico das questes da prtica se torna mais difcil. No simples criar normas de conduta que sejam mais ou menos "adequadas", at porque as universidades e os demais aparelhos l formadores no preparam os profissionais para esse tipo de trabalho. Existe o risco de a formao psicanaltica ocasionar um certo vis na percepo de suas criaturas. A crena de que apenas uma relao de tratamento individual pode chegar a atingir a compreenso e a "cu-ra" atravs da utilizao instrumental da transferncia e da interpreta-o pode ser uma das razes importantes de desestmulo dos jovens analistas em relao ao trabalho nas instituies. Na realidade, essa afir-mao era (ou ) decalcada na velha experincia de observao da vi-da dos pacientes psiquitricos colocados em condies tipo asilares nos hospitais, sem qualquer tipo de cuidado que no seja o da rotina cronifi-cadora das relaes (ou falta de relaes) dos pacientes e dos "tcni-cos". Na realidade, atualmente se tem um grande acmulo de informa-es nascidas de outras formas de convivncia com as diferentes ma neiras em que se apresenta o sofrimento psquico. H situaes em que se podem criar condies de permanente estimulao e contato criati-vo, no rotineiro e burocrtico. Ai surge um outro relacionamento muito mais vivo e completo com a loucura, aqui vista menos como doena, mas mais propriamente como uma forma diferente de existir no mundo. A subjetividade, afinal, fruto da somatrio de uma grande quantidade de componentes. Alm da fala, de importncia bsica, h tambm meios de comunicao corporais, gestuais, relaes com o espao fsico, relacionamentos sociais de diversas ordens, situaes econmicas, interaes com diversos agentes, alm de seu terapeuta etc. Tudo isso e mui-to mais so dados que enriquecem a descoberta de atuaes at ento inesperadas nos psiquiatrizados de todo o tipo. Assim, a vivncia da rela-o com o paciente nessas condies pode enriquecer muito a conscin-cia e a habilidade do analista. Quando se tende a permanecer naquela atitude retrgrada e desenformada, o psicanalista perde a chance de en-riquecer seu cabedal de conhecimentos e, mais do que isso, a institui-o perde o concurso interessado de um profissional de
grande utilidade. Naturalmente no se pode dizer que a psicanlise responsvel pe-lo vis anteriormente referido, mas sim o tipo de formao produzido por determinado rgo formador. A psicanlise no , mas pode ser obe-diente tica dominante, se no fornecer (ou exigir, ou facilitar) uma vi-so mais geral da estrutura social. Deve lembrar que uma terapia psica-nalitica uma ao de sade mental, e, portanto, por mais liberal ou contratual que possa ser o trabalho, ele , enquanto ao de sade, um trabalho de alcance pblico e, portanto, um trabalho que no tem como ignorar honestamente um vinculo poltico. Idealmente o profissional deveria ter presente, com certo grau de clareza, que na sociedade que se desenvolvem os dramas humanos (em algum lugar dessa sociedade). Ora, a sociedade no uniforme. Os diferentes estratos sociais se organizam em dominantes e domina-dos e vivem interesses e possibilidades diversas. A frao dominante im-pe as normas que lhe interessam para manter o status que. Assim a tica formalizada a que devemos obedecer a tica da classe dominan-te. bvio que para a classe dominada suas regras so mais problema-ticamente aplicveis, quando o so. Se a tica se refere maneira de existir e se relacionar dos indivduos, fica claro que a tica do dominan-te no pode ser igual tica do dominado, por mais que esta ltima no tenha sido jamais de fato formulada. Nesse sentido, quando abordamos a tica da psicanlise no presente texto, importante que se tenha pre-sente de que boa parte do que ser dito trata de aspectos de relaciona-mento entre indivduos de nveis scio-econmicos e culturais pelo me-nos aproximados. Seria assunto de um outro trabalho, importante e com-plexo em sua realizao, inclusive em funo de suas implicaes polticas e ideolgicas indispensveis, a discusso dessa tica ao nvel da re-lao de pessoas socialmente "diferentes". Como se v, portanto, tica no algo que paira no ar. Na medi-da em que se refere s relaes reais de pessoas concretas, ela se esta-belece e realiza a partir do que realmente ocorre entre as pessoas em relao. Assim, alm de respeitar uma srie extensa de regras de com-portamento que sero expostas mais adiante, h todo um conjunto de comunicaes verbais e extraverbais que se desenvolve durante o cor-rer dessa relao que significam posturas, aprovaes e rejeies que entram em jogo, de forma quase ou totalmente inconsciente, ou pelo menos imperceptvel. Por ai est sendo transmitida, em pequenos deta-lhes, a ideologia do terapeuta. Dessa forma, como muito intima e delicada a relao entre os participantes da atividade analtica, na qual o analista sempre, por mais que queria evit-lo, desempenha um papel de autoridade, a preocupao com o respeito liberdade e autonomia do paciente deve estar sempresente. Esse interjogo de influncias muito sutil para que possa ser codificado. Apenas atuaes grosseiramente autoritrias podero ser percebidas com clareza pelo cliente. possvel ainda e relativamente comum que este deseje, em funo de suas dificuldades emocionais renunciar sua liberdade e almejar ser dirigido em suas decises existenciais pelo terapeuta. Essa utilizao em si antitica da relao analitica pode escapar da percepo de ambos e no h como codific-la. Deveria ser objeto de parte do cuidadoso trabalho de formao tcnica do psicanalista. Entre muitas posturas eticamente importantes do profisso-
nal, uma que deve ser sempre lembrada a de tentar se colocar a servio do paciente no sentido de ajud-lo a saber mais sobre si prprio para poder se situar como responsvel real por suas decises. Pode haver certo tipo de necessidade subjetiva no totalmente reque venha a ser discretamente satisfeita pelo decorrer da relao analtica: bastante comum que a sensao de poder que redunda dessa situao seja extremamente gratificante. Obviamente, impe-se renunciar a essa gratificao. H muitas maneiras definir o trabalho psicanaltico e atravs dele a meta essencial desse trabalho. Trata-se de definies baseadas mais ou menos corretamente na teoria, na tcnica e no setting escolhido. No o caso aqui de se entrar numa discusso de escolas dentro do movimento psicanaltico. Mas pode-se afirmar, sem medo de contestao, que todas elas aceitam como bsica a postura, aqui j sugerida, de auxiliar o paciente a conseguir o nvel possvel de liberdade pessoal. Como se situa essa meta com o paciente socialmente carente, "psiquitrico "? No se pode deixar de considerar que essa finalidade fica essencialmente comprometida quando se trata de pessoas que no tm possibilidade de ter acesso s liberdades individuais em dada estrutura social. Seria equivocado pretender que se pudesse ajudar adequadamente nesse sentido algum que no concerto civil no gozasse dessa situao. importante que o psicanalista tenha o nvel de informao e a tomada de conscincia suficientes para no cair no erro grosseiro (e infelizmente um tanto freqente) de "psicologizar" situaes de contradio scio econmica. Isso seria desperdiar pelo uso inadequado um bom instrumento de trabalho, alm de prestar ao cliente um desservio, ao ampliar o nvel de sua alienao. Colocadas essas premissas que nos parecem indispensveis (no temos uma soluo "tica" para problemas cuja natureza essencialmente poltica, neste contexto onde nos movimentamos agora), passamos a considerar os diferentes aspectos que definem uma situao tica na psicanalise. O profissional mdico deve se responsabilizar pela sua conduta na relao com seus pacientes, seus colegas, com os padres e limites de seu fazer tcnico, bem como com suas associaes profissionais e formadoras de novos psicanalistas. O mesmo se d naturalmente em re-lao sociedade em que vive e trabalha. Relao com os pacientes O artigo 5 do Codigo de tica Mdica (CEM) reza que "o mdico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso cientifico em beneficio do paciente". Neste contexto, isso sig-nifica que o psicanalista deve estar sempre ampliando e reciclando seus I conhecimentos, deve ser capaz de aplicar novos desenvolvimentos em sua
prtica, contribuir quando possivel para esse desenvolvimento atra-vos da relao cientifica com seus colegas de profisso e com a sociedade em que vive. Dentro do principio de autonomia que deve reger sua prtica (arti-go 7 do CEM) tem direito de escolher seu cliente e as condies em que I vai servi-lo. Por outro lado, deve recomendar, ou aceitar para a psican- I liso apenas os individuos que julgar, atravs de seu melhor tirocinio, co-mo objetos adequados para esse tipo de tratamento. O cliente deve ser I informado de forma suficientemente clara sobre o tratamento que se pro- I pe, de maneira a poder tomar com independncia e conhecimento a , deciso de se submeter ou no a esse procedimento. No se pode ex^ cluir essa informao, se o que se pretende realizar um trabalho de cunho teraputico ou apenas de anlise. Inclusive no devem ser esca^ moteadas informaes sobre outro tipo de tratamento alternativo (CEM, artigos 56 e 59). Apenas depois dessas informaes deve ser estabelecido um con-trato explicito de trabalho, do qual deve fazer parte uma concordncia a respeito dos honorrios. A discusso desses honorrios deve ser con-duzida com realismo e humanidade (CEM, artigo 89). Estabelecido este contrato, o psicanalista no pode negligenciar o tratamento de seu paciente, colocando-se dentro do possivel e das necessidades reais desse clien-te sua disposio, mesmo para emergncias, sempre que no se cora sidere, em funo da situao especfica do tratamento em questo, que o atendimento extra possa prejudicar o curso adequado da anlise. Por outro lado, o psicanalista no deve prolongar o tratamento alm do tem- ~ po necessrio, apenas para assegurar a continuao de seu ganho finan ceiro. A peculiar situao de um tratamento psicanalitico confere ao ter pauta uma posio de poder em relao a seu cliente. Esse poder no pode, em qualquer hiptese, ser utilizado para explorar monetariamen-te o paciente, ou conseguir, atravs dessa situao, vantagens que no sejam aquelas pecunirias advindas do contrato prvio (CEM, art. 65). A liberdade de decidir do paciente deve ser sempre profundamente res-peitada. O contacto deve ser sempre adequado, coloquial e cuidadoso, tendo em vista a questo da transferncia que se estabelece. Esto encluidas naturalmente quaisquer atuaes ameaadoras ou violentas, ex-ceto em circunstancias em que seja necessrio se defender de eventuais reaes agressivas explcitas (Artigos 48 e 65 do CEM). No se admite qualquer envolvimento sexual do terapeuta com seu paciente ou qualquer pessoa proximamente relacionada com ele. Tal ati-tude ser no apenas antitica, mas prejudicial em relao ao prprio tratamento. Mesmo durante considervel tempo aps o trmino da tera-pia, essa forma de aproximao deve ser evitada, uma vez que persis-te a possibilidade de se tratar de uma situao transferencial e, portan-to, com diminuda capacidade de escolha ex-paciente. No se ignora a possibilidade de surgir um envolvimento amoroso entre as duas pesso-as em questo. Neste caso, entretanto, a terapia deve ser interrompida e o paciente encaminhado a outro profissional. A prudncia indica que o prprio analista se consulte com outro colega a respeito de seus senti-mentos. Eventuais contactos sociais extrateraputicos entre os participantes do tratamento no so proibidos, mas devem ser considerados e maneja-dos com discrio e cuidado.
de todo desaconselhavel que relaes de tipo comercial que no as definidas no contrato inicial se realizem entre ambos (CEM, artigo 65). O psicanalista mdico pode sentir necessidade, durante a terapia, de receitar medicamentos para seu paciente. A forma de tratamento e postura individual do tcnico vai definir se essa prescrio ser feita por ele mesmo ou se outro colega deve ser procurado. No necessrio acentuar que a prescrio de remdios tem em si um significado simblico que deve ser levado em considerao ao decidir receit-los ou no. Todas as recomendaes anteriormente colocadas tm uma base fundamental de referncia: o psicanalista deve se colocar, em todas as vicissitudes da terapia, como agente do paciente. Assim, a preservao do segredo mdico reveste-se de particular importncia e devem ser atentamente observados os artigos pertinentes do CEM (artigos 102 e 103 principalmente). O bom senso (e a consulta ao CRM local, quando necessrio) nortear a aplicao adequada des-ses principias. O segredo at pode ser rompido em circunstancias especiais, quando isso puder ser til para o paciente, ou quando revelaes ocorridas durante o processo teraputico coloquem em grave risco a vi-da ou a sade de outras pessoas de seu convvio (por exemplo, no ca-so hipottico de um paciente que revele estar decidido a assassinar ou-tra pessoa). Em casos particularmente difceis o psicanalista pode (e at acon-selhvel) procurar superviso ou consulta com outro colega. Ou apresen-tar sua dvida ao CRM local. Crianas e adolescentes No caso do tratamento de crianas e adolescentes obviamente certas modificaes dos procedimentos aqui j expostos se fazem necessrias, embora em linhas gerais as mesmas disposies se apliquem. mesmo se coloca em relao ao paciente psictico. Naturalmente ente o contrato, em seus aspectos pecunirios e outros, deve ser feito com o concurso dos pais ou responsveis. O cuidado no trato pessoal deve ser ainda mais atento, dadas as peculiaridades dessa faixa etria. Ateno com o segredo mdico: no obrigatoriamente o que se passa e uma situao de anlise deve ser revelado aos pais ou responsvel Alm das consideraes de ordem tcnica, nesse particular importa te a observncia do artigo 103 do CEM. Relaes com os colegas Devem ser norteadas pelos princpios ticos gerais do respeito da liberdade e independncia profissional (artigo 18 do CEM), sem p der de vista o interesse e bem-estar dos pacientes. Embora como profissionais devam pronunciar-se livre e abertamente sobre suas opinies' posturas em relao s diferentes formas de exerccio da psicanlise' da psicoterapia, esse pronunciamento deve ser tico e respeitoso, cine do-se mais a consideraes de ordem tcnica ou doutrinaria do que apreciaes de carter pessoal. Isso no significa que devam ser a bertados maus profissionais, mas que mesmo as referncias a esl em qualquer contexto, devam ser exaradas de tal maneira que no confundam com
maledicncias. O mais adequado, sempre que possvel que a critica a esses profissionais vistos como mprobos seja execuo da onde houver condies de levar a correes tcnicas ou administravas de sua ma conduta: o foro institucional ou profissional em que No licito, entretanto, deixar que um colega, por seu procedimento profissional inadequado, prejudique um paciente, quando isso ocorrer m f, incompetncia ou at mesmo por estar em condies de se deficientes. A interveno em situaes desse tipo, quando no p' ser via instituio, deve ser o mais discreta possvel, sem por isso der sua eficcia (CEM, artigo 19). Quando procurado para tratamento por paciente em anlise outro colega, aconselhvel solicitar ao cliente que encerre prelim mente sua relao terapeutica anterior. Alm da considerao tcnica de que pode se tratar de uma; o referente a algum incidente da outra terapia, colocasse a que de considerao pelo outro profissional. A relao com colegas ou futuros colegas ainda em forma veste-se de obrigaes semelhantes s devidas aos pacientes e col de mesmo nvel, alm evidentemente, da busca da melhor forrr transmisso dos conhecimentos adquiridos durante o exerccio da profisso. Relaes com as intituies formadoras e a sociedade em geral Como j foi dito, ao realizar uma psicoterapia (ou uma anlise) es-ta sendo feita uma ao de sade, portanto est sendo realizado um servio pblico, ainda que dentro de um setting liberal, artesanal e con-tratual. Dessa maneira, o profissional deve ter presente durante todo o tempo que um cidado, afetado de direitos e deveres que caracterizam essa cidadania. O mesmo se d com seu paciente. Por mais perturba-do emocional ou socialmente carente que seja, esse paciente tambm um cidado, que goza exatamente dos mesmos direitos (e deveres) que o mdico. Nessa medida, enquanto membro ativo de suas sociedades profissionais, gerais e de especialidades, o psicanalista esta, como to-dos os outros profissionais mdicos, ligado s determinaes de seu C-digo de tica, assim como ao Cdigo Internacional de tica Mdica, s declaraes de Nuremberg, Genebra e Helsinque e a Declarao Uni-versal dos Direitos do Homem. Isso define com clareza suficiente suas obrigaes enquanto protagonista da sociedade em que vive e trabalha. (Para detalhes sobre essas declaraes, ver o Cdigo de tica Mdica indicado na bibliografia). Referncias Bibliogrficas O que foi acima exposto fruto de longa experincia como psiquia-tra e como conselheiro do Cremesp. Muita coisa foi lida, vivida e discuti-da, de tal que h conhecimentos e opinies que passaram a fazer par-te de nossa formao, aps um trabalho pessoal de elaborao. Assim nem tudo o que se diz neste texto acima obrigatoriamente prprio, mas fruto de informaes de diferentes fontes que se perderam no tem-po; muitas vezes inclusive discordamos dessas fontes, mas foram esti-mulo para reflexo. Os titulas abaixo so os que nos foram ultimamen-te teis em relao ao assunto. Nem de longe pretende ser uma biblio-grafia mais completa. Os psicanalistas Plnio K. Montagna e Antnio Lan-cetti, de diferentes situaes dentro do mundo psicanaltico leram e co-
mentaram este trabalho. No tm, entretanto, qualquer responsabilida-de pelos conceitos aqui emitidos. Bibliografia . Cdigo de tica Mdica. Conselho Federal de Medicina, 1988. . Fassa, B. e Echenique, M.: Poder e Amor: a Micropolitica das Relaes. Ed. Aleph, So Paulo, 1992. . Goto, H.: Parecer-Consulta "A Psicoterapia campo comum a todos que atuam I no campo de sade mental" In tica Medica, CREMESP, 1988. . Katz, C.S.: tica e Psicanalise, uma Introduo. Graal, Rio de Janeiro, 1984. . Kernberg , P. F. (Presidente da Comisso de tica da I PA): Draft Code of Ethi-cal and Professional Conduct. Mimeo circulando desde 1991 pelas Sociedades de Psicanlise do Mundo, filiadas a International Psychoanalitical Association. . Parsons, T.: Sociologia de la Religion e y la Moral. Paidos, Buenos Aires, 1968. . Rotelli, F. et ai: Desinstitucionalizaco. Hucitec, So Paulo, 1990. . Szasz, T.S.: A tica da Psicanalise. Zahar ed. Rio de Janeiro, 1983. . Valis, A.L.M.: O que e tica. Brasiliense, So Paulo, 1986. Aids e tica Guido Carlos Levi O aparecimento da Sindrome da Imunodeficincia Adquirida (Sl-DA ou AIDS), no inicio da dcada de 80, trouxe uma natural preocupa-o, no mundo todo, com essa nova doena, ainda na poca com meca-nismos de transmisso no bem esclarecidos. Os profissionais de sa-de, inclusive mdicos, no ficaram imunes a esses temeres. No de se estranhar, portanto, que os primeiros problemas ticos relacionados com a AIDS foram de recusa de atendimento a pacientes, da realizao de exames que inclussem manipulao de seus fluidos e tecidos e at de realizao de necropsia dos falecidos com essa patologia. A queixa do diretor de um hospital pblico de So Paulo relativa recusa dos pa-tologistas de sua instituio em realizar exames necroscpicos de indivduos falecidos em conseqncia da AIDS levou o Conselho Regional de Medicina do Estado de So Paulo (Cremesp) a solicitar a dois de seus conselheiros, Antnio Ozrio Leme de Barros e Guido Carlos Levi, a preparao de um parecer mais amplo, que enfocasse todos os aspec-tos mais importantes na poca quanto tica mdica e AIDS. Optaram esses autores por uma normatizao do assunto apresentada conjunta-mente com uma srie de informaes cientficas que ajudassem os m-dicos a conhecer melhor a doena e a compreender e aceitar mais facilmente as decises do parecer. Este foi aprovado em reunio plenrio de 3 de maio de 1988,
tendo sido posteriormente endossado pelo Conse-lho Federal de Medicina, passando a vigorar desde o dia 20 de maio de 1988 em todo o territrio nacional. O primeiro aspecto analisado dizia respeito discriminao dos pacientes infectados pelo vrus da imunodeficincia humana (HIV). Numa poca em que no poucos clamavam pela segregao destes indivduos como forma de evitar a expanso da doena, mostrava-se a total falta de fundamento cientfico para esse tipo de conduta, baseada em atitu-de preconceituosa e contraproducente, por colocar na "clandestinida-de" no somente os indivduos infectados, mas principalmente os perten-centes a todos os chamados "grupos de comportamento de risco". J era sabido, na poca, por experincias de outros pases, em particular os EUA, que a melhor maneira de deter a propagao da epi-demia era por informao e orientao, para toda populao e, em particular, para os membros dos citados grupos, para que mudanas de comportamento, no sentido de uma maior segurana e cuidados cor-retos, levassem a um menor nmero de novas infeces. Para tanto, era necessrio que houvesse um maior nmero possvel de diagnsticos dos infectados, para que fossem orientados sobre como evitar transmitir o vrus para outras pessoas e mesmo para informar aos no infectados sobre como evitar futuras contaminaes. Para que isso se tornasse possvel, no entanto, era necessrio garantir aos indivduos que procuras-sem centros onde o diagnstico era possvel, que eles no ficariam su-jeitos a prejuzos graves de sua vida pessoal (ver mais adiante tambm item relativo ao sigilo). Evidentemente, a segregao dos infectados produziria efeito totalmente oposto, alm de ser medida incua do ponto de vista epidemiolgico, pois j ento era sabido que para cada doente havia vrias dezenas de infectados, muito mais perigosos em termos de disseminao do que aqueles j com sintomas decorrentes da patologia. O segundo aspecto abordado dizia respeito relao mdico-pacien-te, tendo como ponto central justamente aquele que deu origem ao pare-cer, ou seja, a recusa de paciente. Conclui-se que, embora no deva faz-lo, pode o mdico no mbito da clinica particular recusar seus servi-os profissionais a quem no deseja como paciente, ressalvadas as situaes em que est obrigado a atender: ausncia de outro mdico no local, em casos de urgncia, ou quando sua negativa puder trazer da-nos irreversveis ao paciente. Entretanto, caso mantenha relao de tra-balho com entidade pblica ou privada que se dispe a receber casos de determinada natureza, no direito do mdico recusar atendimento, a no ser que a instituio deixe de lhe oferecer mecanismos de prote-o considerados teis e necessrios, segundo o conhecimento cientifi-co disponvel a respeito. Ressaltou-se, a propsito, a obrigao de o m-dico em cargo de chefia garantir que na sua instituio sejam oferecidas essas condies adequadas aos colegas que nela trabalham. O respeito ao paciente condio bsica para uma relao mdi-co-paciente adequada. Face enorme carga emocional que se vincula condio de infectado pelo HIV, o parecer ressaltou a necessidade de o mdico ter em mente a condio fragilizada deste tipo de paciente, e do seu dever de atuar de forma a atenuar seu sofrimento e a ajud-lo a restaurar o respeito prprio. Tambm foi destacada a necessidade de inform-lo de maneira cuidadosa, porm correta, quanto s suas condies e perspectivas, a fim de que possa exercer plenamente o direito de tomar decises pessoais, includas aqui aquelas que dizem
respeito ao seu bem estar, quanto sua situao presente e futuro. bvio, tambm, que a no ser em casos especiais, que configurem justa causa, no poder o mdico abandonar o paciente por se tratar de doena ainda incurvel. Dever dar prosseguimento ao atendimento visando a prolongar a quantidade e a qualidade de vida do paciente, ainda que seja apenas atenuando seu sofrimento fsico e/ou psquico. Finalmente, ponto bsico na relao mdico-paciente, o parecer foi muito enftico na lembrana da obrigatoriedade do respeito ao direi-to ao sigilo. Este fundamental tanto do ponto de vista legal e tico, quanto, como j anteriormente ressaltado, do ponto de vista epidemiol-gico. No entanto, algumas situaes especiais mereceram anlise em separado, por constiturem excees nas quais licita a ruptura do sigilo. Resumidamente:
1. Por solicitao do prprio paciente, ou de seus responsveis -em circunstancias em que este considere do seu interesse o fornecimento do seu diagnstico; 2.Notificao compulsria-o mdico obrigado a seguir as nor-mas estabelecidas pelas autoridades sanitrias. Recorde-se que, no Brasil, at a presente data, esta notificao somente para os casos de doena, no incluindo os indivduos com infeo assintomtica. 3. Comunicantes sexuais (atuais ou futuros) ou membros de gru-po de uso de drogas endovenosas. O ideal aqui seria que o pr-prio paciente colaborasse e fizesse ele prprio a comunicao de sua situao de infectado a estes contactantes. No entanto, caso ele se negue, o seu bem-estar individual torna-se secund-rio frente ao bem-estar social e do direito sade (e mesmo vida) de outras pessoas, autorizando o mdico e/ou as autoridades sanitrias a quebrar o sigilo para permitir uma proteo e orientao adequadas dos comunicantes. No entanto, deve ser tomado cuidado a fim de impedir a disseminao de informa-es relativas ao paciente para alm dos limites daquilo realmen-te necessrio. item seguinte enfocado pelo parecer dizia respeito situao e atuao de alguns tipos de instituies diante da AIDS. Inicialmente foi analisada a possibilidade de recusa de pacientes infectados pelo HIV por estabelecimentos de assistncia mdica. A questo da recusa, aqui, coloca-se na mesma perspectiva que a da recusa do paciente pelo m-dico poder a instituio recusar atendimento desde que efetivamente no disponha de recursos para tal, no se destine a esse especifico ti-po de atividade ou clientela e haja na localidade outro estabelecimento em condies de faz-lo. Evidentemente que em situaes de urgncia o atendimento ser sempre obrigatrio. Ressaltou-se, tambm, a necessidade de a instituio fornecer a seus funcionrios ampla informao acerca da doena, para evitar pro-blemas advindos da ignorncia dos fatos: discriminao, preconceito, conduta errada ou inadequada em face do paciente, utilizao indevida de instrumentos e materiais, proteo individual e coletiva insuficientes ou inexistentes etc. Deve, tambm, a instituio fornecer adequadas con-dies de trabalho, com acesso aos meios de proteo individual e cole-tiva adequados. Quanto aos mdicos, cabe a obrigao de transmitir aos demais membros da equipe multiprofissional as
informaes neces-srias ao correto atendimento do paciente e as precaues a serem adotadas. Recorde-se que os outros membros da equipe tambm esto pre-sos a necessidade de resguardo do sigilo quanto s informaes obtidas. Quanto conduta de algumas instituies, Obrigando os pacientes que nelas desejam se internar realizao de triagem sorologica, embo-ra tal procedimento no possa ser considerado antitico, ele deve ser desaconselhado, no s por poder ensejar o surgimento de posturas dis-criminatrias, mas, tambm fundamentalmente, por no ser conduta cor-reta do ponto de vista preventivo. Hoje praticamente consenso que o ideal a prtica dos cuidados universais, considerando-se qualquer pa-ciente como possivelmente transmissor no s do HIV, mas de qualquer dos patgenos que podem ser transmitidos pela contaminao com san-gue ou fluidos corporais. Quanto aos estabelecimentos de atividades hemoterpicas, desde a aprovao da Lei Federal 7649, de 25 de janeiro de 1988, passou a ser obrigatria a realizao de testes que tm por fim evitar a transmis-so, por sangue ou derivados, da AIOS, hepatite B, sifilis, malria e do-ena de Chagas. Recorde-se ser necessrio informar ao doador da reali-zao desses exames previamente coleta de sangue, dos desdobra-mentos possiveis em face do encontrado, sendo, tambm, um direito do doador o acesso e informao adequada dos resultados dos seus testes. Os estabelecimentos prisionais constituram um dos aspectos mais delicados e polmicos do parecer. Por um lado, havia que levar em con-ta o precrio estado de nossos presidias, cadeias pblicas e delegacias, bem como a qualidade freqentemente muito baixa do atendimento m-dico nelas prestados. Por outro lado, havia na poca, e isto ainda hoje ocorre, uma forte presso para que se realizasse triagem sorolgica obri-gatria em relao ao HIV para todos aqueles que ingressam no siste-ma prisional. Conclui o parecer ser intil a adoo de medidas de identi-ficao de portadores do HIV, se no se puder desenvolver um atendi-mento subseqente adequado e que respeite a dignidade da pessoa; pelo contrrio, serviria apenas para estigmatizar os positivos, expondo-os a riscos de segregao e mesmo de hostilizao. At que estas con-dies possam sofrer total transformao, a reduo do risco de aquisi-o da doena nos presidias dever ser tentada atraves de amplos pro-aramas educacionais, dirigidos populao carcerria e aos funcionrios de tais instituies. Outro aspecto muito polmico enfocado pelo parecer dizia respei-to aos problemas relativos infeco pelo HIV no ambito da medicina do trabalho. Hoje felizmente menos, mas nas pocas iniciais do apareci-mento da doena foi bastante comum empresas exigirem exame sorol-gico para HIV aos seus funcionrios e mais freqentemente como crit-rio de seleo nos exames pr-admissionais. O parecer conclui no ha-ver justificativa tcnica ou cientfica para a realizao indiscriminada des-se exame de triagem. Embora o empregador seja livre para contratar quem deseja, este tipo de conduta descabido e discriminatrio, no devendo o mdico contribuir para o prevalecimento dessa maneira de agir. No entanto, caso a empresa insista, contra o conselho do mdico, pela realizao dessa sorologia, caber ao mdico a obrigao de garan-tir algumas condies ligadas ao exame. Em primeiro lugar, este s po-de ser efetuado aps informao e consentimento do funcionrio ou candidato a emprego. Em segundo lugar, o resultado deve chegar s mos somente do mdico.
Este no pode, sob risco de violar o sigilo profissio-nal, fornecer nomes e resultados ao empregador. Cabe-lhe informar, to- somente, a aptido ou no, temporria ou permanente, para o desempe-nho de determinada funo, do funcionrio ou candidato. Finalmente, te-r o mdico obrigao de fornecer o resultado a cada indivduo, em par-ticular os positivos, de maneira adequada, explicando seu significado e orientando quanto aos procedimentos que podero ser adotados. Por fim, encerrou-se o parecer com consideraes relativas s pes-quisas mdicas no mbito da infeco pelo HIV. Enfatizou-se a necessi-dade de seguir as normas contidas na Declarao de Helsinque, cuja re-dao atualizada foi aceita pelo Conselho Federal de Medicina, atravs da Resoluo CFM N 1098/83. Embora se reconhea legitimidade nas presses para que sejam abreviados os tempos de pesquisa, contra-in-dica-se a supresso de etapas habitualmente observadas na investiga-o cientfica realizada com rigor metodolgico, principalmente no que concerne a busca de novos medicamentos. Devem ser reduzidos, no en-tanto, os entraves burocrticos que impeam o estudo ou retardem a comercializao de novas drogas utilizveis nesse contexto. Desnecessrio enfatizar a importncia do carter voluntrio da participao humana na pesquisa, aps ampla informao quanto aos seus propsitos, da possibilidade de desistncia a qualquer momento sem prejuzos disto decorrentes e da necessidade do acompanhamento constante pelo pesquisador para evitar quaisquer danos ou sofrimentos aos indivduos participantes do estudo. Com o passar dos anos, uma srie de novos problemas vieram exi-gir um segundo parecer quanto tica mdica e AIOS. Novas questes necessitaram ser levadas em considerao e normatizadas para que os mdicos brasileiros continuassem dispondo de correta orientao quan-to aos aspectos ticos, muitas vezes complexos e controversos, que en-volvem essa patologia de aparecimento ainda relativamente recente. Este segundo parecer, preparado pelos doutores Guido Carlos Le-vi e Gabriel V\blf Oselka, veio, portanto, complementar o anterior, que permanece em pleno vigor. Foi aprovado pelo CFM em 14/02192, entrando em vigor a seguir. Inicialmente foram levados em considerao os problemas relacionados com infeco pelo HIV e gestao. A alta possibilidade de transmisso para o filho (cerca de 30%), e nesse caso a certeza de uma vida relativamente curta e cheia de sofrimentos, deveria ser, aparentemente, um desestimulo poderoso ao desejo de engravidar de qualquer muIher infectada pelo HIV. No entanto, isto pode no ocorrer, ou por ignorncia dos riscos e conseqncias, ou por desinteresse quanto a estes ou por crenas religiosas ou filosficas. O parecer considerou que nessas circunstncias o papel do mdico deve ser informativo, fornecendo mulher infectada todos os dados atualmente disponveis relativos ao assunto. No pode, no entanto, impedi-la de ter um filho, se essa for sua deciso, nem poder negar (e isto vale tambm para instituies de assistncia mdica) assistncia futura a essa mulher (com a exceo j analisada no primeiro parecer quanto a recusa de pacientes, de situaes em clinica particular em que o mdico no est obrigado ao atendimento). A legislao em vigor s permite interrupo da gravidez causado por estupro ou caso seja comprovado risco de vida para a me. Em rela-o infeco pelo HIV, inexiste
evidncia, apesar de algumas opinies em contrrio, de uma ntida influncia negativa, tanto para o desenvolvi-mento da gestao quanto para um possvel agravamento da doena materna em decorrncia desta. Assim, o parecer concluiu pela inexistn-cia, na atualidade, de substrato para interrupo de gravidez somente pelo fato de a me ser HIV positivo, e a no ser que condies peculia-res ao caso permitam concluir por risco para a vida da gestante pela continuao da gestao. Da mesma maneira, por ser proibida pela le-gislao atual, inexiste base legal para a esterilizao, mesmo que volun-tria, de mulher ou homem HIV positivos. Quanto sorologia no pr-nupcial ou pr-natal, so evidentes ho-je os beneficias de um diagnstico precoce de infeco pelo HIV. No pr-nupcial, resultado negativo permitir orientao quanto aos comporta-mentos de risco a serem evitados para prevenir a infeco, e, quando positivo, permitir informaes quanto ao risco de futura gestao. J resultado no pr-natal permitir identificar candidatas aos beneficias teraputicos tornados disponveis nos ltimos anos e talvez reduzindo risco de transmisso para o feto. Da mesma maneira, permitir maior ateno para diagnstico precoce de transmisso vertical e eventual instituio de teraputica para a criana, bem como orientao adequada quanto aos cuidados ps-natais para diminuir o risco de transmisso para o re-cm-nascido no infectado. No entanto, o parecer recordou a necessida-de de obter autorizao, mesmo que verbal, especifica para a realizao desta prova, bem como de garantia de sigilo quanto ao resultado e de aconselhamento quando do fornecimento deste. Alm disso, a negativa no deve trazer prejuzos a paciente, nem deve ela ser ameaada nes-se sentido. Igualmente, quando houver indicao clnica ou suspeita epidemio-lgica que justifiquem realizao de exames diagnsticos no recm-nas-cido, devera o mdico prestar aos pais ou responsveis pela criana as informaes adequadas e obter autorizao especfica para efetu-los. Em caso de recusa, devem ser explicadas as possveis conseqncias e registrada no pronturio da criana a negativa referente ao exame. A seguir, o parecer se debruou sobre os aspectos ticos ligados ao final de vida de pacientes com AIOS. Em muitos pases, como os EUA e a Holanda, voltou tona a discusso quanto eutansia, e nes-te ltimo pais, embora persista a proibio legal, existe um compromis-so de no perseguir penalmente o mdico que a efetue dentro de um determinado contexto. No Brasil, a legislao, e conseqentemente o Cdigo de tica Mdica, probe, terminantemente, a prtica da eutan-sia ativa. No entanto, a forma passiva, ou por omisso, corresponde so-mente no-utilizao de certos recursos mdicos para prolongar a vi-da de pacientes incurveis. Hoje bastante aceito que o mdico no te-nha obrigaes legais, morais ou ticas de empregar, em casos irreversveis e terminais, medidas que s levem a um prolongamento do pro-cesso de morte. Nem sempre a situao ser de absoluta clareza para o mdico quanto melhor conduta a tomar. E, por isso, importante e at obrigatrio que as opes teraputicas e suas implicaes sejam dis-cutidas com os familiares, e, se possvel, com o prprio paciente. Sua vontade, embora no determinante, ser orientadora para o medico, e nesse sentido que se tem tornado mais populares, nos ltimos tempos, declaraes assinadas contendo o ponto de vista e a vontade do pacien-te, denominadas "testamentos em vida". Recordamos, novamente, que esta expresso diz respeito somente ao emprego de recursos extraordinrios. Mesmo assim, caso o mdico assistente sinta que os termos do testamento em vida colidem com sua viso de
como atuar de uma ma-neira profissionalmente correta, deve solicitar sua substituio por outro profissional que no tenha restries quanto atuao mdica solicitada. O ltimo ponto analisado pelo parecer, tambm bastante polmico, diz respeito triagem sorolgica de pacientes e mdicos em ambiente hospitalar. Hoje, a maioria dos especialistas defende 0 uso de precaues universais, ou seja, considerar que o sangue e fluidos corporais de to-do paciente podem ser potencialmente infestantes. Embora ainda haja defensores da triagem sorolgica rotineira para admisso de um pacien-te num hospital, diversos argumentos colocam-se contra este posiciona-mento. A falta de tempo til nos setores de emergncia para aguardar resultados dos testes, a possibilidade de haver viremia ainda com sorolo-gia negativa, a existncia de outras infees, alm da AIDS, transmissveis por sangue e derivados so alguns pontos que embasam esta critica, bem como certas evidncias quanto no-reduo do risco para a equipe pelo prprio conhecimento da situao de infeco pelo HIV. A implantao de cuidados universais, para ter xito, dever ser acompanhada de treinamento adequado dos profissionais de vrios nveis envolvidos e de informaes e esclarecimentos que levem compre-enso e aceitao das vantagens deste tipo de procedimento. Isto per-mitira que a colaborao e a obedincia s normas, por parte dos profis-sionais da instituio, sejam voluntrias e constantes. Frisou, porm, o parecer, que a preferncia por cuidados univer-sais no , na verdade, uma imposio cientifica, legal ou tica. Uma instituio pode optar pela triagem sorolgica dos pacientes a serem in-ternados, desde que alguns principias sejam resguardados. Assim, o exame deve ser voluntrio, aps informaes completas e adequadas quanto sua finalidade; a recusa do exame no deve causar prejuzos assistncia do paciente; os pacientes positivos devero ter garantias tanto de sigilo acerca do resultado, quanto de manuteno de todos os seus direitos em relao a assistncia oferecida pela instituio. Embora no existam dados disponveis quanto ocorrncia, em nosso meio, de mdicos infectados pelo HIV, seguramente no deve ser situao excepcional. Apesar de ainda no ter sido relatado nenhum caso de transmisso de infeco pelo HIV devido atividade profissional de medico infectado, tal acontecimento causado por dentista foi re-centemente revelado nos EUA, e j ocorreu transmisso do vrus de he-patite B de cirurgio para paciente. Assim sendo, deve ser considerado como teoricamente possvel o risco de transmisso do HIV pelo mdico infectado, em particular quando cirurgio. No entanto, este risco deve ser extremamente baixo, sendo avaliado como de 1/130.000 a 1/1 .000.000 de procedimentos invasivos, havendo perigo maior nos procedimentos que envolvem manipulao cega de instrumentos cortantes nas cavida-des do paciente do que em outros, como nas cirurgias oftalmolgicas, por exemplo, que quase nunca produzem transferncia de sangue do cirurgio para o paciente. Surge, a partir dai, uma srie de indagaes, com repercusses legais e ticas, ainda sem respostas definitivas, e que, por isso, permitem somente sugestes quanto ao correto posicionamento tico. Por exem-plo: devem os mdicos que realizam procedimentos invasivos ser testa-dos sorologicamente? Caso a resposta seja afirmativa, compulsria ou I voluntariamente? Ter o medico positivo obrigao de informar seus pacientes a esse respeito?
O parecer acompanhou o ponto de vista prevalente na atualidade em outros pases quanto a no existir direito de exigir teste sorolgico do mdico, pois tal conduta fere o direito deste confidencialidade, no-obrigao do profissional infectado de informar seus pacientes nes-se sentido, conduta esta que iria prejudicar seu direito ao trabalho e aju-dar a aumentar os preconceitos e a difundir a opinio incorreta de haver risco de transmisso por contato casual. O que se espera que, por de-ver tico de no prejudicar o paciente, o profissional com comportamen-to de risco efetue voluntariamente testes peridicas e que o mdico in-fectado se abstenha voluntariamente de realizar procedimentos conside-rados de risco aumentado de transmisso. Os limites de sua atuao devem ser estabelecidos, de uma maneira individual, por uma anlise conjunta da questo pelo mdico infectado, seu prprio mdico e a Comisso de Controle de Infeco da instituio. Como vemos, para algumas das questes levantadas ainda no existem respostas definitivas e de consenso. Algumas das normas de conduta apresentadas podem ser consideradas como sugestes vlidas na atualidade para a proteo dos direitos dos pacientes e dos mdicos, bem como para evitar aumentar ainda mais a carga de preconceitos e discriminao que cerca a infeco pelo HIV. Tratando-se, no entanto, de assunto dinmico e to rapidamente evolutivo quanto este, bvio que a anlise de novos problemas, bem como reviso critica das decises anteriormente tomadas, exigir perio-dicamente reavaliaes do tema, e de se prever que, num futuro no longnquo, outros pareceres venham ampliar e aperfeioar as decises ticas quanto a esta to polmica patologia. Dedico este capitulo ao doutor Antnio Ozrio Leme de Barros, an-tigo colega de medicina e de Conselho, cuja importncia foi fundamen-tal para que pudssemos dispor, na atualidade, de uma viso mais cla-ra sobre o correto comportamento tico dos mdicos diante da AIDS. Temos a certeza de que hoje, no seu novo campo profissional, continua-r o amigo Ozrio a lutar com o mesmo empenho e seriedade pela justi-a e contra todas as formas de discriminao. A tica Mdica e a Verdade do Paciente Dalgimar Beserra de Menezes Existe, por certo, um abismo muito largo e profundo entre a cosmo-viso dos mdicos em geral (fundada em sua leitura dos fenmenos bio-lgicos) e as concepes de vida da vasta maioria da populao. Salta vista, na abordagem do assunto (a tica e a verdade do paciente), que se fica, mais uma vez, diante da pergunta feita por Pncio Pilatos a Je-sus Cristo, encarando, como estava, um homem pleno de sua verdade, portanto de uma determinada sorte de verdade; Pilatos, pois, perguntou: "O que a verdade?" E evidente que um e outro detinham e se cin-giam a verdades dispares. No Brasil moderno, ou modernoso, os meios de comunicao, cria-dores da opinio pblica, tendem a expandir mais ainda esse abismo, ao embaralharem fatos do domnio da cincia mdica ou pervert-los. Recentemente, em Fortaleza, aldeia do autor, uma emissora de televi-so apresentou um anencfalo, ao lado do Baby-Sauro, para mostrar a semelhana entre eles, ao mesmo tempo em que o pai do monstro da-va entrevista inculpando a me,
sua esposa, pelo fenmeno, em virtude de ela ter exibido, durante a prenhez, um exacerbado bem querer pelo monstrinho da mdia. De outra forma, programas pseudocientificos introduzem no seio da populao tcnicas e procedimentos de Primeiro Mundo, criando falsas esperanas e expectativas, inseridas na confuso que se estabelece entre a possibilidade de informao e o real acesso ao objeto da informao, que uma das tragdias do subdesenvolvimento. Ainda no plano da formao de opinio, a imprensa, por ideologia ou qualquer outra coisa, inclusive ignorncia, confunde e mistura fatos que so perfeitamente separveis, como erro medico e insucesso teraputico, condicionando o surgimento de uma definida atitude de preven-o contra o mdico. O mdico aprende na escola de medicina as suas verdades, emba-sadas cada vez mais no mtodo cientificocriao de Galileu Galilei, trazido ao mbito da medicina por Claude Bernard, as quais so, trocando em midos, aproximaes da verdade ou simples modelos considerveis,no momento, como verdadeiros, que podem vir a sofrer mudan-as de detalhes, substanciais ou totais. Recorde-se que, h cerca de meio sculo, irradiava-se o timo das crianas, por aumentado de volu-me, como se doente, quando na verdade era normal e que tal prtica fez aumentar o risco de cncer da tireide, aps um perodo mdio de latncia de vinte anos. E tantas outras coisas! Esses modelos ou aproximaes da verdade so encarados como peas neutras, vlidas aqui e alhures (c e na China), e nos seus mais variados aspectos (propeduticos e teraputicas, inclusive) descuram quase que completamente do social. Como conseqncia, a sua aplicao prtica no leva em considerao a escolaridade do paciente, nem os seus hbitos, costumes, credos, crenas, religies etc. Em assim sendo, a utilizao desse corpo de conhecimentos pode-r escandalizar, chocar ou simplesmente perturbar o paciente que o no conceba ou que v de encontro ao seu sistema de vida, isto , de cren-as e concepes que constituem, em ltima anlise, a sua verdade mais entranhada, fruto de aprendizado, educao ou adeso. Nada mais oportuno nesse confronto do que lembrar o aforismo ureo da Escola Hipocrtica, para estabelecer que a prtica mdica no a mera instrumentalizao do fato cientfico, universal, neutro e frio: primeiramente no causa dano. A prtica mdica, nesse contexto, vai alm do corpo de conhecimentos da cincia exata ou biolgica e obser-va-ou dever observar-verdades do domnio das cincias sociais. Por outro lado, existem verdades cientficas que se sobrepem s sociais, ao que parece, em definitivo. Em frente de uma comunidade que se insurja contra o uso de uma vacina, por exemplo, reconhecida-mente benfica, como ocorreu no Rio de Janeiro, no inicio do sculo -no interessando as causas, haja manipulaes polticas ou outras -, o mdico passa a fazer parte do esforo do Estado para a aplicao de tal medida preventiva. Est ai em jogo a sade do todo, ao que cons-ta um bem maior do que a sade da parte. O mdico, ento, como que se identifica ao Estado e impe suas regras, como o doutor Stockmann em O Inimigo do Povo, de Ibsen. Duas coisas, entretanto, parecem b-vias: deve-se respeitar aquele que, individualmente, no possa ser per-suadido a se submeter ao procedimento, por
motivos os mais diversos, e o sobredito perde forosamente validade nos estados totalitrios que podem deter verdades esprias, pretextadas para o bem-estar e o beneficio do todo, e, em verdade, destinadas a privilegiar classe, casta ou raa. O discurso do beneficio do todo, pela utilizao ou "sacrifcio" da parte, tem ainda outros desenvolvimentos. Diderot, um dos pais da Re-voluo Francesa, preconizava a vivisseco em animal nobre-conde-nados e facnoras-visando ao aumento do conhecimento cientfico da humanidade, o que um absurdo. No entanto, a prtica foi adotada durante a Segunda Guerra Mundial, vitimando no celerados, mas individuos em tudo normais. J no se cogitam tais monstruosidades, contu-do h de se questionar, sempre, em termos de uma moral abstrata, a validade do uso do indivduo, com o fito de se melhorar a comunidade. Mulheres latino-americanas foram cobaias nos experimentas com contra-ceptivos, e prisioneiros e outros tm-nos sido nos testes de novas dro-gas e de outros procedimentos. Alega-se consentimento, comutam-se penas, oferece-se dinheiro. Na verdade, o grande problema que no pode consentir quem no tem plena cidadania ou quem tem a liberdade cerceada, por mais que se edulcore a plula e se contemple a verda-de existencial pouco invejvel desses seres. No tm autonomia de volio ou de movimento os que no tm plena cidadania ou que esto presas. Num pais de flagrantes contrastes sociais, em que h cada vez mais nitidamente uma medicina para os pobres e outra para os ricos, deve-se temer esse tipo de desenvolvimento. Consta que, na j decanta-da aldeia do autor, um pobre cedeu um rim a um rico, em troca de bens de fortuna; o pobre foi atendido em sua verdade econmica, pobreza. E subiu na escala social. Os mdicos implicados no episdio perceberam gordos honorrios, postos acima do bem e do mal, super-homens. Todas as partes foram agraciadas e quedaram satisfeitos, a despeito de a lei vedar ao compadre pobre a venda de seu rgo ao compadre rico. Poder-se-ia imaginar que o trato com o paciente implicasse uma moral prtica, ou seja, alm de no prejudicar, o mdico poderia lan-ar mo de atitudes considerveis como teis e, portanto, boas, verda-deiras, conformando-se a uma espcie de pragmatismo. Todavia, o sim-ples pragmatismo pode se constituir em prtica distorcida e condenvel, manancial de erros e equivocas. Como exemplo, tome-se em considera-o a verdade das pacientes quanto ao uso de mtodos contraceptivos e anticoncepcionais. Movidas pelas necessidades imediatas, sobretudo as dificuldades financeiras, passa a ser a verdade qualquer medida que se lhes oferea, sem qualquer senso critico ou avaliao de conseqn-cias futuros. O til e o imediato ganham foros de verdade, gerando-se, ao mesmo tempo, aberraes medonhas no campo da tica mdica. O mdico, na falta de uma regulamentao moderna e adequada ao mo-mento histrico, de leis, por conseguinte, no s se sente no dever de executar tais mtodos, indiscriminadamente-seja exemplo a laqueadu-ra tubria-, como tambm os utiliza para usufrutos seus os mais varia-dos, designadamente os econmicos e os polticos. So incontveis as laqueaduras tubrias feitas neste ano eleitoral de 1992, no pais inteiro. E quando se descobre a taxa de 90% de apendicectomias brancas, de uma determinada cidade do interior, mister inferir-se que a laqueadu-ra foi perpetrada, e como no pode ser cobrada, seguida de uma cirur-gia desnecessria-a apendicectomia-, houve ganho de uma eleito-ra, pelo menos, e foi cobrada ao SUS a cirurgia despropositada.
Subentendida fica a idia de que a cirurgia foi executada (a laque-adura) sob pretexto de atender a uma necessidade vital e ingente das pacientes, e muitos dos que realizam tal desservio se tomam de justifi-cativas que soariam at integrantes da moralidade crist, visto que man-tm que a efetuam por pena e compaixo, quando se lhes so perfeita-mente conhecidas as verdadeiras intenes. No caso em pauta, h hipocrisia da parte do medico, quando no cinismo, emoldurados nessa abordagem piedosa e compassiva. Porm h tambm uma verdade das pacientes, traduzida em termos de no quererem ter filhos por no poder sustent-los, situao, todavia, cuja soluo escapa grandemente ao mbito da atividade mdica. De uma coisa pode-se estar seguro: a verdade das pacientes, nessas circunstan cias, no pode ser tomada em conta e atend-la certamente uma aber-rao. As que a detm, detm-na por necessitadas e carentes, e so pessoas desprovidas de cidadania plena, que no podem decidir o que bom ou ruim para si mesmas. Alm do mais, atender a essa verdade (realidade) atitude de poder, poder-ilicito, de quem est numa posio social alta e impe sua vontade. Situao anloga, em termos de poder ou no decidir, e a do pacien-te com enfermidade incurvel, sujeito a dores que considera insuport-veis e que se v competido a solicitar ao mdico a morte para alivio definitivo do seu sofrimento. Embora a verdade do paciente seja "a dor in-suportvel", nenhum mdico tem o direito de "obedecer" ao pedido de eliminao, e, se assim proceder, comete homicdio, ao que tudo indica. O que e clssico e moral consiste em usar de todos os meios para sua-vizar a dor (sedare dolorem...). A atitude tica, depreende-se, vai muito alm do pragmatismo (ou utilitarismo), que exibe essa mascara bondosa e implica (e esconde) amide intenes perversas. De outra forma, nesse mesmo terreno, atente-se para a atitude do mdico face verdade das Testemunhas de Jeov. Do ponto de vista singelamente cientfico, tais crentes, como no so vegetarianos, tomam sangue todos os dias ao ingerirem tecidos musculares (carnes) e outros, s refeies. No obstante, encrencaram com o sangue que o mdico muita vez vse obrigado a utilizar em tratamentos cirrgicos e outros procedimentos. Zombar, simplesmente, da postura deles parece atenta-trio aos direitos humanos, posio de poder, o poder desmistificador da cincia; engan-los parece no somente atentatrio, mas tambm imoral. Como, pois, atuar, nessas ocasies, em que a verdade do pacien-te precisa ser devidamente levada em considerao? Dois pontos parecem vitais nessa questo: em primeiro lugar, o bom senso; em segundo, a exposio dos atos perpetrados. O bom sen-so exige que se respeite a deciso (vontade, verdade) do paciente, que neste caso a recusa ao sangue (hemofilia). E que se lhe respeite at no mais poder. Em no mais podendo respeit-la, que se utilize san-gue, por necessrio, obedecendo legislao do pais, que mais im-portante do que as regras e as indignaes de seitas religiosas e de minorias. Dessarte, na situao emergencial de uma atitude no tomada poder configurar omisso de socorro, entende-se que no pode haver vacilao. E, fato consumado, que se diga ao paciente e a seus respon-sveis que o sangue foi administrado, como medida salvadora. Os reli-giosos se animam na expectativa de ganhar 0 paraiso, mas, pelo geral, no querem to cedo migrar desta para a outra, atitude muito semelhan-te a de qualquer execrando ateu. Se houver alguma dificuldade legal,
depois, a lei respaldar o medico, mesmo levando-se em conta a tempo-rada de caa que se estabeleceu contra ele nos ltimos tempos, no Brasil. Pelo exposto, atitudes consideradas como ticas no podem se ali-nhar, muitas vezes, ao que pratico e til, assim como no podem, ao mesmo tempo, ser convertidas s verdades do paciente, sob pena, in-clusive, de infrao de leis vigentes. Reflui o velho aforismo-primum non nocere-assentado no bom senso. E diante de tudo isso, deve-se perguntar o que viria exatamente a ser no causar dano, no prejudicar, apriorismo do exerccio da pro-fisso. Talvez seja assumir diante do paciente, independentemente de seu estrato social e de seus costumes e crenas, uma posio de humil-dade das possibilidades da cincia de que se dispe, e de critica das possibilidades dessa cincia, nas imbricaes dela, cincia, com o estra-to social, o status, os costumes etc., sem latim ou grego, sem jargo en-fatuado ou dialeto, id est compreensvel e inteligivelmente, e dessa for-ma, torna-se ele prprio, mdico, o paciente que se Ihe entrega, numa espcie de identificao na humanidade comum a todos (ou seja: "M-dico, cura-te a ti mesmo"). E corrente a afirmao de que muitos pacientes no querem saber a verdade de sua doena, quando grave, ou que procuram de toda ma-neira se enganar. Acredita-se que o mdico no deva ser cmplice des-sa tendncia, salvo se a verdade preferida dos fatos for mais deletria do que a sua excluso. Outra forma de dizer seria, talvez: salvo se a verdade revelada dos fatos for mais prejudicial do que a prpria afeco de que e portador o paciente. Desemboca-se por outra vertente no velho aforismo. Na prtica, apesar do propalado carter emocional latino, faz-se cena ou drama; porm, provvel que, na maioria das vezes, prefi-ra-se a verdade ao engodo. Ademais, a mentira piedosa, o engodo ou a no verdade podem ate redundar em escandalo, em atitudes ainda mais dramticas, ou se revestirem de implicaes de ordem legal. Em Fortaleza, para tomar novamente como base a aldeia do autor, ao mo-do de Miss Marple, um renomado mdico sofreu os maiores constrangi-mentos, no momento em que seus pacientes aideticos tiveram conhecimento de que estavam sendo tratados para AIOS, sem Ihes serem reve-lados os diagnsticos. No se julga a inteno de quem assim agia, no entanto, fica claro: os pacientes precisam saber dos males de que esto acometidos. E, como se diz, o caminho do inferno est, no raras vezes, pavimentado das melhores intenes. Nestes casos, admite-se, a verdade conhecida do mdico deve se constituir tambm na verdade do paciente. Ele tem todo o direito de sa-ber de seu diagnstico, do prognostico, de suas chances de sobrevida, de tudo o que se relaciona sua enfermidade. Apesar disso, algumas questes devem ser levantadas, inerentes s relaes mdicopaciente. A primeira que se fiagra e o tato com que todos esses dados-para o mdico palavras frias, para o paciente matria de vida e de morte-devem ser fornecidos. O paciente precisa cuidar da vida que lhe resta, com o mximo de serenidade possvel. Po-nha-se, portanto, o doutor no canto dele (paciente) para receber essas noticias e para avaliar bem o significado do que est dizendo.
Outra dificuldade que se surpreende guarda relao com a mania numrica ou estatstica, de carter mecanicista e oriunda de uma esp-cie de burrice ou de compreenso imperfeito e reducionista dos fenmenos biolgicos. O mdico competido a dizer que o paciente tem trs, seis meses, um ano de vida, ou que suas chances de cura so 30, 40, 50% etc. Assume o papel de juiz que sentencia e marca a data da execuo, de senhor da vida e da morte. Dito de outro jeito, investe-se de atitude de certeza frente ao que muitas vezes imperdovel. Que este-jam contados os dias do paciente, como se sabe que freqentemente sucede, no se discute. Contudo, as pedras tm de ser contadas com muito cuidado. Os fenmenos biolgicos so, no raramente, imprevisi-veis ou de difcil previso. Demais, o que tido hoje incurvel amanh oder no mais s-lo. E, por isso, esse domnio v-se pejada de histo-ietas que se recantam de mdicos que faleceram antes de seus pacien-!es para quem tinham previsto pouco tempo de vida e dos que lanaram prognsticos de trs, seis meses de sobrevida e reencontraram os pacien-tes lpidos e faqueiros, dois, cinco, dez anos depois. No se trata aqui de generalizaes a partir de excees (secun-dum quid), erro de diagnstico, melanoma etc., trata-se do cuidado de elaborar diagnstico e prognstico, sem concepes meramente meca-nicas, ou fundamentadas predominantemente em dados estatisticos. Tra-ta-se de no propor sentenas olmpicas ou exarar observaes que podem, de feito, levar o paciente ao desespero e minar o que lhe sobra de vida. Outra face da moeda a falsa esperana que pode ser conferida, diante de fatos no completamente avaliados ou proporcionados por en-volvimento emocional piedoso, mais das vezes prejudicial adequada apreciao de qualquer caso ou quadro. Sem que paire dvida, restara ao paciente a sua mentira, ao invs de sua verdade, com a qual passa-r a conviver. Dessa forma, sua verdade absurda, por falsa. E aqui que se insere outro reconto de aldeia, o do paciente que propalava, a partir das palavras de seu mdico, que era portador de um "cancerzi-nho de nada". Pelo meio andar a verdade ou a virtude-simples e medocre tica aristotlica, tantas vezes gratificante. Pelo meio, pelo comedimento. Pelo uso ponderado, cauteloso, dos termos, que alimentar o pacien-te de amizade e bastar ao mdico e sua cincia, humanizando a pro^ fisso, que , por suposto, pautada em dados neutrais, indiferentes, e em tabelas frias e nmeros, mas tambm arte que brota do corao. O paciente, leigo ou no, pode no perceber em plenitude o signifi-cado real de sua doena ou o carter ominoso do prognstico, como em casos de cancer ("furo ano"), e acalentar a esperana secreta de cura, seja pelo uso de suas prprias foras, seja pela possibilidade de o mdico estar enganado, seja ainda, se tem posses, atravs de um tratamento nos Estados Unidos (ultimamente, em Cuba, quando afetar dos por vitiligo). A verdade estabelece residncia na esperana. Os mais esclarecidos no andaro isentos dessa tendncia, "nada do que hu-mano (Ihes) estranho". E a esperana os vuinerabiliza, tornando-os susceptiveis a todo tipo de explorao por parte de gente inescrupuloso. Mesmo assim, ao fim e ao cabo, nessas situaes de gravidade, se o paciente volve-se ao mgico, s chamadas alternativas, e s mui-tas outras tolices que habitam este velho mundo, que o faa sem que se torne alvo de indignao (pela gala cincia) ou de chacota,
uma vez que est cuidando de sua vida, s tem uma... e que "h mais coisas en-tre 0 ceu e a terra...." Paciente Crnico - Paciente Terminal Eutansia Mcio Palis Horta Problemas ticos da morte e do morrer Campo Santo Na minha terra a morte minha comadre. ... Mrcio Palis Horta A grande tarefa morrer. ... Enegrecidas de chuva e velas, adornadas de flores sobre as quais sem preconceitos as abelhas porfiam, a vida e a morte so uma coisa s. ... Ressurgiremos. Por isso o campo santo estrelado de cruzes. Adlia Prado. Paciente terminal e eutansia so termos que se aproximam ou at se tocam. Paciente crnico , porm, expresso de uma questo certa-mente diversa; pouco tem a ver com o substrato comum dos primeiros, que a prpria questo da morte. Desta perspectiva, melhor seria que falssemos de paciente com doena incurvel e, assim, estendssemos tambm a esses uma reflexo preliminar sobre o eterno tema da morte. Desde o seu inicio, a espcie humana busca uma resposta para o mistrio da morte. Nos dias atuais, em que pairam sobre o ser humano possibilidades concretas de auto-extino pela esquizofrenia nuclear, mais do que nunca fundamental tentarmos compreender seu verdadei-ro sentido. Para os que procuram entender a morte, ela uma fora altamen-te criativa. Os grandes valores da vida podem originar-se da reflexo so-bre a morte. A meta de todos os filsofos tem sido elucidar o seu signifi-cado. Scrates entendia que filosofar significava simplesmente estudar o problema da morte. Atravs dos tempos, inmeros pensadores busca-ram encontrar o seu significado nas vidas humanas e, medida que o esclareciam, contriburam tambm para a compreenso do significado ~ l da vida. Disse Thomas Mann: "Sem a morte haveria muito poucos poe-tas na terra". E todos eles tocaram o profundo segredo da vida enquanto falavam sobre a morte. No dizer de Elizabeth Kbler-Ross, "a chave para o problema da morte abre a porta da vida".
A morte sempre existiu e existir entre ns porque morrer parte integral da vida e da existncia humana, to natural e previsvel como n ascer. Por que, ento, to difcil morrer? Por que, ento, na sociedade moderna a morte se transformou num tema a ser evitado de todasas maneiras? Mesmo aceitando a morte como parte integral da vida, difcil mor-rer e o ser sempre porque isto significa renunciar vida neste mundo. Porque a morte nos traz permanentemente a conscincia de nossa vul-nerabilidade e que nenhum avano tecnolgico nos permitir dela esca-par. A morte indiscriminadamente democrtica. Todos devem morrer, bons ou maus, ricos ou pobres, pessoas famosas ou annimos desconhecidos. Sua imprevisibilidade e inviabilidade o que aterroriza a maioria das pessoas. o que diz Roberto Freire: "No pedi e no esco-lhi de quem, por que, onde e quando nascer. Da mesma forma no pos-so decidir quando, como, onde, de que e por que morrer. Essas coisas me produzem a sensao de um imenso e fatal desamparo, uma insegu-rana existencial permanente". Esse medo tornou-se exponencialmen-te maior em nossa sociedade moderna, adoradora da juventude, idlatra da tecnologia, do progresso, do poder e dos bens materiais e iconoclas-ta da intangvel, mas imanente, espiritualidade da espcie humana. Por isso, essa sociedade transformou a morte estranha aos homens. Quer escondla por todos os modos, varrendo-a, qual avestruz, para baixo do tapete. Pretende-se esquecer que h um "tempo de nascer e tempo de morrer", como nos ensina o Livro dos Eclesiastes. Nos tempos modernos, j no se morre mais como antigamente -a morte esperada no leito de casa, os ltimos desejos, a famlia reu-nida, as crianas ativamente presentes, os ritos da morte e suas ora-es. Ningum mais vitima do totmico tabu em que a sociedade contempornea transformou a morte que as crianas. Ao priv-las da experin-cia de vivenciar a morte e o morrer, afastando-as das pessoas que esto morrendo, criamos nelas as razes de um medo irracional, por vezes de-finitivo, ao mesmo tempo em que as tornamos incapazes de lidar com sua futura, mas inexorvel, morte, retirando-lhes assim "a chave da por-ta da vida". Na sociedade tecnolgica moderna, morrer algo que acontece no hospital. E o moribundo no mais preside a cerimnia de sua morte. Proibiram-lhe at seu ltimo direitoo de saber quando o seu fim se aproxima. Muito freqentemente, j est inconsciente e se encontra nu-ma UTI. De sua parte,. a instituio hospital tambm passou por uma radi-cal transformao. Nos seus primrdios, ela se destinava aos pobres e desvalidos que estivessem para morrer. Eram basicamente instituies de caridade crist. Aps os enormes avanos cientficos e tecnolgicos da medicina neste sculo XX, transformou-se em instituio fundamentalmente voltada para os processos de tratamento e cura. Ao se transfor-mar em instituio comprometida com o processo de cura, os pacientes morte se transformaram numa ameaa a sua precpua funo. Como nos lembra Hans 0. Mauksch, no livro O Contexto Organizacional do Morrer: "No centro da atual nfase tecnolgica na histria do sucesso da cura, o paciente cujo mal no pode ser curado, o ser humano que est a morte, inexoravelmente tido como um fracasso daqueles profis-sionais e instituies".
H que se relevar que provem do elevado mister da medicina de preservar a vida, seu legitimo esforo na luta contra a morte, buscando impedi-la ou tentando retard-la. Essa natural inclinao no pode e no deve, contudo, obscurecer-lhe a conscincia de ser a morte a culminncia de um processo natural-o processo da vida. O fato que-concomitantemente ao progresso cientfico e tecno-lgico da medicina-ela se tornou, nos dias atuais, fria, distante, impes-soal-menos humana, enfim. Exatamente, imagem e semelhana dos modernos hospitais e dos profissionais que neles atuam, cada dia mais preparados tecnicamente para lidar estritamente com os aspectos biolgicos da vida e cada dia mais despreparados para a relao mdi-co-paciente, para o contato humano, para o relacionamento interpesso-al integral e mais ainda para o estar simplesmente com o paciente morte, confortando-o nos seus momentos finais, amparando-o, ouvindo, aceitando-o, amando-o, enfim, como seu semelhante. Alis, em ne-nhum outro momento os seres humanos so mais semelhantes entre si do que na hora das suas mortes. Mais uma vez recorro notvel Elizabeth Kbler-Ross para constatar que a medicina moderna tem diante de si este dilema-o de continuar sendo uma profisso humanista e humanitria, e s assim respeitada, ou uma nova mas despersonaliza-da cincia, cuja finalidade prolongar a vida em vez de mitigar o sofri-mento humano. Se atentarmos para a antiga mxima, "o mdico deve confortar ou consolar sempre, aliviar algumas vezes ou freqentemente e curar quando pode ou muito raramente", vemos que as duas ltimas variaram com o tempo e o progresso, mas a primeira delas permanece intacta e assim dever continuar no futuro, pois ela a essncia mais intima e profunda, o come mais nobre da medicina e profisses deriva-das ou correlatas. Se inconteste que os avanos tecnolgicos na rea da saude con-tribuiram e continuam a contribuir para salvar muitas vidas e minorar-lhes o sofrimento, trouxeram-nos, todavia, inmeros problemas ticos a enfrentar. O primeiro deles diz respeito definio ou conceito de mor-te. Sua tradicional definio como o instante do cessamento dos batimentos cardacos tornou-se obsoleta. Hoje ela vista como um proces-so, como um fenmeno progressivo, e no mais como um momento, ou como um evento. Morrem primeiro os tecidos mais dependentes do oxignio em falta, sendo o tecido nervoso o mais sensvel de todos. Trs minutos de ausncia de oxigenao so suficientes para a falncia ence-flica que levar morte enceflica ou, no mnimo, ao estado permanen-te de coma, em vida vegetativa. Segundo Leocir Pessini, a reviso do conceito de morte, definin-do-a como morte enceflica, tornou-se necessria devido a diversos fato-res, entre os quais destaca: a capacidade da medicina de prolongar in-definidamente uma vida por meios artificiais; motivos sociais, humanos e mesmo econmicos (para os casos irrecuperveis); e o fato de as ci-rurgias de transplantes exigirem rgos, em perfeitas condies de vita-lidade, para o seu sucesso. Desse novo contexto, emergem questes ticas, at aqui inditas. A vida humana deve ser sempre preservada, independentemente de sua qualidade? Devem-se empregar todos os re-cursos tecnolgicos para prolongar um pouco mais a vida de um pacien-te terminal? Devem-se utilizar processos teraputicas cujos efeitos so mais nocivos do que os efeitos do mal a curar? Quando sedar a dor sig-nifica abreviar a vida, licito faz-lo? O que fazer com os nascituros por-tadores de mallormaes congnitas do sistema
nervoso central cujas vidas, se mantidas obstinadamente, significaro a condenao ao sofri-mento permanente ou a um estado meramente vegetativo? O cenrio da morte e do morrer se transforma, no s para os pa-cientes incurveis e terminais, como tambm para os prprios mdicos. Estes chegam at a pr em discusso um dos principias deontolgicos no qual tradicionalmente sempre se inspiraram. Desde a Antigidade, no juramento de Hipcrates, obrigavam-se eles a jamais ministrar medicamentos letais mesmo a pedido do paciente. Que sucederia se viesse a cair esse pilar da tica mdica? Creio que a prpria relao mdico--paciente estaria comprometida, pois que seu principal elemento-a confiana no mdico-seria definitivamente abalada por incontornvel suspenso. Imagine-se a situao do doente perguntando para si mes-mo se a prxima injeo para ajud-lo a curar-se ou para mat-lo. o que nos diz o Guia europeu de tica e comportamento profissional dos mdicos: "Recorrer ao mdico significa, em primeiro lugar, pr-se em suas mos. Essa ao, que domina toda a tica medica, probe, consequentemente, aes contrrias a ela. Assim, o mdico no pode proce-der eutansia. Ele deve esforar-se por suavizar os sofrimentos de seu paciente, mas no tem o direito de provocar deliberadamente sua mor-te... Essa regra, conhecida de todos e respeitada pelos mdicos, deve ser a razo e a justificao da confiana neles posta. Nenhum doente ao ver o mdico chamado sua cabeceira, deve ter dvida a esse respeito". Tal entendimento, por mais inequvoco e transparente que seja, no deve nos conduzir insensibilidad e diante de alguns argumentos le-vantados pelos que defendem a mudana desta norma deontolgica. Um dos mais consistentes nos lembra que a angstia mais profunda do moribundo de nossos dias a de ser abandonado no momento em que, segundo a cincia mdica, no h mais nada a fazer. Outro nos diz que a prpria medicina cria situaes desumanas e depois se recu-sa a assumir responsabilidade por elas. E, ainda, que, muitas vezes, o prprio mdico, apelando para valores hipocrticos, na verdade abando-na o doente, porque a morte no de sua competncia. O lado positi-vo desses argumentos, aponta Sandro Spinsanti, "est na exigncia de reflexo sobre a finalidade da profisso mdica, nos termos concre-tos de sua prtica atual"; e ainda ao fato de que "as novas condies do morrer obrigam os mdicos a se ocupar tambm da morte do ser hu-mano". Alis, para desideologizar o debate sobre a eutansia, h que se desfazer os equivocas de que se nutre o apaixonado debate sobre es-se que sem dvida um dos pontos mais delicados da tica mdica contempornea. O principal responsvel por esses equvocos a prpria palavra "eutansia", tanto no aspecto semntico quanto no seu significa-do conotativo. O pioneiro brasileiro da deontologia mdica, Flaminio Fvero, lem-bra-nos que-"euthansia, etymologicamente (de eu, bem, e thnatos, morte) a morte calma como registra Ramiz Galvo (Vocabulrio etymo-lgico e prosdico, Rio de Janeiro, 1909)". So seus sinnimos etimol-gicos morte harmoniosa e morte sem angstia; ou ainda, morte sem dor e morte sem sofrimento; e tambm morte fcil e morte boa. J nos tempos pr-histricos, havia medidas para apressar a mor-te, segundo as prticas culturais dos povos primitivos. Na antiguidade greco-romana, o direito de morrer era reconhecido, o que permitia aos doentes desesperanados par fim s suas vidas, algumas
vezes com ajuda externa. Tais prticas tiveram seu termo com o surgimento do cristianismo que introduziu a noo de sacralidade da vida, como um dom de Deus a ser preservado e cultivado. Como os seres humanos devem sua existncia, valor e destino a Deus, ningum mais tem o direito de reivindicar para si o domnio total sobre sua prpria vida ou sobre a vi-da de outrem. At o sculo XVII, eutansia se referia aos meios para se alcanar a morte boa ou a morte fcil, como, por exemplo, cultivar uma vida s-bria e de temperana ou pela aceitao da prpria mortalidade. Em 1605, com Francis Bacon, em Advancement of Learoing, eutansia pas-sa a se integrar aos domnios da medicina, com a conotao de aliviar o sofrimento de doentes terminais, ate apressando a sua morte, se pre-ciso fosse. Paradoxalmente, Bacon se inspirava nos conceitos humanis-ticos e cristos de bem-estar e dignidade do ser humano para defender a longevidade livre de enfermidades e da senectude, como o mais nobre propsito da medicina, e a morte livre da dor e do sofrimento, como obje-to das habilidades mdicas. Este significado de provocar a morte indo-lor de um doente terminal, sem chances de recuperar a sade, prevale-ce at os dias atuais. Fala-se hoje em morte piedosa e at em suicdio assistido, como eufemismo de eutansia, para explicitar a situao de se por termo deli-beradamente vida de uma pessoa enferma, a pedido explicito ou presumido desta, em nome da compaixo por quem est sofrendo, numa condio considerada j desumana, e de sorte a par fim a esse sofrimen-to. A "Declarao sobre a eutansia", da Igreja Catlica, de maio de 1980, reitera esse conceito: "Entendemos por eutansia uma ao ou omisso que, por sua natureza ou nas intenes, provoca a morte a fim de eliminar a dor". A eutansia pode ser voluntria ou involuntria. Eutansia volunt-ria, solicitada por aquele que sofre, tem sido descrita como suicdio as-sistido ou homicdio por requisio. Eutansia involuntria implica nu-ma deciso da sociedade ou de um indivduo em por fim vida daque-le que sofre, sem que este exprima sua vontade, como, por exemplo, nos casos de crianas com severa deficincia mental ou das pessoas dementes e inconscientes. Em nenhum pais existe qualquer forma de eutansia legal. Outras distines tambm clssicas so as eutansias ativa e passivo, direta e indireta. A eutansia ativa quando se produz a morte; passivo, quando a morte advm da omisso de medidas indis-pensveis para salvar a vida. Do ponto de vista moral, no relevante se se pe fim a uma vida, por ao ou omisso. Nos ltimos anos, a expresso "eutansia passivo" trouxe formid-vel confuso aos debates, ao ser estendida para aquelas situaes em que se cogita da suspenso de certas terapias mdicas destinadas ao prolongamento da vida de pacientes terminais, ou seja, deixar a nature-za seguir os seus caminhos. Existe uma distino clara entre este "deixar morrer", decorrente da aceitao da condio humana, tanto do suicdio quanto da "eutansia passivo". Hoje, a pergunta que deve ser fei-ta : existem situaes nas quais, mesmo sendo possvel prolongar a vida, moralmente justificado omitir a ao mdica? Diz Sandro Spin-santi que "a omisso Ilegtima quando se deixa que o paciente entre naturalmente no processo de morrer, renunciando-se ao enrijecimento que qualificamos de obstinao teraputica". Segundo ele, o mdico do-minado pela obstinao considera seu
dever exclusivo prolongar o mais possvel o funcionamento do organismo do paciente, em qualquer condi-o que isso se d, ignorando toda dimenso da vida humana que no seja a biolgica, e sobretudo negligenciando a qualidade de vida que conseguida desse modo e a vontade explcita ou presumida do pacien-te. O preo dessa obstinao uma soma indizvel de sofrimentos gra-tuitos, tanto para o moribundo quanto para seus familiares". Cai-se aqui no extremo oposto a eutansia dos antigos, no seu antnimo, a dis-tansia, para definir esta violenta deformao estrutural do processo na-tural do morrer. A outra fonte de equvocos trazidos pela expresso "eutansia pas-siva" decorre do erro de no se fazer distino entre doena terminal e doena aguda. Ambas so entidades fisiopatolgicas distintas e o que apropriado para uma pode no s-lo para outra. Sondas, infuses ve-nosas, antibiticos, respiradores e reanimao cardaca so todas elas medidas que se usam em doenas agudas, para assistir um paciente durante um perodo critico at a recuperao da sade. Geralmente usar tais medidas em pacientes terminais, sem nenhuma expectativa de recuperao, tratamento imprprio e, portanto, m medicina. Um mdico tem o dever de manter a vida enquanto ela seja sustentvel, mas neo tem nenhum deverlegal, moral. ou tico-de prolongar o sofrimento de um moribundo. A distino entre ao direta e indireta tambm clssica na filosofia moral. Na eutansia indireta, a ao produz a morte, mas a inteno daquele que age no supresso da vida. Contrariamente crena po-pular, possvel aliviar a dor, no cncer terminal. Alm disso, para ali-viar esta dor, bem como a dor de outras origens, raramente necess-no embotar a conscincia. A expresso "eutansia indireta" tem sido usada para descrever a administrao de drogas para alivio da dor em pacientes com cncer terminal. Isto incorreto; aplicar uma droga para diminuir a dor, bem como a dor, no cncer terminal . Isto e incorreto; aplicar uma droga para diminuir a dor no e a mesmo que aplicar uma dose letal para pr fim vida. E comumente aceito que se a vida pode ser encurtada pelo uso de tais drogas, este e um risco aceitvel em tais circunstncias. Todo tra-tamento tem um risco inerente; um risco maior aceitvel em situaes extremas. Contudo, axiomtico que, mesmo em situaes extremas, deve ser usado o remdio necessrio menos drstico. O exemplo tpico de situao extrema o da superdose de analgsicos narcticos, aplicados para aliviar as dores do paciente, e no para mat-lo. Pio Xll aplicou explicitamente esta distino, que se baseia na teoria do duplo efeito, terapia da dor: "Se a administrao dos narcticos causa, por si mes-ma, dois efeitos distintos, a saber, de um lado, o alivio das dores e, do outro, a abreviao da vida, licita". Acrescentou, porm, que neces-srio ainda considerar se entre os dois efeitos existe proporo razo-vel e se as vantagens de um compensam os inconvenientes do outro. Essa distino, a par de reforar o significado da reta inteno, fun-damental na ao moral, no oferece sempre regras precisas para situa-es de conflito. Surgiu, assim, a distino entre meios ordinrios e ex-traordinrios. Por esse critrio, os esforos para salvar uma vida ou pro-long-la podem ser licitamente omitidos quando extraordinrios. Na prtica mdica, contudo, o critrio da extraordinariedade dos meios e de uso dificil, a no ser que esteja ligado a algum outro critrio, como, por exemplo, o de apreciao subjetiva do paciente. De outra parte, um meio ordinrio clssico, como o uso de antibiticos em pneumonia, po-de se tornar imprprio em determinada situao concreta como nos pacientes com diagnstico de morte enceflica j estabelecido. A insatisfa-o com essa
terminologia no mbito da tica, decorrente de tais impre-cises, deu origem a nova distino, a saber, entre meios proporciona-dos e desproporcionados. Esta tem a vantagem de introduzir como crit-rio uma apreciao subjetiva da vida e da sua qualidade. Aceitando o critrio da qualidade de vida, a tica recorda medicina que ela deve estar a servio no s da vida, mas tambm a servio da pessoa. Se o prolongamento da vida fsica no oferece mais s pessoas nenhum be-neficio, ou at mesmo lhe fere a dignidade do viver e do morrer, torna-se desproporcionado qualquer meio para esse fim. Ainda dentro do aspecto conceitual da eutansia, temos de nos re-ferir a duas situaes especiais, no necessariamente ligadas ao doen-te terminal. o que Leocir Pessini chama de eutansia neonatal, em que determinados tratamentos deixam de ser utilizados, ou at mesmo se subtrai a alimentao, em crianas com defeitos congnitos do siste-ma nervoso central. E, em segundo lugar, a eutansia dita social, seja a econmica ou a eugnica, em que a sociedade se recusa a investir re-cursos no tratamento de doentes com enfermidades sem perspectiva de cura e de custos elevados ou simplesmente pretende eliminar, co-mo na ptica pervertida do nazismo, os excepcionais do ponto de vista fsico ou mental. Definidas as questes conceituais em torno da eutansia e enten-dido o significado bem delimitado que a expresso passou a ter nos dias atuais, resta-nos abordar a questo central da eutansia voluntria -o desejo, a vontade e o "direito de morrer". A conjectura em favor da eutansia depende em ltima anlise de se considerar que uma pes-soa tem, ou deveria ter, o direito de decidir sobre que quantidade de so-frimento ela est preparada para aceitar e, quando esse limiar for atingi-do, se ela tem o "direito de morrer", com a finalidade de pr fim ao sofrimento. A expresso "direito de morrer" , todavia, usada numa varia-da gama de condies, incluindo o direito do paciente no ser submeti-do a terapias inapropriadas ou inoportunas e o seu direito de receber medicamentos para aliviar a dor, mesmo sob o risco de abreviao da vida. Esta ambigidade limita o valor da expresso numa discusso sria. Contra a eutansia voluntria, resta a negao do direito de pr fim prpria vida, isto , a negao do direito ao suicdio. Tal negao se baseia em consideraes filosficas, morais e religiosas. O argumento religioso, desde tempos imemoriais, estendia a vida da prpria pessoa a aplicao do mandamento "no matars", baseado no principio da sacralidade da vida. Hoje, j se pode dizer que o valor tico da vida huma-na existe e reconhecido per si, independentemente do valor a ele atribudo pelas diversas religies. A norma moral, enquanto fundada na ra-zo, pode ser universalizada a todos os seres que seguem a razo. O principio no qual se fundamenta a norma moral que condena a eutansia o mesmo que condena o aborto provocado e a pena de morte- a dignidade da vida do ser humano. O primeiro direito da pessoa huma-na e a sua vida. Ela tem outros bens que so preciosos, mas a vida fundamental e condio de todos os outros. Por isso, esse bem deve ser protegido acima de qualquer outro. Tal entendimento norteou a Associao Mdica Mundial a declarar em 1950 que a eutansia voluntria contrria ao esprito da Declara-o de Genebra e por essa razo antitica, no que foi seguida pelas as-sociaes mdicas nacionais em todo o mundo. Nos anos recentes, as cincias jurdicas tambm incorporaram o principio da norma moral em defesa absoluta da vida, formulando o principio jurdico segundo o qual o direito vida
deve ser entendido como um direito absolutamente indisponvel, a ser tutelado pelo Estado at contra a vontade do indivduo. Se no h, por tudo que dissemos, nenhum motivo vlido para re-formular o juzo tico segundo o qual e ilcito qualquer atentado contra a prpria vida, isto no deve nos desobrigar de refletir sobre o significa-do de alguns gestos suicidas, porque muitas vezes eles nada mais so que um veemente protesto contra as condies de vida impostas pela medicina moderna aos doentes terminais. Constatando-se que se trata de verdadeira vontade de morrer, a tica nos obriga a outra tarefa de discernimento: a distino entre a vontade s e patolgica. Nem todos aceitam que possa haver vontade s de morrer. Roberto Freire, em assumido agnosticismo, quem nos diz que o suicdio transmite a falsa impresso de se ter algum poder sobre a vida. "Mas quem me garan-te", diz ele, "que o suicdio realmente um ato voluntrio? Acredito que todos os suicidas buscam a morte contra a vontade, violentando-se, do-minados pelo desejo onipotente de dar um sentido vida e outro morte, como se esta fosse um substituto para aquela, e no apenas dois de-graus da mesma escada em direo ao nada". Entendemos que a vonta-de de morrer no pode, contudo, ser excluda, de modo absoluto, do projeto humano de vida. Ao contrrio, ela pode exprimir a aceitao positi-va da prpria humanidade como essencialmente limitada no tempo. H um "tempo de nascer e tempo de morrer"... Finalmente, lembremo-nos que, quando a vida fisica considera-da o bem supremo e absoluto, acima da liberdade e da dignidade, o amor natural pela vida se transforma em idolatria. A medicina promove implicitamente esse culto idolatra vida, organizando a fase terminal co-mo uma luta a todo custo contra a morte. Rebelarmo-nos contra a organizao mdica do morrer tarefa ina-divel. A medicina e a sociedade brasileira tem hoje diante de si um de-safio tico, ao qual mister responder com urgncia-o de humanizar a vida no seu ocaso, devolvendo-lhe a dignidade perdida. Centenas ou talvez milhares de doentes esto hoje jogados a um sofrimento sem perspectiva em hospitais, sobretudo nas suas terapias intensivas e emergn-cias. No raramente, acham-se submetidos a uma parafernlia tecnol-gica que no s consegue minorar-lhes a dor e o sofrer, como ainda os prolonga e os acrescenta, inutilmente. Bibliografia . Humber e Almeder, Biomedical Ethics and The Law, Plenun Press/New York, 1979 . Flaminio Fveo, Deontologia Mdica e Medicina Profissional, Bibliotheca Scientifi-ca Brasileira . Duncan, Dunstan e Welbourne, Dictionary of Medical Ethics, Crossroad/New York, 1981 . Warrent T. Reich, Encyciopedia of Bioethics, The Free Press/New York, 1982 . Sandro Spinsanti, Etica Biomdica, Edies Paulinas, 1990 . Leocir Pessini, Morrer com Dignidade, Editora Santurio, 1990
. Elisabeth Kbler - Ross, Morte - Estgio Final da Evoluo, Editora Record . Adlia Prado, O corao Disparado, Editora Nova Fronteira, 1977 . Douglas N. Walton, On Defining Death, Mcgill/Montreal, 1979 . Roberto Freire, Sem Teso no h Soluco, Editora Guanabara, 1987 . Elisabeth Kbler - Ross, Sobre a Morte e o Morrer, Livraria Martins Fontes Editora, 1981 Atestado Mdico Consideraes tico Jurdicas Srgio Ibiapina Ferreira Costa Consideraes Preliminares Em sentido amplo, pode uma Instituio ser entendida como um conjunto de procedimentos, de normas e de conceitos que, aceitos e praticados repetidamente no mbito de determinado grupo social, tornam-se a ferramenta til e necessria soluo de seus problemas de inter-relacionamento. Nesse plano conceitual amplo que podemos conceber o atestado como uma instituio, criado que foi, sem dvida, para uma finalida de certa e definida, qual seja a de demonstrar a verdade de determina do ato, ou de determinada situao, estado ou ocorrncia. A utilidade e a segurana do atestado esto intrinsecamente vinculadas certeza de sua veracidade. Assim que uma declarao duvidosa tem, no campo das relaes sociais, o mesmo valor de uma declarao falsa, exatamente por no imprimir um contedo de certeza ao seu prprio objeto. A natureza institucional do atestado, o seu contedo de f pblica e o pressuposto de verdade e certeza que lhe inerente justificam, sobejamente, a preocupao e o interesse que o mesmo desperta. Isto fcilmente se constata pelas repetidas abordagens do tema em inmeros encontros e simpsios mdicos, jurdicos, ticos e sociais. Examinada a questo sob o ponto de vista da realidade social, observa?se que, infelizmente, encontram-se muitos e muitos atestados desmerecedores da f pblica que Ihes deve ser atribuda. Lamentvel ocorrncia tanto pode proceder da pusilanimidade do prprio atestante, como da conduta viciada do beneficirio dissimulador e fraudulento. Qualquer que seja a situao, atestante e beneficirio estaro sempre envolvidos em responsabilidade conjunta e solidria, capaz de produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo tico?profissional, como no campo jurdico?social.
A concesso de atestados graciosos pode, ento, debitar?se no apenas a profissionais irresponsveis, que vem nos seus respectivos cdigos de tica simples manuais de boas maneiras, mas tambm a interessados desprovidos de formao moral que buscam, atravs desse valioso instrumento, a criminosa obteno de vantagens escusas. A freqente abordagem do tema em diversos fruns especializados demonstra, s por si, a preocupao que a matria tem despertado e revela o esforo educativo que os vrios conselhos de Entidades profissionais vm desenvolvendo. Sem prejuzo de seu inter?relacionamento, a abordagem que do tema iremos fazer ordenar?se? de acordo com os seguintes passas: conceito de atestado mdico; aspectos tico?penais relativos sua expedio e utilizao; o atestado falso; segredo mdico e o atestado mdico. Conceito Como se viu preliminarmente, a matria aqui versada no desperta a preocupao exclusiva da cincia mdica. Tambm a cincia jurdica dela se ocupa. Justifica?se, pois, servir?nos do significado jurdico para nele moldarmos o conceito de atestado mdico. assim que de Plcido e Silva, dicionarista especializado, colhemos a indicao de que: "atestado indica o documento em que se faz atestao, isto , em que se afirma a veracidade de certo fato ou a existncia de cer ta obrigao. assim o seu instrumento. " Obtido o conceito genrico de atestado e agregando?se a ele o componente mdico, chega?se concluso de que atestado mdico documento de contedo informativo, exarado por mdico, como "atestao" de ato por ele praticado. Confirmada por atestado mdico a veracidade de determinado fato ou a existncia de certa obrigao, poder o beneficirio da declarao pleitear os direitos advindos daquilo que foi declarado. Expedido no exerccio de profisso regular, merecedora de que seus profissionais nele deposite confiana, o atestado mdico verdadeiro por presuno e sua recusa propicia o oferecimento de reclamaes tendentes garantia dos direitos representados pela declarao. Em busca de preservar a confiabilidade do atestado mdico, apontamos aqui cinco condies para sua expedio 1. ser sempre exarado por mdico habilitado na forma da lei; 2. ser subscrito por quem, de fato, examinou o beneficirio da declarao; 3. ser elaborado em linguagem simples, clara e de contedo verdico;
4. omitir a revelao explcita do diagnstico, salvo quando ocorrente dever legal, justa causa ou pedido expresso do paciente; 5. expressar a prudncia do mdico ao estabelecer as conseqncias do exame e, portanto, ao prognosticar. Em sendo o atestado parte integrante do ato mdico que se inicia com o exame do paciente, no justifica cobrana de valor adicional por sua expedio, sob pena de Dominaes ticas e Renais. Aspectos tico-Penais O aspecto penal envolvido na matria atestado mdico est intimamente vinculado ao contedo tico. que, nesta passagem, a legislao penal estrutura?se, no mais das vezes, como "norma em branco" assim entendida aquela que, colhendo conceitos de outras disciplinas ou reas do conhecimento, serve?se das definies ali obtidas como instrumento de tipificao da conduta penalmente reprovvel. Assim, partir do contedo da norma tica analisar primeiramente a base da prpria reprovao penal. O Cdigo Internacional de tica Mdica, tratando dos deveres do mdico, expressa que: "A doutor shouid certity or testify only to that wich de has perso nally verified". (Mason 8 McCall Smith In Law and Medical Ethics, Butterworths, Londres, 3a Ed. 1991, p. 441) A disposio do Cdigo visa a preservar um dos pontos mais importantes da relao do mdico com o paciente, qual seja o de garantir que a conduta mdica relate, sempre, a veracidade dos fatos constatados no exame, qualquer que seja o procedimento executado ou a executar. A mesma linha de disposies pode ser flagrada em nosso Cdigo de tica Mdica. Tratando conjuntamente do atestado e boletim mdicos, o Cdigo ptrio probe ao profissional fornecer atestado que no corresponda prtica de ato que o justifique, ou relatando situao diferente da realmente constatada. Como normatizao interna que , o Cdigo Brasileiro se permite detalhamento incompatvel com a natureza internacional daquele outro diploma. Assim, probe a utilizao do atestado como instrumento de captao de clientela: confere ao paciente direito subjetivo ao atestado que define como parte integrante do ato mdico, no importando seu fornecimento em majorao de honorrios. E ainda do nosso Cdigo a proibio de que o mdico sirva-se de formulrios de instituies publicas para atestar, mesmo a verdade, quando verificada em instituio particular. O bito, em principio, somente
poder ser atestado aps verificao pessoal e por quem tenha prestado assistncia ao paciente, salvo nas hipteses de verificao em planto, como medico substituto ou por via de necropsias ou exame mdico-legal. Por outro lado, se o mdico vinha prestando assistncia ao paciente, atestar?lhe o bito converte?se em obrigao, salvo na suspeita de morte violenta. Quando o boletim mdico contiver afirmao tcnica semelhana do atestado, dever comportar?se segundo as linhas gerais que regulam a produo deste, vedando?se a informao falsa ou tendenciosa. Em capitulo diverso daquele especificamente dedicado ao atesta do e boletim, probe o Cdigo, ao mdico, receitar ou atestar secreta mente ou. de forma ilegvel, bem como assinar em branco formulrios destinados pratica de ato mdico. Do ponto de vista da legislao, o Cdigo Penal, tomando como bem jurdico a preservar a veracidade do atestado mdico, pune com deteno de um ms a um ano a quem concede atestado falso, agregan do pena certa multa, se o crime e cometido com fim de lucro. As disposies do Cdigo de tica acerca do atestado de bito e do fornecimento deste sem base em ato profissional pessoalmente desenvolvido so igualmente encontradas no Decreto?Lei n 20.931, de 1932. Verificando?se a legislao estrangeira, observa?se que o tratamento e semelhante ao dado pela norma nacional. E o que resulta da anlise da legislao francesa, portuguesa, italiana e outras. A diferena en tre aqueles pases e o nosso vai ocorrer, no nos textos legais, mas na maneira como aquelas normas so aplicadas e na efetividade da punio que ali se observa. Em comparao queles povos, falta?nos, no o texto legal, mas o costume de cumprir e aplicar a lei. O Atestado Falso Seria impossvel apontar um mdico que, em algum momento de sua vida profissional, j no tenha sido assediado por amigos, paciente sou familiares, em busca de "atestados de doena" por via do qual pretendem livrar?se de embaraos administrativos. Questes banais como a ausncia de um filho ao colgio, o no comparecimento a uma assemblia de entidade de classe ou um final de semana prolongado at segunda-feira, motivam as pessoas ao pedido de atestado mdico justificador de suas faltas, agregando-se solicitao, no raro, a manifestao de que todo mundo faz isso, que no h prejuzo para o mdico, que ningum vai saber etc. Se verdade que muitos mdicos resistem, igualmente certo que ,em alguns casos, o profissional, levado por consideraes de amizade ou laos familiares, fazendo pouco caso de uma anlise mais aprofundada de seu procedimento e responsabilidade, cede, expedindo atestado gracioso ou falso, proibido pelo Cdigo de tica e tipificado como conduta punvel pela legislao penal .Abordando o tema, Wanderley Lacerda Panasco comenta:
"se a desvalia do segredo mdico trouxe um descaso ao paciente, por seu turno, o atestado falso, essencialmente doloso, tem merecido muito mais criticas a Medicina, pela desmotivao com que realizado. O atestado a afirmao competente da dignidade profissional e pblica". E prossegue o autor: "o mdico seguro das suas funes, responsvel por suas deliberaes civis, penais ou administrativas, encarregado de averiguaes periciais da formulao de atestados de bitos, de retratar o instante orgnico para as diferentes necessidades requeridas, no pode, por simples condio graciosa ou em busca de valores pecunirios, se embair por tais pensamentos. Tanto o atestado gracioso, quanto o de efeito lucrativo se miscigenam na mesma hierarquia tica e no merecem apelo, seno a inconformidade da justia". No demais concluir repetindo que, em nenhuma hiptese, poder o mdico ante aqueles que o procuram para, a qualquer preo ou sob qualquer argumento, justificarem?se atravs do atestado mdico pelo A displicncia tica, arreigada prtica diria, ou um lamentvel desejo mercantilista, induzem a que proliferem na medicina brasileira casos de concesso de atestados graciosos. Algumas medidas simples tm sido propostas a essa prtica mal-s, como relata Irany Novaes ao escrever: "a experincia de juizes registra casos de ao contra mdico que, em um semestre, vendeu mais de quinhentos atestados para abono de falta em uma s entidade. H situaes muito ilustrativas que comprovam ser possvel coibir o mdico em sua faina de conceder atestados falsos. Os mesrios escolhidos pela Justia Eleitoral no encontram um s mdico que d atestado para justificar seu neo comparecimento a convocao, graas a idia brilhante que um juiz teve de despachar o pedido nos seguintes termos: Justificada a ausncia, convoque-se o atestante para as prximas eleies". Sem dvida, a liberalidade na outorga desse valioso instrumento nociva aos mdicos e prpria medicina, por abalar a credibilidade de ambos perante a sociedade, a qual, ademais, perde um instrumento til que pela prtica fraudulenta j no atende sua finalidade original. O mais grave e o que mais indigna a posio de alguns, em considerar a prtica delituosa como um procedimento de nenhuma importncia, justificvel em diversas circunstncias, esquecendo-se de que, se o ato isolado tem pouca repercusso social, exatamente a soma desses diversos atos isolados que vai corroendo a instituio, denegrindolhe a imagem at apag-la totalmente de entre as coisas serias e teis. Perigoso, tambm, generalizar-se a conduta judicial citada por Irany Novaes, pois parte do entendimento de que todos os atestados mdicos sejam graciosos, punindo quem corretamente atestou o que constatara, de fato, acerca do paciente, alm de no contribuir para o resgate da credibilidade necessria a valorizao do atestado medico.
As solues externas classe mdica sero sempre repressoras; correes do procedimento falho levado a termo por integrantes da categoria. Resolver o problema significa buscar a retido de proceder, dentro do prprio conjunto dos mdicos, levando?os adoo de conduta tica, invocando o esprito pblico que deve presidir seu of icio. Solues internas categoria tm, em alguns casos, demonstrado absoluto engano da abordagem do tema. Sugere algum que os atestados mdicos passem a ser expedidos em duas vias, entregue a primeira ao paciente e remetida a segunda aos conselhos regionais para possivel amostragem de sua procedncia e conformidade com a tica. Este procedimento, ao lanar todos os mdicos indistintamente na zona de dvida, 0 que ja prejuzo imenso, exigiria a multiplicao do numero de conselheiros, para ocup?los em tarefa burocrtica intil, obrigando?os a dar parecer acerca de paciente que sequer viram, na medida em que, dispondo apenas do atestado mdico, deveriam concluir sobre se bem passado ou no. Cumpre ser vista a matria como problema de toda a categoria e da prpria sociedade no deixada ao juzo de cada qual. Deliberaes individuais quanto a expedir ou no o atestado correro sempre o risco de envolverem?se em interesses pessoais, quer pecunirios, quer de solidariedade ou amizade, tendendo a solues divergentes, adotadas segundo padres que no expressaro a moralidade da categoria e da sociedade. Alis, exatamente essa moralidade, aquilo que se espera do profissional mdico como conduta tica aceita pela sociedade em geral; o que se fez expressar no Cdigo de tica Mdica, instrumento de consulta freqente obrigatria a que se devem acostumar os mdicos, valendo-se, ainda, dos textos de outras resolues e pareceres cuja atualizaco deve ser buscada com o mesmo interesse despertado por uma nova modalidade teraputica. Sem embargo disto, deve o medico evitar transformar?se em cumpridor formalista da letra fria das normas. Ensina Gonzalez Sabathier, citado por Rui Sodr, que "no se deve interpretar como sendo permitida a prtica de tudo quanto no tiver sido proibido no Cdigo". O contedo da norma no encerra todos os preceitos morais a que esto sujeitos os mdicos. A aplicao da regra requer do profissional ateno queles outros padres de conduta, obviamente exigveis do cidado em geral. Buscando as causas dos abusos verificados na expedio de atestados mdicos, h quem advogue ser a impunidade um dos principais motivos de no reverter-se a prtica delituosa. Embora no se possa considerar a ocorrncia de tal impunidade, cumpre registrar que os conselhos regionais no tem poupado severas punies aos mdicos Sagrados em abuso. possvel que o nmero de casos julgados seja pequeno, frente ao universo de fraudes cometidas. Mas verdade inconteste que, constatada a ocorrncia, tem sido punidos os culpados. Ainda h pouco, o Conselho Federal referendou a cassao do exerccio profissional de mdico que mantinha vinculo com empresa funerria, assinando formulrios de atestados
de bito em branco e cobrando taxas para liberao de corpos, sem, sequer, ver ou examinar os cadveres. Um dos conselhos regionais, soubemo?lo recentemente, conduz processo tico em desfavor de mdico que, por motivo mercantilista, teria passado atestado de bito a respeito de determinada pessoa, propiciando que, em lugar dela, fosse sepultado caixo cheio de pedras. O pretenso morto foi encontrado tempos depois do sepultamento, higido, numa cidade vizinha. Confirmada a historia, visto o dever de atestar apenas o que pessoalmente constatou, pode?se considerar o fato apenas um equivoco? Apreciada a questo em suas linhas gerais, cumpre registrar alguns casos concretos, em busca de causas da expedio do atestado mdico falso, dos tipos que o atestado falso pode assumir e da interpretao que se deve dar a determinadas situaes. Neste sentido, anotamos o que colhemos recentemente junto a empresrio do setor de construo civil. Diz aquela fonte que em tempos de recesso econmica como o presente, reduz?se consideravelmente o absenteismo, da mesma forma caindo o nmero de faltas abonadas por atestados mdicos. Entende o construtor que, receosos em perder o emprego na vigncia de conjuntura adversa, os trabalhadores reduzem a presso exercida sobre o mdico para que lhes fornea atestado. Parece-nos pouco razovel admitir que a presso exercida pelo paciente seja a causa nica da proliferao de atestados graciosos no setor. Outros fatores como o incremento da rotatividade da mo-de-obra na construo civil, a reduo dos nivele gerais de renda em tempos de recesso econmica, com a conseqente queda do padro de vida da populao e outros elementos, vem?se somando no sentido de levar os operrios da construo civil a resistir um pouco alm do que praticam habitualmente, passando a manter?se em seus postos de trabalho, mesmo quando Ihes faltam as condies ideais de sade. Acerca dos tipos que o atestado falso possa assumir, registra?se modalidade de utilizao relativamente usual at bem pouco tempo: o dito laudo piedoso. Especialmente ao referirem?se a pacientes acometidos de neoplasia maligna, alguns mdicos, atendendo a solicitao de familiares, serviam?se do expediente de atestar enfermidade diversa, sempre de carter benigno, no intuito de aliviar a tenso emocional do paciente, minorando?lhe o sofrimento. Embora piedoso, o procedimento espcie de atestado falso e nesta condio reprovvel. Sobre o tema, pronunciou?se, em 25 de julho de 1986, a Sociedade Brasileira de Patologistas, como segue: "diante de problemas surgidos com a concesso de laudos piedo sos por patologistas alguns, inclusive por desconhecimento dos pro blemas relacionados com a legislao em vigor, resolveu (a Asso
ciao em sua ltima reunio posicionar?se contra essa prtica em vista de ela ferir o Cdigo de tica Mdica". Apreciando as conseqncias do procedimento, Genval Veloso Frana ensina, em Direito Mdico: "ainda que se trate de um documento particular o seu contedo (do laudo) sempre um atestado de sade ou doena que no interessa apenas ao indivduo em si, mas a toda coletividade". Pela prtica piedosa, convm registrar, vrios mdicos foram indiciados e submetidos a procedimentos judiciais e disciplinares, com graves conseqncias para suas atividades profissionais. Finalmente, relatamos casos atravs dos quais possvel perceber o que a prtica tem dito sobre algumas situaes em que se expedem atestados mdicos. Em primeiro lugar, que dizer sobre expedio de atestado em desacordo com as normas vigentes, sob a alegao de seu desconhecimento? pouco razovel admitir que um mdico, beneficirio de longa formao, desenvolvida em diversos graus e em convivncia diria com o conjunto das pessoas, possa argumentar que no sabia estar proibido de conceder atestado falso ou a respeito do que no constatara pessoalmente. Alm da ausncia de verossimilhana no argumento, deve?se ter presente o principio de que a lei e as normas em geral obrigam a todos s pela sua expedio e publicao. Seu conhecimento dever cvico e. na interpretao de Anibal Bruno, "se o cidado falta a esse dever, no pode tirar proveitos disso, eximindo?se da pena". A prpria Lei de Introduo ao Cdigo Civil, ferramenta geral de interpretao das normas legais, determina que "a ignorncia ou a errada compreenso da lei no exime da pena". Em um segundo caso, analisamos a possibilidade de o medico emitir atestado em seu prprio beneficio. A questo foi confiada apreciao do Conselho Federal atravs de consulta que recebeu a seguinte resposta, da lavra do Conselheiro Genival Veloso de Frana: " difcil aceitar o fato de o mdico concentrar, num s tempo e em si prprio, a condio de examinado e de examinador, de mdico e de paciente, atraindo todas as responsabilidades e todos os privilgios, policiando?se para que um no se sobreponha ao outro. O resultado de um atestado mdico nessas circunstncias ser sempre suspeito, tanto pelas razes citadas pelo profissional, como pelos beneficias argidos ao paciente". O mesmo no se pode dizer de atestado em beneficio de familiares.
Ainda quando se trate de atestado mdico passado pelo pai ao filho, ou vice?versa, de seguir?se a prpria jurisprudncia, entendendo legitimo o documento, desde que expedido em atendimento s normas gerais aplicveis. Nada obstante, em casos assim, no se pode descurar da considerao de que o mdico estar afetivamente envolvido com o paciente, dificultando em muito a anlise objetiva necessria. Finalmente, servimo?nos da anlise de questo que, alm de corroborar o presente tema, introduzir o estudo sobre o segredo mdico. Trata-se de definir em que circunstncias estaria o mdico obrigado ou, antes, em que hipteses lhe seria dado lanar no atestado o diagnostico. Consultado sobre a matria, respondeu o Conselho Federal de Medicina que no comete infrao o mdico que atende a solicitao expressa de seu paciente, lanando no atestado o nome da enfermidade, seja literalmente ou sob forma codificada, obedecendo classificao do Cdigo Internacional de Doenas. Neste caso, o pedido expresso do paciente constituiria a "justa causa" para revelao de segredo profissional, referida no Cdigo Penal quando tipifica: "Art. 154 ? Beve/ar algum sem justa causa, segredo de que te nha cincia, em razo de funo, ministrio, oficio ou profisso, e cuja revelao possa produzir dano a outrem. " (o grifo nosso) Segredo Mdico Por segredo entende-se tudo aquilo que conhecido e no revelado. O segredo , portanto, o guardado resultado de um certo processo de conhecimento que se desenvolveu. No h que falar em segredo quando ausente o conhecimento. Ai teremos a ignorncia ou o desconhecimento, jamais uma informao negada a outrem. Visto que a informao segredada advm de pesquisa, delimitasse dois campos dentro dos quais se pode considerar o sigilo: sigilo quanto aos passas do processo de conhecimento e sigilo quanto ao resultado da pesquisa. No primeiro caso, tratamos, segundo a terminologia definida por alguns autores, de segredo profissional. Na outra hiptese, temos o sigilo mdico ou sigilo diagnstico. Para o professor Hilton Rocha, a diviso existem indispensvel. Diz o mestre: "Com a evoluo, com as evolues sociais e comunitrias, o rigorismo do sigilo foi?se atenuando, ampliando?se as excees iniciais. No se consegue mais manter estritamente inviolados os diagnsticos. Tenho para mim que poderamos considerar dois aspectos distintos, a que eu rotulo para diferenciar como sigilo mdico e segredo profissional. Se sigilo mdico envolve diagnsticos, que hoje muitas vezes somos compelidos a divulgar, j
o segredo profissional, como relacionado com confidncias, inclusive sobre intimidadas dos lares visitados, estes so segredos de que somos confidentes, e no podemos jamais revelar, sob pena de nos tornarmos perjuras". Acerca da quebra do sigilo mdico, destaca Clvis Meira. "neo haver infrao tica, mxima em uma poca em que os procedimentos mdicos ganham os meios de divulgao sem nenuma restrio". Aprofundando um pouco mais a anlise dos ilustrados mestres, entendemos indispensvel registrar a dificuldade em dissociar o diagnstico-que para Clvis Meira pode ser revelado sem cometimento de infrao-dos fatos geradores da enfermidade, os quais, em alguns casos, se vindos a pblico, podero acarretar prejuzos morais irreparveis ao paciente. No limite dos exemplos, citaramos o caso da AIOS. Embora doena de notificao compulsria, deve, em nosso entender, ser omitido o diagnstico da sindrome em atestado, mesmo quando tal solicitado pelo paciente. De passagem, cabe registrar que em vinte anos de exerccio clinico, pouqussimas vezes fomos instados pelo paciente para expressar o diagnstico no atestado e at na ocorrncia do pedido, evitamos, quanto possvel, fazer a indicao. Mesmo aps a vigncia da portaria ministerial que passou a exigir a codificao, ainda mantivemos nosso ponto de vista e, s em casos especiais, externamos no documento o diagnstico. A questo , sem dvida, delicada e s se resolve atravs da boa relao mdico/paciente. Casos extremos servem para ilustrar os pequenos detalhes esporad~camente existentes. E o que se verifica em depoimento de cirurgio que, aps atender vitima de perfurao do escroto por projtil de arma de fogo, recebeu pedido de que, no atestado, no se indicasse o alvo. Temia o paciente que a declarao servisse de instrumento para ridiculariz?lo entre os colegas de trabalho. Preferiria, em caso de recusa do mdico, arcar com o prejuzo das faltas. Consideraes Finais Na abordagem do tema aqui desenvolvido, surpreendemo?nos com a falta de referncia ao assunto em livros e revistas de tica mdica publicados nos paises de lngua inglesa. Do lado norte das Amricas, no se encontra nenhum comentrio sobre o assunto. Igual o teor das revistas editadas no Reino Unido. Perdemos com isto a oportunidade de proceder a estudo compara do acerca de como o contedo tico do atestado mdico abordado em naes desenvolvidas e naquelas em vias de desenvolvimento. Por outro lado, possvel presumir que o tema no se coloque entre as preocupaes dos profissionais, pelo simples fato de estarem suparadas, naqueles paises, as dificuldades que ora enfrentamos.
Obrigou-nos a deficincia bibliogrfica a conduzir o assunto segundo notas dispersas em alguns livros mdicos e em outros tantos volumes de matria jurdica pura ou de medicina legal, tudo isso analisado segundo nossa prpria experincia, decorrente do que temos visto na faina dos Conselhos. As consideraes aqui lanadas no devem ser entendidas seno tendo presente o fato de que vivemos um instante social de instabilidade, quando os preceitos morais so sub? repticiamente desautorizados pelos meios de comunicao de massa e numa ocasio em que o mdico, recebendo formao em tudo alheia ao estudo tico, v?se lanado a conviver dentro de uma sociedade descrente dos bons princpios, pedinte, em sfrega busca de uma vantagem imediata, inconseqente e irresponsvel. A soluo do problema, como sempre se verifica em questes sociais, vira necessariamente da prpria categoria e jamais da represso. Tambm aqui se aplica a regra de que melhor prevenir que remediar. Percia Mdica Elias Tavares de Arajo A percia medica atribuio privativa de medico, podendo ser exercida pelo civil ou militar, desde que investido em funo que assegure a competncia legal e administrativa do ato profissional. O exame mdico??pericial visa a definir o nexo de causalidade (causa e efeito) entre: - doena ou leso e a morte (definio da causa mortis); - doena ou seqela de acidente e a incapacidade ou invalidez fsica e/ou mental; - o acidente e a leso; - doena ou acidente e o exerccio da atividade laboral; - doena ou acidente e seqela temporria ou permanente; - desempenho de atividade e riscos para si e para terceiros. Por outro lado, o medico perito, atravs de competente inspeo mdica, pode concluir se a pessoa portadora ou no de doena ou vitima de seqela resultante de acidente rene condies para exercer determinada atividade (ocupao); o denominado exame de aptido/inaptido fsica e/ou mental. Ainda considerada tarefa mdico?pericial especializada a definio do grau de parentesco entre pessoas, diversos exames especiais para identificar indivduos, dos mais simples aos mais complexos, como, por exemplo, a identificao atravs de polimorfismo genmico, cuja prtica espordica ou excepcional.
A percia mdica, h muito tempo, vem sendo utilizada para apoiar as investigaes a cargo das policias tcnicas, sempre que do evento investigado resulte dano fsico e/ou mental. a base do trabalho exercido pelo medico perito junto s instituies de medicina legal, vinculadas aos setores de policia especializada, destacando?se ai o papel dos IML's. O trabalho mdico?pericial tambm tem sido requisitado pelos juizes, objetivando definir a existncia, grau, natureza e causa de leses fsicas ou mentais sofridas por pessoas que recorrem ao Poder Judicirio, na expectativa da reparao de danos sofridos sob a responsabilidade direta ou indireta de terceiros. Cabe destacar o papel da Previdncia Social, que, desde a dcada de 30, vem condicionando a concesso ou manuteno de beneficias ocorrncia de incapacidade ou invalidez, comprovada por inspeo mdico-pericial. O Regime Trabalhista, ao adotar as estratgias de proteo sade do trabalhador, institui mecanismos de monitorao dos indivduos, visando a evitar ou identificar precocemente os agravos sua sade, quando produzidos ou desencadeados pelo exerccio do trabalho. Ao estabelecer a obrigatoriedade na realizao dos exames pr?admissional, peridico e demissional do trabalhador, criou recursos mdico?periciais voltados a identificar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a ocupao que desempenha. Do mesmo modo, nos servios prestados ao Estado, os servidores pblicos civis e militares esto amparados por dispositivos dos Regimes Jurdicos a que esto filiados, sendo?lhes assegurada a proteo a sade. Para tanto, as estratgias utilizadas no acompanhamento do funcionrio pblico em nada devem diferir daquelas adotadas no Regime Trabalhista. No Regime Trabalhista, como no Regime Jurdico do Servidor Pblico, a concesso ou manuteno de licenas remuneradas, em virtude de doena ou acidente que produz incapacidade ou invalidez, est condicionada realizao da inspeo mdico-pericial. Como se v, a percia mdica exercida, praticamente, em todas as reas de atuao do mdico. Muitas vezes, ns a praticamos em sua plenitude, sem que estejamos alertados para as graves responsabilidades assumidas. Um "simples" atestado de aptido ou de incapacidade que emitimos deve proceder da competente avaliao mdico?pericial, no somente para cumprir as exigncias legais, como tambm em respeito ao indivduo que se orientar por nossa recomendao. Por outro lado, feriamos cometido um delito tico, se atestssemos um ato que no tivssemos praticado. Aspectos Legais e Administrativos A prtica mdico?pericial obedece a uma extensa e complexa relao de leis, decretos, portarias e instrues normativas, que estabelecem os limites de atuao dos setores administrativos e indicam quais as competncias e atribuies do mdico investido em funo pericial.
O presente "capitulo" foi elaborado com o propsito de orientar os mdicos que, no dia-adia, so compelidos a prestar informaes sobre o atendimento mdico a seus pacientes, como o atestado ou relatrio, ou designados para realizar percia mdica, ainda que de modo eventual ou espordico. Os que exercem a percia mdica como especialidade, como e o caso dos mdicos peritos da Previdncia Social, dos setores de policias especializadas, dos tribunais de Justia e dos servios mdicos de pessoal dos setores pblico e privado, devem aprofundarse no conhecimento da legislao especifica e instrues de natureza administrativa, sem, contudo, deixar de privilegiar o atendimento mdico com o ato cientfico, tcnico e social. A aplicao dos dispositivos contidos nos principais diplomas legais (leis, decretos e portarias), todos da rea federal, depende da avaliao mdico?pericial, e, entre eles, destacamos: I-Legislao Previdenciria a mais extensa, j que disciplina a atuao da percia mdica na concesso e manuteno de diversos beneficias que integram o Plano de Beneficias da Previdncia Social. - Lei 8.213/91 e Dec. 611/92-tratam do Plano de Benefcios do Regime Geral de Previdncia Social, ai includos os Auxilios?doena, Aposentadorias por Invalidez, Auxilios?acidentes, Peclios, Qualificao e Habilitao do Dependente Maior Invlido, para concesso de beneficias de famlia, entre outros; sua concesso e manuteno dependem de exame mdico?pericial; - Lei 6.179/74-trata da renda mensal vitalcia, concebida a maiores de 70 anos ou invlidos, sendo indispensvel a percia mdica na segunda hiptese; - Lei 7.070/82-trata da concesso de beneficias por invalidez aos portadores de seqelas resultantes do uso da talidomida; Il-Legislao Trabalhista - Lei 6.514/77-altera o titulo 11 da CLT e trata da higiene, medicina e segurana do trabalho; entre as diversas providncias adotadas, institui a obrigatoriedade dos exames pr?admissionais, peridicos e demissionais, instrumentos de monitorao do trabalhador. Estas avaliaes mdicas visam, sobretudo, a identificar o nexo de causalidade entre os agravos sade e o exerccio da atividade ou ocupao. - Portaria MTb n 3.214/78 ? e as Normas Regulamentadoras (NR). lII- Legislao do Regime Jurdico do Servidor Publico Federal - Lei 8.112/90-Regime Jurdico nico (artigos transcritos ao tratarmos do atestado mdico para abono de faltas ao trabalho).
- Lei 7.923/89 e Lei 8.270/91 -tratam, entre outras questes, da concesso dos adicionais de insalubridade e periculosidade, que depende de laudo pericial. IV- Legislao Fiscal - Leis 7.713 e 8.541/92 - tratam do Imposto de Renda da Pessoa Jurdica e Pessoa Fsica, ai includo o dispositivo (inciso XIV, art. 6. da Lei 7.713/88 e art. 47 da Lei 8.541/92) que isenta do pagamento de Imposto de Renda os proventos de aposentadoria de pessoas portadoras de seqelas de acidentes do trabalho ou de doena constante da relao contida no referido inciso, desde que comprovada em exame mdico-pericial especializado. Existem, ainda, mirades de instrumentos legais, a nvel estadual ou municipal, cuja aplicao implica em avaliao mdico-pericial. Ao tratarmos do atestado mdico para abono de faltas ao trabalho, transcrevemos os dispositivos de leis ora citados, a titulo de esclarecimento sobre as decises a serem adotadas pelo mdico perito. Capacidade e Incapacidade Laboral O indivduo considerado capaz para exercer uma determinada atividade ou ocupao quando rene as condies morfopsicofisiolgicas compatveis com o seu pleno desempenho. No necessariamente implica ausncia de doena ou leso. Por outro lado, determinada limitao imposta por doena ou leso que no o incapacita para uma certa funo poder impedi?lo de executar varias outras. As condies morfopsicofisiolgicas exigidas para o desempenho das tarefas de um comissrio de bordo (aeronauta) no so as mesmas se esse trabalho estivesse sendo executado no escritrio da mesma empresa. Conclui?se, portanto, que o exame de aptido fsica e/ou mental e a avaliao mdico?pericial realizada para a concesso da licena mdica dependem do conhecimento dos dados profissiogrficos da atividade exercida ou a exercer. A omisso de tais informaes, muitas vezes, explica a ocorrncia de problemas que surgem entre o examinado e o mdico perito, quando a concluso pericial no corresponde recomendao feita pelo mdico assistente. Imaginemos a hiptese de trs trabalhadores que apresentassem ao exame mdico? pericial a mesma entidade mrbida-cegueira de um olho: um auxiliar administrativo, um motorista jovem e um motorista idoso, sem outras experincias profissionais. Consolidada a leso, isto e, aps realizados os tratamentos indicados, o primeiro trabalhador reunia condies para retornar ao trabalho, sem restries; enquanto o motorista jovem seria reabilitado para nova ocupao, e o terceiro, o motorista idoso, dificilmente obteria xito na mudana de atividade e terminaria por ser aposentado por invalidez. A mesma entidade (a viso monocular) ensejaria a concesso do beneficio extremo (aposentadoria por invalidez) ao motorista idoso e nenhum beneficio seria concedido ao auxiliar administrativo, no pela deficincia objeto da nossa hiptese.
Embora se trate de concluses mdico?periciais simples e bvias, dependem, contudo, do conhecimento da legislao previdenciria e do acesso s informaes sobre a real ocupao exercida pelo examinado. Uma questo que deve ser considerada, quando da avaliao mdico?pericial, o risco, para si prprio e para terceiros, que pode advir do exerccio da ocupao. E o que pode ocorrer com o motorista epilptico e a conduo de um nibus. Nessa hiptese, configura? se a existncia de incapacidade laborativa, embora o exame clinico e eventuais exames subsidirios no a constatem. Situao semelhante ocorreria quando o mdico perito conclusse que o exerccio da atividade desencadearia ou agravaria doena ou leso de que vitima o trabalhador. Como um exemplo entre vrios, o pedreiro com leses cicatrizadas de dermatite de contato pelo cimento: o retorno ocupao com certeza desencadearia nova crise que o incapacitaria. Outra ocorrncia, objeto de avaliao do mdico perito, a incapacidade laboral produzida por procedimentos de diagnstico ou terapia. O trabalhador, embora no esteja impedido de exercer a tarefa, considerando?se isoladamente a doena ou leso, entretanto est internado para explorao diagnstica ou realiza tratamento que o impede de comparecer ao trabalho. Por ltimo, devemos estar atentos para a hiptese da segregao compulsria. Nesse caso, a deciso da autoridade sanitrio dispensa a avaliao mdico?pericial para a concesso da licena remunerado, devendo ser utilizada para definir o tempo de afastamento e a liberao para retorno ao trabalho. M dico Perito O mdico que assume a especialidade de percia mdica deve ter boa formao mdica, manter?se atualizado com as diversas tcnicas utilizadas nas investigaes mdico? periciais, visando a concluses seguras, e acompanhar a evoluo da legislao que define os procedimentos nessa rea. Reiteramos que a aceitao da funo pericial deve ser espontnea, sem que isso implique renunciar as determinaes judiciais, nem fugir do compromisso social assumido. Convm, entretanto, julgar?se impedido de realizar percia medica em seu prprio paciente, seu parente, pessoa com que mantenha relao que possa vir a influir no livre julgamento pericial e nos casos em que se julgar inseguro para emitir sua concluso, em face do pouco dominio da especialidade mdica a que se reportar o caso. Assim que, por exemplo, um exame de sanidade mental deve ser da competncia privativa do psiquiatra, salvo se o mdico indicado julgar?se competente par assumir a avaliao. Nesse item, queremos destacar o papel do mdico perito junto aos servios de administrao e assistncia de pessoal das empresas e de rgos pblicos. Nas empresas organizadas, bem estruturadas e nas instituies da Administrao Pblica, de regra, essa tarefa e executada por mdicos com formao e especializao em medicina do trabalho, apoiados por outros profissionais especializados, como o enfermeiro, o assistente social e o psiclogo, que tornam o procedimento medico?pericial mais seguro e mais eficiente.
Como estabelecem a Lei 8.213/91, do Plano de Benefcios do Regime Geral da Previdncia Social e a Lei 8.112/90, do Regime Jurdico nico, a concesso da licena mdica, nos perodos de at 15 dias, para os trabalhadores filiados ao Regime Trabalhista e, por qualquer perodo, inclusive na ocorrncia e invalidez, para os servidores pblicos do Regime Estatutrio, de responsabilidade e competncia dos mdicos que atuam junto aos rgos de pessoal. Como afirmamos, a concesso da licena de sua inteira responsabilidade, porquanto resulta de concluso mdico?pericial com base em exame obrigatrio. O atestado do mdico assistente deve ser entendido como uma recomendao; como tal, no tem poder de deciso. Se sua concluso coincide com a recomendao do mdico atestante, tanto melhor, porm a responsabilidade da deciso continua sendo do mdico perito. O exame mdico?pericial deve ser registrado em formulrio prprio, conclusivo, datado e assinado. As informaes do setor mdico?assistencial devem ser juntadas ao pronturio do trabalhadora mesmo que a recomendao do mdico assistente no tenha sido acatada, no todo ou em parte. O mdico perito no deve admitir concluso pericial insegura, para tanto deve recorrer a exames subsidirios, pareceres de especialistas, relatrios dos mdicos assistentes ou pesquisas realizadas no pronturio do setor mdico-assistencial. J comentamos que a falta do atestado mdico, incorreo ou omisses no justificam o indeferimento ou a concesso da licena, sem a competente avaliao mdico-pericial. Reiteramos que a concluso mdico?pericial tende a ser insegura, imperfeito, se o mdico perito no tem a formao exigida pela especialidade e no pode contar com apoio de um servio estruturado, de preferncia com equipe multidisciplinar e todos os recursos necessrios a uma concluso legal, tcnica e socialmente correta. Nesse sentido, entendemos que o mdico do trabalho o que melhores condies rene para o desempenho da tarefa. Considerando que esse especialista tem como funo pericial monitorar os trabalhadores, em defesa de sua sade, o surgimento da incapacidade laboral tido como uma intercorrncia verificada no processo de seu monitoramento; nada mais justo, mais tcnico e social do que reconhecer o fato e adotar o procedimento mais adequado para o trabalhador, ou seja, a concesso da licena remunerado. Junta Mdica Oficial So dois ou mais mdicos, geralmente trs, investidos em funo pericial, mediante designao formal. A junta medica oficial poder ser designada pela autoridade administrativa do rgo a que estiver vinculada a pessoa a ser periciada, o que ocorre na Administrao Pblica, ou pode ser nomeada pelo juiz, quando entender que o parecer mdico?pericial subsidiar seu julgamento. Outrossim, esse recurso pode ser utilizado para atender diligncias do Ministrio Pblico, entre outros de ocorrncia menos freqente.
A junta mdica oficial recebe misso especifica, visando a definir o nexo de causalidade objeto do julgamento, em nvel judicial ou administrativo. A junta deve reunir?se formalmente, em local, data e horrio previamente estabelecidos, realizar o exame com a presena de todos os seus integrantes, inclusive dos assistentes tcnicos (somente mdicos), quando indicados pelas partes. O laudo ou relatrio mdico e a concluso mdico?pericial devem ser datados e assinados pela junta e pelos assistentes tcnicos. Quando houver divergncia na concluso, os pareceres discordantes sero apresentados em separado. A junta mdica poder recorrer a exames subsidirios, pareceres de outros especialistas, informaes contidas em pronturio mdico, sempre buscando melhor consistncia em sua concluso. Atestado Mdico para Abono de Faltas ao Trabalho e Atestado de Aptido Fsica e Mental O atestado para abonar faltas ao trabalho fornecido pelo mdico assistente a seu paciente, no caso de um trabalhador, tem motivado srios desentendimentos, envolvendo o requerente do beneficio, o mdico perito da empresa, do rgo pblico, da Previdncia Social, e, s vezes, o prprio mdico atestante e at as representaes sindicais dos trabalhadores. No entender do trabalhador e, por vezes, do prprio mdico assistente, a recomendao contida no atestado no pode deixar de ser atendida pelo mdico perito, sob pena de se configurar o cometimento de delito tico e infrao legal. Se, por um lado, mostra que o documento seria sempre tido como incontestvel, no permitindo outras avaliaes sobre seu soberano poder de deciso, do que deveria orgulhar?se a classe mdica, por outro lado, as legislaes previdenciria e da administrao pblica no confirmam o acerto desse entendimento. J comentamos que nem sempre o mdico assistente tem acesso s informaes sobre as reais tarefas exercidas pelo trabalhador, sobretudo determinadas peculiaridades inerentes s condies do trabalho e como se realiza. Desse modo, por mais competente que seja a avaliao mdica, sem esse conhecimento torna?se impraticvel aferir?se, com segurana, a capacidade ou incapacidade laboral do examinado. O trabalhador, ao omitir detalhes sobre a funo que realmente exerce, poder induzir o mdico que o atende a emitir parecer equivocado sobre a necessidade ou no do afastamento. Quantas vezes atendemos um "motorista", conforme registro na Carteira Profissional, que, de fato, exerce funo administrativa, ou um aerovirio, que trabalha no escritrio, na recepo e informa ser aeronauta. Por sua vez, o desconhecimento pelo mdico assistente de detalhes da legislao a que nos referimos, o que convenamos, no o torna menos competente em sua rea de atuao mdica, entretanto faz com que as recomendaes ingeridas no atestado possam no se identificar com as exigncias impostas na habilitao ao beneficio pretendido ou requerido pelo trabalhador.
Por exemplo, um dedicado e hbil especialista, para exercer plenamente sua especialidade, no precisa saber que o conceito de "invalidez" para que o segurado da Previdncia Social habilite?se aos benefcios da Lei 8.213/91 no o mesmo quando se trata da concesso do beneficio da Lei 6.179/74. Visando a esclarecer as dvidas quanto ao papel do atestado mdico na concesso da licena de natureza mdica, transcrevemos os dispositivos legais que disciplinam a questo. Legislao Previdenciria Lei 8 213/91, de 24 07.91, reproduz integralmente artigos das leis e regulamentos previdencirios anteriores. -Seo V - Dos Benefcios art. 42. 1.-"A concesso da aposentadoria por invalidez depender da verificao da condio de incapacidade mediante exame mdco?pericial a cargo da Previdncia Social, podendo o segura do, s suas expensas, fazer?se acompanhar de mdico de sua confiana. " (grifo nosso) 2.-"A doena ou leso de que o segurado j era portador ao filiar?se ao Regime Geral de Previdncia Social neo lhe conferir o direito aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapaci dade sobrevier por motivo de agravamento ou progresso da doen a ou leso." Art. 59-0 auxilio?doena ser devido ao segurado que, haven do cumprido, quando for o caso, o perodo de carncia exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Pargrafo nico-No ser devido auxilio?doena ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdncia Social j portador da doena ou leso invocada como causa para o beneficio, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progresso ou agravamento dessa doena ou leso. Art. 60-O auxilio?doena ser devido ao segurado empregado e empresrio a contar do 16. (dcimo sexto) dia do afestamento da atividade, e no caso dos demais segurados a contar da data do inicio da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 1.-Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxilio?doena ser devido a contar da data da entrada do requerimento. 2.-O disposto no 1. no se aplica quando o auxilio?doena for decorrente de acidente de trabalho.
3.-Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doena, incumbir a empresa pagar ao segurado empregado o seu salrio integral ou, ao segurado empresrio, a sua remunerao. 4-A empresa que dispaser de servio mdico, prprio ou convnio, ter a seu cargo o exame mdico e o abono das faltas correspondentes ao periado referido no 3., semente devendo encaminhar o segurado a percia mdica da Previdencia Social quando a incapacidade ultrapassar a 15 (quinze) dias. Legislao do Regime Jurdico do Servidor Pblico Lei 8.112/90, de 11.12.90. Da Licena por Motivo de doena em Pessoa da Familia Art. 83-Poder ser concebida licena ao servidor por motivo de doena do cnjuge ou companheiro, padastro ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consangneo ou afim at o segundo grau civil. Mediante comprovao por junta mdica oficial. 1.-A licena somente ser deferida se a assistncia direta do servidor for indispensvel e no puder ser prestada simultaneamente com o exerccio do cargo. 2.-A licena ser concebida sem prejuzo da remunerao do cargo efetivo, at 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por at 90 (noventa) dias, mediante parecer de junta mdica, e, excedendo estes prazos, sem remunerao. Da Licena para Tratamento de Sade Art. 202-Ser concedido ao servidor licena para tratamento de sade, a pedido ou de oficio, com base em percia mdica, sem prejuzo da remunerao a que fizer jus. Art. 203-Para licena at 30 (trinta) dias, a inspeo ser feita por mdico do setor de assistncia do rgo de pessoal e, se por prazo superior, por junta mdica oficial. 1.-Sempre que necessrio, a inspeo mdica ser realizada na residncia do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 2.-Inexistindo mdico do rgo ou entidade no local onde se encontra o servidor, ser aceito atestado passado por mdico particular. 3.-No caso do pargrafo anterior, o atestado s produzir efeitos depois de homologado pelo setor mdico do respectivo rgo ou entidade. (grifo nosso) Art. 204-Findo o prazo da licena, o servidor ser submetido a nova inspeo mdica, que concluir pela volta ao servio, pela prorrogao da licena ou pela aposentadoria.
Em face da presente legislao, com abrangncia no setor pblico e setor privado, o abono das faltas ao trabalho motivadas por incapacidade resultante de doena ou leso acidentaria da competncia e atribuio do mdico perito, especificamente designado para tal funo. Contudo, 0 atestado mdico, embora no reuna, por si s, os elementos suficientes para o abono das faltas, convm ao medico perito que o receba, retirar dele as informaes que serviro de base a orientar seu trabalho. tecnicamente recomendvel que a investigao pericial se inicie pela informao prestada pelo mdico assistente do periciado. Melhor seria se o atestado contivesse, como regra geral, as seguintes informaes sobre o atendimento mdico: registro, data, local, natureza (urgncia, eletivo), diagnostico (ou suspeitas), tratamento(s) realizado(s) e instruo sobre repouso. Restaria ao perito, aps confirmados os elementos mdicos atravs da inspeo mdica, proceder a anlise profissiogrfica em relao atividade exercida pelo examinando e emitir a concluso sobre concesso ou indeferimento do pedido de beneficio. Tal parceria, trabalho sintonizado entre o mdico assistente e o perito, respeitando?se a autonomia desses profissionais, honrar a instituio mdica e zelar pelo direito do trabalhador. Ate aqui, apenas fizemos referncia ao papel do atestado mdico, como um dos responsveis por problemas que surgem em relao prtica mdico?pericial de abonar faltas ao trabalho, em razo da doena ou leso. Muitas dificuldades verificadas nessa rea tambm podem ser imputadas a avaliao mdico?pericial imperfeito, incorreta ou equivocada, em razo da desateno do mdico perito, ao deixar de praticar o ato em sua plenitude. Temos constatado, atravs de denncias dirigidas ao CRM, que pedidos de licenas mdicas so indeferidos por peritos simplesmente porque o atestado que lhe chega s mos no informa o CIO, contem algum tipo de rasura ou o nome do paciente est incompleto, entre outras. Esquecem?se de que a concesso e o indeferimento do pedido de licena esto condicionados existncia ou no de incapacidade verificada em exame mdico?pericial. O beneficio poder ser deferido ou negado, independentemente de apresentao de atestado do mdico assistente. Julgamos apropriado concluir lembrando que o mdico perito tem no s a competncia legal e administrativa, como, tambm, a responsabilidade pela concesso ou indeferimento da licena mdica. Conceder ou indeferir abono de faltas ao trabalho, sem ter exercido a competente avaliao mdico-pericial, significa atestar ato que no praticou, por isso haver cometido delito tico. Os Monstros so Filhos do Segredo Ennio Candotti A disputa entre Gallo e Montaigner pela paternidade da descoberta do HIV, o vrus da AIOS, transcende a glria e a misria dos laboratrios cientficos para se tornar um caso emblemtico das relaes entre cincia, tica e poder em nossos dias.
A prioridade na descoberta d a um ou outro cientista os direitos de propriedade sobre o uso da descoberta, isto , os royalties obtidas com os testes para a identificao do vrus. Um e outro tornaram?se imediatamente Frana e Estados Unidos. Em 1982, os dois pases celebraram um acordo, admitindo a dupla paternidade da descoberta. Recente relatrio do Instituto de Integridade Cientfica, dos EUA, detectou irregularidades no processo e reabriu a questo, atribuindo finalmente a paternidade ao cientista francs. Quando uma descoberta cientfica tem aplicao com interesse de mercado, admite?se o patenteamento dessa aplicao, o que garante a remunerao dos investimentos realizados por empresas ou Estados nas pesquisas que levaram ao invento. As pesquisas em reas fundamentais tm hoje, em muitos campos, aplicaes quase imediatas que abrem a possibilidade de patenteamento. Esse fato atribui nova dimenso, atualidade e importncia discusso do carter pblico ou privado das instituies de pesquisa. Atribui-se - ou atribua-se-carter pblico s pesquisas fundamentais realizadas nos laboratrios de universidades ou de institutos de pesquisa publicas, isto , financiados com recursos pblicos. Os resultados dessas pesquisas so, em geral, divulgados nas revistas especializadas e constituem patrimnio da humanidade. A proximidade-temporal e espacial-entre a descoberta cientifica e sua aplicao induz uma permanente transgresso das fronteiras entre o pblico e o privado em universidades e institutos. Se a norma de comportamento em um instituto de pesquisa bsica divulgar, publicar tudo-o que se entende e, muitas vezes, o que no se entende-, em um instituto tecnolgico, de pesquisas aplica das, a norma o segredo, at a obteno da patente. Ao se confundirem as pesquisas bsicas e suas aplicaes, realiza das nos mesmos laboratrios e pelas mesmas equipes, confunde?se fre qentemente o pblico e o privado, o que deve ser de domnio pblico e o que, pelo contrrio, pode permanecer segredo. Em uma universidade, a pesquisa cientfica renova e atualiza os conhecimentos ensinados. Estes so cruzados com os de outras discipli nas e divulgados. No debate, dentro e fora da universidade, sua funo social, e valor tico e cientfico so avaliados. Limites impostos circulao dos conhecimentos-devido aos vnculos colos de propriedade sobre os resultados das pesquisas-, estabelecidos por contratos de financiamento ou interesses de mercado, alteram em profundidade o carater pblico do instituto ou da universidade, e sua capacidade de difundir conhecimentos atualizados e de formar pesquisa dores ou profissionais especializados.
Dispomos de um nico meio para definir-e defender-limites e normas ticas, os quais devem acompanhar as descobertas de novos conhecimentos e seu uso como instrumentos de ao sobre o homem ou a natureza: a sua divulgao e o debate pblico .Os monstros so filhos do segredo. Como conciliar os interesses de propriedade e de mercado com os imperativos impostos a pesquisa cientfica pelos valores ticos que orientam o convivia de homens e culturas na Terra? Esta pergunta deve encontrar resposta antes da definio jurdica de direitos e normas de registro de conhecimentos e inventos. Tanto mais que tramita, no nosso Congresso, a lei de propriedade intelectual (e a que regulamenta as manipulaes com seres vivos). A Conferencia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento aprovou, em junho ltimo, uma conveno sobre a proteo biodiversidade, que atribui propriedade sobre os seres vivos aos pases de sua origem. Significativamente, os Estados Unidos recusaram subscrev?la, te mendo perder os direitos e as vantagens derivadas das descobertas, re alizadas em seus laboratrios, feitas com plantas e animais. Dois fatos novos polarizaram recentemente a comunidade cientifi ca e a opinio pblica e revelaram o alcance e a grave responsabiliza de desse debate .No inicio deste ano, o NIH (Instituto de Sade, dos Estados Unidos) solicitou o registro de propriedade de 2.700 seqncias do genoma humano, mesmo sem conhecer a sua funo ou sua utilidade. Na mesma poca as cortes norte?americanas concederam patente para um rato transgnico, ou melhor, para o bilogo que o "engenherou" .A manipulao gentica de seres humanos est ao alcance das instituies cientficas e de seus pesquisadores. Deixaremos s foras de mercado a responsabilidade de sua disciplina? Em fins de 1990, Anderson e Blease, no NIH, foram autorizados a realizar uma experincia sobre uma paciente portadora de grave defeito gentico, responsvel por uma deficincia do sistema imunolgico (ausncia de uma enzima, a adenosina deaminase). Na experincia, retiraram de seu organismo clulas sanguneas, as modificaram, as "consertaram" e as devolveram ao organismo, com o objetivo de restabelecer o funcionamento equilibrado do sistema imunolgico defeituoso. O objetivo humanitrio e o extraordinrio valor cientfico da experincia a justificaram eticamente. No se pode, porm, dizer o mesmo, a priori, sempre que se realizam experincias com o genoma de um ser humano ou de um embrio humano. Decodificados os segredos do cdigo gentico-ou, pelo menos, alguns deles-, possvel interferir no genoma, repar?lo ou modificlo. Essa operao suscita questionamentos ticos inditos na historia da cincia. Trata?se da possibilidade de programar ou reparar as caracteristicas fsicas e bioqumicas de um indivduo. Nos anos 40, o programa que por sculos desafiou os alquimistas (transformar o chumbo em ouro) foi resolvido pela fsica nuclear. Menos de 50 anos depois, a cor dos olhos de um beb pode ser programada -e o que dizer do gene da rebeldia? Existiria? O gene ou a
rebeldia? Mefisto deve estar duplamente feliz: antes ganhou a alma de Fausto e agora o pode redesenhar, sua imagem e semelhana... "Voc utilizar, para assinar o teu nome, apenas uma pequena gota de sangue....O sangue um fluido muito particular. A engenharia das raas, que tantas tragdias trouxe para a humanidade, ganhou as bancadas dos laboratrios. Os graves conflitos polticos e culturais de nossos tempos recomendam muito cuidado no exame desses novos conhecimentos e dos instrumentos que eles oferecem para realizar experincias (de melhoramento) com o genoma (patenteado). Como estabelecer os limites para tais experincias? Como avaliar vnculos e impactos? Vimos que dar publicidade s descobertas fundamental para que seu interesse, cientfico e social, seja livremente debatido e as normas de comportamento sejam socialmente estabelecidas. Em alguns casos, porm, necessrio examinar as dimenses ticas de uma experincia cientfica, antes mesmo de sua realizao. E, por vezes, antes que as prprias normas e valores tenham sido imaginados e debatidos. Surgem duas perguntas a esse propsito: e licito estabelecer vnculos de natureza moral pesquisa ou experincia cientfica, mesmo em se tratando de seres vivos e humanos? Quem. no caso, deve ou poder estabelecer normas e interdies? A resposta a primeira pergunta encontra seus limites nas diferenas culturais (e valores cientficos), nos interesses econmicos de mercado e, finalmente, na eficcia das prprias interdies em um determinado tempo e sociedade. A segunda encontra resposta atravs da formao dos comits de tica, mas abre novas indagaes. Qual a composio desses comits? Qual sua autonomia? Quais os limites de sua atuao? O exame do projeto de lei sobre biossegurana, em tramitao no Congresso, propicia a discusso pblica em nosso pais dessa questo, se a legislao sobre patentes e propriedade intelectual estabelece as normas e os direitos sobre os resultados das pesquisas. O debate sobre os limites das experincias com seres vivos (e humanos) se refere as condies preliminares impostas pela tica e pela cultura (se inclui ai tambm a cientfica) de um pais (o nosso) nos dias de hoje. H trs grandes questes na mesa dos comits de tica: os transplantes de rgos, as experincias com embries humanos e, dentro em breve, a gerao de seres hbridos, produtos do cruzamento de humanos com macacos. Um antroplogo italiano mostrou recentemente que, se essa ultima possibilidade, primeira vista, choca o senso comum, mas que a rejeio tica, de principio, possivelmente seria questionada se fosse comprovada a utilidade desse cruzamento para a realizao de experincias clinicas de alto risco e de interesse social, como, por exemplo, em pesquisas sobre a AIOS. Valores, normas de comportamento e, at mesmo, principias ticos devem ser pensados em contextos sociais e histricos definidos, em permanente transformao. III
Casos em (ou de) transformao 1. Mudanas de principio ativo do medicamento sem a mudana do nome (por exemplo, o Diepin, classificado como ansiolitico por mais de dez anos, passou a antidepressivo, sem mudar o seu nome). Entre maro e julho deste ano, o professor Carlini assinalou que foram alterados 27 principias ativos, mas em trs casos o nome do medicamento foi mudado. 2. Medicamentos proibidos em outros pases so comercializados livremente no pais (por exemplo, o BentilR gotas). Ou j proibidos aqui, so liberados (por exemplo, o Parenzyme). 3. No h planilhas de consumo de drogas psicotrpicas (morfinas e anfetaminas). Existe uma denncia da Junta Internacional de Entorpecentes, da ONU, de que a empresa alem Bayer exportou 1.250 quilos de metilfenobarbital, mas que o Brasil nunca acusou a entrada dessa droga. 4. O Brasil importa de dez a 80 quilos por ano de morfina com finalidade mdicaquantidade considerada insuficiente-e autoriza a importao de trs toneladas dessa mesma droga para outros fins. Quais seriam esses fins? Pode?se suspeitar que seja para a fabricao de heroina para exportao? Os abusos que ocorrem na fabricao e na comercializao de medicamentos constituem um exemplo da complexa interao entre o tico, o tcnico e o poltico. As graves denncias-e outras que certamente sero ainda apresentadas-indicam a precariedade de nosso sistema de vigilncia, ou a desobedincia (ou ausncia) s normas que devem orientar o comportamento de fabricantes, governo, comerciantes e tcnicos (mdicos ou pesquisadores). As grandes questes ticas de uma sociedade, a todo momento esto presentes, atravs de exemplos particulares, no menos dramticos, em mltiplas situaes no cotidiano de indivduos ou institutos. Por sua natureza, as respostas (normas, valores e principias) que buscamos nestes dias trgicos sero encontradas quando os direitos e os deveres do exerccio da cidadania se aproximarem de modo intransigente. Ao que tudo indica, os milhes de brasileiros que ocuparam as ruas so intransigentes. Cidados. tica e Tecnologia Dr. Jos Liberado Ferreira Caboclo A tecnologia invadiu as trs atividades humanas fundamentais conforme a sistematizao de Hannah Arendt. Labor, trabalho e ao foram completamente modificados no ltimo sculo, a tal ponto que at a mais privada de todas as atividades humanas, o labor, tornou? se pblica. Se em outro tempo se poderia dizer que a condio humana do labor a prpria vida, ou seja, o processo biolgico do corpo humano cujo desenvolvimento e declnio dependem da
satisfao das atividades bsicas atendidas pela atividade laborativa, hoje, este processo elementar j tem uma dependncia intima com o conhecimento tecnolgico. O homem mais humilde, desprovido de ambio do acmulo de riqueza, vivendo numa sociedade razoavelmente organizada j no mais consegue cumprir apenas a sua atividade laborativa. As leis e diretrizes sociais obrigam?no a compromissos que o excedente da sua atividade laborativa no atender. A sua alimentao, que ele mesmo produz por meio de uma agricultura primitiva, talvez no consiga atingir um valor no mercado, de tal forma que, o excedente sendo vendido, no ser suficiente para que ele pague as taxas e impostos da "sua propriedade". At mesmo a gua que ele bebe, seja de um poo, ou de um sistema de captao e distribuio, sofre um controle tecnolgico. A sua composio deve ser avaliada por uma instituio tecnicamente competente. A quantidade de micrbios desta gua tem de estar dentro de um limite aceitvel. Ele pode at ser obrigado a se mudar do lugar que escolhera para viver, se os controladores do meio ambiente conclurem que o ar por ele respirado tem uma concentrao muito alta de dixido de carbono. O destino dos seus dejetos no mais Ihe cabe decidir. Eles tero de ser encaminhados a um sistema adequado de drenagem e terminaro numa usina de compostagem, onde se transformaro em fertilizante biodegradvel. No seu isolamento, sequer uma atitude estica, de convivia com a dor, lhe permitida. A dor, reflexo de uma enfermidade de causa desconhecida, implicar numa investigao profunda, para que se afaste o perigo de ecloso de uma endemia. Ele ser radiografado, tomografado, sonorizado e ressonorizado magneticamente. Todos os liquidas do seu corpo sero cientificamente caracterizados. Ele poder, ao fim de todos esses exames, ser geneticamente aconselhado a no ter filhos. A sua capacidade de reproduzir foi cerceada tecnicamente. Talvez ele possa at ter filhos, desde que a sua mulher faa um exame especial para afastar a possibilidade de uma segregao perigosa de gens. A tecnologia permite que ele "escolha adequadamente o seu objeto ideal. Melhor que os seus sentimentos".
Viver simplesmente a vida passou a ter um custo que a simples atividade laborativa no consegue atender. Em toda a histria da humanidade, nenhum ditador, nenhum imprio exerceu um tamanho domnio sobre o homem. No .mais existe a possibilidade de se viver em contato com a natureza sem a pretenso de dela no se apropriar. A tica do desenvolvimento tecnolgico se fundamenta numa existncia mais longa e mais prazeirosa. O prazer, no entanto, jamais atingido numa atitude passivo. A tecnologia imposta, num sistema de acumulao de riqueza, perde seu significado tico, porque, de modo contraditrio, gera um sofrimento infrene. O desenvolvimento tecnolgico industrial nada tem a ver com um ndio, que um dia beira de um ,rio, observando o seu curso, percebe que as escamas do peixe brilham sob a luz solar. Aprende a pesc?lo com a mo e corre para a sua taba, carregado de piramutabas. E difunde para toda a sua tribo a sua descoberta, alm de com eles compartilhar o incremento da produtividade decorrente do progresso tecnolgico. Singelamente aquele indgena definiu a subordinao da tcnica ao modo de produo, o carter tico, a funo social e a apropriao social do progresso tcnico.
A perda quase total de significao da atividade laborativa um dos fatores principais de nossa desagregao social. A migrao das populaes rurais e a prostituio feminina decorrem da extino da chamada economia de subsistncia. Os migrantes para os centros urbanos vo contrair scios na sua atividade laborativa (empregada domestica), que lhes permite viver sem evoluir para um trabalho que no existe ou para o qual no tm competncia ou, pelo menos, competitividade. Em outras situaes mascaram uma atividade laborativa, como se fosse um trabalho, posto que vendem sua fora por um preo inferior ao custo e custeio da mquina (servente de pedreiro). Finalmente, promovem a ausncia de dor por falta de afeto, perspectiva de felicidade, dentro da existncia privada do indivduo isolado do mundo (prostituio). Na esfera do trabalho, o avano tecnolgico melhorou a qualidade de vida na medida em que diminuiu a dor corporal, reduziu a utiliza o da fora fsica e com isto absorveu maiores contingentes humanos, facilitou o aprendizado, aproximou o homem distancia e reduziu as especulaes exotricas. No entanto, a tecnologia deu ensejo a emoes negativas, excluiu humanos no competitivos, diminuiu a criatividade hu mana, distanciou os homens na sua proximidade e aumentou o misticismo no religioso. Mas muitas vezes se confundem as distores trazidas pela tecnologia com as incorrees de governos no democrticos. H que se distinguir a origem das imperfeies. Negar a aquisio de tecnologia a uma sociedade, seu domnio e sua implementao, conden?la a um estado de submisso e de empobrecimento inexorvel. Dominar uma tecnologia nada tem a ver com a sua aplicao imediata, sem se considerar outros fatores condicionantes. O domnio tecnolgico envolve investimentos em pesquisa. Em qualquer nao organizada, este investimento deve ser feitosob o controle da sociedade. Esta uma atitude tica. uma interpretao errnea presumir que a liberdade criativa deva ser assegurada para que a pesquisa possa se desenvolver mais plenamente. No se pode de modo algum submeter a vontade coletiva aos desejos individuais. O que parece ser uma posio liberal, na realidade, transforma?se numa tipica atitude nazista. Nada justifica uma atitude procrastinatria em relao aquisio de tecnologia. No existe limite para o investimento.O que se deve limitar a abrangncia da aplicao do avano tecnolgico. O acesso ao progresso tecnolgico deve ser eticamente estabelecido por parmetros de prioridade. Infelizmente a no ?fixao de limites de demanda impede a investigao vertical. Uns poucos so contemplados a curto prazo. A mdio e longo prazo todos perdem. Teme?se enfrentar uma realidade indesejvel, no tanto pela sua inexorabilidade, mais muito mais por atitude de onipotncia, elaborada como se fosse uma posio idealista. Procura?se uma explicao conjuntural para a impossibilidade e se perde tempo e energia num preciosismo ridculo. Pesquisa no se faz num s projeto, nem muito menos numa s gerao. A pesquisa deve ser uma atividade continua, no condicionada a verbas flutuantes, nem muito menos dependente de paixes pessoais.
Numa sociedade heterognea, em que diferentes segmentos se encontram em fases assincrnicas de desenvolvimento, deve?se fugir da atitude escapista que postuie a satisfao prioritria das necessidades bsicas antes de "se aventurar" em projetos mais avanados. Se existe alguma aventura, a teimosia em se querer negar que muito da defasagem no desenvolvimento se deve justamente submisso tecnolgica. E mais, querer negar que o avano tecnolgico pressupe a simplificao dos modelos, tornando?os mais acessveis s comunidades mais atrasadas. Um programa nuclear deve ser pesquisado com obstinao. Se no existe recursos para a montagem de uma usina termonuclear, que se construa um pequeno reator at mesmo para finalidade didtica, de tal forma que os cientistas do pais possam apreender a evoluo dos conhecimentos. O mesmo deve ocorrer em todas as reas do desenvolvimento tecnolgico: fibra tica, supercondutores, biotecnologia, qumico-farmacutica. O no-desenvolvimento tecnolgico antitico, na medida em que torna uma sociedade definitivamente subordinada aos interesses imperialistas de outras naes. No se pode mais aceitar velhas teses da harmonia de objetivos, que a caracterstica bsica da economia clssica. Mesmo os liberais admitiram a existncia de um nico objetivo, como se houvesse uma mo invisvel a produzir a harmonia dos vrios interesses. De modo diferente, Marx encarou a realidade do conflito e anteviu a hipottica fico da harmonia. A sociedade ps?moderna tem mostrado uma caracterstica no prevista. Os segmentos mais privilegiados assumiram uma atitude de conformismo ante a evoluo tecnolgica, de tal forma como se dissesse-vamos para a festa, assim j est bom. Este neoconservadorismo designado por apelidos notveis-preservao do planeta, conservao ambiental, respeito aos cdigos morais e religiosos. Chega?se mesmo a se contar como atos herticos certas prticas da engenharia gentica. No tico limitar o conhecimento humano. Mais uma vez cabe sociedade disciplinar seu uso. Durante muito tempo a cultura ocidental judaico?crist aceitou o postulado platnico da criatividade humana, segundo o qual toda inveno um ato do pensamento. E o pensamento um atributo de Deus, que um ser infinito pensante, completaria Spinoza. A velha tese Aristotlica de que a criatividade humana decorre apenas e to?somente de um sem numero de percepes que modulam o pensamento foi rejeitada pelos idelogos das religies crists. Muito antes da descoberta do inconsciente, Agostinho e Nicolaus de Cosa entenderam que o trabalho criativo est intimamente relacionado capacidade emocional do amor e da paixo. dentro desta concepo que se pode admitir uma perfeita conciliao tica entre o avano tecnolgico e a harmonia da sociedade. No se trata de se exigir uma homogeneizao da sociedade, graas adoo de polticas que incluam a potencialidade de todos. Esta pseudoviso marxista levaria fatalmente a sociedade a uma estagnao e submisso irreversveis. Cumpre antes ensejar o desenvolvimento tecnolgico e delimitar a sua implementao aos segmentos cujo estgio cultural de desenvolvimento o permita. A tabuada deve conviver com o supercomputador, o mssil com o estilingue, o transplante com a pajelana, a mquina de lavar roupa com a tina da beira do rio, o alimento congelado com o feijo da panela de barro preparado no velho fogo de lenha. A atitude tica que permite a fuso destas realidades a educao.
A imposio de uma tecnologia a uma sociedade que no teve uma educao adequada para receb?la tem provocado os maiores desastres para a humanidade. Levaram, por exemplo, jovens a matarem milhes de mseros camponeses asiticos, na presuno de que eles representavam uma grande ameaa para a democracia do novo mundo. Esta educao deve obrigatoriamente priorizar o aprendizado de atitudes coletivas de respeito humano, segundo a tbua dos mandamentos os mais sagrados. Tudo dentro da proposio de Spinoza-todas as idias, enquanto se referem a Deus, so verdadeiras! O desenvolvimento tecnolgico passou a envolver um outro tipo de dominao, o cdigo da propriedade intelectual. A tecnologia industrial atualmente se encontra em discusso em quase todo o mundo em funo de certas conquistas recentemente atingidas, e enfrenta problemas de natureza tica. O nosso pais, por exemplo, h cerca de vinte anos deixou de reconhecer o direito de patente sobre produtos qumicos farmacuticos e sobre produtos nutritivos. O capital internacional agora tenta obter o direito de patente, no s para este tipo de produto, como tambm para os resultantes de processos biotecnolgicos. Argumenta?se que o investimento em pesquisa muito grande, nem sempre com retorno imediato e, portanto, o direito patente se justifica ante a necessidade de se cobrir os custos de produo e poder?se continuar num processo de investigao, necessrio melhoria da qualidade de vida de toda a humanidade. Quando se pergunta se o preo do produto j no inclui estes gastos, a resposta a de que a reproduo imitativa por um competidor impediria uma concorrncia efetiva no mercado. No deixa de ser paradoxal-o neoliberalismo pedindo a interferncia do Estado para proteger a economia. Ou seja, o neoliberalismo aceita o Estado que defenda as suas incoerncias. Quando se pergunta ainda por que a patente com direito explorao monopolista no pode ser substituda pelo pagamento do royalty, a explicao que seria impossvel o controle da produo. No h qualquer dvida de que a patente poder ser um artificio de estimulo competitividade tecnico?cientifica. Mas no se pode deixar de considerar o aspecto global do relacionamento econmico entre as diferentes sociedades. A tica no pode prevalecer em situaes circunscritas. Antes deve nortear acordos bilaterais em que no s a propriedade intelectual, mas outros fatores devam ser equacionados. Um organismo internacional do tipo Gatt, que regule todos os assuntos pertinentes proteo industrial e agrcola, est fadado ao insucesso, posto que impossvel uma sistemtica nica que contemple as expectativas de pases em fases diferentes de desenvolvimento. A patente seria mais bem regulamentada em acordos bilaterais, sendo a transferncia de tecnologia uma determinante para uma posio consensual. Do ponto de vista moral?filosfico a patente antitica no conceito de Spinoza. Com efeito, o pensamento de Deus infinito e o ato de pensar est em Deus. No cabe tributar a criao divina. Transplante e tica Jos Roberto Coelho da Rocha O primeiro homotransplante renal (humano para humano) referido na literatura mdica foi realizado em 1936, pelo medico russo U. Voronoy. O caso em questo no obteve o
sucesso desejado, pois, ignorando regras primrias da transplantologia, inexistentes na poca, utilizou-se um rim de cadver B + para um receptor O + . Alem disto, o rim empregado na operao veio de um cadver com mais de seis horas de bito. Naturalmente, o receptor faleceu, anrico, aps 48 horas. Depois de algumas frustradas tentativas, foi somente em 1954, em Boston, que 0 Doutor John P. Merrill, s vsperas do Natal, em colaborao com colegas cirurgies do Peter Bent Brigham Hospital, conseguiu realizar o primeiro transplante com sucesso, entre irmos gmeos idnticos. Este transplante, um marco na medicina internacional, durou mais de 20 anos e foi o grande impulso para o desenvolvimento dos transplantes renais em todo o mundo. No Brasil, a era dos transplantes se iniciou em 1965, no Hospital de Clinicas da USP, com o grupo liderado por Emil Sabagga e Geraldo Campos Freire, e hoje-e muitos milhares de transplantes depois- esta alternativa teraputica j se tornou comum entre ns, especialmente na Nefrologia. A tcnica cirrgica est amplamente dominada, a seleo de pacientes j obedece a critrios internacionais seguros e a imunossupresso muito evoluiu, permitindo mais de 95% de "pega" em pacientes recebendo rins de doadores vivos, no primeiro ano, um resultado que podemos considerar excelente, levando?se em considerao as inmeras dificuldades imunolgicas conhecidas. Apesar de toda esta evoluo bastante favorvel, muitos problemas ainda persistem no campo da transplantologia renal, como de resto em todas as atividades mdicas. Naturalmente, alm dos aspectos puramente tcnicos, especficos desta forma teraputica, surgem constantemente dvidas referentes maneira correta de atuao etico-legal, no s dos profissionais aqui envolvidos, como tambm do poder pblico e da sociedade civil como um todo. Historicamente, a "grande dvida" tica dos transplantes sempre foi a utilizao de "doadores vivos", relacionados ou no. Consideramos doadores "relacionados" aqueles que apresentem consanginidade direta com o receptor do rgo. Assim, irmos, pais, primos de primeiro grau, avs etc., esto nesta categoria, e ainda so empregados como doadores de rim, na maioria dos pases do mundo. Na Brasil, a maioria dos transplantes renais proveniente de doadores vivos relacionados e uma pequena parcela dos chamados doadores vivos "no relacionados", ou seja, que no apresentam consanginidade direta com o paciente receptor. Onde esta, neste caso, a dvida tica? O problema reside em dois diferentes planos, que vm sendo objeto de discusso h muitos anos:
1. A retirada de um rim, para doao-e, portanto, de manifesta livre e espontnea vontade-pode vir a lesar o prprio doador, especialmente no que se refere sua funo renal remanescente? Ou, colocado de maneira mais prtica, esta uninefrectomia no do ador tem grandes riscos imediatos ou futuros para sua sade? Esclarea-se, desde j, que a seleo do doador vivo obedece a um protocolo universalmente aceito, considerado bastante rgido e capaz de eliminar, com segurana, indivduos portadores de quaisquer do enas que possam pr em risco no s sua prpria sade, como tambem a de seu parceiro, o receptor. Deste modo, quando selecionado, aps passar por extensos testes e exames, pode? se afirmar que tais do adores possuem sade fsica e mental quase sempre "perfeita". Digo quase sempre, pois hoje j se admitem doadores, por exemplo, com historia prvia de litiase, hipertenso leve sem leses de rgo, idade acima de 60 anos etc. Assim, quando submetidos interveno para a retirada do rim, estaro em condies clinicas excelentes, capazes de suportar muito bem a agresso cirrgica. Portanto, do ponto de vista de leso imediata, o risco maior, de mortalidade destes pacientes, tem sido calculado, em grandes sries, variando entre 0,04 e 0,1%, considerado bastante aceitvel para estas circunstancias [1]. O ponto mais sensvel desta discusso tica-quanto a futuros riscos para o doador-, porem, provem da controvrsia iniciada, na dcada de 70, pelos trabalhos do grupo de Brenner, Hostetter e outros [7], quando demonstraram, em animais, que a substancial ablao cirurgica de nefrons normais era capaz de permitir a deteriorao da funo renal remanescente. Isto se d, segundo os autores, porque os nefrons residuais ficam submetidos "hiperfiltrao" e hipertenso, levando leso do endotlio glomerular, esclerose progressiva e eventual perda total do rgo. Estes trabalhos, a principio, suscitaram grandes preocupaes entre os nefrologistas e os transplantadores. Afinal, milhares de indivduos j haviam, quela altura, sido submetidos a netrectomias unilaterais para doao, e poderiam estar em risco de perda progressiva da funo renal remanescente. Mas, como j aconteceu tantas outras vezes na medicina, estudos subseqentes, no s experimentais, mas tambm de reviso de doadores renais e de pacientes submetidos a grandes ablaes renais, no confirmaram estas observaes iniciais, trazendo maior tranqilidade para a transplantologia [6]. Ressalte-se que alguns autores continuam a sugerir que se deve manter alguma cautela quanto a essas observaes cientficas favorveis: alguns alegam ser necessrio um maior perodo de tempo (30 anos).
Este lado da questo tica ligada doao parece, pelo menos por enquanto, estar sendo "resolvido" pelas comprovaes cientficas favorveis, e a grande maioria dos pases continua fazendo transplante de doador vivo relacionado, at os dias de hoje. 2. Ainda em relao ao doador vivo, o outro ponto em discusso se refere utilizao de pessoas que no apresentem relao de consanginidade com o receptor, isto , o doador "vivo no relacionado". O fulcro desta questo est centrado no discutvel altrusmo alegado por estes doadores. Ningum ignora-pois tem sido pblico e notrio-que inmeras pessoas j se ofereceram para doar um rim, at em anncios de jornais, mediante pagamento. Todos os servios de nefrologia envolvidos em transplante tambm j tiveram a oportunidade de receber ofertas de doao, por dinheiro, obviamente oriundas de pessoas pobres e desesperadas. Vamos inserir alguns comentrios, a bem da verdade cientfica, para demonstrar que tais assuntos no pertencem a um consenso universal. No Brasil, ressalte?se, a doao"paga" tem sido evitada e recusada sistematicamente pelos transplantadores, no se constituindo verdadeiramente em um problema. Em alguns pases, esta prtica comum: na ndia, por exemplo, um grande nmero de transplantes envolve o pagamento direto do doador vivo, uma atitude tolerada at hoje pelas autoridades e pela sociedade civil. Durante o Primeiro Congresso Internacional de Transplantes em Pases em Desenvolvimento, realizado em maio de 92, em Singapura, o representante indiano revelou que, em seu pais, cerca de 2000 transplantes so vendidos a estrangeiros, todo ano. E embora o custo do transplante esteja em torno de USS 10.000,00, o doador acaba ficando com apenas USS 1.000,00, enquanto o "intermedirio" lucra cerca de US$ 3.000,00. Esta situao, embora absurda, sob o ponto de vista da tica tradicional ocidental, parece fazer sentido naquele pais, onde a renda mensal mdia do trabalhador de USS 11,00. Assim, com a "renda" obtida pela venda do rgo, argumenta?se, uma pessoa pode sustentar a famlia por longos perodos [19]. Por mais horrvel que isto nos possa parecer, o fato que acontece e coloca mais uma carga sobre a profisso mdica, j sobrecarregada por inmeras dvidas tico?morais. Tanto assim que o Prmio Nobel de 1990, Doutor Joseph Murray, naquele mesmo congresso, discursou: "Considerando a diversidade de naes no mundo, no realista esperar?se unanimidade de leis, religies ou culturas em todos os seis continentes. Mas, em minha opinio, o ponto convergente do entendimento e da ao est com a profisso mdica". H alguns anos, no entanto, o uso de doadores no aparentados entre ns foi muito comum, chegando a representar 11% dos transplanem 1981, mas, de 1985 para c, seu nmero decaiu bastante [10]. Tambm no custa lembrar que a carncia internacional de doadores tem levado outros pases de melhores condies sociais do que o nosso a utilizar, moderadamente, o doador vivo no relacionado (e no pago), de maneira quase "experimental", com excelentes resultados [15].
Hoje, em nosso pais, quando necessrio, prefere?se a utilizao de pais e irmos adotivos e cnjuges, todos considerados "emocionalmente relacionados" ou "doador parente", o que facilita sobremaneira a aceitao pelo grupo medico. Mas o assunto se torna ainda mais complexo quando examinamos o doador cadver. A utilizao inicial deste tipo de doador remonta aos anos 60 e 70, quando as verdadeiras questes eram outras: discutia?se, naqueles dias, o valor do transplante em si, se valia ou no a pena transplantar, pois os resultados eram medocres. Por outro lado, o debate sobre a "morte cerebral" dominava o assunto dos transplantes, tanto do ponto de vista tcnico como tico. Curiosamente, o que muitos no se do conta e que, desenvolvendo?se, neste perodo turbulento e incerto, a viso atual da "doao altrustica" foi, essencialmente, uma inveno da comunidade mdica transplantadora, e no da sociedade como um todo [14]. Esta surpreendente concluso tem sido alvo de muitas criticas e debates recentes, dados os grandes progressos obtidas neste campo. Alguns afirmam que, naquela poca, a no? utilizao de dois rins, perdidos por recusa da famlia, no criava uma situao critica, pois havia poucos pacientes em dilise e os resultados do transplante no eram alentadores. Na verdade, muitos pacientes-conhecedores deste insucesso-recusavam a cirurgia. O crescimento da dilise era lento e no trazia problemas ticos ou econmicos. Hoje, a verdade diferente: temos milhares de pacientes em dilise, aguardando e desejando um transplante cadavrico, de resultado muito melhor; alem do mais, a demanda do transplante maior do que a oferta, fazendo crescer indefinidamente a fila de espera, com reflexos sociais e conmico-financeiros de grande magnitude. O transplante de cadver passou, assim, a ser de suma importncia para a comunidade, com o assunto extrapolando o meio cientfico e passando a interessar a toda a sociedade. Apesar deste interesse, muitas so as barreiras a serem vencidas nesta luta pela massificao do transplante cadavrico, e necessrio que isto fique claro, para que os esforos empenhados no sejam seguidos de desiluses e sensao de fracasso, como acontece no Brasil. Um grande passo para vencermos esta luta ser dado com a nova lei de doao e transplante de rgos que brevemente estar em vigor, permitindo o reconhecimento da "morte cerebral", desanuviando, tecnicamente, uma rea difcil, isto , a da responsabilidade jurdica dos mdicos envolvidos na colheita dos rgos. Aceitos os critrios (anteriormente estabelecidos pela Resoluo 1346/91 do CFM), caber aos mdicos apenas segui?los, documentar tecnicamente a situao clnica (o que razoavelmente simples) e, portanto, isentar?se de futuros responsabilidades legais. Alm disto, a mesma lei oferecer aos cidados a possibilidade de doar, ainda em vida, seus rgos para uso em transplantes, aps a morte. Deste modo, a abordagem aos familiares do cadver tambm estar facilitada, pois supostamente estes mesmos familiares
j tero conhecimento da vontade do falecido, expressa ainda em vida, e que dever ser respeitada pelos sobrevivestes. Parece, portanto, que duas das principais barreiras que vm dificultando a utilizao do rgo cadavrico estaro sobrepujadas, quando da implementao desta nova lei. Engana? se quem pensar, no entanto, que tal lei trar a soluo definitiva, pois, mesmo em pases mais adiantados, leis semelhantes no?conseguiram resolver problema da oferta de rgos, embora o tenha amenizado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o nmero de transplantes renais de cadver cresceu bastante aps a implantao da lei, mas estabilizou?se nos ltimos anos. J o total de pacientes transplantveis continua a crescer razo de 6,4% ao ano, pela incluso de novos pacientes com doena renal terminal, fazendo aumentar interminavelmente a "lista de espera". [16]. No Brasil, alis, tanto a imprensa quanto a classe mdica muitas vezes argumentam que centenas de transplantes renais deixam de ser realizados, anualmente, pela ausncia de regulamentao e de organizao adequadas. Noticia?se e discute?se a morte acidental ou violenta de milhares de pessoas-muitas jovens-e que no so utilizadas como doadores. Os hospitais de pronto?socorro mostram a crueza destas estatsticas, e os jornais estampam o "recorde mundial de acidentes de veculos", por exemplo. Estas noticias no deixam de ser verdadeiras, mas a argumentao tico?moral para o aproveitamento "em massa" destes rgos de difcil aceitao para a Sociedade Brasileira de Nefrologia, pois, assim agindo, de certo modo estamos aceitando estes altos indicas, insuportveis e vergonhosos. Onde est o verdadeiro comportamento tico? Devemos denunciar esta abominvel situao e simplesmente nos recusarmos a utilizar estes rgos, conseguidos de modo to ultrajante para nossa conscincia, ou aceit?los, procurando salvar uma outra vida inocente? Esta e outras questes continuam a dificultar a obteno de rins de cadver em quantidade suficiente para suprir a demanda, pois, alm dos aspectos ticos, fatores psicolgicos, religiosos, tcnicos, econmicos e morais devem ser levados em considerao. A religio muulmana, por exemplo, tem dificuldade em aceitar os critrios atuais de doao em vida, e somente a Arbia Saudita realiza transplantes de cadver em grande nmero [19]. J a religio catlica e judia permitem este tipo de tratamento, por considerarem moralmente slido o argumento da morte cerebral, segundo a interpretao da Lei Judaica e a Pontifcia Academia de Cincias [11]. Diferenas raciais-ou sociais-tambm podem ter muita influncia nos programas nacionais de transplante. Uma situao, vinda dos Estados Unidos, pode ser considerada um bom exemplo. La, pacientes negros recebem e doam menos do que as outras raas. O fato de receberem menos transplantes renais poderia ser explicado por preconceito e
desequilbrio social inerentes quela sociedade, mas as razes para a modesta doao negra so mais complexas de compreender. Em estudos realizados em 1987, Callender analisou os motivos desta situao, identificando vrias causas potenciais: - falta de comunicaes adequadas entre a comunidade mdica e os africano-americanos; - falta de conhecimento em relao aos transplantes; - supersties religiosas; - medo de ser declarado morto, prematuramente, se possuir "carto de doador"; - ter certeza de que os rgos doados por africano?americanos seriam utilizados preferencialmente por receptores africano?americanos [3,4] . Embora no Brasil no tenhamos estudos semelhantes, fcil deduzir que algumas das razes alegadas no estudo americano poderiam ser aplicveis s nossas grandes comunidades desfavorecidas. O reconhecimento e o enfrentamento adequado destas alegaes, pela comunidade cientfica brasileira, certamente dever ajudar o equacionamento de nossos problemas, no campo do transplante de rgos. Alguns estudos estimam que cerca de 10.000 doadores potenciais deixam de ser utilizados por ano na Amrica, principalmente por negao-pelos familiares-da doao de rgos [5]. Este nmero alarmante traz baila outro ponto de discusso, de carter eminentemente tico: a recompensa, aos familiares, pela doao dos rgos do falecido. A sociedade americana j discute abertamente, geralmente tendo a classe mdica como arauto, esta hiptese que h alguns anos seria considerada intolervel [13,17,18]. Inmeras tem sido as propostas de "incentivos" e no resta duvida de que em futuro breve algumas delas devero ser implementadas. Entre estas, destacamos algumas consideradas bastante aceitveis: reembolso de despesas com o falecido, doao a obras de caridade indicadas pela famlia, facilitao de recebimento de seguros etc. A principal razo alegada pelos defensores desta atitude a negao da doao pelos familiares, ao saberem que no teriam nenhuma compensao financeira pelo ato [14]. Certamente este tipo de "incentivo" no se aplica ao Brasil, onde a penria de transplante de cadver parece ser muito mais dependente de falta de organizao e divulgao adequadas, j que alguns grupos relatam ndices satisfatrios de aceitao pelos familiares [9,12]. Aqui, a questo financeira de outra natureza: o financiamento dos programas de transplantes. Por um lado, as organizaes de seguro sade privadas no tm se interessado pelo problema, excluindo, na maioria das vezes, este tipo de procedimento de seus contratos. Tambm muitas instituies de seguridade social de grandes empresas estatais
dificultam ou explicitamente o probe. Isto obriga a maioria dos pacientes a procurar os servios pblicos para conseguir transplantar, naturalmente afunilando o processo. Por outro lado, o pagamento pelo INAMPS, hoje o maior e quase exclusivo financiador da doena renal crnica, considerado insuficiente pela maioria dos centros privados, o que tem limitado esta cirurgia, principalmente, aos hospitais pblicos e universitrios, como demonstra um oportuno e recente levantamento de custos realizado por um grupo experiente |8]. Manter os transplantes limitados aos centros pblicos e universitrios uma evidente aberrao, constituindo?se, talvez, no maior empecilho para seu pleno desenvolvimento. Em primeiro lugar, a configurao do sistema de sade brasileiro, especialmente no tocante a instalaes hospitalares, quer se queira ou no, completamente dependente de entidades privadas, com ou sem fins lucrativos. No adianta arbitrar preos e custos abaixo da realidade, pois, assim fazendo, estar o Poder Pblico conspirando contra o crescimento dos transplantes, pois o "sistema" continuar afunilado, por deixar de fora os hospitais privados. Um bom exemplo, oriundo da prpria nefrologia, so os centros de dilise distribudos por todo o pais. O modelo, neste caso, foi baseado na permisso para o estabelecimento de centros privados, com pagamento adequado, que bole so respnsavel por mais de 90% dos pa cientes em tratamento no Brasil. Apesar de ainda defeituoso, a nosso ver, este "modelo da dilise" mostrou?se muito mais eficaz, permitindo o acesso de milhares de pacientes, at em locais onde o poder publico est notoriamente ausente. E, por outro lado, aps 30 anos de existncia como teraputica consagrada, o transplante j deixou, por todo o mundo civilizado, de ser uma atividade "universitria", tornando?se um procedimento rotineiro dos servios de nefrologia e de transplante. simplesmente absurda a idia de centros universitrios se dedicarem realizao rotineira de transplantes renais intervivos. Isto ainda ocorre entre ns, infelizmente, porque s estes serviossubvencionados pelo governo-conseguem continuar funcionando. No custa lembrar que para o meio acadmico-nos centros internacionais-deixou?se a pesquisa e a investigao clinica relacionadas ao assunto, verdadeiras raisons d'tre da universidade, que deve se interessar apenas pelo ensino e pelo desenvolvimento de medicina "de ponta". Assim, apesar da resoluo do CEM quanto a morte cerebral e da entrada em vigor da nova lei-dois marcos muitssimo importantes- enquanto o financiamento para transplantes, tanto pelo poder pblico quanto pelas empresas privadas de sade, continuar magro e inconstante, levando sua quase monopolizao por alguns centros privilegiados, no se pode esperar um real e benfico incremento desta forma de teraputica. Todas estas consideraes devem ser levadas em conta para podermos definir, com maior preciso, a "tica do transplante". Afinal, tanto do ponto de vista do paciente renal crnico, como dos profissionais envolvidos com seu tratamento, o bom transplante que garante a melhor qualidade de vida.
Sem dvida, a negao do transplante, por qualquer uma das razes analisadas anteriormente, poderia ser considerada, pelo Cdigo de tica Mdica, uma infrao. Mas importante frisar, em que pese as palavras do Professor Murray, que existe aqui um importante componente tico dependente dos poderes constitudos e da sociedade em geral, que necessita participar mais ativamente deste longo processo de transformao, opinando, legislando, financiando e doando rgos, sem onerar demasiadamente a classe mdica, j atormentada por tantas dvidas e frustraes, na luta diria contra a doena renal. Bibliografia 1. Blay, William H. et. ai.; The Living Donor in Kidney Transplantation, Annais of Internal Medicine, 106:719,1987. 2. Bertolatus, J.A.; Living Donor Kidney Transplantation: What did We Learn During the 1980's? What Shouid We Learn During the 1990's? Am. J. Kidney Dis., 17:596, 1991. 3. Callender, C.O.; Organ Donation in the Black Population: Where We Go From Here? Transplant Proc. 19, Suppl 2:36, 1987. 4. Callender, C.O.; Organ Donation in Blacks: A Community Approach. Trans plant Proc 19:1551, 1987. 5. Evans R.W. et al.; The Potential Supply of Organ Donors. JAMA 267:239,1992. 6. Fine, Leon G., et al.: Of Rats and Men: The need for more convincing clinical Studies on the Progression of Renal Diseases. Am J K Disease, 17:258,1991. 7. Hostetter TH et al.; Hyperfiltration in remmant nephrons: A potentially adverse response to renal ablation. Am J Physiol 241:F85, 1974. 8. Medina J.O.P. et al; Estruturao de Programa de Transplante Renal em Hospital No Universitrio de So Paulo, Abst., XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia, pg. 43, 1992. 9. Menezes, J.A.V. et ai; Rio?Transplante (RJ?Tx). Abst, XVI Congresso Brasi leiro de Netrologia, pg. 55, 1992. 10. Neumann, J. et al.; Desenvolvimento dos Transplantes Renais no Brasil. J.B. Nefrologia, 11:71, 1989. 11. Ornellas, J.F.R.; Aspectos ticos do Tratamento da Insuficincia Renal Crnica J.B. Nefrologia, 14:3, 1992. 12. Pestana, J.O.M. et al.; Guia Clinico para o Transplante Renal. J.B. Nefrologia, 14:66, 1992.
13. Peters, TG; Life or Death: The Issue Payment in Cadaveric Organ Donation, JAMA 265:1302, 1991. 14. Peters. T.G.; Financial Incentives in Organ Donation: Current Issues. Dial and Transp., 21:270, 1992. 15. Pirsch, J.D. et al.; Living Unrelated Renal Transplantation: Results in 40 Pa g tients. Am. J. Kidney Dls. 12:499, 1988. 16. Port, F.K. et al; The Impact of Nonidentical ABO Cadaveric Renal Transplantation on Waiting Times and Graft Survival. Am. J. Kidney Dls. 17:519, 1991. 17. Spital, A.; The Shortage of Organs for Transplantation: Where do We Go From Here? N. Engl. J. Med. 325:1243, 1992. 18. Spital, A.; Overcoming the Organ Shortage: What are we Missing? Dial. and Transp., 21:537, 1992. 19. Warren, J.; Conference Review: First International Congress on Transplantation in Developing Countries. Dialysis and Transplantation, 21 :626, 1992. tica e Imprensa e a tica da Imprensa Sydnei Rezende Ao contrrio do que se imagina, o debate em torno do tema tica jornalstica intenso tanto na Europa como nas Amricas. E verdade que com o avano da democracia no Brasil, multiplicam?se as vises sobre conceitos pouco palpveis como liberdade de imprensa, imparcialidade e informaes fidedignas. Acertadamente exige?se responsabilidade do jornalista, porm deve?se lutar por uma atuao mais presente da sociedade. Em 1956, o pensador Theodore Peterson resumiu em 7 (sete) pontos as suas criticas ao que chamou de "deficincias mais evidentes da imprensa": 1. tem concentrado um enorme poder para os seus prprios fins. Seus donos tm divulgado apenas suas opinies, especialmente em assuntos econmicos e polticos, em detrimento de opinies contrrias; 2. tem sido subserviente s grandes empresas e, s vezes, tem permitido que os anunciantes controlem a linha editorial; 3. tem sido resistente mudana social; 4. tem dado mais ateno ao superficial e ao sensacionalista do que ao realmente significativo na sua cobertura dos acontecimentos;
5. tem colocado em perigo a moral publica; 6. tem invadido a privacidade das pessoas; 7. est controlada por uma classe scio?econmica vagamente definida como "classe empresarial", que dificulta o ingresso de novas pessoas no negcio, colocando assim em perigo o livre e aberto mercado das idias (1). Para coibir estas imperfeies, os meios de comunicao tm apelado para normas de redao, cdigos de tica, constituio de criticas internos (onde cintilam figuras como os ombudsmen), e a criao de conselhos de imprensa. Aos ouvintes, telespectadores e leitores tem?se destinado a seo de cartas e departamentos de atendimento aos consumidores. pouco. At mesmo os conselhos de imprensa esto deficientes e tambm no funcionaram onde nasceram: nos Estados Unidos. Em 73, foi criado l o Conselho Nacional de Imprensa e, em 22 de maro de 84, os seus membros decidiram fechar as portas. Razes especificas e internas. A iniciativa poderia servir como estimulo ao dilogo entre os prprios jornalistas e um canal a ser usado com a sociedade. A rigor os jornalistas pregam o direito a critica no quintal dos outros. Quando se trata de dissecar as suas prprias feridas, brota o sentido de corpo e urge a raiz autoritria, to entranhada em nossa gente. Soma-se a isso o medo da prpria sociedade em questionar a mdia. Os norte?americanos nos impuseram a imagem "inquestionvel" do 4 poder. Bobagem! Diariamente a imprensa e a mdia eletrnica erram. Esta verdade indiscutvel. O que est em foco hoje, no entanto, so agresses a conceitos ticos nem sempre definidos, mas captados. A tica pode morrer na filosofia, provavelmente no na matemtica. tica, em jornalismo, moral. Moral na sociedade e mutvel. Certa vez, um velho homem da imprensa j cansado de tanto bl?bl?bl sobre esse assunto provocou a platia: " preciso haver algum em uma organizao para dizer aos outros como fazer um trabalho honesto e responsvel?" Posturas e Condutas O jornalismo precisa fugir da falsa noo de noticia transmitida ao pblico. Hodding Carter (2) resumiu o carter essencial da profisso como uma busca constante de noticias, mas com responsabilidade, independncia, verdade, exatido, imparcialidade e honestidade. Poderamos acrescentar mais um elemento, o direito resposta. O lamento daqueles que se sentem vitimas da imprensa no obter o mesmo espao concedido a acusao. Freqentemente, eles tm razo. Compete aos jornalistas manterem a eqidistncia. Conciliar a necessidade de noticiar com a verdade dos fatos. Parece cada vez mais absurdo transmitir uma noticia sem se ouvir os vrios agentes envolvidos. A histria dos dois lados outra baleia. Sempre existem muitos lados. Noticia no interessa a um nico setor. Noticia movimento, incomoda e molesta. Neste caso, no vale a mxima irrespondvel: o
que verdade? E, sim, quantas verdades esto envolvidas nisso? Voc despreza a ver so do fato? Os aliados venceram a Segunda Guerra e lanaram sobre os erros fados a sua verdade. Hoje, os japoneses ameaam se insubordinar atravs de outro campo de luta. Diz o parlamentar Shintaro Ishihara (3): "O chip de um megabyte usado nos bancos de memria de um computador tem um milho de circuitos em uma base de slica, que tem um ter o do tamanho da unha do meu dedo mindinho. Esse componente vital s fabricado no Japo. A indstria japonesa controla o mercado de maneira quase total. Os Estados Unidos tm know?how, mas faltam?lhe os engenheiros e os tcnicos para produzir os chips. Sem um sistema integrado de criao e manufatura, o conhecimento, por preciso que seja, de nada serve". Nada como um dia depois do outro. Voltemos para a discusso que envolve o indivduo. Todos ns j ouvimos falar de difamao, calnia e injria. Difamao (revelar as falhas verdadeiras do prximo sem provas suficientes) e calnia ou injria (forjar uma falsa acusao contra o prximo, de modo a prejudicar sua reputao) (4). Na discusso poltica, estes limites so embaralhados pelos prprios envolvidos, e a imprensa mais vitima do que promotora da discrdia. Esta constatao no pode impedir a anlise critica do papel do jornalista. A imagem primitiva do "consiga a reportagem e publique?a" est sendo substituda por "muito bem, apure melhor, cheque todos os dados e publique?a". Ou seja, apesar da arrogncia injustificada dos profissionais da informao, cresce a necessidade de parmetros. H um preconceito j sedimentado contra o sensacionalismo e a ao de sensacionalistas. O nmero de aulas sobre tica tem aumentado no pais. As universidades criaram cadeiras voltadas para o debate do cotidiano jornalstico. A discusso surge margem de sindicatos e da prpria Associao Brasileira de Imprensa. As entidades de classe so dirigidas por abnegados, ainda incapazes de mobilizar a categoria. incrvel a falta de prestigio destas representaes quando o assunto poltica salarial. J se disse que o jornalista o especialista em generalidades. Hoje, o profissional est se aperfeioando. Em breve, em mais quantidade, teremos talentos conhecedores dos meandros da medicina como se mdicos fossem. Esta segmentao no impedir polmicas como a capa da Revista Veja, que trouxe, em close, o rosto do cantor Cazuza, portador do vrus da AIDS, nos seus ltimos dias. No futuro, como no presente, vozes ressentidas se voltaro contra a mdia agressora. Nesta hora se reacendero opinies sobre a tica jornalstica. Os reprteres devem saber combinar a denncia com o dever de informar corretamente. Pode?se revelar uma noticia sem o rano da denncia barata. O charme do jornalismo investigativo apurar, apurar e apurar. Neste caso, o pblico tem o direito de saber o que e pblico. "Interesse do governante no sinnimo do governo. E interesse do governo no sinnimo de interesse pblico. No raramente, so antnimos". Outra preocupao tica: "O fato de que uma mentira est em boca alheia no elimina a responsabilidade de quem a veicula. Assim, o jornal pode considerar legitimo publicar a declarao que supe
mentirosa, mas tem o dever de informar ao leitor sobre razes de reserva ou descrena em face da afirmao".(5) Medicina e Mdia-Concluses Alm do exposto, vale a regra de que o exerccio da tica jornalstica depender da conscincia de quem transmite as noticias ao pblico. O controle desta relao deve ser exercido por regras definidas e pela sociedade civil. Levando?se em conta que uma transmisso ao vivo um bom momento para se testar a liberdade de imprensa de um veculo. Daqui para adiante, a tecnologia se desenvolver como uma fora auxiliar do talento do jornalista. A informtica j est nas redaes. Parece absurdo ainda se utilizar a mquina de escrever manual. impossvel que a diferena entre ricos e pobres diminua com o entrelaamento dos sistemas de redes eletrnicas. As informaes secretas sero cada vez mais democratizadas. Os limites entre o pblico e o privado sero encurtados. A remunerao da mo?de?obra j uma discusso tica. Como apostar no desenvolvimento com a perpetuao da misria? E o mercado universal? Os jovens profissionais j disputam vagas sabendo que hoje deve?se dominar pelo menos dois idiomas. A rede de televiso norte?americana (CNN) b a primeira a comprovar a tese de que o jornalismo j global, via satlite e com equipamentos portteis de eficiente uso. Noticia um negcio, noticia um negcio valioso. Diante deste quadro, a medicina est intimada a mergulhar na tecnologia como ponto de partida na cura de doenas. A diferena que a sociedade precisa saber rpido destes avanos. As campanhas de vacinao, de controle de acidentes de transito, de orientao de cura de epidemias so alguns exemplos da importncia da aproximao com os meios de comunicao. Os profissionais da rea de sade no podem se escusar de disputar cada segundo que a mdia oferecer. As grandes indstrias farmacuticas j descobriram como combinar campanhas publicitrias com a fabricao de medicamentos em escala (e). A propaganda de cigarros, por exemplo, um bom elemento de discusso. Ela costuma ser tica? pouco provvel que ela venha a ser banida dos meios de comunicao, mas j esta sendo controlada. O melhor combate a ocupao do espao da informao. A imprensa conscientiza, a publicidade tenta convencer. Os mdicos podem ser os poderosos instrumentos desta contra?informao. Os programas de rdio e TV e as reportagens publicadas em revistas e jornais devem ser cada vez mais fiis verdade cientfica. A sade da populao poder melhorar, se as comunidades souberem como evitar o mal. A credibilidade do medico no mais medida pela quantidade de tempo em que fica confinado no consultrio. A histria obriga?o a ir para os refletores e expor as suas idias. Nesta hora, ele saber, a exemplo dos jornalistas, porque o debate em torno da tica intenso na Europa e nas Amrica. Bibliografia
1. Theodoro Peterson, Wilbur Schramm e Fred S. Siebert, Four Theories of the Press, (Ed. da Universidade de lilinois, 1936). 2. Hodding Carter Foreword, in Clifford G. Christians, Kim B. Rotzoll e Mark Fackler, "Media Etmics: Cases and Moral Reasoning" (Nova lorque: Longmam, Inc, 1983). 3. Shintaro Ishihara, The Japan tRat can say no, Ed. Simon & Schuster, Nova lorque, 1989. 4. Conceitos do Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. in As Responsabilidades do Jornalismo, organizao de Robert Schmuhl, Ed. Nordica, 1984. 5. 0 Globo-Manual de Redao e Estilo, organizado e editado por Luiz Garcia, So Paulo, Ed. Globo, 1992. 6. A Propaganda de Medicamentos e o Mito da Sande, Jos Gomes Temporo. RJ Edies Graal, 1986. 7. Manual de Radiojornalismo Jovem Pan, de Maria Elisa Porchat, Ed. tica, 1989. tica das Publicaes Mdicas Jlio Csar Meirelles Gomes Juramento de Hipocrates. "Ter seus filhos por meus prprios irmaos; ensinar?lhes esta arte se eles tiverem necessidade de aprende?la, sem remuneraao e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das lioes e de todo o resto do ensino meus filhos, os de meu mestre e os discpulos inscritos segundo os regulamentos da profissao, porm, s a estes." Legislaao Constituiao Federal Dos Direitos e Garantias Fundamentais Art. 5.XVI- assegurado a todos o acesso a informaao e resguardado o sigilo da fonte, quando necessrio ao exerccio profissional. XXVII-aos autores pertence o direito exclusivo de utilizaao, publicaao ou reproduao de suas obras, transmissvel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. IX- livre a expressao da atividade intelectual, artstica, cientifica ou de comunicaao independentemente de censura ou licena.
Lei n 3.268/57 Art. 2.-... e os Conselhos Regionais de Medicina sao rgaos supervisores da tica profissional e ao mesmo tempo julgadores e disciplinadores da classe mdica (...) Art. 15c) fiscalizar o exerccio da profisso de mdico. Decreto Lei n 4.113/42 Publicidade Mdica Art. 1.- proibido ao mdico anunciar cura de doenas sem tratamento prprio, exerccio de mais de duas especialidades, consulta por correspondncia, especialidade no reconhecida, agradecimentos manifestados por clientes, aluses detratoras e escolhas mdicas e teraputicas reconhecidas pela legislao do pais etc. Cdigo Penal Art. 196-fazer concorrncia desleal Pargrafo 1.-comete crime de concorrncia desleal quem: l-publica pela imprensa ou outro meio falsa afirmao; ll-presta ou divulga com intuito de lucro falsa informao; lll-emprega meio fraudulento para desviar em proveito prprio clientela de outrem. Art. 184-Dos crimes contra a propriedade intelectual-violar direito autoral-pena-deteno de Ires meses a um ano ou multa. Pargrafo 1. -se a violao consistir na reproduo por qualquer meio de obra intelectual no todo ou em parte para fins de comrcio, sem autorizao expressa do autor ou de quem o represente(...) Art. 153-Divulgao de segredo Divulgar a algum sem justa causa contedo de documento particular ( ...) Art. 154- Violao de segredo profissional Revelar a algum sem justa causa segredo de que tem cincia em razo de funo, ministrio, oficio ou profisso e cuja revelao possa produzir dano a outrem.
Lei n. 5.988/73 (Lei dos Direitos Autorais) Les. CFM?DF 055/85 Art. 8-Dar parecer e acompanhar do ponto de vista legal e tico as pesquisas e ensaios clnicos desenvolvidos no estabelecimento de Saudi ainda quando de ensino. Cdigo de tica Mdica/88 Art. 102- vedado ao mdico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exerccio de sua profisso, salvo por justa causa, dever legal ou autorizao expressa do paciente. Pargrafo nico-permanece a proibio mesmo que o fato seja pblico ou tenha o paciente falecido ou quando depoimento como testemunha. Art. 104- vedado ao mdico fazer referencia a casos clnicos identificveis, exibir pacientes ou seus retratos em anncios profissionais ou na divulgao de assuntos mdicos em programas de rdio, televiso ou cinema e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas ou outras publicaes leigas. Art. 105- vedado ao mdico revelar informaes confidenciais obtidas quando do exame mdico de trabalhadores... Art. 137- vedado ao mdico publicar em seu nome trabalho cientfico do qual no tenha participado, atribuir?se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob sua orientao. Art. 138- vedado ao mdico utilizar?se, sem referencia ao autor ou sem a sua autorizao expressa, de dados, informaes, ou opinies no publicadas. Art. 739- vedado ao mdico apresentar como originais quaisquer idias, descobertas ou ilustraes que na realidade no o sejam. Art. 140- vedado ao mdico falsear dados estatsticos ou deturpar a sua interpretao cientfica. Art. 123- vedado ao mdico realizar pesquisa em ser humano sem que este tenha dado consentimento por escrito, aps devidamente esclarecido sobre a natureza e conseqncias da pesquisa. Pargrafo nico-caso o paciente neo tenha condies de dar seu livre consentimento, a pesquisa somente poder ser realizada em seu prprio beneficio aps expressa autorizao de seu responsvel legal. Art. 126- vedado ao mdico obter vantagens pessoais, ter qualquer interesse comercial ou renunciar a sua independncia profissional em relao a financiadores de pesquisa mdica da qual participe.
Art. 127- vedado ao mdico realizar pesquisa mdica em ser humano sem submeter o protocolo a aprovao e acompanhamento de comisso isenta de qualquer dependncia em relao ao pesquisador. Art. 131- vedado ao mdico permitir que sua participao na divulgao de assuntos mdicos, em qualquer veculo de comunicao de massa, desde que de carter exclusivamente de esclarecimento e educao da coletividade. Art. 132- vedado ao mdico... divulgar informao sobre assunto mdico de forma sensacionalista, promocional ou de contedo inveridico. Art. 133- vedado ao mdico... divulgar, fora do meio cientifico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda neo esteja expressamente reconhecido por rgo competente. Res. CEM n 1.036/80 Das entrevistas, comunicaes e trabalhos cientficos Art. 7.-O mdico pode, usando qualquer meio de divulgao leiga, dar informaes, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos mdicos que sejam estamento de fim educativo. Pargrafo 1.-em tais casos o mdico deve ater?se aos postulados ticos do Cdigo de tica em vigor e as Resolues do CFM Art 8.-por ocasio das entrevistas, comunicaes, publicaes de artigos e informaes em pblico, deve o mdico evitar sua promoo e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profisso. Dos boletins mdicos Art. 14 -quando da emisso de boletins mdicos, devem os mesmos ser elaborados de modo sbrio, impessoal e verdico rigorosamente fiis ao segredo mdico. Declarao de Helsinque/64 Recomendaes orientando o mdico em pesquisa biomdica envolvendo seres humanos. Declarao adotada na 18.a Assemblia Mundial de Mdicos. Helsinque, Finlndia, 1964 e revista na 29 AMM, Tquio, Japo, 1975. Resoluo Normativa 01/78 da Cmara Tcnica de Medicamentos do Conselho Nacional de Sade sobre a Pesquisa mdica com medicamentos. Resoluo n. 01/88 do Conselho Nacional de Sade sobre aspectos ticos da pesquisa em seres humanos.
Publicao mdica neste capitulo entende?se como a divulgao do resultado do trabalho intelectual do mdico em jornal, revista ou similar destinado classe (sem circulao restrita). O trabalho intelectual do mdico no caso pode assumir vrias formas: desde um simples relato, reviso, informe cientfico, tese, monografia, ou at artigo sobre generalidades de interesse para o exerccio da medicina. Seja como for, o carter essencial do relato ou da elaborao deve conter um apelo intrnseco verdade, posto que, alm do cunho cientfico, pode existir uma tese fruto da simples compreenso do autor e de difcil comprovao ou no reprodutvel por tcnicas ou meios conhecidos. No caso prevalece como dominante a relao mdico?cultura, exigindo?se deste o mais fiel e irrestrito apego honestidade no manuseio de informaes ou do respeito cultura humana inerente prtica da medicina. Convm no esquecer que a revista ou o congresso mdico, ou outras formas convencionais de divulgao representam a simples expresso moderna das antigas sesses magistrais ocorridas em famosos anfiteatros de grandes hospitais da Europa ou da Amrica do Norte, onde processos ou novas tcnicas eram submetidas in vivo apreciao de mdicos notveis, como por exemplo, o ocorrido com Liston no sculo XIX: "A amputao do membro inferior sob narcose produzida por ter praticada pelo cirurgio Roberto Liston, a 21 de dezembro de 1846, foi na Europa a primeira operao indolor. Abriu de par em par a porta a marcha triunfal da anestesia pelo ter, atravs da Gr?Bretanha, da Alemanha, da ustria, da Suia, da Itlia e da Rssia. Segunda?feira, 21 de dezembro de 1846, era um dia muito frio; duvido, no entanto, que entre mdicos e estudantes que se premiam nos bancos do anfiteatro fossem muitos os que se ressentiam do ar gelado. J nas primeiras horas da manh espalhara-se a noticia de que Liston preparava uma experincia sensacional". Do livro O Sculo dos Cirurgies-Jurgen Thorwald. Claro, um congresso mdico seria por excelncia o frum principal para a apresentao de novos medicamentos, tcnicas ou observaes de interesse cientfico e para fins de conhecimento e comprovao. No entanto, as revistas oferecem espao mais conveniente para a divulgao de matria, embora sem possibilidade de discusso, mas com o proveito de grande abrangncia devido tiragem e penetrao em toda classe. Hoje em dia temos diversas modalidades de eventos destinados discusso e promoo do tema cientfico, tais como seminrios, jornadas, mesas? redondas, cursos, congressos, congressos via satlite, teledebates, alm de formas singulares de apresentao como vdeo etc. Enfim, a grande tecnologia no ramo das comunicaes amplia de forma irrestrita a possibilidade de divulgao de assuntos mdicos dentro ou fora da classe. Vale registrar uma auspiciosa tendncia nos congressos mdicos de inserir temas ticos no seu programa de natureza conexa especialidade, como, por exemplo, "tica e infeco hospitalar", tema de uma conferncia no Congresso Brasileiro de Doenas Tropicais, Manaus/1988. A SlDA trouxe, por outro lado, um verdadeiro baom de artigos sobre implicaes ticas da doena e que tem ocupado grande espao na literatura mdica. Mas qual o compromisso tico fundamental na elaborao de uma publicao mdica? Qual dos princpios do Cdigo deve ser evocado para atender aos preceitos de austeridade e lisura no trato com a informao cientfica? Em primeiro lugar, o elemento contido no juramento de Hipcrates, a saber, "ensinar esta arte generosamente aos meus e aos seus filhos...", que, ao contrrio do entendimento de nepotismo cultural do professor Jaime Landman, revela a compreenso magnnima de que o conhecimento cientfico constitui patrimnio da humanidade e s em seu proveito deve ser exercido. Embora o domnio de tcnicas, como a habilidade, seja componente individual, a cultura mdica necessariamente de domnio pblico.
Em segundo lugar considerando a destinao do conhecimento medico em favor do semelhante, como ainda o semelhante como origem ou meio do prprio conhecimento, os Princpios I e 11 do Cdigo so chamados a configurar que o homem no apenas a medida, mas o principio e o fim do conhecimento mdico. A Pesquisa Origem das Publicaes Ora, como a grande maioria dos trabalhos mdicos pretende alcanar a compreenso das doenas ou trazer subsdios para formulaes teraputicas mais eficazes, nada mais justo do que promover uma avaliao de principias e normas que regem a pesquisa in anima nobili. Neste sentido convm lembrar que a Segunda Guerra Mundial representa um marco no acervo de deveres inerentes pesquisa face s escabrosas ocorrncias de violao dos direitos humanos em campos de concentrao, ou fora deles durante a "social?democracia" nazista vigente na Alemanha entre 38 e 44. Com efeito, temos em primeiro lugar a Declarao de Nuremberg ou Cdigo, editado em 1946, onde se destaca como primeiro artigo que "o consentimento voluntrio do paciente humano absolutamente necessrio". Logo em seguida, a Declarao de Genebra reflete preocupaes com as graves violaes dos direitos humanos e o envolvimento da medicina no teatro da Segunda Guerra. Este Cdigo traz como ponto fundamental "o respeito pela vida humana, ... desde a sua concepo". Finalmente na Dcima Oitava Assemblia Mundial dos Mdicos promovida em Helsinque, na Finlndia, e revista na Vigsima Nona Assemblia, em Tquio, no Japo, vem a lume o mais abrangente acervo de normas que regulam a experincia mdica com o semelhante, e, no apenas refletindo o respeito fundamental pela vida, como a sujeio da pesquisa ao bem?estar do pesquisado, colocado acima dos interesses gerais da humanidade! O CFM, por sinal, adotou esta resoluo atravs da Resoluo n 1.098/82. Neste sentido muito claro o que dispe o Capitulo Xll do Cdigo vedando aos mdicos o direito de participar de pesquisas com fim blico, racial, poltico ou eugnico, inclusive excluindo do rol dos pesquisados os pacientes desprovidos de autodeterminao, salvo quando a experincia possa trazer comprovado ou indiscutvel beneficio ao mesmo, sendo, portanto, de sua convenincia e atravs de autorizao de prepostos. vedado tambm realizar pesquisa sem que a mesma esteja avaliada por comisso isenta e que, em nosso caso, alm do disposto no artigo 127 do Cdigo, precisa atender ao artigo 8 da Resoluo n 055/85-CRM?DF, que cria comisses de tica mdica nos hospitais e d?lhes competncia para avaliao dos protocolos. Fato interessante que a pesquisa de uma nova droga deve ser feita sem qualquer prejuzo da teraputica convencional e consagrada em andamento. Nossa preocupao central remonta hoje ao conjunto de ensaios teraputicas que devero ocorrer entre aidticos em face do carter grave da doena e inexistncia na atualidade de uma teraputica etiolgica satisfatria. Fato muito comum entre ns e que merece ser comentado a no?sujeio dos protocolos de pesquisa s comisses de tica dos hospitais, sobretudo em hospitais universitrios, onde a sede de publicao constitui no apenas via de emulao na vida acadmica, mas exigncia administrativa para ascenso no prprio magistrio. Por sinal, torna?se deplorvel o esprito de vaidade prevalente nas publicaes destinadas aos congressos mdicos, quando se pode observar que os destaques
e as projees cientficas esto muitas vezes voltadas para a promoo pessoal. Os congressos mdicos s vezes se transformam em vitrinas para exibio de atributos e qualificaes, sem grande proveito cientifico. H quem tenha dito que as mulheres se enfeitam mais umas contra as outras do que para os homens. Acho que a vaidade mdica s vezes promove o mesmo efeito, quando se trata de congresso. A pesquisa mdica, alm do respeito incondicional condio humana, tendo em vista a adeso espontnea e informada do candidato, consoante o principio do primam nan necere, alcana tambm um segmento muito importante do Cdigo que a questo do segredo mdico. Ora, sabe?se de antemo que a obrigao do segredo decorre do respeito ao acervo de informaes confidenciais que pertence ao paciente, como o lbum de fotografias da famlia que o doente mostra ao mdico em busca de elementos que possam elucidar a doena presente. Assim sendo, cabe ao paciente o direito de dispor das informaes que possam submete?lo a quaisquer constrangimentos da maneira mais segura, mais reservada e mais pessoal. claro que a adeso espontnea e informada ao protocolo de pesquisa que traga alguma vantagem ao beneficio traz implcita a aceitao sobre a divulgao de resultados em nmeros, dados ou imagens, resguardada a identidade do paciente. Convm ressalvar que a proibio sobre a revelao do segredo persiste mesmo no caso de morte do paciente, ou mesmo que seja o fato de conhecimento pblico. Em caso de simples boletins, que so comunicaes formais sociedade sobre o estado de sade do paciente, cabe uma definio simples do estado de gravidade, sem revelaes de diagnstico ou ainda falso diagnstico, j que o mdico, para encobrir a verdade que no lhe pertence, no precisa mentir, basta calar?se. O artigo 104 do Cdigo de tica Mdica probe em cheio a divulgao de casos ou imagens, at em artigos que tornem o paciente identificvel. As revistas mdicas e os autores, talvez movidos pela preocupao exaltada com a cincia, tm descuidado desse aspecto sobretudo em casos de dermatologia ou cirurgia plstica, haja vista o "antes e depois" das plsticas de nariz. A proibio persiste, mesmo com a autorizao expressa da paciente, posto que revista mdica no vitrina nem out deor para promoo de mdicos ou pacientes. O artigo 105 do Cdigo de tica Mdica/88 veda ao mdico a revelao de informaes confidenciais obtidas no exame mdico de trabalhadores. s vezes esses exames so transformados em trabalhos de reviso e podem conter revelaes em desacordo com a tica. A resoluo CRM n 1.036/80 muito elucidativa sobre normas e procedimentos para publicao de trabalhos cientficos, inclusive na imprensa leiga, com fim educativo, e no promocional, "devendo?se ater aos postulados ticos contidos no Cdigo e nas Resolues do Conselho Federal de Medicina". curioso que o Pargrafo 1 do Artigo 8 da Resoluo em apreo chega a definir o que seja autopromoo, quando dispe que o mdico pode beneficiar?se no sentido de "angariar clientela, fazer concorrncia desleal, pleitear exclusividade dos mtodos diagnsticos e teraputicos e auterir lucros", depois vai mais fundo a ponto de definir o que sej sensacionalismo! A Antigidade Opina
A propsito do tema publicao mdica, no se pode perder a oportunidade de registrar uma prola da literatura medica de autoria do professor Flaminio Fvero, sucessor do mestre Oscar Freire, titular de Me dicina Legal da USP em 1924. Por sinal, o livro Deontologia Mdica e Medicina Profissional, do professor Flaminio Fvero, integrante da coleo do no menos ilustre e famoso Pontes de Miranda, notvel jurista. Com efeito, l-se pgina 115, item 50, sobre boletins mdicos: "Estes devem ser redigidos de tal sorte que certas molstias tidas como secretas no possam ser reveladas. Infelizmente, no isto que se v muitas vezes. Mdicos de responsabilidade, tratando de pessoas em evidencia, assinam continuamente boletins para a imprensa onde estados mrbidos, que deveriam estar contidos no mbito intransponvel do segredo so revelados direta ou indiretamente". impressionante a dieta de apuro e continncia na preservao do sigilo, a discrio e reserva na declarao pblica, atendo?se o mdico apenas ao que convm e mais nada. Alis, esta era a compreenso de Vouvernagues sobre a eloqncia: "Dizer apenas o que convm". No item 53, o mestre Flaminio Faveiro retorna ao tema e alude com muita propriedade questo dos "reclamos" que significa anncio ou publicao cientfica. Seno vejamos: "Nas suas publicaes de reclamos, nunca o mdico dever empregar meios que impliquem desrespeito ao segredo profissional. So, pois, reprovveis, as publicaes de retratos, nomes, endereos de clientes nos jornais". Ora, ressalte?se a intransigente defesa do segredo, o resguardo absoluto da identidade do pacien te! No de estranhar, numa poca em que a relao mdico-paciente era impregnada da grandeza e do mistrio que presidiam as relaesentre padre e confidente! A Pesquisa Mdica Iseno e Autonomia A pesquisa mdica propriamente dita est bem balizada no Capitulo Xll, tendo como fulcro o Artigo 123 do Cdigo de tica Mdica, que dispe sobre a necessidade do consentimento informatizado a priori e, nos casos de deficincia mental, s mediante autorizao da famlia e mesmo assim nos casos de indiscutvel beneficio para o doente. O Artigo 126 traz a baila uma questo que mereceu um enfoque especial. a questo de "obter vantagens pessoais"-"em relao aos financiadores". Ora, uma forma dissimulada e sutil de obter vantagens pessoais o recebimento de prmios, presentes ou o que mais freqente, passagens para congressos com estados pagas por rgos da indstria farmacutica ou fundaes especiais por elas mantidas. Apesar da sutileza da ajuda, vemos com muita reserva essa forma de "cortesia" da indstria que tem os interesses voltados para a medicina. Quando o agente da vantagem material no cria o vinculo moral de sujeio, ao menos cria uma suspenso sobre o mdico entre seus pares, o que e moralmente desconfortvel. Temos visto que a relao promscua do mdico com certos laboratrios, quando no gera promoo de seus produtos, cria ao
menos uma certa inibio na rejeio do frmaco de valor discutvel. E quem cala s vezes consente! Ora, alm do mais sabemos que a maioria das revistas mdicas de grande circulao, quando no so financiadas pela indstria farmacutica, tem nela sua principal fonte de sustentao. Dai a suspenso. H algo que relatamos em aceitar como tico, embora o parecer do CREMESP diante de uma denncia de nossa lavra tenha considerado como "fato desprovido de insulto ao Cdigo", a insero maliciosa da propaganda comercial de um produto farmacutico no meio de um artigo sobre a substncia bsica do referido produto! claro que esta montagem constitui uma esperteza comercial da revista, como pode o mdico alegar em sua defesa no entanto o resultado final sugere ao leitor a recomendao do produto, e o mdico sem querer vira "doutor propaganda". Acresce observao que em regra os artigos publicados em revistas financiadas pela indstria farmacutica so sempre, ou quase sempre, favorveis ao Medicamento ensaiado, quando se trata de produto de laboratrio que concorre para a edio da revista. Dai... O Trabalho Cientfico O Artigo 131 do Cdigo de tica Mdica faculta ao mdico a participao em veculos de massa, desde que seja para esclarecer e educar a coletividade, sem laivos de sensacionalismo ou autopromoo. H poucos meses deparamos com uma propaganda poltica de um conhecido mdico de uma cidade satlite de Braslia onde se lia apenas "vote no Dr....". Ora, o "Dr.", no caso, identificava com muita propriedade a condio de mdico, e no apenas de cidado elegvel! No horrio da propaganda eleitoral no infreqente deparar com candidatos de jaleca e estetoscpio no pescoo buscando vantagens polticas com a imagem profissional. Nos casos citados, alm da antieticidade formal na forma de apresentao do mdico, quer nos parecer que o artigo lesado em cheio o 65 do Cdigo de tica Mdica, onde se l que o mdico no deve aproveitar?se de situaes decorrentes da situao mdico?paciente para obter vantagens...polticas. Embora o artigo se relacione ao corpo?a?corpo no trabalho mdico, aplicvel a imagem do profissional na sua relao com o leigo. O Artigo 132 insiste em boa hora no descabimento tico sobre divulgao de assunto mdico de forma sensacionalista, promocional ou de carter inveridico. No so poucas as tentaes criadas pela televiso em forma de entrevistas inocentes. Em Braslia, um conhecido jornal, para burlar as limitaes impostas pela Resoluo CRM?DF n 56/85, alusiva a anncios, tem usado mo de um artificio que um tipo especial de entrevista sobre assuntos de sade com destaque fotogrfico do mdico ou da instituio onde trabalha, sendo no entanto matria paga. Quase todos estes casos resultaram em protocolo. preciso estar alerta para as alternativas sutis da propaganda mdica dissimulada. A questo da divulgao fora dos meios cientficos de produtos em pesquisa, como prevista no Artigo 133, pouco freqente nos circulas acadmicos idneos e, quando ocorre, constitui em regra matria de interesse irrelevante, e os conselhos tem feito vista grossa. No me recordo de processo a respeito aberto no Conselho de Braslia. O Artigo 137, que veda a publicao de nome do mdico em trabalho no qual no tenha participado, infelizmente no raro nos crculos acadmicos, embora de comprovao impossvel. As equipes mdicas de grandes servios via de regra incluem o nome do titular (quando o mesmo no participa por iniciativa prpria) por deferncia, cortesia ou para satisfazer necessidades acadmicas de publicaes exigidas pelas escolas mdicas. A realizao do
trabalho nos prprios do servio paga mediante "incluso" do nome do titular entre o autores. O fato eqivale ao tero de aluguel. Por sinal, nosso entendimento que as associaes mdicas, congregaes escolares, sociedades de especialistas e entidades representativas de docentes deveriam tomar a si a tarefa de fiscalizar esses procedimentos inidoneos ; embora tenha carater venial, o pecado existe e traz no seu bojo reservas colossais de vaidades. Por outro lado, os conselhos esto sobrecarregados de protocolos e processos por razes graves. O Cdigo Espanhol A titulo de ilustrao vale a pena buscar em outros pases elementos que balizem as publicaes mdicas a fim de que se tenha um referencial "externo" sobre os principias e pontos fundamentais na discriminao da tica relativa publicao. Seno vejamos, o Artigo 38 do novo Cdigo de Etica Mdica Espanhol, que dispe: "O medico tem o dever de comunicar prioritariamente imprensa profissional as descobertas que tenha realizado ou as concluses derivadas de seus estudos cientificos. Antes de divulg?las ao pblico no?mdico, as submeter ao critrio de seus companheiros, seguindo os rumos adequados". Aqui evidente a preocupao em resguardar a noticia para a comunidade mdica com o fito de evitar sensacionalismo e facultar classe a discusso preliminar da descoberta. O segundo item do Artigo 38 estabelece que, "ao publicar um trabalho de investigao clinica, os autores faro constar que seu protocolo foi aprovado e supervisionado por um comit de tica". Perfeito, o Cdigo estabelece a obrigao de submeter o trabalho a previa aprovao do comit. O item 3 dispe com mais detalhes sobre as impertinncias ticas mais freqentes e chama a ateno dos mdicos: "Em matria de publicaes cientficas, constitui falta deontolgica as seguintes incorrees: dar a conhecer de modo prematuro ou sensacionalista procedimentos de eficcia ainda no comprovada ou exagerar na comunicao; opinar sobre questes nas quais no se faa competente; falsificar ou inventar dados; plagiar a publicao de outros autores; incluir como autor a quem no tenha contribudo substancialmente para realizao do trabalho e publicar repetidamente os mesmos achados". Fato curioso, e chamamos a ateno para este deslize tico vigente no seio de nossa comunidade acadmica, infreqente, mas efetivo. Por outro lado, vale a pena assinalar o chamamento moral pela publicao repetida, como, por exemplo, verificamos com trabalhos apresentados num congresso mdico regional e no congresso brasileiro de especialidade. A propsito, o fato despertou nossa ateno, porque, interessados no Congresso e membro da Comisso Organizadora, foi fcil verificar a dupla apresentao de alguns trabalhos, o que a nosso ver constitui ilcito tico bem contemplado no Cdigo Espanhol. Outras Reflexes A Questo das Normas de Publicao nas Revistas Mdicas No h no CRM?DF um protocolo sequer alusivo publicao mdica inadequada. Por outro lado, licito admitir que h numerosas publicaes em desacordo com as normas, alm de uma relao promiscua entre alguns mdicos pesquisadores e instituies
farmacuticas. Ocorre, no entanto, que o ilcito chamado de menor, ou crime sem sangue, conforme os jarges jurdicos e diante da sobrecarga de protocolos e processos por motivos graves, relevantes. Naturalmente estas questes so preterveis. De um modo geral as normas traduzem preocupaes de estilo redacional, definio de autoria, apresentao e forma, sem qualquer meno relativa publicao de fotos ou violao de sigilo de identidade. H revistas que exigem uma definio de procedncia do servio em que foi realizado o trabalho, o que parece salutar. preciso restabelecer a verdade sobre normas de publicao. Para nosso gudio e satisfao, deparamos com critrios de publicao contidos no Jornal de Pneumologia, que refletem preocupaes ticas pertinentes ao tema e confirmam a impresso de que no cabe aos peridicos (jornais ou revistas mdicas) se ater com fleuma e sisudez qualidade do texto literrio. H criterios de autoria de grande pertinencia tica, como, por exemplo, aquele que estabelece que "a incluso de um autor em um trabalho encaminhado para publicao s e justificada se ele contribui efetivamente do ponto de vista intelectual para a sua realizao". A norma bem clara e constitui um preceito tico legal de autenticidade de autoria. Mais adiante, num surpreendente arroubo de entusiasmo, diz em negrito que "a simples coleta e catalogao de dados no constituem critrios para a autoria". A frase dispensa comentrios. No bastasse, ainda arremata para nosso gaudio pneumolgico: "Sempre que pertinente, declarar no texto que o trabalho foi aprovado pela Comisso de tica do hospital". Como se ve em perfeita sintonia com a Resoluo 1.036/86 do Conselho Federal de Medicina e com o Cdigo de tica Medica. A titulo de ilustrao, convm relatar que as primeiras publicaes remontam ao perodo da medicina egpcia, 10 a 15 sculos a.C., e esto contidas no Papiro de Ebers, um dos muitos registros dos procedimentos tcnicos da poca. H uma interessante escultura em relevo na pedra que mostra uma mulher em trabalho de parto assistida pelos deuses. Nesta gravura, como em tantas outras, no parece haver grande cuidado em resguardar do publico leigo os fatos delicados da medicina. O conhecimento mdico egpcio estava inscrito em vrios papiros preservados de dinastia a dinastia. A rigor, temos, no entanto, que a literatura mdica efetiva, ou as primeiras publicaes de cunho cientfico que buscaram reproduzir o conhecimento mdico, foram os tratados escritos por Hipcrates, IV sculo a.C., entre os quais "Ares, guas e Lugares", um dos mais famosos, fixando para a posteridade lies magistrais de sade pblica. O conjunto da sua obra s veio a lume no sculo lil a.C. por estudantes alexandrinos. O primeiro autor de flego enciclopdico foi Aulo Cornlio Celso, que se encarregou de escrever sobre todo o conhecimento das artes mdicas praticadas. Foi o primeiro escritor mdico a traduzir os termos pregos para o latim. O mdico Cludio Galeno, grego de origem, tornou?se famoso na Roma Imperial a ponto de preferir conferncias para a elite romana sobre temas de anatomia e fisiologia, enquanto uma dezena de escribas anotava os seus tratados. Seu discurso era tico, porque representava a fidelidade do conjunto de aes e pensamentos, alm do compromisso da preservao e reproduo do conhecimento mdico.
Uma forma de comunicao entre mdico e pblico no mdico, cada vez mais freqente em nosso tempo e que no dispe de normas e critrios bem definidos, o "boletim" improvisado diante das comeras de TV e microfones, sempre que o mdico assediado pela imprensa por conta de um paciente notvel ou importante nos meios sociais ou polticos. A postura da falao de improviso sobre um paciente ou leitura de texto diante das cmaras tem crescido, e gostaramos de tecer a respeito algumas consideraes. Em primeiro lugar, embora no seja interdito, no deve o mdico se expor aos agentes da imprensa com seus truques e tcnicas especiais para colher informaes, quando no seja pelo risco potencial em dizer o que no deve ou negar o que no convm. Esses boletins colhidos de surpresa ou feitos de improviso criam sempre um destaque desconfortvel para a imagem do mdico, ou fazem?no tropear no tapete das etiquetas mdicas. No raro, vse o mdico envolvido em minuciosas explicaes sobre fisiopatologia e complexos fatores prognsticos que fogem compreenso do grande pblico e revestem a interveno de aspectos maantes ou pretensiosos, deixando entrever arrogncia cultural ou autopromoo s expensas de uma enfermidade alheia. Ora, a questo simples, o leigo quer saber se o doente est melhor ou no, se h chances de se salvar e quais so os resultados ou seqelas que podem advir. O resto jogar conversa fora ou investir na promoo pessoal. A matria encontra alguns parmetros nos capitulas IX e X do Cdigo de tica Mdica, que no satisfazem as nuances dos meios de comunicao, sobretudo quando se trata de uma entrevista ao vivo. E til recordar o disposto na Resoluo n 1.036/80, que versa sobre a matria. A questo do segredo vital, e o mdico s pode revelar o diagnstico quando houver interesse da parte e autorizao expressa da famlia ou do paciente, caso este possa determinar?se. Ou poder o mdico no faze?lo, mesmo assim entregando ao interessado ou ao preposto 0 laudo e o diagnstico e deixando a critrio deste a revelao final. S no lhe cabe mentir, nem como esforo supremo para encobrir a verdade, quer seja em favor do doente ou em nome de supostos e relevantes interesses sociais ou polticos. H alguns meses ocorreu em Braslia um fato ilustrativo da difcil e temerosa relao entre mdico e imprensa. Um diretor de hospital, de ndole afoita e empenhado em averiguar um suposto erro mdico, alarmado com a repercusso pblica do fato, convocou a imprensa em seu gabinete para um esclarecimento. Enquanto falava para alguns jornalistas, tinha mo o pronturio aberto da paciente e no percebeu que por trs outro cinegrafista ou camera man fazia uma tomada especial que permitiu a leitura dos registros do pronturio. Pronto, foi o bastante para o mdico acusado do suposto erro denunciar o diretor ao Conselho por infrao ao Artigo 108 do Cdigo de tica Mdica. Mas o boletim lido ou exposto um comunicado pblico sobre o estado de sade do paciente. Deve ser curto, conciso, claro, lavrado em linguagem leiga de fcil compreenso, sem termos tcnicos arrevesados, sbrio o bastante para infundir tranqilidade sobre o que no foi dito, alm de austero e transparente naquilo que est escrito. E mais nada. Um Caso de Interesse A propsito de publicao de artigo mdico em rgo da imprensa leiga, vem baila um caso ilustrativo oriundo do Cremesp que alcanou o CFM. Um mdico foi punido no
Cremesp por escrever artigos na imprensa leiga considerados atentatrios dignidade de outro colega. Causou viva polemica o pretenso direito de um mdico, exercendo a funo de "jornalista", comentar de forma desairosa a conduta de outro profissional mdico. Coube ao relator do caso no Conselho Federal entender que a publicao do mdico como "jornalista habitual" na imprensa leiga no constitua infrao ao Cdigo de tica ou s normas vigentes. O caso ilustra bem a possibilidade tica de comentar a conduta de outros mdicos na imprensa leiga. A respeito do carter das publicaes, tem a mais justa e fundada razo o preclaro duble de mdico e jurista, professor doutor Genival Veloso de Frana, quando nos ensina que "essas publicaes devem ser feitas sempre com a finalidade de intercmbio dos conhecimentos cientificos em rgos de divulgao mdica ou nas sociedades de classe, sendo vedada a divulgao atravs da imprensa leiga". Como se v, e marcante a preocupao do autor em prescrever o carter da publicao como impessoal, a servio do intercmbio cientfico, e no como vitrina para exposio de vaidades autorais. A Publicao dos Trabalhos O capitulo do CEM/88 corresponde as normas e diretrizes que reagem as publicaes de trabalhos cientficos o discernimento tico no trato com a informao cientfica e sua apresentao ao mdico leitor. Seno vejamos. O Artigo 137, j comentado, por sinal veda ao mdico "publicar em seu nome trabalho no qual no tenha participado" ou, para contemplar ainda melhor a nossa preocupao, "atribuir a si autoria de trabalho realizado por subordinados, mesmo quando executado sob sua orientao". Vejam a que ponto chega o esmero com a postura tica do mdico redator de trabalhos ou na qualidade de pesquisador! A orientao das teses de mestrado ou doutorado ilustra bem esse principio da no?expropriao intelectual de terceiros. Claro, pode e deve o autor citar o orientador do trabalho como si acontecer por sinal. No mais do que isso. O Artigo 138/CEM veda ao medico por exemplo utilizar?se de informaes ou opinies no publicadas, sem a referencia ou autorizao do autor, numa clara deferncia ao principio da propriedade intelectual. Entende?se bem, no se trata de proibio na reproduo de textos publicados, o que tem a ver com direitos autorais e reproduo comercial. E, por sinal, seria infrao tica servir?se o mdico do texto de outro mdico para ilustrar trabalho, tese ou artigo? Em principio, se o mdico veda qualquer forma de reproduo, cpia ou citao para qualquer fim, neste caso, alm do ilcito comercial, vemos uma rasura ao Cdigo na forma do Artigo 137, mesmo que a publicao do texto de outrem seja parcial. Quanto simples reproduo de livros ou textos para fins de estudo pessoal e sem carter lucrativo, temos que possa existir violao do direito de propriedade comercial, mas no necessariamente um ilcito tico, embora seja desconfortvel esta prtica e o Conselho por sua vez no a recomende. O Artigo 139 veda ao mdico "apresentar como originais idias, ou descobertas ou ilustraes que na realidade no o sejam. A Constituio E o que significa no caso ser original? Entendemos que significa ter origem no prprio autor, ser da criao e da iniciativa do mesmo, o que no deve ser confundido com ineditismo. Esse principio pretende exigir do mdico absoluto respeito ao trabalho
intelectual dos seus pares, sobretudo no mbito da pesquisa, palco freqente de colises e pequenos abalos cismicos motivados pela vaidade ou arreigados interesses lucrativos. evidente que a reproduo de parte ou do todo do texto de um autor sem autorizao do mesmo ou referencia constitui crime contra a propriedade intelectual e violao flagrante do direito autoral. O Cdigo de tica Mdica, como remete o mdico a legislao vigente, sujeita?o, portanto, ao acatamento do direito estabelecido em lei. Vale citar o item XXVIII do Artigo 5., relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos inscritos na Constituio, que assegura a proteo s participaes individuais em obras coletivas e a reproduo da imagem e voz humanas inclusive nas atividades esportivas, acrescido do item XXVII, que estabelece que "aos autores pertence o direito exclusivo de utilizao, publicao ou reproduo de suas obras, transmissvel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar". Por fim, o Artigo 140, que veda ao mdico "falsear dados estatsticos ou deturpar sua interpretao cientfica", claro sempre em proveito pessoal. Isto porque vemos que a interpretao equivoca ou desconhecimento de outros fatos ocorrncia freqente na avaliao de fatos cientficos. Sua deturpao consciente com o objetivo de vantagem pessoal direta ou indireta crime de m f ideolgica. A comunidade cientfica mdica mostra?se pouco afeita aos ilcitos ticos comentados, porquanto sua obstinao e devoo pesquisa j exigem em regra um esforo intelectual to acentuado e uma erudio to consciente, que o mdico esquece ou desaprende a burlar as normas ticas da convivncia. Alm disso, o confronto com a verdade cientfica to angustiante que no d margem a pequenos descuidos ticos. A preparao intelectual do pesquisador em regra significa um irrevogvel compromisso com a cultura, uma renuncia dissimulada as formas convencionais de lazer, alm de trazer em seu bojo uma preocupao de benfeitoria ao semelhante, que o torna naturalmente cativo da tica universal. Literatura e Medicina Por fim, consideramos descabido falar sobre tica das publicaes mdicas sem deixar de consignar o valioso acervo literrio dos mdicos praticantes da literatura em forma de prosa ou poesia. Talvez depois do direito, a profisso que mais contribuiu para as letras em nosso pais foi a medicina. A comear pelo conceito antigo de que o mdico era um homem culto e erudito que sabia e praticava a medicina. Por sinal esse caminho de mo?dupla, o que significa que h bons literatos de origem que praticam com xito a medicina. curioso, o mdico via de regra abraa o gnero da poesia como forma preferencial de escoamento das reflexes. Qual a razo aparente? A economia de meios e o poder de sntese so atrativos para o mdico, que escreve longos relatrios voltados para a busca do detalhe. Em segundo lugar, o exerccio da abstrao na tecitura inorgnica da poesia atende melhor aos anseios da busca do inefvel, a perfeio que no encontra na condio humana, frgil e perecvel. Esse contraste entre a quimera e a chaga que empolga o medico em favor da utopia. A vocao para o etreo talvez se explique pelo desencanto permanente com a morte no plano real e pela degradao fsica da condio humana. Por outro lado, a palavra e o sentimento so elementos comuns literatura e medicina, alm do empolgante e eterno conflito entre a vida e a morte, ser e no ser, que envolve a raiz do discurso e a raiz da alma. Jos Gonalves de Magalhes, Visconde de Araguaia, comea esta famlia de escritores mdicos que passa por Laurindo Rabelo, Roberto de Oliveira, Olavo Bilac, que cursou medicina at o 5 ano, o poeta Jorge de Lima, da Nga Fula, o poeta bissexto Pedro Nava, o exmio sonetista Luiz Delfino, o moderno Jamil Almusar Haddad, Afrnio Coutinho e Afrnio
Peixoto, o ilustre Egas Muniz Barreto, alm de Guimares Rosa, o andarilho de estarias. Enquanto a poesia perscruta os espaos em busca da compreenso para os gemidos d'alma, a medicina busca o lenitivo possvel para a limitao fsica da condio humana. Portanto, temos que no so atividades excedentes, so vasos comunicantes e no apenas cabem na mesma cabea, como s vezes se completam. Termo de Agradecimento: o presente trabalho constitui uma homenagem ao conselheiro Afonso da Rocha Campos, que nos forneceu substrato para o presente capitulo e cuja conduta irrepreensvel pe?se acima do discurso tico. Bibliografia . A Medicina e sua Histria-EPUC-Editor Jos Maria de Sousa Meio- Rio de JaneiroBrasil. . A nova Constituio da Repblica Federativa do Brasil-1988. ALCANTARA, H. R. Publicidade Imoderada, in Deontologia e Diceologia Mdica-1 a edio ed. Andrei-So Paulo, 1979 pg. 115 a 118. ALCANTARA, H.R. Juramento de Hipcrates, in Normas Legais e ticas para o Exercicio da Medicina-LTr Editora, So Paulo, 1984, pag. 517 e 520 a 526. CAMPOS, J.A. e CAMPOS, J.A. Publicidade e Divulgao-Capitulo livro O Hospital-a Lei e a tica-Ed. LTr. 1976, pgs. 103 a 107. FVERO, Flaminio in Responsabilidade Mdica, cap. Vlil do livro-Noes de Deontologia Mdica e Medicina Profissional-Livraria Pimenta de Mello, Rio de Janeiro, 1930, pgs. 121 a 140, pg. 115. FRANA, G.V. in Direito Mdico, 5? edio FEBYK, So Paulo, 1992. Capitulo Publicidade e Publicaes Mdicas-pg. 166 a 180. LANDMANN, J., in revista VEJA, pginas amarelas, entrevista ano 1986. LANDMANN, J., in A tica Mdica sem Mscara, Livro ed. Guanabara-cap. Juramento de Hipcrates, ano 1985, pgs. 20 e 21. MENDES, A.C., Segredo Mdico-parecer da Assessoria Juridica do CFM, 1980. Nuevo Cdigo de tica y Deontologia Mdica-Espanha, 1990, Publicaciones Professionales art. 38. THORWALD, J.-O Sculo dos Cirurgies-Ed. Hemus SP parte 11-"Luz ou o Despertar do Sculo"-pg. 97 a 123.
Вам также может понравиться
- Bases FilosoficasДокумент35 страницBases FilosoficasGeorgea AlexandraОценок пока нет
- BIOÉTICA, ÉTICA E MORAL: CONCEITOS E DIFERENÇASДокумент6 страницBIOÉTICA, ÉTICA E MORAL: CONCEITOS E DIFERENÇASDaniele GutierrezОценок пока нет
- Ética, Moral e BioéticaДокумент8 страницÉtica, Moral e BioéticaTrajano Xavier da Silva100% (1)
- UCMO Ética IntroduçãoДокумент50 страницUCMO Ética IntroduçãoShelsia Simão100% (2)
- Tica e Filosofia Moral GeralДокумент21 страницаTica e Filosofia Moral GeraltpolliОценок пока нет
- Bioética e eutanásia: o psicólogo frente ao conflitoДокумент3 страницыBioética e eutanásia: o psicólogo frente ao conflitoAline RibasОценок пока нет
- Bioética e Biodireito: Textos de apoioДокумент67 страницBioética e Biodireito: Textos de apoioErica MendonçaОценок пока нет
- Ética e sociedade: valores e condutas moraisДокумент19 страницÉtica e sociedade: valores e condutas moraisOrione PereiraОценок пока нет
- APONTAMENTOS DE É´TICA ANO PROPEDÊUTICO(1)_030117Документ49 страницAPONTAMENTOS DE É´TICA ANO PROPEDÊUTICO(1)_030117guteresgututoОценок пока нет
- Reprodução assistida e bioética metaparentalidadeОт EverandReprodução assistida e bioética metaparentalidadeРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Tópicos de Ética, Direito e Expressões JurídicasДокумент21 страницаTópicos de Ética, Direito e Expressões JurídicasEBMОценок пока нет
- COHEN, C. - Por Que Pensar A BioéticaДокумент2 страницыCOHEN, C. - Por Que Pensar A Bioéticaricardonhjrhotmail.comОценок пока нет
- A Ética e A Moral Na ProfissãoДокумент4 страницыA Ética e A Moral Na ProfissãoThiago Ribeiro BorgesОценок пока нет
- Os Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaДокумент13 страницOs Fins e Os Meios e Ética para A Vida HumanaArnaldo De MeloОценок пока нет
- Valores, ética e responsabilidade socialДокумент11 страницValores, ética e responsabilidade socialdulcesousalimaОценок пока нет
- Tópicos Especiais de Ética e Filosofia PolíticaДокумент40 страницTópicos Especiais de Ética e Filosofia PolíticaCarlos CoutinhoОценок пока нет
- Fundamentos da Ética emДокумент67 страницFundamentos da Ética emsamantaalex100% (1)
- bioetica_7Документ17 страницbioetica_7Eusébio AndradeОценок пока нет
- Escola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoДокумент29 страницEscola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoPaula lОценок пока нет
- Etica PedagogicaДокумент13 страницEtica PedagogicaAvelino AugustoОценок пока нет
- Licao Numero 1Документ6 страницLicao Numero 1Joel Felisberto NhantumboОценок пока нет
- Trabalho Academico 2022-2 (Temas em Filosofia)Документ14 страницTrabalho Academico 2022-2 (Temas em Filosofia)vinicius nunesОценок пока нет
- Ética, Bioética e a busca pela vida realizadaДокумент47 страницÉtica, Bioética e a busca pela vida realizadaDaniel Victor OliveiraОценок пока нет
- UA Etica e Sociedade No Mundo GlobalizadoДокумент29 страницUA Etica e Sociedade No Mundo Globalizadoeliane cantarelliОценок пока нет
- 2010 3Документ6 страниц2010 3VAGNER COSTAОценок пока нет
- Ciência, Ética e a SociedadeДокумент2 страницыCiência, Ética e a SociedadeBruna OlíviaОценок пока нет
- STI_UA03_r1_c717e0d851979ff3c7f5b6e190e31655Документ7 страницSTI_UA03_r1_c717e0d851979ff3c7f5b6e190e31655Gabrielly ApostoloОценок пока нет
- O Que É Ser ÉticoДокумент10 страницO Que É Ser ÉticoLarissa DinizОценок пока нет
- 2º Ano PVE (Aula 2)Документ20 страниц2º Ano PVE (Aula 2)Nélio AlmeidaОценок пока нет
- Ética Prática e questões contemporâneasДокумент6 страницÉtica Prática e questões contemporâneasRan OmeleteОценок пока нет
- 7 CP Mod1 I C ÉticaДокумент13 страниц7 CP Mod1 I C ÉticaAmanda SpinelliОценок пока нет
- Etica SocialДокумент10 страницEtica SocialEusebio Bernardo Fortunato100% (2)
- Work PDFДокумент9 страницWork PDFAnonymous tP8pQIPb4Оценок пока нет
- 01 - Trabalho 01 - BioéticaДокумент10 страниц01 - Trabalho 01 - BioéticaItajá JúniorОценок пока нет
- Marco Azevedo IPAДокумент14 страницMarco Azevedo IPAapi-3720110Оценок пока нет
- Introdução À Ética e BioéticaДокумент38 страницIntrodução À Ética e BioéticaFernando OliveiraОценок пока нет
- Tipos de Ética - SignificadosДокумент5 страницTipos de Ética - SignificadosRuben AraújoОценок пока нет
- Ética e Serviço PúblicoДокумент29 страницÉtica e Serviço Públicolarissy.santos15Оценок пока нет
- Ética e humanização nos serviços de saúdeДокумент55 страницÉtica e humanização nos serviços de saúdeThaiseОценок пока нет
- Aula 00 - Plano de Aula e Introdução A ÉticaДокумент24 страницыAula 00 - Plano de Aula e Introdução A ÉticadannhalabeОценок пока нет
- Filosofia 5 Moral Ética Henrique Esteves Nº15 CT4Документ5 страницFilosofia 5 Moral Ética Henrique Esteves Nº15 CT4marisa silvaОценок пока нет
- (5a06dada 6c32 468d 8b4a C3d9fdfe637c) Os ValoresДокумент9 страниц(5a06dada 6c32 468d 8b4a C3d9fdfe637c) Os Valoresromualdo2512Оценок пока нет
- Distinguindo A Moral Da Etica - Gilberto KronbauerДокумент2 страницыDistinguindo A Moral Da Etica - Gilberto KronbauerVinicius DanielОценок пока нет
- Vida Humana Da Concepcao A Morte Aspectos EticosДокумент20 страницVida Humana Da Concepcao A Morte Aspectos EticosjanianaОценок пока нет
- Ética - Etica HojeДокумент5 страницÉtica - Etica HojeDamião F. KunhalaОценок пока нет
- A Ética e suas relações com outras ciênciasДокумент6 страницA Ética e suas relações com outras ciênciasAntonio CarlosОценок пока нет
- Ética, Moral e Direito PDFДокумент7 страницÉtica, Moral e Direito PDFRenato FerreiraОценок пока нет
- Bioética SaúdeДокумент6 страницBioética SaúdeAmanda OliveiraОценок пока нет
- A bioética como novo paradigma: crítica ao cartesianismoДокумент23 страницыA bioética como novo paradigma: crítica ao cartesianismoFausto JaimeОценок пока нет
- Bioética e Biodireito: Evolução Histórica e PrincípiosДокумент66 страницBioética e Biodireito: Evolução Histórica e PrincípiosJosé MalondeОценок пока нет
- APOSTILA ÉTICA - 1ª PARTEДокумент12 страницAPOSTILA ÉTICA - 1ª PARTEGessyka CoutoОценок пока нет
- Topicos Especiais Das Ciencias JuridicasДокумент21 страницаTopicos Especiais Das Ciencias JuridicasRafael Lemos LibardiОценок пока нет
- jcatama,+A+questão+ética+e+a+saúde+humanaДокумент5 страницjcatama,+A+questão+ética+e+a+saúde+humanajuniamariusa.conteudistaОценок пока нет
- 181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Документ30 страниц181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Elisabete Célia SantosОценок пока нет
- Etica No CotidianoДокумент12 страницEtica No Cotidianoivanaldo tavaresОценок пока нет
- Ética na Avaliação PsicológicaДокумент7 страницÉtica na Avaliação PsicológicaPedro LajaОценок пока нет
- 1 - Etica Sua Origem e Doutrina - Cap 1Документ13 страниц1 - Etica Sua Origem e Doutrina - Cap 1manoel henriqueОценок пока нет
- Intubação Sequência RápidaДокумент39 страницIntubação Sequência RápidaFábio Henrique MotterОценок пока нет
- Bloqueios de Nervos PeriféricosДокумент54 страницыBloqueios de Nervos PeriféricosFábio Henrique Motter100% (1)
- Gerenciamento de ResíduosДокумент89 страницGerenciamento de ResíduosFábio Henrique MotterОценок пока нет
- Gve 7ed Web Atual AapДокумент24 страницыGve 7ed Web Atual AapLourena MartinsОценок пока нет
- Gve 7ed Web Atual AapДокумент24 страницыGve 7ed Web Atual AapLourena MartinsОценок пока нет
- Gve 7ed Web Atual AapДокумент24 страницыGve 7ed Web Atual AapLourena MartinsОценок пока нет
- Cálculo estequiométrico: resolução de problemas químicosДокумент24 страницыCálculo estequiométrico: resolução de problemas químicosJosemar de SouzaОценок пока нет
- 61 TermologiaДокумент7 страниц61 Termologiaapi-371309667% (3)
- Geometria Analítica PlanaДокумент89 страницGeometria Analítica PlanaLeandro Marques100% (2)
- Gve 7ed Web Atual AapДокумент24 страницыGve 7ed Web Atual AapLourena MartinsОценок пока нет
- ReadmeДокумент1 страницаReadmeRíminni LavieriОценок пока нет
- Semana 1Документ90 страницSemana 1Giovanna CrisostomoОценок пока нет
- Fórmulas de CinemáticaДокумент3 страницыFórmulas de CinemáticaBruno Finoti100% (1)
- O manejo da dor em pacientes adultos por enfermeirosДокумент30 страницO manejo da dor em pacientes adultos por enfermeirosPedro PauloОценок пока нет
- Exercícios A Partir Do EstudoДокумент1 страницаExercícios A Partir Do EstudoFrancisco XikimОценок пока нет
- Como bloquear ataques Man-in-the-middle (MITM) com ArponДокумент9 страницComo bloquear ataques Man-in-the-middle (MITM) com ArponDiego Heitor Corrêa BenignoОценок пока нет
- Catálogo Lançamentos YoiДокумент16 страницCatálogo Lançamentos YoiHenrique LopesОценок пока нет
- 2050M Parts CatalogДокумент556 страниц2050M Parts CatalogFerney Lara100% (3)
- Ensaios clínicos com acupuntura: desafios metodológicos e éticosДокумент8 страницEnsaios clínicos com acupuntura: desafios metodológicos e éticosAfonso William Ribeiro0% (1)
- ECO DiagnoYstica - COVID-19 Ag ECO Teste TR.0078Документ5 страницECO DiagnoYstica - COVID-19 Ag ECO Teste TR.0078SethyBlakeОценок пока нет
- Manual de Instalação e Operação Split Hi-WallДокумент56 страницManual de Instalação e Operação Split Hi-Wallelihimas50% (2)
- A Evolução Da Indústria Automotiva No Brasil Desde o Século 1Документ7 страницA Evolução Da Indústria Automotiva No Brasil Desde o Século 1machadoju36Оценок пока нет
- A Monetarização Da Vida SocialДокумент20 страницA Monetarização Da Vida SocialPaulo JuniorОценок пока нет
- Formulário de Candidatura - Treinamento Projectos de InovaçãoДокумент3 страницыFormulário de Candidatura - Treinamento Projectos de InovaçãoSergio Alfredo Macore100% (1)
- A Biblia Do Cetico Absurdos Na BibliaДокумент30 страницA Biblia Do Cetico Absurdos Na BibliaJose Antonio carro ANINHA FESTASОценок пока нет
- Dissertação sobre os métodos para se tornar primeiro-ministroДокумент19 страницDissertação sobre os métodos para se tornar primeiro-ministroCleide Rodrigues RodriguesОценок пока нет
- Manual Didático Pedagógico LEGO EDUCATIONДокумент124 страницыManual Didático Pedagógico LEGO EDUCATIONEvandro Andrade100% (3)
- Apostila Matematicarlos Conjuntos NumericosДокумент19 страницApostila Matematicarlos Conjuntos NumericosJosé AllisonОценок пока нет
- Metodologia Análise PMДокумент62 страницыMetodologia Análise PMJoão Alexandre Monteiro LemosОценок пока нет
- Análise pluralista da inserção do Brasil na agenda climáticaДокумент8 страницAnálise pluralista da inserção do Brasil na agenda climáticaThaís PereiraОценок пока нет
- Geo 2 F 98Документ5 страницGeo 2 F 98Flávio de FalcãoОценок пока нет
- Luiz Kleber Queiroz - Música Modal Na Ciranda de AdultosДокумент17 страницLuiz Kleber Queiroz - Música Modal Na Ciranda de AdultosLuiz Kleber QueirozОценок пока нет
- Textos administrativos: análise da procuração e exposiçãoДокумент13 страницTextos administrativos: análise da procuração e exposiçãoZünëÿdÿ Jülïäö Dös MüchängäОценок пока нет
- Manual de normas de segurançaДокумент9 страницManual de normas de segurançafleecrazy100% (1)
- Origem do PecadoДокумент10 страницOrigem do PecadoSérgio SilvaОценок пока нет
- 1º Ano Ensino MédioДокумент2 страницы1º Ano Ensino MédioSilvana GirardiОценок пока нет
- Caderno 5 Aluno Portugues 672Документ47 страницCaderno 5 Aluno Portugues 672Magna OliveiraОценок пока нет
- Sistemas Microcontrolados 1Документ11 страницSistemas Microcontrolados 1Lilian De Figueiredo CarneiroОценок пока нет
- Tratamento Ortodôntico Muito Precoce, Quando, Por Que e ComoДокумент46 страницTratamento Ortodôntico Muito Precoce, Quando, Por Que e Comodrluizfelipe7179Оценок пока нет
- Monografia TCC AuditivoДокумент64 страницыMonografia TCC AuditivoAléxia Corrêa PompeoОценок пока нет
- Os Sistemas Vocálicos Do InglêsДокумент16 страницOs Sistemas Vocálicos Do InglêsAlineОценок пока нет