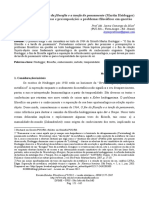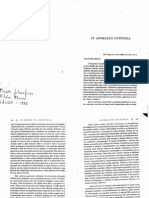Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Artigos
Загружено:
Gustavo BravoОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Artigos
Загружено:
Gustavo BravoАвторское право:
Доступные форматы
Por uma Antropologia Hiperdialtica J l se vo quinhentos anos desde o primeiro esbarro da civilizao europia sobre a civilizao americana aborgene.
Ondas de destruio reverberaram pelas montanhas e plancies do Novo Mundo causando o maior holocausto da histria da humanidade. De 60 a 100 milhes de pessoas foram sacrificadas nos trs primeiros sculos desse choque, e outro tanto surgiu em seu lugar, com novas feies e em novos modos de ser. Dos originais senhores das Amricas restaram extensos contingentes de camponeses submissos e oprimidos que ainda guardam no peito a memria de suas civilizaes; das sociedades igualitrias restaram um meio milhar de povos menos numerosos que lutam para preservar o que lhes coube das terras e das culturas que os constituam. As novas civilizaes substituintes, mestia aqui, transplantada de fora acol, no parecem ver sada para os sobreviventes autctones seno a sua incorporao nos caldeires culturais em efervescncia. Este livro destoa desta viso fatalista, terminal, e afirma que nem todas as favas esto contadas no jogo da histria. Algo est acontecendo no presente que vai repercutir diferente no futuro. Apesar da herana maldita da histria e das desmeritosas elocubraes que o pensamento ocidental faz do ndio, proponho-me a demonstrar que no tarde nem intil proclamar que o ndio, do mesmo modo que o europeu ou o brasileiro pertence a si mesmo e ao mundo, no existe para o outro nem para o passado. Os povos indgenas fazem parte do conjunto da humanidade e suas sociedades so regidas pelos mesmos princpios biolgicos, psquicos e sociais que definem o homem como um ser da natureza e da cultura. Esto inseridos na histria, relacionam-se com outros povos diferentes, sofrem sua influncia e de algum modo tambm os influenciam. Fora trinta anos atrs, seria uma temeridade tomar como radicalmente verdadeiras essas noes. Isso porque a autoconfiana do mundo ocidental, o mundo que dita o discurso sobre o homem moderno e que se identifica quase que integralmente pelo porvir, pela idia do progresso, desqualificava o valor do ser e do viver dos povos indgenas, considerando-os seres parados no tempo e sem futuro. Decerto, a viso do mundo moderno sobre os ndios continua opaca. No somente o senso comum, mas a prpria antropologia e a filosofia, criaes e refinamentos intelectuais do mundo ocidental, tm posies predominantes onde o ndio situado como o primitivo, o que ficou para trs, o sem-histria, para no dizer, o inferior. Vem sendo tenaz a luta que se trava no seio do pensamento ocidental ao longo desses ltimos quinhentos anos para desenvolver os conceitos e noes sobre o ndio e equipar-lo ao mundo moderno. Essa luta reflete as convices e as incertezas da formao do pensamento ocidental, onde os empuxos ideolgicos muitas vezes determinam os termos do seu discurso, ao mesmo tempo encobrindo e expondo os filamentos da verdade em formao. Ao cabo, o pensamento ocidental sobre o ndio, o que aqui chamarei de pensamento antropolgico, toma conscincia da humanidade do ndio, reconhece-o na biologia, mas tergiversa na psicologia e estilhaa o cultural em mil maneiras exticas, recompondo-o ora em blocos constitutivos evolucionrios, ora deitando-o num plano indefinido de pretensa igualdade. A despeito do que acham seus praticantes, o pensamento
antropolgico no evolui desde a dcada de 1960, no transcende seus impasses, apenas cresce em dados e se refina em autocrtica. Na verdade, o pensamento antropolgico, que brotou das dvidas do senso comum, caminha em ziguezague, indo e vindo em variaes de dois temas polares. Um tende a qualificar o ndio como o diferente, o outro, o extico, o primitivo, o passado. O segundo tenta definir o ndio como o mesmo, o igual, o semelhante, o contemporneo. Esses dois temas servem de trilhos e parmetros de todo o desenrolar reflexivo do pensamento antropolgico. So temas da prpria civilizao ocidental e dizem respeito aos problemas que ela engendrou em seu prprio ser. Eis ento a primeira premissa terica em que o presente livro se baseia para desenvolver sua narrativa, argumentaes e construes. a de que a reflexo antropolgica, intencionada a falar sobre o ndio, tende a falar primordialmente de si mesma e para si. Ela surge de uma problemtica cultural interna, a dinmica da civilizao ocidental, e a reflete. Sendo produto do desenvolvimento do mundo ocidental, vagueia com os movimentos que lhe do impulso e participa de suas mais acirradas disputas. Privilegiando a si mesma como temtica primordial, o outro no mais das vezes s existe como sua ancila, s vezes seu oposto, s vezes o que restou de seu passado. Por que ento fazer antropologia, tentar compreender o ndio, ou outro povo qualquer, se no fundo se estaria sempre falando de si mesmo? Eis uma questo que persegue tambm o ofcio do historiador, e para ambos tem-se a mesma resposta: que se o estudo do passado, do ndio, ou do outro, parte das problemticas do presente, do mesmo, serve de amparo a essas problemticas, ou se obscurece por elas, tambm por elas que a razo se ilumina, e as diferentes problemticas se equacionam em suas similitudes. Da surge a segunda premissa terica deste livro: o conhecimento do passado, do ndio, ou do outro se d num primeiro momento pela dialtica da similitude, da aproximao ao presente e ao mesmo, sem que aquele seja reduzido a este. Essa dialtica implica o reconhecimento da diferena, que no deixa de ser, por princpio, aquilo que lhe d incio. Implica tambm a suspenso de temporalidades e o encontro, pelas possibilidades e potencialidades da linguagem e da cultura, do eu e do outro. Desse ponto de vista, fazer antropologia mergulhar nas razes da universalidade humana, buscar as bases comuns do homem e entender os processos de disperso e diferenciao. E mais, como parte das lutas do mundo a que pertence, fazer antropologia se definir nesse mundo, de maneira que toda e qualquer antropologia parte inicialmente de uma posio social, de classe, de estatuto e de viso do mundo. Em conseqncia, declaro a terceira premissa terica deste livro. A reflexo antropolgica que aqui se desenvolve se assume responsvel por seus pronunciamentos culturais e polticos, se compromete com uma viso de mundo que prope, junto universalidade e diferenciao do homem, a intersubjetividade engajada do dilogo, da compreenso mtua em busca do sentido para o homem. Enfim, da continuada existncia dos povos em busca da liberdade, seu sentido maior. Essas trs premissas configuram uma base metodolgica que permitiria a formao de uma antropologia no somente histrica (portanto dialtica), que subsumisse as
contribuies antropolgicas do passado, como o materialismo dialtico, o particularismo cultural e o estruturalismo, mas tambm dialgica, porque reconhece que o conhecimento do outro se constitui tambm como processo intersubjetivo entre seres transcendentais que buscam sentido para si, sejam eles momentaneamente sujeito ou objeto. Tal antropologia, que eu chamaria de ontossistmica, isto , que toma o ser como estando dentro e ao mesmo tempo acima da totalidade, ainda um ideal a ser atingido precisamente porque o pensamento ocidental se ope ao pensamento indgena e relega o ser cultural indgena ao seu contrrio ou ao seu inferior. A compreensibilidade mtua entre essas duas formas de pensamento, se que elas existem nessa dicotomia, constitui uma das principais tarefas que a antropologia ontossistmica deveria tomar para si. Antes de ser um ato de dominao, de fazer o discurso sobre o outro, seria um ato de reconciliao e transcendncia em relao a uma situao criada pela modernidade que estabeleceu duas formas de humanidade, uma real contradio dos termos de constituio dessa humanidade. No meu entender, existem agora condies para se equacionar corretamente e ir alm dessa oposio. A principal delas a constatao da sobrevivncia fsica, tnica e cultural dos povos indgenas, ou de uma grande parte de suas sociedades. Afinal, essa segunda humanidade foi concebida tendo em vista o seu fim. Esse fato ainda to singular que em muitos casos nem mesmo os ndios se deram conta de suas conseqncias, embora estejam agindo a partir dele. Os governos nacionais, como o do Brasil, os indigenistas e antroplogos em geral no avaliaram ainda todas as dimenses do seu significado. E o pensamento ocidental, vulgar ou erudito, nem o conhece todavia. O segundo fator condicional a prpria crise do pensamento ocidental, fruto da angstia de uma putativa guerra total, do pessimismo prospectivo, que a nova descrena no progresso e, pior ainda, da aceitao passiva da desigualdade social. Em suma, crise de autoconfiana, que nem a religio nem a cincia do alvio totalmente. A sobram margem e espao para a experimentao, para uma reflexo formal e para uma nova configurao intelectual que talvez resulte numa nova autoconscincia que atine para a nova cultura que est a se constituir. Em tese, pelo menos. E o que nos interessa aqui: obter condies para refletir e especular, abrir um novo horizonte, mesmo que o seu terreno no possa ser facilmente trilhado. A possibilidade real e concreta da continuao dos povos indgenas no meio e nas margens do mundo ocidental e suas variaes, bem como a aceitao, forada ou inconsciente, no importa, deste fato pelo mundo que h quinhentos anos os rejeita - so as duas grandes condies para se ter esperanas da criao de uma nova antropologia, de um novo conhecimento do homem. Faz-se mister tentar. Nesse sentido este livro se prope a trazer a lume algumas dessas novas possibilidades, avaliar algumas das estratgias anteriores que obscureciam o conhecimento, discutir uma ou duas conseqncias dessas novas conceituaes, e apresentar uma proposta metodolgica para futuras investigaes. Para isso far uso de um mtodo muito comum na antropologia e na histria, que o estudo de caso. Tomar como tema os ndios Tenetehara, de fala tupi, agricultores e caadores tradicionais do Maranho e Par, sobreviventes de 400 anos de opresso e dominao poltica e cultural no seu relacionamento com o mundo luso-brasileiro, potenciais habitantes do Brasil nos sculos adentro.
A surpresa na prtica e na teoria A sensao que domina o ato de escrever este livro sobre os ndios Tenetehara de alegria, e ao mesmo tempo apreenso, pela esperana, que inevitavelmente permeia o desenrolar da minha anlise sobre a histria, a cultura e a economia tenetehara, de que esse povo continuar a existir como povo culturalmente autnomo por tanto tempo quanto eu sou capaz de imaginar os tipos de transformaes que ocorrero no nosso mundo. Admito que minha viso curta e portanto me contento em imagin-los com a mesma coeso tnica pelo ano 2030, quando espero estar tambm entre eles. Hoje os Tenetehara perfazem cerca de 14.000 pessoas, e os estimo em 40.000 na quarta dcada do Terceiro Milnio. No sem cautela que inicio este livro falando de previso. Talvez at por receio de que o destino me pregue a mesma pea que se verifica no vaticnio formulado quase 60 anos atrs pelos etnlogos que os estudaram, Charles Wagley e Eduardo Galvo, quando afirmaram que esse povo indgena estaria assimilado e misturado na populao cabocla regional no espao de uma gerao ou pouco mais . Mais ainda, porque a proposta de prever no faz parte da metodologia antropolgica e aparece nessa literatura apenas como leviandade ou como manifestao ideolgica de uma srie de contradies, escondidas ou escamoteadas, nas explicaes de um fenmeno que a olhos rasos parece limpidamente transparente. Se me arrisco, portanto, a integrar em minhas anlises a idia de previso, faz-se necessrio esclarecer em que medida no estarei usando essa idia levianamente. Para isso vejamos como a antropologia se posiciona de forma dbia perante o seu objeto de estudo e as implicaes desse posicionamento. A tradio exercitada na antropologia acadmica, desde Franz Boas e Bronislaw Malinowski at Claude Lvi-Strauss, se circunscreve em princpios de apurao de fatos sociais vistos como dados sincrnicos e para cuja teorizao o mtodo comparativo, em vrias modalidades, a nica forma possvel e legtima de se chegar a formulaes de carter cientfico sobre a natureza do ser humano. Dada a multiplicidade de formas culturais, a complexidade dos fatores que constituem a dinmica cultural e, por outro lado, o receio de generalizaes apressadas, tais como aquelas postuladas no sculo XIX, a antropologia tem se pautado por um projeto de produo de conhecimento bastante cauteloso. Nele, o critrio da previsibilidade, corrente na metodologia das cincias exatas ou fsicas, excludo do conjunto de normas e regras de legitimao da atividade antropolgica, seja na forma de monografias etnogrficas, seja nos estudos etnolgicos de instituies sociais ou padres culturais, seja mesmo nos trabalhos de maior envergadura intelectual sobre os chamados 'traos universais' do ser humano. Entrementes, um dos projetos mais ambiciosos da antropologia desde os tempos do evolucionismo, qual seja, o estruturalismo de Lvi-Strauss, se modelou com um objetivo cientfico de estabelecer a unicidade do Homo sapiens, os universais da cultura e as determinaes ulteriores da constituio do ser humano. Baseando-se numa homologia entre cultura e lngua, onde um modelo da estrutura lingstica podia ser aplicado ao estudo da cultura, o estruturalismo de Lvi-Strauss parecia estar estabelecendo uma estratgia que daria um formato cientfico - incluindo a a metodologia de previsibilidade - ao estudo da cultura. O papel da antropologia como cincia humana era descobrir por baixo do aparente, do emprico, um modelo estruturado de tal forma que explicasse todos os pontos significantes da realidade aparente, inclusive as tendncias de suas transformaes, isto , aquilo que viesse a ser
histria. O objeto da antropologia, o ser cultural, existe como um sistema dentro de outros sistemas e explicvel pelas estruturas que subjazem a ele. Era um projeto que ao menos no incio usava dos mtodos dialtico, sistmico ou funcionalista, e estrutural ou lingstico. Entretanto, o caminho tomado foi levando o fulcro de seu interesse - das Estruturas Elementares do Parentesco (1949), em que o mtodo dialtico e as contribuies de evolucionistas sociais como Lewis Henry Morgan so tomadas em conta, s Mitolgicas (1964-1971), onde somem tanto a histria quanto a funo - do ser cultural, em suas variaes e semelhanas, para o ser estrutural mnimo, a mente humana. Nessa linha de argumentao todos os fenmenos dignos de estudo - parentesco, formas de classificao, totemismo, cincia (concreta e abstrata), mito, etc. - se tornavam no mais que conjuntos de representaes de uma estrutura bsica, semelhante estrutura lingstica, que agia por uma lgica de natureza binria, a mente do ser humano. Nesse mister Lvi-Strauss logrou produzir obras de interesse universal e comentrios sobre muitos assuntos que suscitaram a ateno de todo o mundo intelectual at pelo menos finais da dcada de 1970. Entretanto, o vigor e o brilhantismo desse trabalhos e das tantas hipteses levantadas para serem testadas raras vezes puderam ser repetidos a contento por outro autor. Um ou outro, como Pierre Clastres, logrou produzir obras significativas emulando as anlises do mestre. Com isso foram se diluindo as possibilidades de verificao de suas hipteses, e os aspectos relacionados a um teste de previsibilidade foram sendo deixados de lado. Por exemplo, no caudaloso estudo sobre os mitos, o teste sobre a postulada comunicabilidade entre mitos elaborados por povos que na realidade estavam impossibilitados de se comunicarem entre si residiria no numa busca emprica e funcional de natureza histrica, mas no postulado apriorstico de que os mitos so fenmenos produzidos em estruturas finitas de ordem transformacional preordenada pela nica e mesma mente humana. Da a sua comunicabilidade implcita e necessria a qual caberia ao antroplogo decifrar pela verificao de sua estrutura para resolver as pendncias de entendimento deixadas ao longo da histria. Dessa forma, conclua Lvi-Strauss, nenhum mito vale por si mesmo, ou inteligvel em si mesmo, seno ao ser confrontado com outros mitos que lhe precedem ou lhe seguem. Ora, por mais instigante que seja essa proposio, nada se pode provar nem desprovar sobre ela. Pelo menos no pelos parmetros de uma lgica cientfica ou sistmica, o que relegaria tal proposio, na melhor das hipteses, a uma lgica paraconsistente . Por outro lado, apesar de afastar-se do desafio de fazer previses, o que se constata em relao posio que Lvi-Strauss, e de resto de todos os grandes antroplogos que contriburam para o conhecimento da cultura, bem como quase todos os seus epgonos, que jamais deixaram de fazer claros e manifestos prognsticos sobre o destino inexorvel e fatal dos chamados povos primitivos, do ndio. Nem vale a pena cit-los aqui, pois so efetivamente todos. Nesse ponto no se distanciaram dos antroplogos evolucionistas do sculo passado, apenas usaram de justificativas que consideravam mais realistas ou auto-evidentes, no necessariamente cientficas. Os evolucionistas, sobretudo se escolhermos como exemplo prototpico o j citado Lewis Henry Morgan, fizeram predies a partir dos argumentos inerentes teoria evolucionista, pela qual os povos primitivos atuais no somente eram representaes vivas de um passado que todos os povos teriam experimentado, como continuavam em processo de evoluo em direo a estgios mais avanados de desenvolvimento sociocultural; caso contrrio no sobreviveriam, mas seriam diludos pela influncia dos povos mais possantes. J os antroplogos modernos, desprezando conscientemente essa linha de argumentao,
prognosticavam, em igual diapaso de convico, embora sob profundos e reiterados lamentos, a extino total desses povos - simplesmente porque a realidade era dura e cruel, a civilizao ocidental se apresentava com fora avassaladora e assimilacionista e no deixava "espao para sociedades alternativas", no dizer mais recente. Para no falarmos em cinismo e indiferena, sentimentos que sem dvida permeiam os escritos de alguns, pensemos em termos dos paradoxos que brotam dos postulados metodolgicos dessa antropologia. O primeiro aquele que desconsidera o critrio de previsibilidade, mas ao mesmo tempo faz enunciados de prognsticos. Se verdade, porm, que a complexidade da cultura no permite o critrio de previsibilidade para a verificao de uma hiptese, por que se dava tanta importncia "realidade dura dos fatos" no contexto das situaes em que viviam os povos primitivos? No haveria que se levar em conta o princpio do contraditrio, no caso, tudo aquilo que estava acontecendo no poderia ser de algum modo diferente? verdade que o processo de expanso da civilizao europia j destrura e continuava destruindo inmeros povos primitivos. Conheciam-se os seus motivos mais bvios, que eram as doenas epidmicas trazidas da Europa, as guerras de conquista e extermnio, a escravido, o servilismo forado e at os encantos tecnolgicos que mudavam as culturas aborgenes por fora da desestruturao que os novos instrumentos, bem como as bugigangas, causavam aos padres culturais anteriores. As estatsticas demogrficas e suas tendncias declinantes falavam por si, sobretudo nas Amricas e na Oceania. Se havia excees ningum as notava. (Porm, pertinente notar que na frica a situao de declnio populacional era bastante diferente, apesar de em certas regies o sistema escravagista ter provocado profundos distrbios, deslocamentos e extermnio de alguns dos seus povos. A diferena de grau de sobrevivncia entre povos americanos e africanos no era difcil de se perceber. De certa forma, a relutncia da antropologia britnica - principal pesquisadora naquele continente - em subscrever a viso de fim do primitivo e a teoria de aculturao reflexo dessa percepo.) De qualquer modo, a antropologia no se vexou ao buscar conceituar, alm do biolgico, os mecanismos socioculturais que pudessem explicar o processo de extino dos povos americanos e ocenicos. Tais mecanismos foram levantados fora do esquema explicativo do evolucionismo social, mas de dentro do quadro funcional do relacionamento entre dois povos ou duas culturas, o qual foi avaliado como um processo de interao caracterizado por competio, que resultava em difuso, emprstimo e adaptao de elementos culturais de uma cultura para outra. O conjunto desses mecanismos foi teorizado atravs do conceito de aculturao em artigo programtico escrito na dcada de 1930 por trs antroplogos americanos, Robert Redfield, Melville Herskovitz e Ralph Linton. Aculturao passou a representar todo o desencadear do processo de contato entre duas culturas, em quaisquer circunstncias. Implcito a esse processo estava a eventual absoro de uma cultura mais fraca por outra mais forte, o que poderia resultar na extino da mais fraca. Tal nvel de generalizao fenomnica, destitudo de um carter histrico, poderia ser aplicado em quaisquer casos de contato entre duas culturas, desde aquele entre duas culturas primitivas na floresta amaznica at o encontro entre os exrcitos romanos e as tribos germnicas, ou o desencontro entre os conquistadores espanhis e os nativos da ilha de Hispaniola. Em todos os casos o processo de aculturao que melhor explicaria
o que viesse a suceder. A distino a ser esclarecida estaria na explicao a posteriori do maior ou menor poder de dominao de uma cultura sobre outra, no nas circunstncias histricas em que se dava o contato. Dessa forma, os acontecimentos histricos que ento se desenrolavam nas barbas do antroplogo passaram a ser considerados um mero exemplo de um princpio cultural, enquanto se ofuscava a realidade vivida, que no era outra coisa seno uma parte da histria da humanidade. No era por outra que os marxistas ou simpatizantes, como Leslie White e Julian Steward nos Estados Unidos, e V. Gordon Childe, na Inglaterra, discordavam dessa viso. Assim, tanto a ao polticocultural do antroplogo, como membro da sociedade dominante, como o carter histrico dessa sociedade eram relativizados. Permitia-se intelectualmente embaar o esprito crtico e assim no se aperceber dos mecanismos poltico-culturais e o sentimento humano pelos quais uma determinada cultura era extinta em poucos anos e uma outra continuava a existir mesmo aps alguns sculos de opresso. Aculturao virou assim a teoria explicativa, e mais do que isso, um paradigma, de todo o quadro de extermnios e extines que se desenrolava nas Amricas. At que um ndio americano, D'Arcy McNickle, em fins da dcada de 1950, escreveu com todas as letras que os seus patrcios no estavam fadados ao extermnio, nem fisicamente nem culturalmente. No Brasil, Darcy Ribeiro, que havia conhecido os ndios brasileiros ao vivo e em estatsticas do antigo Servio de Proteo aos ndios (SPI), na dcada de 1950, s trinta anos depois que foi levado a perceber que, em meio s suas terrveis estatsticas de extino de 57 povos e umas tantas 900.000 pessoas no perodo de 1900 a 1957 - estatsticas essas de grande dubiedade - muitos dos povos indgenas dados por extintos haviam sobrevivido e comeavam a crescer em nmero. Pois, por que tantos eminentes antroplogos, como Darcy Ribeiro e Claude LviStrauss, reiteradamente falam no fim dos povos primitivos? Seria fcil imputar tal insistncia a um 'desejo de morte', caracterstica imbricada na ideologia da civilizao europia desde pelo menos o sculo passado; ou ento verificar que tais antroplogos pensam o mundo primitivo em termos das aspiraes do seu mundo civilizado. Todavia, h que se conceder um voto de confiana e ter uma disposio positiva para aceitar que o pensamento cientfico guarda em si uma certa autonomia. Vejamos ento alguns dos fundamentos tericos que do racionalidade e verossimilhana persistncia do pensamento sobre o destino fatal do primitivo. Os desvos da inveno da universalidade do homem A antropologia moderna, como disciplina acadmica, firmou-se pelo debate que travou com o evolucionismo social resultante da aplicao da teoria evolucionista de Darwin ao homem e s culturas. Nesse bojo tambm foi jogado fora o positivismo comteano, que antecede o darwinismo, e que vai servir de inspirao para a criao da filosofia indigenista no Brasil na primeira dcada do sculo XX. O resultado, obtido com a ajuda das teorias do relativismo cultural e do funcionalismo, foi descartar quase todos os postulados evolucionistas, inclusive at o sentido da histria. Um ponto de fundamental importncia foi a reavaliao da questo da universalidade da espcie humana e de sua inteligncia. Os evolucionistas postulavam uma equivalncia direta entre formas culturais e nveis de inteligncia dos portadores dessas culturas, um paralelismo entre evoluo das espcies e evoluo das culturas, e entre ontognese e filognese. Isto o que faz, por exemplo, Morgan em seu Sociedade Antiga. Outros, entretanto, foram alm e postularam que na medida em que as culturas ou sociedades humanas fossem se
tornando mais complexas, aumentava o grau de inteligncia dos seus membros. Assim, os primitivos, por terem ficado para trs, eram menos inteligentes; como os primitivos eram os africanos, amerndios, ocenicos e asiticos, eles conformariam raas inferiores. Tal proposio servia aos propugnadores da equivalncia entre raa e cultura, da a associao que ficou entre evolucionismo e racismo. Foi por virtude e esforo dos antroplogos modernos que essa equivalncia foi refutada, nos nveis de argumentao biolgica, gentica, nutritiva, ecolgica e, precisamente, cultural. Os ltimos estertores da equivalncia raa igual a cultura saram inadvertidamente de um filsofo estudioso de religies primitivas, Henri Levy-Bruhl, que at a dcada de 1930 propunha uma mentalidade dita pr-lgica para os povos primitivos, mentalidade que pelo prprio termo imputava anterioridade e inferioridade. Porm, ningum mais lhe prestava ateno, nem mesmo quando o sentido de pr-lgico foi esclarecido no como ausncia de lgica, mas uma lgica impregnada de sensibilidade e identificao entre o sujeito pensante e o objeto pensado . O avano do pensamento antropolgico em provar por a mais b a universalidade da natureza da inteligncia humana, independente das formas em que esta se manifestava nas culturas, no se estendeu, por outro lado, aplicao prtica dessa idia. Assim que a distino entre o primitivo e o civilizado, aventada desde a descoberta das Amricas, explicitada pelos filsofos precursores e fundadores do Iluminismo, quase sempre negativamente, como em Hobbes, Buffon, Condorcet e Voltaire, em alguns outros positivamente, como com Montaigne e Rousseau, e elaborada no sculo XIX pelos evolucionistas, especialmente Morgan, Bachoffen e Maine, continuou a ser utilizada no conceito de cultura, no somente pelos aspectos da tecnologia, da economia, das formas religiosas, e da prpria constituio da sociedade, mas, surpreendentemente, pelo aspecto da capacidade de adaptao a novas situaes precisa e reconhecidamente um dos critrios mais importantes que definem a inteligncia humana. Se compreendermos que a cultura a manifestao e a representao da inteligncia humana, em tantas modalidades possveis, ela deve conter em si todas as outras possibilidades, se no manifestas, ao menos em forma latente. Tal princpio de equivalncia possvel , alis, um dos argumentos implcitos contra a premissa evolucionista de equivalncia da inteligncia de acordo com o nvel de desenvolvimento. Outro argumento que o critrio de nvel ou estgio das foras produtivas e at da superestrutura de uma cultura em relao a outra no implica maior ou menor complexidade humana ou intelectual. Para demonstrar e provar toda a falcia da argumentao evolucionista, a antropologia culturalista americana e o funcionalismo estrutural ingls fizeram um grande esforo de pesquisa por todo o mundo em que os costumes de inmeros povos que sobreviviam invaso avassaladora dos europeus em seus territrios so apresentados como funcionais, racionais e ntegros, sem prejuzo, em muitos casos, de sua aparente ininteligibilidade. Lvi-Strauss, por exemplo, em seu livro sobre parentesco j citado, fala dos aborgenes australianos, considerados portadores de uma cultura com os mais baixos nveis de produo econmica do mundo, como potenciais excelentes socilogos-matemticos pelo modo como analisam, explicam e mantm a complexidade do seu sistema de parentesco. Na literatura etnogrfica h inmeros exemplos demonstrativos da alta elaborao de rituais, de complexos sistemas de classificao da natureza, ou de sutis tcnicas de produo de artefatos. Em todos os casos, nenhum antroplogo de boa vontade saiu de sua pesquisa de campo com uma m impresso sobre a capacidade de raciocnio concreto e abstrato dos nativos, mas sim com a idia de uma variabilidade de
inteligncia e aptides semelhante que se encontra entre as pessoas de uma cultura ocidental. Tais afirmativas, mais do que necessrias prtica antropolgica, no se estendiam, entretanto, para a questo da capacidade de adaptao cultural e portanto para sobrevivncia tnica. De vrias maneiras, a antropologia moderna sugere que as culturas primitivas so delicadas estruturas de funcionamento e adaptao, que, maneira de um cristal de quartzo, ao serem feridas, se esfacelam em pedaos irrecuperveis . Portanto, a sua extino seria inexorvel no por causa da histria em si, mas por causa de sua fragilidade inerente. No seria injustia relembrar que o que est por trs dessa viso moderna o argumento evolucionista de Herbert Spencer, segundo o qual as culturas primitivas seriam como os organismos inferiores na medida em que a sua pouca complexidade no lhes permite uma capacidade maior de adaptao. Ser aqui simplesmente uma questo de atavismo intelectual que eventualmente seria superado? Se no acredito nessa hiptese porque vejo essa mesma contradio se desdobrando em outros tipos de argumentos. Para aprofundar essa discusso, vejamos como so trabalhadas as questes do etnocentrismo e da historicidade em relao ao primitivo. A universalidade do etnocentrismo A noo de etnocentrismo est entre aquelas mais bsicas e conhecidas da antropologia, junto com a noo de que toda cultura se explica em si e para si mesma, isto , de que possui uma funcionalidade e racionalidade prprias. J vimos como a noo de racionalidade cultural explicada pela antropologia moderna em reao aos postulados evolucionistas. No caso do etnocentrismo, o surgimento dessa noo foi motivado, em primeiro lugar, pela crtica aos evolucionistas de que suas idias acerca da inferioridade dos povos primitivos derivavam no somente de postulados cientficos errneos e pesquisas de campo amadorsticas e subjetivistas, isto , no cientficas, mas principalmente em funo do sentimento de superioridade que eles e sua poca projetavam em relao aos povos no europeus. Assim, o etnocentrismo surgiu primeiro como preconceito e prejuzo. Para sanar esse preconceito era necessrio que o estudioso de outras culturas, o antroplogo, tomasse conscincia, ajudado por sua racionalidade inerente e pela acatada capacidade de auto-reflexo da cultura ocidental, e fizesse um esforo pessoal e metodolgico para reduzir ao mnimo possvel esse enorme entrave ao conhecimento. Pode-se dizer que o ofcio do antroplogo foi concebido como um trabalho altamente filosfico e moral, se no poltico, tanto para a disciplina como para o indivduo praticante. O antroplogo deveria ser capaz de se despir de sua conscincia cultural especfica e se transformar numa conscincia universal. ( interessante notar ainda que o filsofo polons Lezsek Kolakowski encontrou nessa proposio uma particularidade da civilizao ocidental, como a autoconscincia do outro, e viu nessa singularidade extraordinria mais um motivo para conceber a superioridade do Ocidente.) Aos poucos a noo de etnocentrismo foi generalizada para explicar uma srie de outros fenmenos similares, tais como os preconceitos de raa e cor, de classe e nacionalidade, presentes nas culturas ocidentais, que antes eram pensados como resultantes das divises sociais e econmicas que marcam essas culturas. Da por diante, o etnocentrismo se desvelou como uma propriedade mais bsica e abrangente que existia em todas as culturas pois estava determinado desde o nvel psquico como manifestao
ao nvel social do egosmo individual. O etnocentrismo independia de divisionamento interno, fossem eles interesses de classes ou disputas entre maiorias e minorias. Assim, todas as culturas eram no fundo etnocntricas pois esse sentimento era necessrio para se ter e manter uma identidade. A civilizao ocidental era etnocntrica, sim, mas ela produzira a antropologia para transcender esse problema. No caso das culturas primitivas, o etnocentrismo veio explicar por que elas encaravam as suas vizinhas, ou quaisquer outras sociedades como inferiores, j que consideravam o seu prprio sistema de valores como o nico verdadeiramente humano, sendo as demais vistas como protohumanas ou animalescas, isto , que estariam mais prximas do reino da natureza, como os animais. Infelizmente elas no tinham antroplogos, esses arautos da autoconscincia universal, que os pudesse auxiliar na compreenso da totalidade humana . Desta forma, a noo de etnocentrismo aplicada ao primitivo veio enfatizar a viso de que este um ser em entropia, incapaz de enxergar alm do seu umbigo; em outras palavras, pensa e age como uma criana ou um neurtico parados no tempo. Alis, no outra a imagem que nos fornecem Freud e Piaget . Se tal, no entanto, no a imagem do primitivo da qual compartilham os antroplogos, sua metodologia continua a operar nos termos de uma relao entre uma autoconscincia universalizante e uma conscincia limitada. Tal pode ser visto na concepo que se faz do que constitui o relacionamento entre sujeito e objeto no trabalho de campo, mtodo de pesquisa consagrado pela antropologia anglo-saxnica. Para o antroplogo o trabalho de campo um desafio pessoal de se despir de sua cultura para, atravs da observao participante, chegar a entender a cultura do outro. J do ponto de vista do objeto, isto , da sociedade primitiva, o antroplogo surge como se fosse um estranho, que em si um inimigo potencial, uma entidade para-humana. S aos poucos que ele iria sendo absorvido na sociedade, primeiro como se fosse uma criana que no sabe nada ou sabe pouco da vida, depois como um adolescente, um jovem adulto, at ser incorporado como um adulto completo. Tal concepo que se baseia no ciclo de desenvolvimento humano termina construindo a viso de que o primitivo s entende o civilizado reduzindo-o aos seus prprios termos. Ou, por outra, invertendo os termos do processo, como se a antropologia estivesse dizendo que o primitivo uma criana que aos poucos vai crescendo aos olhos do antroplogo. A conscincia do primitivo entendida como limitada pelo etnocentrismo produz uma grave conseqncia na sua capacidade de adaptao. que, incapaz de conceber o outro em si e defrontada com uma outra realidade impingida pela civilizao ocidental, ele no consegue encontrar um caminho para a sua continuidade, pois esta continuidade requer uma adaptao s novas condies de vida. Sua nica sada, portanto, est no seu progressivo desaparecimento por absoro cultura envolvente. Tal no outra a concluso amarga mas condescendente do antroplogo, e seu paradigma conceitual no lhe permite pensar de outra forma. As vises antropolgicas do primitivo Dentro dessa conceituao pode-se concluir que a morte do ndio, antes de ser uma morte fsica, uma morte espiritual, decretada teoricamente. As duas veredas de interpretao da historicidade do ndio, quais sejam, a de que ele um ser sem histria, extico por no ser imediatamente reconhecido como semelhante, ou a de que um ser
contemporneo e semelhante ao homem ocidental, acabam confluindo nesse rio da fatalidade. A primeira proposio, sem dvida, prepondera como posio terica e metodolgica de maior aceitao no pensamento ocidental, embora esteja sempre camuflada por consideraes relativistas. De certa forma ela foi fundamental para a formao desse pensamento na modernidade. Iniciada por Hobbes e batizada desde Hegel, dela participam vrias teorias e ideologias antropolgicas modernas, como o particularismo histrico de Franz Boas e Margareth Mead, o estruturalismo de Claude Lvi-Strauss e de Pierre Clastres, e algumas variaes do funcionalismo estrutural ingls, como em Edmund Leach, Jack Goody e Mary Douglas, bem como alguns enfoques americanos recentes, como o de Marshall Sahlins e Clifford Geertz. Em nome da plasticidade das formas culturais essas vises tericas propem uma irredutibilidade e uma imobilidade quase absolutas para o primitivo. No caso especfico do estruturalismo, a historicidade dividida entre fria e quente, sendo a primeira a que caracteriza o primitivo, incapaz de autotransformao, mesmo quando desafiado a tal. Em outros casos, como o de Jack Goody, a diferenciao bsica entre o primitivo e o civilizado imputada a uma injuno da histria, portanto no seria da ordem da natureza, provocada, no caso, pelo surgimento da escrita e as conseqncias de sua disseminao nos hbitos de inteligncia e memria dos seus usurios. Mas por que algumas culturas adotaram a escrita e outras no? Pode-se ver que, afora essa viso mais ou menos compartilhada, essas teorias no formam um conjunto de pensamentos coerentes entre si. Para umas a histria um desenrolar de transformaes cumulativas no tempo; para outras o desabrochar dos potenciais inerentes. Algumas atribuem algum papel ao indivduo na ao social; outras atribuem somente sociedade, como conscincia coletiva o papel de ator. Esta ltima viso foi claramente argumentada em diversas ocasies, especialmente no seu livro seminal A Diviso Social do Trabalho, por Emile Durkheim, o pai do estruturalismo francs. Elas tm em comum o fato de que, ao localizar o primitivo aqum do civilizado, elas o vem como um estranho para quem a proximidade do observador no o transforma em semelhante, apenas em um estranho acessvel ao conhecimento. A incoerncia de vises do homem e da histria tambm est presente entre as teorias antropolgicas que reputam o ndio como sujeito contemporneo e potencialmente semelhante ao homem ocidental. Encontra-se esta posio em escolas to diversificadas entre si quanto o funcionalismo de Malinowski, o evolucionismo de Morgan e White, j citados, e o marxismo de Maurice Godelier e Claude Meillassoux, sem falar obviamente nas antropologias mais "nativas", desenvolvidas nos pases latino-americanos, como no Peru, com Jos Carlos Maritegui, no Brasil, com Curt Nimuendaju e Darcy Ribeiro, e no Mxico, em vrias geraes sucessivas desde a sua Revoluo de 1912. Talvez haja antropologias deste tipo sendo desenvolvidas na ndia, na China e em alguns pases africanos. Entre os precursores dessa viso est o pensador e ensasta francs Michel de Montaigne em seu famoso ensaio sobre "Os Canibais," quando, ao comparar os Tupinamb com os europeus de meados do sculo XVI, os v semelhantes em natureza e diferentes apenas em grau. Mais fundamental ainda foi Jean-Jacques Rousseau e sua viso romntica do primitivo como um ser perfeito que cai na perdio ao ser atiado pela propriedade.
O que essas antropologias tm em comum a idia de que o ndio, o primitivo, no essencialmente diferente do homem ocidental e portanto no deve ser abordado unicamente pelo princpio do estranhamento . Mesmo a teoria evolucionista mais bem concatenada por Morgan, que prope desenvolvimentos progressivos e cumulativos aos vrios estgios de evoluo das sociedades humanas, credita a povos em estgios diversos seno um mesmo grau, ao menos o mesmo potencial de humanidade e de semelhana . Por exemplo, na descrio acolhedora que Morgan faz da gens, isto , do sistema de cls dos ndios Iroqueses, pelo esprito de igualitarismo, harmonia social e justia que nela imperaria, essa instituio surge como um desvelamento do pensamento humano, como um desabrochar de um dos "germes" do esprito da humanidade. J Malinowski, polons naturalizado ingls, considerado o pai da antropologia inglesa moderna e um dos criadores do mtodo da observao participante na investigao antropolgica, v o nativo como um ser portador de todos os defeitos e de todas as qualidades que encontra normalmente num indivduo do imprio britnico. Na sua economia, de carter obviamente comunalista e fechada em si, encontra motivos para considerar o comportamento econmico dos seus membros em certas ocasies parecido ao de um capitalista alemo da poca. A variao cultural que Malinowski registra entre os povos, como para Maritegui, Nimuendaju e outros mais, resultado da disperso e adaptao socioecolgica das potencialidades do ser humano em suas exterioridades sociais e culturais. No entretanto, essas duas vises polares sobre a historicidade do homem portam um mesmo "pre-conceito" que, por suas conseqncias de ordem poltica, tem repercusso em todo e qualquer problema de reflexo antropolgica. que, mesmo que biologicamente, mesmo que psiquicamente, todos os homens e todas as culturas sejam considerados iguais em suas variaes e potencialidades idiossincrticas, essa equanimidade acaba esbarrando em smbolos reais de diferenciao e escalonamento que no raro suscitam o reconhecimento e julgamento de desigualdade. Tal desigualdade se manifesta, efetivamente, nos nveis mais cruentos, como a capacidade de dominao guerreira de uma sobre outra e o poderio econmico e poltico. Critrios como um possvel ndice de liberdade individual, igualdade econmica ou mesmo "felicidade cultural" no contam pontos na contabilidade da historiografia dos povos. Os dilemas do relativismo cultural Eis uma infelicidade intelectual sem tamanho: postular uma igualdade, basear-se nela para suas investigaes, mas ao cabo, degladiar-se com uma desigualdade real. O relativismo cultural, considerado um quase dogma da antropologia moderna, postula que toda cultura s pode ser compreendida em seus prprios e irredutveis termos, o que impossibilita a formulao de medidas de comparao intercultural, e portanto desautoriza quaisquer mtodos para se definir hierarquias, desigualdades ou contrastes. Criado com a boa e liberal inteno de valorizar as culturas humanas, ao encarar a realidade social demonstra estar despojado de sentido crtico, responsabilidade social e determinao poltica. Haja visto que no tem bases formais para encarar a desigualdade de relacionamentos interculturais, para protestar contra o colonialismo, o domnio poltico e econmico de maiorias sobre minorias, ou, at mais freqentemente, o inverso. S depois que os povos colonizados da frica e da sia comearam a se elevar politicamente e protestar contra o sistema colonial que o relativismo cultural engendrou momentos de autocrtica e penitenciamento . O seu papel mais positivo foi servir de base filosfica para que se pudesse lutar contra as vergonhas internas das
sociedades ocidentais, como o racismo, as desigualdades classistas etnicamente determinadas e a valorizao dos direitos das minorias. O relativismo cultural nasceu de uma visada sobre a possibilidade da igualdade dos povos, mas no conseguiu cumprir suas bvias conseqncias e terminou se perdendo em farisasmo ou, como se diz hoje, caindo num discurso politicamente correto e supostamente ingnuo. De todo modo, mistificador da realidade. Mas no por uma simples estocada crtica - como alis j fizeram outros antroplogos (Diamond 1974; Leclerc 1973) - que se vai resolver o impasse provocado pelo dogma do relativismo cultural. Como se pode acreditar que uma centena de indivduos Arara constituem um povo em igualdade com os russos, com os gregos, ou mesmo com os dez mil Xavante? Ou precisamente com os brasileiros que a esto lutando para aambarcar-lhes as suas terras e reduzi-los a uma micro-minoria insignificante nos seus estamentos polticos e culturais? Do ponto de vista relativista os Arara so seres singulares, nicos, incomparveis, por isso mesmo equivalentes aos brasileiros. Enquanto indivduos tm uma biologia semelhante, oferecendo todo o espectro de variaes possveis de potencialidades e aptides. J sua economia tem propsitos, modos, estratgias e retornos absolutamente diferentes. Desenvolveram uma cultura que canaliza suas aes e seus projetos de acordo com necessidades diversas que conduzem sobrevivncia e continuidade tnicas. Vivem num meio ambiente distinto, que culturalizado, e num meio social exterior tendente a domin-los. Este fato poltico incontornvel os leva a buscar novas formas de relacionamento para fortalecer seu potencial de sobrevivncia. Elaboraram pensamentos adequados a essa vivncia e, em conseqncia, desenvolveram sua singularidade cultural. Como povo construram uma identidade nica e equacionaram suas desavenas por meios prprios, sempre buscando manter alguns princpios bsicos, como a ideologia igualitarista. Todos os seus gestos e atos s so explicados pelo contexto cultural em que surgem, com o qual esto ligados e lhe do sentido e estrutura. Enfim, so, at a, incomparveis e irredutveis. No obstante, a pergunta no escapa: so ou no so iguais aos brasileiros? S por um processo de apagamento das consideraes de ordem econmica e poltica que se pode estabelecer um campo em que impere uma pretensa igualdade ou uma equivalncia significativa. O dilema do relativismo cultural reside na impossibilidade de sopesar os diferentes e, ao mesmo tempo, consider-los equivalentes. Na anlise do funcionamento de uma cultura a busca de comparaes pode parecer, de incio, de pouca valia, porque so mltiplos os fatores internos que lhe do sentido e caracterizao, tornando, assim, cada uma, singular. Entretanto, para usar a metfora das ondas quebrando na praia: cada uma diferente da outra, tem sua singularidade, mas no cmputo geral so parecidas e comparveis. Assim, as culturas podem ser reconhecidas por fatores identificveis que formam conjuntos comparveis e semelhantes. Da diversidade se chega s semelhanas, de onde se pode obter as bases para se aquilatar os critrios de uma possvel igualdade ou equivalncia. O furaco ps-modernista O ps-modernismo um movimento intelectual que vem varrendo as academias do mundo contemporneo nos ltimos vinte ou mais anos. Passado o primeiro vendaval, que caracterizou a dcada de 1980, no se pode ainda dizer se veio para ficar, se um
modismo, ou se ser incorporado como parte do modernismo , e que contribuio haver de deixar como legado intelectual. Certamente no s um movimento de idias, pois sua aceitao em setores de poder, sua permanncia e influncia indicam que portador de um carter poltico que reflete o momento que vivemos. Embora mais bem elaborada conceitualmente por filsofos gauleses, nos Estados Unidos que o psmodernismo cria razes na academia, formando um corpo de aderentes com fora poltica semelhante de um movimento poltico-cultural. Nesse sentido, ele pode ser visto como o gestor de um discurso ideolgico que tenta arrefecer o impacto da dominao poltica e cultural centrada nos Estados Unidos. Sua principal proposio poltico-intelectual a de que no mundo, como na interpretao desse mundo, no haveria um centro dominante, um locus privilegiado, uma ncora de verdade, do qual se possa partir ou ao qual se possa chegar. O que existiria so mltiplos focos e ndulos de posicionamento bem como mltiplas estratgias de compreenso. Nada melhor, portanto, para representar, por inverso, o fato de que, ao contrrio, hoje em dia s h um locus privilegiado de poder, os Estados Unidos, cuja principal fonte de dominao e obscurecimento dessa dominao so a disseminao hegemnica e excludente de sua cultura e o fluxo incerto de capitais especulativos. O ps-modernismo nasceu do aparente desfazimento da dicotomia poltica e intelectual que reinava desde a incepo da modernidade, aquela entre aristocratas e burgueses; burgueses e operrios; nacionalismo e internacionalismo; democracia e comunismo; EUA e URSS; sujeito e objeto, e por que no, primitivo e civilizado. A dicotomia poltica foi quebrada de vez na queda do Muro de Berlim, mas sua diluio intelectual j vinha se efetivando atravs dos movimentos sociais da dcada de 1960, e conceitualmente atravs da operacionalizao e difuso de vrias formas do pensamento antipositivista, inclusive do prprio estruturalismo. Portanto, o ps-modernismo veio para preencher os flancos castigados da cincia positivista social. Embora carregado de negatividade, ele tambm projeta estratgias de reposio. Entre elas, a noo de que no haveria mais dicotomias, nem hierarquias de valor. S haveria talvez uma multiplicidade de loci, stios, privilegiamentos, que talvez criem suas prprias periferias e subordinaes. Esses loci podem ser permanentes e concretos, como a noo de diversidade tnica e social, porm podem ser igualmente mutantes e no hegemnicos, podendo estar neste espao ou noutro, neste tema ou naquele, conforme as circunstncias nem sempre previsveis, as quais so reconhecidas exclusivamente pelos autores auto-iluminados. O ps-modernismo aterrissou na antropologia pelas asas crticas da microfsica do poder e da arqueologia do saber de Foucault, pelo desconstrutivismo de Derrida, pela fenomenologia de Lyotard e pelo antiesteticismo de Baudrillard . Um verdadeiro furaco francs rompendo pelas frechas das slidas muralhas do positivismo anglosaxnico. A o solo estava pronto para acolher essa fertilizao em razo no somente dos impasses do positivismo antropolgico, como tambm da recusa inicial e do arrependimento posterior a dar ouvidos ao projeto estruturalista lvi-straussiano . Essas duas correntes de pensamento e de ao acadmica haviam levado a antropologia a um respeitvel grau de conhecimento da humanidade acumulado em pesquisas e teorias que se desenvolveram at fins da dcada de 1970. No positivismo culturalista, por exemplo, com a etnocincia, a antropologia cognitiva e a antropologia simblica; no positivismo materialista, com o evolucionismo, a ecologia cultural, ou a antropologia marxista; no positivismo funcionalista da antropologia anglo-
saxnica tradicional - o impasse maior se dava na crescente insatisfao com o fato de que o acmulo de dados no estava levando a um salto qualitativo de conhecimento, mas chegara ao ponto em que s se repetia ou se afundava em aporias intransponveis . No estruturalismo, tambm, como num castelo de cartas, desmoronou-se a fora de convico da idia de que, seguindo o paradigma lingstico, bastava concentrar o foco metodolgico em algum aspecto da cultura humana para se lhe descobrir as virtudes estruturais que, da por diante, como por extenso de sintagmas transformacionais, novas estruturas iriam se fazer visveis at se chegar a um ponto satisfatrio de compreenso do todo. Por esse mtodo, qualquer foco, qualquer estudo devia valer; nenhum poderia ser privilegiado; com isso, por via de conseqncia, nenhum terminaria valendo. Lvi-Strauss, pai e mentor dessa escola, sabia aparentemente fazer todos os seus relatos e enunciados muito bem, mas ningum era capaz de repetir o seu feito para que outros se convencessem de sua validade cientfica. Por outro lado, na concluso de seus estudos sobre o mito, no incio da dcada de 1970, ficou claro para muitos que, se essa exposio grandiosa la Frazer no precisava passar por algum teste de veracidade, como passara sua exposio sobre o parentesco dos povos primitivos, para ter acolhimento cientfico, ao menos tinha validade pela beleza do que havia sido escrito, e a beleza em si, como a msica, no precisa de passar por uma prova cientfica para comover e valer. Nesse campo fertilizado pela crtica sobre a carncia e por uma predisposio ao vale o que parecer inteligente, o discurso ps-modernista veio estabelecer e justificar no somente os impasses existentes, como desloc-los do eixo de relevncia anterior, ou, na melhor das hipteses, torn-los ancilares aos novos temas. Por exemplo, a questo do primitivo e de sua posio em relao ao civilizado. Poder-se-ia esperar que, gestada pela dissoluo da dicotomizao generalizada, a conceituao ps-modernista viesse a resolver o dilema que no fora resolvido pelo positivismo e estruturalismo. No entanto, seu foco se deslocou, nesse campo, para estabelecer uma nova aporia, qual seja, de que era ilegtimo falar do primitivo, do outro, porque ele to-somente absorvvel, mas no tornado explicvel pelo discurso do civilizado, do eu (agora no mais transcendental). O outro seria sempre um eterno estranho. Para ser honesto e manter a tica da responsabilidade acadmica, se no cientfica, a nica coisa decente que se podia, que a antropologia devia fazer, seria dar voz ao primitivo, deix-lo dizer o que , ou o que pensa que , j que tudo discurso. De alguma forma isso implicaria dar-lhe vez, isto , empoderamento. Ou, ao menos, para justificar a existncia do antroplogo, no mais seu porta-voz, seria falar do primitivo como se estivesse emitindo uma viso particular, uma opinio, no mais com a pretenso de estar produzindo um enunciado cientfico. Se possvel, que isto fosse feito em primeira pessoa, o autor desvelando sua vida, sua presena, seu dilogo carnal com o outro, seu horizonte de preconceito, na expresso da hermenutica gadameriana. No final, pelo que se pode ler dos relatos e experimentos de muitos autores dessa corrente , o interesse vai recair muito mais sobre o eu falante, que afinal um sujeito de carne e osso, do que sobre o outro falado, num claro paralelo com a poltica mundial de enaltecer e tentar escamotear a realidade unvoca do poder americano. Os principais trabalhos desse movimento, s aparentemente difuso e anrquico, quase todos gestados na academia americana por uma gerao que, como se pode dizer vulgarmente, tomou carona na crtica antipositivista, por via do estruturalismo lvi-
straussiano, se dirigem aos novos tempos partindo da noo da impossibilidade do conhecimento cientfico do outro seja ele positivista, dialtico, ou estruturalista. Uma inesperada crise de insegurana parece caracterizar ou reverbera dessa viso psmodernista. Um branco no pode falar do negro, um homem no pode entender os problemas da mulher, o civilizado s deturpa o primitivo. O que isso quer dizer, j que muitos nem por isso emudeceram e pararam de escrever sobre essas questes? Creio que representa uma cortina de fumaa ideolgica pelo qual se tenta escamotear a realidade mais profunda, se no a mais bvia, de que se no mais existe uma conscincia universalizante para entender a conscincia limitada, existem ao menos algumas pessoas bem falantes e motivadas, com bons empregos e prestgio social e acadmico, que podem, devem e realmente escrevem sobre os outros. Nessa tarefa o propsito principal no aproximar o outro do eu, encurtar a distncia que separa os povos e as culturas, mas torn-las, sob a ideologia da valorizao da diversidade, mais especficas e assim mais distantes da vida dominante americana, menos compreensveis porque menos controlveis, mais exticas, como se estivssemos voltando ao comeo do sculo, aos olhos de quem pode ter o privilgio de ler esses relatos. Uma verdadeira realpolitik da inteligncia humana como se apresenta o psmodernismo na antropologia. Somente aqueles com poder e prestgio, ou que almejam e ousam obter esses atributos, deveriam escrever sobre os outros, j que no h critrios universalizantes e democraticamente captveis, capazes de servir de base modelar para a compreenso dos outros. Somente esses que merecem ser lidos nas suas histrias de vida, nas suas aventuras intelectuais e, para usar o termo mais querido deles, no seus predicaments . Em suma, o ps-modernismo antropolgico o discurso de poder de um segmento da academia americana que se quer elevar nica fonte de legitimidade do conhecimento. Tal, na verdade, o discurso dominante do imperialismo contemporneo americano, que se tornou a nica fonte de poder e legitimidade em quase todas as esferas da vida. Desta viso no podemos esperar a produo do fim da dicotomia primitivo/civilizado, nem qualquer forma de transcendncia desse dilema. Como conhecer os Tenetehara Os Tenetehara, ou Guajajara, como so conhecidos no Maranho, ou Temb, como so nomeados os que vivem no Par, fazem parte do mundo luso-brasileiro desde que os franceses travaram conhecimento com eles em 1613. Desde ento, alguma coisa j foi escrita sobre esse povo, em graus variados de conhecimento de causa e com propsitos polticos ainda mais diversos. H uma literatura histrica irregular ao longo desses anos, palmilhada por religiosos, oficiais da Colnia, do Imprio e da Repblica. H pequenas reportagens em jornais, documentos oficiais em arquivos pblicos, e certamente muitos mais que no foram localizados e que podero vir luz no futuro. Existem trs livros que descrevem com perspiccia diversos aspectos da cultura e da sociedade Tenetehara, baseados em pesquisas de campo efetuadas nas dcadas de 1920, 40 e 70. Mais de uma dezena de livros histricos descreve ou discorre sobre alguns momentos da vida e da histria dos Tenetehara, deixando margem a reavaliaes interpretativas, a reconstrues histricas e teorizaes. Tudo isso pode ser chamado de literatura antropolgica sobre o povo tenetehara.
Junto a isso minha prpria experincia etnolgica acumulada em vinte e cinco anos de relacionamento com esse povo, totalizando pelo menos 16 meses de pesquisa direta em suas aldeias e casas, perambulaes nos seus territrios, nas suas matas e nas cidades, participao nos seus rituais e na formulao de conhecimento do mundo exterior, como conselheiro e at como administrador de medidas governamentais. Acrescente-se tambm uma tese de doutorado sobre o tema da sobrevivncia tnica dos Tenetehara, defendida em 1977, na Universidade da Flrida, Estados Unidos, e concebida com o propsito de reavaliar o trabalho de Wagley e Galvo. Nesse contexto que venho h tanto tempo tentando formular um quadro interpretativo de sua histria, do desenrolar de sua cultura perante as injunes dessa histria e de sua insero no mundo que os envolve. O que descreverei aqui como histria dos Tenetehara no guarda nenhuma inteno de ser completa pois so muitos os vazios e as lacunas temporais. Por vezes recorro livremente a uma especulao cautelosa para preencher os eventos nos tempos de que no se tem notcias. Ser, na verdade, uma histria antropolgica da cultura e da sociedade tenetehara em que o passado reconstitudo em termos comparativos com outras culturas indgenas semelhantes, com interpretaes da literatura conhecida, com formulaes dos ambientes sociais em que viviam e, sobretudo, com o depoimento de dezenas de velhos ndios, muitos deles vivos observadores de minha prpria cultura, que tentaram, a seus modos, reconstituir seu passado cultural, interpretando mitos, eventos, histrias e casos. H ainda o depoimento oral de muitos brasileiros, camponeses, comerciantes, fazendeiros, ex-funcionrios dos rgos indigenistas, religiosos catlicos e protestantes, que de muitas e variadas formas viveram histrias comuns com os Tenetehara. Todos esses depoimentos e verses tm seu peso na reconstituio e sntese que esse livro pretende ser. No reputo ilegtimas ou desonestas as falas e os cndidos comentrios de fazendeiros, religiosos e muito menos de camponeses sobre os Tenetehara e outros povos indgenas. Seus discursos, sem sombra de dvidas, refletem suas vises tacanhas, formalizadas e ritualizadas, produtos de interpretaes preconceituosas, agressivas e defensivas. Mas, nas entrelinhas dos discursos e s suas margens, surgem por vezes observaes muito felizes e profundas sobre esse povo indgena. Diria que at se pode vislumbrar uma certa empatia nessas falas, em alguns momentos. Discernir a verdade entre vrias verses conflituosa de um mesmo evento sempre foi uma das principais questes da investigao no campo social, e naturalmente um problema filosfico. O que deve fazer o antroplogo para estabelecer um fato a partir de verses diversas, e interpret-lo? Em primeiro lugar, integrar os atores e falantes num campo social e histrico, definindo seus interesses, suas contradies, seus conflitos e suas alianas. Assim, as verses, em que pesem suas idiossincrasias particulares, sero vistas como contendo verdades parciais, mutuamente exclusivas ou mesmo complementares. Em segundo lugar, a soma dessas parcialidades no constitui nem uma mdia, nem um todo. Mdia estatstica s vale como indicador heurstico, sugerindo um rumo ou outro de novas investigaes. A totalidade-em-formao do evento reconstitudo no se d pela soma das opinies e verdades parciais, se no por um novo processo sintetizador, exclusivamente da responsabilidade do antroplogo.
O processo sintetizador da reconstituio histrica e antropolgica baseado, inicialmente, no respeito s exigncias factuais da cincia positiva, ou, para usar uma linha mais pragmtica, daquilo que um grupo de pessoas considera como razoavelmente consensuais. Em seguida, numa srie de critrios metodolgicos, como a lgica da rede de encadeamentos no qual est inserido o evento, o princpio da casualidade e o cotejamento verossmil com eventos similares. Por fim, num conjunto de proposies tericas, tais como aquelas delineadas no incio deste captulo, que daro sentido filosfico e razo histrica ao evento. Isto o que constitui o mtodo dialtico. H que acrescentar ainda no interior desse mtodo o relacionamento entre os sujeitos transcendentais da pesquisa, o que se coloca como sujeito pensante e o sujeito dito pensado, incluindo as culturas e as formas diversas de pensar que representam, assumindo-as. Esse relacionamento intersubjetivo est baseado num quadro histricopoltico mais ou menos rgido, dificilmente bem aquilatado por ambas as partes. Esse relacionamento poder se fazer proveitoso quando escorado num dilogo franco, inclusive aberto a outros atores de fora, e intermediado pelo sentimento de empatia e compaixo. Por tal mtodo que talvez se possa discernir o grau de possibilidade de verdade de um evento que tenha sido descrito por apenas uma pessoa h muito tempo, sem que se possa checar outras fontes de informao. Ao longo deste livro, estarei pondo em dvida muitas informaes escritas sobre os Tenetehara, mas tambm estarei interpretando o que existe em funo de um todo projetado. Igualmente, muitas proposies sero colocadas como realidades sociais, quase sempre em funo dos temas discutidos e como partes interpretativas do desenrolar da histria desse povo indgena. Em busca de uma nova viso antropolgica Essas consideraes e proposies de mtodo e teoria buscam delinear um sistema coerente, uma nova viso antropolgica que resolva as contradies apontadas anteriormente sobre o dilema primitivo/civilizado, o ser humano como uma conscincia particular e o surgimento de uma autoconscincia universalizante, a cultura como reflexo do egosmo e do mutismo do eu com o outro e outros problemas semelhantes. Porm, para a constituio de uma nova viso antropolgica necessrio mais que uma proposta terica e mais que um grupo de cientistas dedicados. preciso que a cincia assim representada compreenda a sua existncia no conjunto das relaes sociais e culturais ao qual pertence, no como setor ou parte distinta, mas, como numa frmula homeoptica, diluda em todo o seu conjunto . Essa compreenso poderia suscitar o desmanche das concepes dicotmicas irredutveis que se fazem em torno de noes como povo e elite, cincia e folclore, cultura erudita e popular, primitivo e civilizado, etc., concepes essas que obscurecem a natureza da integridade humana e reificam o status quo de desigualdade social. Um ltimo ponto a verificar sobre a dicotomia primitivo/civilizado o uso que se faz da idia de que as culturas ou instituies culturais esto institudas em cdigos e se realizam atravs de lgicas. Encontramos esse uso tanto no estruturalismo lvistraussiano quanto entre os estruturalistas ingleses, como Mary Douglas e os recentes culturalistas americanos como o j citado Sahlins. Mesmo o materialismo histrico, cuja metodologia anti-essencialista, acredita que existe algo especfico ao primitivo que o distingue do civilizado e tal diferena descrita em termos de cdigos ou lgicas. Enfim, pode-se dizer que esses termos fazem parte do vocabulrio corriqueiro dos antroplogos, quase que independente de sua filiao terica. Esses termos esto
inseridos no funcionalismo antropolgico, mas o seu uso ganhou voga com o particularismo cultural americano, no qual se destaca as anlises da antroploga Ruth Benedict e o sentido implcito dos chamados patterns of culture, ou padres de cultura. Por esses padres, as culturas primitivas poderiam ser ou dionisacas ou apolneas como se tivessem, na linguagem atual, um cdigo e uma lgica que dirigiam o comportamento dos seus membros para um lado ou outro. O projeto de Benedict de estender sua anlise para outras culturas estancou, mas a idia de que as culturas primitivas tm uma essncia imutvel ou dificilmente malevel e transcendental faz parte da mentalidade da antropologia independente das escolas tericas existentes. Quero crer, em concluso, que o que une essas vises , portanto, a imanncia da distino primitivo/civilizado. Comecemos a combater essa dicotomia pela presente crtica e pelo mtodo hiperdialtico. A construo de uma nova viso, infelizmente, no depende s da autoconscincia da humanidade, que est continuamente se constituindo e sempre permanecendo parcial. H foras objetivas muito determinantes no contexto das relaes sociais e culturais formadoras do pensamento - foras que tanto podem se situar no interior de uma nao ou de um conjunto de naes quanto em formas culturais que se comunicam - que constituem barreiras quase intransponveis a essa busca. Talvez no seja a hora ainda. Afinal, como se h de pensar que, num sistema globalizador de opresso e obscurecimento, poder-se- chegar a vislumbrar as possibilidades ontossistmicas da cultura e encaminhar um esforo no sentido de seus significados mais enaltecedores, a liberdade, a igualdade e o amor fraternal? Mas tambm quem haveria de pensar que os ndios sobrevivessem e agora estivessem crescendo em populao e em exigncias polticas, desafiando as concepes que se tinham sobre eles? Este livro vai tentar demonstrar na prtica, pelo estudo do povo tenetehara, que essas e outras noes que pertencem ao paradigma da dicotomia primitivo/civilizado no se fazem necessrias, pelo contrrio, so inapropriadas e constrangedoras, para se conhecer como um povo indgena vive ao longo da histria. No precisando acess-los por seus supostos cdigos de comportamento ou de viso do mundo, por suas lgicas conducentes, adotamos uma viso pela qual eles so compreendidos como uma cultura transcendental, em perene constituio, com capacidade para usar estratgias semelhantes s de qualquer outra para sobreviver, abrindo mo de quaisquer itens constitutivos, seja de economia, poltica, comportamento ou religio. O nico item cultural bsico que os mantm a capacidade de se reproduzir socialmente, de ter modos de criar e formar membros novos. Seus cdigos so arranjos histricos e temporais, suas lgicas na mesma intensidade e teor que s de quaisquer outras culturas, inclusive as civilizadas, nos momentos e nas circunstncias dadas. Como em qualquer outra cultura, a tendncia bsica desse povo de se manter o que , de reagir ao diferente e ao novo, de neg-lo, incorpor-lo ou se adaptar a ele por transmutao, ou transfigurao, no dizer de Darcy Ribeiro. Com isso no pretendo obliterar a noo de diferena entre culturas nem desconsiderar que algumas culturas so mais prximas entre si em relao a um conjunto de prticas e vises semelhantes. Tambm no nego o princpio da evoluo pelo qual se prope a transformao cultural a partir de um passado em que havia culturas iguais em nvel de produo econmica e organizao social e que o que hoje se chama primitivo se assemelha quelas culturas. Mas este ser cultural no o mesmo do passado, porque passou pela histria e experimentou transformaes, por um lado; por outro, o mesmo
do passado nas estratgias de sobrevivncia, as quais, no entanto, so as mesmas do presente - em todas as culturas existentes. Talvez no seja possvel chegar ao fim desse livro com o todo desse programa executado, e no haja condies poltico-culturais para realizar algumas das conseqncias tericas e prticas dessas consideraes. Certamente, as reaes a essas proposies viro de muitos quadrantes. A antropologia perder um pouco de seu charme ao desfazer o paradigma primitivo/civilizado e encarar todos como praticantes das mesmas estratgias de sobrevivncia. Ainda assim vale a pena tentar realizar essa tarefa, nem que seja como forma de demonstrar que os Tenetehara no so to diferentes de ns. Seu lugar conosco, neste pequeno mundo e no curto tempo que nos cabe viver. Um tempo em que as populaes indgenas e autctones no ocidentais esto se apresentando ao mundo procura de seu lugar. Sem dvida, um tempo de alguma esperana. Aproximar-se delas, buscar um dilogo verdadeiro, deve ser a tarefa maior da antropologia moderna. Para os irmos indgenas, deve ser bem mais custoso e bem mais radical a tarefa de se aproximar de ns e tentar mudar nossa posio pelo dilogo, sobretudo se eles tencionarem mudar o nosso mundo. Que sejam benvindos!
Moralidade sem Deus ? Olavo de Carvalho At uns sculos atrs, o atesmo era considerado uma simples imoralidade. "Libertinismo" era um dos seus sinnimos. Hoje, fala-se de uma "moralidade leiga" ou mesmo de uma "moral agnstica", como coisa evidente por si mesma e que no necessita especial justificao. Nesse contexto, supe-se que todas as questes morais esto na dependncia exclusiva de certos "princpios" mais ou menos convencionais aceitos pela coletividade, e que portanto podem ser resolvidos segundo critrios unicamente humanos, sem nenhum recurso a uma instncia "divina". Os mesmos "princpios", acredita-se, podem ser aceitos tanto pelos ateus quanto pelos crentes. Crer ou no crer em Deus passa a ser uma questo subjetiva, a ser decidida no foro ntimo de cada um, longe das discusses objetivas sobre a moralidade social, sobre as quais ela no deve exercer nenhuma interferncia relevante. Em suma, a moralidade passou da alada religiosa para a esfera puramente jurdica, educacional ou poltica, e todo apelo idia de Deus, torna-se no caso, uma intromisso indesejvel de consideraes "metafsicas" - no sentido corrente e pejorativo da palavra, isto , de algo absolutamente inverificvel e hipottico - no contexto de uma discusso que bem poderia ser resolvida inteiramente por meios "racionais", isto , mediante o apelo, por exemplo, ao interesse coletivo, aos sentimentos humanos corriqueiros, ou a qualquer outro critrio puramente humano. Se o crente, apesar disso, insiste em imiscuir Deus na moralidade, admite-se cortesmente que o faa, e admite-se isso em nome de um princpio de "tolerncia", que,
por sua vez, tambm no o divino, mas humano, o que resulta em afirmar implicitamente que o homem melhor para Deus do que Deus para o homem. Embora irremediavelmente viciosa, essa postura est to disseminada hoje em dia, que mesmo os sacerdotes dos vrios cultos (para no dizer a massa dos fiis comuns) aceitam discutir nesses termos, como se v em congressos filosficos e educacionais onde o ponto de vista "catlico" ou "judico" apresentado em p de igualdade com outros tantos pontos de vista puramente humanos e contingntes, como se o catolicismo ou o judasmo fossem simples escolas filosficas mais ou menos recentes e improvisadas como o marxismo, o behaviourismo, a psicanlise, etc. Como se pudesse haver uma medida comum entre as religies reveladas e as opinies individuais. Quando consideramos que os cdigos morais da civilizao ocidental derivam todos de alguma fonte religiosa ou espiritual - seja pelo cristianismo, seja pela influncia judaica, helnica ou muulmana, seja pelo Direito Romano, que por seu lado tambm no era de origem "puramente humana" mas estava ligado a todo um complexo mtico e ritual podemos nos perguntar como foi possvel, em menos de trs sculos, uma alterao to profunda. Associa-se geralmente esse fenmeno disseminao, a partir da Renascena e sobretudo depois do sculo XVIII, de vrios tipos de atesmo "cientficos", como o evolucionismo, o pragmatismo, o positivismo, em suma, ao que se denomina o "advento da modernidade". Essa explicao mais ou menos correta, mas com duas ressalvas. Primeira que o processo no se inicia na Renascena, mas remonta ao sculo XIII, quando fatos de natureza puramente poltica e interna da Igreja desencadearam a destruio da imagem crist-medieval do cosmos, muito antes dos descobrimentos cientficos aos quais se atribui erroneamente essa destruio. Tais fatos so demasiado complexos para explicar aqui, mas j me referi mais extensamente a eles num livreto publicado algum tempo atrs, sendo desnecessrio repeti-los aqui. Basta dizer que eles levam concluso de que est inteiramente errada a concepo popular segundo a qual foi o "progresso cientfico" que destruiu a primazia da concepo crist na cultura ocidental. Em segundo lugar, se a disseminao do atesmo foi a causa genrica da ascenso da moralidade agnstica, destaca-se, entre as manifestaes do atesmo, uma especificamente, que por sua fora de convico pode ser considerada a determinante da atitude moral contempornea, ou pelo menos sua mais relevante justificao. Trata-se da divulgao pelos antroplogos e etnlogos, da diversidade de cdigos morais nas vrias culturas. Os antroplogos associam essa diversidade variao nas instituies polticas e econmicas, nas formas de adaptao do homem ao meio natural, nas estruturas familiares, etc. Isso tende evidentemente a mostrar o carter adaptativo e secundrio da moralidade e, portanto, a abolir toda idia de uma moralidade absoluta de origem divina. Os livros clssicos, nesse sentido, so os de Bronislaw Malinowski e Ruth Benedict, entre outros, que se tornaram modelares como padres da atitude cientfica ante as demais culturas.
A atitude de "iseno imparcial" do antroplogo exige que ele se limite a descrever as diferenas de padres morais entre as vrias culturas, sem pronunciar-se sobre a superioridade de uns sobre os outros nem sobre a verdade ou erro de cada um em particular. Restaria perguntar se essa "iseno" cria condies para uma objetividade, como parece primeira vista, ou se ela j no constitui um parti pris que vicia todas as concluses. Na realidade, para situar-se imparcialmente ante todos os cdigos morais, o cientista deveria ou possuir um outro cdigo, intelectualmente superior a todos eles - que os abrangesse e superasse dialeticamente, constituindo-se como um eixo permanentemente do qual derivassem como variaes ocasionais - ou, caso contrrio, colocar-se num ponto de vista simplesmente amoral ou indiferente. A primeira hiptese est excluda porque tal alegao de superioridade no seria "cientfica", e de fato os antroplogos jamais a adotam. Quanto segunda hiptese, que de fato a da maioria dos cientistas, no se compreende como uma atitude indiferente poderia levar a outra coisa seno indiferenciao, ou seja, a encarar todos os cdigos morais como igualmente irrelevantes. Em outras palavras, no se v como a indiferena poderia ajudar a captar, precisamente, diferenas. Resta ainda uma terceira alternativa, que a de o cientista colocar-se numa posio ativamente antimoral ou imoral, de modo que a descrio das vrias moralidades resultasse em relativiz-las todas de tal modo que, vistas juntas, assumissem o aspecto de uma absurda galeria de erros, esquisitices regionais e preferncias arbitrrias. Pareceme que justamente isso o que acontece em grande nmero de obras antropolgicas, mesmo quando o autor tem uma atitude de simpatia para com a cultura em apreo, pois vai tratar-se ento de uma simpatia meramente sentimental, que em nada contribui para a apreenso intelectual da validade universal dos padres morais dessa cultura. E se no para descobrir em cada cultura seus valores universais e permanentes, para que estudlas? Se a proclamao do relativismo cultural dos cdigos morais resultou em abolir toda autoridade moral objetiva, teve ainda o dom de transformar o indiferentismo moral - ou imoral - dos antroplogos na nica atitude moral aceitvel, porque a nica "cientfica". Com isso, no estou negando o fato da variao dos cdigos morais, mas apenas o modo de encar-los e as concluses que se tiram dele. Porque, se os cdigos morais divergem, no menos verdade que cada um deles se apresenta como verdadeiro, e que esta reivindicao de uma verdade faz parte da natureza mesma dos cdigos morais. De modo que, de duas uma : ou esto todos errados - o que implica uma condenao global da inteligncia humana, condenao da qual no estaria isento o antroplogo que a proferisse - , ou ento a variao mesma deveria ser encarada como uma pluralidade de aspectos da mesma verdade. Cada cdigo moral seria ento visto como uma adaptao temporal e contingente de uma mesma Lei supratemporal e, em sua essncia, invarivel. Ou seja : de uma Lei divina. Isto significa que o estudo da diversidade dos cdigos morais teria de ser feito como uma aplicao particular de um conhecimento da "moralidade universal" emanada da philosophia perennis, ou unidade transcendente das religies (Frtihjof Schuon, De lunit transcendante des rligions, Paris, Le Seuil, reed. 1978 ou a traduo brasileira, Da unidade transcendente das religies, So Paulo, Martins, s/d).
Como, porm a hiptese de uma Lei transcendente e imutvel est fora da esfera do antroplogo, as variaes acabam no sendo referidas a nenhum eixo comum, com o que se acaba caindo num contra-senso lgico que, na terminologia escolstica, seria o da diferena de espcies sem comunidade de gnero. Perdendo-se de vista toda essncia permanente do fenmeno "moralidade", o fato mesmo da variao absolutizado, sendo que o termo "variao" j por si relativo a um sujeito lgico que varia. Liquidada a hiptese de uma moral objetiva, fundada no absoluto, a perspectiva que restava era a de um puro acordo entre sentimentos, desejos ou interesses humanos, individuais ou grupais, e a isto que se reduz o conceito atual de moralidade. Esse conceito, por sua prpria natureza, implicar uma nivelao das "preferncias" morais, e as divergncias eventuais tero de ser decididas, enfim, por um critrio simplesmente numrico ou "democrtico". Neste sentido, basta que um nmero considervel de pessoas se decida a defender uma aberrao qualquer, para que ela se torne uma preferncia moral legtima, com todo o "direito" de ser exercida. Claro que, crescendo o nmero de reivindicaes divergentes, as mais estapafrdias esquisitices individuais e grupais sero admitidas como formas variantes de "moralidade", e o acordo final ter de se estabelecer em torno de "preceitos mnimos" que possam ser aceitos por todos indiferentemente, isto , em torno dos sentimento mai vulgares e corriqueiros. A discusso da moralidade, assim, tende a transformar-se numa simples disputa eleitoral ou de mercado. Nesse panorama, a moralidade "absoluta" do crente passa a ser apenas uma preferncia entre outras, sem nenhum direito especial, e a defesa de Deus ter de concorrer, no mercado livre, com a defesa da homossexualidade e do sadismo, do aborto ou do racismo. Nenhuma das igrejas ter nada a reclamar, quando seus adversrios as acusarem de estar disputando sua freguesia ou cabalando eleitores. evidente que, ao aceitarem a discusso nesses termos - mesmo que seja pelas melhores intenes -, os crentes de todas as religies reveladas j as colocam numa posio de inferioridade, de modo que, como se diz no refro popular, com tais amigos, para que a religio precisar de inimigos? Em toda a discusso moral contempornea, parece que h um ponto que sempre passado em branco. Se toda moralidade se pretende verdadeira, ento um certo carter absoluto, ou, se quiserem, absolutista, faz parte da essncia mesma da moral, e, neste caso, poderamos perguntar se uma "moralidade relativa", como se pretende hoje em dia, constitui moralidade de qualquer espcie que seja, ou se no apenas uma ausncia de moralidade. importante notar que o que se afirma hoje no apenas a relatividade deste ou daquele cdigo moral em particular, mas a relatividade da moral. Como ela se apresenta sempre sob formas variadas, conclui-se da, num sofisma bastante sutil, que essa variabilidade est na essncia da moral, e no apenas nas condies contingentes histricas, sociais, etc. - em que ela se manifesta. A "iseno imparcial" do antroplogo uma forma de nominalismo moral. Quanto aos padres morais particulares, estes sempre foram relativos, como se v pelo sentido mesmo da palavra mores , "costumes", isto , algo que por si no afirma validade universal, mas apenas uma conjuno temporria de fatores.
Ocorre que todas as leis morais do passado, relativas em si mesmas, postulavam-se no entanto como originadas no absoluto, ou seja, como expresses ou reflexos temporais, e portanto necessariamente relativos, de uma verdade supratemporal e absoluta. Nesse sentido, a moralidade, como a inteligncia mesma - se me permitem utilizar uma expresso paradoxal de Frithjof Schuon - goza de uma condio "relativamente absoluta", no sentido de uma projeo ou reflexo do absoluto no tempo. E est claro que as variaes de um reflexo no indicam a inconstncia da fonte de luz, mas da superfcie refletante, como sombras projetadas pelo sol numa folhagem batida pelo vento. As leis morais, relativas porque feitas para homens, so absolutas porque no foram feitas por homens, mas apenas recebidas por estes, e sujeitas aos limites e variaes do receptor. Se o conhecimento , precisamente, a reduo da multiplicidade fenomnica unidade de um princpio, a constatao das variaes morais s teria sentido intelectual se conduzisse constatao de uma unidade principial (termo cunhado por Ren Gunon , para designar o que se refere ao mundo dos princpios, eternos e imutveis, por oposio ao mundo da manifestao.) e supra-histrica. Mas isto exatamente o contrrio do que faz a antropologia, a qual dissolvendo a unidade da moral numa variao absolutizada, s pode levar multiplicidade e confuso. (As tentativas recentes de alguns antroplogos, nos Encontros de Royaumont, sob a chefia de Edgar Morin e Massimo Piatelli-Plamarini, para reconstituir uma certa "unidade do homem" por baixo da variedade das culturas, alm de constituir apenas um tardio reconhecimento do bvio por parte de quem sempre o negou, ainda um reconhecimento tmido e parcial, e baseado em razes puramente contingentes, como as de ordem biolgica, por exemplo.) Quando se fala de "projeo do absoluto no tempo", isto no se refere apenas aos cdigos morais, mas sim a toda a Lei revelada (da qual, alis, o aspecto moral no seno uma parcela entre muitas). Em todas as tradies espirituais, a revelao sempre foi entendida como uma "descida" de um plano a outro - o absoluto consentindo falar a linguagem do contingente - , o que implica um certo carter paradoxal da verdade revelada. Do ponto de vista lingustico, Schuon, observa que, em todos os textos sacros, a revelao "estoura" os quadros gramaticais e semnticos de um idioma simplesmente humano, remanejando-os e, de certo modo inaugurando uma "nova" lngua, como o Pentateuco inaugura o hebraico e o Alcoro o rabe. A moral, por isso, sempre apresentou duas faces : uma absoluta, voltada para sua raiz na eternidade; outra relativa, reflexo da eternidade no tempo. O simplismo dos tempos modernos sempre sentiu esse paradoxo como insuportvel, tentando liquid-lo pela supresso de um dos termos, sistematicamente o primeiro deles. Ora, a moralidade atual no apenas relativa, como o foram todas as que antecederam, ela relativista, o que totalmente diferente. Ela no apenas tem um atributo de relatividade, como todas, mas funda-se na relatividade enquanto tal. As moralidades anteriores limitaram-se a aceitar a relatividade de fato, como fatalidade inevitvel da condio humana. A moralidade atual deseja essa relatividade e a proclama como uma superioridade de jure, fazendo seu princpio e sua bandeira. Nesse sentido, mesmo a palavra "relativista" no suficiente, pois um relativista de jure uma negao ativa do absoluto, e, portanto, a moralidade moderna essencialmente
negativa ou negativista. A questo toda, ento, resume-se na pergunta: em que medida uma negao pode servir de fundamento para o que quer que seja? Claro, pode-se partir de uma negao para fazer um raciocnio filosfico, que proceder ento por uma sequncia de precises e distines, isto , por negaes sucessivas e progressivamente particularizadas. Mas est claro que, na anlise lgica como na anlise qumica, a diviso em partculas cada vez menores pode prosseguir indefinidamente, abrindo-se enfim, apenas para os sucessivos abismos do infinitesimal. O correlato moral da partio infinitesimal da matria a dvida : pode-se prosseguir questionando e duvidando indefinidamente, mas ningum diria que isto serve de base para um cdigo moral, que no existe para criar dvidas, mas para apoiar a deciso e a ao. O preo moral de uma opo pela anlise interminvel a perplexidade paralisante da dvida eterna. Por outro lado, a moral negativa, no podendo, por definio, firmar um contedo moral positivo, dever proceder por negaes, isto , por restries e proibies, que, por sua vez, podero particularizar-se progressivamente at abarcar detalhes insignificantes, o que precisamente a tendncia do Estado burocrtico moderno, o qual se permite regulamentar assuntos que as sociedades tradicionais preferiram deixar a critrio de cada qual. A moralidade leiga, portanto, constituir apenas um cdigo jurdico de penalidades, e no um cdigo de valores positivos que sirva de base para a deciso e, portanto, para o fortalecimento da personalidade humana. Da a associao, comum entre jovens de hoje, entre "moral" e "represso", pois jamais tendo conhecido um cdigo moral que remeta para o alto, para o absoluto e para o sentido da existncia, s podem imaginar a moral como um impedimento e uma agresso. Claro que a moralidade negativa, procedendo por negaes sucessivamente particularizadas, ter de tomar como parmetro o mais baixo e o mais vil, pois, de um ponto de vista "cientfico", o crime uma realidade positiva e a ascenso do homem a uma dimenso transcendente apenas uma hiptese entre outras, matria de conjectura e no de deciso prtica. A moralidade negativa s pode surgir, assim, numa sociedade que encara o pior como norma, o ruim e o feio como "realidade", e o bem, a verdade e a beleza como vagos ideais inatingveis, o que implica uma condenao a todo o cosmos. Contraditria de um ponto de vista lgico, a moral agnstica tambm uma impossibilidade psicolgica, por um motivo muito simples. Na tradicional diviso ternria do ser humano - corpo, alma esprito - a moral diz respeito especificamente alma, ou seja, ao campo das emoes, volies, desejos, etc., das quais nossos atos emanam como simples projees corporais. Ningum ter dvidas em compreender que nossas emoes dependem de nossas representaes simblicas, isto , que nosso cdigo simblico pessoal e grupal firma algumas coisas como desejveis, outras como detestveis, temveis, etc., e que essa "montagem" simblica, por sua vez, "canaliza" a energia das emoes, produzindo comportamentos.
Toda moral depende, portanto, de uma hierarquia de smbolos. Os objetos de afeto que colocarmos no topo da hierarquia decidiro, em ltima anlise, os comportamentos e reaes morais secundrios. Por mais ilgica que seja a escolha desse valor supremo, bem como dos smbolos que o corporificam, a estrutura interna da hierarquia simblica tem uma certa coerncia lgica, pois se colocamos, por exemplo, o prazer da vida corporal no topo, e o simbolizamos pela imagem de status, de riqueza, de luxria, est claro que no degrau seguinte da hierarquia no poder estar um smbolo de pureza virginal ou de abnegao no sacrifcio. Toda a arte tradicional, alis, baseia-se na realidade e coerncia dos smbolos, de modo que a "liberdade" artstica atual no sentido de utilizar qualquer smbolo com qualquer sentido pode ter consequncias psicolgicas imprevisveis. Toda a questo da moral resume-se, assim, na pergunta: qual o nosso objeto de maior afeto, e como o simbolizamos? A que dirigimos o maior volume do nosso fluxo de energias psquicas? Nem todos os objetos de afeto podem ser representados com a mesma facilidade, e pelos mesmos meios. Se o que mais amamos apenas uma pessoa, podemos representla mediante uma simples recordao, sem nenhum grande esforo. Mas se adotamos um ideal abstrato, por mais vulgar que seja, a "paz social" por exemplo, a representao disso exigir um esforo maior, e j no poder ser uma representao meramente subjetiva, pois neste caso o que para ns a paz para um outro pode ser o smbolo da desordem e da violncia, e assim nossa estrutura afetiva estaria permanentemente ameaada de contestao desde fora. Ou seja, quanto mais universal o objeto de afeto, maior esforo de objetividade estar implicado na sua representao, e maior o afeto que deveremos ter para nos motivar a isso. Isso significa que a quantidade e qualidade do esforo que fazemos para representar para conhecer- nosso objeto de afeto j um sinal da sua universalidade, e portanto da sua qualidade objetiva. Ora, se o objeto de amor mais alto ento aquele que demanda maior esforo concentrado para o conhecimento da sua universalidade, est claro que a nica noo que cumpre essa exigncia a noo de Absoluto, justamente porque o absoluto est acima de todas as representaes. Ele constitui o objeto de afeto por excelncia, pois seu conhecimento demanda o melhor de ns mesmos, num esforo concentrado que faz com que esse amor tenha o dom de nos tornar melhores, e que portanto seja o nico amor que, de certo modo, traz em si sua prpria recompensa. Todas as demais formas de amor no so seno reflexos ou smbolos desse nico "ser" ao qual jamais poderemos amar tanto quanto lhe cabe por Sua constituio ontolgica mesma, ou antes, por sua constituio supra-ontolgica. Como esta ascenso progressiva no amor, pela concentrao, pela devoo e pelo esforo, constitui o que propriamente se chama ascese e purificao, todas as formas de amor so necessariamente um tanto ascticas, sob pena de no serem amor de maneira alguma. Mais ainda, como toda hierarquia afetiva - e portanto moral - emana desse mesmo paradigma, a compreenso de todos os cdigos morais temporais e particulares depende da nossa prpria proximidade em relao ao Absoluto, ou seja : toda objetividade intelectual perante a diversidade dos cdigos morais s se pode estabelecer "desde cima", desde um amor modelar e to alto que possa abranger sinteticamente todas as
outras possibilidades de expresso, e nunca "desde baixo", desde uma simples postura artificial de indiferena acadmica, que no mais do que insensibilidade senil. Em suma: todos os cdigos morais s podem ser compreendidos a partir da moralidade absoluta. Neste sentido, os grandes santos e mestres das vrias tradies, uma vez tendo alcanado o estado supremo, podem inclusive transcender as formas contingentes da sua prpria tradio (seja nos aspectos rituais ou morais), pois o absoluto o ponto central da coincidentia oppositorum, onde as divergncias dogmticas se reabsorvem numa unidade superior. Como dizem os muulmanos, "as divergncias entre os doutores da religio tambm so uma ddiva da misericrdia divina". Entretanto, essa superao das formas s possvel aps a absoro integral da tradio a que pertencemos, pois ningum se tornar um santo sem ter antes sido um fiel. Esta advertncia de resto bvia, mas talvez seja preciso repeti-la numa poca em que ateus e materialistas confessos se permitem pregar a "superao dos formalismos religiosos", como se esta superao pudesse ser outra coisa seno o resultado final da obedincia estrita aos mesmos formalismos, e como se o rgido legalismo judaico no tivesse tido de vir antes da pura espiritualidade interior, que no foi trazida pelo Cristo para abolir a Lei, mas para cumpri-la. Mohyyddin Ibn-Arabi disse que seu corao era "tanto a Kaaba do peregrino quanto a cela do monge cristo ou as tbuas da Torah". Mas disse-o depois de reconhecido como um muulmano exemplar, como um santo e como a maior figura do Isl depois do profeta Mohammed. No deixa de ser um exemplo para aqueles "cristos" que, em nome de um universalismo puramente inventado e abstrato, falam hoje em "superar o Cristianismo em nome do Cristo". As diferenas entre os cdigos morais das vrias tradies resolvem-se desde cima, na perspectiva universal daquele que se tornou um "amigo de Deus" e que pode restituir a cada variante sua parcela na verdade total, e dissolvem-se desde baixo, no indiferentismo relativista da "imparcialidade cientfica" ou no universalismo abstrato do pseudo-espiritualismo que despreza a autenticidade de cada religio e cada cdigo em particular. Por isto se diz que nada to parecido com a verdade quanto um erro, e que Sat o imitador, o macaco de Deus. Resta ainda a hiptese de, embalados por algum dos sentimentalismos contemporneos, elevarmos algum ideal parcial - a paz social, a liberdade, a felicidade, o amor humano, ou seja l o que for - condio de absoluto, e o cultuarmos em seguida. Mas isto a definio mesma da idolatria, e no pode ter sido para isto que Moiss quebrou o bezerro de ouro, que Mohammed invadiu a Kaaba para quebrar os dolos, ou que o Cristo, num de seus mais sublimes paradoxos, respondeu ao suplicante: "Por que me chamas bom? S Deus bom".
Вам также может понравиться
- São Cipriano - O Livro Negro de São CiprianoДокумент32 страницыSão Cipriano - O Livro Negro de São CiprianoAlex Souza100% (5)
- Viagem AstralДокумент95 страницViagem AstralCamila Schincariol100% (6)
- Iemanjá e Pomba-gira: imagens do feminino na UmbandaДокумент313 страницIemanjá e Pomba-gira: imagens do feminino na UmbandaHermes De Sousa VerasОценок пока нет
- Evágrio Pôntico - Sobre Os Oito Vícios CapitaisДокумент15 страницEvágrio Pôntico - Sobre Os Oito Vícios CapitaisGustavo BravoОценок пока нет
- Aprofundamento dos CarismasДокумент48 страницAprofundamento dos CarismasCarlos Santana100% (1)
- Licenciatura em Biologia - BotânicaДокумент74 страницыLicenciatura em Biologia - BotânicaBiologia Marinha83% (12)
- Pereira Americo Louis Lavelle Senda Milenar Tradicao MetafisicaДокумент96 страницPereira Americo Louis Lavelle Senda Milenar Tradicao MetafisicaGustavo BravoОценок пока нет
- BR Ef Englishlive Guia Pratico Familia em InglesДокумент7 страницBR Ef Englishlive Guia Pratico Familia em InglesAnonymous IXrdbYVWОценок пока нет
- Efeito e Recepção de Itania Maria Mota GomesДокумент259 страницEfeito e Recepção de Itania Maria Mota GomesPauloRezendeОценок пока нет
- Magia Divina e o Tempo na Umbanda: firmeza e assentamento simplesДокумент3 страницыMagia Divina e o Tempo na Umbanda: firmeza e assentamento simplesRomulo PimentaОценок пока нет
- Cultura Da Região NorteДокумент3 страницыCultura Da Região NorteMaisa Hetfield Ferreira100% (1)
- O HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosДокумент111 страницO HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosMFS5651100% (2)
- O HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosДокумент111 страницO HOMEM QUE NASCEU PÓSTUMO - Mário Ferreira Dos SantosMFS5651100% (2)
- Celtas - Avalon Ou GlastonburyДокумент3 страницыCeltas - Avalon Ou GlastonburyDruida VirgílioОценок пока нет
- TESTE 7º Ano Conto Turmas AДокумент5 страницTESTE 7º Ano Conto Turmas AEllyAlm100% (1)
- Os problemas da filosofia brasileiraДокумент199 страницOs problemas da filosofia brasileiraVinícius dos Santos100% (1)
- O Fim Da Filosofia e A Tarefa Do PensamentoДокумент15 страницO Fim Da Filosofia e A Tarefa Do PensamentoEsdras GabrielОценок пока нет
- Conceitos Fundamentais Da Análise Do DestinoДокумент30 страницConceitos Fundamentais Da Análise Do DestinoGustavo BravoОценок пока нет
- Michel Adam Solidao e ComunhaoДокумент3 страницыMichel Adam Solidao e ComunhaoGustavo BravoОценок пока нет
- Seminario Leituras Tomistas Do DireitoДокумент1 страницаSeminario Leituras Tomistas Do DireitoGustavo BravoОценок пока нет
- Adalberto Cardoso - Construção Da Sociedade Do Trabalho No Brasil 2 - Parte 2 2Документ16 страницAdalberto Cardoso - Construção Da Sociedade Do Trabalho No Brasil 2 - Parte 2 2Gustavo BravoОценок пока нет
- Anotações Hist IVДокумент2 страницыAnotações Hist IVGustavo BravoОценок пока нет
- Dez PropostasДокумент30 страницDez PropostasGustavo BravoОценок пока нет
- Resumo Interdisciplinaridade e ContextualizaçãoДокумент1 страницаResumo Interdisciplinaridade e ContextualizaçãoGustavo BravoОценок пока нет
- Papa Francisco - JMJ 2013 RioДокумент48 страницPapa Francisco - JMJ 2013 RioGustavo BravoОценок пока нет
- Resumo Interdisciplinaridade e ContextualizaçãoДокумент1 страницаResumo Interdisciplinaridade e ContextualizaçãoGustavo BravoОценок пока нет
- Hempel, C.G. - Filosofia Da Ciência NaturalДокумент71 страницаHempel, C.G. - Filosofia Da Ciência NaturalNico FrizzariniОценок пока нет
- 5 - Pedro AbelardoДокумент4 страницы5 - Pedro AbelardoGustavo BravoОценок пока нет
- Daniel Goleman I.EДокумент6 страницDaniel Goleman I.EGustavo BravoОценок пока нет
- O significado filosófico do ecletismo na primeira escola de pensamento brasileiraДокумент333 страницыO significado filosófico do ecletismo na primeira escola de pensamento brasileiraGustavo Bravo100% (1)
- Os Interpretes Da Filosofia Brasileira PDFДокумент241 страницаOs Interpretes Da Filosofia Brasileira PDFLinneker BelinniОценок пока нет
- Apontamentos Sobre HisteriaДокумент3 страницыApontamentos Sobre HisteriaGustavo BravoОценок пока нет
- Livro-A (1808-1930)Документ318 страницLivro-A (1808-1930)fraticelli8882828100% (1)
- Filosofia Brasileira ContemporaneaДокумент201 страницаFilosofia Brasileira ContemporaneaSebáh-1959Оценок пока нет
- Etapas Iniciais Filosofia BrasileiraДокумент240 страницEtapas Iniciais Filosofia BrasileiraGustavo BravoОценок пока нет
- As Filosofias NacionaisДокумент178 страницAs Filosofias NacionaisGustavo BravoОценок пока нет
- Antonio Paim Filosofia - BrasileiraДокумент17 страницAntonio Paim Filosofia - BrasileiralopeslealОценок пока нет
- Religião e PensamentoДокумент141 страницаReligião e PensamentoLeonis___Оценок пока нет
- Tratado de EticaДокумент193 страницыTratado de EticaGustavo BravoОценок пока нет
- Iniciacao Antropologia TomasicaДокумент22 страницыIniciacao Antropologia TomasicaGustavo BravoОценок пока нет
- Maria Augusta de CASTILHOДокумент12 страницMaria Augusta de CASTILHOSariza CaetanoОценок пока нет
- Animacao Cultural - FlusserДокумент3 страницыAnimacao Cultural - FlusserErica MattosОценок пока нет
- TotensДокумент4 страницыTotensHellPyre666Оценок пока нет
- A origem da alma: as principais teorias ao longo dos séculosДокумент6 страницA origem da alma: as principais teorias ao longo dos séculosJéssica Motta100% (2)
- Bíblia SatanicaДокумент64 страницыBíblia SatanicaKarlMaloneОценок пока нет
- O Milagre do PerdãoДокумент3 страницыO Milagre do PerdãoGiovani Messias da Rosa0% (1)
- PEIRANO, Mariza. Etnografia, Ou A Teoria VividaДокумент12 страницPEIRANO, Mariza. Etnografia, Ou A Teoria VividaMaria LimaОценок пока нет
- O Sentido Das Palavras-Princípio Na Filosofia Da Relação de Martin BuberДокумент8 страницO Sentido Das Palavras-Princípio Na Filosofia Da Relação de Martin Bubermmrod100% (1)
- Guernica Analise de ObraДокумент9 страницGuernica Analise de ObraIago AvelarОценок пока нет
- Estrutura do curso de língua russa e níveis de acordo com o Quadro Comum EuropeuДокумент1 страницаEstrutura do curso de língua russa e níveis de acordo com o Quadro Comum EuropeuovofieОценок пока нет
- Ciência e tecnologia no olhar de LatourДокумент7 страницCiência e tecnologia no olhar de LatourFlávia BarbosaОценок пока нет
- Pluralismo jurídico e direitos alternativos na favela e sociedadeДокумент6 страницPluralismo jurídico e direitos alternativos na favela e sociedademcallaiОценок пока нет
- O Que Respondi Aos Que Me Perguntaram Sobre A Biblia Vol 4Документ188 страницO Que Respondi Aos Que Me Perguntaram Sobre A Biblia Vol 4BenR.MacDowellОценок пока нет
- Documents Astrea Astrea-26Документ32 страницыDocuments Astrea Astrea-26André FossáОценок пока нет
- Os exus na Umbanda: representações e magiaДокумент268 страницOs exus na Umbanda: representações e magiapaulОценок пока нет
- Psicologia Da SaúdeДокумент6 страницPsicologia Da Saúdefin.20051454100% (1)
- Cortázar e A Perspectiva de Um Devir-AxolotlДокумент10 страницCortázar e A Perspectiva de Um Devir-AxolotlAna Carolina CernicchiaroОценок пока нет
- Intervenção Com Crianças InstitucionalizadasДокумент17 страницIntervenção Com Crianças InstitucionalizadasclaracruzsantosОценок пока нет
- Patrimônio de Palmitinho: Festa e IgrejaДокумент14 страницPatrimônio de Palmitinho: Festa e IgrejaDouglas Orestes FranzenОценок пока нет