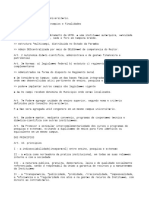Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Lei Tura
Загружено:
Fernando Silva0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
29 просмотров0 страницLeitura & Produção Textual
Авторское право
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документLeitura & Produção Textual
Авторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
29 просмотров0 страницLei Tura
Загружено:
Fernando SilvaLeitura & Produção Textual
Авторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 0
67
LEITURA E PRODUAO DE TEXTO I
Do texto para o mundo e do mundo para o texto:
movimentos de leitura e de escrita
Maria Ester Vieira de Sousa
Regina Celi Mendes Pereira
Apresentao
Caro Aluno!
A disciplina Leitura e Produo de Texto I tem como foco principal
introduzir, desde o primeiro semestre do Curso, uma discusso sobre a leitura
e a produo de texto, aliando teoria e prtica, para que, atravs da reviso de
conceitos bsicos que informam essa disciplina, o educando possa repensar a sua
prtica de leitura e de produo de texto, ao mesmo tempo em que reete sobre
esse contedo de ensino.
Nesse sentido, essa disciplina encontra-se divida em trs unidades. A
primeira pretende dar conta da discusso acerca das noes de leitura e das
perspectivas tericas que sustentam essas noes, enfocando a relao leitor/
texto/autor. Sero priorizadas trs perspectivas tericas: Cognitivista, Scio-
interacionista, Discursiva. A segunda unidade tem como objetivo apresentar
uma viso geral do conceito de gnero " partindo da tradio literria at os dias
atuais ", bem como sua descrio e funcionalidade. A terceira unidade tratar
da importncia da utilizao dos gneros textuais para o ensino da leitura e
da escrita e de suas implicaes, enquanto procedimento metodolgico, para o
desenvolvimento dessas competncias.
69
UNIDADE I
NOES DE LEITURA E SUA RELAO COM O ENSINO
1.1 Breve introduo
Atualmente torna-se ainda mais presente, dentro e fora da escola, um
discurso de valorizao da leitura. Contraditoriamente, tambm comum um
discurso que alega a sua ausncia. Iniciemos, ento, esclarecendo essa contradio.
A expresso ! preciso ler" faz parte do dia-a-dia da escola e uma exigncia da
nossa sociedade; paralelamente, arma-se constantemente que o aluno no gosta
de ler, que o brasileiro no l e, em conseqncia, no possui uma viso crtica do
mundo que o cerca. Ler passou a ser um imperativo dos nossos tempos, do qual
no podemos fugir. Ou seja, parece que no podemos no ler. Mas o que ler?
O que lemos? Qual o objeto da leitura e para que lemos? Apesar de essas serem
perguntas excessivamente repetidas, precisamos voltar a elas. Isso talvez porque
a resposta no seja to bvia quanto, em geral, supe o senso comum.
Podemos dizer que a noo de leitura esteve quase sempre associada
escrita, contudo esse no tem sido um ponto de vista unnime sobre o assunto.
Paulo Freire (1983, p. 11-12) formula uma frase sobre a leitura que se tornou
recordista em nmero de citaes e aqui vamos, mais uma vez, cit-la: !A
leitura do mundo precede a leitura da palavra, da que a posterior leitura desta
no possa prescindir da continuidade da leitura daquele." Qual, ento, o objeto
da leitura? Para Paulo Freire, esse objeto amplo: o mundo e a palavra. Ler o
mundo signica compreender a realidade que nos cerca, mediada no apenas
pela palavra, mas por objetos, pessoas, gestos, imagens. Ler o mundo um ato,
uma ao do sujeito, uma !atividade perceptiva" de construo do sujeito no
mundo, de reconhecimento do seu ser no mundo, do seu lugar no mundo e de
sua relao necessria com o outro. De incio, o mundo da/com a famlia, com os
amigos, com os vizinhos que nos dado a ler. Esse um mundo de leitura: eu leio
o sorriso nos lbios do outro e o julgo sincero ou falso, amistoso ou sarcstico; o
sertanejo (homem do campo) olha para o cu a espera de um sinal de que a chuva
vir e dependendo da leitura que faa se encher de esperana ou debulhar o
seu rosrio de preces em dias melhores; o homem das grandes cidades, atento
metereologia, ao saber que vem chuva, prepara-se para o encontro com ruas
alagadas, trnsito engarrafado, transtorno, enm.
Ler, nesse sentido, !atribuir sentidos" ao mundo. Sendo assim,
essa noo, alm de, em princpio, no estar necessariamente ligada a uma
aprendizagem da palavra escrita, supe que qualquer objeto ou situao sejam
passveis de leituras. Nesse sentido, o homem conhece o mundo e com ele
interage a partir das leituras que vai desenvolvendo. Ou seja, lemos o mundo,
antes de aprender a ler a palavra. Mas, voltando frase de Paulo Freire, temos
que essa leitura de mundo fundamental para a leitura da palavra, a qual no
pode se esgotar em si mesma, ou seja, a leitura da palavra no pode ser a mera
decodicao dessa palavra, preciso compreend-la em seu contexto, devolv-
70
la ao mundo, inclusive, para melhor entender esse mundo: a leitura da palavra
escrita apia-se no conhecimento adquirido ao longo da vida, ao mesmo tempo
em que amplia e modica esse conhecimento.
Vamos agora limitar a nossa reexo leitura da palavra escrita. Para
tanto, xaremos como o condutor os sujeitos (leitor e autor) e o objeto da leitura
(o texto escrito). Antes, porm, propomos uma reexo inicial.
REFLITA: Como se deu a sua aprendizagem de leitura da palavra escrita?
Voc lembra como aprendeu a ler? Qual a importncia da escola para essa
aprendizagem? Algum em especial contribuiu para essa aprendizagem?
Propomos que voc utilize a ferramenta dirio e registre l as suas memrias de
leitor da palavra escrita.
Voltemos, ento, a falar da leitura da palavra escrita, especicamente,
problematizando o objeto da leitura, o texto escrito.
1.2 O que um texto?
Vamos partir de um exemplo:
A gua
A gua uma substncia fria e mole. No to fria quanto o gelo
nem to mole quanto gema de ovo porque a gema de ovo arrebenta
quando a gente molha o po e a gua no. A gua fria mas s
quando a gente est dentro. Quando a gente est fora nunca se sabe a
no ser a da chaleira, que sai fumaa. A gua do mar mexe muito mas
se a gente pe numa bacia ela pra logo. gua serve pra beber mas eu
prero leite e papai gosta de cerveja. Serve tambm pra tomar banho e
esse o lado mais ruim da gua. gua doce e salgada quando est
no rio ou no mar. A gua doce se chama assim mas no doce, agora
a gua salgada bastante. A gua de beber sai da bica mas nunca vi
como ela entra l. Tambm no chuveiro a gua sai ninha mas no
entendo como ela cai ninha quando chove pois o cu no tem furo.
A gua ainda serve tambm pra gente pegar resfriado que quando
ela escorre do nariz. Fora isso no sei mais nada da gua
Esse exemplo poder levar o leitor a formular algumas indagaes: trata-
se realmente de um texto ou de um amontoado de frases bvias sobre a gua?
Isso s pode ser coisa de quem no sabe escrever, coisa de criana. isso! uma
redao que o aluno escreveu na aula de cincia quando a professora pediu
para ele falar sobre a gua, suas propriedades e utilidade. O problema que ele
nem sabe escrever, nem sabe o que dizer. Imagine! Onde j se ouviu dizer que
fria, quente, mole, inquebrvel (no arrebenta), doce, salgada so propriedades
da gua? E dizer que a gua serve para pegar resfriado? O texto est muito
71
ruim mesmo ! se que isso pode ser chamado de texto" Vamos ento chamar o
professor de portugus e ver o que ele pode fazer.
O professor de portugus, diante desse exemplar, pensar: no sei nem por
onde comear a correo: o autor repete incansavelmente a palavra gua; h frases
incompreensveis, truncamentos sintticos, anacolutos, comparaes absurdas...
quem j viu comparar gua com gema de ovo? Como eu vou explicar uma frase
como essa: #Quando a gente est fora nunca se sabe a no ser a da chaleira, que
sai fumaa.$? Alis, quem disse que isso uma frase? Veja que faltam termos:
#quando a gente est fora! ... fora de qu? #Nunca se sabe$ de qu?
Vamos fazer um exerccio de compreenso desse texto, iniciando por
essa frase. A primeira questo a observar que um texto no um amontoado
de frases e que existem aspectos que no se esclarecem nos limites de uma frase
tomada isoladamente de seu contexto. Seno vejamos. Vamos inserir essa frase
em um maior fragmento do texto:
A gua fria mas s quando a gente est dentro. Quando a gente est fora
nunca se sabe a no ser a da chaleira, que sai fumaa.
A frase agora no nos parece to incoerente ou to lacnica, se a
relacionarmos com o sentido da antecedente. Antes ns acusamos o autor de ser
repetitivo. Agora notemos que ele usou o recurso lingstico da elipse para evitar
repetio, caso contrrio esse trecho caria:
A gua fria mas a gente s sabe que a gua fria quando a gente est dentro
da gua. Quando a gente est fora da gua a gente nunca sabe se a gua fria
ou se quente a no ser a gua da chaleira, porque da gua da chaleira sai
fumaa e a fumaa denuncia (mostra pra gente) que a gua quente.
Observe que, para chegar a essa parfrase, usamos o princpio da
solidariedade entre as frases no texto: uma frase se articulando outra,
completando, explicitando seus termos. Expliquemos: s pudemos explicitar
a articulao sinttica entre os termos na primeira orao porque levamos em
conta o verbo saber (#nunca sabe$) que est explcito na segunda orao e porque
repetimos as expresses a gente, a gua fria e da gua. A explicitao dos termos
ausentes na segunda orao foi possvel a partir de dois processos: novamente a
repetio dos termos #gua$ e #a gente$ e a inferncia do adjetivo #quente$, a
partir do adjetivo #fria$ e do substantivo #fumaa$. O leitor inconformado dir:
ora, mas isso no resolve o problema. O texto continua sendo um amontoado de
bobagens sobre a gua e muitas vezes incoerentes. Pois . Ento, relembremos a
observao anteriormente feita e acrescentemos uma outra lio sobre o texto:
O texto no um somatrio de frases, nem o seu sentido se constri pelo
somatrio dos sentidos de suas frases.
Alis, no podemos nos esquecer de que o texto pode ser composto de
uma nica palavra. A palavra #Silncio"$, por exemplo, escrita na entrada de um
hospital ganha ares de um texto, cumpre uma funo comunicativa, qual seja:
72
lembrar ao visitante de que aquele um lugar de pessoas doentes que precisam
repousar e para isso o silncio fundamental. Mas isso no diz tudo. Uma mesma
e s palavra pode construir sentidos diferentes. A mesma palavrinha !Silncio"#,
escrita na entrada de um campo de futebol, provavelmente, ser entendida como
uma brincadeira do torcedor, visto que esse um dos lugares menos provveis
para que ocorra silncio. Mas e quando o jogador faz um gol e se vira para
sua torcida ou para a torcida adversria e faz um gesto semelhante quele que
tambm encontramos em portas de hospitais, substituindo a palavra silncio, ser
que estamos diante do mesmo texto? Certamente, no. Ento, vamos acrescentar
algo mais a nossa formulao anterior sobre o texto:
O texto no um somatrio de frases, nem o seu sentido se constri pelo
somatrio dos sentidos das suas frases. A coerncia de um texto no depende
apenas de elementos lingsticos.
Dito isso, voltemos ao texto !A gua# e passemos a explicitar alguns
elementos fundamentais para a construo do sentido daquele texto. O texto !A
gua# foi escrito por Millor Fernandes e compe o livro !Compozissis imftis#,
publicado em 1975. Fazem parte desse livro outros tantos textos que seguem o
mesmo estilo: !A banana#, !O leo# ... O leitor, sabendo quem Millor Fernandes,
e atentando para o ttulo do livro do qual foi retirado esse texto, ser levado a
imaginar que o autor escreveu aquele texto imitando a escrita de uma criana.
Imaginamos ser desnecessrio dizer que essas informaes $ que remetem para o
contexto de produo do texto $ obrigaro o leitor a fazer outra leitura. Ento, a
coerncia de um texto depende to somente dos recursos lingsticos empregados
e do seu autor? No s. Depois voltaremos a esse texto para enfocar as condies
de produo da leitura. Por hora, gostaramos de concluir esse item dizendo:
O texto um todo signicativo, uma unidade de sentido que no depende
apenas do seu autor, mas da relao entre leitor-texto-autor.
1.3. Noes de leitura
No item anterior, priorizamos a noo de texto, com o objetivo de responder
pergunta: O que se l? Nesse item vamos tentar responder questo: O que
ler? O percurso ser traado tendo como foco a aprendizagem formal da leitura
na escola.
1.3.1 A leitura como decodi!caco
A importncia da leitura da palavra escrita para a educao formal
inegvel. Anal, atravs dela que se fundamenta todo o processo educacional,
desde os primeiros anos de escolaridade. Desde que o aluno ingressa na escola,
todos (escola, pais, sociedade) esperam que ele aprenda a ler. Aprender a ler,
no entanto, muitas vezes, nas sries iniciais sinnimo de decodicar a palavra
escrita.
73
preciso reetir sobre essa noo de leitura como decodicao.
Naturalmente, para que se leia a palavra, necessria que se tenha acesso a um
conhecimento sobre a lngua escrita o qual supe a aprendizagem do sistema da
escrita. Mas, como vimos anteriormente, a leitura nem comea e nem acaba com
essa aprendizagem. Decodicar (reconhecer) as letras, as slabas que compem a
palavra apenas um meio (necessrio, imprescindvel) para se efetivar a leitura da
palavra, que, repito, no se esgota nesse gesto de identicao/reconhecimento.
1
Torna-se interessante observar que, quando a prpria escola toma a leitura
como fonte para a aprendizagem de outros contedos de ensino (Histria,
Geograa, Matemtica etc.), deveria ter como pressuposto bsico o fato de que
ler no apenas decodicar, mas envolve, fundamentalmente, compreenso,
reexo. Contudo, a noo de leitura como decodicao se faz presente na
escola em vrios momentos. Basta vericar, por exemplo, o livro didtico,
atravs, principalmente, de suas atividades de !compreenso de texto". Em geral
so atividades que solicitam to somente que o aluno identique aspectos que
esto visivelmente representados na materialidade do texto, que passa a ser visto
como possuindo um sentido nico que cabe ao aluno apreender. Quando isso
ocorre, tambm se est supondo a leitura como mera decodicao do escrito
e o leitor como um sujeito passivo a quem compete to somente recuperar um
sentido que est objetivamente dado no texto. Em outras palavras, a leitura
reduzida a uma atividade mecnica: exige-se do aluno apenas que responda s
questes formuladas sobre o texto, as quais, em geral, visam lev-lo a depreender
(identicar) o sentido lingisticamente marcado no texto.
Quais as conseqncias dessa noo para a aprendizagem? Essa
compreenso de leitura, ao transferir o sentido para o texto e limitar o papel do
leitor a um mero decodicador da escrita, tem como base uma concepo de
linguagem como um mero sistema de signos que o falante/leitor deve dominar
e uma concepo de texto como um somatrio de palavras e frases. Ou seja, se o
leitor no consegue compreender o texto, conclui-se que a culpa dele que ainda
no domina o cdigo lingstico, porque se dominasse iria ver que tudo estava ali
dito claramente.
H duas atitudes comuns a essa perspectiva: uma consiste na sacralizao
do texto que diz tudo. Por isso, o leitor no pode fugir !do que o texto quis
dizer", ou seja, qualquer leitura precisa ser comprovada no texto. Outra atitude,
no necessariamente excludente, consiste na sacralizao do autor. !No foi isso
que o autor quis dizer" uma frase que traduz muito bem essa postura diante
de qualquer leitura com a qual no se concorde. Em qualquer das duas atitudes,
nega-se o lugar do leitor, anula-se a sua funo de leitor. Desconhece-se, de um
lado, a histria do leitor e, de outro, a historicidade do texto, do seu autor e da(s)
sua(s) leitura(s).
Mas, anal, o que a leitura? Ou de outro modo: como lemos? Como
aprendemos a ler?
2
Que gesto esse? Centremos, por um momento, a nossa
ateno no ato de aprender a ler, a partir de um breve resgate daquilo que o
conhecimento sobre a leitura produziu nos ltimos anos.
Pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil, principalmente a partir das dcadas
de 80 e 90 do sculo XX, tm retomado o problema da recepo, enfocando o
papel do leitor na ao de ler.
1
Esse conhecimento
bsico, elementar #
primeiro no sentido
da educao formal #
nem sempre ocorre na
escola. Pesquisas tm
demonstrado que, numa
sociedade como a nossa
(rodeada da palavra
escrita por todos os
lados), o aluno, quando
chega escola, ainda
que no decodique
as letras, j possui um
conhecimento sobre os
usos sociais da escrita,
sabe, no mnimo, que
existe o texto escrito e
que ele usado em vrias
situaes no cotidiano
dos sujeitos. Apesar
disso, esse conhecimento,
advindo da experincia
cotidiana do aluno, nem
sempre levado em
considerao pela escola.
2
Conforme Manguel
(1997, p. 42), !A leitura
comea com os olhos."
Apenas para demonstrar
como antiga essa
preocupao, lembramos,
ainda seguindo Manguel,
que a maneira como
o sujeito percebe o
objeto um gesto que j
preocupava os antigos
lsofos, dentre os quais
Aristteles (384 # 322
a.C.). Essa ainda uma
preocupao bastante
atual, principalmente,
quando, do ponto de
vista do ensino e da
aprendizagem, a leitura
permanece como uma
temtica to presente.
74
1.3.2 A leitura numa perspectiva cognitivista
Numa perspectiva cognitivista, as pesquisas se voltaram para a anlise dos
mecanismos envolvidos no processamento cognitivo da informao recebida pelo
leitor, a partir da percepo visual do objeto (texto). Essas pesquisas ajudaram
a entender, por exemplo, por que o aluno na fase inicial de alfabetizao l to
devagar, se comparado a um leitor que j domina o cdigo lingstico. O aluno
que ainda no domina o cdigo lingstico tende a xar os olhos nos elementos
mnimos (letras, slabas, palavras), numa leitura absolutamente linear, diferente
do leitor experiente que no l palavra por palavra. O movimento do olho na
pgina, quando o leitor j passou da fase de mera identicao (decodicao)
da palavra escrita, descrito, por um lado, como um movimento sacdico: o
olho xa-se em pontos; pula de um trecho para outro. Por outro lado, ao mesmo
tempo em que avana, segue para frente, o leitor, dependendo do processamento,
do nvel de compreenso que vai sendo estabelecido, da sua relao com o
material textual, tambm recua, volta para testar uma informao, para conrmar
a suspeita de uma palavra decodicada indevidamente, por exemplo, e que pode
levar a uma compreenso indevida.
Esse conhecimento permitiu concluir que o leitor desenvolve diferentes
habilidades e estratgias para lidar com o objeto (no nosso caso, o texto
escrito). Dessa forma, foi possvel compreender que quanto mais o leitor tiver
familiaridade com o texto (em relao aos seus aspectos formais e de contedo)
mais rapidamente ele ir ler. A relao leitor/ texto, portanto, passa a ser pensada
a partir de habilidades do leitor e de estratgias de leitura, dentre as quais se
destacam: as estratgias de antecipao ou predio, de inferncia e de testagem.
Ocorre, no entanto, que as hipteses e as estratgias formuladas pelo leitor
no so fruto do acaso. Antes, elas resultam do conhecimento prvio do leitor
(conhecimento lingstico e de mundo) e de uma srie de fatores que motiva(ra)
m o seu encontro com o texto, dentre os quais se destacam os objetivos da leitura,
os interesses pela leitura, as expectativas em relao ao que se l, as necessidades
da leitura etc.
Segundo Kato (1985), as hipteses acerca do texto so construdas a partir de
esquemas mentais (frames, na denominao de outros estudiosos) que os sujeitos
dominam acerca de eventos os mais diversos. Vejamos um exemplo que esclarea
essa questo. Suponhamos que, no jornal dirio, lemos a seguinte manchete:
!Cresce o nmero de acidentes nas estradas brasileiras no ltimo feriado". Essa
manchete j far com que o leitor construa uma srie de antecipaes acerca
do texto que ir ler e conseqentemente rejeite outras. Especicamente nesse
exemplo, do ponto de vista da articulao entre o conhecimento lingstico e de
mundo, o leitor ser levado a perceber que o substantivo !acidentes" remete para
um conjunto de suposies bastante amplas, a partir do que ele sabe sobre esse
evento. Nesse sentido, atendo-se apenas a essa marca textual, ele ser levado a
formular hipteses bastante amplas, por exemplo, acerca do tipo de acidente, das
vtimas do acidente, dos possveis feridos ou mortos. J a expresso !estradas
brasileiras" o levar a limitar o campo de compreenso do esquema !acidentes",
restringindo ao universo dos acidentes automobilsticos, especicamente no
Brasil, e a rejeitar as demais formulaes anteriores.
Essas so estratgias cognitivas de leitura de que todo leitor, considerado
prociente, lana mo, mesmo inconscientemente. Nesse sentido, os autores
75
defendem que, embora a leitura seja um ato individual de construo de
signicado, possvel ensinar a ler. Esse ensino deveria centrar-se no ensino
de estratgias de leitura, enquanto operaes regulares capazes de permitir uma
aproximao do texto, de modo que o leitor passasse a controlar a sua leitura.
Para desenvolver essas habilidades no aluno, o professor ! que passa a ser
tido como um mediador dessa aprendizagem ! poder trabalhar com modelos
de estratgias especcas de leitura que levem o aluno a reetir conscientemente
sobre essas estratgias que ele utiliza inconscientemente. Essa seria uma
forma de desautomatizar essas estratgias cognitivas, transformando-as em
estratgias meta-cognitivas, enquanto operaes que levariam os sujeitos leitores
a dois procedimentos bsicos: uma auto-avaliao constante da sua prpria
compreenso do texto e a denio clara de objetivos de leitura
3
.
Passemos a um outro exemplo a partir do qual pretendemos demonstrar
como o professor poder propor uma atividade de leitura que leve o aluno-
leitor a desenvolver uma abordagem do texto, utilizando, simultaneamente, as
estratgias de predio e de checagem, a partir do seu conhecimento da lngua e
do mundo. Propomos, ento, uma simulao e convidamos o leitor a entrar nesse
jogo, porque apresentaremos o texto por etapas.
Iremos, agora, ler um texto cujo ttulo O aeroporto, de autoria de Carlos
Drummond de Andrade. A partir desse ttulo e do que sabemos sobre o autor,
poderemos fazer inferncias que vo desde o Gnero (ser uma poesia, ser uma
crnica, ser um conto?) at o contedo do texto (o texto tratar de um encontro
no aeroporto, de uma despedida, de um acidente?
4
). Vamos, ento, ao primeiro
pargrafo do texto para que possamos testar essas inferncias:
Viajou meu amigo Pedro. Fui lev-lo ao Galeo, onde esperamos trs horas o seu
quadrimotor. Durante esse tempo, no faltou assunto para nos entretermos,
embora no falssemos da v e numerosa matria atual. Sempre tivemos muito
assunto, e no deixamos de explor-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente
parco de palavras, e, a bem dizer, no se digne de pronunciar nenhuma. Quando
muito, emite slabas; o mais conversa de gestos e expresses pelos quais se faz
entender admiravelmente. o seu sistema.
Duas das nossas hipteses so conrmadas: temos um texto em prosa e
parece tratar de um evento de despedida em um aeroporto. Ao mesmo tempo,
camos sabendo de vrias outras coisas: h um narrador em primeira pessoa
que vai deixar no aeroporto um amigo que se chama Pedro. Novamente somos
convocados a levantar outras hipteses: o narrador sugere que ele e o amigo
falaram muito, mas, contraditoriamente, arma que seu amigo no pronuncia
nenhuma palavra. Ento, o amigo no humano? E agora? Quem esse amigo
que se entretm com tantos assuntos, explora-os a fundo e, ao mesmo tempo,
"Quando muito, emite slabas; o mais conversa de gestos e expresses pelos
quais se faz entender admiravelmente#? Se o amigo se faz entender admiravelmente
por gestos e expresses, ento, devemos supor que ele humano? Se humano,
surdo-mudo, esse amigo? Vamos ao segundo pargrafo do texto:
3
Para saber mais sobre
"estratgias de leitura#,
leia o captulo 4 do Livro
Ocina de leitura de
ngela Kleiman.
4
Certamente surgiro
muitas idias as quais o
professor poder listar
no quadro-negro para
que posteriormente
possa ir checando.
76
Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hspede ameno. Sorria para os
moradores, com ou sem motivo plausvel. Era a sua arma, no direi secreta,
porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe d prazer. Seu sorriso foi
logo considerado sorriso especial, revelador de suas boas intenes para com o
mundo ocidental e oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores,
vizinhos e desconhecidos, graticados com esse sorriso (encantador, apesar da
falta de dentes), abonam a classicao.
O que sabemos agora? O amigo simptico, carismtico (conquista a todos)
e no tem dentes. Ser isso suciente para descartar as nossas hipteses anteriores
ou deveramos mant-las e acrescentar outras? Decida voc, leitor, o que fazer. E,
para ajud-lo, vamos ao terceiro pargrafo:
Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horrios
especiais, comidas especiais, roupas especiais, sabonetes especiais, criados
especiais. Mas sua simples presena e seu sorriso compensariam providncias
e privilgios maiores. Recebia tudo com naturalidade, sabendo-se merecedor
das distines, e ningum se lembraria de ach-lo egosta ou importuno. Suas
horas de sono - e lhe apraz dormir no s noite como principalmente de dia
- eram respeitadas como ritos sagrados, a ponto de no ousarmos erguer a voz
para no acord-lo. Acordaria sorrindo, como de costume, e no se zangaria
com a gente, porm ns mesmos que no nos perdoaramos o corte de seus
sonhos. Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para
violino e orquestra, de Bach, mas tambm nossos olhos e ouvidos se forraram
tortura da tev. Andando na ponta dos ps, ou descalos, levamos tropees no
escuro, mas sendo por amor de Pedro no tinha importncia.
Observemos que no pargrafo anterior o narrador armou que o nosso
amigo fora um hspede ameno. Agora, ele nos diz que esse hspede ameno foi um
visitante que deu trabalho: !tinha horrios especiais, comidas especiais, roupas
especiais, sabonetes especiais, criados especiais." Um visitante, cheio de melindres,
que imps tantas restries aos seus antries e, ainda assim, considerado
merecedor de tantos mimos. Quem esse visitante? Deixemos o narrador falar e
agora vamos apresentar um trecho maior:
Objetos que visse em nossa mo, requisitava-os. Gosta de culos alheio (e
no os usa), relgios de pulso, copos, xcaras e vidros em geral, artigos de
escritrio, botes simples ou de punho. No colecionador; gosta das coisas
para peg-las, mir-las e ( seu costume ou sua mania, que se h de fazer) p-
las na boca. Quem no o conhecer dir que pssimo costume, porm duvido
que mantenha este juzo diante de Pedro, de seu sorriso sem malcia e de suas
pupilas azuis - porque me esquecia de dizer que tem olhos azuis, cor que afasta
qualquer suspeita ou acusao apressada, sobre a razo ntima de seus atos.
Poderia acus-lo de incontinncia, porque no sabia distinguir entre os
cmodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com
ele porque destruiu a lmpada do escritrio? No. Jamais me voltei para Pedro
que ele no me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritao, e me sentiria
desarmado com a sua azul maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas
eram indiferentes nossa amizade ! e, at, que a nossa amizade lhe conferia
carter necessrio de prova; ou gratuito, de poesia e jogo.
77
J possvel dizer quem esse hospede merecedor de tanta distino? No
pronuncia palavras, no tem dentes, no usa culos, gosta de pegar tudo que est
ao seu alcance, leva tudo boca, faz suas necessidades siolgicas em qualquer
lugar ([...] !o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte") e continua digno de
amor, de ateno e a quem tudo se desculpa. Esses indcios ajudam a desvendar o
mistrio? Vamos ao nal do texto:
Viajou meu amigo Pedro. Fico reetindo na falta que faz um amigo de um ano
de idade a seu companheiro j vivido e pudo. De repente o aeroporto cou
vazio.
Para que voc, leitor, possa fazer a sua leitura, construir os seus sentidos e
apreciar a escrita de Drummond, apresentamos o texto sem cortes:
O aeroporto
Carlos Drummond de Andrade
Viajou meu amigo Pedro. Fui lev-lo ao Galeo, onde esperamos trs horas
o seu quadrimotor. Durante esse tempo, no faltou assunto para nos entretermos,
embora no falssemos da v e numerosa matria atual. Sempre tivemos muito
assunto, e no deixamos de explor-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente
parco de palavras, e, a bem dizer, no se digne de pronunciar nenhuma. Quando
muito, emite slabas; o mais conversa de gestos e expresses pelos quais se faz
entender admiravelmente. o seu sistema.
Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hspede ameno. Sorria para
os moradores, com ou sem motivo plausvel. Era a sua arma, no direi secreta,
porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe d prazer. Seu sorriso foi logo
considerado sorriso especial, revelador de suas boas intenes para com o mundo
ocidental e oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos
e desconhecidos, graticados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de
dentes), abonam a classicao.
Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horrios
especiais, comidas especiais, roupas especiais, sabonetes especiais, criados
especiais. Mas sua simples presena e seu sorriso compensariam providncias e
privilgios maiores. Recebia tudo com naturalidade, sabendo-se merecedor das
distines, e ningum se lembraria de ach-lo egosta ou importuno. Suas horas
de sono - e lhe apraz dormir no s noite como principalmente de dia - eram
respeitadas como ritos sagrados, a ponto de no ousarmos erguer a voz para
no acord-lo. Acordaria sorrindo, como de costume, e no se zangaria com a
gente, porm ns mesmos que no nos perdoaramos o corte de seus sonhos.
Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para violino e
orquestra, de Bach, mas tambm nossos olhos e ouvidos se forraram tortura da
tev. Andando na ponta dos ps, ou descalos, levamos tropees no escuro, mas
sendo por amor de Pedro no tinha importncia.
Objetos que visse em nossa mo, requisitava-os. Gosta de culos alheio
(e no os usa), relgios de pulso, copos, xcaras e vidros em geral, artigos de
escritrio, botes simples ou de punho. No colecionador; gosta das coisas
para peg-las, mir-las e ( seu costume ou sua mania, que se h de fazer) p-las
78
na boca. Quem no o conhecer dir que pssimo costume, porm duvido que
mantenha este juzo diante de Pedro, de seu sorriso sem malcia e de suas pupilas
azuis - porque me esquecia de dizer que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer
suspeita ou acusao apressada, sobre a razo ntima de seus atos.
Poderia acus-lo de incontinncia, porque no sabia distinguir entre os
cmodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele
porque destruiu a lmpada do escritrio? No. Jamais me voltei para Pedro que
ele no me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritao, e me sentiria desarmado
com a sua azul maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes
nossa amizade ! e, at, que a nossa amizade lhe conferia carter necessrio de
prova; ou gratuito, de poesia e jogo.
Viajou meu amigo Pedro. Fico reetindo na falta que faz um amigo de um
ano de idade a seu companheiro j vivido e pudo. De repente o aeroporto cou
vazio.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balano. Reprod. Em: Poesia
completa e prosa. Rio de Janeiro: Jos Aguilar, 1973, p.1107-1108
No fecharemos a leitura, ao contrrio, convocamos cada um a produzir
sentidos para esse texto. Esperamos que essa simulao tenha demonstrado que,
do ponto de vista do ensino, esse conhecimento permite ao professor elaborar
atividades de abordagem do texto que levem o aluno a lidar com as estratgias
cognitivas de leitura de uma forma mais consciente. Inclusive, esperamos que a
atividade tenha demonstrado que nem toda leitura autorizada pelo texto.
Evidentemente no podemos negar que pode haver a suposio de que essa
estratgia de abordagem do texto leve o aluno a um controle total do seu processo
de leitura e a um conseqente acesso ao sentido do texto, como se esse tivesse
apenas um sentido, objetivamente controlvel. Essa uma iluso com a qual no
compartilhamos. Alm disso, preciso acrescentar que nem todo texto se presta a
esse mtodo de abordagem.
A crtica que se faz perspectiva cognitivista consiste no fato de limitar
a leitura aos seus aspectos mais tcnicos, focados principalmente nas pistas do
texto, sem considerar o carter scio-histrico da leitura enquanto prtica que
coloca em jogo uma relao entre sujeitos ! o autor e o leitor ! mediada pelo texto.
Nesse sentido, essa concepo nem sempre d conta do imprevisvel, da novidade
que se constri nessa relao, inclusive, jogando com a quebra de expectativas do
leitor.
Contudo, preciso reconhecer a contribuio que ela traz para o ensino da
leitura, na medida em que oferece ao professor um conhecimento que permite
a formulao de metodologias que respeitem o modo como, do ponto de vista
cognitivo, o sujeito se apropria do conhecimento.
PESQUISA: Procure ler mais sobre a leitura do ponto de vista da relao
cognitiva do leitor com o texto. Leia mais sobre os processamentos ascendente
e descendente de leitura. Sugerimos como leitura complementar os livros de
Mary Kato (1985 e 1987) e ngela Kleiman (1993). Use a ferramenta Frum e
participe do debate que l propomos.
79
1.3.3 A leitura numa perspectiva sociointeracionista
Numa perspectiva sociointeracionista, a leitura tem sido considerada a
partir da concepo de linguagem como interao, oriunda, principalmente, dos
estudos de Bakhtin, para quem a palavra determinada tanto pelo fato de que
procede de algum como pelo fato de que se dirige para algum. (BAKHTIN,
1986 [1929], p. 113). A concepo de linguagem que embasa essa perspectiva ,
portanto, a de linguagem como interao entre sujeitos determinados scio e
historicamente. Isso signica dizer que o sentido das palavras determinado por
seu contexto, em sentido amplo, pela situao social mais imediata e pelo meio social
mais amplo. Dessa forma, a leitura passa a ser concebida a partir da relao entre
os sujeitos leitor e autor, mediada pelo texto. Falando de forma bem sempre,
podemos dizer que ! semelhante ao que ocorre com um dilogo que supe a
presena de um locutor e de um ouvinte ! a escrita supe, sempre e ao mesmo
tempo, algum que escreve e algum que l.
Evidentemente, do ponto de vista da aprendizagem, no se desconsideram
os processos mentais que o leitor desenvolve no seu encontro com o texto. Mas
defende-se que preciso ir mais alm. Em conseqncia, acredita-se que no
h lugar para a separao entre leitor e texto e entre leitor e autor. O processo
interativo supe a relao entre interlocutores construda, mediada pelo texto,
que tambm impe limites.
Voltemos ao texto A gua, citado no incio dessa unidade. Se o leitor
no souber que o autor daquele texto Millor Fernandes ou se ele no
souber nada sobre esse autor, certamente far a leitura daquele texto to-
somente a partir dos elementos lingsticos que o constituem e fatalmente
chegar concluso de que se trata de um texto mal escrito e cheio de
bobeiras. Se, por outro lado, ele conhecer Millor, estiver familiarizado com
a sua escrita e se souber que esse texto faz parte de um livro cujo ttulo
Conpozissis imfatis, ele dever considerar esses aspectos para a construo
de outras leituras. Veriquemos que o texto no se modicou enquanto
mera materialidade, mas essa materialidade foi alterada (afetada) pelo
reconhecimento de um outro elemento da relao interlocutiva: o autor, aqui
considerado como algum responsvel pelo dizer, pela coerncia interna e
externa do texto. Como o sujeito-autor desse texto reconhecido como algum
que sabe escrever (tem vrios livros publicados, tem uma legio de leitores
que o admiram, considerado como um autor que usa o humor e a ironia
como ingredientes para a crtica social), os problemas do texto no podem ser
atribudos incompetncia do autor.
Observe que novamente entra em cena o leitor: seu conhecimento de
mundo, suas leituras de outros textos. Dentre as possveis leituras, haver a
possibilidade de que, por um lado, esse texto possa ser lido como uma crtica s
composies infantis ! cheias de erros ortogrcos (tal como se revela no ttulo
do livro), plenas de construes absurdas ! e, por outro, como uma crtica
escola, que leva os alunos a produzirem textos daquela natureza. Mas h ainda
a possibilidade de que o texto seja um reconhecimento de que essas composies
no so to absurdas quanto se imagina. Anal, no podemos nos esquecer de
que elas lembram o humor e non-sense que tambm est presente na pena de
escritores, tidos como bons, competentes, inspirados, criativos e tantos outros
adjetivos que usamos para qualicar o bom escritor.
80
Dessa forma, o nosso exemplo demonstra que o texto ! apesar de no impor
uma nica leitura ! na sua relao com o autor, impe um modo de recepo que
limita a leitura, ou seja, a leitura no pode ser qualquer uma: no podemos, por
exemplo, dizer que o texto demonstra que Millor Fernandes no sabe escrever.
E o que nos permite armar isso o conhecimento que ns leitores temos sobre
esse autor. Ou seja, o mesmo exemplo ainda nos ensina que as possveis leituras
do texto dependero do leitor. Sendo assim, torna-se necessrio considerar no ato
de ler a trade: leitor, texto, autor.
1.3.4 A leitura numa perspectiva discursiva: o confronto entre sujeitos
Numa perspectiva discursiva, a leitura considerada como produo de
sentidos. Semelhante perspectiva anterior, tambm se ressalta a leitura como um
processo dinmico que envolve sujeitos (leitor e autor) mediados pelo texto, mas
enfatiza-se principalmente a leitura como prticas histricas, sociais e culturais.
Nessa perspectiva, interessa-nos pensar que existem diferentes modos de leitura,
decorrentes de vrios fatores, dentre os quais destacamos:
a) O leitor, seus objetivos de leitura (ler para qu: para cumprir uma tarefa
escolar, para se informar, para se distrair, para interagir com outros leitores,
para fugir do mundo?), suas histrias de leitura, suas experincias com o
texto escrito (como ele l, o que l, onde, quando, com que freqncia l?);
b) O texto, sua historicidade (quando foi escrito, como foi lido antes (se foi
lido), a sua relao com o contedo do dizer, com outros textos que tratam
do mesmo assunto);
c) O autor, suas histrias de leitura, suas histrias de escritor que validam
as possveis leituras (escritor de vrios textos, de vrios leitores, escritores
annimos, "mercadores de coisas nenhuma#);
d) As instituies (dentre as quais a Escola, a Igreja, a Famlia) que impem leituras,
obrigam o leitor a ler de tal maneira e probem ou limitam outras leituras;
e) Os gneros textuais/discursivos que j impem uma maneira de ler o
texto. Sabemos, por exemplo, que uma piada no pretende, em princpio,
provar o choro em ningum; que uma lista telefnica possui um objetivo
bem especco; que uma carta j possui objetivos os mais diversos (fazer rir,
fazer chorar, solicitar algo, informar algo) etc
5
.
f) Os suportes (o livro, a revista, o jornal, o outdoor, o e-mail etc.) que tambm
determinam diferenas maneiras de circulao e modos de recepo do texto.
Todos esses fatores demonstram que o leitor no totalmente livre para ler
o que quiser ou como quiser ou, at mesmo, onde quiser. Lembremos, para efeito
de ilustrao, que, durante uma aula, a leitura permitida aquela determinada
pelo professor; durante uma missa ou um culto, dicilmente ser permitido que
algum leia um romance, um livro de piada, ou mesmo uma receita de bolo.
Evidentemente, esses exemplos tambm demonstram que o leitor procura brechas
para burlar as imposies das instituies.
Esperamos ter deixado claro que compreender a leitura como prtica
signica conceber a articulao entre a leitura e a escrita. Quem escreve produz
sentidos e quem l produz sentidos. Quem escreve constri do seu lugar de
escritor um leitor (ou a imagem de um leitor) que pode corresponder ou no
5
Na segunda e terceira
unidades, voc ir
encontrar uma discusso
mais aprofundada
sobre a descrio e o
funcionamento dos
gneros textuais
81
ao leitor real. O leitor real, por sua vez, depara-se com um objeto de leitura (o
texto) com o qual estabelece uma relao complexa, quer seja de identicao, de
estranhamento, de indiferena, de alheamento. O confronto entre esses sujeitos
! aquele que escreve e aquele que l ! constri possibilidades de sentidos. por
isso que vrios autores, dentre os quais Orlandi (1986), armam que a leitura no
uma questo de tudo ou nada, ou seja, no existe um grau zero de leitura, assim
como no existe um grau dez. Trata-se de nveis de leitura.
Essas consideraes nos levam a destacar que o texto tem sido pensado
cada vez mais em relao s suas condies de produo de escrita e de leitura.
Do ponto de vista do ensino da leitura, essa perspectiva nos permite reconhecer
algumas questes bsicas. Quanto perspectiva do autor, temos que considerar:
quem (o autor) escreve o que (o texto) sobre o que (o contedo do dizer) para
quem (o leitor virtual) como (o modo de dizer) onde (o suporte do texto). Quanto
perspectiva do leitor, torna-se imprescindvel considerar: quem (quem esse
leitor) ler o que (o texto), sobre o que (o contedo do dizer) para que (os objetivos
de leitura), como (os modos de ler) etc.
Notemos que, nessa perspectiva, do ponto de vista do ensino da leitura,
preciso considerar a histria de leitura do leitor (leitor de primeira viagem,
leitor de um texto s, de vrios textos de um s gnero, de vrios textos de
diferentes gneros?). Dito em outras palavras, as possibilidades de leitura do
texto dependem no apenas do conhecimento lingstico do leitor, mas tambm
de suas experincias de leitura, de suas histrias de leitor. Nesse sentido, o papel
do professor ganha uma outra dimenso. Como arma Geraldi (1993), cabe ao
professor entender a "caminhada interpretativa# do aluno-leitor e contribuir para
ampliar essas possibilidades de leitura. Quando esse professor coteja leituras
diferentes de um mesmo texto, quando trabalha com diferentes textos, diferentes
gneros, explora diferentes suportes, certamente estar contribui para ampliar a
histria de leitura de seus alunos.
Passaremos leitura de um texto para que possamos observar vrios dos
aspectos at aqui discutidos. Partiremos de um texto apresentado em um livro
didtico (LD) do Ensino Mdio. A opo por recorrer ao LD deve-se, em primeiro
lugar, ao fato de esse
ser um instrumento
de ensino a que o
professor, direta
ou indiretamente,
sempre recorre;
segundo, gostaramos
de observar como o
professor poder ir
alm do que prope o
LD. Passemos, ento,
ao texto apresentado
no LD e s atividades
propostas pelos
autores do manual:
82
Inicialmente chamamos a sua ateno para as questes 1 e 2 formuladas
pelos autores do LD acerca da tira de Angeli. Consideramos no ser exagero
armar que essas questes tm como objetivo simplesmente vericar se o aluno
domina os conceitos de conotao e denotao. Esse nos parece um objetivo
extremamente limitador, medida que restringe a leitura do texto identicao
da dicotomia: sentido denotativo/sentido conotativo e isso muito pouco para
a leitura de um texto. Na verdade, no se pode sequer dizer que os autores do
LD propem uma leitura do texto. Alm disso, o texto que aparece ao lado das
perguntas passa a no ter nenhuma funo, a menos que o professor amplie a
leitura proposta pelos autores do LD. Vejamos, ento, que, caso o professor no
perceba essa limitao, perder uma tima oportunidade de realizar com os
alunos vrios modos de ler esse texto.
Faamos um exerccio de leitura. Primeiro iniciemos observando os aspectos
lingsticos do texto. A expresso !Yes, ns temos..." se completa lingisticamente
a cada quadrinho apresentado, e cada vez traz novos elementos ao texto e
constri a possibilidade de novas leituras. Vejamos esquematicamente como se
apresentam os complementos do verbo ter:
!Yes, ns temos ... um corrupto a cada esquina."
!Yes, ns temos...um assalto a cada segundo."
!Yes, ns temos...um analfabeto a cada metro quadrado."
!Yes, ns temos...um desempregado em cada famlia"
!Yes, ns temos...bilhes de eleitores e contribuintes."
No podemos nos esquecer de que a cada ocorrncia a linguagem no-
verbal refora a signicao da linguagem verbal. Ademais, precisamos tambm
registrar a importncia da reticncia para o encadeamento sinttico que se d
sempre diferente a cada retomada da expresso Yes, ns temos.... O leitor v
passar diante de si um lme sobre as mazelas do Brasil. Do Brasil, como assim
se esses so problemas comuns a vrios outros pases? E como sabemos se em
lugar nenhum do texto aparece a palavra Brasil? Vamos ao ltimo quadrinho ou
ltima cena para ver se encontramos alguma resposta. H alguma palavra que
nos ajude? O leitor apressado dir: No, l aparecem trs personagens: dois ! que,
pela caricatura das roupas, das mquinas fotogrcas, pode-se inferir tratar-se de
turistas ! e um outro ! que, caso se aceite a inferncia sobre os turistas, poder
ser considerado como um guia turstico. O leitor atento ver que, no canto direito
do ltimo quadro, aparece o nome do autor: Angeli
6
. E fora do quadro, aparece
o nome do jornal (o suporte) do qual foi retirado o texto de Angeli e a data de
sua publicao. Esses dados ! o autor, o suporte do texto, a data de publicao
! nos informam que o texto trata dos problemas do Brasil, retratados em 2000. O
leitor, que l em 2007, atento realidade poltica, econmica, cultural e social do
pas, reconhece as mazelas enumeradas e capaz de recuperar a ironia presente
no ltimo quadrinho. Mas no s isso.
O autor do texto ! quando usa a expresso Yes, ns temos... ! cria uma
relao intertextual explicita, remetendo diretamente para um outro texto: Yes,
Ns temos banana, cano de Braguinha e Alberto Ribeiro, criado no nal da
dcada de 30 e bastante conhecida at hoje, visto que atualizada a cada carnaval.
6
Essa seria uma
oportunidade para
desenvolvermos outras
atividades, por exemplo,
nos informar mais acerca
desse autor, caso j no
saibamos, e para ler
outros textos seus.
83
Observemos que os autores do LD, embora no explorem essa relao entre os
dois textos, reconhecem essa intertextualidade, visto que colocam informaes
sobre esse outro texto em um quadro ao lado das perguntas elaboradas. Nesse
caso, o que signica ler esse texto de Angeli ! recheado de ironia e humor !
confrontando-o com o texto de Braguinha ! que, na voz de Carmem Miranda,
foi cantado e decantado como uma "ingnua# marchinha de carnaval? Signica,
dentre outras possibilidades, confrontar maneiras diferentes de ler o Brasil, o seu
povo e seus problemas. Esse confronto, necessrio para a compreenso do texto
de Angeli ! nos levaria a perceber que so vrios os sentidos que poderamos
atribuir s bananas e aos bananas em diferentes pocas e lugares.
Esse exemplo nos mostra, por um lado, que a construo de sentidos
para o texto depende da capacidade do leitor de estabelecer relaes de sentido
entre o que dito em um texto e o que dito em outros textos. Por outro lado,
nos ensina que existem sentidos, mas esses no podem ser qualquer um, j que
existem determinaes (lingsticas, sociais, culturais e histricas), relacionadas
aos textos, aos leitores e aos autores, que limitam os sentidos.
Na escola, muitas vezes, o aluno l apenas para dizer que sabe ler (que
sabe decodicar ou vocalizar o escrito). As perspectivas aqui apresentadas
demonstram que possvel ensinar a ler e que esse ensino no se encerra no
mero reconhecimento do cdigo lingstico. Os objetivos de leitura, ainda que
na escola, podem e devem ser ampliados; as estratgias de leitura podem ser
mltiplas. Enm, as possibilidades de leitura se ampliam quando reconhecemos
que os textos no possuem um sentido, mas sentidos; quando confrontamos
leituras, textos; quando sabemos que no se l o mesmo texto da mesma maneira,
ainda que o leitor seja o mesmo; quando reconhecemos que, a cada vez que
voltamos a um texto, o lemos de modo diferente, exatamente porque j no
somos os mesmos: mudou nosso conhecimento lingstico, nosso conhecimento
de mundo, nossos objetivos j no so os mesmo, at nosso humor alterou-se.
AGORA SUA VEZ: Escolha um livro didtico de Lngua Portuguesa
(de preferncia um que seja adotado em escolas do seu municpio, quer seja
do Ensino Fundamental ou Mdio) e analise uma seo dedicada leitura.
Comente a natureza das perguntas formuladas. Voc considera que elas
exigem do aluno uma compreenso efetiva do texto? So questes que
priorizam a reexo do aluno ou simplesmente uma colagem do texto dado
para leitura? Para aprofundar a sua anlise, leia o texto Poltica de leitura
para o ensino mdio: o PNLEM e o LD, de autoria de Maria Ester Vieira
de Sousa, que se encontra disponvel na plataforma moodle, os textos sobre
leitura, disponveis no site www.cchla.ufpb.br/leituranapb, e os trs primeiros
captulos do livro Do mundo da leitura para a leitura do mundo de Marisa
Lajolo.
85
UNIDADE II
CONCEITO DE GNERO: DESCRIO E FUNCIONALIDADE
Conforme esclarecemos no incio deste captulo, a II unidade tem como
objetivo apresentar uma viso geral do conceito de gnero ! partindo da
tradio literria at os dias atuais !, bem como sua descrio e funcionalidade.
Comecemos ento, por uma reviso da literatura sobre a noo de gnero.
2.1 Uma breve retrospectiva
No campo dos estudos da linguagem, os gneros textuais talvez sejam um
dos objetos de estudo que melhor representem a interdisciplinaridade entre as
reas de conhecimento envolvidas com fenmenos scio-culturais, cognitivos
e lingsticos.
O sentido do termo gnero na acepo utilizada na lingstica esteve
originalmente ligado tradio da Antigidade greco-latina e vinculado
aos gneros literrios. Iniciou-se com Plato com o estabelecimento das trs
modalidades de mimsis: a tragdia, a pica e a lrica. Firmou-se com Aristteles,
quando sistematizou uma teoria de gneros e da natureza do discurso, na qual
h uma estreita relao entre autor, ouvinte e gnero, dando origem s trs
modalidades de discurso retrico: o deliberativo, o judicirio e o epidtico. Passa
pela Idade Mdia, Renascimento, Modernidade at chegar aos dias atuais. Nesse
percurso, a sua rea de abrangncia, antes restrita aos textos literrios, ampliou-
se bastante passando a incorporar todas as esferas de uso da lngua.
Nas duas ltimas dcadas do sculo passado, era freqente a utilizao do
termo gnero para se referir ao que hoje convencionamos identicar como
tipos textuais: narrao, descrio, argumentao, exposio e injuno. Essa
impreciso terminolgica tem persistido nos dias atuais, pois ainda possvel
encontrar livros didticos tanto na rea de literatura, como nas colees de
lngua portuguesa adotadas para a 2 fase do ensino fundamental que
apresentam contradies no emprego do termo: ora utilizado em referncia
a um exemplar prototpico de texto como carta, resumo ou entrevista, ora
em referncia s seqncias ou modalidades discursivas que se revelam nas
estruturas do texto ! descritiva, narrativa e argumentativa, representantes da
tipologia tridica tradicional (cf. BIASI-RODRIGUES, 2002, p.50).
At mesmo entre os especialistas da rea existem problemas de carter
terminolgico. A diversidade no emprego dos termos est condicionada
orientao terica seguida pelos grupos de estudo. Assim, gneros do
discurso ! para alguns tericos (BAKHTIN, 1992 [1979]) - correspondem aos
gneros textuais (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY, 1994,1996; DOLZ,1996;
MARCUSCHI, 2002) para outros. Os tipos textuais tambm so reconhecidos
como seqncias textuais ou modalidades retricas. O que parece ter-se tornado
consensual a utilizao da expresso tipo ou modalidade retrica para se
referir s estruturas mnimas responsveis pela composio textual, cabendo
portanto ao gnero a designao do exemplar concreto de texto.
86
Depois da divulgao dos Parmetros Curriculares Nacionais (PCN) entre
os professores do ensino pblico e privado, os gneros textuais, em sua
nova acepo, tornaram-se mais populares e surgiu a necessidade de conhec-
los melhor. Existe uma forte orientao contida nos PCN (1997) na direo
de trabalhar a produo e interpretao de textos usando os gneros como
ferramenta metodolgica. Para que essa orientao seja de fato adotada, e
implementada com xito, faz-se necessrio um conhecimento maior sobre os
gneros para entender melhor sua natureza social e sua constituio.
2.2 Anal, o que vem a ser gnero?
2.2.1 O conceito de gnero e tipo
Schneuwly (2004) avalia que a moda das tipologias cedeu lugar dos
gneros. Contudo, acrescenta que, apesar de no dispensar uma grande ateno
classicao de tipologias, admite a necessidade e a utilidade do conceito de
tipo de texto para uma teoria do desenvolvimento da linguagem. A respeito da
distino entre tipo e gnero textual, Marcuschi (2002, p.22-23) esclarece:
(a) Usamos a expresso tipo textual para designar uma espcie
de construo terica denida pela natureza lingstica de sua
composio {aspectos lexicais, sintticos, tempos verbais, relaes
lgicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dzia
de categorias conhecidas como: narrao, argumentao, exposio,
descrio, injuno.
(b) Usamos a expresso gnero textual como uma noo propositalmente
vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa
vida diria e que apresentam caractersticas scio-comunicativas denidas
por contedos, propriedades funcionais, estilo e composio caracterstica.
Se os tipos textuais so apenas meia dzia, os gneros so inmeros.
Alguns exemplos de gneros textuais seriam: telefonema, sermo, carta
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem jornalstica, aula
expositiva, reunio de condomnio, notcia [...] carta eletrnica, bate-papo
por computador, aulas virtuais e assim por diante.
PESQUISAR: Para voc saber mais, consulte Marcuschi (2002) e Schneuwly &
Dolz, 2004, p. 37-38).
2.2.1 A noo de suporte
Alm da distino entre gnero e tipo, tambm importante destacar a
noo de suporte. Um mesmo gnero pode circular em diferentes suportes. Uma
notcia pode circular em jornais ou na internet, uma crnica pode ser publicada
em um livro ou revista literria. Temos como exemplos de suporte: livro, jornal,
revista, dicionrio, televiso, outdoor, cd-rom etc.
87
Vejamos se voc entendeu. Um e-mail se
apresenta como um gnero especco, apresenta
caractersticas particulares? Ou funciona como
um suporte, por meio do qual podem circular
diferentes gneros?
2.3 As bases de uma teoria
Um dos primeiros estudiosos a sistematizar uma teoria sobre os gneros
foi Bakhtin (1992 [1979]), que continua sendo uma referncia para este tema.
A sua idia dos !tipos relativamente estveis de enunciados", certamente,
inspirou muitos outros tericos que a ele sucederam. Ele defendeu esta idia,
argumentando que se toda vez em que fssemos nos comunicar, tivssemos
de criar ou inventar meios para agir lingisticamente, a comunicao no seria
possvel. Caberia, ento, sociedade criar essas formas relativamente estveis
de textos # que se apresentam sob a forma de gneros do discurso # para que
servissem como elemento mediador nas interaes lingsticas. Para o autor,
as pessoas se comunicam usando gneros:
Aprender a falar aprender a estruturar enunciados [...]. Os gneros do
discurso organizam a nossa fala da mesma maneira que a organizam
as formas gramaticais (sintticas). Aprendemos a moldar nossa fala s
formas de gnero, e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem
nas primeira palavras, pressentir-lhe o gnero, adivinhar-lhe o volume (a
extenso) aproximada do todo discursivo, a dada estrutura composicional,
prever-lhe o m, ou seja, desde o incio, somos sensveis ao todo discursivo
que, em seguida, no processo da fala, evidenciar suas diferenciaes
(BAKHTIN, 1992 [1979], p. 302).
Bakhtin reconhece a grande diversidade dos gneros (orais e escritos),
mas no apresenta uma tipologia propriamente dita. Para o autor, os gneros
discursivos dividem-se em primrios (simples) # a conversao oral cotidiana
e a carta pessoal # !que so constitudos em circunstncias de comunicao
verbal espontnea " ! e os gneros secundrios (complexos) # o romance, o
teatro, o discurso cientco e o ideolgico, e outros mais # que !aparecem em
circunstncias de uma comunicao cultural mais complexa e relativamente
mais evoluda, principalmente escrita: artstica, cientca, scio-poltica"
(BAKHTIN, 1992 [1979], p. 82).
Mesmo admitindo essa grande diversidade que reveste os gneros
(j que os gneros esto relacionados s diferentes atividades humanas
e ao conseqente uso da lngua que feito nessas diferentes esferas de
atividade), Bakhtin defende que essas atividades # que se efetivam atravs
de enunciados (orais e escritos) # no so aleatrias, dadas as condies de
constituio dos enunciados.
88
Os gneros no denem as situaes de comunicao, so as prticas
de linguagem que determinam a utilizao de um determinado gnero. Esto
envolvidos nesta situao de comunicao todos os elementos constitutivos de
uma atividade de produo discursiva (lugar e papel social dos interlocutores,
evento comunicativo e o objetivo da interao) que vo denir a natureza e
constituio do gnero.
Talvez seja essa uma das contribuies bakhtinianas teoria gneros mais
consensualmente aceita entre os tericos que a ele sucederam: a dimenso
constitutiva dos gneros composta de trs elementos (contedo temtico, estilo
e construo composicional). Estes trs elementos referem-se, respectivamente,
ao tema abordado em um determinado texto; seleo feita pelo autor sobre
os recursos lingsticos disponveis nas lnguas em geral: lexicais, gramaticais,
expressivos etc e, nalmente, estrutura tpica de cada gnero especco. Ou seja,
um convite apresenta uma construo composicional diferente de uma carta de
apresentao, por exemplo.
Como uma decorrncia da evoluo dos estudos sobre o tema, nada mais
natural, ento, que o estudo dos gneros extrapolasse a esfera dos textos
literrios ! tradicionalmente predominante at bem pouco tempo atrs. De
acordo com Freedman & Medway (1994, p.1), as anlises recentes enfocam a
vinculao dessas regularidades lingsticas e substantivas s regularidades
nas esferas de atividades humanas.
Portanto, essa nova maneira de enfocar o estudo sobre gnero busca uma
vinculao entre a identicao de traos de regularidade nos tipos de
discurso com uma compreenso social e cultural mais ampla da lngua
em uso. Diante da multiplicidade de gneros disponveis na sociedade,
justicam-se tambm as vrias tendncias encontradas entre os grupos de
estudo que se ocupam desses legtimos representantes da ao social.
AGORA SUA VEZ: Leia os exemplares de gnero abaixo e reita
sobre seus elementos constitutivos (contedo temtico, estilo, construo
composicional) e funo scio-comunicativa. Iremos debater sobre estes
questionamentos no chat.
89
Texto 1
CRTICA
Seja feliz! Isto uma ordem!
EUGNIO BUCCI
[...] Ser possvel que algum seja feliz por obedincia? A felicidade pode
ser produzida por um comando, por uma ordem?
Claro, qualquer um responder que no. A idia de felicidade, por mais
precria que seja entre ns, supe um grau mnimo de liberdade. A gente feliz
quando faz o que quer, mesmo quando ningum consiga saber direito o que quer
e o que deseja. Felia quem sabe o que quer e o que deseja (querer e desejar so
nveis diferentes do ser e se concilia com isso.
[...] Pode at haver algum tipo de prazer em deixar-se dominar, mas no h
felicidade nisso. A felicidade, pensamos e pensamos com razo, no se impe.
No obstante, a felicidade nos imposta como obrigao. Digo isso a
propsito da massa cada vez mais avassaladora da publicidade natalina e da
programao felicidicante" que toma conta da TV quando chegam as festas
de m de ano. As criancinhas produzidinhas multiculturaizinhas e devidamente
multitnicas entoam em torno da rvore de Natal a velhssima cano hoje
um novo dia de um novo tempo" etc. A moa linda chora porque ganhou um
anel. Roberto Carlos geme num acorde perfeito maior. Os astros tm dentes
alvos modelados na ortodntica indstria de entretenimento e sorriem seus
sorrisos pr-fabricados. Os embrulhos de Natal e os votos de feliz Ano Novo se
confundem num nico e ininterrupto imperativo: Seja feliz# Isso uma ordem#".
incrvel como o discurso que reprime se esconde por trs do discurso
que vende a felicidade como a mais preciosa das mercadorias. O discurso da
TV, que o discurso do comrcio disfarado de informao e diverso, que
procura estabelecer os padres de comportamento, obriga o telespectador a ser
feliz. Como se fosse um general ou um feitor de escravos, de chicote na mo.
Um comandante que ordena: Goze, seja feliz seu verme intil e tristonho#" O
inferno quem diria?, feito de votos de felicidade comercial. Que no so votos,
mas ordens: Compre, embriague-se de mercadorias. E depois ache tudo timo,
inenarrvel."[...]
Folha de S. Paulo, So Paulo, 29 dez. 2002. (Fragmento)
90
Ao shopping center
Pelos teus crculos
Vagamos sem rumo
Ns almas penadas
Do mundo do consumo
De elevador ao cu
Pela escada ao inferno:
Os extremos se tocam
No castigo eterno.
Cada loja um novo
Prego em nossa cruz.
Por mais que compremos
Estamos sempre nus
Ns que por teus crculos
Vagamos sem perdo
espera (at quando?)
Da grande liquidao
Jos Paulo Paes
Prosas seguidas de odes mnimas.
SoPaulo: Cia. Das Letras, 2001.
91
UNIDADE III
OS GNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DA LEITURA E DA
ESCRITA
Finalmente, nesta terceira unidade trataremos da importncia da utilizao
dos gneros textuais para o ensino da leitura e da escrita e de suas implicaes,
enquanto procedimento metodolgico, para o desenvolvimento dessas
competncias.
3.1. O gnero na sala de aula
Conforme j mencionamos anteriormente, a publicao dos PCN (1997)
representou um signicativo avano no direcionamento dado aos estudos de
lngua portuguesa nas escolas brasileiras.
Esse documento foi elaborado dentro de uma orientao enunciativo !
discursiva, respaldada nas concepes tericas bakhtinianas de lngua e gnero,
e alicerada nas propostas metodolgicas do grupo de Genebra, notadamente
nos trabalhos de Bronckart, Schneuwly e Dolz, j mencionados aqui e que sero
melhor aprofundados ao longo de nossa exposio.
Os PCN receberam crticas, vindas de alguns setores da comunidade
acadmica e escolar, em relao ao nvel de aprofundamento terico nele
presente. O seu contedo foi considerado insuciente para dar conta de toda
a complexidade contida no conceito de gnero e na concepo de linguagem !
enquanto atividade discursiva concebida nas relaes interpessoais ! mas, ainda
assim, sua repercusso foi notvel. Pois foi deagrada, a partir desse momento,
uma maior motivao para buscar meios ecientes que pudessem promover uma
transposio didtica entre as propostas terico-metodolgicas e as atividades de
ensino desenvolvidas em sala de aula.
Segundo Rojo (2000), um dos aspectos positivos nesse documento que
eles no foram concebidos como grades de objetivos e contedos pr-xados,
mas como diretrizes que devem nortear os currculos e seus contedos mnimos,
adequados s necessidades e caractersticas culturais e polticas regionais,
procurando fomentar a reexo sobre os currculos estaduais e municipais.
A proposta presente nos PCN ope-se ao ensino tradicional de lngua, de
carter mais normativo, sugerindo prticas alternativas de trabalho e reexo
lingstica que se apiam, substancialmente, na interpretao e produo de
textos diversos.
Pode-se depreender desses princpios norteadores que os gneros textuais
so eleitos como legtimos objetos de ensino escolar, intensicando, portanto, os
debates sobre o tema. O interessante nesses debates que eles trazem tona
uma reexo sobre uma prtica que nunca esteve ausente da escola, nem
de qualquer outra instncia de vida social. Os gneros esto to incorporados
nossa vida na sociedade que muitas vezes no nos damos conta de sua
existncia materializada.
92
Os gneros sempre estiveram presentes na sala de aula, mas em nmero
reduzido e no diversicado, e sempre revestidos de carter institucionalmente
escolar. Se, por um lado os alunos tm tido acesso ! do ponto de vista da leitura !
a uma maior diversidade de gneros, por outro lado, no que se refere produo
escrita, essa diversidade praticamente no existe.
No obstante as orientaes divulgadas nos PCN h quase dez anos,
na nossa realidade educacional, os alunos ainda tm pouca oportunidade de
produzir textos concretos, reais e verdadeiramente signicativos. De maneira
geral, no se exercita a linguagem escrita (do ponto de vista discursivo) em
sala de aula, o que se exercita predominantemente a lngua em seus
domnios sinttico, morfolgico, lexical e fonolgico. Em relao aos gneros
orais, a situao no muito diferente, poucos livros didticos exploram o
trabalho com os gneros nessa modalidade.
Reside, a, um dos grandes desaos a ser vencido por aqueles gestores
em educao envolvidos com a formao de professores. necessrio que
os professores tenham acesso a outros textos que sirvam para aprofundar
as concepes tericas subjacentes nas propostas dos PCN, de modo que
estas possam ser implementadas em sala de aula, levando-se em conta as
complexidades e especicidades de cada contexto educacional.
Se os gneros so formas de agir em sociedade, certamente no podemos
atuar com todos os gneros em todas as instncias da vida scio-comunicativa.
Operamos com gneros particulares em situaes particulares, e na escola no
poderia ser diferente.
Na viso de Cope e Kalanis (1993, p.8), inspirados em Cazden (1988), a
escola um lugar um tanto peculiar. Sua misso peculiar assim como as formas
discursivas que melhor desempenham essa misso. , ao mesmo tempo, reexo
do mundo exterior, mas discursivamente muito diferente dele. Por precisar
concentrar o mundo exterior nas generalizaes que constituem o conhecimento
escolar, a escola torna-se epistemolgica e discursivamente diferente da maior
parte das aes cotidianas desse mundo exterior
1
.
Schneuwly e Dolz (2004, p.76) compartilham a mesma opinio:
A particularidade da situao escolar reside no seguinte fato que torna a
realidade bastante complexa: h um desdobramento que se opera em que
o gnero no mais instrumento de comunicao somente, mas , ao mesmo
tempo, objeto de ensino-aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente,
num espao do !como se", em que o gnero funda uma prtica de linguagem
que , necessariamente, em parte, ctcia, uma vez que instaurada com ns
de aprendizagem (grifo do autor).
Essa situao desdobra-se em trs diferentes contextos para se entender o
lugar da comunicao em sala de aula.
1. Primeira perspectiva H o desaparecimento da comunicao em favor
da objetivao. Segundo os autores, o gnero transforma-se em uma
forma lingstica pura. O gnero passa de instrumento de comunicao a
uma forma de expresso do pensamento, da experincia ou da percepo,
perdendo, ento, sua relao com uma situao de comunicao autntica.
1
No original: "School is a
rather peculiar place. Its
mission is peculiar and
so are the discoursive
forms which optimaly
carry that mission. It
is at once a reector
of the outside world
and discursively very
dierent from the outside
world. Because school
needs to concentrate
the outside world into
the generalizations
that constitute school
knowledge, it is
epistemologically and
discursively very dierent
from most of everyday
life in the outside world#
(CAZDEN,1988, p.37).
93
Para Schneuwly e Dolz (op. cit.), os gneros escolares so utilizados como
referncia para a construo de textos no mbito da redao/composio. Nesse
contexto de produo destaca-se a seqncia tripartite estereotpica ! que marca
o avano atravs das sries escolares ! mais conhecida e cannica: narrao,
descrio e dissertao (cuja origem remete tradio literria e retrica).
Os autores resumem dizendo que esses gneros escolares-guia so produtos
culturais da escola, usados como instrumento para desenvolver e avaliar a
capacidade de escrita dos alunos.
Os gneros, nessa situao especca, passam a parametrizar as formas
de concepo do desenvolvimento da escrita. Nesse percurso tornam-se
independentes das prticas sociais historicamente situadas e se vinculam s
necessidades dos prprios objetos descritos, de uma realidade prpria. Segundo
Schneuwly e Dolz (2004) os gneros naturalizam-se.
2. A segunda perspectiva toma a escola como autntico lugar de comunicao,
com as situaes escolares produzindo suas prprias condies de
produo e recepo de textos: na classe, entre alunos; entre classes de
uma mesma escola; entre escolas. Esses contextos interacionais gerariam os
textos livres, seminrios, correspondncia escolar, jornal da classe, avisos,
comunicados direo da escola, resumos, resenhas, romances coletivos,
poemas individuais. Nessa situao tambm temos "gneros escolares#, s
que nesse caso eles so resultado do funcionamento escolar.
3. A terceira perspectiva representa a negao da escola como lugar de
comunicao. Os gneros externos escola entram no espao escolar
como se houvesse continuidade entre o que externo e interno escola. O
trabalho com os gneros, ento, teria como objetivo levar o aluno a dominar
vrios gneros, seguindo os modelos de referncia exteriores escola, e
que atendessem s exigncias de diversicar a escrita e de criar situaes
autnticas de comunicao.
Baseando-se nesse mesmo trabalho de Schneuwly e Dolz, Rojo (s/d:9)
apresenta uma distino entre gneros escolares, que representariam a segunda
situao de comunicao, portanto, autnticos produtos da escola; e gneros
escolarizados, utilizados pela escola como objeto de ensino, especicamente, da
escrita. Os gneros ditos escolarizados referem-se tanto primeira situao de
comunicao, quanto terceira, porque em ambas os gneros no reproduzem as
prticas sociais que a escola produz.
No entanto, os prprios autores identicam aspectos positivos e negativos
nas trs perspectivas e defendem uma reavaliao das diferentes abordagens.
Segundo eles, importante tomar conscincia sobre o papel central dos gneros
como objeto e instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem.
Para isso, devemos levar em conta dois aspectos:
a) a escolha de um gnero na escola didaticamente direcionada, visando a
objetivos de aprendizagem precisos: primeiramente aprender, dominar o
gnero para depois conhec-lo, apreci-lo, e compreend-lo; em segundo
lugar, desenvolver capacidades que ultrapassam e que so transferveis
para gneros prximos ou distantes.
94
b) o gnero sofre uma transformao ao ser transportado para um outro lugar
social diferente de onde foi criado. Essa transformao faz com que perca
seu sentido original, e passe a ser !gnero a aprender, embora permanea
gnero a comunicar"(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 81). Os alunos
precisam ser expostos a situaes de comunicao que se aproximem das
genunas situaes de referncia, que lhes sejam signicativas, para que
eles possam domin-las, mesmo sabendo que os objetos so outros.
Aprofunde esses conhecimentos em Schneuwly e Dolz (2004, p. 71-90). Depois,
redija um pequeno texto mostrando de que maneira esses aspectos destacados
acima podem se relacionar com uma situao de produo textual.
Certamente impossvel criar um simulacro das vrias esferas de ao social
em um espao to reduzido e limitado como a sala de aula e a prpria escola,
mas possvel reetir sobre essas esferas de ao social e suas formas
de linguagem, fazendo um trabalho comparativo, analtico e interpretativo.
importante que, desde cedo, os alunos se dem conta de todas as particularidades
que o trabalho com os gneros encerra. Convm que a reexo ocorra tanto no
nvel funcional como no formal, levando-lhes a indagaes do tipo:
a) Por que a situao comunicativa que determina a escolha do gnero?
b) Quais fatores interferem na escolha dos gneros?
c) Quais as formas possveis em que um dado gnero pode se apresentar sem
comprometer sua natureza?
d) O que determina as diculdades na produo e compreenso de alguns
gneros por certos grupos sociais?
AGORA SUA VEZ: Caso voc j tenha tido alguma experincia em sala
de aula, desenvolvendo atividades de produo textual, ou mesmo que no
tenha qualquer experincia nessa rea, reita sobre esses questionamentos e
outros relacionados ao tema. O frum um bom espao para trocar idias
com outros colegas a respeito desse tema.
Recapitulando
Agora sua vez, vejamos se voc entendeu:
1 Quando o professor desenvolve em sala de aula o trabalho de elaborao
de um jornal, em que contexto de comunicao se insere essa atividade?
2 E, quando solicitarmos a voc, caro aluno, a elaborao de um gnero
mais acadmico, como uma resenha, um ensaio, ou at mesmo um
resumo? Qual seria o contexto dessa prtica?
3 Em sua opinio, mais funcional trabalhar apenas com os gneros
autenticamente escolares?
4 O que signica a naturalizao dos gneros?
95
3.2 Os gneros e o aprendizado da escrita
O fato de trabalharmos com uma perspectiva de prticas lingsticas
signicativas e funcionais leva-nos a procurar investigar quais os contextos
em que a escrita assume esse papel na vida dos educandos.
Como falantes competentes de sua lngua materna, as crianas j desde
cedo utilizam exemplarmente os gneros orais que lhes so especcos em
sua rotina diria: isso ocorre quando narram acontecimentos (atendendo a
objetivos os mais variados possveis), quando ensinam a algum colega um
tipo de jogo ou brincadeira, quando orientam um colega em uma atividade
na escola, quando telefonam para algum, etc. Elas sabem tambm que uma
solicitao / mensagem qualquer, a depender do destinatrio envolvido na
situao discursiva (professor ou pais), tende a mudar consideravelmente.
Enm, existem muitos outros exemplos que poderiam ser apresentados. No
entanto, esses so sucientes para demonstrar como ontogeneticamente os
gneros orais se fazem presentes em suas vidas.
A apropriao pelas crianas desses gneros orais ocorre naturalmente,
devido s interaes lingsticas entre familiares, amigos e demais membros
da comunidade onde elas esto inseridas e em funo de suas necessidades
comunicativas bsicas. Essas demandas so necessrias para que possamos
interagir com os outros membros de um grupo social, ou dizendo de outra
forma, para que possamos efetivamente viver em sociedade. Nesse processo de
apropriao, a cultura a grande responsvel pela transmisso dos modelos de
gneros.
Em relao aos gneros escritos, a situao um pouco diferente porque
as demandas vo surgindo mais lentamente. s em uma segunda etapa do
desenvolvimento cognitivo da criana que a escrita comea a se fazer necessria
para ela. Inicialmente surge como uma necessidade de se identicar nos objetos,
demarcar sua propriedade; simultaneamente apresentam-se as exigncias
institucionais formais (as tarefas escolares); depois vm os recadinhos para
os pais (atividades essas que vo depender do contexto cultural familiar),
os bilhetinhos carinhosos para os professores, as declaraes de amor para
os colegas, um pouco mais tarde vm as revistas de passatempos, os jogos
escritos (ededonha)
2
e mais raramente os dirios, especialmente para as
meninas e em determinados contextos scio-culturais. Ainda que elas tenham
contato com um bom nmero de gneros escritos (propagandas, rtulos
de embalagens, convites, anncios etc.), a necessidade de interagir com os
outros, a partir do posicionamento da criana como produtora de gneros
escritos, surgir mais tardiamente.
Com base no que foi sumariamente exposto, podemos constatar que os
gneros orais se fazem mais presentes na fase inicial de desenvolvimento
da modalidade escrita, mas essa predominncia da oralidade no se restringe
a essa fase: ela nos acompanha por toda a vida. Essa constatao no podia ser
mais bvia, uma vez que, no nosso cotidiano, geralmente interagimos de modo
mais imediato com os outros atravs da linguagem oral. At mesmo o adulto
com um bom domnio da modalidade escrita, dependendo de suas atividades
prossionais, pode ter pouco acesso ao manuseio e produo de certos
2
Trata-se de uma
brincadeira muito
popular entre as crianas:
sorteiam uma letra e
vo escrevendo nomes
de objetos variados,
frutas, animais, cidades,
apenas iniciados com a
letra escolhida. Ganham
aqueles que mais
conseguem preencher as
lacunas com os nomes.
96
gneros escritos. No podemos nos esquecer de que a escrita uma atividade
funcionalmente orientada.
Assim, para que o ensino da escrita seja realmente produtivo, devemos
tentar fazer com que a escrita se torne necessria para os aprendizes, e que
por meio dela, possam ampliar sua rea de atuao lingstica em seu meio
social. No entanto, os professores devem estar conscientes da impossibilidade de
atingir nveis uniformes de signicao e funcionalidade escrita para todos
os alunos, dadas as diferenas individuais.
Os alunos devem ser expostos a uma srie de atividades de leitura e de
escrita que, conjuntamente, consigam faz-los atuar scio-cognitivamente no
mundo que os cerca, assim como ocorre com a modalidade oral. E nessa
trajetria, o trabalho com os gneros se faz necessrio na medida em que
traz (ou pelo menos tenta trazer) as prticas sociais para dentro da sala de
aula.
Os gneros textuais se apresentam, ento, como instrumentos ecazes
de mediao no processo de apropriao e uso da modalidade escrita, mas sua
ecincia depende de um planejamento didtico criterioso e comprometido com
a aprendizagem dos alunos.
Schneuwly e Dolz (2004) armam que ainda no existe ! para a expresso
oral e escrita ! um currculo que apresente uma diviso dos contedos de ensino
e uma previso das principais aprendizagens. Esse currculo deveria conter em
sua formao, a preocupao com a "progresso# que se apresenta como uma
organizao temporal para se alcanar uma boa aprendizagem. Este argumento,
associado grande diversidade dos gneros (visto aqui como fator impeditivo para
uma sistematizao), o impediu de tom-los como base de uma progresso. Por
outro lado, o objeto das tipologias no o texto, nem tampouco o gnero, e sim as
operaes de linguagem constitutivas do texto. Por essa razo, Schneuwly e Dolz
(op.cit, p. 60-61) organizaram um agrupamento de gneros em torno de seus tipos
textuais predominantes por se prestarem a uma melhor classicao didtica.
Consulte, nas pginas citadas no pargrafo acima, a proposta dos
agrupamentos de gneros.
3.3 Os gneros e a construo da textualidade
Com base nas denies de texto, discurso e gnero, apresentadas neste
mdulo, podemos entender que os textos se materializam em gneros especcos.
Sendo assim, os parmetros de textualizao vo variar de um gnero para outro,
no podendo ser denidos antecipadamente para todos os textos. As condies
de produo que envolvem contexto, interlocutores, tema, fatores pragmticos
vo denir a linguagem e a estrutura organizacional do texto. Noes como
coeso, coerncia, informatividade, intertextualidade, situacionalidade etc.,
estaro diretamente relacionadas a aspectos funcionais dos gneros, j que eles
se caracterizam mais por suas funes scio-comunicativas e menos por suas
regularidades formais.
97
Saiba mais: A lingstica textual surgiu na dcada de 1960, em um contexto em
que se destacavam as disciplinas que tomam o texto como objeto de estudo,
representativas de um novo enfoque de investigao da linguagem. Segundo
Marcuschi (1983, p. 12-13), o tema da lingstica textual
![...] abrange a coeso supercial ao nvel dos constituintes lingsticos,
a coerncia conceitual ao nvel semntico e cognitivo e o sistema de
pressuposies e implicaes no nvel pragmtico da produo do sentido no
plano das aes e intenes. Em suma, a LT (Lingstica Textual) trata o texto
como um ato de comunicao unicado num complexo universo de aes
humanas. Por um lado deve preservar a organizao linear que o tratamento
estritamente lingstico abordado no aspecto da coeso e, por outro lado, deve
considerar a organizao reticulada ou tentacular, no linear, portanto, dos
nveis de sentido e intenes que realizam a coerncia no aspecto semntico e
funes pragmticas."
Consulte Koch & Travaglia (1989) para um maior aprofundamento sobre essas
noes.
Isso equivale a dizer que no podemos entender noes como coeso,
coerncia e informatividade, por exemplo, dissociadas do gnero e das condies
de produo que condicionam o seu uso e circulao. Tais noes se justicam
no texto e nos efeitos de sentidos pretendidos pelo autor, tendo em vista seus
possveis leitores. No se l, nem se escreve um poema da mesma forma que se
l e se escreve um artigo de opinio, um artigo cientco, um anncio publicitrio
ou tantos outros gneros textuais que circulam em nossa sociedade. Na verdade,
os elementos de natureza extra-lingstica passam a ser responsveis pelo
processo de textualizao.
Tome-se como exemplo o caso de um anncio de uma campanha
publicitria para o dia dos pais, exposto em um outdoor, na cidade de Recife, em
2002, e um poema de autoria desconhecida.
Tem pai que me
Subi a porta e fechei a escada.
Tirei minhas oraes e recitei meus sapatos.
Desliguei a cama e deitei-me na luz
Tudo porque
Ele me deu um beijo de boa noite.
(Autor annimo)
98
Observe que um leitor pouco atento pode considerar os dois textos
incoerentes, visto que lidam com situaes aparentemente opostas. No primeiro
caso, tal leitor alegaria que um pai no pode ser me, no sentido estrito do termo,
j que, rigorosamente, o homem no gera, nem possui as caractersticas biolgicas
da mulher. Alm disso, poderia lanar outra crtica referente ao baixo teor de
informao veiculado pelo enunciado, gerando questionamentos como: Que pai
esse? Em que situao ocorre a possibilidade de o pai ser me? No entanto, quando
relacionamos o enunciado com o atual contexto histrico e com o momento
social de circulao desse enunciado (comemorao do dia dos pais), ele se torna
coerente. Veriquemos, primeiramente, que ele lana mo de valores construdos
socialmente, raticados pelo senso comum, ! o que no signica dizer que sejam
unanimidade ! que atribuem mulher um maior envolvimento na vida familiar
e educacional dos lhos; segundo, que esse enunciado nos leva a associar (ou
comparar) s aes ou atitudes de alguns pais a dessa me responsvel pelo
cuidado dos lhos. Da mesma forma, o momento e o lugar social de circulao
desse enunciado conseguem fornecer ao leitor as pistas necessrias para o leitor
recuperar o sentido sugerido pela mensagem.
No caso do poema, a ocorrncia de alguns verbos, acompanhados por
nomes que normalmente no preenchem o seu valor predicativo ! visto que
deitamos na cama, mas no desligamos uma cama, a menos que essa funcione
eletricamente !, representaria algo inaceitvel em outros textos, mas que se torna
perfeitamente autorizado no poema. A aparente incoerncia justica-se no ltimo
verso quando se evidencia a condio de um eu lrico apaixonado, justamente
para enfatizar a perturbao que invade os que se encontram neste estado.
Em relao aos elementos de coeso presentes no poema, verica-se que,
embora o seu uso atenda s normas da tradio coesiva, tambm ilustra um caso
de ruptura com essa mesma tradio. Segundo Koch (1989, p. 19), a coeso diz
respeito aos processos de seqencializao que asseguram ou tornam recupervel
uma ligao entre os elementos que ocorrem na superfcie textual. o que
justica o uso das conjunes aditivas e, do pronome indenido tudo ! j que
ele consegue recuperar os termos mencionados antes !, e da conjuno causal
porque. No entanto, essa tradio coesiva quebrada pela utilizao do pronome
ele que no retoma um referente j mencionado. Essa quebra, no entanto, no
compromete a compreenso do texto, no o torna incoerente, uma vez que
capaz de estabelecer uma relao exofrica, com um "ente# amado que no foi
mencionado no texto.
Isso nos remete ao fato de que a coerncia, como a autora ressalta, pode
ser vista como um princpio de interpretabilidade, ligada inteligibilidade do
texto numa situao de comunicao e capacidade que o receptor do texto
(que o interpreta para compreend-lo) tem para calcular o seu sentido (KOCH &
TRAVAGLIA, 1989, p. 11). Identicamos esse princpio de interpretabilidade no
caso exposto acima, j que, mesmo sem um antecedente explcito e lexicalizado,
o gnero poema e o domnio discursivo (literrio) permitem que o leitor consiga
atribuir sentido ao texto.
Portanto, conforme mencionamos acima, em textos acadmicos e
instrucionais, por exemplo, os parmetros de textualizao so outros, porque
so outros os objetivos de produo e de leitura. Nesse sentido, podemos dizer
que o autor do texto, diante das condies de produo, gerencia os critrios
de textualizao de modo a assegurar ou possiblitar ao leitor as condies de
99
interpretabilidade que so dependentes, dentre outros fatores, da materialidade
textual.
Esses dois exemplos ilustram que as condies de textualizao no
so imanentes ao texto e nem podem ser denidas antecipadamente, elas so
requeridas e se justicam no complexo processo de leitura e de produo que
envolve a situao de comunicao, os gneros, os objetivos pretendidos e os
interlocutores previstos.
Ainda levando em conta a complexidade da leitura e da escrita em sua
estreita relao com os movimentos dinmicos de criao e de circulao dos
gneros, destacamos exibilidade e plasticidade dos gneros em relao forma
que eles podem assumir. Assim como os textos estabelecem relaes intertextuais
! nas quais diferentes textos dialogam entre si !, os gneros tambm podem
manter relaes inter-gneros ou, segundo Marcuschi (2002), apresentam-se de
forma hbrida. Isso signica dizer que um gnero pode assumir a forma de outro
gnero, embora preserve suas funes scio-comunicativas. Esse fenmeno mais
comum na literatura e na linguagem publicitria.
Observem o exemplo abaixo que ilustra ambos os casos: relaes de
intertextualidade e de inter-gnero.
Acreditamos que o leitor no tenha dvida de que esse texto se enquadra
no gnero publicitrio (ou da propaganda). Se no h dvidas, propomos agora
que releia o texto e responda:
a. A que outro gnero o anncio publicitrio faz referncia?
b. Quais as caractersticas gerais de cada um dos gneros utilizados pelo
autor?
c. Que aspectos constitutivos remetem s marcas de intertextualidade e s
relaes inter-gneros.
Gostaramos de nalizar nossas reexes chamando a ateno para
o fato de que as prticas de leitura e de escrita devem ser pensadas tendo em
vista a dimenso scio-histrico-cultural em que elas se inserem. A despeito das
especicidades de cada processo, so fenmenos em interface que representam
prticas sociais mais abrangentes nas quais os gneros textuais desempenham um
papel constitutivo.
100
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BAHKTIN, M. [1979]. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
ROJO, R. H. (org.) A Prtica de Linguagem em Sala de Aula ! Praticando os
PCN. So Paulo: EDUC; Campinas, SP: Mercado de Letras, 2000.
BIASI-RODRIGUES, Bernadete. A diversidade de gneros textuais no ensino: um
novo modismo ? In: Perspectiva, Florianpolis, v.20, n.01, 2002, p.49-73
BRASIL. SEF. Parmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do
ensino fundamental: Lngua Portuguesa. Braslia, MEC/SEF, 1997.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividades de linguagem, textos e discursos. So
Paulo: Educ, 1999.
CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse: the language of teaching and
learning. Portsmouth: Heinemann, N.H, 1988.
COPE, Bill & KALANTZIS, Mary. Introduction: How a genre approach to literacy
cn transform the way writing is taught. In: The powers of literacy ! a genre
approach to teaching writing. University of Pisburgh Press: Pisburgh, 1993.
DOLZ, Joaquim e Shneuwly, Bernard. Gneros orais e escritos na escola.
Traduo e organizao de Roxane Rojo e Glais Sales Cordeiro. Campinas, SP:
Mercado de Letras, 2004.
KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L.C. Texto e Coerncia. So Paulo: Cortez, 1989.
FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler. So Paulo, autores associados:
Cortez, 1982.
FREEDMAN, Aviva & MEDWAY, Peter. Locating Genre Studies: Antecedents and
Prospects. In: Genre and the New Rethoric. London: Taylor & Francis, 1994, p.1-
20.
GERALDI, Joo Wanderley. Portos de Passagem. So Paulo: Martins Fontes,
1993.
KATO, Mary. O aprendizado da leitura. So Paulo: Martins fontes, 1985.
_____No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingstica. So Paulo: tica,
1987.
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: pontes,
1989
_____. Ocina de leitura: teoria e prtica. Campinas: Pontes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaa. Texto e coerncia. So Paulo: Cortez, 1989.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. So Paulo:
tica, 1993.
LAJOLO, M. e ZILBERMAN, R. A formao da leitura no Brasil. So Paulo:
tica, 1998.
101
MANGUEL, A. Uma histria e leitura. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MARCUSCHI, Luiz Antnio. Da fala para a escrita: atividades de retextualizao.
So Paulo: Cortez, 2001.
_____. Gneros textuais: denio e funcionalidade. In: A. P. Dionsio et al. (orgs.).
Gneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.
______. Lingstica de texto: o que e como se faz. Recife, Universidade Federal
de Pernambuco, Srie Debates 1, 1983.
ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso e leitura. Campinas: Editora da UNICAMP,
1988.
VOLOCHINOV, V. N.[1929]. Marxismo e Filosoa da linguagem. So Paulo:
Hucitec, 1986.
ZILBERMAN, R. e SILVA. E.T. (org.) Leitura: perspectivas interdisciplinares. So
Paulo: tica, 1988.
Вам также может понравиться
- Cardapio Camarões Ponta NegraДокумент5 страницCardapio Camarões Ponta NegraFernando SilvaОценок пока нет
- Ebook Teclas Magicas PDFДокумент33 страницыEbook Teclas Magicas PDFLaís LimaОценок пока нет
- 27 Tecnicas para Vender Como AfiliadoДокумент17 страниц27 Tecnicas para Vender Como AfiliadoFernando SilvaОценок пока нет
- 27 Tecnicas para Vender Como AfiliadoДокумент17 страниц27 Tecnicas para Vender Como AfiliadoFernando SilvaОценок пока нет
- 2 2010 Energia Fotovoltaica 2Документ44 страницы2 2010 Energia Fotovoltaica 2Rodrigo RamosОценок пока нет
- Exame de Selecao 2013 - Sem RespostasДокумент12 страницExame de Selecao 2013 - Sem RespostasLucas MatheusОценок пока нет
- Ebook Como Investir Ebook Como InvestirДокумент20 страницEbook Como Investir Ebook Como InvestirRobson BinhoОценок пока нет
- VPCCW13FB Series MKSP PTДокумент2 страницыVPCCW13FB Series MKSP PTFernando SilvaОценок пока нет
- SENAI Cursos e ProgramasДокумент19 страницSENAI Cursos e ProgramasFernando SilvaОценок пока нет
- Mondial - Centrifuga - Super Centrifuga Premium - Mod. 1260-01 e 1260-02 - CF-01Документ69 страницMondial - Centrifuga - Super Centrifuga Premium - Mod. 1260-01 e 1260-02 - CF-01pagbarrosОценок пока нет
- 001 ITIL V3 Estratégia de ServiçoДокумент396 страниц001 ITIL V3 Estratégia de ServiçoMarcos Rodrigues dos Santos100% (1)
- Prova Fundep 2015 Cohab Minas Assistente Administrativo ProvaДокумент14 страницProva Fundep 2015 Cohab Minas Assistente Administrativo ProvaALan la RoccaОценок пока нет
- Cidadania e HeterogeneidadeДокумент17 страницCidadania e HeterogeneidadeSueli E FranciscoОценок пока нет
- AROA - Um Modelo de MentoriaДокумент3 страницыAROA - Um Modelo de MentoriaJose Fernandes Alves100% (1)
- Butsudan 090722233930 Phpapp01Документ13 страницButsudan 090722233930 Phpapp01Guilherme Henrique Minoru Yamaji100% (1)
- Actividade 1 - Francisco CaetanoДокумент14 страницActividade 1 - Francisco CaetanofmacaetanoОценок пока нет
- PAIVA - Prudência e Caridade Na Ética de Henrique de GandДокумент18 страницPAIVA - Prudência e Caridade Na Ética de Henrique de GandAndré Sekkel CerqueiraОценок пока нет
- Gestão Na Estrutura de SistemasДокумент437 страницGestão Na Estrutura de SistemasImre KissОценок пока нет
- FLF0462 Teoria Das Ciências Humanas III (2017-I)Документ5 страницFLF0462 Teoria Das Ciências Humanas III (2017-I)869SouOBRОценок пока нет
- Luciano Azevedo Semântica e PragmáticaДокумент60 страницLuciano Azevedo Semântica e PragmáticaNaomi Nicolau100% (1)
- A Aparente Demora Da Volta de CristoДокумент2 страницыA Aparente Demora Da Volta de CristoMatheus RosaОценок пока нет
- O Sentido Das Competências No Projeto Político-PedagógicoДокумент61 страницаO Sentido Das Competências No Projeto Político-PedagógicomahattmaОценок пока нет
- Illusio BourdieuДокумент15 страницIllusio BourdieuPaulo H Rodrigues100% (1)
- Seminário para Prof - Escola SabatinaДокумент56 страницSeminário para Prof - Escola SabatinaItamar Jesus100% (8)
- Vigotski - Imaginação e Criatividade Na Infância - FichaДокумент3 страницыVigotski - Imaginação e Criatividade Na Infância - FichaDemetrio Cherobini100% (1)
- Raciocinio Logico - PARTE LOGICA FULLДокумент36 страницRaciocinio Logico - PARTE LOGICA FULLJonathasesmОценок пока нет
- O Paradigma Da Influencia Digital Nos Processos Culturais e Sociais Da Humanidade No Seculo XxiДокумент8 страницO Paradigma Da Influencia Digital Nos Processos Culturais e Sociais Da Humanidade No Seculo XxiBernardo EmeryОценок пока нет
- RelatórioДокумент15 страницRelatórioCamily BorgesОценок пока нет
- D) Texto - Inclusão Dos Esportes - Sem RespostaДокумент2 страницыD) Texto - Inclusão Dos Esportes - Sem Respostaedson100% (4)
- 1deolindo e GenovevaДокумент8 страниц1deolindo e GenovevaDjair PauloОценок пока нет
- E-Book RT Psicologia JunguianaДокумент30 страницE-Book RT Psicologia JunguianaGisele SoraОценок пока нет
- SapoДокумент1 страницаSapoVictor OdinsonОценок пока нет
- Jandira Lorenz: o Mundo Como DesenhoДокумент21 страницаJandira Lorenz: o Mundo Como DesenhodjulyОценок пока нет
- A Importância Da Brincadeira Como Princípio Educativo Na Educação InfantilДокумент2 страницыA Importância Da Brincadeira Como Princípio Educativo Na Educação InfantilDouglas OliveiraОценок пока нет
- Estatuto UFCG 2002Документ13 страницEstatuto UFCG 2002Adeilson Dantas NunesОценок пока нет
- Material Didático - Didática e PráticaДокумент57 страницMaterial Didático - Didática e PráticapauladanieliОценок пока нет
- 4 - Espirito SantoДокумент3 страницы4 - Espirito SantoDouglas OliveiraОценок пока нет
- Historia Do Mpla PDFДокумент5 страницHistoria Do Mpla PDFPaulo Maier100% (1)
- DUARTE, Rodrigo - Deslocamentos Na ArteДокумент538 страницDUARTE, Rodrigo - Deslocamentos Na ArteMarilia Bezerra100% (1)
- A Dimensão Transcendetal Do Ser HumanoДокумент8 страницA Dimensão Transcendetal Do Ser Humanoguzmanabraham108Оценок пока нет