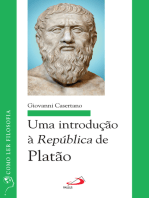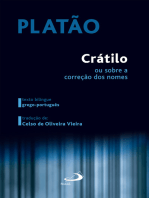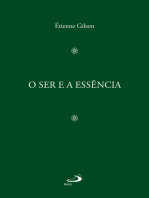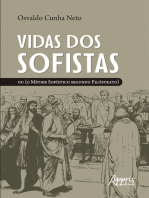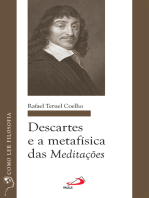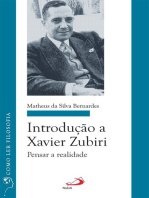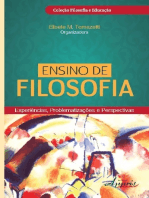Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Vaz Henrique Lima Escritos de Filosofia II Etica e Cultura
Загружено:
Felipe PaivaОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Vaz Henrique Lima Escritos de Filosofia II Etica e Cultura
Загружено:
Felipe PaivaАвторское право:
Доступные форматы
HENRIQUE C.
DE LIMA VAZ
Escritos de Filosofia 11
TICA E CULTURA
~
Edkes Loyola
FttOSOFTA.
Coleo dirigida pela Faculdade do Centro de Estudos
Superiores da Companhia de Jesus
Diretor: Joo A. A. A. Mac Dowell
Co-Diretores: Henrique C. Lima Vaz, SJ e Danilo Mondoni, SJ
Instituto Santo Incio
Av. Dr. Cristiano Guimares, 2127 (Planalto)
31720-300 Belo Horizonte, MG
Edies Loyola
Rua 1822 n 34 7 - lpiranga
04216-000 So Paulo, SP
Caixa Postal 42.335
04299-970 So Paulo, SP
Fone (0**11) 6914-1922
Fax (0**11) 6163-4275
Home page e vendas: www.loyola.com.br
e-mail: loyola@ibm.net
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma
e/ou quaisquer meios (eletrnico ou mecnico, incluindo
fotocpia e gravao) ou arquivada em qualquer sistema
ou banco de dados sem permisso escrita da Editora.
ISBN: 85-15-00794-0
3 edio: setembro de 2000
EDIES LOYOLA, So Paulo, Brasil, 1993
Aut igitur negemus quidquam ratione
confiei, cum contra nihil sine ratione
recte .fieri possit aut, cum philosophia
ex rationum collatione constet, ab ea, si
et bani et beati esse volumus, omnia
adjumenta et auxilia petamus bene bea-
t ec1 i te !'i vendi.
M.T. Cicero, Tusc. Disp. IV, 38.
SUMRIO
ADVERTl!:NCIA PRELIMINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cap. I- FENOMENOLOGIA DO ETHOS . . . . . . . . . . . 11
1. Preliminares semnticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Ethos e Tradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Ethos e indivduo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21
4. Ethos e conflito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cap. !I - DO ETHOS TICA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36
1 . Ethos e cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Nascimento da cincia do ethos . . . . . . . . . . . . . 43
3. Estrutura da cincia do ethos . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cap. III - TICA E RAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1 . Teoria da praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2 . Origens histricas da teoria da praxis . . . . . . . 85
3. A concepo aristotlica da phrnesis . . . . . . . . 103
4. tica e Teoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Cap. IV - TICA E DIREITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1 . Do ethos sociedade poltica: a gnese do Di-
reito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2. tica e Direito no pensamento clssico . . . . . . 148
3. tica e Direito no pensamento moderno . . . . . 161
4 . Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Cap. V - TICA e CI:NCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1. Do ethos Cincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2. tica e Cincia moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3 . A dimenso tica da Cincia . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4. O ethos da atividade cientfica . . . . . . . . . . . . . . . 208
5 . Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
I
;;
j
~ ~
.
'
ANEXO I - A Histria em questo .............. .
ANEXO II - Poltica e Histria ...
o o
ANEXO III - tica e Poltica
o o
ANEXO IV - Democracia e Sociedade ............ .
ANEXO V - Cincia e Sociedade
o o o o
ANEXO VI - Cultura e Religio .................. .
ndice Onomstico
.............................
227
250
257
263
274
280
289
SUMRIO
ADVERTl!:NCIA PRELIMINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cap. I- FENOMENOLOGIA DO ETHOS . . . . . . . . . . . 11
1. Preliminares semnticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Ethos e Tradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Ethos e indivduo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21
4. Ethos e conflito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cap. !I - DO ETHOS TICA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36
1 . Ethos e cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Nascimento da cincia do ethos . . . . . . . . . . . . . 43
3. Estrutura da cincia do ethos . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cap. III - TICA E RAZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1 . Teoria da praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2 . Origens histricas da teoria da praxis . . . . . . . 85
3. A concepo aristotlica da phrnesis . . . . . . . . 103
4. tica e Teoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Cap. IV - TICA E DIREITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
1 . Do ethos sociedade poltica: a gnese do Di-
reito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2. tica e Direito no pensamento clssico . . . . . . 148
3. tica e Direito no pensamento moderno . . . . . 161
4 . Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Cap. V - TICA e CI:NCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1. Do ethos Cincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
2. tica e Cincia moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3 . A dimenso tica da Cincia . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4. O ethos da atividade cientfica . . . . . . . . . . . . . . . 208
5 . Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
I
;;
j
~ ~
.
'
ANEXO I - A Histria em questo .............. .
ANEXO II - Poltica e Histria ...
o o
ANEXO III - tica e Poltica
o o
ANEXO IV - Democracia e Sociedade ............ .
ANEXO V - Cincia e Sociedade
o o o o
ANEXO VI - Cultura e Religio .................. .
ndice Onomstico
.............................
227
250
257
263
274
280
289
FttOSOFTA.
Coleo dirigida pela Faculdade do Centro de Estudos
Superiores da Companhia de Jesus
Diretor: Joo A. A. A. Mac Dowell
Co-Diretores: Henrique C. Lima Vaz, SJ e Danilo Mondoni, SJ
Instituto Santo Incio
Av. Dr. Cristiano Guimares, 2127 (Planalto)
31720-300 Belo Horizonte, MG
Edies Loyola
Rua 1822 n 34 7 - lpiranga
04216-000 So Paulo, SP
Caixa Postal 42.335
04299-970 So Paulo, SP
Fone (0**11) 6914-1922
Fax (0**11) 6163-4275
Home page e vendas: www.loyola.com.br
e-mail: loyola@ibm.net
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma
e/ou quaisquer meios (eletrnico ou mecnico, incluindo
fotocpia e gravao) ou arquivada em qualquer sistema
ou banco de dados sem permisso escrita da Editora.
ISBN: 85-15-00794-0
3 edio: setembro de 2000
EDIES LOYOLA, So Paulo, Brasil, 1993
Aut igitur negemus quidquam ratione
confiei, cum contra nihil sine ratione
recte .fieri possit aut, cum philosophia
ex rationum collatione constet, ab ea, si
et bani et beati esse volumus, omnia
adjumenta et auxilia petamus bene bea-
t ec1 i te !'i vendi.
M.T. Cicero, Tusc. Disp. IV, 38.
ADVERTENCIA PRELIMINAR
Este segundo volume dos Escritos de Filosofia
1
rene
alguns textos que foram ordenados em torno de um mes-
mo tema central, a saber, o problema das relaes entre
tica e cultura ou, mais exatamente, o problema da origem
e do destino da tica na cultura ocidental.
Tendo sido aparentemente a nica civilizao conheci-
da a colocar decididamente a eptsthme, fruto da Razo
demonstrativa, no centro do seu universo simblico, a ci-
vilizao do Ocidente se v a braos, h 26 sculos, com
o ingente labor terico (ver infra Anexo 6.
0
) de transpor
os costumes e as crenas nos cdigos discursivos do logos
epistmico. Os sistemas teolgicos e ticos so, ao longo
da histria da nossa civilizao, o campo desse labor e nele
a philosophia, inveno tipicamente grega, destinada a pen-
sar o contedo das crenas e a normatividade dos costu-
mes, encontra sua matriz primeira e o espao
terico dos seus problemas fundamentais.
Hegel foi o ltimo grande filsofo que reconheceu na
matriz teolgico-tica o lugar de nascimento e a origem das
coordenadas do espao filosfico. Depois dele sucessivas
geraes de epgonos - de Marx a Heidegger - entrega-
ram-se a um minucioso e pertinaz af de demolio do edi-
fcio intelectual erguido pela civilizao do Ocidente e co-
roado pela Filosofia. So os alicerces ontoteolgicos desse
edifcio, sobre os quais se edificaram as estruturas da Ra-
zo terica e da Razo prtica - a Metafsica e a tica -
que mais fundamente so atingidos por esse furor destruens.
1. Escritos de Filosofia: Problemas de fronteira (col. Filosofia,
31, So Paulo, Ed. Loyola, 1986.
7
Assim, no difcil perceber no seio das grandes tendn-
cias do pensamento contemporneo uma notvel e ineg-
vel correspondncia entre a crtica dos fundamentos da Me-
tafsica e a crtica dos fundamentos da tica. O positivis-
mo lgico no seno o paradigma mais conhecido dessa
correspondncia. Eis a, sem dvida, posta a descoberto
uma das razes do profundo paradoxo e da extrema ambi-
gidade da nossa cultura, na qual a multiplicao das ra-
zes de toda ordem - desde as cientfico-tcnicas at as
ideolgico-polticas - acompanhada por um generalizado
e invencvel ceticismo que atinge as razes ltimas do ser
e da vida, justamente essas razes metafsico-ticas com
as quais a civilizao da Razo comeou por estabelecer
o centro do seu universo simblico e a tentar traar as
direes possveis do seu caminho histrico.
Os textos que aqui publicamos pretendem ser apenas
uma contribuio, muito limitada e modesta, para a dis-
cusso desses grandes problemas, cingindo-se questo dos
fundamentos da tica. Os trs primeiros captulos inspi-
ram-se na introduo a um curso de tica Geral que foi
ministrado no Departamento de Filosofia da Faculdade de
Filosofia e Cincias Humanas da UF!viG em 1984 e tem sido
repetido na Faculdade de Filosofia do Centro de Estudos
Superiores de Filosofia e Teologia da Companhia de Jesus,
em Belo Horizonte. Os captulos IV e V retomam, refun-
dem em parte e ampliam dois artigos publicados respecti-
vamente em 1977 e 1974. Os Anexos reproduzem com li-
geiras modificaes, textos publicados na Sntese
de 1974 a 1987. Alguns desses Anexos parecem afastar-se do
tema central do livro, mas uma leitura atenta mostrar que,
no fundo, est presente a mesma pergunta decisiva: uma ci-
vilizao que celebra a Razo, mas abandona a Metafsica
e a tica semelhante, para lembrar uma comparao de
Hegel, a um templo sem altar; que outro destino lhe resta
seno o de tornar-se uma spelunca latronum (Mt 21,13)?
O plano inicial do volume previa um captulo sobre ti-
ca e liberdade. Mas a sua elaborao avanou muito alm
dos limites previstos e pareceu aconselhvel reserv-lo para
publicao parte.
Dedico estas pginas, com emoo e carinho, minha
terra natal, Ouro Preto. Na austera Ouro Preto dos anos
30, ainda toda impregnada do velho humanismo mineiro,
8
apenas adolescente abri pela primeira vez, na biblioteca
do meu av materno, uma obra de Plato e era justamente
a Repblica na antiga traduo francesa de Dacier-Grou.
Entrego, pois, minha terra algum fruto da semente de
um destino de vida que germinou um dia em seu seio ge-
neroso:
Salve! magna parens trugum Saturnia tellus
Magna virum: tibi res antiquae laudis et artis
Ingredior, sanctos ausus recludere fontes.
Georg. II, 173-175
H. C. DE LIMA V AZ, S.J. *
(
Fiquem aqui meus sinceros agradecimentos ao meu colega
Prof. Marcelo Perine pelo seu interesse na publicao deste livro e
pelo sempre penoso trabalho de organizao do ndice Onomstico.
9
Assim, no difcil perceber no seio das grandes tendn-
cias do pensamento contemporneo uma notvel e ineg-
vel correspondncia entre a crtica dos fundamentos da Me-
tafsica e a crtica dos fundamentos da tica. O positivis-
mo lgico no seno o paradigma mais conhecido dessa
correspondncia. Eis a, sem dvida, posta a descoberto
uma das razes do profundo paradoxo e da extrema ambi-
gidade da nossa cultura, na qual a multiplicao das ra-
zes de toda ordem - desde as cientfico-tcnicas at as
ideolgico-polticas - acompanhada por um generalizado
e invencvel ceticismo que atinge as razes ltimas do ser
e da vida, justamente essas razes metafsico-ticas com
as quais a civilizao da Razo comeou por estabelecer
o centro do seu universo simblico e a tentar traar as
direes possveis do seu caminho histrico.
Os textos que aqui publicamos pretendem ser apenas
uma contribuio, muito limitada e modesta, para a dis-
cusso desses grandes problemas, cingindo-se questo dos
fundamentos da tica. Os trs primeiros captulos inspi-
ram-se na introduo a um curso de tica Geral que foi
ministrado no Departamento de Filosofia da Faculdade de
Filosofia e Cincias Humanas da UF!viG em 1984 e tem sido
repetido na Faculdade de Filosofia do Centro de Estudos
Superiores de Filosofia e Teologia da Companhia de Jesus,
em Belo Horizonte. Os captulos IV e V retomam, refun-
dem em parte e ampliam dois artigos publicados respecti-
vamente em 1977 e 1974. Os Anexos reproduzem com li-
geiras modificaes, textos publicados na Sntese
de 1974 a 1987. Alguns desses Anexos parecem afastar-se do
tema central do livro, mas uma leitura atenta mostrar que,
no fundo, est presente a mesma pergunta decisiva: uma ci-
vilizao que celebra a Razo, mas abandona a Metafsica
e a tica semelhante, para lembrar uma comparao de
Hegel, a um templo sem altar; que outro destino lhe resta
seno o de tornar-se uma spelunca latronum (Mt 21,13)?
O plano inicial do volume previa um captulo sobre ti-
ca e liberdade. Mas a sua elaborao avanou muito alm
dos limites previstos e pareceu aconselhvel reserv-lo para
publicao parte.
Dedico estas pginas, com emoo e carinho, minha
terra natal, Ouro Preto. Na austera Ouro Preto dos anos
30, ainda toda impregnada do velho humanismo mineiro,
8
apenas adolescente abri pela primeira vez, na biblioteca
do meu av materno, uma obra de Plato e era justamente
a Repblica na antiga traduo francesa de Dacier-Grou.
Entrego, pois, minha terra algum fruto da semente de
um destino de vida que germinou um dia em seu seio ge-
neroso:
Salve! magna parens trugum Saturnia tellus
Magna virum: tibi res antiquae laudis et artis
Ingredior, sanctos ausus recludere fontes.
Georg. II, 173-175
H. C. DE LIMA V AZ, S.J. *
(
Fiquem aqui meus sinceros agradecimentos ao meu colega
Prof. Marcelo Perine pelo seu interesse na publicao deste livro e
pelo sempre penoso trabalho de organizao do ndice Onomstico.
9
Captulo Primeiro
FENOMENOLOGIA DO ETHOS
1. PRELIMINARES SEMNTICOS
Para Aristteles seria insensato e mesmo ridculo ( ge-
loion) querer demonstrar a existncia do ethos, assim co-
mo ridculo querer demonstrar a existncia da physis.
1
Physis e ethos so duas formas primeiras de manifestao
dQ ser, ou da sua presena, no sendo o ethos seno a trans-
crio da physis na peculiaridade da praxis ou da ao hu-
mana e das estruturas histrico-sociais que dela resultam.
No ethos est presente a razo profunda da phiysis que se
manifesta no finalismo do b e ~ e, por outro lado, ele rom-
pe a sucesso do mesmo qtte caracteriza a phtysis como
domnio da necessidade, com o advento do diferente no
espao da liberdade aberto pela praxs.
2
Embora enquanto
autodeterminao da praxis o ethos se eleve sobre a physis,
ele reinstaura, de alguma maneira, a necessidade da natu-
reza ao fixar-se na constncia do hbito ( hexis) . Demons-
trar a ordem da praxis, articulada em hbitos ou virtudes,
no segundo a necessidade transiente da physis, mas se-
1. Ver Fis. II, 1, 193 a 1-10. Sendo a physis um gnrimon ou
um notum per se e, portanto, um princpio (arqu) da demonstrao,
querer provar a existncia da physis seria uma apaideusa tn ana-
lytikn, uma ignorncia dos procedimentos analticos. Ver Fis. II,
1, 184 a 16-b 14, e W. D. Ross, Aristotle's Physics, a revised text with
introduction and commentary, Oxford, Clarendon Press, 1936, pp.
456-458; 501.
2. A physis dita tou aei (sempre) e o ethos tou pollkis (mui-
tas vezes). Ver Aristteles, Ret. I, 11, 1370 a 7; t. Nic. VII, 9, 1152 a 31.
11
Captulo Primeiro
FENOMENOLOGIA DO ETHOS
1. PRELIMINARES SEMNTICOS
Para Aristteles seria insensato e mesmo ridculo ( ge-
loion) querer demonstrar a existncia do ethos, assim co-
mo ridculo querer demonstrar a existncia da physis.
1
Physis e ethos so duas formas primeiras de manifestao
dQ ser, ou da sua presena, no sendo o ethos seno a trans-
crio da physis na peculiaridade da praxis ou da ao hu-
mana e das estruturas histrico-sociais que dela resultam.
No ethos est presente a razo profunda da phiysis que se
manifesta no finalismo do b e ~ e, por outro lado, ele rom-
pe a sucesso do mesmo qtte caracteriza a phtysis como
domnio da necessidade, com o advento do diferente no
espao da liberdade aberto pela praxs.
2
Embora enquanto
autodeterminao da praxis o ethos se eleve sobre a physis,
ele reinstaura, de alguma maneira, a necessidade da natu-
reza ao fixar-se na constncia do hbito ( hexis) . Demons-
trar a ordem da praxis, articulada em hbitos ou virtudes,
no segundo a necessidade transiente da physis, mas se-
1. Ver Fis. II, 1, 193 a 1-10. Sendo a physis um gnrimon ou
um notum per se e, portanto, um princpio (arqu) da demonstrao,
querer provar a existncia da physis seria uma apaideusa tn ana-
lytikn, uma ignorncia dos procedimentos analticos. Ver Fis. II,
1, 184 a 16-b 14, e W. D. Ross, Aristotle's Physics, a revised text with
introduction and commentary, Oxford, Clarendon Press, 1936, pp.
456-458; 501.
2. A physis dita tou aei (sempre) e o ethos tou pollkis (mui-
tas vezes). Ver Aristteles, Ret. I, 11, 1370 a 7; t. Nic. VII, 9, 1152 a 31.
11
gundo o finalismo imanente do lagos ou da razo, eis o
propsito de uma cincia do ethos tal como Aristteles se
prope constitu-la, coroando a tradio socrtico-platni-
ca.
3
A tica alcana, assim, seu estatuto de saber autno-
mo,
1
e passa a ocupar um lugar preponderante na tradi-
o cultural e filosfica do Ocidente.
5
O termo ethos uma transliterao dos dois vocbulos
gregos ethos (com eta inicial) e ethos (com psilon inicial).
importante distinguir com exatido os matizes peculia-
res a cada um desses termos.
5
" Por outro lado, se a eles
acrescentarmos o vocbulo hexis, de raiz diferente, teremos
definido um ncleo semntico a partir do qual ser pos-
svel traar as grandes linhas da tica como cincia do
cthos."
A primeira acepf.o de ethos (com e ta inicial) dec:;igna
a morada do homem (e do animal em geral) . O ethos a
casa do homem. O homem habita sobre a terr?. acolhendo-
3. Ver Nic. I, captulos 1-4; I, 7, 1094 a 1-1098 b 8. Ver I. D-
ring, Aristoteles-Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidel-
berg, Carl Winter, 1966, pp. 435-437; sobre praxis e natureza ver igual-
mente M. Ganter, Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie des
Aristoteles (Symposion 45), Friburgo na Brisgvia-Munique, Karl Al-
ber, 1974, pp. 47-51. Ver infra, cap. II, nota 119a.
4. Em Plato, com efeito, no obstante sua posio fundadora
na histria do pensamento tico, a tica um captulo da ontologia
das idias e no alcana o estatuto autnomo que lhe conferir Aris-
tteles. Ver Ganter, op. cit., pp. 11-13; infra, cap. III, 1.
5. sabido como, a partir da Primeira Academia, a Filosofia se
divide em Lgica, tica e Fsica. Ver Xencrates, fr. 1 (Heinzel e o
testemunho de M. T. Ccero Tusc. Disp., V, 24-25.
5a. Ver P. Chantraine, Dictionnaire tymologique de la Zangue
grecque: histoire des mots, Paris, Klincksieck, 1968, pp. 327; 407--108
instrutiva, a propsito, a leitura dos dois verbetes sobre ethos no Ir.rie.r
Aristotelicus de H. Bonitz (Graz, Akademische Druck und Verlagsan-
stalt, 1955, pp. 216-217; 315-316). Os matizes de ethos so sugeridos
por Plato enumerando as qualidades dos Guardies da cidade, "seu
carter e seus hbitos" <Leis, XII, 968 dl. Ver ainda G. Funke, Ethos:
Gewohnheit, Sitte, Sittlickeit apud Archiv fr Rechts und Sozialphilo-
sophie, Berlim, 47: 1961, pp. 1-80 (aqui pp. 2-25l.
6. A polissemia dos termos que vieram a constituir o vocabu-
lrio fundamental da lngua filosfica grega lana luz decisiva sobre
a riqueza conceptual desses termos. Ver M. Untersteiner Problemi
di filologia filosofica, Milo, Cisalpina-Goliardica, 1980, pp. So-
bre a semntica da linguagem na introduo tica, ver E. Riondato,
Ricerche di filosofia morale: I Elementi metodologici e storici. P-
dua, Liviana, 1975, pp. 1-41. Ver ainda, J. Mller, Zum Begriff des
Ethos ?Lnd des Ethischen, apud, K. Ulmer <org.) Die Verantwortung
der Bonn, Bouvier-H. Grundmann, 1975, pp. 8-25.
l2
..se ao recesso seguro do ethos. Este sentido de um lugar
de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor,
constitui a raiz semntica que d origem significao do
ethos como costume, esquema praxeolgico durvel, estilo
de vida e ao. A metfora da morada e do abrigo indica
justamente que, a partir do ethos, o espao do mundo tor-
na-se habitvel para o homem. O domnio da physis ou
o reino da necessidade rompido pela abertura do espao
humano do ethos no qual iro inscrever-se os costumes os
hbitos, as normas e os interditos, os valores e as
7
Por conseguinte, o espao do ethos enquanto espao hu-
mano, no dado ao homem, mas por ele construdo ou
incessantemente reconstrudo. Nunca a casa do ethos est
pronta e acabada para o homem, e esse seu essencial ina-
cabamento o signo de uma presena a um tempo prxima
e infinitamente distante, e que Plato designou como a pre-
sena exigente do Bem, que est alm de todo ser (ousa)
ou para alm do que se mostra acabado e completo.
8
, pois, no espao do ethos que o lagos torna-se com-
preenso e expresso do ser do homem como exigncia
radical de dever-ser ou do bem. Assim, na aurora da filosofia
gre2"Q, Herclito entendeu o ethos na sua sentena clebre:
ethos anthrpo damn. " O ethos , na concepo heracl-
tica, regido pelo lagos. '
0
e nessa obedincia ao lagos que
se do os primeiros passos em direJ;O tica como saber
racional do ethos. assim como ir- entend-la a tradio fi-
losfica do Ocidente. ''
7. Ao invs, o ethos do animal o encerra no espao fechado do
seu ecossistema, dando origem Etologia como estudo do compor-
tamento animal. Ver Aristteles, Hist. An. 588 a 18.
8. Epkeina ts ousas, Plato, Rep. VI, 509 b.
9. "0 ethos o gnio protetor do homem" (D.-K., 22, B, 119).
10. Sobre a interpretao da sentena de Herclito, ver W. K. c.
Guthrie. A history ot greek Philosophy, Cambridge, Cambridge Uni-
ve_rsity Press. 1967, I, p. 482 e J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie:
glzssement des espaces humains, Paris, Tqui, 1979, pp. 633-637. co-
nhecida a leitura heideggeriana desse texto em Brief ber den Hu-
manismus, Berna, Francke Verlag, ed., 1954, pp. 106-110, onde o
ethos interpretado como morada do homem enquanto ek-sistncia
abertura ao Ser, cujo pensamento a tica original. Ver infra, cap:
II, notas 48 e 49; cap. V, nota 74.
11. Com efeito, alguns intrpretes apontam no dito de Hercli-
to uma crtica figura mtica do Destino que pesa sobre a ao hu-
mana. Ver Guthrie. op. cit., p. 482, n. 1. Ver. no entanto. A. Ma-
gns, L'idea di destino nel pensiero antico, Udine, Del Bianco Edi-
tore, 1985, vol. I, p. 60.
13
gundo o finalismo imanente do lagos ou da razo, eis o
propsito de uma cincia do ethos tal como Aristteles se
prope constitu-la, coroando a tradio socrtico-platni-
ca.
3
A tica alcana, assim, seu estatuto de saber autno-
mo,
1
e passa a ocupar um lugar preponderante na tradi-
o cultural e filosfica do Ocidente.
5
O termo ethos uma transliterao dos dois vocbulos
gregos ethos (com eta inicial) e ethos (com psilon inicial).
importante distinguir com exatido os matizes peculia-
res a cada um desses termos.
5
" Por outro lado, se a eles
acrescentarmos o vocbulo hexis, de raiz diferente, teremos
definido um ncleo semntico a partir do qual ser pos-
svel traar as grandes linhas da tica como cincia do
cthos."
A primeira acepf.o de ethos (com e ta inicial) dec:;igna
a morada do homem (e do animal em geral) . O ethos a
casa do homem. O homem habita sobre a terr?. acolhendo-
3. Ver Nic. I, captulos 1-4; I, 7, 1094 a 1-1098 b 8. Ver I. D-
ring, Aristoteles-Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidel-
berg, Carl Winter, 1966, pp. 435-437; sobre praxis e natureza ver igual-
mente M. Ganter, Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie des
Aristoteles (Symposion 45), Friburgo na Brisgvia-Munique, Karl Al-
ber, 1974, pp. 47-51. Ver infra, cap. II, nota 119a.
4. Em Plato, com efeito, no obstante sua posio fundadora
na histria do pensamento tico, a tica um captulo da ontologia
das idias e no alcana o estatuto autnomo que lhe conferir Aris-
tteles. Ver Ganter, op. cit., pp. 11-13; infra, cap. III, 1.
5. sabido como, a partir da Primeira Academia, a Filosofia se
divide em Lgica, tica e Fsica. Ver Xencrates, fr. 1 (Heinzel e o
testemunho de M. T. Ccero Tusc. Disp., V, 24-25.
5a. Ver P. Chantraine, Dictionnaire tymologique de la Zangue
grecque: histoire des mots, Paris, Klincksieck, 1968, pp. 327; 407--108
instrutiva, a propsito, a leitura dos dois verbetes sobre ethos no Ir.rie.r
Aristotelicus de H. Bonitz (Graz, Akademische Druck und Verlagsan-
stalt, 1955, pp. 216-217; 315-316). Os matizes de ethos so sugeridos
por Plato enumerando as qualidades dos Guardies da cidade, "seu
carter e seus hbitos" <Leis, XII, 968 dl. Ver ainda G. Funke, Ethos:
Gewohnheit, Sitte, Sittlickeit apud Archiv fr Rechts und Sozialphilo-
sophie, Berlim, 47: 1961, pp. 1-80 (aqui pp. 2-25l.
6. A polissemia dos termos que vieram a constituir o vocabu-
lrio fundamental da lngua filosfica grega lana luz decisiva sobre
a riqueza conceptual desses termos. Ver M. Untersteiner Problemi
di filologia filosofica, Milo, Cisalpina-Goliardica, 1980, pp. So-
bre a semntica da linguagem na introduo tica, ver E. Riondato,
Ricerche di filosofia morale: I Elementi metodologici e storici. P-
dua, Liviana, 1975, pp. 1-41. Ver ainda, J. Mller, Zum Begriff des
Ethos ?Lnd des Ethischen, apud, K. Ulmer <org.) Die Verantwortung
der Bonn, Bouvier-H. Grundmann, 1975, pp. 8-25.
l2
..se ao recesso seguro do ethos. Este sentido de um lugar
de estada permanente e habitual, de um abrigo protetor,
constitui a raiz semntica que d origem significao do
ethos como costume, esquema praxeolgico durvel, estilo
de vida e ao. A metfora da morada e do abrigo indica
justamente que, a partir do ethos, o espao do mundo tor-
na-se habitvel para o homem. O domnio da physis ou
o reino da necessidade rompido pela abertura do espao
humano do ethos no qual iro inscrever-se os costumes os
hbitos, as normas e os interditos, os valores e as
7
Por conseguinte, o espao do ethos enquanto espao hu-
mano, no dado ao homem, mas por ele construdo ou
incessantemente reconstrudo. Nunca a casa do ethos est
pronta e acabada para o homem, e esse seu essencial ina-
cabamento o signo de uma presena a um tempo prxima
e infinitamente distante, e que Plato designou como a pre-
sena exigente do Bem, que est alm de todo ser (ousa)
ou para alm do que se mostra acabado e completo.
8
, pois, no espao do ethos que o lagos torna-se com-
preenso e expresso do ser do homem como exigncia
radical de dever-ser ou do bem. Assim, na aurora da filosofia
gre2"Q, Herclito entendeu o ethos na sua sentena clebre:
ethos anthrpo damn. " O ethos , na concepo heracl-
tica, regido pelo lagos. '
0
e nessa obedincia ao lagos que
se do os primeiros passos em direJ;O tica como saber
racional do ethos. assim como ir- entend-la a tradio fi-
losfica do Ocidente. ''
7. Ao invs, o ethos do animal o encerra no espao fechado do
seu ecossistema, dando origem Etologia como estudo do compor-
tamento animal. Ver Aristteles, Hist. An. 588 a 18.
8. Epkeina ts ousas, Plato, Rep. VI, 509 b.
9. "0 ethos o gnio protetor do homem" (D.-K., 22, B, 119).
10. Sobre a interpretao da sentena de Herclito, ver W. K. c.
Guthrie. A history ot greek Philosophy, Cambridge, Cambridge Uni-
ve_rsity Press. 1967, I, p. 482 e J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie:
glzssement des espaces humains, Paris, Tqui, 1979, pp. 633-637. co-
nhecida a leitura heideggeriana desse texto em Brief ber den Hu-
manismus, Berna, Francke Verlag, ed., 1954, pp. 106-110, onde o
ethos interpretado como morada do homem enquanto ek-sistncia
abertura ao Ser, cujo pensamento a tica original. Ver infra, cap:
II, notas 48 e 49; cap. V, nota 74.
11. Com efeito, alguns intrpretes apontam no dito de Hercli-
to uma crtica figura mtica do Destino que pesa sobre a ao hu-
mana. Ver Guthrie. op. cit., p. 482, n. 1. Ver. no entanto. A. Ma-
gns, L'idea di destino nel pensiero antico, Udine, Del Bianco Edi-
tore, 1985, vol. I, p. 60.
13
A segunda acepo de ethos (com psilon inicial) diz
respeito ao comportamento que resulta de um constante
repetir-se dos mesmos atos. , portanto, o que ocorre fre-
qentemente ou quase sempre (pollkis), mas no sempre
( ae), neni em virtude de uma necessidade natural. Daqui
a oposio entre thei e phJysei, o habitual e o natural.
12
O ethos, nesse caso, denota uma constncia no agir que
se contrape ao impulso do desejo (rexis). Essa cons-
tncia do ethos como disposio permanente a manifes-
tao e como que o vinco profundo do ethos como cos-
tume, seu fortalecimento e o relevo dado s suas peculia-
ridades.
13
O modo de agir (trpos) do indivduo, expres-
so da sua personalidade tica, dever traduzir, finalmen-
te, a articulao entre o ethos como carter e o ethos como
hbito.
14
Mas, se o ethos (com psilon inicial) designa o
so gentico do hbito ou da disposio habitual para agir
de uma certa maneira, o termo dessa gnese do ethos -
sua forma acabada e o seu fruto - designado pelo termo
hexis, que significa o hbito como possesso estvel,
15
C?
mo . princpio prximo de uma ao posta sob o senhorio
do agente e que exprime a sua autrketa, o seu domnio
de si mesmo, o seu bem.
16
Entre o processo de formao
12. P. Chantraine (op. cit., loc. cit.) registra a forma verbal ei6-
tha perfeito intransitivo (tenho o hbito de ... ) , ocorrendo igual-
meilte ethdzo (habituar-se, acostumar-se ... ) , donde a forma nomi-
nal ethos (com psilon). Em latim, soleo, suesco, consuetudo.
13. Aristteles, t. Nic., II, 1, 1103 a 17-25 (sobre a virtude tica).
Sto. Toms de Aquino, Summa Theol., Ia. II ae., q. 58, a. 1 c., onde
as duas significaes do latim mos (inclinatio naturalis e consuetud_o>
so referidas s duas grafias gregas de ethos. Ver a nota manuscnta
de Hegel ao 151 da Filosofia do Direito (ed. Hoffmeister, ed.,
Hamburgo, Meiner, 1955, p. 417).
14. Ver E. Riondato, Ethos: ricerche per la determinazione. del
valore classico dell'Etica Pdua, Antenore, 1961, p. 177; H. Remer,
"Ethos" apud Historisches Worterbuch der Philosophie (dir. J. Rit-
ter) II' pp. 812-816; E. Schwarz Ethik der Griechen, Stuttgart, H. F.
Verlag, 1951, pp. 15-19; 'H. Kluxen, "Ethos und Ethik" in Phi-
losophisches Jahrbuch, 73 (1965): 339-355.
15. Ver o verbete cho em P. Chantraine (op. cit., pp. 392-394).
Hexis na linguagem mdica tem a significao de "estado" ou ."cons-
tituio". Em latim, habitus, habere. Ver Aristteles, t. Ntc. VI,
1, 1138b 32-34.
16. Aristteles, t Nic., I, 5, 1097 b 6-8. Ver J. Ritter, Zur Gr;tnd-
legung der praktischen Philosophie bei Aristoteles, apud M.
(ed.), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Friburgo na Bris-
gvia, Rombach, 1974, II, pp. 479-500 (aqui, pp, 486-487).
14
do hbito e o seu termo como disposio permanente para
agir de acordo com as exigncias de realizao do bem ou
do melhor,
17
o ethos se desdobra como espao da realiza-
o do homem, ou ainda como lugar privilegiado de ins-
crio da sua praxis.
Enquanto ao tica, a praxis humana a atualizao
imanente (enrgeia) de um processo estruturado segundo
uma circularidade causal de momentos, e essa constitui exa-
tamente o primum notum, a evidncia primeira e fundado-
ra da reflexo tica.
18
O ethos como costume, ou na sua
realidade histrico-social, princpio e norma dos atos que
iro plasmar o ethos como hbito (ethos-hexis). H, pois,
uma circularidade entre os trs momentos: costume (ethos),
ao (praxis), hbito (ethos-hexis), na medida em que o cos-
tume fonte das aes tidas como ticas e a repetio dessas
as acaba por plasmar os hbitos. A praxis, por sua vez,
mediadora entre os momentos constitutivos do ethos co-
mo costume e hbito, num ir e vir que se descreve exata-
mente como crculo dialtico: a universalidade abstrata do
ethos como costume inscreve-se na particularidade da pra-
xis como vontade subjetiva, e universalidade concreta ou
singularidade do sujeito tico no ethos como hbito ou vir-
tude.
19
A ao tica procede do ethos como do seu princ-
17. Para esta distino, ver G. Reale, Storia della Filosofia an-
tica, Milo, Vita e Pensiero, 1980, vol. V, p. 5.
18. Ver E. Riondato, Ethos .. . , p. 117.
19. Eis como Hegel expe a estrutura dialtica do ethos: "Essa
unidade da vontade racional com a vontade singular, que o elemen-
to imediato e prprio da atividade da primeira, constitui a realida-
de efetiva simples da liberdade. Sendo que ela e o seu contedo per-
tencem ao pensar e so o universal em si, assim o contedo tem sua
determinidade verdadeira somente na forma da universalidade. Pos-
to para a conscincia da inteligncia com a determinao de ser po-
der vlido, ele a lei - o contedo livre da impureza e contingn-
cia que possui no sentimento prtico e na inclinao e no mais na
forma que lhe prpria, mas sim conformado, na sua universalidade,
vontade subjetiva como seu costume, modo de sentir e carter,
como ethos (Sittel ". Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschaf-
ten (1830), 485 (grifado no texto); Ver Enz. (1830) 513; Philosophie
des Rechts, 144-146. A circularidade do ethos pode ser visualizada
no seguinte esquema:
/'
Praxis (indivduo emprico)
I
(Sociedade) Ethos - - - - - .!. - - - - - -Hxia {sujeito tico)
Pra:tis cko tica)
15
A segunda acepo de ethos (com psilon inicial) diz
respeito ao comportamento que resulta de um constante
repetir-se dos mesmos atos. , portanto, o que ocorre fre-
qentemente ou quase sempre (pollkis), mas no sempre
( ae), neni em virtude de uma necessidade natural. Daqui
a oposio entre thei e phJysei, o habitual e o natural.
12
O ethos, nesse caso, denota uma constncia no agir que
se contrape ao impulso do desejo (rexis). Essa cons-
tncia do ethos como disposio permanente a manifes-
tao e como que o vinco profundo do ethos como cos-
tume, seu fortalecimento e o relevo dado s suas peculia-
ridades.
13
O modo de agir (trpos) do indivduo, expres-
so da sua personalidade tica, dever traduzir, finalmen-
te, a articulao entre o ethos como carter e o ethos como
hbito.
14
Mas, se o ethos (com psilon inicial) designa o
so gentico do hbito ou da disposio habitual para agir
de uma certa maneira, o termo dessa gnese do ethos -
sua forma acabada e o seu fruto - designado pelo termo
hexis, que significa o hbito como possesso estvel,
15
C?
mo . princpio prximo de uma ao posta sob o senhorio
do agente e que exprime a sua autrketa, o seu domnio
de si mesmo, o seu bem.
16
Entre o processo de formao
12. P. Chantraine (op. cit., loc. cit.) registra a forma verbal ei6-
tha perfeito intransitivo (tenho o hbito de ... ) , ocorrendo igual-
meilte ethdzo (habituar-se, acostumar-se ... ) , donde a forma nomi-
nal ethos (com psilon). Em latim, soleo, suesco, consuetudo.
13. Aristteles, t. Nic., II, 1, 1103 a 17-25 (sobre a virtude tica).
Sto. Toms de Aquino, Summa Theol., Ia. II ae., q. 58, a. 1 c., onde
as duas significaes do latim mos (inclinatio naturalis e consuetud_o>
so referidas s duas grafias gregas de ethos. Ver a nota manuscnta
de Hegel ao 151 da Filosofia do Direito (ed. Hoffmeister, ed.,
Hamburgo, Meiner, 1955, p. 417).
14. Ver E. Riondato, Ethos: ricerche per la determinazione. del
valore classico dell'Etica Pdua, Antenore, 1961, p. 177; H. Remer,
"Ethos" apud Historisches Worterbuch der Philosophie (dir. J. Rit-
ter) II' pp. 812-816; E. Schwarz Ethik der Griechen, Stuttgart, H. F.
Verlag, 1951, pp. 15-19; 'H. Kluxen, "Ethos und Ethik" in Phi-
losophisches Jahrbuch, 73 (1965): 339-355.
15. Ver o verbete cho em P. Chantraine (op. cit., pp. 392-394).
Hexis na linguagem mdica tem a significao de "estado" ou ."cons-
tituio". Em latim, habitus, habere. Ver Aristteles, t. Ntc. VI,
1, 1138b 32-34.
16. Aristteles, t Nic., I, 5, 1097 b 6-8. Ver J. Ritter, Zur Gr;tnd-
legung der praktischen Philosophie bei Aristoteles, apud M.
(ed.), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Friburgo na Bris-
gvia, Rombach, 1974, II, pp. 479-500 (aqui, pp, 486-487).
14
do hbito e o seu termo como disposio permanente para
agir de acordo com as exigncias de realizao do bem ou
do melhor,
17
o ethos se desdobra como espao da realiza-
o do homem, ou ainda como lugar privilegiado de ins-
crio da sua praxis.
Enquanto ao tica, a praxis humana a atualizao
imanente (enrgeia) de um processo estruturado segundo
uma circularidade causal de momentos, e essa constitui exa-
tamente o primum notum, a evidncia primeira e fundado-
ra da reflexo tica.
18
O ethos como costume, ou na sua
realidade histrico-social, princpio e norma dos atos que
iro plasmar o ethos como hbito (ethos-hexis). H, pois,
uma circularidade entre os trs momentos: costume (ethos),
ao (praxis), hbito (ethos-hexis), na medida em que o cos-
tume fonte das aes tidas como ticas e a repetio dessas
as acaba por plasmar os hbitos. A praxis, por sua vez,
mediadora entre os momentos constitutivos do ethos co-
mo costume e hbito, num ir e vir que se descreve exata-
mente como crculo dialtico: a universalidade abstrata do
ethos como costume inscreve-se na particularidade da pra-
xis como vontade subjetiva, e universalidade concreta ou
singularidade do sujeito tico no ethos como hbito ou vir-
tude.
19
A ao tica procede do ethos como do seu princ-
17. Para esta distino, ver G. Reale, Storia della Filosofia an-
tica, Milo, Vita e Pensiero, 1980, vol. V, p. 5.
18. Ver E. Riondato, Ethos .. . , p. 117.
19. Eis como Hegel expe a estrutura dialtica do ethos: "Essa
unidade da vontade racional com a vontade singular, que o elemen-
to imediato e prprio da atividade da primeira, constitui a realida-
de efetiva simples da liberdade. Sendo que ela e o seu contedo per-
tencem ao pensar e so o universal em si, assim o contedo tem sua
determinidade verdadeira somente na forma da universalidade. Pos-
to para a conscincia da inteligncia com a determinao de ser po-
der vlido, ele a lei - o contedo livre da impureza e contingn-
cia que possui no sentimento prtico e na inclinao e no mais na
forma que lhe prpria, mas sim conformado, na sua universalidade,
vontade subjetiva como seu costume, modo de sentir e carter,
como ethos (Sittel ". Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschaf-
ten (1830), 485 (grifado no texto); Ver Enz. (1830) 513; Philosophie
des Rechts, 144-146. A circularidade do ethos pode ser visualizada
no seguinte esquema:
/'
Praxis (indivduo emprico)
I
(Sociedade) Ethos - - - - - .!. - - - - - -Hxia {sujeito tico)
Pra:tis cko tica)
15
pio objetivo e a ele retoma como a seu fim realizado na
forma do existir virtuoso.
20
Ao expor a circularidade dialtica do ethos, Hegel in-
dica a diferena entre o costume ( ethos) e a lei (n mos)
como dupla posio do universal tico que o contedo
prprio da liberdade: ou na forma da vontade subjetiva
(o contedo da ao tica , ento, virtude), ou na forma
da vontade objetiva como poder legiferante vlido <o con-
tedo da. ao tica , ento, lei). A passagem do costume
lei assinala justamente a emergncia definitiva da forma
de universalidade e, portanto, da necessidade imanente, que
ser a forma por excelncia do ethos, capaz de abrigar a
praxis humana como ao efetivamente livre. O ethos co-
mo lei , verdadeiramente, a casa ou a morada da liberdade.
Essa a experincia decisiva que est na origem da criao
ocidental da sociedade poltica como espao tico da so-
berania da lei.
21
No incio das Leis, Plato nos fala da edu-
cao en thesi. .. nomikois, o que se pode traduzir, evo-
cando Montesquieu, "no esprito de excelentes leis".
22
A idia
do ordenamento ou constituio (politeia) do Estado se-
gundo leis que nascem do ethos da comunidade
23
fecha,
assim, o crculo semntico do ethos. ao conferir praxis
sua mais alta qualificao, vem a ser, a da virtude poltica
ou disposio permanente para o exerccio da liberdade sob
a soberania da lei justa.
24
2. ETHOS E TRADIO
A clebre distino de Aristteles entre "virtudes mo-
rais" (ethikaz areta) e "virtudes intelectuais" (dianoeti-
20. Aristteles, t. Nic., III, 7, 1114 a 31-b 29. Ver J. L. Aran-
guren, .tica, Madri, Revista de Occidente, 1958, pp. 25-26.
21. Ver infra, cap. IV.
22. Leis, I, 625, e.
23. Plato, Rep. VIII, 544d.
24. A lei, com efeito, louvada na sua prerrogativa real: nmos
o pntn basiles. Sobre a descoberta da lei na Grcia e a vasta
bibliografia a respeito, ver J. de Romilly, La loi dans la pense grec-
que, Paris, Belles Lettres, 1971, pp. 9-24. A etimologia de nmos apon-
ta para nm6, ou seja, repartir segundo a convenincia ou o uso.
Daqui a origem de eunoma, repartir com justia, ou segundo a ra-
zo da justia, que se celebra como a propriedade essencial da lei.
Ver Chantraine, op. cit., s.v. nm6, pp. 742-744. Sobre os comeos,
em Herclito, da reflexo sobre a lei, ver Lorite Mena, Du mythe
Z'ontologie, op. cit., pp. 590-646. Ver infra, cap. II, 2.
16
ka areta) "'' pode ser considerada o captulo final da lonaa
querela que ops os Sofistas e Scrates em tomo da ensi;a-
bilidade da virtude. Aristteles diz explicitamente que as
intelectuais se _adquirem e se desenvolvem por obra
do ensmamento ( ek dzdaskalas). Quanto s virtudes mo-
rais, assim se denominam porque procedem do ethos como
o exerccio constante (ethike pragmatea) que
_da ongem e as fortalece. Na verdade, a distino aris-
totehca consagra a profunda transformao que tem lugar
na estrutura histrico-social do ethos grego com a apario
do e demonstrativo no domnio da praxis. 2"
e razao: entre esses dois plos passar a oscilar
o destmo do ethos na histria das sociedades ocidentais
e a amplitude dessa oscilao ir assmalar igualmente
momentos de crise e transformao dos padres ticos des-
sas sociedades.
Com efeito, a forma de existncia histrica do ethos
a tradio _fitica, cuja origem no se assinala por um ato
fundador. l(omo a nomothesa do legislador no caso da lei
escrita, mas referida a uma fonte divina, como no caso
"lei no-escrita" ( graphos nmos) invocada por An-
tlgona numa bem-conhecida passagem de Sfocles. 21 Ele-
vando-se sobre a physis, o ethos recria, de alguma manei-
ra, na sua ordem prpria, a continuidade e a constncia
que se. observam nos fenmenos naturais. Na ph'!Jsis, esta-
mos d1ante de uma necessidade dada, no ethos tem
uma necessidade instituda, e justamente a tradio que
supofta: e garante a permanncia dessa instituio e se tor-
a estrutura fundamental do ethos na sua dimen-
.. E_ntre a necessidade natural e a pura contin-
gencla do arbltno, a necessidade instituda da tradio mos-
tra-se como o corpo histrico no qual o ethos alcana sua
objetiva como obra de cultura. A prpria signi-
literal do termo "tradio" (pardosis, traditio),
mdicando entrel!a ou transmisso de uma riqueza simbli-
ca que as geraoes se passam uma outra, denota a estru-
25. .t. Ntc., II, 1, 1103 a 14-17. Ver Summa Theol. Ia. IIae.
q. 58, a.2.
26. Ver infra, cap. n 2 e cap. IV.
27. Antfgona, v.v. 450-460. Sobre a "lei no-escrita" ver J de
op. cit., p. 38. Sobre o conceito de "tradio" sua
com o ethos ver J. Messner, Kulturethik, Innsbruck-Viena-Mu-
mque, Tyrolia Verlag, 1954, pp. 345-367.
17
pio objetivo e a ele retoma como a seu fim realizado na
forma do existir virtuoso.
20
Ao expor a circularidade dialtica do ethos, Hegel in-
dica a diferena entre o costume ( ethos) e a lei (n mos)
como dupla posio do universal tico que o contedo
prprio da liberdade: ou na forma da vontade subjetiva
(o contedo da ao tica , ento, virtude), ou na forma
da vontade objetiva como poder legiferante vlido <o con-
tedo da. ao tica , ento, lei). A passagem do costume
lei assinala justamente a emergncia definitiva da forma
de universalidade e, portanto, da necessidade imanente, que
ser a forma por excelncia do ethos, capaz de abrigar a
praxis humana como ao efetivamente livre. O ethos co-
mo lei , verdadeiramente, a casa ou a morada da liberdade.
Essa a experincia decisiva que est na origem da criao
ocidental da sociedade poltica como espao tico da so-
berania da lei.
21
No incio das Leis, Plato nos fala da edu-
cao en thesi. .. nomikois, o que se pode traduzir, evo-
cando Montesquieu, "no esprito de excelentes leis".
22
A idia
do ordenamento ou constituio (politeia) do Estado se-
gundo leis que nascem do ethos da comunidade
23
fecha,
assim, o crculo semntico do ethos. ao conferir praxis
sua mais alta qualificao, vem a ser, a da virtude poltica
ou disposio permanente para o exerccio da liberdade sob
a soberania da lei justa.
24
2. ETHOS E TRADIO
A clebre distino de Aristteles entre "virtudes mo-
rais" (ethikaz areta) e "virtudes intelectuais" (dianoeti-
20. Aristteles, t. Nic., III, 7, 1114 a 31-b 29. Ver J. L. Aran-
guren, .tica, Madri, Revista de Occidente, 1958, pp. 25-26.
21. Ver infra, cap. IV.
22. Leis, I, 625, e.
23. Plato, Rep. VIII, 544d.
24. A lei, com efeito, louvada na sua prerrogativa real: nmos
o pntn basiles. Sobre a descoberta da lei na Grcia e a vasta
bibliografia a respeito, ver J. de Romilly, La loi dans la pense grec-
que, Paris, Belles Lettres, 1971, pp. 9-24. A etimologia de nmos apon-
ta para nm6, ou seja, repartir segundo a convenincia ou o uso.
Daqui a origem de eunoma, repartir com justia, ou segundo a ra-
zo da justia, que se celebra como a propriedade essencial da lei.
Ver Chantraine, op. cit., s.v. nm6, pp. 742-744. Sobre os comeos,
em Herclito, da reflexo sobre a lei, ver Lorite Mena, Du mythe
Z'ontologie, op. cit., pp. 590-646. Ver infra, cap. II, 2.
16
ka areta) "'' pode ser considerada o captulo final da lonaa
querela que ops os Sofistas e Scrates em tomo da ensi;a-
bilidade da virtude. Aristteles diz explicitamente que as
intelectuais se _adquirem e se desenvolvem por obra
do ensmamento ( ek dzdaskalas). Quanto s virtudes mo-
rais, assim se denominam porque procedem do ethos como
o exerccio constante (ethike pragmatea) que
_da ongem e as fortalece. Na verdade, a distino aris-
totehca consagra a profunda transformao que tem lugar
na estrutura histrico-social do ethos grego com a apario
do e demonstrativo no domnio da praxis. 2"
e razao: entre esses dois plos passar a oscilar
o destmo do ethos na histria das sociedades ocidentais
e a amplitude dessa oscilao ir assmalar igualmente
momentos de crise e transformao dos padres ticos des-
sas sociedades.
Com efeito, a forma de existncia histrica do ethos
a tradio _fitica, cuja origem no se assinala por um ato
fundador. l(omo a nomothesa do legislador no caso da lei
escrita, mas referida a uma fonte divina, como no caso
"lei no-escrita" ( graphos nmos) invocada por An-
tlgona numa bem-conhecida passagem de Sfocles. 21 Ele-
vando-se sobre a physis, o ethos recria, de alguma manei-
ra, na sua ordem prpria, a continuidade e a constncia
que se. observam nos fenmenos naturais. Na ph'!Jsis, esta-
mos d1ante de uma necessidade dada, no ethos tem
uma necessidade instituda, e justamente a tradio que
supofta: e garante a permanncia dessa instituio e se tor-
a estrutura fundamental do ethos na sua dimen-
.. E_ntre a necessidade natural e a pura contin-
gencla do arbltno, a necessidade instituda da tradio mos-
tra-se como o corpo histrico no qual o ethos alcana sua
objetiva como obra de cultura. A prpria signi-
literal do termo "tradio" (pardosis, traditio),
mdicando entrel!a ou transmisso de uma riqueza simbli-
ca que as geraoes se passam uma outra, denota a estru-
25. .t. Ntc., II, 1, 1103 a 14-17. Ver Summa Theol. Ia. IIae.
q. 58, a.2.
26. Ver infra, cap. n 2 e cap. IV.
27. Antfgona, v.v. 450-460. Sobre a "lei no-escrita" ver J de
op. cit., p. 38. Sobre o conceito de "tradio" sua
com o ethos ver J. Messner, Kulturethik, Innsbruck-Viena-Mu-
mque, Tyrolia Verlag, 1954, pp. 345-367.
17
tura histrica do ethos e sua relao original ao fluxo do
tempo. O fato incontestvel de que a religio se apresente,
em todas as culturas conhecidas, como a portadora privi-
legiada do ethos, uma ilustrao eloqente do necessrio
desdobramento do ethos em tradio tica. Com efeito, a
universalidade de fato do fenmeno religioso
28
estritamen-
te homloga universalidade de fato do fenmeno tico.
29
A sacralizao das normas ticas fundamentais ou sua san-
o transcendente
30
visam assegurar a eficcia da sua trans-
misso que tem lugar, no no tempo contingente do sim-
ples acontecer, mas no tempo axiologicamente estruturado
do dever-ser: no tempo propriamente histrico da tradio
tica.
luz do conceito de tradio, possvel descobrir na
comunidade tica, por ela vitalmente aglutinada, uma re-
lao entre lei e tato rigorosamente inversa quela que vi-
gora no mundo natural: neste se procede do fato lei,
naquela a lei ou a norma antecedem inteligivelmente o fato,
ou seja, o fato tal enquanto referido continuidade ou
tradio normativa do ethos. Daqui a possibilidade para
a ao, dentro do fato fundamental que a prpria comu-
nidade tica, de se qualificar eticamente como m ou em
oposio lei. "
1
28. Ver a introduo de A. Brelich em Histoire des Religions
(Encyclopdie de la Pliade), Paris, Gallimard, 1973, I, pp. 3ss.
29. Ver G. Mensching, "Sittlichkeit (religionsgeschichtlich. ", ap.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, VI, pp. 64-66.
30. Eis o que provoca, diante dessas normas, a atitude do res-
peito religioso (aids). Ver Homero, Ilada, XXIV, 33. Aristteles
dar ao aids (respeito e pudor) o lugar do justo meio entre a ti-
midez e a impudncia (t. Nic., 11, 7, 1108 a 3135). a atitude fun-
damental com a qual o indivduo participa da tradio tica. Se-
gundo G. Vlastos, aids "sensibilidade para com os sentimentos
dos outros respeito para com os direitos dos fracos, ateno para
com o bem' comum". Protagoras, ap. J. Classen (org.), Die Sophistik,
(Wege der Forschung, 182), Darmstadt, Wissenschaftliche B.uchgesell
schaft, 1976, pp. 270-289 (aqui p. 288). Sobre aids, ver amda
Pohlenz L'Uoma Greco (tr. it. de B. Proto), Florena, La Nuova Itaha,
1976, pp. 592-597; R. Stark, Aristotelesstudien, Munique, C. H. Beck-
sche Verlagsbuchhandlung, 1954, pp. 64-86.
31. Ver, a respeito, Marco Olivetti, Le problme de la commu-
naut thique, ap. Qu'est-ce que l'homme? (Hommage A. de
Waelhens) Bruxelas Facults Universitaires Saint Louis, 1982, pp.
324-343 El problema de la comunidad tica, ap. J. C. Scan-
none popular, smbolo y filosofia, Buenos Aires, Ed.
Guadalupe, 1984, pp. 209-222.
18
A tradicionalidade ou o poder-ser transmitido , pois,
um constitutivo essencial do ethos e decorre necessariamen-
te, do ponto de vista da anlise filosfica, da relao dia-
ltica que se estabelece entre o ethos como costume e o
ethos como hbito singularizado na praxis tica. No h
sentido em se falar de um ethos estritamente individual,
pois a perenidade do ethos, efetivada e atestada na tradio,
tem em mira exatamente resgatar a existncia efmera e
contingente do indivduo emprico, tornando-o singular con-
creto, vem a ser, indivduo universal, atravs da sua su-
prassuno na universalidade do ethos ou na continuidade
da tradio tica. Entendida nessa sua essencialidade com
relao ao ethos, a tradio a relao intersubjetiva pri-
meira na esfera tica: a relao que se estabelece entre
a comunidade educadora e o indivduo que educado jus-
tamente para se elevar ao nvel das exigncias do universal
tico ou do ethos da comunidade.
32
A ntidm e profunda relao entre ethos e cultura (no
sendo o ethos seno a face da cultura que se volta para o
horizonte do dever-ser ou do bem) encontra no terreno
da tradio tica o lugar privilegiado da sua manifestao.
Com efeito, o sentido da obra de cultura (ou o Esprito
objetivo na linguagem hegeliana) no poderia elevar-se so-
bre a necessidade das leis da natureza nem libertar-se da
contingncia do evento natural se no transgredisse a pura
sucesso do tempo quantitativo para situar-se nessa di-
menso do tempo histrico que , justamente, o tempo de
uma tradio. A tradio se mostra, assim, ordenadora do
tempo segundo um processo de reiterao vivente de nor-
mas e valores que constitui a cadncia prpria da histria
do ethos. Na medida em que se apresenta na forma da
tradio em toda a fora do sentido original do termo, a
cultura igualmente "forma de vida" (Lebensform)
33
e ,
como tal, essencialmente tica. Assim, o tempo da tradi-
o no pode ser um tempo puramente linear. Ele parti-
cipa da circularidade dialtica do ethos e, deste modo,
possvel compreender como, nele, o passado no seja ape-
nas um terminus a quo, mas, como passado, seja suprassu-
mido na universalidade normativa e paradigmtica dos cos
32. Ver infra, cap. IV e M. Olivetti, El problema de la comuni-
dad tica, op. cit., pp. 215-216.
33. Ver J. Messner, Kulturethik, op. cit., pp. 345ss.; idem, tica
general y aplicada, Madri, Rialp, 1969, pp. 137-143.
19
tura histrica do ethos e sua relao original ao fluxo do
tempo. O fato incontestvel de que a religio se apresente,
em todas as culturas conhecidas, como a portadora privi-
legiada do ethos, uma ilustrao eloqente do necessrio
desdobramento do ethos em tradio tica. Com efeito, a
universalidade de fato do fenmeno religioso
28
estritamen-
te homloga universalidade de fato do fenmeno tico.
29
A sacralizao das normas ticas fundamentais ou sua san-
o transcendente
30
visam assegurar a eficcia da sua trans-
misso que tem lugar, no no tempo contingente do sim-
ples acontecer, mas no tempo axiologicamente estruturado
do dever-ser: no tempo propriamente histrico da tradio
tica.
luz do conceito de tradio, possvel descobrir na
comunidade tica, por ela vitalmente aglutinada, uma re-
lao entre lei e tato rigorosamente inversa quela que vi-
gora no mundo natural: neste se procede do fato lei,
naquela a lei ou a norma antecedem inteligivelmente o fato,
ou seja, o fato tal enquanto referido continuidade ou
tradio normativa do ethos. Daqui a possibilidade para
a ao, dentro do fato fundamental que a prpria comu-
nidade tica, de se qualificar eticamente como m ou em
oposio lei. "
1
28. Ver a introduo de A. Brelich em Histoire des Religions
(Encyclopdie de la Pliade), Paris, Gallimard, 1973, I, pp. 3ss.
29. Ver G. Mensching, "Sittlichkeit (religionsgeschichtlich. ", ap.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, VI, pp. 64-66.
30. Eis o que provoca, diante dessas normas, a atitude do res-
peito religioso (aids). Ver Homero, Ilada, XXIV, 33. Aristteles
dar ao aids (respeito e pudor) o lugar do justo meio entre a ti-
midez e a impudncia (t. Nic., 11, 7, 1108 a 3135). a atitude fun-
damental com a qual o indivduo participa da tradio tica. Se-
gundo G. Vlastos, aids "sensibilidade para com os sentimentos
dos outros respeito para com os direitos dos fracos, ateno para
com o bem' comum". Protagoras, ap. J. Classen (org.), Die Sophistik,
(Wege der Forschung, 182), Darmstadt, Wissenschaftliche B.uchgesell
schaft, 1976, pp. 270-289 (aqui p. 288). Sobre aids, ver amda
Pohlenz L'Uoma Greco (tr. it. de B. Proto), Florena, La Nuova Itaha,
1976, pp. 592-597; R. Stark, Aristotelesstudien, Munique, C. H. Beck-
sche Verlagsbuchhandlung, 1954, pp. 64-86.
31. Ver, a respeito, Marco Olivetti, Le problme de la commu-
naut thique, ap. Qu'est-ce que l'homme? (Hommage A. de
Waelhens) Bruxelas Facults Universitaires Saint Louis, 1982, pp.
324-343 El problema de la comunidad tica, ap. J. C. Scan-
none popular, smbolo y filosofia, Buenos Aires, Ed.
Guadalupe, 1984, pp. 209-222.
18
A tradicionalidade ou o poder-ser transmitido , pois,
um constitutivo essencial do ethos e decorre necessariamen-
te, do ponto de vista da anlise filosfica, da relao dia-
ltica que se estabelece entre o ethos como costume e o
ethos como hbito singularizado na praxis tica. No h
sentido em se falar de um ethos estritamente individual,
pois a perenidade do ethos, efetivada e atestada na tradio,
tem em mira exatamente resgatar a existncia efmera e
contingente do indivduo emprico, tornando-o singular con-
creto, vem a ser, indivduo universal, atravs da sua su-
prassuno na universalidade do ethos ou na continuidade
da tradio tica. Entendida nessa sua essencialidade com
relao ao ethos, a tradio a relao intersubjetiva pri-
meira na esfera tica: a relao que se estabelece entre
a comunidade educadora e o indivduo que educado jus-
tamente para se elevar ao nvel das exigncias do universal
tico ou do ethos da comunidade.
32
A ntidm e profunda relao entre ethos e cultura (no
sendo o ethos seno a face da cultura que se volta para o
horizonte do dever-ser ou do bem) encontra no terreno
da tradio tica o lugar privilegiado da sua manifestao.
Com efeito, o sentido da obra de cultura (ou o Esprito
objetivo na linguagem hegeliana) no poderia elevar-se so-
bre a necessidade das leis da natureza nem libertar-se da
contingncia do evento natural se no transgredisse a pura
sucesso do tempo quantitativo para situar-se nessa di-
menso do tempo histrico que , justamente, o tempo de
uma tradio. A tradio se mostra, assim, ordenadora do
tempo segundo um processo de reiterao vivente de nor-
mas e valores que constitui a cadncia prpria da histria
do ethos. Na medida em que se apresenta na forma da
tradio em toda a fora do sentido original do termo, a
cultura igualmente "forma de vida" (Lebensform)
33
e ,
como tal, essencialmente tica. Assim, o tempo da tradi-
o no pode ser um tempo puramente linear. Ele parti-
cipa da circularidade dialtica do ethos e, deste modo,
possvel compreender como, nele, o passado no seja ape-
nas um terminus a quo, mas, como passado, seja suprassu-
mido na universalidade normativa e paradigmtica dos cos
32. Ver infra, cap. IV e M. Olivetti, El problema de la comuni-
dad tica, op. cit., pp. 215-216.
33. Ver J. Messner, Kulturethik, op. cit., pp. 345ss.; idem, tica
general y aplicada, Madri, Rialp, 1969, pp. 137-143.
19
tumes, e se torne um terminus ad quem para o presente
emprico, para o aqui e agora da praxis que a ele se refere
como instncia fundadora e julgadora do seu contedo
tico.
34
Na estrutura do tempo histrico do ethos, o pas-
sado, portanto, se faz presente pela 1radio, e o presente
retoma ao passado pelo reconhecimento da sua exemplari-
dade. Mas evidente que, nesse caso, passado e presente
no so segmentos de uma sucesso linear no tempo quan-
titativo. So componentes estruturais de um tempo quali-
tativo, que se articulam dialeticamente para construir o
tempo histrico propriamente dito, o tempo do ethos ou
da tradio tica. ~
Se levarmos em conta, por um lado, essa essencial re-
lao entre ethos e tradio e, por outro, a estrutura dia-
ltica circular do tempo da tradio tica, poderemos com-
preender melhor a profundidade da crise do ethos na mo-
derna sociedade ocidental, na qual a primazia do tempo
quantitativo transfere do passado para o futuro a instn-
cia normativa do tempo ou o seu "centro de gravidade"
(K. Pomian): o que significa conferir ao tempo por vir os
predicados axiolgicos que asseguravam a exemplaridade
do passado
36
na formao do ethos tradicionaL A relao
do conceito fundamental da eticidade
37
com o tempo his-
trico toma-se, assim, extremamente problemtica e aqui
reside, .sem dvida, uma das causas mais visveis desse ni-
ilismo tico que assinala dramaticamente, nas sociedades
ocidentais modernas, a ruptura da tradio tica ou a de-
34. Essa a funo desempenhada no tempo qualitativo da tra-
dio pelo paradigma ou modelo tico, codificado nos mores maio-
rnm. Ver as sugestivas reflexes de A. Prez de Laborda, "Memoria,
Tlempo, Tradicin" in Pensamiento, 43 (1987): 207-220.
35. Para a distino de "tempo qualitativo" e "tempo quanti-
tativo" e para a polissemia, em geral, da noo de tempo, ver a im-
portante obra de Krzystof Pomian, L'ordre du temps, Paris, Galli-
mard, 1984. A circularidade dialtica do ethos e da tradio tica
permite, portanto, distingui-los do que Nietzsche chama de conceito
da "eticidade dos costumes" (Sittlichkeit der Sittenl, segundo o qual
se estabelece uma oposio insupervel entre "tradio" e "indivi-
duo". Ver Morgenrte, I, 9 <Werke, ed. Schlechta, 11, pp. 1019-1021).
36. Ver K. Pomian, op. cit., pp. 291-302. E, sobretudo, Hans
Jonas, Da8 Prinzip Verantwortung; Versuch einer Ethik fr technolo-
gische Zivilisation, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 15-30.
37. Ver Otfried Hffe, Grnndbegriff Sittlichkeit, apud Ethik und
Politik: Grnndmodelle und Probleme der praktischen Philosophie,
Frankfurt sobre o Meno, Suhrkamp, 1979, pp. 281-310.
20
sarticulao do processo dialtico que aqui chamamos tra-
dio e que realiza a suprassuno da oposio linear do
presente e do passado na perenidade normativa do ethos.
38
A primazia do futuro na concepo do tempo homloga
primazia do fazer tcnico na concepo' da ao, do qual
procede o pressuposto utilitarista que, sob vrias denomi-
naes e formas, subjaz a todo o desenvolvimento da tica
moderna.
Que a constituio da tradio tica no traduza ape-
nas um esforo persistente e, afinal, vo, para se deter a
irreparvel perda das crenas e dos valores ao longo do
desgastante fluir do tempo, mostra-o a prpria natureza do
ethos. Ele no se define, com efeito, em oposio ao tem-
po ou durao como o esttico oposto ao dinmico,
39
mas se estrutura segundo um dinamismo prprio que ad-
mite em seu seio conflitos, crises, evolues e mesmo essas
profundas revolues que se manifestam no fenmeno da
criao tica (ver infra n. 4). Em outras palavras, a tra-
dicionalidade do ethos no deve ser pensada em oposi-
o liberdade e
1
autonomia do agente tico, no obstan-
te o fato de qufl tal oposio se tenha constitudo num
dos traos mais salientes do individualismo moderno.
40
3. ETHOS E INDIVDUO
Se admitirmos que a sociedade um "conjunto de
conjuntos". como quer Femand Braudel,
4
' devemos enun-
38. O. Hffe, loc. cit., pp. 288ss., distingue o niilismo, como ex-
perincia histrica ou acontecimento histrico, do nlismo tico. Es-
te a negao pura e simples do ethos e s possivel dentro da per-
cepo do tempo em que predomina a dimenso horizontal ou a pura
sucesso dos eventos. ao passo que o passado constantemente anu-
lado e desvalorizado pela implacvel expectativa do futuro. assim
compreensvel o refgio de Nietzsche no seio do mito do "eterno retor-
no" em face do niilismo tico que acompanha a reviravolta de todos os
valores desencadeada pela proclamao "Deus est morto". Sobre
a significao tica do nlismo, ver os estudos do volume coletivo
Interpretazione. del nichilismo, organizado por A. Molinaro, Roma,
Herder-Universtdade Lateranense, 1986.
39. A distino bergsoniana entre "moral esttica" e "moral di-
nmica", til descritivamente. pressupe, no entanto, uma viso dua-
lista inaceitvel na concepo do ethos.
40. Ver O. Hoffe, op. cit., pp. 302-310.
41. "Ensemble des ensembles": ver Civilisation matrielle, co-
nomie et capitalisme II, Les jeux de l'change, Paris, Colin, 1979, pp.
21
tumes, e se torne um terminus ad quem para o presente
emprico, para o aqui e agora da praxis que a ele se refere
como instncia fundadora e julgadora do seu contedo
tico.
34
Na estrutura do tempo histrico do ethos, o pas-
sado, portanto, se faz presente pela 1radio, e o presente
retoma ao passado pelo reconhecimento da sua exemplari-
dade. Mas evidente que, nesse caso, passado e presente
no so segmentos de uma sucesso linear no tempo quan-
titativo. So componentes estruturais de um tempo quali-
tativo, que se articulam dialeticamente para construir o
tempo histrico propriamente dito, o tempo do ethos ou
da tradio tica. ~
Se levarmos em conta, por um lado, essa essencial re-
lao entre ethos e tradio e, por outro, a estrutura dia-
ltica circular do tempo da tradio tica, poderemos com-
preender melhor a profundidade da crise do ethos na mo-
derna sociedade ocidental, na qual a primazia do tempo
quantitativo transfere do passado para o futuro a instn-
cia normativa do tempo ou o seu "centro de gravidade"
(K. Pomian): o que significa conferir ao tempo por vir os
predicados axiolgicos que asseguravam a exemplaridade
do passado
36
na formao do ethos tradicionaL A relao
do conceito fundamental da eticidade
37
com o tempo his-
trico toma-se, assim, extremamente problemtica e aqui
reside, .sem dvida, uma das causas mais visveis desse ni-
ilismo tico que assinala dramaticamente, nas sociedades
ocidentais modernas, a ruptura da tradio tica ou a de-
34. Essa a funo desempenhada no tempo qualitativo da tra-
dio pelo paradigma ou modelo tico, codificado nos mores maio-
rnm. Ver as sugestivas reflexes de A. Prez de Laborda, "Memoria,
Tlempo, Tradicin" in Pensamiento, 43 (1987): 207-220.
35. Para a distino de "tempo qualitativo" e "tempo quanti-
tativo" e para a polissemia, em geral, da noo de tempo, ver a im-
portante obra de Krzystof Pomian, L'ordre du temps, Paris, Galli-
mard, 1984. A circularidade dialtica do ethos e da tradio tica
permite, portanto, distingui-los do que Nietzsche chama de conceito
da "eticidade dos costumes" (Sittlichkeit der Sittenl, segundo o qual
se estabelece uma oposio insupervel entre "tradio" e "indivi-
duo". Ver Morgenrte, I, 9 <Werke, ed. Schlechta, 11, pp. 1019-1021).
36. Ver K. Pomian, op. cit., pp. 291-302. E, sobretudo, Hans
Jonas, Da8 Prinzip Verantwortung; Versuch einer Ethik fr technolo-
gische Zivilisation, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 15-30.
37. Ver Otfried Hffe, Grnndbegriff Sittlichkeit, apud Ethik und
Politik: Grnndmodelle und Probleme der praktischen Philosophie,
Frankfurt sobre o Meno, Suhrkamp, 1979, pp. 281-310.
20
sarticulao do processo dialtico que aqui chamamos tra-
dio e que realiza a suprassuno da oposio linear do
presente e do passado na perenidade normativa do ethos.
38
A primazia do futuro na concepo do tempo homloga
primazia do fazer tcnico na concepo' da ao, do qual
procede o pressuposto utilitarista que, sob vrias denomi-
naes e formas, subjaz a todo o desenvolvimento da tica
moderna.
Que a constituio da tradio tica no traduza ape-
nas um esforo persistente e, afinal, vo, para se deter a
irreparvel perda das crenas e dos valores ao longo do
desgastante fluir do tempo, mostra-o a prpria natureza do
ethos. Ele no se define, com efeito, em oposio ao tem-
po ou durao como o esttico oposto ao dinmico,
39
mas se estrutura segundo um dinamismo prprio que ad-
mite em seu seio conflitos, crises, evolues e mesmo essas
profundas revolues que se manifestam no fenmeno da
criao tica (ver infra n. 4). Em outras palavras, a tra-
dicionalidade do ethos no deve ser pensada em oposi-
o liberdade e
1
autonomia do agente tico, no obstan-
te o fato de qufl tal oposio se tenha constitudo num
dos traos mais salientes do individualismo moderno.
40
3. ETHOS E INDIVDUO
Se admitirmos que a sociedade um "conjunto de
conjuntos". como quer Femand Braudel,
4
' devemos enun-
38. O. Hffe, loc. cit., pp. 288ss., distingue o niilismo, como ex-
perincia histrica ou acontecimento histrico, do nlismo tico. Es-
te a negao pura e simples do ethos e s possivel dentro da per-
cepo do tempo em que predomina a dimenso horizontal ou a pura
sucesso dos eventos. ao passo que o passado constantemente anu-
lado e desvalorizado pela implacvel expectativa do futuro. assim
compreensvel o refgio de Nietzsche no seio do mito do "eterno retor-
no" em face do niilismo tico que acompanha a reviravolta de todos os
valores desencadeada pela proclamao "Deus est morto". Sobre
a significao tica do nlismo, ver os estudos do volume coletivo
Interpretazione. del nichilismo, organizado por A. Molinaro, Roma,
Herder-Universtdade Lateranense, 1986.
39. A distino bergsoniana entre "moral esttica" e "moral di-
nmica", til descritivamente. pressupe, no entanto, uma viso dua-
lista inaceitvel na concepo do ethos.
40. Ver O. Hoffe, op. cit., pp. 302-310.
41. "Ensemble des ensembles": ver Civilisation matrielle, co-
nomie et capitalisme II, Les jeux de l'change, Paris, Colin, 1979, pp.
21
ciar como condio necessria e suficiente para que os sub-
conjuntos sociais pertenam ao conjunto maior ou so-
ciedade como um todo, a possibilidade de se definir essa
pertena no apenas como um jato ou descritivamente, mas
tambm como um valor ou axiologicamente, segundo a
avaliao que a sociedade faz das prticas sociais que se
exercem nos seus subconjuntos. Vale dizer que a pertena
de uma determinada esfera de agentes e relaes ao todo
social se define primeiramente ao nvel da sua legitimao
tica, da sua participao ao ethos fundamental que cons-
titui o primeiro dos bens simblicos da sociedade.
Entre os diversos aspectos sob os quais pode ser con-
siderado o processo de socializao do indivduo e sua edu-
cao como "indivduo social", o mais fundamental , sem
dvida, aquele pelo qual a socialidade aparece ao indivduo
como um fim, como o lugar da sua auto-realizao, o cam-
po onde se experimenta e se comprova a sua independn-
cia, a sua posse de si mesmo (autrqueia). Na perspectiva
desse fim, a vida social se ordena segundo uma estrutura
axiolgica e normativa fundamental que , exatamente, o
seu ethos. Por sua vez, a teleologia imanente ao ethos faz
com que a realidade no seja experimentada pelo indivduo
como uma vis a tergo, uma fora exterior ou um destino
cego e oprimente.
Em cada uma das esferas de relaes que iro inscre-
ver-se na grande esfera da sociedade, a praxis humana apre-
senta peculiaridades que se traduziro em formas particula-
res do ethos. O indivduo trabalha e consome, aprende e
cria, reivindica e consente, participa e recebe: a universali-
dade do ethos se desdobra e particulariza em ethos econ-
mico, ethos cultural, ethos poltico, ethos social propria-
mente dito. Essas particularizaes do ethos so outras
tantas mediaes atravs das quais a praxis do indivduo
se socializa na forma de hbitos ( ethos-hexis). Elas do
origem igualmente, no interior do mesmo ethos societrio,
a tenses e oposies cujo mbito de possibilidade carac-
teriza exatamente a unidade social como unidade tica (ver
infra, n. 4). Com efeito, uma ciso radical na esfera tica
ou uma sociomaquia primordial dos valores excluiria a pos-
sibilidade de se definir a sociedade como "conjunto de
408ss. Braudel distingue quatro conjuntos ou subconjuntos da socie-
dade: economia, cultura, poltica e hierarquia social.
22
conjuntos" ou como grandeza histrica determinada e si-
tuada no espao e no tempo. Mesmo e sobretudo o niilis-
mo tico, ou a negao do ethos como tal, s pensvel
como ato eminentemente tico ou eticamente qualificado
e exercendo-se, por conseguinte, no interior de um mundo
tico determinado.
Como notrio, do ponto de vista da estrutura social,
o indivduo no se apresenta como molcula livre, moven-
do-se desordenadamente num espao sem direes privile-
giadas e regido apenas pela lei da probabilidade do choque
com outras molculas - os outros indivduos. Uma cadeia
complexa de mediaes ordena os movimentos do indiv-
duo no todo social e ~ entre elas, desenrolam-se as media-
es que integram o indivduo ao ethos: os hbitos no pr-
prio indivduo e, na sociedade, os costumes e normas das
esferas particulares nas }1\lais se exercer sua praxis, ou
seja, trabalho, cultura, poltica e convivncia social.
O advento de uma sociedade na qual o econmico al-
canou uma dimenso e um peso enormes tornou aguda
e atual a questo da natureza e alcance do influxo exercido
pela esfera da produo sobre as outras esferas e subcon-
juntos da sociedade. Segundo a concepo que comea a
vulgarizar-se a partir do sculo XVIII e qual Marx dar
uma formulao aparentemente definitiva, as restantes es-
feras da sociedade se organizariam e exprimiriam seu ethos
prprio exatamente em funo da organizao e do ethos
dominantes na esfera econmica. Assim, as formas do
ethos seriam relativizadas de acordo com o sistema de sa-
tisfao das necessidades materiais do indivduo em deter-
minada poca. No obstante importantes matizes que re-
cebe na tradio marxista e no pensamento econmico que,
de uma maneira ou de outra, sofre a influncia dessa tra-
dio, a idia de que a construo da realidade social assen-
ta predominantemente sobre a base da produo material
dificilmente poderia evitar a conseqncia de que o econ-
mico determinante em ltima instncia, no sendo as
outras esferas da sociedade seno superestruturas ou epi-
fenmenos da estrutura e do fenmeno fundamentais da
produo. Ora, submetido instncia determinante do sis-
tema de produo, o universo das formas simblicas teria
sua unidade definida apenas em termos ideolgicos, ou se-
ja, na medida em que todas as suas expresses se organi-
zassem em ordem justificao dos interesses dominantes
23
ciar como condio necessria e suficiente para que os sub-
conjuntos sociais pertenam ao conjunto maior ou so-
ciedade como um todo, a possibilidade de se definir essa
pertena no apenas como um jato ou descritivamente, mas
tambm como um valor ou axiologicamente, segundo a
avaliao que a sociedade faz das prticas sociais que se
exercem nos seus subconjuntos. Vale dizer que a pertena
de uma determinada esfera de agentes e relaes ao todo
social se define primeiramente ao nvel da sua legitimao
tica, da sua participao ao ethos fundamental que cons-
titui o primeiro dos bens simblicos da sociedade.
Entre os diversos aspectos sob os quais pode ser con-
siderado o processo de socializao do indivduo e sua edu-
cao como "indivduo social", o mais fundamental , sem
dvida, aquele pelo qual a socialidade aparece ao indivduo
como um fim, como o lugar da sua auto-realizao, o cam-
po onde se experimenta e se comprova a sua independn-
cia, a sua posse de si mesmo (autrqueia). Na perspectiva
desse fim, a vida social se ordena segundo uma estrutura
axiolgica e normativa fundamental que , exatamente, o
seu ethos. Por sua vez, a teleologia imanente ao ethos faz
com que a realidade no seja experimentada pelo indivduo
como uma vis a tergo, uma fora exterior ou um destino
cego e oprimente.
Em cada uma das esferas de relaes que iro inscre-
ver-se na grande esfera da sociedade, a praxis humana apre-
senta peculiaridades que se traduziro em formas particula-
res do ethos. O indivduo trabalha e consome, aprende e
cria, reivindica e consente, participa e recebe: a universali-
dade do ethos se desdobra e particulariza em ethos econ-
mico, ethos cultural, ethos poltico, ethos social propria-
mente dito. Essas particularizaes do ethos so outras
tantas mediaes atravs das quais a praxis do indivduo
se socializa na forma de hbitos ( ethos-hexis). Elas do
origem igualmente, no interior do mesmo ethos societrio,
a tenses e oposies cujo mbito de possibilidade carac-
teriza exatamente a unidade social como unidade tica (ver
infra, n. 4). Com efeito, uma ciso radical na esfera tica
ou uma sociomaquia primordial dos valores excluiria a pos-
sibilidade de se definir a sociedade como "conjunto de
408ss. Braudel distingue quatro conjuntos ou subconjuntos da socie-
dade: economia, cultura, poltica e hierarquia social.
22
conjuntos" ou como grandeza histrica determinada e si-
tuada no espao e no tempo. Mesmo e sobretudo o niilis-
mo tico, ou a negao do ethos como tal, s pensvel
como ato eminentemente tico ou eticamente qualificado
e exercendo-se, por conseguinte, no interior de um mundo
tico determinado.
Como notrio, do ponto de vista da estrutura social,
o indivduo no se apresenta como molcula livre, moven-
do-se desordenadamente num espao sem direes privile-
giadas e regido apenas pela lei da probabilidade do choque
com outras molculas - os outros indivduos. Uma cadeia
complexa de mediaes ordena os movimentos do indiv-
duo no todo social e ~ entre elas, desenrolam-se as media-
es que integram o indivduo ao ethos: os hbitos no pr-
prio indivduo e, na sociedade, os costumes e normas das
esferas particulares nas }1\lais se exercer sua praxis, ou
seja, trabalho, cultura, poltica e convivncia social.
O advento de uma sociedade na qual o econmico al-
canou uma dimenso e um peso enormes tornou aguda
e atual a questo da natureza e alcance do influxo exercido
pela esfera da produo sobre as outras esferas e subcon-
juntos da sociedade. Segundo a concepo que comea a
vulgarizar-se a partir do sculo XVIII e qual Marx dar
uma formulao aparentemente definitiva, as restantes es-
feras da sociedade se organizariam e exprimiriam seu ethos
prprio exatamente em funo da organizao e do ethos
dominantes na esfera econmica. Assim, as formas do
ethos seriam relativizadas de acordo com o sistema de sa-
tisfao das necessidades materiais do indivduo em deter-
minada poca. No obstante importantes matizes que re-
cebe na tradio marxista e no pensamento econmico que,
de uma maneira ou de outra, sofre a influncia dessa tra-
dio, a idia de que a construo da realidade social assen-
ta predominantemente sobre a base da produo material
dificilmente poderia evitar a conseqncia de que o econ-
mico determinante em ltima instncia, no sendo as
outras esferas da sociedade seno superestruturas ou epi-
fenmenos da estrutura e do fenmeno fundamentais da
produo. Ora, submetido instncia determinante do sis-
tema de produo, o universo das formas simblicas teria
sua unidade definida apenas em termos ideolgicos, ou se-
ja, na medida em que todas as suas expresses se organi-
zassem em ordem justificao dos interesses dominantes
23
na sociedade e cuja articulao fundamental se d no nvel
de produo. Nesse caso, a pretensa universalidade do ethos
no seria seno a transcrio ideolgica - e como tal
ocultante - dos interesses econmicos na so-'
ciedade.
A extenso geogrfica, a racionalizao e a organizao
concntrica da esfera econmica, dando origem ao que al-
guns historiadores denominam a "economia-mundo" nas
caractersticas com que se apresenta no capitalismo moder-
no,
conferem uma onipresena obsessiva ao problema da
prioridade determinante da esfera econmica e da canse
qente ideologizao das outras esferas da sociedade. Ora.
a racionalidade que organiza em sistema a produo mate
rial necessariamente uma racionalidade instrumental. ::
pois a acumulao da riqueza no um fim em si. A ri-
queza se produz indefinidamente, circula e se consome: ,
por excelncia, o reino do "mau infinito". u Assim, a ideo-
logia que se estende como um vu sobre os interesses que
organizam em seu benefcio a racionalidade econmica ex-
clui, por definio, qualquer objetividade dos fins do dom
nio tico, vem a ser, qualquer racionalidade intrnseca ao
prprio ethos. Por conseguinte, a interpretao redutiva-
mente do ethos, que decorre da concepo do
econrmco como determinante em ltima instncia, contra-
diz o prprio conceito de ethos. Este, com efeito, s pen-
svel a partir da posio de uma finalidade imanente
praxis humana e qual devem submeter-se, tendo em vista
a auto-realizao do indivduo, os bens exteriores, inclusive
a riqueza. A estrutura dialtica do ethos que acima se des.
creveu exprime justamente essa circularidade paradoxalmen-
te teleolgica, na qual o indivduo se realiza eticamente
como tendo alcanado o senhorio de si mesmo ( autroueia)
ou na qual a praxis individual exercida como perfeio
42. Ver I. Wallerstein, Le systeme du monde du XVIeme siecle
nos jours I, Capitalisme et conomie-monde (1450-1640) II Le mer-
cantilisme et la consolidation de l'conomie europenne,' (tr. franc.l,
Flammarion, 1980-1984. Para wna descrio clssica da eco-
norma-mundo, ver F. Braudel, Civilisation matrielle, conomie et
capitalisme, III, Le temps du monde, pp. 11-55.
43. Ou racionalidade abstrata do Entendimento, na terminologia
hegeliw_m_. Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 189; En-
zyklopiid:ze der philosophischen Wissenschaften (1830), 525.
44. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts
191. ,
24
< enrgeia) do prprio indivduo. , pois, permitido con-
cluir que o reducionismo economicista, ou o que se poderia
denominar a "reduo ideolgica" do ethos, implica neces-
sariamente um niilismo tico (ou uma negao radical do
ethos) que est presente no cerne mais ntimo dessa so-
ciedade da produo e do consumo que acabou se consti-
tuindo em verso planetria da "economia-mundo".
4
"
De um lado, portanto, a especificidade da dimenso
tica nos subconjuntos da sociedade o que d consistn-
cia a essa estrutura diferenciada do todo social caracters-
tica da socialidade humana. De outro, ela est na origem
da tenaz resistncia oferecida pela sociedade ao processo
de reduo das suas diferenas qualitativas em termos de
indivduo e massa, que tem origem na primazia oferecida
esfera da produo. na esfera da cultura, conforme
observa F. Braudel, que essa resistncia se torna parti-
cularmente visvel. Com efeito, a cultura o domnio onde
o ethos se explcita formalmente na linguagem das normas
e valores e se constitui como tradio no sentido acima
exposto. , sem dvida, o ethos cultural e, de modo pri-
vilegiado. o ethos religioso nas sociedades at hoje conhe-
cidas, ., que asseguram eficazmente ao indivduo emprico
a passagem a esse horizonte de universalidade no qual
possvel formular o projeto da sua auto-realizao como
ser livre e inscrever sua cidadania no reino dos fins.
O problema da relao entre ethos e indivduo desdo-
bra-se, assim, atravs das mediaes sociais que se tecem
45. A enrgeia da ao distinta da gnesis ou do vir-a-ser
transiente. Ver Nic. VII, 12, 1153 a 16; Toms de Aquino, Summa
Theol., Ia., q. 18, a.3, ad 1m; In IXm. Met. lec. 8 iCathala, n. 1862-
-1865) o
46. Verso planetria que toma irrelevante, pelo menos a par-
tir desse ponto de vista, a distino entre "economia capitalista" e
"economia socialista". De ambas, o niilismo tico o segredo mais
patente e mais sabido. Sob o ponto de vista do "valor econmico",
a mesma concluso obtida por R. Passet, "L'J!:conomisme, une nou-
velle apologtique?" in Le Genre Humain, 14 (1986): 41-49 (aqui p.
43); ver tambm Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, pp. 57-58.
47. Civilisation matrielle, conomie et capitalisme, III, Le temps
du monde, pp. 51-55; I. Wallerstein reconhece que a cultura o domi-
nio por excelncia no qual se produz uma resistncia hegemonia. Ver
Le systeme du monde, . .. II, p. 79.
48. F. Braudel, op. cit., III, p. 51; Clifford Geertz, "Ethos, viso
do mundo e anlise dos smbolos sagrados" in A interpretao das
culturas (tr. bras.), Rio de Janeiro, Zahar, 1978, pp. 143-159.
25
na sociedade e cuja articulao fundamental se d no nvel
de produo. Nesse caso, a pretensa universalidade do ethos
no seria seno a transcrio ideolgica - e como tal
ocultante - dos interesses econmicos na so-'
ciedade.
A extenso geogrfica, a racionalizao e a organizao
concntrica da esfera econmica, dando origem ao que al-
guns historiadores denominam a "economia-mundo" nas
caractersticas com que se apresenta no capitalismo moder-
no,
conferem uma onipresena obsessiva ao problema da
prioridade determinante da esfera econmica e da canse
qente ideologizao das outras esferas da sociedade. Ora.
a racionalidade que organiza em sistema a produo mate
rial necessariamente uma racionalidade instrumental. ::
pois a acumulao da riqueza no um fim em si. A ri-
queza se produz indefinidamente, circula e se consome: ,
por excelncia, o reino do "mau infinito". u Assim, a ideo-
logia que se estende como um vu sobre os interesses que
organizam em seu benefcio a racionalidade econmica ex-
clui, por definio, qualquer objetividade dos fins do dom
nio tico, vem a ser, qualquer racionalidade intrnseca ao
prprio ethos. Por conseguinte, a interpretao redutiva-
mente do ethos, que decorre da concepo do
econrmco como determinante em ltima instncia, contra-
diz o prprio conceito de ethos. Este, com efeito, s pen-
svel a partir da posio de uma finalidade imanente
praxis humana e qual devem submeter-se, tendo em vista
a auto-realizao do indivduo, os bens exteriores, inclusive
a riqueza. A estrutura dialtica do ethos que acima se des.
creveu exprime justamente essa circularidade paradoxalmen-
te teleolgica, na qual o indivduo se realiza eticamente
como tendo alcanado o senhorio de si mesmo ( autroueia)
ou na qual a praxis individual exercida como perfeio
42. Ver I. Wallerstein, Le systeme du monde du XVIeme siecle
nos jours I, Capitalisme et conomie-monde (1450-1640) II Le mer-
cantilisme et la consolidation de l'conomie europenne,' (tr. franc.l,
Flammarion, 1980-1984. Para wna descrio clssica da eco-
norma-mundo, ver F. Braudel, Civilisation matrielle, conomie et
capitalisme, III, Le temps du monde, pp. 11-55.
43. Ou racionalidade abstrata do Entendimento, na terminologia
hegeliw_m_. Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 189; En-
zyklopiid:ze der philosophischen Wissenschaften (1830), 525.
44. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts
191. ,
24
< enrgeia) do prprio indivduo. , pois, permitido con-
cluir que o reducionismo economicista, ou o que se poderia
denominar a "reduo ideolgica" do ethos, implica neces-
sariamente um niilismo tico (ou uma negao radical do
ethos) que est presente no cerne mais ntimo dessa so-
ciedade da produo e do consumo que acabou se consti-
tuindo em verso planetria da "economia-mundo".
4
"
De um lado, portanto, a especificidade da dimenso
tica nos subconjuntos da sociedade o que d consistn-
cia a essa estrutura diferenciada do todo social caracters-
tica da socialidade humana. De outro, ela est na origem
da tenaz resistncia oferecida pela sociedade ao processo
de reduo das suas diferenas qualitativas em termos de
indivduo e massa, que tem origem na primazia oferecida
esfera da produo. na esfera da cultura, conforme
observa F. Braudel, que essa resistncia se torna parti-
cularmente visvel. Com efeito, a cultura o domnio onde
o ethos se explcita formalmente na linguagem das normas
e valores e se constitui como tradio no sentido acima
exposto. , sem dvida, o ethos cultural e, de modo pri-
vilegiado. o ethos religioso nas sociedades at hoje conhe-
cidas, ., que asseguram eficazmente ao indivduo emprico
a passagem a esse horizonte de universalidade no qual
possvel formular o projeto da sua auto-realizao como
ser livre e inscrever sua cidadania no reino dos fins.
O problema da relao entre ethos e indivduo desdo-
bra-se, assim, atravs das mediaes sociais que se tecem
45. A enrgeia da ao distinta da gnesis ou do vir-a-ser
transiente. Ver Nic. VII, 12, 1153 a 16; Toms de Aquino, Summa
Theol., Ia., q. 18, a.3, ad 1m; In IXm. Met. lec. 8 iCathala, n. 1862-
-1865) o
46. Verso planetria que toma irrelevante, pelo menos a par-
tir desse ponto de vista, a distino entre "economia capitalista" e
"economia socialista". De ambas, o niilismo tico o segredo mais
patente e mais sabido. Sob o ponto de vista do "valor econmico",
a mesma concluso obtida por R. Passet, "L'J!:conomisme, une nou-
velle apologtique?" in Le Genre Humain, 14 (1986): 41-49 (aqui p.
43); ver tambm Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, pp. 57-58.
47. Civilisation matrielle, conomie et capitalisme, III, Le temps
du monde, pp. 51-55; I. Wallerstein reconhece que a cultura o domi-
nio por excelncia no qual se produz uma resistncia hegemonia. Ver
Le systeme du monde, . .. II, p. 79.
48. F. Braudel, op. cit., III, p. 51; Clifford Geertz, "Ethos, viso
do mundo e anlise dos smbolos sagrados" in A interpretao das
culturas (tr. bras.), Rio de Janeiro, Zahar, 1978, pp. 143-159.
25
no campo das esferas particulares da sociedade, cada qual
particularizando, por sua vez, o horizonte universal do
ethos. Mas justamente o movimento dialtico que retor-
na do particular ao universal, fazendo do indivduo emp-
rico um universal concreto,
49
que repe o problema na for-
ma da relao entre a liberdade do indivduo como livre-
-arbtrio e a universalidade normativa do ethos. Esse pro-
blema, no entanto, apresenta-se nas sociedades modernas
envolvido em densas nuvens ideolgicas que encobrem o
sol daquela que deveria ser uma das evidncias fundamen-
tais na reflexo sobre o ethos: a evidncia da funo edu-
cadora do ethos e, por conseguinte, da direo imanente ao
seu movimento dialtico e segundo a qual o indivduo deve
passar da liberdade emprica ou da liberdade de arbtrio
liberdade tica ou liberdade racional. A primeira designa
o indivduo no ser da sua individualidade emprica. A se-
gunda designa o indivduo no dever-ser da sua singulari-
dade tica.
A estrutura do ethos, que nos mostra uma articulao
dialtica ou um movimento circular imanente entre o ethos
como costume e o ethos como hbito, desembocando na
praxis, revela-nos igualmente que o momento terminal da
praxis como lugar da liberdade se constitui exatamente co-
mo termo da passagem contnua da praxis na forma de
livre-arbtrio ou libertas inditferentiae - um ser ou no-ser
em face da necessidade objetiva do ethos - praxis como
liberdade propriamente dita ou libertas independentiae- um
consentir livremente universalidade normativa do ethos.
No primeiro momento, a liberdade exterior ao ethos, que
est diante dela como uma natureza primeira - costumes.
No segundo momento, a liberdade interior ao ethos, que
constitui como seu corpo orgnico ou sua segunda nature-
za - hbitos. ""
49. Um singular na terminologia dialtica ou uma pessoa moral
na terminologia da tica.
50. A essa interiorizao da liberdade no ethos convm aplicar a
proposio estabelecida por Hegel ao fim da Lgica da Essncia, de
que a liberdade a verdade da necessidade. Ver Enzyklopdie der phi-
losophischen Wissenschajten (1830), 158. Em um Zusatz acrescen-
tado por L. von Henning a este pargrafo na sua edio da Lgica da
Enciclopdia (Werke, Ed. Moldenhauer-Michel, Suhrkamp, vol. 8, pp.
303-304), a aplicao desta proposio ao ethos ilustrada com a opo-
sio entre a liberdade abstrata e a necessidade abstrata, em face da
liberdade positiva e concreta que supera em si mesma a necessidade,
26
Do ponto de vista da fixao histrica dos costumes,
esta passagem se faz atravs do processo educativo que
mostra assim, na relao do ethos com a sociedade, uma
estrutura homloga da relao do ethos com o indivduo.
passagem do livre-arbtrio liberdade tica no indivduo
corresponde a passagem que conduz, atravs da prtica so-
cial da educao, os indivduos do ser emprico da sua exis-
tncia natural ao ser tico da sua existncia cultural, de
acordo com as diferenciaes do ethos que acima foram
enumeradas. oportuno lembrar aqui que a relao essen-
cial entre ethos e paideia est no centro da concepo pla-
tnica de uma cidade da justia.
51
A educao para o et.hos ou a funo educadora do ethos
so descritas por Nietzsche numa pgina clebre, como
evocao da histria terrvel das crueldades que a socieda-
de humana imps a seus membros para educar o homem
como um animal ao qual seja possvel prometer - um ser
de responsabilidade, um ser moral, em suma.
52
A teoria
nietzschiana da origem das noes morais atravs do lon-
go curso histrico de uma educao, que no seno a
impiedosa e implacvel tarefa de submisso da animalida-
de no homem,
53
inspira, por sua vez, a tese, hoje vulgari-
zada, da origem da moral a partir da proibio e do inter-
dito, acompanhados dos respectivos castigos e sanes.
54
Nesse caso, a obrigao moral no seria apenas a metfora
do ligame fsico ( ob-ligare), mas a sua continuao literal
no domnio da conscincr.
tal como a do homem do ethos (der sittliche Mensch) "que est cons-
ciente do contedo do seu operar como de algo necessrio e vlido
em si, mas com isto padece tanto menos um dano sua liberdade
quanto, atravs dessa conscincia, o tornar-se uma liberdade efetiva
e plena, diferena do livre-arbtrio como liberdade ainda vazia e
simplesmente possvel".
51. Ver W. Jaeger, Paideia: the Ideals oj Greek Culture (tr. ingl.),
Oxford, Blackwell, 1947, II, pp. 234-242; E. Riondato, Ethos: ri-
cerche per la determinazione del valore classico dell'Etica, op. cit., pp.
35-39.
52. Zur Genealogie der Moral (Werke, Ed. Schlechta, II, pp.
799ss.).
53. Ver Jenseits von Gut und Base, V (Werke, Ed. Schlechta,
II, pp, 643-662).
54. Ver, por exemplo, G. Fourez, Choix thique et conditionnement
social: introduction une philosophie morale, Paris, Le Centurion,
1979, pp. 13-37.
27
no campo das esferas particulares da sociedade, cada qual
particularizando, por sua vez, o horizonte universal do
ethos. Mas justamente o movimento dialtico que retor-
na do particular ao universal, fazendo do indivduo emp-
rico um universal concreto,
49
que repe o problema na for-
ma da relao entre a liberdade do indivduo como livre-
-arbtrio e a universalidade normativa do ethos. Esse pro-
blema, no entanto, apresenta-se nas sociedades modernas
envolvido em densas nuvens ideolgicas que encobrem o
sol daquela que deveria ser uma das evidncias fundamen-
tais na reflexo sobre o ethos: a evidncia da funo edu-
cadora do ethos e, por conseguinte, da direo imanente ao
seu movimento dialtico e segundo a qual o indivduo deve
passar da liberdade emprica ou da liberdade de arbtrio
liberdade tica ou liberdade racional. A primeira designa
o indivduo no ser da sua individualidade emprica. A se-
gunda designa o indivduo no dever-ser da sua singulari-
dade tica.
A estrutura do ethos, que nos mostra uma articulao
dialtica ou um movimento circular imanente entre o ethos
como costume e o ethos como hbito, desembocando na
praxis, revela-nos igualmente que o momento terminal da
praxis como lugar da liberdade se constitui exatamente co-
mo termo da passagem contnua da praxis na forma de
livre-arbtrio ou libertas inditferentiae - um ser ou no-ser
em face da necessidade objetiva do ethos - praxis como
liberdade propriamente dita ou libertas independentiae- um
consentir livremente universalidade normativa do ethos.
No primeiro momento, a liberdade exterior ao ethos, que
est diante dela como uma natureza primeira - costumes.
No segundo momento, a liberdade interior ao ethos, que
constitui como seu corpo orgnico ou sua segunda nature-
za - hbitos. ""
49. Um singular na terminologia dialtica ou uma pessoa moral
na terminologia da tica.
50. A essa interiorizao da liberdade no ethos convm aplicar a
proposio estabelecida por Hegel ao fim da Lgica da Essncia, de
que a liberdade a verdade da necessidade. Ver Enzyklopdie der phi-
losophischen Wissenschajten (1830), 158. Em um Zusatz acrescen-
tado por L. von Henning a este pargrafo na sua edio da Lgica da
Enciclopdia (Werke, Ed. Moldenhauer-Michel, Suhrkamp, vol. 8, pp.
303-304), a aplicao desta proposio ao ethos ilustrada com a opo-
sio entre a liberdade abstrata e a necessidade abstrata, em face da
liberdade positiva e concreta que supera em si mesma a necessidade,
26
Do ponto de vista da fixao histrica dos costumes,
esta passagem se faz atravs do processo educativo que
mostra assim, na relao do ethos com a sociedade, uma
estrutura homloga da relao do ethos com o indivduo.
passagem do livre-arbtrio liberdade tica no indivduo
corresponde a passagem que conduz, atravs da prtica so-
cial da educao, os indivduos do ser emprico da sua exis-
tncia natural ao ser tico da sua existncia cultural, de
acordo com as diferenciaes do ethos que acima foram
enumeradas. oportuno lembrar aqui que a relao essen-
cial entre ethos e paideia est no centro da concepo pla-
tnica de uma cidade da justia.
51
A educao para o et.hos ou a funo educadora do ethos
so descritas por Nietzsche numa pgina clebre, como
evocao da histria terrvel das crueldades que a socieda-
de humana imps a seus membros para educar o homem
como um animal ao qual seja possvel prometer - um ser
de responsabilidade, um ser moral, em suma.
52
A teoria
nietzschiana da origem das noes morais atravs do lon-
go curso histrico de uma educao, que no seno a
impiedosa e implacvel tarefa de submisso da animalida-
de no homem,
53
inspira, por sua vez, a tese, hoje vulgari-
zada, da origem da moral a partir da proibio e do inter-
dito, acompanhados dos respectivos castigos e sanes.
54
Nesse caso, a obrigao moral no seria apenas a metfora
do ligame fsico ( ob-ligare), mas a sua continuao literal
no domnio da conscincr.
tal como a do homem do ethos (der sittliche Mensch) "que est cons-
ciente do contedo do seu operar como de algo necessrio e vlido
em si, mas com isto padece tanto menos um dano sua liberdade
quanto, atravs dessa conscincia, o tornar-se uma liberdade efetiva
e plena, diferena do livre-arbtrio como liberdade ainda vazia e
simplesmente possvel".
51. Ver W. Jaeger, Paideia: the Ideals oj Greek Culture (tr. ingl.),
Oxford, Blackwell, 1947, II, pp. 234-242; E. Riondato, Ethos: ri-
cerche per la determinazione del valore classico dell'Etica, op. cit., pp.
35-39.
52. Zur Genealogie der Moral (Werke, Ed. Schlechta, II, pp.
799ss.).
53. Ver Jenseits von Gut und Base, V (Werke, Ed. Schlechta,
II, pp, 643-662).
54. Ver, por exemplo, G. Fourez, Choix thique et conditionnement
social: introduction une philosophie morale, Paris, Le Centurion,
1979, pp. 13-37.
27
A explicao nietzschiana da origem do ethos deixa,
no entanto, sem resposta a questo decisiva sobre as ra-
zes que impelem a humanidade a trilhar esse imenso e
doloroso caminho e a empreender esse inenarrvel esforo
para escalar dolorosamente as escarpadas alturas da mora-
lidade. A idia de uma prioridade dialtica do ethos sobre
o indivduo emprico ou do contedo intrnseco do valor
sobre a satisfao do indivduo
55
oferece uma resposta in-
finitamente mais aceitvel interrogao fundamental em
torno da presena constitutiva do ethos na estrutura da
socialidade humana. ;
4. ETHOS E CONFLITO
A universalidade e normatividade do ethos no se apre-
sentam em face do indivduo segundo a razo de uma
anterioridade cronolgica: vindo depois de constitudo o
ethos, o indivduo seria precedido por ele e, portanto, por
ele predeterminado. Nem segundo a razo de uma exterio-
ridade social: vindo existncia no seio de um ethos j
socialmente institudo (costumes) o indivduo seria por ele
envolvido e extrinsecamente condicionado. Menos ainda aten-
deria natureza da relao entre ethos e indivduo pen-
s-la segundo a anterioridade logicamente linear da causa-
lidade eficiente: o indivduo tico seria produzido pelo ethus
como o efeito pela causa.'' Mesmo considerada do ponto
de vista puramente fenomenolgico, - a relao entre o
55. A respeito desse tema, um eco de toda a tradio ~ l ~ s s i c ~
se faz ouvir neste texto de M. T. Ccero: " .. . etenim, omnes mn bom
ipsam aequitatem et jus ipsum amant, nec est viri boni errare et di-
ligere quod per se non est diligendum; per se igitur jus est expeten-
dum et colendum; quod si jus, etiam justitia ... ergo item justitia ni-
hil expetit premii, nihil pretii; per se igitur expetitur, eademque om-
nium mrtutum causa atque sententia est" rDe Legibus, I 18; Ect. Ke-
yes, Loeb Class. Lib., p. 350). _ _ .
56. Convm lembrar, a propsito desta questao, a discussao clas-
sica de Max Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, apud
Vom Umsturz der Werte <Gesammelte Werke, III, Berna, Francke
Verlag, pp. 33-147). _
57. Esse determinismo causal incidiria, de resto, ~ expre_ssao
de uma substancializao do ethos na forma de um reahsmo mgenu?
que implica, correlativamente, um idealismo ingnuo do Entendi-
mento. d
58. A Fenomenologia designa, aqui, aquele primeiro estgio o
pensamento filosfico no qual o objeto descrito segundo os traos
ethos e o indivduo, assim como se manifesta j no con-
tedo semntico do termos ethos, , por excelncia, uma
relao dialtica, segundo a qual a umversalidade abstrata
(no sentido da lgica dialtica) do ethos como costume
negada pelo evento da liberdade na praxis individual e en-
contra a o caminho da sua concreta realizao histrica
no ethos como hbito (hexis) ou como virtude.
59
Por conseguinte, a liberdade no exterior ao ethos
como o ethos no exterior ao indivduo. Ela introduz no
movimento dialtico conS,titutivo do etlws o momento do
poder-ser, o espao de pbssibilidade que se abre entre a
particularidade da pra."Cis como ato do indivduo no aqui
e agora da sua existncia emprica, e a singularidade da
mesma praxis que se efetiva concretamente como realiza-
o da universalidade do ethos no agir virtuoso. Entre a
praxis como ato do indivduo emprico e a praxis como agir
do homem bom, o movimento constitutivo do ethos per-
corre esse domnio de possibilidade onde se traa o cami-
nho da liberdade como oscilao entre o no-ser da recusa
e o ser do consentimento ao bem.
60
Por outro lado, no estando submetido a qualquer for-
ma de determinismo,"' o movimento imanente ao ethos,
atravs do qual ele passa da universalidade do costume
singularidade da ao eticamente boa, traz inscrita na sua
prpria natureza, alm da possibilidade da ao eticamente
m, a virtualidade de uma situao que pode ser caracte-
rizada como conflito tico. No entanto, o conflito tico se
distingue essencialmente seja do niilismo tico, que a ne-
gao pura e simples do ethos (na medida em que tal ne-
constitutivos da sua manifestao ao pensamento interrogante, que
se pergunta sobre a "essncia" do que se manifesta (phainmenonL
59. Talvez seja esse o lugar para se lembrar que a virtude como
hbito ou hexis no , segundo a concepo clssica, a sedimentao
de atos que se somam e do origel!l a uma disposio a se agir de
modo repetitivo e quase mecnico. A aret , ao contrrio, o ethos
vivido concretamente na atividade imanente (enrgeia) do agente
tico. Ver Max Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, apud Vom
Umsturz der Werte (Werke, III, pp. 16-31 l. Ver infra cap. III, n. 3.
60. Ver infra, cap. III.
61 . Determinismo significa, aqui, uma necessidade antecedente
ao da qual a ao procede como conseqncia necessria. A for-
ma lnais alta desse determinismo seria o chamado detenninismo ra-
cional, que a interpretao vulgarizada atribui doutrina socrtica
da virtude-cincia. Sobre essa clebre tese de Scrates ver, no en-
tanto, G. Reale, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. I, pp. 314-326.
29
A explicao nietzschiana da origem do ethos deixa,
no entanto, sem resposta a questo decisiva sobre as ra-
zes que impelem a humanidade a trilhar esse imenso e
doloroso caminho e a empreender esse inenarrvel esforo
para escalar dolorosamente as escarpadas alturas da mora-
lidade. A idia de uma prioridade dialtica do ethos sobre
o indivduo emprico ou do contedo intrnseco do valor
sobre a satisfao do indivduo
55
oferece uma resposta in-
finitamente mais aceitvel interrogao fundamental em
torno da presena constitutiva do ethos na estrutura da
socialidade humana. ;
4. ETHOS E CONFLITO
A universalidade e normatividade do ethos no se apre-
sentam em face do indivduo segundo a razo de uma
anterioridade cronolgica: vindo depois de constitudo o
ethos, o indivduo seria precedido por ele e, portanto, por
ele predeterminado. Nem segundo a razo de uma exterio-
ridade social: vindo existncia no seio de um ethos j
socialmente institudo (costumes) o indivduo seria por ele
envolvido e extrinsecamente condicionado. Menos ainda aten-
deria natureza da relao entre ethos e indivduo pen-
s-la segundo a anterioridade logicamente linear da causa-
lidade eficiente: o indivduo tico seria produzido pelo ethus
como o efeito pela causa.'' Mesmo considerada do ponto
de vista puramente fenomenolgico, - a relao entre o
55. A respeito desse tema, um eco de toda a tradio ~ l ~ s s i c ~
se faz ouvir neste texto de M. T. Ccero: " .. . etenim, omnes mn bom
ipsam aequitatem et jus ipsum amant, nec est viri boni errare et di-
ligere quod per se non est diligendum; per se igitur jus est expeten-
dum et colendum; quod si jus, etiam justitia ... ergo item justitia ni-
hil expetit premii, nihil pretii; per se igitur expetitur, eademque om-
nium mrtutum causa atque sententia est" rDe Legibus, I 18; Ect. Ke-
yes, Loeb Class. Lib., p. 350). _ _ .
56. Convm lembrar, a propsito desta questao, a discussao clas-
sica de Max Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, apud
Vom Umsturz der Werte <Gesammelte Werke, III, Berna, Francke
Verlag, pp. 33-147). _
57. Esse determinismo causal incidiria, de resto, ~ expre_ssao
de uma substancializao do ethos na forma de um reahsmo mgenu?
que implica, correlativamente, um idealismo ingnuo do Entendi-
mento. d
58. A Fenomenologia designa, aqui, aquele primeiro estgio o
pensamento filosfico no qual o objeto descrito segundo os traos
ethos e o indivduo, assim como se manifesta j no con-
tedo semntico do termos ethos, , por excelncia, uma
relao dialtica, segundo a qual a umversalidade abstrata
(no sentido da lgica dialtica) do ethos como costume
negada pelo evento da liberdade na praxis individual e en-
contra a o caminho da sua concreta realizao histrica
no ethos como hbito (hexis) ou como virtude.
59
Por conseguinte, a liberdade no exterior ao ethos
como o ethos no exterior ao indivduo. Ela introduz no
movimento dialtico conS,titutivo do etlws o momento do
poder-ser, o espao de pbssibilidade que se abre entre a
particularidade da pra."Cis como ato do indivduo no aqui
e agora da sua existncia emprica, e a singularidade da
mesma praxis que se efetiva concretamente como realiza-
o da universalidade do ethos no agir virtuoso. Entre a
praxis como ato do indivduo emprico e a praxis como agir
do homem bom, o movimento constitutivo do ethos per-
corre esse domnio de possibilidade onde se traa o cami-
nho da liberdade como oscilao entre o no-ser da recusa
e o ser do consentimento ao bem.
60
Por outro lado, no estando submetido a qualquer for-
ma de determinismo,"' o movimento imanente ao ethos,
atravs do qual ele passa da universalidade do costume
singularidade da ao eticamente boa, traz inscrita na sua
prpria natureza, alm da possibilidade da ao eticamente
m, a virtualidade de uma situao que pode ser caracte-
rizada como conflito tico. No entanto, o conflito tico se
distingue essencialmente seja do niilismo tico, que a ne-
gao pura e simples do ethos (na medida em que tal ne-
constitutivos da sua manifestao ao pensamento interrogante, que
se pergunta sobre a "essncia" do que se manifesta (phainmenonL
59. Talvez seja esse o lugar para se lembrar que a virtude como
hbito ou hexis no , segundo a concepo clssica, a sedimentao
de atos que se somam e do origel!l a uma disposio a se agir de
modo repetitivo e quase mecnico. A aret , ao contrrio, o ethos
vivido concretamente na atividade imanente (enrgeia) do agente
tico. Ver Max Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, apud Vom
Umsturz der Werte (Werke, III, pp. 16-31 l. Ver infra cap. III, n. 3.
60. Ver infra, cap. III.
61 . Determinismo significa, aqui, uma necessidade antecedente
ao da qual a ao procede como conseqncia necessria. A for-
ma lnais alta desse determinismo seria o chamado detenninismo ra-
cional, que a interpretao vulgarizada atribui doutrina socrtica
da virtude-cincia. Sobre essa clebre tese de Scrates ver, no en-
tanto, G. Reale, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. I, pp. 314-326.
29
gao possvel), seja da ao eticamente m ou da falta,
que uma recusa da normatividade do ethos. Na verdade,
a falta tem lugar no interior do movimento que conduz
normalmente ao eticamente boa: ela assinala uma rup-
tura no processo de interiorizao do ethos como costume
no ethos como hbito ou como virtude.
62
O conflito tico se desenha, pois, como fenmeno cons-
titutivo do ethos que abriga em si a indeterminao carac-
terstica da liberdade.
6
" No risco do conflito tico, mani-
festa-se a fluidez e a labilidade da socialidade humana, es-
sencialmente distinta das rgidas formas associativas do
reino animal.
64
O conflito tico atesta igualmente a pe-
culiaridade da natureza histrica do ethos, em permanente
interao como novas situaes e novos desafios que se
configuram e se levantam ao longo do caminho da socie-
dade no tempo. Nesse sentido, o conflito tico no uma
eventualidade acidental mas uma componente estrutural da
historicidade do ethos. Ele se d propriamente no campo
dos valores e seu portador no o indivduo emprico,
65
mas o indivduo tico que se faz intrprete de novas e mais
profundas exigncias do ethos. Somente uma personalida-
de tica excepcional capaz de viver o conflito tico nas
62. o seguinte esquema complementa o esquema anterior da
nota 19:
Nlismo tico Prxis {indivduo emprico)
', /1',
' I '
' I '
(Sociedade l I
Costumes Ethos- - - - 1 - - - -Hxis
"":/
Prxis {indivduo tico)
Virtudes
Consenti-
mento
Recusa
(indivduo tico)
Hbitos
Realizao
Conflito
63. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, Darmstadt, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 1972, pp. 153-163; Eric Weil, Philoso-
phie morale, Paris, Vrin, pp. 22-27.
64. Ver infra cap. V, n. 1.
65. Pela de uma norma ou de um valor do ethos, o in-
divduo emprico bloqueia responsavelmente o movimento dialtico
que nele levaria efetivao concreta da universalidade do ethos na
prxis virtuosa.
30
suas implicaes mais radicais e tornar-se anunciadora de
novos paradigmas ticos, como foi o caso na vida e no en-
sinamento de Buda, de e de Jesus.
Seria, portanto, fixar-se em analogia superficial e, no
fundo, enganosa, pretender aproximar o conflito tico da
atitude sistematicamente contestatria da revolta contra os
valores e, com maior razo, desse imoralismo esttico pre-
conizado por literatos como Andr Gide e outros, e que
to profundamente penetrou a cultura ocidental no nosso
sculo.
66
Essas formas de crtica do ethos estariam mais
prximas do niilismo tico sem, contudo, alcanar-lhe a ra-
dicalidade. Quanto ao permissivismo anmico que se di-
funde na sociedade contempornea, representa uma deterio-
rao do ethos e no poderia ser confundido com o con-
flito tico, que traz consigo a exigncia de uma criao tica
superior.
67
Fenmenos como a contestao sistemtica dos
valores tradicionais, o amoralismo esttico ou o permissi-
vismo oferecem elementos para uma diagnose da crise mo-
ral das sociedades ocidentais, mas no a partir deles que
se podero descobrir os caminhos de um ideal tico supe-
rior ou de uma resposta positiva a essa crise.
Sendo um momento estrutural do dinamismo histrico
do ethos, o conflito tico deve, pois, ser caracterizado fun-
damentalmente como conflito de valores e no como sim-
ples revolta do indivduo contra a lei. n., Com efeito, den-
66. Nos fins do sculo XIX, Maurice Blondel j levara a cabo,
com profundidade e brilho, uma exposio e crtica do amoralismo
esttico (sob o nome de "atitude esttica" em face da necessidade da
ao) e do niilismo tico, na sua tese L'Action: essai d'une critique
de la vie et d'une science de la pratique (1893), ed., Paris, PUF,
1950, c. 1, pp. 1-22.
67. foroso concluir que a contestao gratuita, o amoralismo
e o estetismo permanecem no nvel do indivduo emprico e dos fins
subjetivos da sua praxis (utilidade, satisfao), ao passo que o con-
flito tico tem lugar no nvel do indivduo tico. Utilizando-se ca-
tegorias psicolgicas, poder-se-ia dizer que somente uma vivncia in-
tensa e uma profunda experincia do ethos existente tornam poss-
vel a descoberta de um novo ideal tico. Aplica-se aqui o ensinamen-
to paulino: o amor no a negao, mas a plenitude da lei (Rm
13,10).
68. Ver N. Hartmann, Ethik, II, 2, Berlim, De Gruyter, 1949,
.pp. 249ss. e Henri Bergson, Les deux soures de la morale et de la
religion (1932), Oeuvres (d. du Centenaire), Paris, PUF, 1959, pp.
1023-1029. No entanto, como j se observou (nota 39 supra), a dis-
tino bergsoniana repousa sobre um dualismo mais profundo e pro-
31
gao possvel), seja da ao eticamente m ou da falta,
que uma recusa da normatividade do ethos. Na verdade,
a falta tem lugar no interior do movimento que conduz
normalmente ao eticamente boa: ela assinala uma rup-
tura no processo de interiorizao do ethos como costume
no ethos como hbito ou como virtude.
62
O conflito tico se desenha, pois, como fenmeno cons-
titutivo do ethos que abriga em si a indeterminao carac-
terstica da liberdade.
6
" No risco do conflito tico, mani-
festa-se a fluidez e a labilidade da socialidade humana, es-
sencialmente distinta das rgidas formas associativas do
reino animal.
64
O conflito tico atesta igualmente a pe-
culiaridade da natureza histrica do ethos, em permanente
interao como novas situaes e novos desafios que se
configuram e se levantam ao longo do caminho da socie-
dade no tempo. Nesse sentido, o conflito tico no uma
eventualidade acidental mas uma componente estrutural da
historicidade do ethos. Ele se d propriamente no campo
dos valores e seu portador no o indivduo emprico,
65
mas o indivduo tico que se faz intrprete de novas e mais
profundas exigncias do ethos. Somente uma personalida-
de tica excepcional capaz de viver o conflito tico nas
62. o seguinte esquema complementa o esquema anterior da
nota 19:
Nlismo tico Prxis {indivduo emprico)
', /1',
' I '
' I '
(Sociedade l I
Costumes Ethos- - - - 1 - - - -Hxis
"":/
Prxis {indivduo tico)
Virtudes
Consenti-
mento
Recusa
(indivduo tico)
Hbitos
Realizao
Conflito
63. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, Darmstadt, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 1972, pp. 153-163; Eric Weil, Philoso-
phie morale, Paris, Vrin, pp. 22-27.
64. Ver infra cap. V, n. 1.
65. Pela de uma norma ou de um valor do ethos, o in-
divduo emprico bloqueia responsavelmente o movimento dialtico
que nele levaria efetivao concreta da universalidade do ethos na
prxis virtuosa.
30
suas implicaes mais radicais e tornar-se anunciadora de
novos paradigmas ticos, como foi o caso na vida e no en-
sinamento de Buda, de e de Jesus.
Seria, portanto, fixar-se em analogia superficial e, no
fundo, enganosa, pretender aproximar o conflito tico da
atitude sistematicamente contestatria da revolta contra os
valores e, com maior razo, desse imoralismo esttico pre-
conizado por literatos como Andr Gide e outros, e que
to profundamente penetrou a cultura ocidental no nosso
sculo.
66
Essas formas de crtica do ethos estariam mais
prximas do niilismo tico sem, contudo, alcanar-lhe a ra-
dicalidade. Quanto ao permissivismo anmico que se di-
funde na sociedade contempornea, representa uma deterio-
rao do ethos e no poderia ser confundido com o con-
flito tico, que traz consigo a exigncia de uma criao tica
superior.
67
Fenmenos como a contestao sistemtica dos
valores tradicionais, o amoralismo esttico ou o permissi-
vismo oferecem elementos para uma diagnose da crise mo-
ral das sociedades ocidentais, mas no a partir deles que
se podero descobrir os caminhos de um ideal tico supe-
rior ou de uma resposta positiva a essa crise.
Sendo um momento estrutural do dinamismo histrico
do ethos, o conflito tico deve, pois, ser caracterizado fun-
damentalmente como conflito de valores e no como sim-
ples revolta do indivduo contra a lei. n., Com efeito, den-
66. Nos fins do sculo XIX, Maurice Blondel j levara a cabo,
com profundidade e brilho, uma exposio e crtica do amoralismo
esttico (sob o nome de "atitude esttica" em face da necessidade da
ao) e do niilismo tico, na sua tese L'Action: essai d'une critique
de la vie et d'une science de la pratique (1893), ed., Paris, PUF,
1950, c. 1, pp. 1-22.
67. foroso concluir que a contestao gratuita, o amoralismo
e o estetismo permanecem no nvel do indivduo emprico e dos fins
subjetivos da sua praxis (utilidade, satisfao), ao passo que o con-
flito tico tem lugar no nvel do indivduo tico. Utilizando-se ca-
tegorias psicolgicas, poder-se-ia dizer que somente uma vivncia in-
tensa e uma profunda experincia do ethos existente tornam poss-
vel a descoberta de um novo ideal tico. Aplica-se aqui o ensinamen-
to paulino: o amor no a negao, mas a plenitude da lei (Rm
13,10).
68. Ver N. Hartmann, Ethik, II, 2, Berlim, De Gruyter, 1949,
.pp. 249ss. e Henri Bergson, Les deux soures de la morale et de la
religion (1932), Oeuvres (d. du Centenaire), Paris, PUF, 1959, pp.
1023-1029. No entanto, como j se observou (nota 39 supra), a dis-
tino bergsoniana repousa sobre um dualismo mais profundo e pro-
31
tro da unidade de um mesmo ethos que, de um lado, sedi-
mentam-se os costumes, normas e prticas que acabam por
constituir, atravs de causas histrico-culturais vrias, o
conjunto daquela que foi denominada por Bergson "moral
de presso", expresso do conformismo social e, de outro,
irrompem novos ideais ticos, novas formas de convivncia
e estilos de comportamento, abrindo caminho moral aber-
ta ou "moral de aspirao", ainda na terminologia bergso-
niana, e cujo aparecimento d origem, exatamente, ao con-
flito tico.
A peculiaridade dos traos que compem a figura his-
trica do conflito tico, sobretudo quando se delineia como
constelaes de valores situadas em plos opostos do uni-
verso social, inspira as explicaes redutivamente sociolo-
gizantes ou economicistas desse fenmeno, formulando-o
em termos de transposio ideolgica dos interesses de
classes dominantes e dominadas.
69
Conquanto apresentan-
do elementos vlidos de observao, tais explicaes no es-
capam ao unilateralismo e ao simplismo. Elas pressupem,
notadamente, uma concepo do homem pensado essencial-
mente como "ser de carncia", da qual decorre uma viso
puramente instrumentalista e utilitarista do ethos, incapaz
de dar razo da sua irrecusvel originalidade fenomenol-
gica.
O conflito tico , pois, um conflito de valores. No
caso exemplar da crise do mundo grego e, particularmente,
da democracia ateniense no sculo V a.C., que est nas
origens da civilizao ocidental, o a descoberta socrtica
da alma (psych)
71
, na verdade, uma reviravolta <Umsturz)
de valores que atinge os prprios fundamentos do ethos
tradicional, provocando esse profundo espanto e esse des-
priamente metafisico entre "esttico" e "dinmico", que no nos pa-
rece aceitvel. Ver ainda Ren Le Senne, Trait de Morale Gnrale,
Paris, PUF, 1942, pp. 294-304.
69. Ver, por exemplo, A. Snchez Vsquez, (tr. bras.), Rio
de Janeiro Civilizao Brasileira, 1978, pp. 183-195 e G. Fourez, Chob)
thique et' conditionnement social, op. cit., pp. 38-53; ainda, I. Fet-
scher Zum Problem der Ethik im Lichte der Marxschen Geschichts-
theorte, apud Probleme der Ethik zur Diskussion gestellt, Friburgo-
Munique, Alber, 1972, pp. 15-43.
70. Ver infra, cap. IV.
71. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek Culture, op. cit.,
li, pp. 38-46.
32
concerto nos contemporneos de que nos do testemunho
as pginas de Xenofonte e de Plato.
72
Mais radical ainda
se apresenta o conflito tico, e mais nitidamente vem luz
a especfica axiognica desse fenmeno nessa que
talvez a mais profunda revoluo moral da histria, leva-
da a cabo no anncio da tica evanglica do amor.
73
E nes-
ses casos paradigmticos que se mostra com definitiva cla-
reza a insuficincia das explicaes reducionistas e a pa-
tente inadequao do esquema da luta ideolgica para tra-
duzir a especificidade do conflito tico. Na verdade, o por-
tador de novos valores ticos e o instaurador de um espao
mais profundo e mais dilatado de exigncias do dever ser
no horizonte de um determinado ethos histrico (como
Scrates no mundo grego e Jesus no judasmo palestinen-
se) exerce implicitamente uma crtica da racionalizao
ideolgica ao transgredir obstinadamente
74
os limites da
esfera da utilidade e do interesse, e lanar seu apelo a par-
tir da gratuidade de um absoluto do bem e da justia.
E talvez a idia de transgresso que nos poder condu-
zir mais diretamente essncia mais ntima do conflito
tico, e completar com um ltimo trao a fenomenologia
do ethos. Originrio da Etnologia e da Psicanlise, o con-
ceito de transgresso acabou acolhido no pensamento tico
contemporneo, mas num sentido predominantemente ne-
gativo.
75
A transgresso pensada imediatamente em opo-
sio ao tabu, ao interdito e lei. Nesse sentido excluden-
te, a transgresso se define como a ruptura dos limites im-
postos ao indivduo por um ethos entendido segundo a re-
lao da exterioridade e da alienao: ela seria o reencon-
tro do indivduo com a sua identidade verdadeira e com a
sua liberdade, rompidas as cadeias do ethos. Mas, seme-
lhante conceito de transgresso no vai alm do nvel do
72. Ver G. Reale, Storia deZ pensiero antico, op. cit., I, pp. 312-
313.
73. Ver Max Scheler, Die christliche Liebesidee und die gegen-
wlirtige Welt apud Vom Ewigen im Menschen (Gesammelte Werke,
V), Berna, Francke Verlag, pp. 353-401 (aqui, pp. 371-377).
74. Segundo a invectiva indignada de Clicles a Scrates no Gr-
gias - a mais admirvel expresso dramtica do conflito tico. Ver
Grg. 491 e-492 c.
75. Ver Jacques Ellul, Les combats de la libert de la
libert, t. 3), Genebra-Paris, Labor et Fides-Le Centurion, 1984, pp.
70-85.
33
tro da unidade de um mesmo ethos que, de um lado, sedi-
mentam-se os costumes, normas e prticas que acabam por
constituir, atravs de causas histrico-culturais vrias, o
conjunto daquela que foi denominada por Bergson "moral
de presso", expresso do conformismo social e, de outro,
irrompem novos ideais ticos, novas formas de convivncia
e estilos de comportamento, abrindo caminho moral aber-
ta ou "moral de aspirao", ainda na terminologia bergso-
niana, e cujo aparecimento d origem, exatamente, ao con-
flito tico.
A peculiaridade dos traos que compem a figura his-
trica do conflito tico, sobretudo quando se delineia como
constelaes de valores situadas em plos opostos do uni-
verso social, inspira as explicaes redutivamente sociolo-
gizantes ou economicistas desse fenmeno, formulando-o
em termos de transposio ideolgica dos interesses de
classes dominantes e dominadas.
69
Conquanto apresentan-
do elementos vlidos de observao, tais explicaes no es-
capam ao unilateralismo e ao simplismo. Elas pressupem,
notadamente, uma concepo do homem pensado essencial-
mente como "ser de carncia", da qual decorre uma viso
puramente instrumentalista e utilitarista do ethos, incapaz
de dar razo da sua irrecusvel originalidade fenomenol-
gica.
O conflito tico , pois, um conflito de valores. No
caso exemplar da crise do mundo grego e, particularmente,
da democracia ateniense no sculo V a.C., que est nas
origens da civilizao ocidental, o a descoberta socrtica
da alma (psych)
71
, na verdade, uma reviravolta <Umsturz)
de valores que atinge os prprios fundamentos do ethos
tradicional, provocando esse profundo espanto e esse des-
priamente metafisico entre "esttico" e "dinmico", que no nos pa-
rece aceitvel. Ver ainda Ren Le Senne, Trait de Morale Gnrale,
Paris, PUF, 1942, pp. 294-304.
69. Ver, por exemplo, A. Snchez Vsquez, (tr. bras.), Rio
de Janeiro Civilizao Brasileira, 1978, pp. 183-195 e G. Fourez, Chob)
thique et' conditionnement social, op. cit., pp. 38-53; ainda, I. Fet-
scher Zum Problem der Ethik im Lichte der Marxschen Geschichts-
theorte, apud Probleme der Ethik zur Diskussion gestellt, Friburgo-
Munique, Alber, 1972, pp. 15-43.
70. Ver infra, cap. IV.
71. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek Culture, op. cit.,
li, pp. 38-46.
32
concerto nos contemporneos de que nos do testemunho
as pginas de Xenofonte e de Plato.
72
Mais radical ainda
se apresenta o conflito tico, e mais nitidamente vem luz
a especfica axiognica desse fenmeno nessa que
talvez a mais profunda revoluo moral da histria, leva-
da a cabo no anncio da tica evanglica do amor.
73
E nes-
ses casos paradigmticos que se mostra com definitiva cla-
reza a insuficincia das explicaes reducionistas e a pa-
tente inadequao do esquema da luta ideolgica para tra-
duzir a especificidade do conflito tico. Na verdade, o por-
tador de novos valores ticos e o instaurador de um espao
mais profundo e mais dilatado de exigncias do dever ser
no horizonte de um determinado ethos histrico (como
Scrates no mundo grego e Jesus no judasmo palestinen-
se) exerce implicitamente uma crtica da racionalizao
ideolgica ao transgredir obstinadamente
74
os limites da
esfera da utilidade e do interesse, e lanar seu apelo a par-
tir da gratuidade de um absoluto do bem e da justia.
E talvez a idia de transgresso que nos poder condu-
zir mais diretamente essncia mais ntima do conflito
tico, e completar com um ltimo trao a fenomenologia
do ethos. Originrio da Etnologia e da Psicanlise, o con-
ceito de transgresso acabou acolhido no pensamento tico
contemporneo, mas num sentido predominantemente ne-
gativo.
75
A transgresso pensada imediatamente em opo-
sio ao tabu, ao interdito e lei. Nesse sentido excluden-
te, a transgresso se define como a ruptura dos limites im-
postos ao indivduo por um ethos entendido segundo a re-
lao da exterioridade e da alienao: ela seria o reencon-
tro do indivduo com a sua identidade verdadeira e com a
sua liberdade, rompidas as cadeias do ethos. Mas, seme-
lhante conceito de transgresso no vai alm do nvel do
72. Ver G. Reale, Storia deZ pensiero antico, op. cit., I, pp. 312-
313.
73. Ver Max Scheler, Die christliche Liebesidee und die gegen-
wlirtige Welt apud Vom Ewigen im Menschen (Gesammelte Werke,
V), Berna, Francke Verlag, pp. 353-401 (aqui, pp. 371-377).
74. Segundo a invectiva indignada de Clicles a Scrates no Gr-
gias - a mais admirvel expresso dramtica do conflito tico. Ver
Grg. 491 e-492 c.
75. Ver Jacques Ellul, Les combats de la libert de la
libert, t. 3), Genebra-Paris, Labor et Fides-Le Centurion, 1984, pp.
70-85.
33
indivduo emprico que se recusa a obedecer ao movimento
de universalizao do ethos. Ela no , nesse caso, seno
uma sublimao da falta. Ora, a negatividade presente na
transgresso no se exprime adequadamente na negao
prpria da falta ou da revolta, que empenha to-somente
o primeiro e mais exguo momento da liberdade, vem a ser,
o livre-arbtrio do indivduo. Como manifestao da essn-
cia da liberdade ou do seu "momento terminal",
7
a a trans-
gresso, como mostra excelentemente Jacques Ellul,
77
su-
pe primeiramente a conscincia dos limites de uma liber-
dade situada. A partir desses limites reconhecidos e acei-
tos, o conflito tico coloca o indivduo em face do apelo
que surge de exigncias mais profundas e aparentemente
paradoxais do ethos: o apelo a sacrificar
78
o calmo reco-
nhecimento dos limites e a segurana protetora das formas
tradicionais desse mesmo ethos, e a lanar-se no risco de
um novo e mais radical caminho da liberdade. Tal a idia
de transgresso que perpassa, como um motivo fundamen-
tal, a tica neotestamentria
79
e que encontra sua expres-
so definitiva na palavra de Jesus: "Quem quiser, pois,
salvar sua vida a perder, mas quem perder sua vida por
minha causa e da Boa Nova, a salvar".
80
Conquanto imanente ao movimento do ethos, a trans-
gresso no , porm, como quer P. Tillich,
81
o desenlace
normal desse movimento, mas como que o transbordamen-
to de uma plenitude de liberdade que os limites do ethos
socialmente estabelecido no podem conter. Ela d, assim,
testemunho desse ethos do qual prorrompe e, ao mesmo
76. Ver infra, cap. III, fim.
77. Op. cit., pp. 71-73.
78. O momento negativo da "transgresso" na sua verdadeira
acepo tica reside, portanto, nesse sacrifcio, conscientemente acei-
to, da segurana dos limites traados pelo reconhecimento histrico
e social do ethos tradicional. Tem lugar aqui, na dialtica da liber-
dade tica, o princpio que Hegel enunciou na dialtica do saber do
Esprito: seine Grenzen wissen heisst sich aufzuopfern wissen (Phii-
nomenologie des Geistes, VIII; Werke, Suhrkamp, 3, p. 590).
79. Ver Jacques Ellul, op. cit., pp. 76-85.
80. Me 8,35; ver Mt 11,39; Lc 9,24; Jo 12,25. A pendncia entre
Francisco e seu pai na praa de Assis em tomo da pobreza constitui,
na histria do cristianismo, um dos episdios mais sublimes de "trans-
gresso" no sentido evanglico.
81. Ver a. nota de J. Ellul, op. cit., p. 82, n. 1.
34
tempo, anuncia o advento de um novo mundo de valores.
nessa face positiva da transgresso que a fora criadora
do conflito tico se apresenta ntida e irresistvel, desco-
brindo no seu fundo a prpria natureza do ethos. O ethos,
afinal, no seno o corpo histrico da liberdade, e o trao
do seu dinamismo infinito inscrito na finitude das pocas
e das culturas.
35
indivduo emprico que se recusa a obedecer ao movimento
de universalizao do ethos. Ela no , nesse caso, seno
uma sublimao da falta. Ora, a negatividade presente na
transgresso no se exprime adequadamente na negao
prpria da falta ou da revolta, que empenha to-somente
o primeiro e mais exguo momento da liberdade, vem a ser,
o livre-arbtrio do indivduo. Como manifestao da essn-
cia da liberdade ou do seu "momento terminal",
7
a a trans-
gresso, como mostra excelentemente Jacques Ellul,
77
su-
pe primeiramente a conscincia dos limites de uma liber-
dade situada. A partir desses limites reconhecidos e acei-
tos, o conflito tico coloca o indivduo em face do apelo
que surge de exigncias mais profundas e aparentemente
paradoxais do ethos: o apelo a sacrificar
78
o calmo reco-
nhecimento dos limites e a segurana protetora das formas
tradicionais desse mesmo ethos, e a lanar-se no risco de
um novo e mais radical caminho da liberdade. Tal a idia
de transgresso que perpassa, como um motivo fundamen-
tal, a tica neotestamentria
79
e que encontra sua expres-
so definitiva na palavra de Jesus: "Quem quiser, pois,
salvar sua vida a perder, mas quem perder sua vida por
minha causa e da Boa Nova, a salvar".
80
Conquanto imanente ao movimento do ethos, a trans-
gresso no , porm, como quer P. Tillich,
81
o desenlace
normal desse movimento, mas como que o transbordamen-
to de uma plenitude de liberdade que os limites do ethos
socialmente estabelecido no podem conter. Ela d, assim,
testemunho desse ethos do qual prorrompe e, ao mesmo
76. Ver infra, cap. III, fim.
77. Op. cit., pp. 71-73.
78. O momento negativo da "transgresso" na sua verdadeira
acepo tica reside, portanto, nesse sacrifcio, conscientemente acei-
to, da segurana dos limites traados pelo reconhecimento histrico
e social do ethos tradicional. Tem lugar aqui, na dialtica da liber-
dade tica, o princpio que Hegel enunciou na dialtica do saber do
Esprito: seine Grenzen wissen heisst sich aufzuopfern wissen (Phii-
nomenologie des Geistes, VIII; Werke, Suhrkamp, 3, p. 590).
79. Ver Jacques Ellul, op. cit., pp. 76-85.
80. Me 8,35; ver Mt 11,39; Lc 9,24; Jo 12,25. A pendncia entre
Francisco e seu pai na praa de Assis em tomo da pobreza constitui,
na histria do cristianismo, um dos episdios mais sublimes de "trans-
gresso" no sentido evanglico.
81. Ver a. nota de J. Ellul, op. cit., p. 82, n. 1.
34
tempo, anuncia o advento de um novo mundo de valores.
nessa face positiva da transgresso que a fora criadora
do conflito tico se apresenta ntida e irresistvel, desco-
brindo no seu fundo a prpria natureza do ethos. O ethos,
afinal, no seno o corpo histrico da liberdade, e o trao
do seu dinamismo infinito inscrito na finitude das pocas
e das culturas.
35
Captulo Segundo
DO ETHOS A TICA
1. ETHOS E CULTURA
Afirmar que o ethos co-extensivo cultura significa
afirmar a natureza essencialmente axiognica da ao hu-
mana, seja como agir propriamente dito (praxis), seja co-
mo fazer (poesis). O dualismo estrutural da ao mostra
uma distncia ineliminvel que nela se estabelece entre o
contedo e a significao, entre o dado e a inteno, entre
o determinismo imanente ao objeto da ao e o finaJismo
do agente. Assumida na intencionalidade da ao, a res
sobre a qual ela se exerce torna-se um opus (ergon) pro-
priamente dito, a sntese realizada entre a natureza do obje-
to e a operao do sujeito.
1
Trata-se, convm t-lo presen-
te, de uma sntese dialtica ou de uma identidade na di-
1. Como termo da ao, o objeto prgma, expresso obje-
tiva da praxis, ou ainda, se se tm em vista os fins subjetivos da
ao ou a utensilidade do objeto, ele chrema (o que til ou uti-
lizvel). No prgma se d, pois, a sntese entre o finis operantis e o
finis operis: ver Lima Vaz, Trabalho e contemplao apud Escritos
de Filosofia: problemas de fronteira, So Paulo, Ed. Loyola, 1986, pp.
122-140. A polissemia do termo prgma revela uma significao fun-
damental em que prgma sempre referido ao domnio d lingua-
gem e do sinal. Ver P. Hadot, Les divers sens du mot PRAGMA dans
la tradition philosophique grecque, apud P. Aubenque (dir.), Concepts
et catgories de la pense antque, Paris, Vrin, 1980, pp. 309-319. So-
bre a elaborao do conceito de prgma por Aristteles ver G. Ro-
meyer Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
Paris, L'Age de l'Homme, 1983.
36
ferena: a estrutura da ao se constitui em permanente
tenso com o seu objeto, e essa tenso que alimenta o
que Maurice Blondel denominou o "crescimento orgnico"
da ao,
2
o percurso do caminho entre o que o agente
e o que o agente tende a ser. No objeto como termo da
ao, no opus ou ergon, a transcendncia do sujeito ates-
tada exatamente pela forma simblica pela qual a forma
natural do objeto integrada no sistema da cultura ou no
sistema das significaes com que a sociedade e o indiv-
duo representam e organizam o mundo como mundo hu-
mano. Assim sendo, o universo das formas simblicas no
simtrico ao universo das formas naturais, e a dissime-
tria entre ambos se manifesta nesse excesso do smbolo
pelo qual a realidade submetida sua norma mensuran-
te: ela deve ser para o homem tal qual o smbolo a signi-
fica. Enquanto produtora de smbolos ou enquanto porta-
dora da significao do seu objeto, a ao manifesta desta
sorte uma propriedade constitutiva da sua natureza: ela
medida (mtron) das coisas e, enquanto tal, eleva-se sobre
o determinismo das coisas e penetra o espao da liberdade.
3
Essa propriedade caracteriza de maneira original e ni-
ca a ao humana e Aristteles a pe em evidncia refe-
rindo-se ao smbolo fundamental da linguagem,
4
ao definir
o homem como zon lgon chn
5
e ao fundamentar sobre
essa definio sua reflexo sobre a ao poltica. Ora, a
co-extensividade entre ethos e cultura se estabelece justa-
mente a partir do carter mensurante da ao com respei-
to realidade. Com efeito, se considerarmos a praxis como
a face subjetiva da cultura e o seu objeto enquanto prgma
2. L' Action: essai d'une critique de la vie et d'une science de
la pratique (1893), ed. cit., pp. 144ss. Essas pginas, hoje injusta-
mente esquecidas, constituem uma anlise inigualada, pelo vigor e
amplitude, do fenmeno da ao humana.
3. Na medida em que se estabelece entre a realidade e o sm-
bolo a distino entre o "em-si" e o "para-ns", o homem comea por
transcender a realidade ou objetiv-la: essa a raiz da liberdade e
da possibilidade radical do ethos. Ver J. B. Lotz, Die Person, das
Sein und das Gute, apud Sein und Ethos, op. cit., pp. 144-157; Wal-
ter Schulz, Philosophie in der veriinderten Welt, Pfllingen, Neske,
1974, pp. 704-705.
4. Para o estudo da linguagem como forma simblica funda-
mental, ver E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen Vol. I
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. ' '
5. Pol. I, 1, 1253 a 7-19; ver infra, cap. IV.
37
Captulo Segundo
DO ETHOS A TICA
1. ETHOS E CULTURA
Afirmar que o ethos co-extensivo cultura significa
afirmar a natureza essencialmente axiognica da ao hu-
mana, seja como agir propriamente dito (praxis), seja co-
mo fazer (poesis). O dualismo estrutural da ao mostra
uma distncia ineliminvel que nela se estabelece entre o
contedo e a significao, entre o dado e a inteno, entre
o determinismo imanente ao objeto da ao e o finaJismo
do agente. Assumida na intencionalidade da ao, a res
sobre a qual ela se exerce torna-se um opus (ergon) pro-
priamente dito, a sntese realizada entre a natureza do obje-
to e a operao do sujeito.
1
Trata-se, convm t-lo presen-
te, de uma sntese dialtica ou de uma identidade na di-
1. Como termo da ao, o objeto prgma, expresso obje-
tiva da praxis, ou ainda, se se tm em vista os fins subjetivos da
ao ou a utensilidade do objeto, ele chrema (o que til ou uti-
lizvel). No prgma se d, pois, a sntese entre o finis operantis e o
finis operis: ver Lima Vaz, Trabalho e contemplao apud Escritos
de Filosofia: problemas de fronteira, So Paulo, Ed. Loyola, 1986, pp.
122-140. A polissemia do termo prgma revela uma significao fun-
damental em que prgma sempre referido ao domnio d lingua-
gem e do sinal. Ver P. Hadot, Les divers sens du mot PRAGMA dans
la tradition philosophique grecque, apud P. Aubenque (dir.), Concepts
et catgories de la pense antque, Paris, Vrin, 1980, pp. 309-319. So-
bre a elaborao do conceito de prgma por Aristteles ver G. Ro-
meyer Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
Paris, L'Age de l'Homme, 1983.
36
ferena: a estrutura da ao se constitui em permanente
tenso com o seu objeto, e essa tenso que alimenta o
que Maurice Blondel denominou o "crescimento orgnico"
da ao,
2
o percurso do caminho entre o que o agente
e o que o agente tende a ser. No objeto como termo da
ao, no opus ou ergon, a transcendncia do sujeito ates-
tada exatamente pela forma simblica pela qual a forma
natural do objeto integrada no sistema da cultura ou no
sistema das significaes com que a sociedade e o indiv-
duo representam e organizam o mundo como mundo hu-
mano. Assim sendo, o universo das formas simblicas no
simtrico ao universo das formas naturais, e a dissime-
tria entre ambos se manifesta nesse excesso do smbolo
pelo qual a realidade submetida sua norma mensuran-
te: ela deve ser para o homem tal qual o smbolo a signi-
fica. Enquanto produtora de smbolos ou enquanto porta-
dora da significao do seu objeto, a ao manifesta desta
sorte uma propriedade constitutiva da sua natureza: ela
medida (mtron) das coisas e, enquanto tal, eleva-se sobre
o determinismo das coisas e penetra o espao da liberdade.
3
Essa propriedade caracteriza de maneira original e ni-
ca a ao humana e Aristteles a pe em evidncia refe-
rindo-se ao smbolo fundamental da linguagem,
4
ao definir
o homem como zon lgon chn
5
e ao fundamentar sobre
essa definio sua reflexo sobre a ao poltica. Ora, a
co-extensividade entre ethos e cultura se estabelece justa-
mente a partir do carter mensurante da ao com respei-
to realidade. Com efeito, se considerarmos a praxis como
a face subjetiva da cultura e o seu objeto enquanto prgma
2. L' Action: essai d'une critique de la vie et d'une science de
la pratique (1893), ed. cit., pp. 144ss. Essas pginas, hoje injusta-
mente esquecidas, constituem uma anlise inigualada, pelo vigor e
amplitude, do fenmeno da ao humana.
3. Na medida em que se estabelece entre a realidade e o sm-
bolo a distino entre o "em-si" e o "para-ns", o homem comea por
transcender a realidade ou objetiv-la: essa a raiz da liberdade e
da possibilidade radical do ethos. Ver J. B. Lotz, Die Person, das
Sein und das Gute, apud Sein und Ethos, op. cit., pp. 144-157; Wal-
ter Schulz, Philosophie in der veriinderten Welt, Pfllingen, Neske,
1974, pp. 704-705.
4. Para o estudo da linguagem como forma simblica funda-
mental, ver E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen Vol. I
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. ' '
5. Pol. I, 1, 1253 a 7-19; ver infra, cap. IV.
37
como a sua face objetiva,
6
veremos que a significao ou
a expresso simblica do prgma traduzem necessariamen-
te a funo mensurante da praxis, o dever-ser por ela con-
ferido ao seu objeto. E justamente na explicitao desse
mtron prprio da praxis que o ethos se constitui e se mos-
tra co-extensivo a todo o mbito da cultura.
7
, pois, a partir da prpria origem do universo das
formas simblicas que se desdobra a dimenso do ethos:
o homem habita o smbolo e exatamente como mtron,
como medida ou norma que o smbolo ethos, morada
do homem.
No entanto, esse n originrio onde se entrelaam
cultura e ethos tambm o lugar onde a experincia da
ao exigir a explicitao do seu carter normativo na
forma de um ethos no sentido estrito que acabar mos-
trando-se como mtron ou instncia normativa transcen-
dente prpria ao. como tal que ele penetrar o sis-
tema inteiro das formas simblicas ou todo o corpo da
cultura. Na verdade, a relao mensura-mensurado que se
estabelece entre o smbolo e a realidade tende a inverter-se
proporo em que a realidade, enquanto contedo do
smbolo, se apresenta como a realidade verdadeira ou sig-
nificada como tal. A transcendncia do sujeito sobre o obje-
to ou da praxis sobre o prgma, atestada na prolao do
smbolo, tende a ser suprassumida na transcendncia do
objeto significado ou do contedo do simbolo que, enquan-
to tal, eleva-se sobre a contingncia e a precariedade do
real imediatamente dado ou do real emprico, ao qual o
sujeito e sua ao permanecem irremediavelmente ligados.
Do mtron de Protgoras ao mtron de Plato, s o caminho
percorrido indica o sentido da transcendncia da medida,
6. Entendendo-se a correlao praxis-prgma como extensi-
va a todo o campo da ao, pois mesmo na atividade do "fazer"
(poesisJ e no seu objeto, existe uma intencionalidade especificamen-
te humana que procede da praxis.
7. Ver as reflexes de W. Thrillhaas, Bildung und Sittlichkeit,
apud Handbuch der christlichen Ethik, Friburgo-Basilia-Viena, Her-
der-G. Mohn, 1978, II, pp. 492-505; e sobretudo R. Bubner, Geschichte-
prozesse und Handlungsnormen, Untersuchungen zur praktischen Phi-
losophie, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 173-183.
8. Foi justamente na discusso com Protgoras que Scrates
definiu a virtude como "arte de medir" (metretike tchne, Prot. 356
d-e). Na sentena de Protgoras referida por Plato (Teet. 151 e Crt.
385 e 386 e Sesta Emprico (Adv. Math. VII, 60; ver D.-K. 80, B, 1) a
38
em torno da qual se desenvolver fundamentalmente a re-
flexo tica.
A questo se coloca nos seguintes termos: se a praxis
a medida das coisas, como ir estabelecer-se uma medida
para a prpria praxis, uma vez que, na sua contingncia e
particularidade, ela no pode ser medida para si inesma?
A impossibilidade do subjetivismo tico patenteia-se na di-
menso tica da cultura antes de encontrar sua expresso
terica na refutao socrtico-platnica do relativismo so-
fstico. Com efeito, em todos os grandes domnios das for-
mas simblicas, cuja articulao constitui o mundo da cultu-
ra, na linguagem, no mito, na arte, no saber, no trabalho,
na organizao social, o ethos ir encontrar expresses da
sua normatividade que se apresentam como transcenden-
tes ao efmera do indivduo. Enquanto mundo objetivo
de realidades simbolicamente significadas e que tende, pela
tradio, a perpetuar-se no tempo, a cultura mostra, assim,
toda uma face voltada para o dever-ser do indivduo e no
apenas para a continuao do. seu ser: nela o indivduo
encontra, alm do sistema tcnico que assegura a sua so-
brevivncia, ainda e sobretudo o sistema normativo que
lhe impe sua auto-realizao. A cultura tem, portanto, uma
tradio leu a frmula acabada do relativismo gnosiolgico: pnton
chremton mtron est'tn nthropos, tn mim nton s stin, tn de ouk
nton os ouk stin. Mtron se interpreta aqui, segundo Plato, no
sentido de kritrion (ver M. Untersteiner, I Sofisti: testimonianze e
frammenti, Florena, La Nuova Italia, 1949, p. 72 e nota).
que seja a interpretao que se proponha da sentena de Protagoras
(ver a acurada discusso filosfica e filolgica de W. C. K. Guthrie,
A history of Greek Philosophy, I, pp. 183-192; e, ainda, A. J. Festugiere,
Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris, Vrin, 1950,
app. III, pp. 467-471 e G. Vlastos, Protagoras, supra, cap. I, n. 30), ela
constitui o primeiro momento terico da dialtica da medida que
parte da submisso das coisas medida do homem ou medida do
seu conhecimento e ao (as coisas so, ento, t chrmat, "o que
serve ao homem") e termina, seja na submisso do homem e das
suas coisas a Deus (Plato, Leis, IV, 716 c, refere-se explicitamente
ao dito de Protgor.as e retm o termo chrmata), seja na submisso
do cognoscente medida da verdade das coisas (Aristteles, Met., X, 1,
1053 a 30-b3 tambm com referncia a Protgoras). Ver ainda Met.
x 1 1053 a '31-b3. A sntese entre a teologia platnica e a gnosiologia
a;istotlica ser operada por Toms de Aquino, que distingue entre
a mensurao ativa da praxis (intellectus practicus), o ser mensurado
do conhecimento especulativo finito e a medida absoluta da Inteli-
gncia divina criadora <De Verit. q. I, a.2 c.; q. XVI, a.1 c; a.7;
I IIae, q. 93, a.1 ad 1m; S.C.G. I, c. 62, Ampllus).
39
como a sua face objetiva,
6
veremos que a significao ou
a expresso simblica do prgma traduzem necessariamen-
te a funo mensurante da praxis, o dever-ser por ela con-
ferido ao seu objeto. E justamente na explicitao desse
mtron prprio da praxis que o ethos se constitui e se mos-
tra co-extensivo a todo o mbito da cultura.
7
, pois, a partir da prpria origem do universo das
formas simblicas que se desdobra a dimenso do ethos:
o homem habita o smbolo e exatamente como mtron,
como medida ou norma que o smbolo ethos, morada
do homem.
No entanto, esse n originrio onde se entrelaam
cultura e ethos tambm o lugar onde a experincia da
ao exigir a explicitao do seu carter normativo na
forma de um ethos no sentido estrito que acabar mos-
trando-se como mtron ou instncia normativa transcen-
dente prpria ao. como tal que ele penetrar o sis-
tema inteiro das formas simblicas ou todo o corpo da
cultura. Na verdade, a relao mensura-mensurado que se
estabelece entre o smbolo e a realidade tende a inverter-se
proporo em que a realidade, enquanto contedo do
smbolo, se apresenta como a realidade verdadeira ou sig-
nificada como tal. A transcendncia do sujeito sobre o obje-
to ou da praxis sobre o prgma, atestada na prolao do
smbolo, tende a ser suprassumida na transcendncia do
objeto significado ou do contedo do simbolo que, enquan-
to tal, eleva-se sobre a contingncia e a precariedade do
real imediatamente dado ou do real emprico, ao qual o
sujeito e sua ao permanecem irremediavelmente ligados.
Do mtron de Protgoras ao mtron de Plato, s o caminho
percorrido indica o sentido da transcendncia da medida,
6. Entendendo-se a correlao praxis-prgma como extensi-
va a todo o campo da ao, pois mesmo na atividade do "fazer"
(poesisJ e no seu objeto, existe uma intencionalidade especificamen-
te humana que procede da praxis.
7. Ver as reflexes de W. Thrillhaas, Bildung und Sittlichkeit,
apud Handbuch der christlichen Ethik, Friburgo-Basilia-Viena, Her-
der-G. Mohn, 1978, II, pp. 492-505; e sobretudo R. Bubner, Geschichte-
prozesse und Handlungsnormen, Untersuchungen zur praktischen Phi-
losophie, Frankfurt, Suhrkamp, 1984, pp. 173-183.
8. Foi justamente na discusso com Protgoras que Scrates
definiu a virtude como "arte de medir" (metretike tchne, Prot. 356
d-e). Na sentena de Protgoras referida por Plato (Teet. 151 e Crt.
385 e 386 e Sesta Emprico (Adv. Math. VII, 60; ver D.-K. 80, B, 1) a
38
em torno da qual se desenvolver fundamentalmente a re-
flexo tica.
A questo se coloca nos seguintes termos: se a praxis
a medida das coisas, como ir estabelecer-se uma medida
para a prpria praxis, uma vez que, na sua contingncia e
particularidade, ela no pode ser medida para si inesma?
A impossibilidade do subjetivismo tico patenteia-se na di-
menso tica da cultura antes de encontrar sua expresso
terica na refutao socrtico-platnica do relativismo so-
fstico. Com efeito, em todos os grandes domnios das for-
mas simblicas, cuja articulao constitui o mundo da cultu-
ra, na linguagem, no mito, na arte, no saber, no trabalho,
na organizao social, o ethos ir encontrar expresses da
sua normatividade que se apresentam como transcenden-
tes ao efmera do indivduo. Enquanto mundo objetivo
de realidades simbolicamente significadas e que tende, pela
tradio, a perpetuar-se no tempo, a cultura mostra, assim,
toda uma face voltada para o dever-ser do indivduo e no
apenas para a continuao do. seu ser: nela o indivduo
encontra, alm do sistema tcnico que assegura a sua so-
brevivncia, ainda e sobretudo o sistema normativo que
lhe impe sua auto-realizao. A cultura tem, portanto, uma
tradio leu a frmula acabada do relativismo gnosiolgico: pnton
chremton mtron est'tn nthropos, tn mim nton s stin, tn de ouk
nton os ouk stin. Mtron se interpreta aqui, segundo Plato, no
sentido de kritrion (ver M. Untersteiner, I Sofisti: testimonianze e
frammenti, Florena, La Nuova Italia, 1949, p. 72 e nota).
que seja a interpretao que se proponha da sentena de Protagoras
(ver a acurada discusso filosfica e filolgica de W. C. K. Guthrie,
A history of Greek Philosophy, I, pp. 183-192; e, ainda, A. J. Festugiere,
Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris, Vrin, 1950,
app. III, pp. 467-471 e G. Vlastos, Protagoras, supra, cap. I, n. 30), ela
constitui o primeiro momento terico da dialtica da medida que
parte da submisso das coisas medida do homem ou medida do
seu conhecimento e ao (as coisas so, ento, t chrmat, "o que
serve ao homem") e termina, seja na submisso do homem e das
suas coisas a Deus (Plato, Leis, IV, 716 c, refere-se explicitamente
ao dito de Protgor.as e retm o termo chrmata), seja na submisso
do cognoscente medida da verdade das coisas (Aristteles, Met., X, 1,
1053 a 30-b3 tambm com referncia a Protgoras). Ver ainda Met.
x 1 1053 a '31-b3. A sntese entre a teologia platnica e a gnosiologia
a;istotlica ser operada por Toms de Aquino, que distingue entre
a mensurao ativa da praxis (intellectus practicus), o ser mensurado
do conhecimento especulativo finito e a medida absoluta da Inteli-
gncia divina criadora <De Verit. q. I, a.2 c.; q. XVI, a.1 c; a.7;
I IIae, q. 93, a.1 ad 1m; S.C.G. I, c. 62, Ampllus).
39
dimenso axiolgica que constitutiva da sua natureza e
em virtude da qual ela define para o homem no somente
um "espao de vida" (Lebensraum), mas outrossim, segun-
do a expresso de E. Rothacker, um "estilo de vida" (Le-
bensstil).
9
Desse ponto de vista, as definies puramente
descritivas da cultura so notoriamente insuficientes para
traduzir a originalidade da viso do mundo e da idia do
homem subjacentes diversidade histrica das culturas.
Desta sorte, seja no sentido restrito de "cultura do espri-
to", seja no sentido amplo da sua distino com a "natu-
reza", a cultura inseparvel do ethos ou a cultura - toda
cultura - constitutivamente tica.
10
Ao expormos os preliminares semnticos a uma feno-
menologia do ethos (cap. I, n. 1), vimos como o primeiro
e mais fundamental sistema de smbolos sobre o qual as-
senta a cultura, a saber, a linguagem, igualmente o lugar
primeiro de manifestao da normatividade do ethos e da
peculiaridade de uma estrutura lgico-dialtica que, no ter-
mo ethos e nos seus derivados, e na constelao dos termos
que constituem o ncleo semntico fundamental da lingua-
gem tica,
11
pe mostra o crculo dialtico constitutivo
do ethos que une a universalidade do costume singula-
ridade da praxis.
1
2
reconhecidamente na religio que o ethos encontra
sua expresso cultural mais antiga e mais universal. De
fato, o mito e a crena aparecem como "a linguagem mais
antiga da conscincia moral", 1a e o caminho mais seguro
encontrado pelas sociedades para fundamentar numa ins-
tncia transcendente a normatividade imanente ao hu-
mana e assegurar assim, com a garantia de um poder le-
gislador e julgador revestido do prestgio do sagrado, a
objetividade e a fora obrigatria das normas e interditos.
A origem religiosa das noes morais permanece uma ques-
9. E. Rothacker, Probleme der Kulturanthropologie, Colnia, H.
Bouvier, 1948, p. 191. Ou ainda uma "forma de vida" (Lebenstorml
segundo J. Messner, Kulturethik, op. cit., pp. 345ss.
10. Ver J. Messner, Kulturethik, pp. 339-340.
11. Tem-se em vista aqui, primeiramente, a lngua grega que
a lngua filosfica kat' exochn.
12. A atualidade dos problemas da relao entre ethos e lin-
guagem evidencia-se na vasta bibliografia a respeito. Ver E. Rionda-
to, Ricerche di Filosofia morale, op. cit., cap. I, n. 6. Ver infra cap.
II.
13. N. Hartmann, Ethik, op. cit., pp. 66-68.
40
to discutida,
14
e bem assim, a fundamentao do valor ti-
co na sua relao com o sagrad0.
15
sabido, por outro
lado, que a esfera do ethos, na sua linguagem e na sua
expresso conceptual, tende historicamente a se distinguir
da esfera do religioso e do sagrado, no obstante a "mo-
tivao religiosa" permanecer, talvez, a mais universal das
motivaes que alimentam o agir tico.
16
certo que a auto-
nomia do domnio da moralidade constitui, sobretudo de-
pois da crtica kantiana da Razo prtica, um dos pontos
salientes da reflexo tica moderna. Ora, como em Kant,
ela afirmada a partir da aprioridade formal da moralida-
de, ora, como em F. Schleiermacher e S. Kierkegaard,
reconhecida como condio para se preservar a originali-
dade do sagrado e do religioso.
17
Como quer que seja, a expresso do ethos na forma
do ensinamento e do comportamento religiosos um fato
universal de cultura,
18
e impossvel separar, na histria
das grandes civilizaes, tradio tica e tradio religio-
sa.19 Desse ponto de vista, o processo histrico-cultural
que se encaminha, na civilizao ocidental, para a sua au-
tonomia recproca ou, mais exatamente, para a laicizao
do ethos, assinala igualmente uma das mais graves crises,
entre as historicamente conhecidas, da tradio tica de
uma grande civilizao. O desfecho dessa crise permanece
incerto, mas ela aponta com dramtica evidncia, para o
14. Ver G. Harkness, The sources of western morality, Nova
Iorque, Charles Scribner's Son, 1954.
15. Ver Theodor Steinbchel, Die philosophische Grundlegung
der katholischen Sittenlehre, Dsseldorf, Schwann, 1939, II, pp. 219-
-241.
16. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit., pp.
22-34.
17. Ver B. Hring, Le Sacr et le Bien: religion et moralit
dans ses rapports mutuels (tr. fr.) Paris, Fleurus, 1963, p. 121. Para
Schleiermacher, o "sagrado" objeto do "sentimento", o "tico" da
vontade. Kierkegaard, por sua vez, distingue um "estdio tico" de
um "estdio religioso" da existncia.
18. Sobre as relaes entre o "sagrado" e o "valor" ver, en-
tretanto a discusso clssica de Rudolf Otto, Das Heilige: ber das
Irrationle in der Idee des gttlichen und sein Verhiiltnis zum Ra-
tionalen, 2 6 ~ ed., Munique, Biederstein Verlag, 1947, pp. 62-69; Th.
Steinbchel, op. cit., II, pp. 225-236.
19. Ver o artigo Sittlichkeit de G. Fohrer, E. L. Dietrich, e W.
G. Kmmel in Die Religion in Geschichte und Gegenwart, VI, pp.
66-80; e Paul Valadier, Morale et vie spirituelle, apud Dictionnaire de
Spiritualit (Paris, Beauchesne), X, pp. 1697-1717 (v. 1705ss.).
41
dimenso axiolgica que constitutiva da sua natureza e
em virtude da qual ela define para o homem no somente
um "espao de vida" (Lebensraum), mas outrossim, segun-
do a expresso de E. Rothacker, um "estilo de vida" (Le-
bensstil).
9
Desse ponto de vista, as definies puramente
descritivas da cultura so notoriamente insuficientes para
traduzir a originalidade da viso do mundo e da idia do
homem subjacentes diversidade histrica das culturas.
Desta sorte, seja no sentido restrito de "cultura do espri-
to", seja no sentido amplo da sua distino com a "natu-
reza", a cultura inseparvel do ethos ou a cultura - toda
cultura - constitutivamente tica.
10
Ao expormos os preliminares semnticos a uma feno-
menologia do ethos (cap. I, n. 1), vimos como o primeiro
e mais fundamental sistema de smbolos sobre o qual as-
senta a cultura, a saber, a linguagem, igualmente o lugar
primeiro de manifestao da normatividade do ethos e da
peculiaridade de uma estrutura lgico-dialtica que, no ter-
mo ethos e nos seus derivados, e na constelao dos termos
que constituem o ncleo semntico fundamental da lingua-
gem tica,
11
pe mostra o crculo dialtico constitutivo
do ethos que une a universalidade do costume singula-
ridade da praxis.
1
2
reconhecidamente na religio que o ethos encontra
sua expresso cultural mais antiga e mais universal. De
fato, o mito e a crena aparecem como "a linguagem mais
antiga da conscincia moral", 1a e o caminho mais seguro
encontrado pelas sociedades para fundamentar numa ins-
tncia transcendente a normatividade imanente ao hu-
mana e assegurar assim, com a garantia de um poder le-
gislador e julgador revestido do prestgio do sagrado, a
objetividade e a fora obrigatria das normas e interditos.
A origem religiosa das noes morais permanece uma ques-
9. E. Rothacker, Probleme der Kulturanthropologie, Colnia, H.
Bouvier, 1948, p. 191. Ou ainda uma "forma de vida" (Lebenstorml
segundo J. Messner, Kulturethik, op. cit., pp. 345ss.
10. Ver J. Messner, Kulturethik, pp. 339-340.
11. Tem-se em vista aqui, primeiramente, a lngua grega que
a lngua filosfica kat' exochn.
12. A atualidade dos problemas da relao entre ethos e lin-
guagem evidencia-se na vasta bibliografia a respeito. Ver E. Rionda-
to, Ricerche di Filosofia morale, op. cit., cap. I, n. 6. Ver infra cap.
II.
13. N. Hartmann, Ethik, op. cit., pp. 66-68.
40
to discutida,
14
e bem assim, a fundamentao do valor ti-
co na sua relao com o sagrad0.
15
sabido, por outro
lado, que a esfera do ethos, na sua linguagem e na sua
expresso conceptual, tende historicamente a se distinguir
da esfera do religioso e do sagrado, no obstante a "mo-
tivao religiosa" permanecer, talvez, a mais universal das
motivaes que alimentam o agir tico.
16
certo que a auto-
nomia do domnio da moralidade constitui, sobretudo de-
pois da crtica kantiana da Razo prtica, um dos pontos
salientes da reflexo tica moderna. Ora, como em Kant,
ela afirmada a partir da aprioridade formal da moralida-
de, ora, como em F. Schleiermacher e S. Kierkegaard,
reconhecida como condio para se preservar a originali-
dade do sagrado e do religioso.
17
Como quer que seja, a expresso do ethos na forma
do ensinamento e do comportamento religiosos um fato
universal de cultura,
18
e impossvel separar, na histria
das grandes civilizaes, tradio tica e tradio religio-
sa.19 Desse ponto de vista, o processo histrico-cultural
que se encaminha, na civilizao ocidental, para a sua au-
tonomia recproca ou, mais exatamente, para a laicizao
do ethos, assinala igualmente uma das mais graves crises,
entre as historicamente conhecidas, da tradio tica de
uma grande civilizao. O desfecho dessa crise permanece
incerto, mas ela aponta com dramtica evidncia, para o
14. Ver G. Harkness, The sources of western morality, Nova
Iorque, Charles Scribner's Son, 1954.
15. Ver Theodor Steinbchel, Die philosophische Grundlegung
der katholischen Sittenlehre, Dsseldorf, Schwann, 1939, II, pp. 219-
-241.
16. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit., pp.
22-34.
17. Ver B. Hring, Le Sacr et le Bien: religion et moralit
dans ses rapports mutuels (tr. fr.) Paris, Fleurus, 1963, p. 121. Para
Schleiermacher, o "sagrado" objeto do "sentimento", o "tico" da
vontade. Kierkegaard, por sua vez, distingue um "estdio tico" de
um "estdio religioso" da existncia.
18. Sobre as relaes entre o "sagrado" e o "valor" ver, en-
tretanto a discusso clssica de Rudolf Otto, Das Heilige: ber das
Irrationle in der Idee des gttlichen und sein Verhiiltnis zum Ra-
tionalen, 2 6 ~ ed., Munique, Biederstein Verlag, 1947, pp. 62-69; Th.
Steinbchel, op. cit., II, pp. 225-236.
19. Ver o artigo Sittlichkeit de G. Fohrer, E. L. Dietrich, e W.
G. Kmmel in Die Religion in Geschichte und Gegenwart, VI, pp.
66-80; e Paul Valadier, Morale et vie spirituelle, apud Dictionnaire de
Spiritualit (Paris, Beauchesne), X, pp. 1697-1717 (v. 1705ss.).
41
fato de que a relao entre o ethos e as expresses simb-
licas de uma cultura - entre as quais singularmente a
religio- constitutiva do prprio ethos. No campo dessa
relao, traa-se o caminho trilhado at hoje pelas socie-
dades humanas para assegurar ao do indivduo, na sua
necessria estrutura normativa, uma instncia reguladora
objetiva e universal que a eleve sobre a contingncia em-
prica do seu acontecer. As tentativas de se suscitar um
ethos artificialmente anti-religioso em alguns estados do so-
cialismo autoritrio revelam eloqentemente, luz dessa
concluso, a profundidade dessas camadas culturais onde
ethos e crena religiosa entrelaam suas razes.
A relao entre o ethos e essa outra forma fundamen-
tal de expresso da cultura que o saber apresenta-se, por
sua vez, particularmente importante pois ser assumindo a
forma do saber demonstrativo que, na tradio ocidental,
o ethos ir constituir-se como linguagem universal codifi-
cada e socialmente reconhecida como tal, ou seja, como
tica.
As primeiras formas de saber em que o ethos se ex-
prime so, de um lado, o mito e, de outro a sabedoria da
vida, estilizada em legendas, fbulas, parbolas e na sabe-
doria gnmica (mximas e provrbios) .
20
A essencial rela-
o entre o mito e o ethos manifesta-se seja na funo did-
tica do mito enquanto ensinamento sobre a realidade, seja
na sua funo educadora e ordenadora, enquanto assinala
ao homem seu lugar e ao humana seus limites na ordem
csmica. O mito no somente descreve, mas igualmente
prescreve, e esse carter prescritivo ou propriamente tico
se mostra com particular nitidez na passagem do "tema
mtico" narrao mtica como tal.
21
J a sabedoria da
vida aparece como o lugar privilegiado da formao da
linguagem do ethos.
22
Se acompanharmos a formao do
vocabulrio tico na Grcia que ir constituir, juntamente
com os termos correspondentes do vocabulrio latino, o
vocabulrio bsico da tica ocidental, veremos que atra-
20. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit., pp.
112ss.
21. Ver G. Mainberger, Sein und Sitte im Mythos, apud P. En-
gelhardt (org.), Sein und Ethos, Mainz, Mathias Grnewald, 1963,
pp. 37-55.
22. Ver. J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente, Madri, Re-
vista de Occidente, 1957, pp. 261ss.
42
vs das formas literariamente estilizadas da sabedoria da
vida que tal vocabulrio nos transmitido.
23
atravs dos
matizes desse vocabulrio que iremos conhecer as conste-
laes tpicas de valores que estruturam em formas diver-
sas o ethos arcaico grego: um ethos aristocrtico e guer-
reiro (Homero, Teognis de Megara, Pndaro ... ) e um ethos
popular e laborioso (sabedoria gnmica, Hesodo nos Tra-
balhos e Dias, . .. ) .
24
Um dos traos importantes no ethos
da sabedoria da vida o fato de que essa sabedoria se
apresente como expresso da prpria natureza e faa apelo,
portanto, a uma vontade que se mantm no terreno da-
quelas que se consideram exigncias essenciais da vida, aci-
ma das flutuaes do arbtrio individual.
25
Assim, atravs
da sabedoria da vida, manifesta-se essa analogia entre a
regularidade da natureza e a constncia e regularidade do
ethos, na qual a tica como cincia do ethos ir encontrar
seu ponto de partida e seu motivo fundamental.
26
2. NASCIMENTO DA CINCIA DO ETHOS
O aparecimento de uma cincia do ethos nas origens
da cultura ocidental
27
constitui um dos aspectos mais no-
tveis e de mais extraordinria significao dessa profunda
transformao do mundo grego que teve lugar nos sculos
VII e VI a.C., e da qual procede o ciclo civilizatrio no
qual ainda hoje nos movemos. A cincia do ethos surge
23. Ver Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, op. cit., pp. 19-40;
60-63. E ainda Max Pohlenz, L'uomo greco, op. cit., pp. 571-661.
24. Ver, por exemplo, W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek
culture, vol. I, c. 4 e c. 10; J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie, op.
cit., pp. 107-197 (sobre Hesodo).
25. Segundo a conhecida distino de F. Tnnies entre a "von-
tade essencial" (Wesenswille) vigente na "comunidade" (Gemein-
schaftJ, contradistinta da "vontade de arbtrio" (Willkrwille) domi-
nante na "sociedade" (Gesellschaftl.
26. A analogia que funda a "naturalidade" dos preceitos da "sa-
bedoria da vida" tanto mais ntida quanto mais universal a for-
mulao de tais preceitos, como acontece no caso da chamada "re-
gra de ouro" (ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit.,
p. 127). Eis como essa regra enunciada por um autor medieval:
" ... et legem illam naturalem qua nemini facere vult quid sibi fieri
noluerit omnibusque facere vult inquantum potest quaecumque ab
aliis sibi vult fieri". (G. de Saint Thierry, Speculum fidei, 77, Sour-
ces Chrtiennes, n. 301, pp. 144-146.)
27. Ver infra, cap. IV.
43
fato de que a relao entre o ethos e as expresses simb-
licas de uma cultura - entre as quais singularmente a
religio- constitutiva do prprio ethos. No campo dessa
relao, traa-se o caminho trilhado at hoje pelas socie-
dades humanas para assegurar ao do indivduo, na sua
necessria estrutura normativa, uma instncia reguladora
objetiva e universal que a eleve sobre a contingncia em-
prica do seu acontecer. As tentativas de se suscitar um
ethos artificialmente anti-religioso em alguns estados do so-
cialismo autoritrio revelam eloqentemente, luz dessa
concluso, a profundidade dessas camadas culturais onde
ethos e crena religiosa entrelaam suas razes.
A relao entre o ethos e essa outra forma fundamen-
tal de expresso da cultura que o saber apresenta-se, por
sua vez, particularmente importante pois ser assumindo a
forma do saber demonstrativo que, na tradio ocidental,
o ethos ir constituir-se como linguagem universal codifi-
cada e socialmente reconhecida como tal, ou seja, como
tica.
As primeiras formas de saber em que o ethos se ex-
prime so, de um lado, o mito e, de outro a sabedoria da
vida, estilizada em legendas, fbulas, parbolas e na sabe-
doria gnmica (mximas e provrbios) .
20
A essencial rela-
o entre o mito e o ethos manifesta-se seja na funo did-
tica do mito enquanto ensinamento sobre a realidade, seja
na sua funo educadora e ordenadora, enquanto assinala
ao homem seu lugar e ao humana seus limites na ordem
csmica. O mito no somente descreve, mas igualmente
prescreve, e esse carter prescritivo ou propriamente tico
se mostra com particular nitidez na passagem do "tema
mtico" narrao mtica como tal.
21
J a sabedoria da
vida aparece como o lugar privilegiado da formao da
linguagem do ethos.
22
Se acompanharmos a formao do
vocabulrio tico na Grcia que ir constituir, juntamente
com os termos correspondentes do vocabulrio latino, o
vocabulrio bsico da tica ocidental, veremos que atra-
20. Ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit., pp.
112ss.
21. Ver G. Mainberger, Sein und Sitte im Mythos, apud P. En-
gelhardt (org.), Sein und Ethos, Mainz, Mathias Grnewald, 1963,
pp. 37-55.
22. Ver. J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente, Madri, Re-
vista de Occidente, 1957, pp. 261ss.
42
vs das formas literariamente estilizadas da sabedoria da
vida que tal vocabulrio nos transmitido.
23
atravs dos
matizes desse vocabulrio que iremos conhecer as conste-
laes tpicas de valores que estruturam em formas diver-
sas o ethos arcaico grego: um ethos aristocrtico e guer-
reiro (Homero, Teognis de Megara, Pndaro ... ) e um ethos
popular e laborioso (sabedoria gnmica, Hesodo nos Tra-
balhos e Dias, . .. ) .
24
Um dos traos importantes no ethos
da sabedoria da vida o fato de que essa sabedoria se
apresente como expresso da prpria natureza e faa apelo,
portanto, a uma vontade que se mantm no terreno da-
quelas que se consideram exigncias essenciais da vida, aci-
ma das flutuaes do arbtrio individual.
25
Assim, atravs
da sabedoria da vida, manifesta-se essa analogia entre a
regularidade da natureza e a constncia e regularidade do
ethos, na qual a tica como cincia do ethos ir encontrar
seu ponto de partida e seu motivo fundamental.
26
2. NASCIMENTO DA CINCIA DO ETHOS
O aparecimento de uma cincia do ethos nas origens
da cultura ocidental
27
constitui um dos aspectos mais no-
tveis e de mais extraordinria significao dessa profunda
transformao do mundo grego que teve lugar nos sculos
VII e VI a.C., e da qual procede o ciclo civilizatrio no
qual ainda hoje nos movemos. A cincia do ethos surge
23. Ver Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, op. cit., pp. 19-40;
60-63. E ainda Max Pohlenz, L'uomo greco, op. cit., pp. 571-661.
24. Ver, por exemplo, W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek
culture, vol. I, c. 4 e c. 10; J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie, op.
cit., pp. 107-197 (sobre Hesodo).
25. Segundo a conhecida distino de F. Tnnies entre a "von-
tade essencial" (Wesenswille) vigente na "comunidade" (Gemein-
schaftJ, contradistinta da "vontade de arbtrio" (Willkrwille) domi-
nante na "sociedade" (Gesellschaftl.
26. A analogia que funda a "naturalidade" dos preceitos da "sa-
bedoria da vida" tanto mais ntida quanto mais universal a for-
mulao de tais preceitos, como acontece no caso da chamada "re-
gra de ouro" (ver H. H. Schrey, Einfhrung in die Ethik, op. cit.,
p. 127). Eis como essa regra enunciada por um autor medieval:
" ... et legem illam naturalem qua nemini facere vult quid sibi fieri
noluerit omnibusque facere vult inquantum potest quaecumque ab
aliis sibi vult fieri". (G. de Saint Thierry, Speculum fidei, 77, Sour-
ces Chrtiennes, n. 301, pp. 144-146.)
27. Ver infra, cap. IV.
43
no contexto mais vasto de uma mudana radical no estatu-
to social do discurso (lagos) e que Mareei Dtienne desig-
nou como "laicizao da palavra".
28
Ela assinala a pas-
sagem do lagos mtico e sapiencial ao lagos epistmico e
d incio ao ciclo histrico da cincia na cultura ocidental.
A formao de um lagos que busca exprimir a ordem
do mundo na ordem das razes, que parte de um primeiro
princpio (arqu) e que, portanto, conduzido a elaborar
a primeira noo cientfica de "natureza" (physis),
29
re-
percute tambm sobre os diversos tipos de lgoi que falam
da conduta da vida e do sentido da ao humana. Com
efeito, como no tentar transpor para o registro do inci-
piente discurso demonstrativo a viso unitria do mito
que submete a uma nica e suprema lei o universo, os
deuses e os homens? Esse o propsito que transparece
no clebre fragmento 1 de Anaximandro.
30
Mas essa trans-
posio esbarra na noo de destino ( moira) que essencial
ao mito, mas inassimilvel por um discurso sobre a ao
humana que se pretenda racional. Anaximandro ponderou,
sem dvida, essa dificuldade e da seu intento de unir o
cosmos, os deuses e os homens, em virtude de uma gnese
comum, necessidade de uma mesma lei universal.
31
A ana-
logia entre a physis e o ethos ser, assim, o primeiro ter-
reno sobre o qual comear a edificar-se uma cincia do
ethos, acompanhando o brilhante desenvolvimento da cin-
cia da physis que marca os primeiros dois sculos do pen-
samento grego. Tal analogia estimulada pelo fato de que
a formao do vocabulrio tico, como foi observado,
32
obedece lei da transposio metafrica das propriedades
fsicas do indivduo s suas qualidades morais, fazendo as-
28. M. Dtienne, Les maitres de vrit dans la Grece archaique,
Paris, Maspro, 1967, pp. 81-193.
29. Ultrapassaria os limites previstos para estas pginas o apro-
fundamento do complexo problema das origens do pensamento fi-
losfico-cientfico entre os gregos. Os grandes progressos recentes
da historiografia filosfica no diminuem no entanto, a nosso ver, a
importncia do inspirador captulo de Werner Jaeger sobre a "des-
coberta da ordem do mundo", particularmente sugestivo para o nos-
so tema. Ver Paideia, the Ideals ot Greek culture, I, cap. 9, pp. 151-
-184. Ver ainda Max Pohlenz, L'uomo greco, VIII, pp. 305-361.
30. D.-K. 12, B, 1.
31. Sobre o pensamento de Anaximandro ver E. Wolf, Griechi-
sches Rechtsdenken, I, pp. 218-234 e a minuciosa discusso de J. Lo-
rite Mena, Du mythe l'ontologie, op. cit., pp. 318-327.
32. Ver supra, cap. I, n. 1.
44
sim da analogia o esquema bsico do pensamento tico.
38
De resto, a correspondncia analgica entre physis e_
atende ao objetivismo da tica grega,
34
na qual a pnmazia
do fim do agir ou da conduta implica uma primazia da
ordem ou hierarquia das aes, o que permite pensar o
mundo do ethos segundo o modelo do kosmos ou ordem
da natureza.
sabido que o modelo csmico presidiu aos primeiros
ensaios pr-socrticos de uma cincia do ethos como se in-
fere do fragmento 1 de Anaximandro. Observou-se igual-
mente que o esquema de ordenao do mundo e das almas
subjacente ao mito da metempsicose o fundamento da
tica de Empdocles,
35
mas dificilmente tal tipo de pensa-
mento poderia ser apresentado como um passo no caminho
de uma cincia do ethos. Herclito , sem dvida, o pri-
meiro a fundamentar na unidade do lagos a ordem do mun-
do e a conduta da vida humana.
36
.
Na verdade, a analogia entre physis e ethos, pressupon-
do-se a physis como objeto por excelncia do lagos demons-
trativo ou da cincia, traz consigo uma revoluo concep-
tual na idia do ethos, cujas conseqncias sero decisivas
para o aparecimento da tica como cincia e se tornaro
patentes ao longo da querela que ope os Sofistas e S-
crates. O ethos verdadeiro deixa de ser a expresso do
consenso ou da opinio da multido e passa a ser o que
est de acordo com a razo (kat lgon) e que , enquanto
tal, conhecido pelo Sbio.
87
O problema que se colocar
a partir de ento ser o da crtica do ethos fundado sobre
a opinio e a justificao do et.hos segundo a razo: e no
contexto desse problema que Scrates pode ser considera-
do, como quer Aristteles, o verdadeiro iniciador da cincia
do ethos.
Com efeito, a introduo explcita do argumento te-
leolgico na concepo socrtica da virtude acaba favore-
33. Ver Jos Vives, S.J., Gnesis y evolucin de tica plat-
nca:estudio de las analogias en que se expresa la t%ca de Platn,
Madri, Gredos, 1970, pp. 7-35.
34. Ver J. Vives, op. cit., pp. 32-34.
35. ver Jonathan Barnes, The presocratic Philosophers, Lon-
dres Routledge and Kegan Paul, 1979, pp.
'36. Ver J. Barnes, op. cit., pp. 127-135.
37. Ver. J. Vives, op. cit., pp. 40-41.
45
no contexto mais vasto de uma mudana radical no estatu-
to social do discurso (lagos) e que Mareei Dtienne desig-
nou como "laicizao da palavra".
28
Ela assinala a pas-
sagem do lagos mtico e sapiencial ao lagos epistmico e
d incio ao ciclo histrico da cincia na cultura ocidental.
A formao de um lagos que busca exprimir a ordem
do mundo na ordem das razes, que parte de um primeiro
princpio (arqu) e que, portanto, conduzido a elaborar
a primeira noo cientfica de "natureza" (physis),
29
re-
percute tambm sobre os diversos tipos de lgoi que falam
da conduta da vida e do sentido da ao humana. Com
efeito, como no tentar transpor para o registro do inci-
piente discurso demonstrativo a viso unitria do mito
que submete a uma nica e suprema lei o universo, os
deuses e os homens? Esse o propsito que transparece
no clebre fragmento 1 de Anaximandro.
30
Mas essa trans-
posio esbarra na noo de destino ( moira) que essencial
ao mito, mas inassimilvel por um discurso sobre a ao
humana que se pretenda racional. Anaximandro ponderou,
sem dvida, essa dificuldade e da seu intento de unir o
cosmos, os deuses e os homens, em virtude de uma gnese
comum, necessidade de uma mesma lei universal.
31
A ana-
logia entre a physis e o ethos ser, assim, o primeiro ter-
reno sobre o qual comear a edificar-se uma cincia do
ethos, acompanhando o brilhante desenvolvimento da cin-
cia da physis que marca os primeiros dois sculos do pen-
samento grego. Tal analogia estimulada pelo fato de que
a formao do vocabulrio tico, como foi observado,
32
obedece lei da transposio metafrica das propriedades
fsicas do indivduo s suas qualidades morais, fazendo as-
28. M. Dtienne, Les maitres de vrit dans la Grece archaique,
Paris, Maspro, 1967, pp. 81-193.
29. Ultrapassaria os limites previstos para estas pginas o apro-
fundamento do complexo problema das origens do pensamento fi-
losfico-cientfico entre os gregos. Os grandes progressos recentes
da historiografia filosfica no diminuem no entanto, a nosso ver, a
importncia do inspirador captulo de Werner Jaeger sobre a "des-
coberta da ordem do mundo", particularmente sugestivo para o nos-
so tema. Ver Paideia, the Ideals ot Greek culture, I, cap. 9, pp. 151-
-184. Ver ainda Max Pohlenz, L'uomo greco, VIII, pp. 305-361.
30. D.-K. 12, B, 1.
31. Sobre o pensamento de Anaximandro ver E. Wolf, Griechi-
sches Rechtsdenken, I, pp. 218-234 e a minuciosa discusso de J. Lo-
rite Mena, Du mythe l'ontologie, op. cit., pp. 318-327.
32. Ver supra, cap. I, n. 1.
44
sim da analogia o esquema bsico do pensamento tico.
38
De resto, a correspondncia analgica entre physis e_
atende ao objetivismo da tica grega,
34
na qual a pnmazia
do fim do agir ou da conduta implica uma primazia da
ordem ou hierarquia das aes, o que permite pensar o
mundo do ethos segundo o modelo do kosmos ou ordem
da natureza.
sabido que o modelo csmico presidiu aos primeiros
ensaios pr-socrticos de uma cincia do ethos como se in-
fere do fragmento 1 de Anaximandro. Observou-se igual-
mente que o esquema de ordenao do mundo e das almas
subjacente ao mito da metempsicose o fundamento da
tica de Empdocles,
35
mas dificilmente tal tipo de pensa-
mento poderia ser apresentado como um passo no caminho
de uma cincia do ethos. Herclito , sem dvida, o pri-
meiro a fundamentar na unidade do lagos a ordem do mun-
do e a conduta da vida humana.
36
.
Na verdade, a analogia entre physis e ethos, pressupon-
do-se a physis como objeto por excelncia do lagos demons-
trativo ou da cincia, traz consigo uma revoluo concep-
tual na idia do ethos, cujas conseqncias sero decisivas
para o aparecimento da tica como cincia e se tornaro
patentes ao longo da querela que ope os Sofistas e S-
crates. O ethos verdadeiro deixa de ser a expresso do
consenso ou da opinio da multido e passa a ser o que
est de acordo com a razo (kat lgon) e que , enquanto
tal, conhecido pelo Sbio.
87
O problema que se colocar
a partir de ento ser o da crtica do ethos fundado sobre
a opinio e a justificao do et.hos segundo a razo: e no
contexto desse problema que Scrates pode ser considera-
do, como quer Aristteles, o verdadeiro iniciador da cincia
do ethos.
Com efeito, a introduo explcita do argumento te-
leolgico na concepo socrtica da virtude acaba favore-
33. Ver Jos Vives, S.J., Gnesis y evolucin de tica plat-
nca:estudio de las analogias en que se expresa la t%ca de Platn,
Madri, Gredos, 1970, pp. 7-35.
34. Ver J. Vives, op. cit., pp. 32-34.
35. ver Jonathan Barnes, The presocratic Philosophers, Lon-
dres Routledge and Kegan Paul, 1979, pp.
'36. Ver J. Barnes, op. cit., pp. 127-135.
37. Ver. J. Vives, op. cit., pp. 40-41.
45
cendo a analogia com a competncia tcnica ( tchne) ss nas
tentativas de formulao da racionalidade da conduta: a
idia da virtude como tchne constituir o ponto de par-
tida da reflexo tica de Plato.
30
Uma das formas da ati-
vidade cientfico-tcnica que alcanara na Grcia notvel
desenvolvimento e prestgio, ou seja, a medicina, apresenta-
-se como referncia analgica privilegiada para a cincia
do ethos. Plato estabelece explicitamente uma proporo
entre a "justia" ou cincia do bem-estar da alma e a me-
dicina
40
e a tica como cincia encontra na medicina, se-
gundo Aristteles, um modelo para desenvolver o mtodo
adequado
41
ao seu objeto. Por outro lado, a analogia te-
raputica pe em relevo essa caracterstica peculiar do agir
humano que o mostra oscilando, no seu movimento, entre
os plos da razo e do desejo e oferecendo, assim, um
campo privilegiado para a formulao das noes de me-
dida e de cura dos excessos do desejo.
42
A partir da idade sofstica, os grandes temas sobre os
quais se exerceria a reflexo tica esto definidos, e esto
tambm delineados os modelos epistemolgicos que iro
guiar a formao de uma cincia do ethos. Segundo a enu-
merao de Lon Robin no seu livro magistral sobre a mo-
38. Ver Terence Irwin, Plato's moral theory: the early and mid-
dle Dialogues, Oxford, Clarendon Press, 1977, pp. 71-72.
39. Ver J. Vivs, op. cit., cap. I, pp. 36-60.
40. Grg, 464 a-465 a; ver Robert C. Cushman, Therapeia Pla-
to's Conception of Philosophy, University of North Carolina Press,
1958.
41. Ver W. Jaeger, Aristotl's use ot Medicine as model of me-
thod in his Ethics, ap. Scripta minora, Rom, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1960, pp, 491-509. Jaeger sublinha a diferena entre o mo-
delo teraputico em Plato e sua aplicao na tica aristotlica, que
se define como uma cincia prtica.
42. Esse tipo de reflexo caracteriza primeiramente a sabedo-
ria gnmica, tendo provavelmente como centro de difuso o templo
de Apolo em Delfos. O ne quid nimis <meden gan) o mais clebre
desses preceitos, que encaminham a reflexo tica grega na linha
de uma cincia da medida. Ver J. Frere, Les grecs et le dsir de
l'tre: des pr-platoniciens Aristote, Paris, Belles Lettres, 1981, pp.
22-25. Fazer do desejo um desejo do saber - philosopha - tal foi,
como mostra o belo livro de Jean Frere, a prodigiosa inveno do
gnio grego que age decisivamente na formao de uma cincia do
ethos que seja, igualmente, uma sabedoria. Ver tambm as pginas
clssicas de A. J. Festugiere, Contemplation et vie contemplative se-
lon Platon, 21;! ed., pp. 132-156.
46
ral antiga,
43
trs grandes direes da reflexo unificam esses
temas: 1) a lei e o Bem; 2) a virtude ou a existncia se-
gundo o Bem e a eudaimona; 3) o sujeito da ao moral.
Em torno desses temas, aguam-se os problemas que
iro alimentar a reflexo moral at nossos dias. Tais inter-
rogaes em torno do ethos supem justamente que o sculo
V a.C. tenha sido um tempo de profundo desconcerto mo-
ral no mundo grego, tempo agitado por vivas querelas, nas
quais era posto em questo tudo o que at ento se admi-
tira a respeito da virtude, da justia e do bem. Um eco
dessas querelas vamos encontr-lo nas Nuvens de Aristfa-
nes,
44
mas sem dvida nos textos sofsticos que elas se
exprimem com maior veemncia e, entre todas, a mais c-
lebre, aquela que ope a natureza e a lei (physis e nmos).
Seu carter dramtico vem do fato de que ela incide no
prprio terreno da analogia entre ph'Jysis e ethos, no qual
se tentava encontrar o caminho para a justificao racio-
nal do ethos. Talvez no se encontre expresso mais elo-
qente dessa oposio
45
do que o longo fragmento atribu-
do a Antifonte, o Sofista, e identificado num dos papiros
de Oxirrinco.
46
Na passagem do sculo V para o sculo IV, o relati-
vismo moral na sua forma mais abrupta faz parte do fundo
comum das idias que circulam atravs do ensinamento
dos Sofistas. Assim o atestam esses curiosos Dssoi Lgoi
(discursos duplos), transmitidos entre os escritos de Sesta
Emprico
47
e onde vemos dissolver-se, no jogo lgico dos
opostos, alguns dos conceitos fundamentais do ethos grego:
o bem, o belo, o justo, o verdadeiro, a sabedoria, a virtude.
Tal o contexto social e cultural no qual uma cincia
do ethos se tornava imperativa como resposta questo
43. Lon Robin, La Morale antique, 21;\ ed., Paris, PUF, 1947.
Robin divide sua exposio em trs grandes captulos que tratam res-
pectivamente do bem moral, da virtude e da felicidade e da ao mo-
ral nas suas condies psicolgicas.
44. As Nuvens, 1240-1244.
45. Ver a bibliografia indicada infra, cap. VI, n. 8.
46. D.-K., 87, B, 44; ver o sugestivo comentrio de J. Bames,
The presocratic Philosophers, pp, 508-516 e tambm W. C. Greene,
Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, Cambridge Mass.,
Harvard University Press, 1948, pp. 232-240.
47. D.-K., 90, 1-8; ver o comentrio de J. Bames, op. cit., pp.
516-522. Os Dssoi Logoi foram igualmente denominados Antilxeis;
escritos em diltico drico provavelmente nos fins do sculo V a.C.
47
cendo a analogia com a competncia tcnica ( tchne) ss nas
tentativas de formulao da racionalidade da conduta: a
idia da virtude como tchne constituir o ponto de par-
tida da reflexo tica de Plato.
30
Uma das formas da ati-
vidade cientfico-tcnica que alcanara na Grcia notvel
desenvolvimento e prestgio, ou seja, a medicina, apresenta-
-se como referncia analgica privilegiada para a cincia
do ethos. Plato estabelece explicitamente uma proporo
entre a "justia" ou cincia do bem-estar da alma e a me-
dicina
40
e a tica como cincia encontra na medicina, se-
gundo Aristteles, um modelo para desenvolver o mtodo
adequado
41
ao seu objeto. Por outro lado, a analogia te-
raputica pe em relevo essa caracterstica peculiar do agir
humano que o mostra oscilando, no seu movimento, entre
os plos da razo e do desejo e oferecendo, assim, um
campo privilegiado para a formulao das noes de me-
dida e de cura dos excessos do desejo.
42
A partir da idade sofstica, os grandes temas sobre os
quais se exerceria a reflexo tica esto definidos, e esto
tambm delineados os modelos epistemolgicos que iro
guiar a formao de uma cincia do ethos. Segundo a enu-
merao de Lon Robin no seu livro magistral sobre a mo-
38. Ver Terence Irwin, Plato's moral theory: the early and mid-
dle Dialogues, Oxford, Clarendon Press, 1977, pp. 71-72.
39. Ver J. Vivs, op. cit., cap. I, pp. 36-60.
40. Grg, 464 a-465 a; ver Robert C. Cushman, Therapeia Pla-
to's Conception of Philosophy, University of North Carolina Press,
1958.
41. Ver W. Jaeger, Aristotl's use ot Medicine as model of me-
thod in his Ethics, ap. Scripta minora, Rom, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1960, pp, 491-509. Jaeger sublinha a diferena entre o mo-
delo teraputico em Plato e sua aplicao na tica aristotlica, que
se define como uma cincia prtica.
42. Esse tipo de reflexo caracteriza primeiramente a sabedo-
ria gnmica, tendo provavelmente como centro de difuso o templo
de Apolo em Delfos. O ne quid nimis <meden gan) o mais clebre
desses preceitos, que encaminham a reflexo tica grega na linha
de uma cincia da medida. Ver J. Frere, Les grecs et le dsir de
l'tre: des pr-platoniciens Aristote, Paris, Belles Lettres, 1981, pp.
22-25. Fazer do desejo um desejo do saber - philosopha - tal foi,
como mostra o belo livro de Jean Frere, a prodigiosa inveno do
gnio grego que age decisivamente na formao de uma cincia do
ethos que seja, igualmente, uma sabedoria. Ver tambm as pginas
clssicas de A. J. Festugiere, Contemplation et vie contemplative se-
lon Platon, 21;! ed., pp. 132-156.
46
ral antiga,
43
trs grandes direes da reflexo unificam esses
temas: 1) a lei e o Bem; 2) a virtude ou a existncia se-
gundo o Bem e a eudaimona; 3) o sujeito da ao moral.
Em torno desses temas, aguam-se os problemas que
iro alimentar a reflexo moral at nossos dias. Tais inter-
rogaes em torno do ethos supem justamente que o sculo
V a.C. tenha sido um tempo de profundo desconcerto mo-
ral no mundo grego, tempo agitado por vivas querelas, nas
quais era posto em questo tudo o que at ento se admi-
tira a respeito da virtude, da justia e do bem. Um eco
dessas querelas vamos encontr-lo nas Nuvens de Aristfa-
nes,
44
mas sem dvida nos textos sofsticos que elas se
exprimem com maior veemncia e, entre todas, a mais c-
lebre, aquela que ope a natureza e a lei (physis e nmos).
Seu carter dramtico vem do fato de que ela incide no
prprio terreno da analogia entre ph'Jysis e ethos, no qual
se tentava encontrar o caminho para a justificao racio-
nal do ethos. Talvez no se encontre expresso mais elo-
qente dessa oposio
45
do que o longo fragmento atribu-
do a Antifonte, o Sofista, e identificado num dos papiros
de Oxirrinco.
46
Na passagem do sculo V para o sculo IV, o relati-
vismo moral na sua forma mais abrupta faz parte do fundo
comum das idias que circulam atravs do ensinamento
dos Sofistas. Assim o atestam esses curiosos Dssoi Lgoi
(discursos duplos), transmitidos entre os escritos de Sesta
Emprico
47
e onde vemos dissolver-se, no jogo lgico dos
opostos, alguns dos conceitos fundamentais do ethos grego:
o bem, o belo, o justo, o verdadeiro, a sabedoria, a virtude.
Tal o contexto social e cultural no qual uma cincia
do ethos se tornava imperativa como resposta questo
43. Lon Robin, La Morale antique, 21;\ ed., Paris, PUF, 1947.
Robin divide sua exposio em trs grandes captulos que tratam res-
pectivamente do bem moral, da virtude e da felicidade e da ao mo-
ral nas suas condies psicolgicas.
44. As Nuvens, 1240-1244.
45. Ver a bibliografia indicada infra, cap. VI, n. 8.
46. D.-K., 87, B, 44; ver o sugestivo comentrio de J. Bames,
The presocratic Philosophers, pp, 508-516 e tambm W. C. Greene,
Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, Cambridge Mass.,
Harvard University Press, 1948, pp. 232-240.
47. D.-K., 90, 1-8; ver o comentrio de J. Bames, op. cit., pp.
516-522. Os Dssoi Logoi foram igualmente denominados Antilxeis;
escritos em diltico drico provavelmente nos fins do sculo V a.C.
47
de cuja soluo pendia a sobrevivncia do prprio ethos e
do mundo de cultura do qual ele era a expressao mais
genuna. Deste ponto de vista, soa como um paradoxo a
crtica heideggeriana constituio da tica como cincia,
tornada possvel a partir do esquecimento do ethos origi-
nal, assim como a Metafsica se constitui a partir do es-
quecimento do ser.
48
Nada permite supor que uma tica
originria no sentido heideggeriano se apresentasse como
alternativa vivel crise do ethos no sculo V. a.C., amea-
ado pelo poder dissolvente do logos sofstico. Convm,
de resto, perguntar-se se esse "declnio do pensar" em face
do advento da filosofia como cincia, de que fala Hei-
degger,
49
um fato histrico perceptvel na literatura fi-
losfica do sculo V a.C., ou traduz apenas a leitura hei-
deggeriana daqueles textos fragmentrios. Na verdade, con-
siderado luz das evidncias textuais, o movimento do pen-
samento grego nos tempos imediatamente anteriores a S-
crates e nos tempos socrticos aponta inequivocamente na
direo de uma cincia do ethos como nica resposta
historicamente vivel crtica destrutiva dos Sofistas.
Os primeiros passos em direo cincia do ethos se-
ro dados no campo da reflexo sobre a lei. A prpria
evoluo do vocabulrio caracterstica da indicao de
um caminho que leve a uma fundamentao racional do
agir humano, como fcil observar a propsito dos voc-
bulos thmis e dke.
50
Mas so, sem dvida, as transfor-
maes sociopolticas, das quais emerge a polis como esta-
do democrtico, que impem a necessidade de uma explici-
tao do ethos como lei, segundo os predicados da igual-
dade ( isonoma) e da correspondncia com a ordem das
48. Ver supra, cap. I, nota 10. Sobre o problema da relao
entre humanismo e tica na Carta sobre o Humanismo e apreciao
da bibliografia a respeito, ver Robert H. Cousineau, Humanism and
Ethtcs: an introduction to the Letter on Humanism Paris-Louvain
Nauwelaerts, 1972. ' '
40. Brief ber den Humanismus, ed. bilnge Munier, p. 138.
50. Themis, "ordenao", no vocabulrio homrico remete apli-
cao da justia sob a gide de Zeus Dke "justia" prprio do
hesidico, personalizada nma todo-poderosa, ex-
pnme atravs do conceito de igualdade a racionalidade do direito.
Ver W. Jaeger, Praise ot Law: the origin of law philosophy and the
Greeks, apud Scripta minora, II, Pt> 319-351; ver igualmente o captulo
de Erik Wolf, Griechisches Rechtsdenken I Vorsokratiker und trhe
Dichter, Frankfurt a.M., V. Klostermann, H50, pp. 22-45.
48
coisas (eunoma). Na poesia poltica de Solon, o grande
legislador ateniense, contemporneo dos primeiros filso-
fos, a celebrao da Dke e da Eunoma (que Solon figura
igualmente sob a forma de uma deusa),
51
oferece-nos o
primeiro ncleo conceptual sistemtico do que ser uma
cincia do ethos.
52
Na lrica de Solon, com efeito, Dke ou
a Justia apresenta-se como imanente ao tempo (identifi-
cada, alis, ao prprio tempo, Cronos). Assim, pela pri-
meira vez na histria do pensamento poltico grego, a Jus-
tia emerge como uma fora histrica no horizonte do
destino poltico da plis.
53
A Dke a fonte da legitimi-
dade da lei ( nmos) e, a partir dela, o justo ( dkaion) pode
ser igualmente definido como predicado da ao do verda-
deiro cidado. Seus opostos so manifestaes de uma
mesma desmesura fundamental (htybris), que ambio
do poder (pleonexa), do ter (philargyra) e do aparecer
(h)yperephana). A hybris traa, desta sorte, o perfil do
homem injusto (aner dikos), que se mostra como o ho-
mem insensato e destitudo de razo. A ele se contrape
o homem justo (aner dkaios), que se situa sob a gide
da "medida" (mtron).
54
Com a idia de "medida" aplica-
da ao agir, e essencial idia de lei, est posto o funda-
mento racional sobre o qual ser possvel edificar uma
cincia do ethos.
Alguns textos clebres iro construir sobre esse fun-
damento a grandiosa analogia entre o ethos e a ordem uni-
versal que encontrar uma expresso grave e solene no
Grgias de Plato, no momento decisivo da discusso com
Clicles.
55
Essa analogia est subjacente s celebraes da
51. Ver W. Jaeger, Praise ot Law, art. cit., p. 327, n. 3. A gran-
de elegia 3 dedicada Eunomia e termina com a celebrao dos seus
benefcios. Ver Lricos griegos I (ed. Adrados), Barcelona; Alma
Mater, 1956, pp. (188)-(190):
52. O belo e celebrado ensaio de W. Jaeger, Solons Eunomie,
(Scripta minora I, pp. 314-337) apresenta-se aqu como referncia obri-
gatria. E igualmente o seu capitulo sobre Solon como criador da
cultura poltica ateniense em Paideia, the Ideals of Greek culture,
I, c. 8 (pp. 136-149). Ver igualmente E. Wolf, Griechisches Rechts-
denken, I, c. 9 (pp. 187-219) e Eric Voegelin, Order and History, II
The World o! Polis, pp. 194-199.
53. Ver E. Wolf, op. cit., I, pp. 194-195.
54. Ver. E. Wolf, op. cit., I, pp. 207-210. o dito meden gan
atribudo a Solon (D.-K. 10, 3, B, 1).
55. Ver Grg 507 e-508 a: "Os sbios, 6 Clicles, afirmam que
o cu e a terra, os deuses e os homens conservam a comunidade e
49
de cuja soluo pendia a sobrevivncia do prprio ethos e
do mundo de cultura do qual ele era a expressao mais
genuna. Deste ponto de vista, soa como um paradoxo a
crtica heideggeriana constituio da tica como cincia,
tornada possvel a partir do esquecimento do ethos origi-
nal, assim como a Metafsica se constitui a partir do es-
quecimento do ser.
48
Nada permite supor que uma tica
originria no sentido heideggeriano se apresentasse como
alternativa vivel crise do ethos no sculo V. a.C., amea-
ado pelo poder dissolvente do logos sofstico. Convm,
de resto, perguntar-se se esse "declnio do pensar" em face
do advento da filosofia como cincia, de que fala Hei-
degger,
49
um fato histrico perceptvel na literatura fi-
losfica do sculo V a.C., ou traduz apenas a leitura hei-
deggeriana daqueles textos fragmentrios. Na verdade, con-
siderado luz das evidncias textuais, o movimento do pen-
samento grego nos tempos imediatamente anteriores a S-
crates e nos tempos socrticos aponta inequivocamente na
direo de uma cincia do ethos como nica resposta
historicamente vivel crtica destrutiva dos Sofistas.
Os primeiros passos em direo cincia do ethos se-
ro dados no campo da reflexo sobre a lei. A prpria
evoluo do vocabulrio caracterstica da indicao de
um caminho que leve a uma fundamentao racional do
agir humano, como fcil observar a propsito dos voc-
bulos thmis e dke.
50
Mas so, sem dvida, as transfor-
maes sociopolticas, das quais emerge a polis como esta-
do democrtico, que impem a necessidade de uma explici-
tao do ethos como lei, segundo os predicados da igual-
dade ( isonoma) e da correspondncia com a ordem das
48. Ver supra, cap. I, nota 10. Sobre o problema da relao
entre humanismo e tica na Carta sobre o Humanismo e apreciao
da bibliografia a respeito, ver Robert H. Cousineau, Humanism and
Ethtcs: an introduction to the Letter on Humanism Paris-Louvain
Nauwelaerts, 1972. ' '
40. Brief ber den Humanismus, ed. bilnge Munier, p. 138.
50. Themis, "ordenao", no vocabulrio homrico remete apli-
cao da justia sob a gide de Zeus Dke "justia" prprio do
hesidico, personalizada nma todo-poderosa, ex-
pnme atravs do conceito de igualdade a racionalidade do direito.
Ver W. Jaeger, Praise ot Law: the origin of law philosophy and the
Greeks, apud Scripta minora, II, Pt> 319-351; ver igualmente o captulo
de Erik Wolf, Griechisches Rechtsdenken I Vorsokratiker und trhe
Dichter, Frankfurt a.M., V. Klostermann, H50, pp. 22-45.
48
coisas (eunoma). Na poesia poltica de Solon, o grande
legislador ateniense, contemporneo dos primeiros filso-
fos, a celebrao da Dke e da Eunoma (que Solon figura
igualmente sob a forma de uma deusa),
51
oferece-nos o
primeiro ncleo conceptual sistemtico do que ser uma
cincia do ethos.
52
Na lrica de Solon, com efeito, Dke ou
a Justia apresenta-se como imanente ao tempo (identifi-
cada, alis, ao prprio tempo, Cronos). Assim, pela pri-
meira vez na histria do pensamento poltico grego, a Jus-
tia emerge como uma fora histrica no horizonte do
destino poltico da plis.
53
A Dke a fonte da legitimi-
dade da lei ( nmos) e, a partir dela, o justo ( dkaion) pode
ser igualmente definido como predicado da ao do verda-
deiro cidado. Seus opostos so manifestaes de uma
mesma desmesura fundamental (htybris), que ambio
do poder (pleonexa), do ter (philargyra) e do aparecer
(h)yperephana). A hybris traa, desta sorte, o perfil do
homem injusto (aner dikos), que se mostra como o ho-
mem insensato e destitudo de razo. A ele se contrape
o homem justo (aner dkaios), que se situa sob a gide
da "medida" (mtron).
54
Com a idia de "medida" aplica-
da ao agir, e essencial idia de lei, est posto o funda-
mento racional sobre o qual ser possvel edificar uma
cincia do ethos.
Alguns textos clebres iro construir sobre esse fun-
damento a grandiosa analogia entre o ethos e a ordem uni-
versal que encontrar uma expresso grave e solene no
Grgias de Plato, no momento decisivo da discusso com
Clicles.
55
Essa analogia est subjacente s celebraes da
51. Ver W. Jaeger, Praise ot Law, art. cit., p. 327, n. 3. A gran-
de elegia 3 dedicada Eunomia e termina com a celebrao dos seus
benefcios. Ver Lricos griegos I (ed. Adrados), Barcelona; Alma
Mater, 1956, pp. (188)-(190):
52. O belo e celebrado ensaio de W. Jaeger, Solons Eunomie,
(Scripta minora I, pp. 314-337) apresenta-se aqu como referncia obri-
gatria. E igualmente o seu capitulo sobre Solon como criador da
cultura poltica ateniense em Paideia, the Ideals of Greek culture,
I, c. 8 (pp. 136-149). Ver igualmente E. Wolf, Griechisches Rechts-
denken, I, c. 9 (pp. 187-219) e Eric Voegelin, Order and History, II
The World o! Polis, pp. 194-199.
53. Ver E. Wolf, op. cit., I, pp. 194-195.
54. Ver. E. Wolf, op. cit., I, pp. 207-210. o dito meden gan
atribudo a Solon (D.-K. 10, 3, B, 1).
55. Ver Grg 507 e-508 a: "Os sbios, 6 Clicles, afirmam que
o cu e a terra, os deuses e os homens conservam a comunidade e
49
lei que se tornam um tpos clssico nos trgicos,
56
nos
lricos,
57
na oratria poltica
58
e na reflexo filosfica so-
bre a cultura, da qual o exemplo mais clebre nos trans-
mitido por Plato no mito sobre as origens da cultura atri-
budo a Protgoras.
59
, de resto, no domnio da filosofia da cultura e da
filosofia poltica que a transcrio do ethos no lagos epis-
tmico alcana uma amplitude e uma profundidade inigua-
ladas, e tal se d na obra de Plato, na qual o ncleo da
reflexo racional sobre a praxis ainda no se dividiu na-
quelas que sero as classificaes aristotlicas e o pensa-
mento tico , ao mesmo tempo, filosofia e prtica cultu-
ral e poltica. na obra de Plato, como observa justa-
mente W. Jaeger,
60
que o problema da justia e da lei se
articula ao problema da natureza da realidade enquanto
a amizade, a boa ordem, a sabedoria e a justia e por isso compa-
nheiro, chamam a esse universo de ordem (ksmos), e no de de-
sordem e desregramento. Mas tu, sendo sbio, pareces no aplicar
tua mente a estas coisas e, ao invs, te esqueces de que a igualdade
geomtrica pode muito entre os deuses e entre os homens. Pensas
que preciso esforar-se para se poder sempre mais. que te des-
cuidas da geometria". Sobre a tica platnica no Grgias ver o ex-
celente capitulo de J. Vivs, op. cit., pp. 94-125.
56. Assim no final das na Orestada de squilo (Eum.
681-710) e no coro em louvor do homem na Antgona de Sfocles
(Ant. 332-373).
57. Como no clebre fragmento de Pndaro sobre o nmos basi-
leus citado por Plato, Grg. 484 b. Ver E. des Places, Pindare et
Platon, Paris, Beauchesne, 1949, pp. 171-175; Guthrie, A history of
Greek Philosophy, III, pp. 131-134; J. de Romilly, La loi dans la pen-
se grecque, pp. 63-71. A significao do fragmento de Pndaro
discutida, mas impossvel no enumer-lo entre os textos celebra-
trios da lei.
58. Ver a orao fnebre pronunciada por Pricles sobre os
mortos de Atenas, Tucdides, Hist. II, 35-46.
59. Plato, Prot. 320 c-322 d. Sobre a interpretao dessa pas-
sagem famosa ver W. Jaeger, Praise of Law, art. cit., pp. 335-338.
Plato provavelmente utiliza e refunde livremente uma obra de Pro-
tgoras "Sobre o estado do homem no princpio" (per'i tes en
katastseos) mencionada por Digenes Larcio (D.-K., 80, B, 8 bl
e que coloca no centro da cultura a instituio da ordem poltica
atravs das virtudes da reverncia e da justia (aids e dke). Ver
W. K. C. Guthrie, A history of Greek Philosophy, III, pp. 63-68. To-
do o magistral captulo de Guthrie sobre a anttese nmos-physis
na moral e na poltica (ibidem, pp. 55-134) deve ser lido na perspec-
tiva da constituio da cincia do ethos a partir da idia de lei.
60. Ver In Praise of Law, art. cit., p. 341.
50
tal. Plato edifica a c1encia do ethos como cincia da jus-
tia e do bem e, conseqentemente, como cincia da ao
justa e boa que a ao segundo a virtude (aret), sobre
o fundamento de uma cincia absolutamente primeira, de
uma Ontologia. A concepo platnica do ethos repousa
sobre essa relao originria e originante entre o homem
e o ser, que se exprime no lagos do ser (Ontologia). Nesse
sentido, permitido dizer que ela se constitui, por sua
vez, como princpio (arqu) da tica ocidental, alm do
qual no possvel remontar. Observe-se, alis, que o ca-
minho do pensamento platnico, da Repblica s Leis, an-
tecipa e como que descreve de antemo aquele que ser o
percurso conceptual clssico da reflexo tica na histria
da filosofia ocidental. O ponto de partida oferecido pela
ontologia do Bem na Repblica, qual corresponde a pai-
dea filosfica e a cincia do Bem, operando a perfeita in-
teriorizao da lei na alma e tornando suprflua a lei es-
crita;
61
o ponto de chegada com o vasto pai-
nel legislativo das Leis. A legislao das Leis poderia ser
argda de casusmo ou de autoritarismo legiferante se no
fosse justamente o instrumento adequado para a prtica
da cincia do Bem e para o exerccio da justia.
62
Assim,
a cincia do ethos dotada de uma estrutura fundamental
nessa dialtica que se estabelece entre a norma paradigm-
tica e a ao reta, pela mediao da lei adaptada s cir-
cunstncias concretas.
63
Ela se constitui, na obra de Pla-
61. Rep. IV, 423 e; cf. 425 a-e; Plato esclarece que uma boa
educao e instruo (paidea ka't troph) tornam intil a legisla-
o minuciosa sobre pequenos pormenores da vida de cada dia. Ver
igualmente a depreciao da lei escrita no Poltico (292 d-297 b) em
favor da arte suprema de governar. Ver Romilly, La loi dans la
pense grecque, pp. 188-194.
62. Ver Leis, IV, 713 e-714 a. E. w. Jaeger, Paideia, the Ideals of
Greek culture, III, pp. 217-230; Praise of I:_aw, cit., p. 345. A. J.
tugiere insiste fortemente na fundamentaao ter1ea do nmos nas Lezs:
Contemplation et vie contemplative selon Platon, pp. 425-447; sobre
as Leis ver ainda na perspectiva que aqui nos interessa, J. Vivs,
Gnesis y evolucin de la tica platnica, pp. 289-309; E. Voegelin,
Order and History III, Plato and Aristotle, pp. 215-223.
63. Ver J. de Romilly, La loi dans la pense grecque, p. 195; ver
ainda a bela celebrao da lei como fonte de civilizao em A. J.
Festugire, Libert et civilisation chez les grecs, Paris, Revue des
Jeunes, 1947, pp. 81-91.
51
lei que se tornam um tpos clssico nos trgicos,
56
nos
lricos,
57
na oratria poltica
58
e na reflexo filosfica so-
bre a cultura, da qual o exemplo mais clebre nos trans-
mitido por Plato no mito sobre as origens da cultura atri-
budo a Protgoras.
59
, de resto, no domnio da filosofia da cultura e da
filosofia poltica que a transcrio do ethos no lagos epis-
tmico alcana uma amplitude e uma profundidade inigua-
ladas, e tal se d na obra de Plato, na qual o ncleo da
reflexo racional sobre a praxis ainda no se dividiu na-
quelas que sero as classificaes aristotlicas e o pensa-
mento tico , ao mesmo tempo, filosofia e prtica cultu-
ral e poltica. na obra de Plato, como observa justa-
mente W. Jaeger,
60
que o problema da justia e da lei se
articula ao problema da natureza da realidade enquanto
a amizade, a boa ordem, a sabedoria e a justia e por isso compa-
nheiro, chamam a esse universo de ordem (ksmos), e no de de-
sordem e desregramento. Mas tu, sendo sbio, pareces no aplicar
tua mente a estas coisas e, ao invs, te esqueces de que a igualdade
geomtrica pode muito entre os deuses e entre os homens. Pensas
que preciso esforar-se para se poder sempre mais. que te des-
cuidas da geometria". Sobre a tica platnica no Grgias ver o ex-
celente capitulo de J. Vivs, op. cit., pp. 94-125.
56. Assim no final das na Orestada de squilo (Eum.
681-710) e no coro em louvor do homem na Antgona de Sfocles
(Ant. 332-373).
57. Como no clebre fragmento de Pndaro sobre o nmos basi-
leus citado por Plato, Grg. 484 b. Ver E. des Places, Pindare et
Platon, Paris, Beauchesne, 1949, pp. 171-175; Guthrie, A history of
Greek Philosophy, III, pp. 131-134; J. de Romilly, La loi dans la pen-
se grecque, pp. 63-71. A significao do fragmento de Pndaro
discutida, mas impossvel no enumer-lo entre os textos celebra-
trios da lei.
58. Ver a orao fnebre pronunciada por Pricles sobre os
mortos de Atenas, Tucdides, Hist. II, 35-46.
59. Plato, Prot. 320 c-322 d. Sobre a interpretao dessa pas-
sagem famosa ver W. Jaeger, Praise of Law, art. cit., pp. 335-338.
Plato provavelmente utiliza e refunde livremente uma obra de Pro-
tgoras "Sobre o estado do homem no princpio" (per'i tes en
katastseos) mencionada por Digenes Larcio (D.-K., 80, B, 8 bl
e que coloca no centro da cultura a instituio da ordem poltica
atravs das virtudes da reverncia e da justia (aids e dke). Ver
W. K. C. Guthrie, A history of Greek Philosophy, III, pp. 63-68. To-
do o magistral captulo de Guthrie sobre a anttese nmos-physis
na moral e na poltica (ibidem, pp. 55-134) deve ser lido na perspec-
tiva da constituio da cincia do ethos a partir da idia de lei.
60. Ver In Praise of Law, art. cit., p. 341.
50
tal. Plato edifica a c1encia do ethos como cincia da jus-
tia e do bem e, conseqentemente, como cincia da ao
justa e boa que a ao segundo a virtude (aret), sobre
o fundamento de uma cincia absolutamente primeira, de
uma Ontologia. A concepo platnica do ethos repousa
sobre essa relao originria e originante entre o homem
e o ser, que se exprime no lagos do ser (Ontologia). Nesse
sentido, permitido dizer que ela se constitui, por sua
vez, como princpio (arqu) da tica ocidental, alm do
qual no possvel remontar. Observe-se, alis, que o ca-
minho do pensamento platnico, da Repblica s Leis, an-
tecipa e como que descreve de antemo aquele que ser o
percurso conceptual clssico da reflexo tica na histria
da filosofia ocidental. O ponto de partida oferecido pela
ontologia do Bem na Repblica, qual corresponde a pai-
dea filosfica e a cincia do Bem, operando a perfeita in-
teriorizao da lei na alma e tornando suprflua a lei es-
crita;
61
o ponto de chegada com o vasto pai-
nel legislativo das Leis. A legislao das Leis poderia ser
argda de casusmo ou de autoritarismo legiferante se no
fosse justamente o instrumento adequado para a prtica
da cincia do Bem e para o exerccio da justia.
62
Assim,
a cincia do ethos dotada de uma estrutura fundamental
nessa dialtica que se estabelece entre a norma paradigm-
tica e a ao reta, pela mediao da lei adaptada s cir-
cunstncias concretas.
63
Ela se constitui, na obra de Pla-
61. Rep. IV, 423 e; cf. 425 a-e; Plato esclarece que uma boa
educao e instruo (paidea ka't troph) tornam intil a legisla-
o minuciosa sobre pequenos pormenores da vida de cada dia. Ver
igualmente a depreciao da lei escrita no Poltico (292 d-297 b) em
favor da arte suprema de governar. Ver Romilly, La loi dans la
pense grecque, pp. 188-194.
62. Ver Leis, IV, 713 e-714 a. E. w. Jaeger, Paideia, the Ideals of
Greek culture, III, pp. 217-230; Praise of I:_aw, cit., p. 345. A. J.
tugiere insiste fortemente na fundamentaao ter1ea do nmos nas Lezs:
Contemplation et vie contemplative selon Platon, pp. 425-447; sobre
as Leis ver ainda na perspectiva que aqui nos interessa, J. Vivs,
Gnesis y evolucin de la tica platnica, pp. 289-309; E. Voegelin,
Order and History III, Plato and Aristotle, pp. 215-223.
63. Ver J. de Romilly, La loi dans la pense grecque, p. 195; ver
ainda a bela celebrao da lei como fonte de civilizao em A. J.
Festugire, Libert et civilisation chez les grecs, Paris, Revue des
Jeunes, 1947, pp. 81-91.
51
to, "
4
como um ktema eis ae,
65
uma aqms1ao da civiliza-
o do Ocidente que permanece para sempre.
Se a cincia do ethos no pode ser estritamente hom-
loga cincia da phJysis, conquanto ambas se edifiquem no
mesmo espao do logos epistmico, que a praxis humana
no se pode conceber racionalmente como movida pela vis
a tergo de uma necessidade exterior. A constituio de
uma cincia do ethos s se tornaria possvel com uma cr-
tica radical da noo de destino, com a interiorizao da
necessidade no sujeito agente atravs da descoberta de um
novo campo de racionalidade que ter como plos: de um
lado, o fim da ao como o bem (agathn) ou perfeio do
agente; de outro, o exerccio da ao que une o agente
a seu fim e manifesta, deste modo, sua perfeio imanente
ou sua virtude ( aret). Entrelaando inteligncia e liber-
dade no vnculo do Bem,
66
a virtude torna o homem euda-
mn, vem a ser, excelente em humanidade e auto-realizan-
do-se nessa excelncia. w;
A segunda linha conceptual da cincia do ethos se tra-
a, pois, acompanhando o finalismo do Bem. Ela prolonga
a reflexo sobre a lei apontando para o plo objetivo da
praxis, que designa ao homem seu lugar na ordem univer-
64. No justo, pois, opor o "idealismo" da Repblica ao
"realismo" das Leis. A terminologia de "Estado ideal" aplicada
Repblica imprpria. Como imprprio falar de "utopia polti-
ca" de Plato (nem o termo nem a idia pertencem Grcia cls-
sica). Eis como se exprime Victor Goldschmidt: "On ne par lera
pas d'utopie propos des Anciens ou, en tout cas, des Grecs. La
question trs prcise qu'ils se sont poss tait celle, non pas mme
de l'tat idal, mais de la meilleure constitution. Cette question n'a
r i ~ n d'utopique" (Platonisme et pense contemporaine, Paris, Au-
bler, 1970, p. 165). Sobre a unidade da tica e da poltica em Plato
ver ainda R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, Berlim,
De Gruyter, 1970, pp. 111-116; E. Voegelin, Order and History li The
World of Polis, p. 187.
65. Tucdides, Hist. I, 22.
66. O Bem, com efeito, o que liga (t kaz agathn don, Fed.
99 c. ver Pol. 284 e). Ver Robin, La Morale antique, p. 36.
67. A realizao mais alta do ethos na perspectiva da tica
aristocrtica antiga o kals kaz agaths; enquanto tal o indivduo
ristos e, portanto, eudatm6n. . A transposio espiritual da eudai-
mona a excelncia segundo a virtude, fundada na "razo reta"
(orths lgos). A traduo de eudam6n por "feliz" no sentido do
sentimento moderno da felicidade no exprime a riqueza semntica
do termo grego. Ver E. Schwartz, Ethik der Griechen, op. cit., pp.
63-65 e Max Pohlenz, L'uomo greco, op. cit., pp. 577-579.
52
sal. O ponto mais alto atingido por essa linha - a expres-
so mais audaz da cincia do ethos - ser justamente a
ontologia platnica do Bem. Mas um longo caminho teve
de ser percorrido, at que se alcanasse aquela "maravilho-
sa supereminncia" do Bem, que provoca a exclamao
admirada de Glauco na Repblica.
68
Ele se estende desde
a experincia da fragilidade e do desamparo do homem em
face da inveja e do capricho dos deuses, e do seu abandono
dura necessidade do destino, at a descoberta socrtica
do "homem interior", lo que encontra na cincia do bem
e da justia a razo e a necessidade (toda interior) de ser
bom e justo.
70
A idia do Bem como fim absoluto e transcendente da
vida humana torna-se, assim, o apex conceptual, o princ-
pio absoluto ou "anipottico"
71
da cincia do ethos. Ela
permite fundamentar a racionalidade da praxis, mostrando
que a sua primazia mensurante com relao ao objeto se-
gundo o princpio de Protgoras, refere-se, por sua vz,
primazia de uma medida absoluta e perfeita.
72
Desta sorte,
fica compreendida no logos da cincia a identidade entre
ethos e cultura,
73
que Plato expor magnificamente no
programa educativo da Repblica e no imenso mural re-
ligioso-poltico das Leis.
74
A inflexo aristotlica dessa linha de pensamento que
se elevara at a transcendncia supereminente da idia do
Bem, supe justamente que s depois de conquistado esse
alto cimo possvel retornar relatividade dos bens hu-
manos, no para recair no relativismo sofstico, mas para
estabelecer, como referncia ao primum analogatum que
68. daimonas yperbol, Rep. VI 509 c.
69. o ents nthropos, Rep. IX,' 589 a-b.
70. Esse caminho descrito magistralmente por Lon Robin no
cap. 19 de La Morale antique (pp. 1-70).
71. Princpio ao qual se eleva a dialtica usando a inteligncia
<nesis) na quarta seo da comparao da linha: "Avanando at
o princpio do todo que dispensa hipteses" (na mchri tou anypo-
thtou epi ten tou pants arquen in, Rep. VI, 511 b).
72. A contingncia e relatividade da praxis na sua condio
emprica exigem sua suprassuno numa medida absoluta, segundo
o princpio formulado por Plato: "Nada de imperfeito pode ser me-
dida do que quer que seja" (ateles gr ouden oudens mtron, Rep.
VI, 504 c). Trata-se, no contexto, da formao dos Guardies da
cidade que dever elev-los at a contemplao da idia do Bem.
73. Ver supra II, 1.
74. Ver L. Robin, La Morale antiq?-Le, pp. 38-43.
53
to, "
4
como um ktema eis ae,
65
uma aqms1ao da civiliza-
o do Ocidente que permanece para sempre.
Se a cincia do ethos no pode ser estritamente hom-
loga cincia da phJysis, conquanto ambas se edifiquem no
mesmo espao do logos epistmico, que a praxis humana
no se pode conceber racionalmente como movida pela vis
a tergo de uma necessidade exterior. A constituio de
uma cincia do ethos s se tornaria possvel com uma cr-
tica radical da noo de destino, com a interiorizao da
necessidade no sujeito agente atravs da descoberta de um
novo campo de racionalidade que ter como plos: de um
lado, o fim da ao como o bem (agathn) ou perfeio do
agente; de outro, o exerccio da ao que une o agente
a seu fim e manifesta, deste modo, sua perfeio imanente
ou sua virtude ( aret). Entrelaando inteligncia e liber-
dade no vnculo do Bem,
66
a virtude torna o homem euda-
mn, vem a ser, excelente em humanidade e auto-realizan-
do-se nessa excelncia. w;
A segunda linha conceptual da cincia do ethos se tra-
a, pois, acompanhando o finalismo do Bem. Ela prolonga
a reflexo sobre a lei apontando para o plo objetivo da
praxis, que designa ao homem seu lugar na ordem univer-
64. No justo, pois, opor o "idealismo" da Repblica ao
"realismo" das Leis. A terminologia de "Estado ideal" aplicada
Repblica imprpria. Como imprprio falar de "utopia polti-
ca" de Plato (nem o termo nem a idia pertencem Grcia cls-
sica). Eis como se exprime Victor Goldschmidt: "On ne par lera
pas d'utopie propos des Anciens ou, en tout cas, des Grecs. La
question trs prcise qu'ils se sont poss tait celle, non pas mme
de l'tat idal, mais de la meilleure constitution. Cette question n'a
r i ~ n d'utopique" (Platonisme et pense contemporaine, Paris, Au-
bler, 1970, p. 165). Sobre a unidade da tica e da poltica em Plato
ver ainda R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, Berlim,
De Gruyter, 1970, pp. 111-116; E. Voegelin, Order and History li The
World of Polis, p. 187.
65. Tucdides, Hist. I, 22.
66. O Bem, com efeito, o que liga (t kaz agathn don, Fed.
99 c. ver Pol. 284 e). Ver Robin, La Morale antique, p. 36.
67. A realizao mais alta do ethos na perspectiva da tica
aristocrtica antiga o kals kaz agaths; enquanto tal o indivduo
ristos e, portanto, eudatm6n. . A transposio espiritual da eudai-
mona a excelncia segundo a virtude, fundada na "razo reta"
(orths lgos). A traduo de eudam6n por "feliz" no sentido do
sentimento moderno da felicidade no exprime a riqueza semntica
do termo grego. Ver E. Schwartz, Ethik der Griechen, op. cit., pp.
63-65 e Max Pohlenz, L'uomo greco, op. cit., pp. 577-579.
52
sal. O ponto mais alto atingido por essa linha - a expres-
so mais audaz da cincia do ethos - ser justamente a
ontologia platnica do Bem. Mas um longo caminho teve
de ser percorrido, at que se alcanasse aquela "maravilho-
sa supereminncia" do Bem, que provoca a exclamao
admirada de Glauco na Repblica.
68
Ele se estende desde
a experincia da fragilidade e do desamparo do homem em
face da inveja e do capricho dos deuses, e do seu abandono
dura necessidade do destino, at a descoberta socrtica
do "homem interior", lo que encontra na cincia do bem
e da justia a razo e a necessidade (toda interior) de ser
bom e justo.
70
A idia do Bem como fim absoluto e transcendente da
vida humana torna-se, assim, o apex conceptual, o princ-
pio absoluto ou "anipottico"
71
da cincia do ethos. Ela
permite fundamentar a racionalidade da praxis, mostrando
que a sua primazia mensurante com relao ao objeto se-
gundo o princpio de Protgoras, refere-se, por sua vz,
primazia de uma medida absoluta e perfeita.
72
Desta sorte,
fica compreendida no logos da cincia a identidade entre
ethos e cultura,
73
que Plato expor magnificamente no
programa educativo da Repblica e no imenso mural re-
ligioso-poltico das Leis.
74
A inflexo aristotlica dessa linha de pensamento que
se elevara at a transcendncia supereminente da idia do
Bem, supe justamente que s depois de conquistado esse
alto cimo possvel retornar relatividade dos bens hu-
manos, no para recair no relativismo sofstico, mas para
estabelecer, como referncia ao primum analogatum que
68. daimonas yperbol, Rep. VI 509 c.
69. o ents nthropos, Rep. IX,' 589 a-b.
70. Esse caminho descrito magistralmente por Lon Robin no
cap. 19 de La Morale antique (pp. 1-70).
71. Princpio ao qual se eleva a dialtica usando a inteligncia
<nesis) na quarta seo da comparao da linha: "Avanando at
o princpio do todo que dispensa hipteses" (na mchri tou anypo-
thtou epi ten tou pants arquen in, Rep. VI, 511 b).
72. A contingncia e relatividade da praxis na sua condio
emprica exigem sua suprassuno numa medida absoluta, segundo
o princpio formulado por Plato: "Nada de imperfeito pode ser me-
dida do que quer que seja" (ateles gr ouden oudens mtron, Rep.
VI, 504 c). Trata-se, no contexto, da formao dos Guardies da
cidade que dever elev-los at a contemplao da idia do Bem.
73. Ver supra II, 1.
74. Ver L. Robin, La Morale antiq?-Le, pp. 38-43.
53
o Soberano Bem, a hierarquia analgica dos bens. A dis-
cusso dos primeiros captulos do livro I da tica de Ni-
cmaco sobre a eudaimona mostra, com efeito, que a on-
tologia platnica do Bem operou historicamente a abertura
de um novo espao de inteligibilidade, no interior do qual
torna-se possvel a crtica aristotlica do Bem separado e
sua dialtica da beatitude (eudaimona) fundada sobre a
analogicidade da noo de bem,
75
que Sto. Toms de Aqui-
no retomar e transfundir em novos modelos conceptuais
nas clebres questes 1 a 5 da Prima Secundae.
76
igualmente no campo conceptual da idia do Bem
que o temeroso e abissal problema do mal e do destino
transposto do registro do mito para a ordem da razo
que rege a cincia do ethos. A oposio absoluta entre o
bem e o mal que permanece como poderosa seduo de
todos os dualismos ontolgicos e ticos,
77
relativizada
com a dessubstancializao do mal, ou seja, com a sua
"desrealizao" na forma de "privao" (stresis) do bem
ou de simples amissio boni (Plotino e Sto. Agostinho).
78
Um dos mais obscuros enigmas da existncia tica do ho-
mem incorpora-se, assim, cincia do ethos e comea a
ser penetrado pela luz da razo.
Se o Bem constitui o plo objetivo unificante da praxis,
a virtude (aret) o seu plo subjetivo: entre os dois se
estabelece o campo de racionalidade do ethos. A raiz se-
mntica do termo aret, para o qual o nosso termo "vir-
75. Et. a Nic. I, c.l-12. Sobre a significao da experincia
pessoal de Aristteles no caminho que o leva do Bem transcendente
de Plato multiplicidade analgica dos bens na tica, ver as belas
pginas de Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, pp. 126-133.
76. E em outros textos. Ver H. C. de Lima Vaz, Toms de Aquino
e o nosso tempo: o problema do fim do homem, apud Escritos de
Filosofia: Problemas de fronteira, pp. 37-70 (aqui p. 49).
77. E exemplarmente em todas as formas de "gnosticismo"
que o pensam'ento antigo desde o chamado "orfismo"
at os sistemas propriamente gnsticos que florescem do sculo II
d.C. ao fim da Antiguidade. Sobre a significao do gnosticismo ver
H. c. Puech, Phnomnologie de la gnose, apud. En qute de la Gnose,
Paris, Gallimard, 1978, I, pp. 185-213.
78. Este problema est intimamente ligado ao problema do
destino, e ambos emergem para a claridade de um tratamento racio-
nal luz da idia do Bem. o que mostra o magistral estudo so-
bre o problema do mal em Plato de W. C. Greene na sua obra Moira:
Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. cit., pp. 293-316; sobre
Plotino e Sto. Agostinho, ver pp. 376-388.
54
tude" oferece apenas uma traduo plida e fosca, mer-
gulha no terreno da excelncia fsica, da perfeio irradian-
te de uma plenitude de ser, ou ento de um fim mais alto
e melhor que se persegue.
79
A teleologia do bem encon-
tra-se com a concepo finalstica da aret, mas longo
o caminho que dever conduzir aret como agir plena-
mente bom (eu prttein) no sentido moral, que procede da
possesso estvel do bem (hexis), da virtude como hbito,
segundo a concepo aristotlica. Na sua verso agonal
arcaica, como em Tirteu, a aret inclui esses trs elemen
tos que devero, mais tarde, deixar seus traos nos mati-
zes do conceito moral de virtude: 1) o eu prttein como
vida prspera e feliz; 2) o reconhecimento dos contempo-
rneos; 3) a piedosa memria dos psteros.
80
A aret aris-
tocrtica, que tem seu paradigma na coragem (andreia),
ser transposta na aret filosfica
81
que culmina na sabe-
doria ( sopha).
82
Mas a tematizao da aret nos quadros
racionais de uma cincia do ethos s ter lugar plenamente
quando, na idade dos Sofistas, estiver armado o conflito
entre o ethos como tradio e o ethos como cincia. Seu
campo terico de disputa ser justamente a questo cle-
bre sobre a ensinabilidade da aret.
79. Sobre os diversos sentidos de aret ver Ed. Schwartz, Ethik
der Griechen, pp. 19-25. Ver Gauthier-Jolif, comentrio t. Nic.
II, 1 (L'thique Nicomaque, t. II, 1959, pp. 101-106) e A. Magris,
L'idea di destino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 106-108.
80. Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, p. 25. Sobre a concep-
o guerreira da aret em Tirteu e seu influxo no desenvolvimento
posterior dessa noo, ver W. Jaeger Tyrtaios ilber die wahre ARETE
apud Scripta minora II, pp. 73-114 (pp. 99ss.: a transposio espiri:
tual da aret). particularmente significativa a aproximao do
texto de Tirteu com o louvor paulino da caridade (lCor 13) com que
Jaeger conclui seu belo ensaio (pp. 112-114).
81. Com efeito, a virtude moral ou a virtude verdadeira ser
fonte, para o homem, do verdadeiro "bem viver" (eu zn) do au-
tntico louvor, da recordao agradecida. Ver Xenfanes: "Melhor
que a fora dos homens e dos cavalos a nossa sabedoria" (D.-K.,
21, B, 2). Os versos de Xenfanes so uma resposta celebrao da
aret agonal por Tirteu (W. Jaeger, Tyrtaios ber die wahre ARETE,
pp. 101-104). A passagem da aret aristocrtica para a aret poltica
excelentemente estudada por Eric Voegelin, Order and History II
The World of Polis, c. 7, pp. 184-202. '
82. Comparar com o elogio da sabedoria em Pr 3,13-35 e da
vida virtuosa em Sb 4,1-2. Sobre virtus na concepo romana ver
Maria Helena Rocha Pereira, Estudos de Histria da Cultura clssica
II, A Cultura romana, Lisboa, Fundao Gulbenkian, 1984 pp. 397-
-407. Essa concepo ser sintetizada por M. T. Ccero: "Qtiod hones-
55
o Soberano Bem, a hierarquia analgica dos bens. A dis-
cusso dos primeiros captulos do livro I da tica de Ni-
cmaco sobre a eudaimona mostra, com efeito, que a on-
tologia platnica do Bem operou historicamente a abertura
de um novo espao de inteligibilidade, no interior do qual
torna-se possvel a crtica aristotlica do Bem separado e
sua dialtica da beatitude (eudaimona) fundada sobre a
analogicidade da noo de bem,
75
que Sto. Toms de Aqui-
no retomar e transfundir em novos modelos conceptuais
nas clebres questes 1 a 5 da Prima Secundae.
76
igualmente no campo conceptual da idia do Bem
que o temeroso e abissal problema do mal e do destino
transposto do registro do mito para a ordem da razo
que rege a cincia do ethos. A oposio absoluta entre o
bem e o mal que permanece como poderosa seduo de
todos os dualismos ontolgicos e ticos,
77
relativizada
com a dessubstancializao do mal, ou seja, com a sua
"desrealizao" na forma de "privao" (stresis) do bem
ou de simples amissio boni (Plotino e Sto. Agostinho).
78
Um dos mais obscuros enigmas da existncia tica do ho-
mem incorpora-se, assim, cincia do ethos e comea a
ser penetrado pela luz da razo.
Se o Bem constitui o plo objetivo unificante da praxis,
a virtude (aret) o seu plo subjetivo: entre os dois se
estabelece o campo de racionalidade do ethos. A raiz se-
mntica do termo aret, para o qual o nosso termo "vir-
75. Et. a Nic. I, c.l-12. Sobre a significao da experincia
pessoal de Aristteles no caminho que o leva do Bem transcendente
de Plato multiplicidade analgica dos bens na tica, ver as belas
pginas de Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, pp. 126-133.
76. E em outros textos. Ver H. C. de Lima Vaz, Toms de Aquino
e o nosso tempo: o problema do fim do homem, apud Escritos de
Filosofia: Problemas de fronteira, pp. 37-70 (aqui p. 49).
77. E exemplarmente em todas as formas de "gnosticismo"
que o pensam'ento antigo desde o chamado "orfismo"
at os sistemas propriamente gnsticos que florescem do sculo II
d.C. ao fim da Antiguidade. Sobre a significao do gnosticismo ver
H. c. Puech, Phnomnologie de la gnose, apud. En qute de la Gnose,
Paris, Gallimard, 1978, I, pp. 185-213.
78. Este problema est intimamente ligado ao problema do
destino, e ambos emergem para a claridade de um tratamento racio-
nal luz da idia do Bem. o que mostra o magistral estudo so-
bre o problema do mal em Plato de W. C. Greene na sua obra Moira:
Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. cit., pp. 293-316; sobre
Plotino e Sto. Agostinho, ver pp. 376-388.
54
tude" oferece apenas uma traduo plida e fosca, mer-
gulha no terreno da excelncia fsica, da perfeio irradian-
te de uma plenitude de ser, ou ento de um fim mais alto
e melhor que se persegue.
79
A teleologia do bem encon-
tra-se com a concepo finalstica da aret, mas longo
o caminho que dever conduzir aret como agir plena-
mente bom (eu prttein) no sentido moral, que procede da
possesso estvel do bem (hexis), da virtude como hbito,
segundo a concepo aristotlica. Na sua verso agonal
arcaica, como em Tirteu, a aret inclui esses trs elemen
tos que devero, mais tarde, deixar seus traos nos mati-
zes do conceito moral de virtude: 1) o eu prttein como
vida prspera e feliz; 2) o reconhecimento dos contempo-
rneos; 3) a piedosa memria dos psteros.
80
A aret aris-
tocrtica, que tem seu paradigma na coragem (andreia),
ser transposta na aret filosfica
81
que culmina na sabe-
doria ( sopha).
82
Mas a tematizao da aret nos quadros
racionais de uma cincia do ethos s ter lugar plenamente
quando, na idade dos Sofistas, estiver armado o conflito
entre o ethos como tradio e o ethos como cincia. Seu
campo terico de disputa ser justamente a questo cle-
bre sobre a ensinabilidade da aret.
79. Sobre os diversos sentidos de aret ver Ed. Schwartz, Ethik
der Griechen, pp. 19-25. Ver Gauthier-Jolif, comentrio t. Nic.
II, 1 (L'thique Nicomaque, t. II, 1959, pp. 101-106) e A. Magris,
L'idea di destino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 106-108.
80. Ed. Schwartz, Ethik der Griechen, p. 25. Sobre a concep-
o guerreira da aret em Tirteu e seu influxo no desenvolvimento
posterior dessa noo, ver W. Jaeger Tyrtaios ilber die wahre ARETE
apud Scripta minora II, pp. 73-114 (pp. 99ss.: a transposio espiri:
tual da aret). particularmente significativa a aproximao do
texto de Tirteu com o louvor paulino da caridade (lCor 13) com que
Jaeger conclui seu belo ensaio (pp. 112-114).
81. Com efeito, a virtude moral ou a virtude verdadeira ser
fonte, para o homem, do verdadeiro "bem viver" (eu zn) do au-
tntico louvor, da recordao agradecida. Ver Xenfanes: "Melhor
que a fora dos homens e dos cavalos a nossa sabedoria" (D.-K.,
21, B, 2). Os versos de Xenfanes so uma resposta celebrao da
aret agonal por Tirteu (W. Jaeger, Tyrtaios ber die wahre ARETE,
pp. 101-104). A passagem da aret aristocrtica para a aret poltica
excelentemente estudada por Eric Voegelin, Order and History II
The World of Polis, c. 7, pp. 184-202. '
82. Comparar com o elogio da sabedoria em Pr 3,13-35 e da
vida virtuosa em Sb 4,1-2. Sobre virtus na concepo romana ver
Maria Helena Rocha Pereira, Estudos de Histria da Cultura clssica
II, A Cultura romana, Lisboa, Fundao Gulbenkian, 1984 pp. 397-
-407. Essa concepo ser sintetizada por M. T. Ccero: "Qtiod hones-
55
Essa questo traduz, na verdade, as repercusses da
profunda mudana no estatuto da paideia tradicional de-
sencadeada pela penetrao do lagos demonstrativo no ter-
reno do ethos. O epicentro desse abalo poderoso na cultura
grega foi Atenas na segunda metade do sculo V a.C.
83
E os
obreiros da transformao da educao ateniense que se
seguiu crise do ethos foram, de um lado os Sofistas e,
de outro, Scrates e seus discpulos.
84
A oposio entre
os Sofistas e os socrticos (sobretudo Plato) no deve,
porm, ocultar a comunidade de cultura e problemas que
os une. Em particular, as duas questes fundamentais a
propsito da aret formam um ncleo comum de reflexo
e discusso: a) a aret una, mltipla ou infinitamente
diversa? b) a aret pode ser objeto de cincia e de ensi-
namento? Tais interrogaes mostram, de uma parte, o
declnio da antiga concepo aristocrtica na qual a virtude
da coragem (andreia) unificava os traos da figura exem-
plar do heri como realizao acabada da aret
85
e, de
outra, a relativizao do modelo tico numa civilizao plu-
ralista e competitiva. O dilogo Protgoras que assinala,
como sabido, o primeiro grande confronto entre o S-
crates platnico e os Sofistas no terreno de um ethos sub-
metido judicatura da razo demonstrativa, termina por
levantar a questo decisiva: a virtude uma cincia? No
Protgoras, a questo permanece sem resposta, pois a cin-
cia na qual dever consistir a virtude h de ser uma cincia
reguladora e mensurante ( metretik)
86
e essa s se poder
tum, quod rectum, quod decorum appellamus quod item interdum
virtutis nomine amplectimur", Tusc. Disp. 11, 3, 30.
83. Ver a imagem dessa Atenas de Pricles na orao fnebre
sobre os mortos atenienses, Tucdides, Hist. II, 40.
84. Dentre a imensa literatura a respeito convm ler W. Jae-
ger, Paideia, the Ideals of Greek culture, I, pp. 286-331; H. I. Marrou
Histoire d ~ l'ducation dans l'Antiquit, Paris, Seuil, 1948, pp. 81-98;
E. Voegelm, Order and History, li The World of Polis, pp. 268-277.
Sobre a questo especfica da ensinabilidade da virtude neste con-
texto, ver J. Vivs, Gnesis y evolucin de la tica platnica pp.
~ . '
85. Ver as belas pginas de A. J. Festugiere .sobre o heri grego
em La Saintet, Paris, PUF, 1949, pp. 27-68.
86. Prot. 356 d. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek
culture, II, pp. 107-125. A episthme ou cincia que Scrates reivin-
dica para a virtude, no Protgoras, um saber prtico que perma-
nece ligado analogia com a atividade tcnica. Ver J. Vivs, op.
cit., pp. 47-60. Sobre as idias morais no Protgoras ver ainda T. Ir-
win, Plato's Moral Theory, pp. 102-114: mas a caracterizao da po-
56
definir a partir do paradigma das Idias, nos dilogos da
maturidade. O dilogo Menon, do qual a temtica da aret
constitui o objeto prprio, pode ser considerado - pela
utilizao sistemtica do mito da reminiscncia - o mo-
mento decisivo da transio do saber socrtico para a cin-
cia platnica e, portanto, de um ponto de vista histrico,
a pgina inaugural de uma cincia do ethos no sentido ri-
goroso e prprio."' Por outro lado, o fato de que a estru-
tura do Menon descreva um crculo em cuja trajetria se
situam retrospectivamente os grandes estdios da concep-
o grega da aret - do estdio socrtico ao sofstico, des-
te ao estdio democrtico e ao estdio aristocrtico -
88
mostra que o propsito platnico tem em vista a retomada
de todos os valores da paideia grega na perspectiva de uma
sntese entre natureza e saber.
89
A Repblica, no entanto,
estava reservada a exposio pormenorizada do programa
dessa nova paideia que repousar exatamente sobre as ba-
ses de uma cincia rigorosa do ethos. Mas ela se anuncia
j na concluso do Menon, quando a virtude acaba por se
identificar com a "opinio reta" (orth dxa), acompanha-
da de um dom divino ( theia moira).
9
Com o advento da
cincia do ethos, a "opinio reta" ceder lugar cincia do
Bem e o "dom divino" idia do Bem (tou agathou ida).
91
A doutrina socrtica da virtude-cincia encontra, assim, sua
transposio ontolgica e o campo de racionalidade da
cincia do ethos fica, afinal, constitudo entre o plo obje-
tivo do bem (agathn) e o plo subjetivo da virtude (are-
sio socrtica como "hedonista" objeto de discusso. Sobre a
personagem do sofista Protgoras no dilogo, ver Evelyne Mron,
Les ides morales des interlocuteurs de Socrate dans le dialogues pla-
toniciens de la jeunesse, Paris, Vrin, 1979, pp. 142-157.
87. Uma justificao dessa posio intermediria do Menon exi-
giria desenvolvimentos que estas notas no comportam.
88. Sobre a estrutura do Menon ver R. Brague, Le Restant;
supplment aux commentaires du Mnon, Paris, Belles Lettres-Vrin,
1978, pp. 49-51.
89. Este ponto abundantemente desenvolvido por H. J. Kr-
mer na primeira parte do seu livro Aret bei Platon und Aristoteles:
zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidel-
berg Carl Winter, 1959, pp. 42-145, ao estudar o pensamento da or-
dem' nos primeiros dilogos. Ver igualmente o brilhante captulo de
w. Jaeger sobre o problema da aret nos chamados dilogos socr-
ticos, Paideia, the Ideals of Greek culture, II, pp. 87-106.
90. Men. 99 b-100 c.
91. Rep. VI, 508 e-509 b.
57
Essa questo traduz, na verdade, as repercusses da
profunda mudana no estatuto da paideia tradicional de-
sencadeada pela penetrao do lagos demonstrativo no ter-
reno do ethos. O epicentro desse abalo poderoso na cultura
grega foi Atenas na segunda metade do sculo V a.C.
83
E os
obreiros da transformao da educao ateniense que se
seguiu crise do ethos foram, de um lado os Sofistas e,
de outro, Scrates e seus discpulos.
84
A oposio entre
os Sofistas e os socrticos (sobretudo Plato) no deve,
porm, ocultar a comunidade de cultura e problemas que
os une. Em particular, as duas questes fundamentais a
propsito da aret formam um ncleo comum de reflexo
e discusso: a) a aret una, mltipla ou infinitamente
diversa? b) a aret pode ser objeto de cincia e de ensi-
namento? Tais interrogaes mostram, de uma parte, o
declnio da antiga concepo aristocrtica na qual a virtude
da coragem (andreia) unificava os traos da figura exem-
plar do heri como realizao acabada da aret
85
e, de
outra, a relativizao do modelo tico numa civilizao plu-
ralista e competitiva. O dilogo Protgoras que assinala,
como sabido, o primeiro grande confronto entre o S-
crates platnico e os Sofistas no terreno de um ethos sub-
metido judicatura da razo demonstrativa, termina por
levantar a questo decisiva: a virtude uma cincia? No
Protgoras, a questo permanece sem resposta, pois a cin-
cia na qual dever consistir a virtude h de ser uma cincia
reguladora e mensurante ( metretik)
86
e essa s se poder
tum, quod rectum, quod decorum appellamus quod item interdum
virtutis nomine amplectimur", Tusc. Disp. 11, 3, 30.
83. Ver a imagem dessa Atenas de Pricles na orao fnebre
sobre os mortos atenienses, Tucdides, Hist. II, 40.
84. Dentre a imensa literatura a respeito convm ler W. Jae-
ger, Paideia, the Ideals of Greek culture, I, pp. 286-331; H. I. Marrou
Histoire d ~ l'ducation dans l'Antiquit, Paris, Seuil, 1948, pp. 81-98;
E. Voegelm, Order and History, li The World of Polis, pp. 268-277.
Sobre a questo especfica da ensinabilidade da virtude neste con-
texto, ver J. Vivs, Gnesis y evolucin de la tica platnica pp.
~ . '
85. Ver as belas pginas de A. J. Festugiere .sobre o heri grego
em La Saintet, Paris, PUF, 1949, pp. 27-68.
86. Prot. 356 d. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek
culture, II, pp. 107-125. A episthme ou cincia que Scrates reivin-
dica para a virtude, no Protgoras, um saber prtico que perma-
nece ligado analogia com a atividade tcnica. Ver J. Vivs, op.
cit., pp. 47-60. Sobre as idias morais no Protgoras ver ainda T. Ir-
win, Plato's Moral Theory, pp. 102-114: mas a caracterizao da po-
56
definir a partir do paradigma das Idias, nos dilogos da
maturidade. O dilogo Menon, do qual a temtica da aret
constitui o objeto prprio, pode ser considerado - pela
utilizao sistemtica do mito da reminiscncia - o mo-
mento decisivo da transio do saber socrtico para a cin-
cia platnica e, portanto, de um ponto de vista histrico,
a pgina inaugural de uma cincia do ethos no sentido ri-
goroso e prprio."' Por outro lado, o fato de que a estru-
tura do Menon descreva um crculo em cuja trajetria se
situam retrospectivamente os grandes estdios da concep-
o grega da aret - do estdio socrtico ao sofstico, des-
te ao estdio democrtico e ao estdio aristocrtico -
88
mostra que o propsito platnico tem em vista a retomada
de todos os valores da paideia grega na perspectiva de uma
sntese entre natureza e saber.
89
A Repblica, no entanto,
estava reservada a exposio pormenorizada do programa
dessa nova paideia que repousar exatamente sobre as ba-
ses de uma cincia rigorosa do ethos. Mas ela se anuncia
j na concluso do Menon, quando a virtude acaba por se
identificar com a "opinio reta" (orth dxa), acompanha-
da de um dom divino ( theia moira).
9
Com o advento da
cincia do ethos, a "opinio reta" ceder lugar cincia do
Bem e o "dom divino" idia do Bem (tou agathou ida).
91
A doutrina socrtica da virtude-cincia encontra, assim, sua
transposio ontolgica e o campo de racionalidade da
cincia do ethos fica, afinal, constitudo entre o plo obje-
tivo do bem (agathn) e o plo subjetivo da virtude (are-
sio socrtica como "hedonista" objeto de discusso. Sobre a
personagem do sofista Protgoras no dilogo, ver Evelyne Mron,
Les ides morales des interlocuteurs de Socrate dans le dialogues pla-
toniciens de la jeunesse, Paris, Vrin, 1979, pp. 142-157.
87. Uma justificao dessa posio intermediria do Menon exi-
giria desenvolvimentos que estas notas no comportam.
88. Sobre a estrutura do Menon ver R. Brague, Le Restant;
supplment aux commentaires du Mnon, Paris, Belles Lettres-Vrin,
1978, pp. 49-51.
89. Este ponto abundantemente desenvolvido por H. J. Kr-
mer na primeira parte do seu livro Aret bei Platon und Aristoteles:
zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidel-
berg Carl Winter, 1959, pp. 42-145, ao estudar o pensamento da or-
dem' nos primeiros dilogos. Ver igualmente o brilhante captulo de
w. Jaeger sobre o problema da aret nos chamados dilogos socr-
ticos, Paideia, the Ideals of Greek culture, II, pp. 87-106.
90. Men. 99 b-100 c.
91. Rep. VI, 508 e-509 b.
57
.. j __ se observou anteriormente a propsito da
do Bem separado, tambm a elaborao
sistematica de uma teoria das virtudes na tica de Nic6-
maco se faz a partir da transposio platnica da doutrina
virtude-cincia: a ela se prende a concepo das virtudes
dianoticas e a atribuio da direo da vida moral sa-
bedoria prtica ou prudncia (phrnesis). Por outro lado
a do problema da aret do domnio do
tradicional para o domnio da cincia recoloca inevitavel-
n:ente o, problema da sua unidade: se a cincia una, a
virtude e una. A enumerao e a hierarquia das virtudes
torna-se um tpos clssico na histria da tica. Nele se
a de Plato, a teoria daquelas que se de-
mms tarde "virtudes cardeais": prudncia jus-
tia, temperana, fortaleza.
92
A unificao da vida em
do das virtudes representa um passo de-
na con_stitl!Iao do campo de racionalidade do ethos.
Sera nessa_ que_ Aristteles buscar uma inteligibili-
especifiCa da praxzs aps o abandono da ontologia pla-
tomca do Bem.
93
. Entre o plo objetivo do Bem e o plo subjetivo da
descreve-se a trajetria da praxis como ato do su-
Jeito, que a virtude (hexis) ao Bem (ethos). 94 o pro-
blema do SUJeito moral - ou da praxis tica enquanto ato
humano por exc_el_ncia, na sua naturza, na sua estrutura
e nos seus - fecha o ciclo dos grandes
problemas dehrmtam o campo de racionalidade aberto
pela do lagos da cincia na esfera do ethos. A lei,
o Bem, a como perfeio do agir: esses os tpicos
fl!ndamentais em torno dos quais se constitui a nova cin-
Cia do ethos.
95
92: Ver 69 a-c; Bang. 196 b-d; Rep. V, 428 a-429 a; Leis I,
630 a:b, M.T. C1cero, Tusc. Dzsp. III, 17. A transposio crist da
das cardeais. pode-se ler numa bela pgina de Sto.
Agostmho, De morzbus Eccleszae catholicae I 15 25 (PL 32 1332)
Sobre a _unidade .e .a pluralidade das virtudes n viso e
perspectiva ve_r T. Irwin, op. cit., pp. 18-101.
93. Ver H. J. Kramer,_ Arete bet Platon und Aristoteles, op. cit.,
pp. 552-571. da physis na concepo da ordem dos
seres.-:- o_ como prton kinoun - est na origem
distmao anstotehca entre cincia terica e cincia prtica. Ver
Ibidem, pp. 559-560. 1
94. Ver. esquema supra, cap. I, n. 62.
. 95. O t1tulo do 39 capitulo do livro de Lon Robin La Morale
antzque (ver nota 43 supra), "As condies psicolgicas da o moral",
58
justamente em razo do novo conceito de homem co-
mo sujeito moral, centro do seu ensinamento, que o ttulo
de fundador da cincia moral, consagrado pela tradio,
pode ser atribudo a Scrates. Com efeito, a noo socr-
tica de "alma" (psuch), como demonstrou brilhantemen-
te Werner Jaeger,
96
inaugura uma nova histria na idia
ocidental do homem. Ora, como fonte de um novo sis-
tema de areta,
97
de uma nova e superior forma de vida
que a psuch se manifesta como a verdadeira essncia do
homem. Estava, assim, descoberto o sujeito moral ou o
homem interior" (o ents nthropos)
98
que Plato ir de-
nominar a parte divina ou a mais. divina de cada um ( t
eautou theitaton)
99
e que, sob a forma da "conscincia
moral", se tornar uma das categorias antropolgicas b-
sicas da tica ocidental.
100
Desta sorte, a interrogao pa-
r.a a qual convergem todas as questes que o lagos da
cincia levanta no domnio do ethos volta-se, finalmente,
para o prprio homem, portador do lagos: "Que , pois,
o homem?".
101
Evidentemente, a pergunta no tem em vis-
ta o indivduo emprico, a composio fsica ou orgnica
do homem, mas o Si essencial que o preceito dlfico orde-
parece demasiado restritivo pois, na verdade, todo o problema da
"pessoa moral" que est em jogo no estudo das condies subjetivas
do agir.
96. Paideia, the Ideals of Greek culture, II, pp. 40-46. Sobre
a novidade da significao do termo psuch em Scrates, defendida
por John Burnet, ver W. C. G. Guthrie, A history of Greek Philosophy,
III, pp. 467-470. Ver igualmente G. Reale, Storia della filosofia antica
I, pp. 303-311.
97. Segundo a analogia com o corpo e com o sistema das suas
areta fsicas Scrates dir: "A virtude, pois, ao que parece, uma
certa sade, beleza e bem-estar" (arete men ra os oken hygiei t
tis n e kaz kallos kaz euexa, Rep. VI 444 d-e).
98. Rep. IX, 589 b; ver Fedro 279 b-c (prece do Sbio).
99. Rep. IX, 589 e.
100. o termo synedsis para designar a conscincia moral
apario tardia e seria temerrio fazer remontar a Scrates a noao
definida j nos seus matizes. Ver, a propsito, E. des Places, cons-
cience et personne dans l'Antiquit classique, "Bblica", 1949, pp. 501-
-509 Ed Schwartz Ethik der Grtechen, p. 91 e nota 31, p. 237; R.
La comprensin del sujeto humano en la cultura antigua,
Buenos Aires Imn 1955 p. 391. Mas parece indiscutvel a continui-
dade que une a noco sbcrtica de psuch noo mais tardia de
"conscincia moral", atravs da identificao synesis-synedsis; ver
A. R. Gauthier, Gauthier-Jolif, L'th. Nic., Comm. II, 2, 519-527 .
101. t pot' oun o nthropos (1 Alcibtades 129 e).
59
.. j __ se observou anteriormente a propsito da
do Bem separado, tambm a elaborao
sistematica de uma teoria das virtudes na tica de Nic6-
maco se faz a partir da transposio platnica da doutrina
virtude-cincia: a ela se prende a concepo das virtudes
dianoticas e a atribuio da direo da vida moral sa-
bedoria prtica ou prudncia (phrnesis). Por outro lado
a do problema da aret do domnio do
tradicional para o domnio da cincia recoloca inevitavel-
n:ente o, problema da sua unidade: se a cincia una, a
virtude e una. A enumerao e a hierarquia das virtudes
torna-se um tpos clssico na histria da tica. Nele se
a de Plato, a teoria daquelas que se de-
mms tarde "virtudes cardeais": prudncia jus-
tia, temperana, fortaleza.
92
A unificao da vida em
do das virtudes representa um passo de-
na con_stitl!Iao do campo de racionalidade do ethos.
Sera nessa_ que_ Aristteles buscar uma inteligibili-
especifiCa da praxzs aps o abandono da ontologia pla-
tomca do Bem.
93
. Entre o plo objetivo do Bem e o plo subjetivo da
descreve-se a trajetria da praxis como ato do su-
Jeito, que a virtude (hexis) ao Bem (ethos). 94 o pro-
blema do SUJeito moral - ou da praxis tica enquanto ato
humano por exc_el_ncia, na sua naturza, na sua estrutura
e nos seus - fecha o ciclo dos grandes
problemas dehrmtam o campo de racionalidade aberto
pela do lagos da cincia na esfera do ethos. A lei,
o Bem, a como perfeio do agir: esses os tpicos
fl!ndamentais em torno dos quais se constitui a nova cin-
Cia do ethos.
95
92: Ver 69 a-c; Bang. 196 b-d; Rep. V, 428 a-429 a; Leis I,
630 a:b, M.T. C1cero, Tusc. Dzsp. III, 17. A transposio crist da
das cardeais. pode-se ler numa bela pgina de Sto.
Agostmho, De morzbus Eccleszae catholicae I 15 25 (PL 32 1332)
Sobre a _unidade .e .a pluralidade das virtudes n viso e
perspectiva ve_r T. Irwin, op. cit., pp. 18-101.
93. Ver H. J. Kramer,_ Arete bet Platon und Aristoteles, op. cit.,
pp. 552-571. da physis na concepo da ordem dos
seres.-:- o_ como prton kinoun - est na origem
distmao anstotehca entre cincia terica e cincia prtica. Ver
Ibidem, pp. 559-560. 1
94. Ver. esquema supra, cap. I, n. 62.
. 95. O t1tulo do 39 capitulo do livro de Lon Robin La Morale
antzque (ver nota 43 supra), "As condies psicolgicas da o moral",
58
justamente em razo do novo conceito de homem co-
mo sujeito moral, centro do seu ensinamento, que o ttulo
de fundador da cincia moral, consagrado pela tradio,
pode ser atribudo a Scrates. Com efeito, a noo socr-
tica de "alma" (psuch), como demonstrou brilhantemen-
te Werner Jaeger,
96
inaugura uma nova histria na idia
ocidental do homem. Ora, como fonte de um novo sis-
tema de areta,
97
de uma nova e superior forma de vida
que a psuch se manifesta como a verdadeira essncia do
homem. Estava, assim, descoberto o sujeito moral ou o
homem interior" (o ents nthropos)
98
que Plato ir de-
nominar a parte divina ou a mais. divina de cada um ( t
eautou theitaton)
99
e que, sob a forma da "conscincia
moral", se tornar uma das categorias antropolgicas b-
sicas da tica ocidental.
100
Desta sorte, a interrogao pa-
r.a a qual convergem todas as questes que o lagos da
cincia levanta no domnio do ethos volta-se, finalmente,
para o prprio homem, portador do lagos: "Que , pois,
o homem?".
101
Evidentemente, a pergunta no tem em vis-
ta o indivduo emprico, a composio fsica ou orgnica
do homem, mas o Si essencial que o preceito dlfico orde-
parece demasiado restritivo pois, na verdade, todo o problema da
"pessoa moral" que est em jogo no estudo das condies subjetivas
do agir.
96. Paideia, the Ideals of Greek culture, II, pp. 40-46. Sobre
a novidade da significao do termo psuch em Scrates, defendida
por John Burnet, ver W. C. G. Guthrie, A history of Greek Philosophy,
III, pp. 467-470. Ver igualmente G. Reale, Storia della filosofia antica
I, pp. 303-311.
97. Segundo a analogia com o corpo e com o sistema das suas
areta fsicas Scrates dir: "A virtude, pois, ao que parece, uma
certa sade, beleza e bem-estar" (arete men ra os oken hygiei t
tis n e kaz kallos kaz euexa, Rep. VI 444 d-e).
98. Rep. IX, 589 b; ver Fedro 279 b-c (prece do Sbio).
99. Rep. IX, 589 e.
100. o termo synedsis para designar a conscincia moral
apario tardia e seria temerrio fazer remontar a Scrates a noao
definida j nos seus matizes. Ver, a propsito, E. des Places, cons-
cience et personne dans l'Antiquit classique, "Bblica", 1949, pp. 501-
-509 Ed Schwartz Ethik der Grtechen, p. 91 e nota 31, p. 237; R.
La comprensin del sujeto humano en la cultura antigua,
Buenos Aires Imn 1955 p. 391. Mas parece indiscutvel a continui-
dade que une a noco sbcrtica de psuch noo mais tardia de
"conscincia moral", atravs da identificao synesis-synedsis; ver
A. R. Gauthier, Gauthier-Jolif, L'th. Nic., Comm. II, 2, 519-527 .
101. t pot' oun o nthropos (1 Alcibtades 129 e).
59
na conhecer.
102
Trata-se do homem que psuch: capaz
de ser o portador da sabedoria (sophrosune), do discerni-
mento e da escolha do justo e do melhor. Em suma, trata-
-se do indivduo tico.
103
Convm, por outro lado, levar em
conta que a essencial abertura comunitria e poltica da
aret inerente concepo grega do indivduo, que se
define essencialmente com referncia polis.
104
Portanto,
nenhum matiz individualista e interiorista no sentido mo-
demo caberia descobrir na noo socrtica de psuch. As
bases antropolgicas da cincia do ethos admitem necessa-
riamente uma dimenso intersubjetiva da praxis, entre o
plo objetivo e o plo subjetivo, entre o agathn e a aret:
tal o sentido dessa "filosofia na cidade" que constitui o
trao essencial do perfil histrico de Scrates. Nas origens
da :E:tica, a dimenso antropolgica aparece paradigmatica-
mente, no ensinamento socrtico, como um "cuidado da al-
ma" ( tes psuches epimeleisthai),
105
exigindo o conhecimen-
to de si mesmo, como condio que convm denominar
transcendental para o conhecimento do bem e o exerccio
da virtude. Segundo Jan Patocka,
106
a Europa nasceu, co-
mo de um germe, desse "cuidado da alma". Ele alimenta
a tradio espiritual fundada sobre a idia do "homem in-
terior" no sentido socrtico, sujeito de uma praxis tica
que guiada pela luz do logos e por ela julgada. Essa tra-
dio espiritual comea, pois, a formar-se quando se entre-
cruzam e se fundem a antiga tradio do ethos grego e o
novo ideal de cultura representado pelo logos epistmico.
102. I Alcibades 129 b-130 c. A autenticidade do Primeiro Al-
cibades hoje comumente admitida e o dilogo pode ser conside-
rado um dos textos fundadores do pensamento tico ocidental
103. I Alcibades 130 c-131 b. A distino entre o ser e o
do homem, essencial para a constituio da tica como
cienCia, retorna no contexto solene da ltima conversao de Scra-
tes como crtica ao fisicismo de Anxagoras. Ver Fed. 98d-99 a. Por
outro lado, toda a complexidade psicolgica do indivduo emprico
no da psych; ver Jean Frere, Les Grecs et el
destr de l'etre, op. c1t., pp. 138-141. Todo esse belo livro deve ser
lido na perspectiva dos fundamentos antropolgicos da tica.
104. Ver H. G. Gadamer, Platos dialektische Ethik und andere
Studien zur platonischen Philosophie, IDunburgo, Meiner, 1968, p. 41.
105. Apol. Soe r. 29 d-30 a.
106. Ver J. Patocka, Platon et l'Europe (traduo do tcheco por
J\bram_s), Paris, Verdier, 1983, p. 99. Esse livro, fruto de um
semmno privado de 1973 (Patocka estava reduzido ao silncio na
sua prpria ptria) uma luminosa introduo ao problema do nas-
cimento da cincia do ethos.
60
Tal entrecruzamento e fuso tem lugar no ensinamento de
Scrates. Ele inaugura a cincia do ethos. A violncia da
crtica de Nietzsche
10
' a essa apario da :E:tica na aurora
da Geistesgeschichte do Ocidente atesta o infin1to alcance
desse evento nico. A partir de ento, no itinerrio que
conduz de Plato a Hegel, construir uma cincia do ethos
108
se apresentar como a mais alta aspirao da filosofia.
3. ESTRUTURA DA CINCIA DO ETHOS
o carter paradoxal que acompanha a cincia do ethos
desde os seus primeiros passos vem do fato de que, nela,
se cruzam duas exigncias aparentemente inconciliveis: a
exigncia do logos terico que se volta para a universali-
dade e imutabilidade que , e a exigncia do logos pr-
tico que estabelece as regras e o modelo do que deve ser.
A contingncia inerente praxis humana, criadora e por-
tadora do ethos, uma vez assumida no espao do logos da
cincia, situa-se, desta sorte, entre dois plos de necessida-
de: a necessidade do ser e a necessidade do operar, a ne-
cessidade da essncia e a necessidade do fim. O ser em
razo da sua essncia, o operar obedece a leis ou a regras
que tornam possvel a inteno e a consecuo do seu fim.
Para que o ethos possa ser pensado segundo as normas de
inteligibilidade da episthme ser necessrio referi-lo seja
ao espao de racionalidade da physis, seja ao espao de
racionalidade da tchne, sem que seja suprimida a sua ori-
ginalidade. Tal o problema que se coloca nas origens da
cincia do ethos.
A complexidade terica desse problema completa seus
traos se levarmos em conta que o ethos, considerado na
sua apario histrica, mostrou-se dotado de uma raciona-
107. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der
Musik 13-16 (Werke Ed. Schlechta, I, pp. 75-93).
lOS. Nossa civilizao pode ser designada, nesse como
a civilizao da cincia do ethos, ou da }ica_. e el?-tre os smais anun-
ciadores do seu fim nenhum talvez de tao meqUivoca quan-
to a crise da reflexo tica ou a recusa do pensamento filosof1co em
prosseguir a tarefa de pensar o ethos ..
a esse propsito, a crtica de He1ddeger tica como Ciencia, como
so instrutivas as aporias da moral de J.-P. Sartre. Sobre Sartre
ver s. Trogo, "M-f e converso: dois pilares da Antropologia sar-
triana" in Sntese 37 (1986): 51-69.
61
na conhecer.
102
Trata-se do homem que psuch: capaz
de ser o portador da sabedoria (sophrosune), do discerni-
mento e da escolha do justo e do melhor. Em suma, trata-
-se do indivduo tico.
103
Convm, por outro lado, levar em
conta que a essencial abertura comunitria e poltica da
aret inerente concepo grega do indivduo, que se
define essencialmente com referncia polis.
104
Portanto,
nenhum matiz individualista e interiorista no sentido mo-
demo caberia descobrir na noo socrtica de psuch. As
bases antropolgicas da cincia do ethos admitem necessa-
riamente uma dimenso intersubjetiva da praxis, entre o
plo objetivo e o plo subjetivo, entre o agathn e a aret:
tal o sentido dessa "filosofia na cidade" que constitui o
trao essencial do perfil histrico de Scrates. Nas origens
da :E:tica, a dimenso antropolgica aparece paradigmatica-
mente, no ensinamento socrtico, como um "cuidado da al-
ma" ( tes psuches epimeleisthai),
105
exigindo o conhecimen-
to de si mesmo, como condio que convm denominar
transcendental para o conhecimento do bem e o exerccio
da virtude. Segundo Jan Patocka,
106
a Europa nasceu, co-
mo de um germe, desse "cuidado da alma". Ele alimenta
a tradio espiritual fundada sobre a idia do "homem in-
terior" no sentido socrtico, sujeito de uma praxis tica
que guiada pela luz do logos e por ela julgada. Essa tra-
dio espiritual comea, pois, a formar-se quando se entre-
cruzam e se fundem a antiga tradio do ethos grego e o
novo ideal de cultura representado pelo logos epistmico.
102. I Alcibades 129 b-130 c. A autenticidade do Primeiro Al-
cibades hoje comumente admitida e o dilogo pode ser conside-
rado um dos textos fundadores do pensamento tico ocidental
103. I Alcibades 130 c-131 b. A distino entre o ser e o
do homem, essencial para a constituio da tica como
cienCia, retorna no contexto solene da ltima conversao de Scra-
tes como crtica ao fisicismo de Anxagoras. Ver Fed. 98d-99 a. Por
outro lado, toda a complexidade psicolgica do indivduo emprico
no da psych; ver Jean Frere, Les Grecs et el
destr de l'etre, op. c1t., pp. 138-141. Todo esse belo livro deve ser
lido na perspectiva dos fundamentos antropolgicos da tica.
104. Ver H. G. Gadamer, Platos dialektische Ethik und andere
Studien zur platonischen Philosophie, IDunburgo, Meiner, 1968, p. 41.
105. Apol. Soe r. 29 d-30 a.
106. Ver J. Patocka, Platon et l'Europe (traduo do tcheco por
J\bram_s), Paris, Verdier, 1983, p. 99. Esse livro, fruto de um
semmno privado de 1973 (Patocka estava reduzido ao silncio na
sua prpria ptria) uma luminosa introduo ao problema do nas-
cimento da cincia do ethos.
60
Tal entrecruzamento e fuso tem lugar no ensinamento de
Scrates. Ele inaugura a cincia do ethos. A violncia da
crtica de Nietzsche
10
' a essa apario da :E:tica na aurora
da Geistesgeschichte do Ocidente atesta o infin1to alcance
desse evento nico. A partir de ento, no itinerrio que
conduz de Plato a Hegel, construir uma cincia do ethos
108
se apresentar como a mais alta aspirao da filosofia.
3. ESTRUTURA DA CINCIA DO ETHOS
o carter paradoxal que acompanha a cincia do ethos
desde os seus primeiros passos vem do fato de que, nela,
se cruzam duas exigncias aparentemente inconciliveis: a
exigncia do logos terico que se volta para a universali-
dade e imutabilidade que , e a exigncia do logos pr-
tico que estabelece as regras e o modelo do que deve ser.
A contingncia inerente praxis humana, criadora e por-
tadora do ethos, uma vez assumida no espao do logos da
cincia, situa-se, desta sorte, entre dois plos de necessida-
de: a necessidade do ser e a necessidade do operar, a ne-
cessidade da essncia e a necessidade do fim. O ser em
razo da sua essncia, o operar obedece a leis ou a regras
que tornam possvel a inteno e a consecuo do seu fim.
Para que o ethos possa ser pensado segundo as normas de
inteligibilidade da episthme ser necessrio referi-lo seja
ao espao de racionalidade da physis, seja ao espao de
racionalidade da tchne, sem que seja suprimida a sua ori-
ginalidade. Tal o problema que se coloca nas origens da
cincia do ethos.
A complexidade terica desse problema completa seus
traos se levarmos em conta que o ethos, considerado na
sua apario histrica, mostrou-se dotado de uma raciona-
107. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der
Musik 13-16 (Werke Ed. Schlechta, I, pp. 75-93).
lOS. Nossa civilizao pode ser designada, nesse como
a civilizao da cincia do ethos, ou da }ica_. e el?-tre os smais anun-
ciadores do seu fim nenhum talvez de tao meqUivoca quan-
to a crise da reflexo tica ou a recusa do pensamento filosof1co em
prosseguir a tarefa de pensar o ethos ..
a esse propsito, a crtica de He1ddeger tica como Ciencia, como
so instrutivas as aporias da moral de J.-P. Sartre. Sobre Sartre
ver s. Trogo, "M-f e converso: dois pilares da Antropologia sar-
triana" in Sntese 37 (1986): 51-69.
61
lidade prpria, que a descrio fenomenolgica procurou
expor.
O problema fundamental de uma cincia do ethos
passa a ser formulado da seguinte maneira: que tipo de
correspondncia possvel estabelecer entre a racionalidade
do logos formalizada na episthme ou no discurso demons-
trativo e a racionalidade fenomenolgica do ethos histrico?
O postulado dessa correspondncia essencial tica como
cincia ou Filosofia moral.
110
Resta definir as leis dessa
correspondncia, e em torno dessa definio que se de-
lineiam os grandes modelos de pensamento tico.
A correspondncia entre a racionalidade da episthme
e a do ethos supe, por conseguinte, que a
praxzs, assumida como seu objeto pelo discurso da cincia
do ethos, no seja a praxis do indivduo emprico, abando-
nada simplesmente contingncia do seu arbtrio mas a
praxis como ao tica, termo da mediao do como
costume pelo ethos como hbito (hexis).
111
Assim, o pro-
blema que a nascente cincia do ethos se prope resolver
formula-se como a transcrio da racionalidade vivida que
se faz presente na passagem do costume ( ethos) ao
tica (praxis) pela mediao do hbito (hexis), na estrutu-
ra de um discurso demonstrativo (lagos apodeiktiks) . Se
a circularidade dialtica que constitui a racionalidade ima-
nente do ethos tem como momentos constitutivos a univer-
salidade abstrata do costume, a singularidade concreta da
ao tica e a particularidade do hbito, tica como cin-
cia caber primeiramente investigar a forma de racionali-
dade que caracterstica da universalidade do ethos como
costume.
As primeiras tentativas que se fazem presentes na au-
rora da filosofia grega para se constituir uma cincia do
ethos tem como alvo, justamente, estabelecer uma relao
de semelhana ou homologia entre a racionalidade do ethos
que se assume como pressuposio, e as formas cannicas
de racionalidade admitidas pelo logos epistmico: a racio-
nalidade da physis e a racionalidade da tchne. A praxis
109. Ver supra cap. I.
. . 110. Esse postulado pressupe, em suma, que a pluralidade his-
tonca dos ethoi ou dos costumes possa ser referida a um princpio
de unidade capaz de dar origem a uma teoria do ethos ou a uma
explicao da ao humana como ao sensata. Ver E. Weil, Philo-
sophie morale, pp, 30-39.
111. Ver supra cap. I, n. 19.
62
humana, na medida em que persegue a perfeio ou a exce-
lncia ( aret) do prprio homem, dever modelar-se ou segun-
do a razo universal da physis que se refletiria assim no
ethos, ou segundo a razo universal das regras de fabricao
s quais se submetem as outras formas do operar huma-
no.
112
O primeiro tipo de racionalidade causal, o segundo
teleolgico. Ser no entrecruzamento desses dois tipos de
racionalidade que ir emergir a racionalidade prpria do
ethos.
sabido que a analogia com a ordem universal da
physis foi o primeiro modelo que se apresentou ao discurso
filosfico sobre o ethos tal como aparece, por exemplo, em
Herclito. Mas essa grandiosa correspondncia entre a or-
dem humana e a ordem do mundo foi abalada com a crise
da segunda metade do sculo V a.C.: a descoberta da di-
versidade e da relatividade dos nmoi e o conflito das for-
mas polticas no mundo grego. Ao termo dessa crise, a
ph}ysis se dissociar do nmos e passar a alimentar o amo-
ralismo de uma poderosa corrente da Sofstica, como fonte
do "direito do mais forte".
113
caracterstico que uma
viso rigidamente fisicista, tal como a vemos formulada na
escola atomista, encontre dificuldade em elaborar uma ti-
ca correspondente aos seus princpios.
114
Os fragmentos
ticos atribudos a Demcrito
115
admitem apenas uma re-
lao vaga com os postulados mecanicistas do atomismo.
116
Na verdade, o passo decisivo para que a homologia entre a
phJysis e o ethos possa ser reformulada sobre novos funda-
mentos ser a introduo, por Anaxgoras, do finalismo da
Inteligncia (Nous) na concepo da physis.
117
No entanto,
112. Remetemos, mais uma vez, ao excelente captulo de Jos
Vivs sobre analogia e tica em Gnesis y evolucin de la tica pla-
tnica, pp. 7-35.
113. Ver W. C. Greene, Moira: Fate, Good and Evil in Greek
Thought, pp. 224-244.
114. No Epicurismo, com efeito, a fsica atomista ser sobre-
tudo um instrumento intelectual de persuaso para assegurar a im-
perturbabilidade (ataraxa) da alma. A necessidade objetiva da
physis est a servio do finalismo do prazer (hedon).
115. D.-K., 68, B, 35-115.
116. Sobre a tica de Demcrito ver W. K. C. Guthrie, A history
of Greek philosophy, II, pp. 489-497.
117. Sobre as origens e o desenvolvimento do pensamento te-
leolgico ver W. Theiler, Zur Geschichte der teleologischen Naturbe-
trachtung bis aut Aristoteles, ed., Berlim, W. de Gruyter, 1965.
Anaxgoras, Digenes de Apolnia e as Memorabilia de Xenofonte <I,
63
lidade prpria, que a descrio fenomenolgica procurou
expor.
O problema fundamental de uma cincia do ethos
passa a ser formulado da seguinte maneira: que tipo de
correspondncia possvel estabelecer entre a racionalidade
do logos formalizada na episthme ou no discurso demons-
trativo e a racionalidade fenomenolgica do ethos histrico?
O postulado dessa correspondncia essencial tica como
cincia ou Filosofia moral.
110
Resta definir as leis dessa
correspondncia, e em torno dessa definio que se de-
lineiam os grandes modelos de pensamento tico.
A correspondncia entre a racionalidade da episthme
e a do ethos supe, por conseguinte, que a
praxzs, assumida como seu objeto pelo discurso da cincia
do ethos, no seja a praxis do indivduo emprico, abando-
nada simplesmente contingncia do seu arbtrio mas a
praxis como ao tica, termo da mediao do como
costume pelo ethos como hbito (hexis).
111
Assim, o pro-
blema que a nascente cincia do ethos se prope resolver
formula-se como a transcrio da racionalidade vivida que
se faz presente na passagem do costume ( ethos) ao
tica (praxis) pela mediao do hbito (hexis), na estrutu-
ra de um discurso demonstrativo (lagos apodeiktiks) . Se
a circularidade dialtica que constitui a racionalidade ima-
nente do ethos tem como momentos constitutivos a univer-
salidade abstrata do costume, a singularidade concreta da
ao tica e a particularidade do hbito, tica como cin-
cia caber primeiramente investigar a forma de racionali-
dade que caracterstica da universalidade do ethos como
costume.
As primeiras tentativas que se fazem presentes na au-
rora da filosofia grega para se constituir uma cincia do
ethos tem como alvo, justamente, estabelecer uma relao
de semelhana ou homologia entre a racionalidade do ethos
que se assume como pressuposio, e as formas cannicas
de racionalidade admitidas pelo logos epistmico: a racio-
nalidade da physis e a racionalidade da tchne. A praxis
109. Ver supra cap. I.
. . 110. Esse postulado pressupe, em suma, que a pluralidade his-
tonca dos ethoi ou dos costumes possa ser referida a um princpio
de unidade capaz de dar origem a uma teoria do ethos ou a uma
explicao da ao humana como ao sensata. Ver E. Weil, Philo-
sophie morale, pp, 30-39.
111. Ver supra cap. I, n. 19.
62
humana, na medida em que persegue a perfeio ou a exce-
lncia ( aret) do prprio homem, dever modelar-se ou segun-
do a razo universal da physis que se refletiria assim no
ethos, ou segundo a razo universal das regras de fabricao
s quais se submetem as outras formas do operar huma-
no.
112
O primeiro tipo de racionalidade causal, o segundo
teleolgico. Ser no entrecruzamento desses dois tipos de
racionalidade que ir emergir a racionalidade prpria do
ethos.
sabido que a analogia com a ordem universal da
physis foi o primeiro modelo que se apresentou ao discurso
filosfico sobre o ethos tal como aparece, por exemplo, em
Herclito. Mas essa grandiosa correspondncia entre a or-
dem humana e a ordem do mundo foi abalada com a crise
da segunda metade do sculo V a.C.: a descoberta da di-
versidade e da relatividade dos nmoi e o conflito das for-
mas polticas no mundo grego. Ao termo dessa crise, a
ph}ysis se dissociar do nmos e passar a alimentar o amo-
ralismo de uma poderosa corrente da Sofstica, como fonte
do "direito do mais forte".
113
caracterstico que uma
viso rigidamente fisicista, tal como a vemos formulada na
escola atomista, encontre dificuldade em elaborar uma ti-
ca correspondente aos seus princpios.
114
Os fragmentos
ticos atribudos a Demcrito
115
admitem apenas uma re-
lao vaga com os postulados mecanicistas do atomismo.
116
Na verdade, o passo decisivo para que a homologia entre a
phJysis e o ethos possa ser reformulada sobre novos funda-
mentos ser a introduo, por Anaxgoras, do finalismo da
Inteligncia (Nous) na concepo da physis.
117
No entanto,
112. Remetemos, mais uma vez, ao excelente captulo de Jos
Vivs sobre analogia e tica em Gnesis y evolucin de la tica pla-
tnica, pp. 7-35.
113. Ver W. C. Greene, Moira: Fate, Good and Evil in Greek
Thought, pp. 224-244.
114. No Epicurismo, com efeito, a fsica atomista ser sobre-
tudo um instrumento intelectual de persuaso para assegurar a im-
perturbabilidade (ataraxa) da alma. A necessidade objetiva da
physis est a servio do finalismo do prazer (hedon).
115. D.-K., 68, B, 35-115.
116. Sobre a tica de Demcrito ver W. K. C. Guthrie, A history
of Greek philosophy, II, pp. 489-497.
117. Sobre as origens e o desenvolvimento do pensamento te-
leolgico ver W. Theiler, Zur Geschichte der teleologischen Naturbe-
trachtung bis aut Aristoteles, ed., Berlim, W. de Gruyter, 1965.
Anaxgoras, Digenes de Apolnia e as Memorabilia de Xenofonte <I,
63
era necessrio que a teleologia do Naus fosse purificada dos
seus resduos fisicistas e esse labor crtico constitui uma
das vertentes fundamentais da reflexo socrtico-platnica.
o fragmento autobiogrfico de Scrates no Fdon
118
assi-
nala o momento decisivo da recuperao da phJysis, pen-
sada agora segundo o finalismo da Idia, como termo de
referncia que permite estabelecer analogicamente o fina-
lismo prprio do ethos.
E sobre a analogia physis-ethos que iro repousar as
duas grandes construes com as quais tem incio a his-
tria da cincia do ethos: a tica platnica e a tica aristot-
lica. Para Plato, o Bem como Idia (ida tou agathou) sub-
mete ao seu finalismo transcendente a exigncia do melhor
que se faz presente no indivduo, na cidade e no universo:
a unicidade do Bem transcendente confere ao discurso tico
a feio de uma ontologia finalista.
119
Para Aristteles, o
Bem como Forma admite uma predicao analgica pro-
priamente dita (pollachs lgetai), fundada sobre a ten-
dncia de cada ser a realizar seu prprio bem ou perfeio
(enrgeia) segundo o dinamismo imanente da sua nature-
za. A Etica pode, ento, ser definida na sua autonomia co-
mo cincia que estuda a praxis do homem orientada para
seu fim propriamente humano (eudaimona). Ela , assim,
uma cincia especificamente prtica (praktike epsthme).
119
a
A analogia com o operar tcnico apresenta-se, por sua
vez, como o procedimento metodolgico ao qual Scrates
recorre inicialmente para enfrentar o relativismo sofsti-
co. Natureza e Arte passam a ser os termos de refe-
4; IV, 3) so os passos que antecedem a ontologia finalista de Pla-
to e Aristteles, segundo Theiler.
118. Fed. 96 a-101 c.
119. Sobre a analogia, no sentido especificamente platnico, co-
roada pela idia do Bem, ver Paul Grenet, Les origines de l'analo-
gie philosophique dans les Dialogues de Platon, Paris, Boivin, 1948
(sobre a analogia imitativa em moral, pp. 198-214). Ver igualmente
J. Vivs, Gnesis y evolucin de la tica platnica, cap. VI, pp. 204-
246 sobre a idia do Bem e a relao da tica e da ontologia em
Plato.
119a. R. Bodes, Le Philosophe et la Cit; recherches sur les
rapports entre Morale et Politique dans la pense d'Aristote, Paris,
Belles Lettres, 1982, defende a tese de que no h, em Aristteles,
uma cincia tica como disciplina especfica, mas uma instruo pa-
ra polticos e legisladores. No obstante toda engenhosidade e eru-
dio do A., sua demonstrao no parece convincente e soa como
um paradoxo em face de toda a tradio.
64
rncia nos quais a presena de uma razo teleolgica per-
mite estabelecer uma analogia com a racionalidade imanen-
te do ethos. Conquanto a analogia tcnica domine os pri-
meiros dilogos de Plato como instrumento preferido da
refutao socrtica,
120
ela apresenta dificuldades que leva-
ro sua superao e integrao na ontologia finalista do
Bem, na qual as relaes entre episthme e tchne se esta-
belecero ao nvel do lagos como discurso sobre as Idias.
121
A sntese entre o finalismo do universo e o finalismo da
ao estar terminada no Filebo, no Timeu e no 10.
0
livro
das Leis. A prpria physis, segundo o Timeu,
122
um kos-
mos produzido pelo obreiro divino (demiourgs), e as Leis
nos mostram o fundamento do agir justo no Estado esta-
belecido sobre o conhecimento e a contemplao da ordem
divina do universo.
123
No se pode esquecer, por outro lado, a analogia entre
o ethos e a arte da therapeia sugerida, sem dvida, pelo
brilhante desenvolvimento da medicina grega.
124
Ela apon-
ta para outra peculiaridade que se manifesta na cincia do
ethos: o seu carter normativo e operativo, fonte de novos
problemas epistemolgicos e metodolgicos. Com efeito, o
saber que aparece ligado ao ethos tradicional o saber de
uma norma de vida, de uma prescrio ou de um interdito:
trata-se, pois, de um saber que se constitui regra de uma
ao e no somente conhecimento de um ser ( theoria).
Essa a diferena que se faz visvel, por exemplo, na lin-
guagem narrativa do mito e na linguagem prescritiva da
sabedoria gnmica. No momento em que se pretende as-
sumir o ethos no campo da episthme, esse propsito se
v diante da dificuldade de se aliar a necessidade norma-
120. Ver Terence Irwin, Plato's Moral Theory, pp. 71-86.
121. Sobre episthme e tchne ver a 3 ~ pa;te_ da obra. de Hen;y
Joly Le renversement platonicien: Lagos, E;nsteme, Polts, Pans,
V rir{, 1974, pp. 191-272; sobre a hierarquia d a ~ . tcnicas cor?a?a pela
idia do Bem ver o belo captulo de P. Lachieze-Rey, Les zdees mo-
rales sociales et politiques de Platon, Paris, Boivin, 1938, pp. 59-86.
Para' a transposio platnica da tcnica e a sntese entre physis e
tchne so fundamentais os captulos da grande obra de Joseph Mo-
reau La Construction de l'idalisme platoncien, Paris, Boivin, 1939,
c. II-IV (pp. 101-203) e Apndice 3, pp. 477-479.
122. Tim. 28 a-29 b.
123. Sobre o simbolismo das Leis ver Eric Voege1in, C?rder and
History, III, Plato and Aristt;>tle, pp. 228-239, e A. J. Festug1ere, Con-
templation et vie contemplatzve selon Platon, p. 442.
124. Ver supra cap. II, notas 40 e 41.
65
era necessrio que a teleologia do Naus fosse purificada dos
seus resduos fisicistas e esse labor crtico constitui uma
das vertentes fundamentais da reflexo socrtico-platnica.
o fragmento autobiogrfico de Scrates no Fdon
118
assi-
nala o momento decisivo da recuperao da phJysis, pen-
sada agora segundo o finalismo da Idia, como termo de
referncia que permite estabelecer analogicamente o fina-
lismo prprio do ethos.
E sobre a analogia physis-ethos que iro repousar as
duas grandes construes com as quais tem incio a his-
tria da cincia do ethos: a tica platnica e a tica aristot-
lica. Para Plato, o Bem como Idia (ida tou agathou) sub-
mete ao seu finalismo transcendente a exigncia do melhor
que se faz presente no indivduo, na cidade e no universo:
a unicidade do Bem transcendente confere ao discurso tico
a feio de uma ontologia finalista.
119
Para Aristteles, o
Bem como Forma admite uma predicao analgica pro-
priamente dita (pollachs lgetai), fundada sobre a ten-
dncia de cada ser a realizar seu prprio bem ou perfeio
(enrgeia) segundo o dinamismo imanente da sua nature-
za. A Etica pode, ento, ser definida na sua autonomia co-
mo cincia que estuda a praxis do homem orientada para
seu fim propriamente humano (eudaimona). Ela , assim,
uma cincia especificamente prtica (praktike epsthme).
119
a
A analogia com o operar tcnico apresenta-se, por sua
vez, como o procedimento metodolgico ao qual Scrates
recorre inicialmente para enfrentar o relativismo sofsti-
co. Natureza e Arte passam a ser os termos de refe-
4; IV, 3) so os passos que antecedem a ontologia finalista de Pla-
to e Aristteles, segundo Theiler.
118. Fed. 96 a-101 c.
119. Sobre a analogia, no sentido especificamente platnico, co-
roada pela idia do Bem, ver Paul Grenet, Les origines de l'analo-
gie philosophique dans les Dialogues de Platon, Paris, Boivin, 1948
(sobre a analogia imitativa em moral, pp. 198-214). Ver igualmente
J. Vivs, Gnesis y evolucin de la tica platnica, cap. VI, pp. 204-
246 sobre a idia do Bem e a relao da tica e da ontologia em
Plato.
119a. R. Bodes, Le Philosophe et la Cit; recherches sur les
rapports entre Morale et Politique dans la pense d'Aristote, Paris,
Belles Lettres, 1982, defende a tese de que no h, em Aristteles,
uma cincia tica como disciplina especfica, mas uma instruo pa-
ra polticos e legisladores. No obstante toda engenhosidade e eru-
dio do A., sua demonstrao no parece convincente e soa como
um paradoxo em face de toda a tradio.
64
rncia nos quais a presena de uma razo teleolgica per-
mite estabelecer uma analogia com a racionalidade imanen-
te do ethos. Conquanto a analogia tcnica domine os pri-
meiros dilogos de Plato como instrumento preferido da
refutao socrtica,
120
ela apresenta dificuldades que leva-
ro sua superao e integrao na ontologia finalista do
Bem, na qual as relaes entre episthme e tchne se esta-
belecero ao nvel do lagos como discurso sobre as Idias.
121
A sntese entre o finalismo do universo e o finalismo da
ao estar terminada no Filebo, no Timeu e no 10.
0
livro
das Leis. A prpria physis, segundo o Timeu,
122
um kos-
mos produzido pelo obreiro divino (demiourgs), e as Leis
nos mostram o fundamento do agir justo no Estado esta-
belecido sobre o conhecimento e a contemplao da ordem
divina do universo.
123
No se pode esquecer, por outro lado, a analogia entre
o ethos e a arte da therapeia sugerida, sem dvida, pelo
brilhante desenvolvimento da medicina grega.
124
Ela apon-
ta para outra peculiaridade que se manifesta na cincia do
ethos: o seu carter normativo e operativo, fonte de novos
problemas epistemolgicos e metodolgicos. Com efeito, o
saber que aparece ligado ao ethos tradicional o saber de
uma norma de vida, de uma prescrio ou de um interdito:
trata-se, pois, de um saber que se constitui regra de uma
ao e no somente conhecimento de um ser ( theoria).
Essa a diferena que se faz visvel, por exemplo, na lin-
guagem narrativa do mito e na linguagem prescritiva da
sabedoria gnmica. No momento em que se pretende as-
sumir o ethos no campo da episthme, esse propsito se
v diante da dificuldade de se aliar a necessidade norma-
120. Ver Terence Irwin, Plato's Moral Theory, pp. 71-86.
121. Sobre episthme e tchne ver a 3 ~ pa;te_ da obra. de Hen;y
Joly Le renversement platonicien: Lagos, E;nsteme, Polts, Pans,
V rir{, 1974, pp. 191-272; sobre a hierarquia d a ~ . tcnicas cor?a?a pela
idia do Bem ver o belo captulo de P. Lachieze-Rey, Les zdees mo-
rales sociales et politiques de Platon, Paris, Boivin, 1938, pp. 59-86.
Para' a transposio platnica da tcnica e a sntese entre physis e
tchne so fundamentais os captulos da grande obra de Joseph Mo-
reau La Construction de l'idalisme platoncien, Paris, Boivin, 1939,
c. II-IV (pp. 101-203) e Apndice 3, pp. 477-479.
122. Tim. 28 a-29 b.
123. Sobre o simbolismo das Leis ver Eric Voege1in, C?rder and
History, III, Plato and Aristt;>tle, pp. 228-239, e A. J. Festug1ere, Con-
templation et vie contemplatzve selon Platon, p. 442.
124. Ver supra cap. II, notas 40 e 41.
65
tiva do discurso tico (necessidade do dever-ser) com a ne-
cessidade nomolgica do discurso demonstrativo (necessi-
dade do ser). A passagem do saber presente no ethos tra-
dicional (como, por exemplo a sabedoria gnmica que acon-
selha, admoesta, exemplifica etc ... ) cincia do ethos ou
tica (um saber que demonstra) implica, sem dvida, a
pressuposio de que a racionalidade imanente da praxis
125
seja suscetvel de exprimir-se na forma da racionalidade
prpria da theora. Teramos, ento, uma praxis fundamen-
tada ou justificada teoricamente, ou trazendo em si expli-
citamente a demonstrao do agir virtuoso ou bom como
agir conforme razo.
126
Pode a cincia levar o indivduo a viver aquela vida
virtuosa que a educao tica tradicional, numa hora de
crise, se mostrara incapaz de nele alimentar? sabido que
a doutrina socrtica da virtude-cincia pretende responder
afirmativamente a essa interrogao. Ela escreve, assim,
o primeiro captulo da histria da cincia do ethos. A cin-
cia que Scrates tem em vista deve apresentar os predica-
dos de uma verdadeira episthme, fundada sobre o logos
demonstrativo, ou seja, deve ser capaz de expor e provar
suas prprias razes (lgon dounai).
127
Ora, por que no
seria virtuoso aquele que capaz de "dar razo" da natu-
reza da virtude? Como vimos, essa evidncia preside ao
nascimento e constituio de uma cincia do ethos e guia
o desenvolvimento da tica clssica,
128
na qual se pressu-
125. Essa racionalidade se torna problema justamente quando
se manesta a crise de um determinado ethos histrico sobretudo
pela sua relativizao conseqente descoberta de outros ethoi e o
confronto que entre eles se estabelece. Foi o que aconteceu na Gr-
cia no sculo V a.C. Sob essa luz, recebe realce significativo a obra
de Herdoto. Ver as reflexes de Eric Weil, Philosophie morale, p. 26.
126. "J que nossa presente investigao no se empreendeu,
como as outras, em razo da teoria (ou theoras eneka) no inves-
tigamos para saber o que a virtude - porque ento a 'investigao
no teria utilidade alguma - mas para nos tornarmos bons, assim
necessrio investigar o que diz respeito s aes e sobre como
execut-las (ps prakton auts). Aristteles, t Nic. II, 2, 1103 b
26-28.
127. Ver Plato, Banq. 202 a, citado por J. Vivs, Gnesis y evo-
lucin de la tica platnica, p. 120, n. 40, que explica o alcance do
"dar razo" como essencial episthme segundo Plato. Em Scra-
tes, trata-se de um "fazer" (analogia tcnica) transposto em "sa-
ber", em Plato, da cincia de um "ser" (ontologia finalista).
128. A esse propsito citada a resposta de Max Scheler a um
seu aluno: "O indicador de caminhos segue acaso na direo que ele
66
pe uma continuidade entre a Ethica docens e a Ethica
utens.
A cincia do ethos ( ethike episthme) ou simplesmente
tica, tal como se .constituiu na tradio ocidental, repousa,
assim, sobre a pressuposio de que t.heora
129
inerente
uma virtude educadora segundo a qual, tendo como objeto
o Bem, ela torna bom aquele que a exerce; ou ainda, ela
realiza a semelhana ( omoosis) entre o sujeito da theora
e o seu objeto.
130
Se esse objeto o mais elevado, como
o so as realidades divinas, a sua theora deve tornar o
indica?'' (cit. por H. G. Gadamer, Ueber die Moglichkeit einer phi-
losophischen Ethik, apud Kleine Schriften I. Tub!nga, J. C: B. Mohr/
P. Siebeck, 1976, p. 180. Eis uma resposta que nao podena ser dada
no mbito da concepo antiga da tica.
129. Entendida aqui no sentido grego do termo. Toda a com-
plexa e riqussima histria da theora deveria ser evocada nesse con-
texto o que evidentemente ultrapassaria o limite dessas notas. Ver,
no entanto' a introduo as origens da idia de contemplao
de A. J. Contemplation et vie contemplative selon Platon,
pp. 14-44 e R. Amou, Contemplation chez les anciens philosophes du
monde grco-romain Dictionnaire de Spiritualit, II (1953) col. 1716-
-1742. Enquanto da conduta, a theora torna-se "forma
de vida" (trpos tou 'bou) e fixa um ideal de existncia, a "vida
teortica" (bos theoretiks) sobre a qual permanece clssico o es-
tudo de W. Jaeger, Ue'ber Ursprung und Kreislauf des
Lebensideals (1928) apud Scripta minora I, pp. 347-393. Sem duvtda, nao
por acaso que Plato, o primeiro a elaborar cincia ethos, te-
nha sido igualmente o primeiro a formular o tdeal da v1da contem-
plativa como forma eticamente superior de vida. E Aristteles, pro-
vvel criador do adjetivo theoretiks (Protrtico, fr. 5 e 6 Walzerl,
quis coroar a sua tica (Et. Nic. X. c. c. 6-9) com um tratado sobre
a theora como forma suprema de eudaimona. A respeito da theora
na tica de Aristteles ver R. G. Gauthier, L'thique Nicomaque,
Commentaire t. II 2 pp. 848-899. Por outro lado, paralelamente
ao ideal da vtrtU:osa (eu zen) pela cincia, prprio da filosofia
e que inspira a cincia do ethos, desenvolve-se a contemplao reli-
giosa (Festugire, et . vie contemplativ.e. - . pp. 45-60)
que conhecer uma complexa htstna na cultura (ver M.
Viller e col., Contemplation, Dictionnaire de II, cal.
-2193). Uma forma de salvao pelo conhecimento sera o
mo (ver supra nota 77) que pode ser considerado uma alternativa
religiosa tica.
130 . A relao do conhecimento como relao de semelhana
um tpos clssico: "A alma simlima (omoitaton) divino,
imortal inteligvel simples" (Fed. 80 b). Ela se elevara ate a rela-
o de 'identidade ' entre o .intelecto e o ( aut estin t
noun ka'i t noomenon, Anstteles, De Amma, III, 4, 430 a 4). Pro-
fundamente ligada inteno formadora da cincia do ethos como
metafsica do Bem est a doutrina platnica da "semelhana com
Deus" (omosis the, Rep. X, 613 a; Teet. 176 a). Ver as obser-
67
tiva do discurso tico (necessidade do dever-ser) com a ne-
cessidade nomolgica do discurso demonstrativo (necessi-
dade do ser). A passagem do saber presente no ethos tra-
dicional (como, por exemplo a sabedoria gnmica que acon-
selha, admoesta, exemplifica etc ... ) cincia do ethos ou
tica (um saber que demonstra) implica, sem dvida, a
pressuposio de que a racionalidade imanente da praxis
125
seja suscetvel de exprimir-se na forma da racionalidade
prpria da theora. Teramos, ento, uma praxis fundamen-
tada ou justificada teoricamente, ou trazendo em si expli-
citamente a demonstrao do agir virtuoso ou bom como
agir conforme razo.
126
Pode a cincia levar o indivduo a viver aquela vida
virtuosa que a educao tica tradicional, numa hora de
crise, se mostrara incapaz de nele alimentar? sabido que
a doutrina socrtica da virtude-cincia pretende responder
afirmativamente a essa interrogao. Ela escreve, assim,
o primeiro captulo da histria da cincia do ethos. A cin-
cia que Scrates tem em vista deve apresentar os predica-
dos de uma verdadeira episthme, fundada sobre o logos
demonstrativo, ou seja, deve ser capaz de expor e provar
suas prprias razes (lgon dounai).
127
Ora, por que no
seria virtuoso aquele que capaz de "dar razo" da natu-
reza da virtude? Como vimos, essa evidncia preside ao
nascimento e constituio de uma cincia do ethos e guia
o desenvolvimento da tica clssica,
128
na qual se pressu-
125. Essa racionalidade se torna problema justamente quando
se manesta a crise de um determinado ethos histrico sobretudo
pela sua relativizao conseqente descoberta de outros ethoi e o
confronto que entre eles se estabelece. Foi o que aconteceu na Gr-
cia no sculo V a.C. Sob essa luz, recebe realce significativo a obra
de Herdoto. Ver as reflexes de Eric Weil, Philosophie morale, p. 26.
126. "J que nossa presente investigao no se empreendeu,
como as outras, em razo da teoria (ou theoras eneka) no inves-
tigamos para saber o que a virtude - porque ento a 'investigao
no teria utilidade alguma - mas para nos tornarmos bons, assim
necessrio investigar o que diz respeito s aes e sobre como
execut-las (ps prakton auts). Aristteles, t Nic. II, 2, 1103 b
26-28.
127. Ver Plato, Banq. 202 a, citado por J. Vivs, Gnesis y evo-
lucin de la tica platnica, p. 120, n. 40, que explica o alcance do
"dar razo" como essencial episthme segundo Plato. Em Scra-
tes, trata-se de um "fazer" (analogia tcnica) transposto em "sa-
ber", em Plato, da cincia de um "ser" (ontologia finalista).
128. A esse propsito citada a resposta de Max Scheler a um
seu aluno: "O indicador de caminhos segue acaso na direo que ele
66
pe uma continuidade entre a Ethica docens e a Ethica
utens.
A cincia do ethos ( ethike episthme) ou simplesmente
tica, tal como se .constituiu na tradio ocidental, repousa,
assim, sobre a pressuposio de que t.heora
129
inerente
uma virtude educadora segundo a qual, tendo como objeto
o Bem, ela torna bom aquele que a exerce; ou ainda, ela
realiza a semelhana ( omoosis) entre o sujeito da theora
e o seu objeto.
130
Se esse objeto o mais elevado, como
o so as realidades divinas, a sua theora deve tornar o
indica?'' (cit. por H. G. Gadamer, Ueber die Moglichkeit einer phi-
losophischen Ethik, apud Kleine Schriften I. Tub!nga, J. C: B. Mohr/
P. Siebeck, 1976, p. 180. Eis uma resposta que nao podena ser dada
no mbito da concepo antiga da tica.
129. Entendida aqui no sentido grego do termo. Toda a com-
plexa e riqussima histria da theora deveria ser evocada nesse con-
texto o que evidentemente ultrapassaria o limite dessas notas. Ver,
no entanto' a introduo as origens da idia de contemplao
de A. J. Contemplation et vie contemplative selon Platon,
pp. 14-44 e R. Amou, Contemplation chez les anciens philosophes du
monde grco-romain Dictionnaire de Spiritualit, II (1953) col. 1716-
-1742. Enquanto da conduta, a theora torna-se "forma
de vida" (trpos tou 'bou) e fixa um ideal de existncia, a "vida
teortica" (bos theoretiks) sobre a qual permanece clssico o es-
tudo de W. Jaeger, Ue'ber Ursprung und Kreislauf des
Lebensideals (1928) apud Scripta minora I, pp. 347-393. Sem duvtda, nao
por acaso que Plato, o primeiro a elaborar cincia ethos, te-
nha sido igualmente o primeiro a formular o tdeal da v1da contem-
plativa como forma eticamente superior de vida. E Aristteles, pro-
vvel criador do adjetivo theoretiks (Protrtico, fr. 5 e 6 Walzerl,
quis coroar a sua tica (Et. Nic. X. c. c. 6-9) com um tratado sobre
a theora como forma suprema de eudaimona. A respeito da theora
na tica de Aristteles ver R. G. Gauthier, L'thique Nicomaque,
Commentaire t. II 2 pp. 848-899. Por outro lado, paralelamente
ao ideal da vtrtU:osa (eu zen) pela cincia, prprio da filosofia
e que inspira a cincia do ethos, desenvolve-se a contemplao reli-
giosa (Festugire, et . vie contemplativ.e. - . pp. 45-60)
que conhecer uma complexa htstna na cultura (ver M.
Viller e col., Contemplation, Dictionnaire de II, cal.
-2193). Uma forma de salvao pelo conhecimento sera o
mo (ver supra nota 77) que pode ser considerado uma alternativa
religiosa tica.
130 . A relao do conhecimento como relao de semelhana
um tpos clssico: "A alma simlima (omoitaton) divino,
imortal inteligvel simples" (Fed. 80 b). Ela se elevara ate a rela-
o de 'identidade ' entre o .intelecto e o ( aut estin t
noun ka'i t noomenon, Anstteles, De Amma, III, 4, 430 a 4). Pro-
fundamente ligada inteno formadora da cincia do ethos como
metafsica do Bem est a doutrina platnica da "semelhana com
Deus" (omosis the, Rep. X, 613 a; Teet. 176 a). Ver as obser-
67
homem igualmente divino: m eis o ideal que guia a cincia
do ethos, levando-a a definir-se - a partir de Plato - co-
mo metafsica do Bem.
Na estrutura da cincia do ethos assim como a edificou
a tra?io sobrepem-se, portanto e, de alguma
maneira se mterpenetram trs estratos de racionalidade
definidos segundo a relao com trs aspectos fundamen:
tais da praxis humana que o seu objeto: a) Em primeiro
lugar, a relao entre as formas cannicas da racionalidade
cientfica e a racionalidade estratificada no ethos hist-
rico, que deve poder ser transposta no discurso da cin-
cie. Postula-se portanto, primeiramente, uma homologia
entre esses dois tipos de racionalidade. b) :E:m seguida a
relao entre a universalidade do ethos que encontrou sua
expresso numa razo universal
132
e a particularidade em-
prica da praxis, atestada no livre-arbtrio e nas condies
psicolgicas e circunstanciais do seu exerccio. Postula-se
aqui a possibilidade da transposio da praxis emprica nu-
ma praxis racional (ou sensata) que seria propriamente a
praxis tica. c) Finalmente, a relao entre o discurso da
cincia do ethos enquanto theora da praxis (gen. subj.) e
a prpria praxis enquanto terica ou racional. Postula-se
aqui o carter prtico da cincia do ethos ou da tica.
V-se, portanto, que o problema fundamental de uma
do ethos o problema da Razo universal que ela
e chamada a exprimir na sua trplice relao com a exis-
tncia emprica do indivduo, com a existncia histrica
do ethos e com o fim da vida tica, a realizao do homem
na excelncia ou aret do seu ser verdadeiro. Essa Razo
univer!'al, o homem a encontra em si mesmo, nas regras
que dao sensatez ao seu operar, e, fora de si, nas leis da
Natureza. Que se trate de uma nica e mesma Razo, eis
o postulado necessrio da nossa existncia razovel e sen-
sata no mundo e eis o ponto de partida da tica como
vaes de W. sobre o motivo platnico da semelhana com
Deus na recensao de uma obra de H. Merki in Scripta minora II pp
469-474. ' ' .
131. "Convivendo com o que divino e ordenado o filsofo tor-
na-se divino e ordenado quanto possvel ao homem" (Rep VI
500 c-d). '
132. razo uniyersal se mostra causal enquanto princpio
e fzm, e a tarefa que se prope a cincia do
defrm-Ia .como efetivamente universal, trnscendente par-
dos histricos e, por outro lado, capaz de dirigir
eficazmente a praxzs emprica.
68
cincia. verdade que Aristteles distingue o saber em
terico, prtico e poitico, mas uma mesma Razo, cons-
tituindo um nico foco de saber racional que se propaga
nessas trs direes. A razo prtica, por sua vez, conhece
a partir de princpios como a razo terica e ordenada
a produzir seu objeto como a razo poitica. Mas seus prin-
cpios so princpios do que deve ser, e a produo do
seu objeto imanente ao seu prprio movimento, como
sua perfeio ou seu fim (enrgeia).
13
3
Preservar a universalidade efetiva da razo prtica em
face das trs instncias do natural (a existncia emprica
do indivduo no mundo), do histrico (o contedo do ethos
de uma determinada tradio cultural) e do pessoal (a ao
tica na singularidade da sua situao), eis a complexa ta-
refa terica que se apresenta cincia do ethos. Se a con-
siderarmos tal como se constituiu na sua. primeira apari-
o histrica, a tica assegura a universalidade da razo
prtica, seja referindo-a, com Plato, Idia do Bem trans-
cendente natureza e histria, seja ordenando-a, com
Aristteles, ao bem concreto da eudaimona como fim l-
timo da ao tica. Em ambos os casos trata-se de uma
universalidade objetiva, para a qual pe:i-manece vlida a
analogia phJysi's-ethos: no primeiro caso, trata-se da physis
produzida pelo Demiurgo segundo a razo do melhor e de
acordo com o modelo ideal; no segundo caso, trata-se de phy-
sis como princpio do movimento (arque kinseos) que se
oferece como modelo constncia e finalismo do ethos.
13
;
As ticas helensticas permanecem voltadas para esse ho-
rizonte de uma universalidade objetiva da razo prtica,
seja ela buscada na phJysis estica dotada de um lagos uni-
versal imanente, seja na hedon epicurista como aspirao
universal de todo ser vivo.
135
A sobrevivncia da tica antiga nos quadros da cultura
teolgica crist e a conciliao da universalidade objetiva
133. Ver a descrio da razo prtica por J. Ladriere, em thique
et Nature apud C. Bruaire (dir.) ,-La morale: sagesse et salut, Paris,
Communio-Fayard, 1981, pp. 221-247 (aqui pp. 222-230). Ladriere carac-
teriza como "auto-implicao" (p. 227) a mediao operada pela ao
entre a situao e a inteno (Vise), ou entre a existncia do agente
e a medida da sua conformidade com sua essncia ou seu fim.
134. "moion ti to thos t physei; he men physis tou ael t de
thos tou pollkis" (Ret. I 11, 1370 a 7).
135. Ver G. Reale, Storia della filosofia antica III, pp. 234-237
sobre a universalidade objetiva da hedon nos fundamentos da l!:tica
epicurista.
69
homem igualmente divino: m eis o ideal que guia a cincia
do ethos, levando-a a definir-se - a partir de Plato - co-
mo metafsica do Bem.
Na estrutura da cincia do ethos assim como a edificou
a tra?io sobrepem-se, portanto e, de alguma
maneira se mterpenetram trs estratos de racionalidade
definidos segundo a relao com trs aspectos fundamen:
tais da praxis humana que o seu objeto: a) Em primeiro
lugar, a relao entre as formas cannicas da racionalidade
cientfica e a racionalidade estratificada no ethos hist-
rico, que deve poder ser transposta no discurso da cin-
cie. Postula-se portanto, primeiramente, uma homologia
entre esses dois tipos de racionalidade. b) :E:m seguida a
relao entre a universalidade do ethos que encontrou sua
expresso numa razo universal
132
e a particularidade em-
prica da praxis, atestada no livre-arbtrio e nas condies
psicolgicas e circunstanciais do seu exerccio. Postula-se
aqui a possibilidade da transposio da praxis emprica nu-
ma praxis racional (ou sensata) que seria propriamente a
praxis tica. c) Finalmente, a relao entre o discurso da
cincia do ethos enquanto theora da praxis (gen. subj.) e
a prpria praxis enquanto terica ou racional. Postula-se
aqui o carter prtico da cincia do ethos ou da tica.
V-se, portanto, que o problema fundamental de uma
do ethos o problema da Razo universal que ela
e chamada a exprimir na sua trplice relao com a exis-
tncia emprica do indivduo, com a existncia histrica
do ethos e com o fim da vida tica, a realizao do homem
na excelncia ou aret do seu ser verdadeiro. Essa Razo
univer!'al, o homem a encontra em si mesmo, nas regras
que dao sensatez ao seu operar, e, fora de si, nas leis da
Natureza. Que se trate de uma nica e mesma Razo, eis
o postulado necessrio da nossa existncia razovel e sen-
sata no mundo e eis o ponto de partida da tica como
vaes de W. sobre o motivo platnico da semelhana com
Deus na recensao de uma obra de H. Merki in Scripta minora II pp
469-474. ' ' .
131. "Convivendo com o que divino e ordenado o filsofo tor-
na-se divino e ordenado quanto possvel ao homem" (Rep VI
500 c-d). '
132. razo uniyersal se mostra causal enquanto princpio
e fzm, e a tarefa que se prope a cincia do
defrm-Ia .como efetivamente universal, trnscendente par-
dos histricos e, por outro lado, capaz de dirigir
eficazmente a praxzs emprica.
68
cincia. verdade que Aristteles distingue o saber em
terico, prtico e poitico, mas uma mesma Razo, cons-
tituindo um nico foco de saber racional que se propaga
nessas trs direes. A razo prtica, por sua vez, conhece
a partir de princpios como a razo terica e ordenada
a produzir seu objeto como a razo poitica. Mas seus prin-
cpios so princpios do que deve ser, e a produo do
seu objeto imanente ao seu prprio movimento, como
sua perfeio ou seu fim (enrgeia).
13
3
Preservar a universalidade efetiva da razo prtica em
face das trs instncias do natural (a existncia emprica
do indivduo no mundo), do histrico (o contedo do ethos
de uma determinada tradio cultural) e do pessoal (a ao
tica na singularidade da sua situao), eis a complexa ta-
refa terica que se apresenta cincia do ethos. Se a con-
siderarmos tal como se constituiu na sua. primeira apari-
o histrica, a tica assegura a universalidade da razo
prtica, seja referindo-a, com Plato, Idia do Bem trans-
cendente natureza e histria, seja ordenando-a, com
Aristteles, ao bem concreto da eudaimona como fim l-
timo da ao tica. Em ambos os casos trata-se de uma
universalidade objetiva, para a qual pe:i-manece vlida a
analogia phJysi's-ethos: no primeiro caso, trata-se da physis
produzida pelo Demiurgo segundo a razo do melhor e de
acordo com o modelo ideal; no segundo caso, trata-se de phy-
sis como princpio do movimento (arque kinseos) que se
oferece como modelo constncia e finalismo do ethos.
13
;
As ticas helensticas permanecem voltadas para esse ho-
rizonte de uma universalidade objetiva da razo prtica,
seja ela buscada na phJysis estica dotada de um lagos uni-
versal imanente, seja na hedon epicurista como aspirao
universal de todo ser vivo.
135
A sobrevivncia da tica antiga nos quadros da cultura
teolgica crist e a conciliao da universalidade objetiva
133. Ver a descrio da razo prtica por J. Ladriere, em thique
et Nature apud C. Bruaire (dir.) ,-La morale: sagesse et salut, Paris,
Communio-Fayard, 1981, pp. 221-247 (aqui pp. 222-230). Ladriere carac-
teriza como "auto-implicao" (p. 227) a mediao operada pela ao
entre a situao e a inteno (Vise), ou entre a existncia do agente
e a medida da sua conformidade com sua essncia ou seu fim.
134. "moion ti to thos t physei; he men physis tou ael t de
thos tou pollkis" (Ret. I 11, 1370 a 7).
135. Ver G. Reale, Storia della filosofia antica III, pp. 234-237
sobre a universalidade objetiva da hedon nos fundamentos da l!:tica
epicurista.
69
da razo prtica com a rigorosa teonomia da moral bblica
formam um captulo extremamente rico e complexo da
histria da tica ocidental,
136
mas que somente pde ser
escrito em virtude da integrao do exemplarismo plat-
nico na doutrina bblica do Deus criador.
137
A profunda transformao dos fundamentos conceptuais
da cincia do ethos que acompanha o advento da razo
moderna tem seu indcio mais significativo na morale par
provision de Descartes, com a qual se pressupe a incongrun-
cia ou a no-homologia entre o ethos histrico e a nova
razo cientfica. A sabedoria cartesiana prev uma moral
que seja a copa da rvore da cincia, a "moral mais ele-
vada", que o Filsofo deixou apenas em esboo.
138
Mas
a sombra do projeto cartesiano estende-se sobre toda a
trajetria da tica moderna, na qual a universalidade da
razo prtica modela-se sobre a universalidade da razo
terica ou cientfica que , segundo o paradigma cartesia-
no, uma razo poitica ou construtiva, procedendo more
geometrico.
139
Em suma, a universalidade da razo prtica
passa a ser uma universalidade pura, vem a ser, atributo
das estruturas cognoscitivas do sujeito construtor da cin-
cia. Assim se apresenta, como sabido, a extenso ao do-
mnio da razo prtica da revoluo copernicana de Kant
no sistema do conhecimento. Dessa radical reviravolta do
136. Ver, por exemplo, sobre a assimilao do eudaimonismo
aristotlico por Sto. Toms de Aquino, o artigo citado supra, II, no-
ta 76. Ver ainda E. Gilson, L'Esprit de la philosophie mdivale 21,1
ed., Paris, Vrin, 1944, pp. 304-344. '
137. Summa Theol. la 2ae. q. 91 a.2 c. Donde a possibilidade
de se definir a lei natural como participatio legis aeternae in rationali
criatura. Ver ainda H. Schweizer, Zur Logik des Praxis: die geschicht-
lichen Implikationen und die hermeneutische Reichweite der prakti-
schen Philosophie des Aristoteles, Friburgo-Munique Alber 1971 pp.
11-31. ' ' '
138. Discours de la Mthode III p. Sobre a moral de Descar-
tes ver a sntese de G. Rodis-Lewis, L'oeuvre de Descartes Paris
Vrin, 1971, I, pp. 395-415. Ver ainda Snia M. Viegas
Descartes ' Hegel: destino da moral provisria" in Sntese 10 (1977):
45-60.
139. A distino aristotlica entre praxis e poesis tende aqui a
atenuar-se. Um retorno praxis aristotlica, independentemente do
seu significado sistemtico em Aristteles, preconizado pelo cha-
mado "neo-aristotelismo". Ver H. Schndelbach, Was ist Neoaristo-
telismus? apud W. Kuhlmann (org.), Moralitiit und Sittlichkeit: das
Problem Hegels und die Diskusrsethik, Frankfurt a.M., Suhrkamp,
1986, PP. 38-63.
70
estatuto clssico da universalidade da razo prtica resulta
o modelo de uma tica do dever estritamente formalista
e que se mostra, segundo H. G. Gadamer, como um dos
dois caminhos possveis de sada do dilema com o qual
se defronta a tica filosfica, entre a universalidade da re-
flexo e a singularidade concreta da ao moral; o outro
caminho seria a tica aristotlica das virtudes.
140
Na ver-
dade, a tica ps-kantiana no seno um longo esforo
para se encontrar um contedo adequado forma universal
do dever-ser ( Sollen), tal como Kant a definira como estru-
tura a priori da razo prtica. A distino hegeliana entre
"moralidade" (Moralitat) e "eticidade" (Sittlichkeit) alcan-
a, nesse contexto, uma significao exemplar, na medida
em que tenta a superao do formalismo pela recuperao
da racionalidade objetiva do ethos. ;w Ser em torno do
estatuto de racionalidade da Sittlichkeit hegeliana que iro
travar-se as grandes discusses contemporneas sobre a
possibilidade e o objeto de uma tica filosfica.
142
Assim,
a tentativa recente de retomada da exigncia kantiana da
universalidade formal da razo prtica por meio de uma
"tica discursiva" (Diskursethik),
143
fundada na "racionali-
dade comunicativa",
144
busca definir-se precipuamente em
face da crtica hegeliana ao formalismo abstrato da moral
kantiana.
145
A idia de uma "tica discursiva" tenta, pois,
unir a racionalidade formal do discurso argumentativo e
a racionalidade histrica do "mundo da vida" (Lebens-
140. H. G. Gadamer, U eber di e M oglichkeit einer philosophischen
Ethik, op. cit., p. 181.
141. Na estrutura dialtica do Esprito objetivo, a Sittlichkeit
o momento da singularidade concreta que suprassume a particula-
ridade da Moralidade e a universalidade abstrata do Direito.
142. Ver R. Bubner, Moralitiit und Sittlichkeit: die Herkunjt
eines Gegensatzes apud Moralitt und Sittlichkeit, op. cit., pp. 64-84.
143. Ver, no' volume Moralitiit und Sittlichkeit, a contribuio
de J. Habermas com o mesmo ttulo e com o subttulo: Trejjen He-
gels Einwnde gegen Kant auch auf Diskursethik zu? (op. cit., pp.
16-37). Diz Habermas: "A tica discursiva assume a inteno funda-
mental de Hegel para resolv-la com meios kantianos" (p. 22). Ver
ainda Karl-Otto Apel Kann der postkantische Standpunkt der Mo-
ralitt noch einmal iri substantielle Sittlichkeit "aujgehoben" werden?
(ibidem, pp. 217-264).
144. Sobre este conceito ver X. Herrero, "Racionalidade comuni-
cativa e modernidade" in Sntese 37 (1986) : 13-32.
145. Ver J. Habermas, Moralitt und Sittlichkeit, art. cit., pp.
24-31.
71
da razo prtica com a rigorosa teonomia da moral bblica
formam um captulo extremamente rico e complexo da
histria da tica ocidental,
136
mas que somente pde ser
escrito em virtude da integrao do exemplarismo plat-
nico na doutrina bblica do Deus criador.
137
A profunda transformao dos fundamentos conceptuais
da cincia do ethos que acompanha o advento da razo
moderna tem seu indcio mais significativo na morale par
provision de Descartes, com a qual se pressupe a incongrun-
cia ou a no-homologia entre o ethos histrico e a nova
razo cientfica. A sabedoria cartesiana prev uma moral
que seja a copa da rvore da cincia, a "moral mais ele-
vada", que o Filsofo deixou apenas em esboo.
138
Mas
a sombra do projeto cartesiano estende-se sobre toda a
trajetria da tica moderna, na qual a universalidade da
razo prtica modela-se sobre a universalidade da razo
terica ou cientfica que , segundo o paradigma cartesia-
no, uma razo poitica ou construtiva, procedendo more
geometrico.
139
Em suma, a universalidade da razo prtica
passa a ser uma universalidade pura, vem a ser, atributo
das estruturas cognoscitivas do sujeito construtor da cin-
cia. Assim se apresenta, como sabido, a extenso ao do-
mnio da razo prtica da revoluo copernicana de Kant
no sistema do conhecimento. Dessa radical reviravolta do
136. Ver, por exemplo, sobre a assimilao do eudaimonismo
aristotlico por Sto. Toms de Aquino, o artigo citado supra, II, no-
ta 76. Ver ainda E. Gilson, L'Esprit de la philosophie mdivale 21,1
ed., Paris, Vrin, 1944, pp. 304-344. '
137. Summa Theol. la 2ae. q. 91 a.2 c. Donde a possibilidade
de se definir a lei natural como participatio legis aeternae in rationali
criatura. Ver ainda H. Schweizer, Zur Logik des Praxis: die geschicht-
lichen Implikationen und die hermeneutische Reichweite der prakti-
schen Philosophie des Aristoteles, Friburgo-Munique Alber 1971 pp.
11-31. ' ' '
138. Discours de la Mthode III p. Sobre a moral de Descar-
tes ver a sntese de G. Rodis-Lewis, L'oeuvre de Descartes Paris
Vrin, 1971, I, pp. 395-415. Ver ainda Snia M. Viegas
Descartes ' Hegel: destino da moral provisria" in Sntese 10 (1977):
45-60.
139. A distino aristotlica entre praxis e poesis tende aqui a
atenuar-se. Um retorno praxis aristotlica, independentemente do
seu significado sistemtico em Aristteles, preconizado pelo cha-
mado "neo-aristotelismo". Ver H. Schndelbach, Was ist Neoaristo-
telismus? apud W. Kuhlmann (org.), Moralitiit und Sittlichkeit: das
Problem Hegels und die Diskusrsethik, Frankfurt a.M., Suhrkamp,
1986, PP. 38-63.
70
estatuto clssico da universalidade da razo prtica resulta
o modelo de uma tica do dever estritamente formalista
e que se mostra, segundo H. G. Gadamer, como um dos
dois caminhos possveis de sada do dilema com o qual
se defronta a tica filosfica, entre a universalidade da re-
flexo e a singularidade concreta da ao moral; o outro
caminho seria a tica aristotlica das virtudes.
140
Na ver-
dade, a tica ps-kantiana no seno um longo esforo
para se encontrar um contedo adequado forma universal
do dever-ser ( Sollen), tal como Kant a definira como estru-
tura a priori da razo prtica. A distino hegeliana entre
"moralidade" (Moralitat) e "eticidade" (Sittlichkeit) alcan-
a, nesse contexto, uma significao exemplar, na medida
em que tenta a superao do formalismo pela recuperao
da racionalidade objetiva do ethos. ;w Ser em torno do
estatuto de racionalidade da Sittlichkeit hegeliana que iro
travar-se as grandes discusses contemporneas sobre a
possibilidade e o objeto de uma tica filosfica.
142
Assim,
a tentativa recente de retomada da exigncia kantiana da
universalidade formal da razo prtica por meio de uma
"tica discursiva" (Diskursethik),
143
fundada na "racionali-
dade comunicativa",
144
busca definir-se precipuamente em
face da crtica hegeliana ao formalismo abstrato da moral
kantiana.
145
A idia de uma "tica discursiva" tenta, pois,
unir a racionalidade formal do discurso argumentativo e
a racionalidade histrica do "mundo da vida" (Lebens-
140. H. G. Gadamer, U eber di e M oglichkeit einer philosophischen
Ethik, op. cit., p. 181.
141. Na estrutura dialtica do Esprito objetivo, a Sittlichkeit
o momento da singularidade concreta que suprassume a particula-
ridade da Moralidade e a universalidade abstrata do Direito.
142. Ver R. Bubner, Moralitiit und Sittlichkeit: die Herkunjt
eines Gegensatzes apud Moralitt und Sittlichkeit, op. cit., pp. 64-84.
143. Ver, no' volume Moralitiit und Sittlichkeit, a contribuio
de J. Habermas com o mesmo ttulo e com o subttulo: Trejjen He-
gels Einwnde gegen Kant auch auf Diskursethik zu? (op. cit., pp.
16-37). Diz Habermas: "A tica discursiva assume a inteno funda-
mental de Hegel para resolv-la com meios kantianos" (p. 22). Ver
ainda Karl-Otto Apel Kann der postkantische Standpunkt der Mo-
ralitt noch einmal iri substantielle Sittlichkeit "aujgehoben" werden?
(ibidem, pp. 217-264).
144. Sobre este conceito ver X. Herrero, "Racionalidade comuni-
cativa e modernidade" in Sntese 37 (1986) : 13-32.
145. Ver J. Habermas, Moralitt und Sittlichkeit, art. cit., pp.
24-31.
71
welt).
145
a Nesse mundo est presente, de fato, o ethos lon-
gamente sedimentado da sociedade ocidental.
146
Ele por-
tador do contedo de certos "direitos fundamentais" na
forma de uma "razo realizada" que oferece o terreno para
a discusso em torno da universalidade formal de certas
normas ticas: aquelas que, na expresso de K.-0. Apel,
constituem problemas do "mundo da vida" capazes de se
tornarem objeto de um discurso argumentativo e, portanto,
de se mostrarem como contedo de uma tica da respon-
sabilidade solidria dos argumentadores.
147
O destino da cincia do ethos segundo a tradio cls-
sica, ou da Etica filosfica na cultura contempornea, pa-
rece, assim, ligado possibilidade de se levar a cabo a sn-
tese entre a "moralidade" kantiana e a "eticidade" hegeliana
ou ainda, conforme o propsito de Hegel, possibilidade
da suprassuno dialtica da universalidade abstrata da ra-
zo prtica na universalidade concreta do ethos histrico.
Na tica clssica, tal possibilidade fundava-se na analogia
entre a physis e o ethos, o que permitia o estabelecimento
de estruturas conceptuais homlogas entre a phfysike epis-
thme e a ethike episthme, seja pela univocidade na con-
cepo da physis como tchne (Plato), seja pela propor-
cionalidade na concepo da physis como "princpio do mo-
vimento" (Aristteles). A ruptura da analogia entre physis
e ethos na cincia ps-galileiana, consagrada pela ciso kan-
tiana entre Razo pura terica e Razo pura prtica, incli-
nou a reflexo tica a fundar a universalidade do ethos,
seja no topos inteligvel da prpria Histria, concebida aris-
totelicamente como entelcheia que tem em si mesma seu
princpio de movimento e o seu fim, seja no medium da
linguagem como estrutura de comunicao racional e, por-
tanto, universal. Mas a ambio da :Etica discursiva de
propor uma fundamentao ltima para as normas ticas
apoiada na virtualidade consensual do discurso argumenta-
tivo contestada seja pelo recurso a uma tica da pru-
dncia ou do senso comum limitada ao ethos do cotidia-
145a. Sobre este conceito, de origem huserliana, no contexto
da teoria da ao comunicativa, ver X. Herrero, Racionalidade co-
municativa e modernidade, art. cit., pp. 20-21.
146. Ver J. Habermas, Moralitiit und Sittlichkeit, art. cit., p.
29; K. O. Apel, art. cit., p. 232.
147. Karl-Otto Apel, art. cit., p. 227.
72
no,
14
R seja pela reduo dos problemas ticos a problemas
de linguagem ou de Metatica. '
4
" Desta sorte, a prpria
possibilidade de uma teoria do ethos ou de uma tica filo-
sfica, tal como se constituiu a partir dos tempos socrti-
cos, que se v posta em dvida, ou a prpria significao
dessa forma de saber, integrada h vinte e cinco sculos
na tradio espiritual do Ocidente, que se v obscurecida.
150
No entanto, parece difcil admitir que uma teoria do
ethos no sentido filosfico da sua justificao ou funda-
mentao racional (Begrndung) possa desaparecer do ho-
rizonte cultural da nossa civilizao, a menos que desapa-
rea a prpria filosofia e a civilizao venha a mudar de
alma e de destino. '"
1
O problema de um discurso universal
da sensatez (ou da racionalidade prtica) da conduta hu-
mana permanece como tarefa indeclinvel do pensar en-
quanto responsabilidade histrica. Essa responsabilidade,
assumida efetivamente no exerccio da reflexo filosfica,
impe-se a partir do momento - vivido pela civilizao oci-
dental no sculo V a.C. - em que o conflito dos ethoi par-
ticulares e a violncia simblica (e fsica) na relao de
indivduos e comunidades entre si podem ser considerados
abolidos em princpio na perspectiva de uma satisfao ra-
zovel e, portanto, universal das necessidades e desejos sob
a regra da justia.
1
"
2
Ao nvel desse tipo de satisfao, que
se torna uma possibilidade histrica no seio de uma civi-
lizao que se organiza como "civilizao do universal" (por
148. Ver, a propsito, W. Kuhlmann, Moralitiit und Sittlich-
keit: ist die Idee einer letzbegrndeten normativen Ethik berhaupt
sinnvoll? apud M oralitlit und Sittlichkeit, op. cit., pp. 194-216.
149. Sobre a Metatica ver o artigo de Kai Nielsen, Ethics, Pro-
blems o f... apud Encyclopaedia oj Philosophy (Ed. P. Edwards),
Macmillan, ed. 1972, pp. 117-134.
150. A "teoria da praxis", segundo esta tradio, tambm uma
"teoria prtica", ou seja, um conhecimento diretriz da ao. Por
outro lado a tentativa de se substituir a tica filosfica por uma
"cincia dos costumes" de carter emprico (E. Durkheim) inspira-
da na Etnologia, Antropologia cultural e Sociologia acompanha a cri-
se da tica filosfica. E, bem assim, o intento qe se construir uma
tica a partir dos resultados das cincias da natureza. Ver infra,
cap. V.
151. o tema que se tornou clssico desde os primeiros tempos
ps-hegelianos pode e deve ser transposto para o tema do fim da
tica como filosofia. No , sem dvida, por acaso, que nos auto-
res pregoeiros do fim da filosofia se faa visvel um vigoroso renas-
cimento do esprito sofstico.
152. Ver E. Weil, Philosophie morale, pp. 207-209.
73
welt).
145
a Nesse mundo est presente, de fato, o ethos lon-
gamente sedimentado da sociedade ocidental.
146
Ele por-
tador do contedo de certos "direitos fundamentais" na
forma de uma "razo realizada" que oferece o terreno para
a discusso em torno da universalidade formal de certas
normas ticas: aquelas que, na expresso de K.-0. Apel,
constituem problemas do "mundo da vida" capazes de se
tornarem objeto de um discurso argumentativo e, portanto,
de se mostrarem como contedo de uma tica da respon-
sabilidade solidria dos argumentadores.
147
O destino da cincia do ethos segundo a tradio cls-
sica, ou da Etica filosfica na cultura contempornea, pa-
rece, assim, ligado possibilidade de se levar a cabo a sn-
tese entre a "moralidade" kantiana e a "eticidade" hegeliana
ou ainda, conforme o propsito de Hegel, possibilidade
da suprassuno dialtica da universalidade abstrata da ra-
zo prtica na universalidade concreta do ethos histrico.
Na tica clssica, tal possibilidade fundava-se na analogia
entre a physis e o ethos, o que permitia o estabelecimento
de estruturas conceptuais homlogas entre a phfysike epis-
thme e a ethike episthme, seja pela univocidade na con-
cepo da physis como tchne (Plato), seja pela propor-
cionalidade na concepo da physis como "princpio do mo-
vimento" (Aristteles). A ruptura da analogia entre physis
e ethos na cincia ps-galileiana, consagrada pela ciso kan-
tiana entre Razo pura terica e Razo pura prtica, incli-
nou a reflexo tica a fundar a universalidade do ethos,
seja no topos inteligvel da prpria Histria, concebida aris-
totelicamente como entelcheia que tem em si mesma seu
princpio de movimento e o seu fim, seja no medium da
linguagem como estrutura de comunicao racional e, por-
tanto, universal. Mas a ambio da :Etica discursiva de
propor uma fundamentao ltima para as normas ticas
apoiada na virtualidade consensual do discurso argumenta-
tivo contestada seja pelo recurso a uma tica da pru-
dncia ou do senso comum limitada ao ethos do cotidia-
145a. Sobre este conceito, de origem huserliana, no contexto
da teoria da ao comunicativa, ver X. Herrero, Racionalidade co-
municativa e modernidade, art. cit., pp. 20-21.
146. Ver J. Habermas, Moralitiit und Sittlichkeit, art. cit., p.
29; K. O. Apel, art. cit., p. 232.
147. Karl-Otto Apel, art. cit., p. 227.
72
no,
14
R seja pela reduo dos problemas ticos a problemas
de linguagem ou de Metatica. '
4
" Desta sorte, a prpria
possibilidade de uma teoria do ethos ou de uma tica filo-
sfica, tal como se constituiu a partir dos tempos socrti-
cos, que se v posta em dvida, ou a prpria significao
dessa forma de saber, integrada h vinte e cinco sculos
na tradio espiritual do Ocidente, que se v obscurecida.
150
No entanto, parece difcil admitir que uma teoria do
ethos no sentido filosfico da sua justificao ou funda-
mentao racional (Begrndung) possa desaparecer do ho-
rizonte cultural da nossa civilizao, a menos que desapa-
rea a prpria filosofia e a civilizao venha a mudar de
alma e de destino. '"
1
O problema de um discurso universal
da sensatez (ou da racionalidade prtica) da conduta hu-
mana permanece como tarefa indeclinvel do pensar en-
quanto responsabilidade histrica. Essa responsabilidade,
assumida efetivamente no exerccio da reflexo filosfica,
impe-se a partir do momento - vivido pela civilizao oci-
dental no sculo V a.C. - em que o conflito dos ethoi par-
ticulares e a violncia simblica (e fsica) na relao de
indivduos e comunidades entre si podem ser considerados
abolidos em princpio na perspectiva de uma satisfao ra-
zovel e, portanto, universal das necessidades e desejos sob
a regra da justia.
1
"
2
Ao nvel desse tipo de satisfao, que
se torna uma possibilidade histrica no seio de uma civi-
lizao que se organiza como "civilizao do universal" (por
148. Ver, a propsito, W. Kuhlmann, Moralitiit und Sittlich-
keit: ist die Idee einer letzbegrndeten normativen Ethik berhaupt
sinnvoll? apud M oralitlit und Sittlichkeit, op. cit., pp. 194-216.
149. Sobre a Metatica ver o artigo de Kai Nielsen, Ethics, Pro-
blems o f... apud Encyclopaedia oj Philosophy (Ed. P. Edwards),
Macmillan, ed. 1972, pp. 117-134.
150. A "teoria da praxis", segundo esta tradio, tambm uma
"teoria prtica", ou seja, um conhecimento diretriz da ao. Por
outro lado a tentativa de se substituir a tica filosfica por uma
"cincia dos costumes" de carter emprico (E. Durkheim) inspira-
da na Etnologia, Antropologia cultural e Sociologia acompanha a cri-
se da tica filosfica. E, bem assim, o intento qe se construir uma
tica a partir dos resultados das cincias da natureza. Ver infra,
cap. V.
151. o tema que se tornou clssico desde os primeiros tempos
ps-hegelianos pode e deve ser transposto para o tema do fim da
tica como filosofia. No , sem dvida, por acaso, que nos auto-
res pregoeiros do fim da filosofia se faa visvel um vigoroso renas-
cimento do esprito sofstico.
152. Ver E. Weil, Philosophie morale, pp. 207-209.
73
exemplo, nas suas estruturas jurdicas e polticas), a tica
se constitui como justificao e fundamentao (teoria),
bem como prescrio e regulao (praxis) da vida, segundo
razes de viver que so universais (vlidas para todo ho-
mem como ser racional) ou da "vida segundo o bem" (eu
zn) na expresso de Aristteles.
153
Nesse sentido, no ser
temerrio afirmar que o fim da tica filosfica (ou a con-
fisso da sua inviabilidade terica) assinalar o fim do
projeto histrico de uma "civilizao do universal", vem
a ser, de uma civilizao que se prope construir estrutu-
ras de reconhecimento dentro das quais o consenso entre
indivduos e grupos seja possvel como consenso racional
e livre.
154
A estrutura da cincia do ethos pode ser, assim, defi-
nida como articulao da exposio discursiva que tem por
objeto o movimento lgico do universal que se autodeter-
mina como conceito da praxis humana propriamente dita,
ou seja, ordenada ao fim da sua prpria perfeio ( enr-
geia) ou da sua bondade (aret).
155
153. Sobre os fundamentos antropolgicos da tica aristotli-
\!a ver infra cap. III, 1. A inflexo antropolgica torna possvel,
para Aristteles, a tica como "cincia prtica". Ver as pginas lu-
minosas de Kurt von Fritz, Aristoteles anthropologische Ethik, apud
Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft, Berlim, De
Gruyter, 1971, pp. 273-313.
154. Os utopistas de todo matiz partem da violncia existente,
sobretudo institucionalizada, para acusar a hipocrisia ideolgica de
uma "civilizao do universal" e de uma tica universalista nas atuais
condies socioeconmicas da humanidade. Mas se esquecem de que
a violncia s pode ser pensada e denunciada a partir do horizonte
desse projeto civilizatrio e dessa tica. Para o homem finito, ser
de carncia e desejo, a supresso total da violncia, nas condies
do tempo e da histria, s pensvel a partir de uma violncia ra-
dical e final: summum jus, summa injuria. Na sociedade absoluta-
mente igualitria, no haveria consenso porque no haveria diferen-
a e, portanto, liberdade; no haveria tica porque no poderia ha-
ver virtude. A violncia teria desaparecido no seu prprio paroxis-
mo, ao suprimir o homem como ser capaz de persuaso e como ser
livre. Ento teria cessado igualmente a humanidade histrica. Sub-
sistiria, quem sabe, o rebanho humano talvez satisfeito com as gor-
das pastagens que lhe seriam oferecidas. A vida seria vivida, mas
no haveria nenhuma razo de viver.
155. "Autodeterminao do universal" pode soar como a fr-
mula mesma dessa proposio idealista que inverte sujeito e predi-
cado segundo a conhecida crtica de Marx. A praxis emprica que
determina o universal abstrato, proclama o materialista. Trata-se
aqui, no entanto, de um caso flagrante de apaideusa filosfica. "De-
74
A c1encia do ethos repousa, portanto, sobre a estrutura
lgica fundamental que expe a relao entre o ethos e a
praxis como movimento dialtico de autodeterminao do
universal, ou como passagem logicamente articulada do
ethos como costume ao tica pela mediao do ethos
como hbito (hexis). No ethos esto presentes os fins da
ao tica, mas esses fins no alcanaro efetividade real
seno enquanto realizados na ao como perfeio ou aret
do sujeito tico: "'" o universal abstrato do ethos se auto-
determina como universal concreto da praxis nesse movi-
mento circular caracterstico da realizao da liberdade que
a descrio fenomenolgica identificou no contedo semn-
tico da linguagem do ethos. m Nesse sentido, a estrutura
da cincia do ethos no mais do que a estrutura do espa-
o lgico no qual as dimenses do sujeito tico, da comu-
nidade tica e do mundo tico objetivo determinam a sin-
gularidade da ao tica ou designam as dimenses lgicas
da praxis no seu acontecer histrico. Em cada uma dessas
dimenses, o universal est presente como movimento do
terminao" um momento lgico da estrutura inteligvel que su-
porta o discurso da cincia. Toda "determinao" passagem lgica
- ou dialtica - do universal ao particular e do particular ao sin-
gular que se determina ento no como o indivduo emprico, mas
como o universal concreto. Trata-se, pois, de um movimento de es-
trutura circular ou de uma circulao lgica do universal que se au-
todetermina nos seus momentos constitutivos de inteligibilidade. Ex-
por esses momentos na sua essencialidade tarefa da cincia da L-
gica. A praxis humana, enquanto praxis tica , por sua vez, o pa-
radigma privilegiado desse movimento na ordem da histria efetiva,
exatamente na medida em que o movimento da liberdade que se
realiza. Ora, liberdade autodeterminao e tem, portanto, no con-
ceito o seu analogatum princeps: ver B. Lakebrink, Die europiiische
Idee der Freiheit: Hegels Logik und die Tradition der Selbstbestimmung,
Leiden, Brill, 1968, c. 3 (pp. 382-514). Nos pargrafos introdutrios
da sua Filosofia do Direito (que , como Filosofia do esprito obje-
tivo, a sua verso da cincia do ethos), Hegel expe com vigor e pro-
fundidade at hoje inigualados essa estrutura fundamental da tica.
(Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1-28). Um comen-
trio magistral desses pargrafos encontra-se em Adriaan Peperzak,
Zur Hegelschen Ethik. apud D. Henrich, R. P. Horstmann (orgs.),
Hegels Philosophie des Rechts: die Theorie der Rechtsformen und
ihre Logik, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982, pp. 103-131.
156. Daqui a definio lapidar de Sto. Toms de Aquino, co-
mentando Aristteles: Subjectum moralis philosophiae est operatio
humana crdinata in finem vel etiam homo prout est voluntarie agens
propter finem Un lm. Ethic. lec. 1, n. 3). Sobre a teleologia da
praxis em Aristteles, ver K. von Fritz, op. cit., pp. 293-296.
157. Ver supra, cap. I, nota 19.
75
exemplo, nas suas estruturas jurdicas e polticas), a tica
se constitui como justificao e fundamentao (teoria),
bem como prescrio e regulao (praxis) da vida, segundo
razes de viver que so universais (vlidas para todo ho-
mem como ser racional) ou da "vida segundo o bem" (eu
zn) na expresso de Aristteles.
153
Nesse sentido, no ser
temerrio afirmar que o fim da tica filosfica (ou a con-
fisso da sua inviabilidade terica) assinalar o fim do
projeto histrico de uma "civilizao do universal", vem
a ser, de uma civilizao que se prope construir estrutu-
ras de reconhecimento dentro das quais o consenso entre
indivduos e grupos seja possvel como consenso racional
e livre.
154
A estrutura da cincia do ethos pode ser, assim, defi-
nida como articulao da exposio discursiva que tem por
objeto o movimento lgico do universal que se autodeter-
mina como conceito da praxis humana propriamente dita,
ou seja, ordenada ao fim da sua prpria perfeio ( enr-
geia) ou da sua bondade (aret).
155
153. Sobre os fundamentos antropolgicos da tica aristotli-
\!a ver infra cap. III, 1. A inflexo antropolgica torna possvel,
para Aristteles, a tica como "cincia prtica". Ver as pginas lu-
minosas de Kurt von Fritz, Aristoteles anthropologische Ethik, apud
Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft, Berlim, De
Gruyter, 1971, pp. 273-313.
154. Os utopistas de todo matiz partem da violncia existente,
sobretudo institucionalizada, para acusar a hipocrisia ideolgica de
uma "civilizao do universal" e de uma tica universalista nas atuais
condies socioeconmicas da humanidade. Mas se esquecem de que
a violncia s pode ser pensada e denunciada a partir do horizonte
desse projeto civilizatrio e dessa tica. Para o homem finito, ser
de carncia e desejo, a supresso total da violncia, nas condies
do tempo e da histria, s pensvel a partir de uma violncia ra-
dical e final: summum jus, summa injuria. Na sociedade absoluta-
mente igualitria, no haveria consenso porque no haveria diferen-
a e, portanto, liberdade; no haveria tica porque no poderia ha-
ver virtude. A violncia teria desaparecido no seu prprio paroxis-
mo, ao suprimir o homem como ser capaz de persuaso e como ser
livre. Ento teria cessado igualmente a humanidade histrica. Sub-
sistiria, quem sabe, o rebanho humano talvez satisfeito com as gor-
das pastagens que lhe seriam oferecidas. A vida seria vivida, mas
no haveria nenhuma razo de viver.
155. "Autodeterminao do universal" pode soar como a fr-
mula mesma dessa proposio idealista que inverte sujeito e predi-
cado segundo a conhecida crtica de Marx. A praxis emprica que
determina o universal abstrato, proclama o materialista. Trata-se
aqui, no entanto, de um caso flagrante de apaideusa filosfica. "De-
74
A c1encia do ethos repousa, portanto, sobre a estrutura
lgica fundamental que expe a relao entre o ethos e a
praxis como movimento dialtico de autodeterminao do
universal, ou como passagem logicamente articulada do
ethos como costume ao tica pela mediao do ethos
como hbito (hexis). No ethos esto presentes os fins da
ao tica, mas esses fins no alcanaro efetividade real
seno enquanto realizados na ao como perfeio ou aret
do sujeito tico: "'" o universal abstrato do ethos se auto-
determina como universal concreto da praxis nesse movi-
mento circular caracterstico da realizao da liberdade que
a descrio fenomenolgica identificou no contedo semn-
tico da linguagem do ethos. m Nesse sentido, a estrutura
da cincia do ethos no mais do que a estrutura do espa-
o lgico no qual as dimenses do sujeito tico, da comu-
nidade tica e do mundo tico objetivo determinam a sin-
gularidade da ao tica ou designam as dimenses lgicas
da praxis no seu acontecer histrico. Em cada uma dessas
dimenses, o universal est presente como movimento do
terminao" um momento lgico da estrutura inteligvel que su-
porta o discurso da cincia. Toda "determinao" passagem lgica
- ou dialtica - do universal ao particular e do particular ao sin-
gular que se determina ento no como o indivduo emprico, mas
como o universal concreto. Trata-se, pois, de um movimento de es-
trutura circular ou de uma circulao lgica do universal que se au-
todetermina nos seus momentos constitutivos de inteligibilidade. Ex-
por esses momentos na sua essencialidade tarefa da cincia da L-
gica. A praxis humana, enquanto praxis tica , por sua vez, o pa-
radigma privilegiado desse movimento na ordem da histria efetiva,
exatamente na medida em que o movimento da liberdade que se
realiza. Ora, liberdade autodeterminao e tem, portanto, no con-
ceito o seu analogatum princeps: ver B. Lakebrink, Die europiiische
Idee der Freiheit: Hegels Logik und die Tradition der Selbstbestimmung,
Leiden, Brill, 1968, c. 3 (pp. 382-514). Nos pargrafos introdutrios
da sua Filosofia do Direito (que , como Filosofia do esprito obje-
tivo, a sua verso da cincia do ethos), Hegel expe com vigor e pro-
fundidade at hoje inigualados essa estrutura fundamental da tica.
(Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1-28). Um comen-
trio magistral desses pargrafos encontra-se em Adriaan Peperzak,
Zur Hegelschen Ethik. apud D. Henrich, R. P. Horstmann (orgs.),
Hegels Philosophie des Rechts: die Theorie der Rechtsformen und
ihre Logik, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982, pp. 103-131.
156. Daqui a definio lapidar de Sto. Toms de Aquino, co-
mentando Aristteles: Subjectum moralis philosophiae est operatio
humana crdinata in finem vel etiam homo prout est voluntarie agens
propter finem Un lm. Ethic. lec. 1, n. 3). Sobre a teleologia da
praxis em Aristteles, ver K. von Fritz, op. cit., pp. 293-296.
157. Ver supra, cap. I, nota 19.
75
autodeterminar-se da ao tica enquanto ao virtuosa ou
universalidade concreta do ethos: nela, o ethos existncia
tica e, como tal, real e histrico.
No sujeito tico que , segundo a expresso de Sto.
Toms, homo prout est voluntarie agens propter finem, m
o universal que se autodetermina em ordem praxis ma-
nifesta-se como conhecimento e liberdade na sua inter-rela-
o dialtica;
159
ele se particulariza como deliberao (bo-
lesis) e escolha (proaresis) e se singulariza ou se determi-
na como universal concreto na conscincia moral (sune-
desis).
Na comunidade tica, o universal se constitui como uni-
versal do reconhecimento e do consenso que se particula-
riza no ethos histrico ou na tradio tica como espao
de participao e comunicao (educao e vida ticas) e
se singulariza na conscincia moral social ( eticidade pro-
priamente dita) que o universal concreto da existncia
da comunidade tica.
Finalmente, no mundo tico objetivo ou no universo
simblico do ethos - que existe efetivamente no medium
da linguagem como estrutura ou sistema -, o universal se
manifesta na inter-relao dialtica do fim (conhecimento)
e do bem (liberdade), constituindo o princpio universal do
agir tico. Ele se particulariza no ethos histrico ou na
tradio tica como universo simblico de representaes
e valores (cultura tica) e se singulariza como expresso
normativa (normas, leis, direito): esse o universal con-
creto do mundo tico que existe efetivamente no mundo
poltico.
160
158. Segundo Aristteles, no lugar comentado por Sto. Toms
1 Et. Nic. I, 2, 1094 a 18-20), o carter teleolgico da praxis impli-
ca a inteno de um fim que seja o "bem mais excelente" (tagathn
kai t ristonl. Esse movimento da praxis s pode ser pensado nos
quadros de uma dialtica do universal.
159. Enquanto ser inteligente e livre, o homem "princpio das
aes" (arque tn prxen, Et. Nic. III, 2, 1112 b, 32) no sentido
da sua autodeterminao, ou autrques (Et. Nic. I, 5, 1097 b, 14)
na medida em que capaz de eudaimona.
160. Et. Nic. I, 2, 1093 b, 29-30. O universal concreto do
mundo tico o mundo poltico. Com efeito, a cincia do ethos tor-
na-se possibilidade histrica a partir do momento em que a socie-
dade poltica impe-se como forma superior da comunidade tica.
A separao moderna entre tica e Poltica prenncio e efeito da
crise da tica e encontra sua consagrao terica na separao kan-
tiana entre Razo pura prtica e eticidade concreta.
76
H:is, pois, como pode ser esquematizada a estrutura
conceptual bsica da tica filosfica enquanto cincia do
ethos:
Sujeito
(Conhecimento
Liberdade)
Sujeito
(Deliberao
Escolhal
Sujeito
(Conscincia
morall
Universal abstrato
Comunidade
(Reconhecimento
Consenso)
Particular
Comunidade
(Educao tica
Participao l
Singular (Universal concreto)
Comunidade
(Conscincia
cvica)
Existncia tica
(Organismo das virtudes l
Mundo tico
(Fim
Bml
Mundo tico
(Tradio
Cultura tica l
Mundo tico
(Normas e Leis
Direito)
A estrutura conceptual bsica da cincia do ethos ,
nessa perspectiva, a explicitao da idia de liberdade assim
como se manifesta historicamente, ou seja, como ethos.
Com efeito, a idia de liberdade o ncleo inteligvel
do ethos e a sua exposio a expanso discursiva desse
ncleo ou a transcrio da realidade histrica do ethos
na necessidade inteligvel da episthme.
161
A idia da li-
berdade, embora tenha a sua figura histrica na liberdade
de um ser finito, no pensvel seno no movimento infi-
nito da sua autodeterminao, vem a ser, como o universal
que se autodetermina. Infinito ou universal significa, aqui,
a perfeita identidade da liberdade consigo mesma no mo-
161. Nesse sentido, o ethos histrico apresenta-se como a "fi-
gura" (Gestalt) do conceito explicitado no discurso da tica, con-
forme a terminologia de Hegel (Grundlinien der Philosophie des
Rechts 32). A existncia tica uma existncia em situao e as
entre ethos e physis se estabelecem nesse nvel pela media-
o da corporalidade, como mostrou J. Ladriere, thique et Nature,
art. cit., pp. 230-243.
77
autodeterminar-se da ao tica enquanto ao virtuosa ou
universalidade concreta do ethos: nela, o ethos existncia
tica e, como tal, real e histrico.
No sujeito tico que , segundo a expresso de Sto.
Toms, homo prout est voluntarie agens propter finem, m
o universal que se autodetermina em ordem praxis ma-
nifesta-se como conhecimento e liberdade na sua inter-rela-
o dialtica;
159
ele se particulariza como deliberao (bo-
lesis) e escolha (proaresis) e se singulariza ou se determi-
na como universal concreto na conscincia moral (sune-
desis).
Na comunidade tica, o universal se constitui como uni-
versal do reconhecimento e do consenso que se particula-
riza no ethos histrico ou na tradio tica como espao
de participao e comunicao (educao e vida ticas) e
se singulariza na conscincia moral social ( eticidade pro-
priamente dita) que o universal concreto da existncia
da comunidade tica.
Finalmente, no mundo tico objetivo ou no universo
simblico do ethos - que existe efetivamente no medium
da linguagem como estrutura ou sistema -, o universal se
manifesta na inter-relao dialtica do fim (conhecimento)
e do bem (liberdade), constituindo o princpio universal do
agir tico. Ele se particulariza no ethos histrico ou na
tradio tica como universo simblico de representaes
e valores (cultura tica) e se singulariza como expresso
normativa (normas, leis, direito): esse o universal con-
creto do mundo tico que existe efetivamente no mundo
poltico.
160
158. Segundo Aristteles, no lugar comentado por Sto. Toms
1 Et. Nic. I, 2, 1094 a 18-20), o carter teleolgico da praxis impli-
ca a inteno de um fim que seja o "bem mais excelente" (tagathn
kai t ristonl. Esse movimento da praxis s pode ser pensado nos
quadros de uma dialtica do universal.
159. Enquanto ser inteligente e livre, o homem "princpio das
aes" (arque tn prxen, Et. Nic. III, 2, 1112 b, 32) no sentido
da sua autodeterminao, ou autrques (Et. Nic. I, 5, 1097 b, 14)
na medida em que capaz de eudaimona.
160. Et. Nic. I, 2, 1093 b, 29-30. O universal concreto do
mundo tico o mundo poltico. Com efeito, a cincia do ethos tor-
na-se possibilidade histrica a partir do momento em que a socie-
dade poltica impe-se como forma superior da comunidade tica.
A separao moderna entre tica e Poltica prenncio e efeito da
crise da tica e encontra sua consagrao terica na separao kan-
tiana entre Razo pura prtica e eticidade concreta.
76
H:is, pois, como pode ser esquematizada a estrutura
conceptual bsica da tica filosfica enquanto cincia do
ethos:
Sujeito
(Conhecimento
Liberdade)
Sujeito
(Deliberao
Escolhal
Sujeito
(Conscincia
morall
Universal abstrato
Comunidade
(Reconhecimento
Consenso)
Particular
Comunidade
(Educao tica
Participao l
Singular (Universal concreto)
Comunidade
(Conscincia
cvica)
Existncia tica
(Organismo das virtudes l
Mundo tico
(Fim
Bml
Mundo tico
(Tradio
Cultura tica l
Mundo tico
(Normas e Leis
Direito)
A estrutura conceptual bsica da cincia do ethos ,
nessa perspectiva, a explicitao da idia de liberdade assim
como se manifesta historicamente, ou seja, como ethos.
Com efeito, a idia de liberdade o ncleo inteligvel
do ethos e a sua exposio a expanso discursiva desse
ncleo ou a transcrio da realidade histrica do ethos
na necessidade inteligvel da episthme.
161
A idia da li-
berdade, embora tenha a sua figura histrica na liberdade
de um ser finito, no pensvel seno no movimento infi-
nito da sua autodeterminao, vem a ser, como o universal
que se autodetermina. Infinito ou universal significa, aqui,
a perfeita identidade da liberdade consigo mesma no mo-
161. Nesse sentido, o ethos histrico apresenta-se como a "fi-
gura" (Gestalt) do conceito explicitado no discurso da tica, con-
forme a terminologia de Hegel (Grundlinien der Philosophie des
Rechts 32). A existncia tica uma existncia em situao e as
entre ethos e physis se estabelecem nesse nvel pela media-
o da corporalidade, como mostrou J. Ladriere, thique et Nature,
art. cit., pp. 230-243.
77
vlmento do seu autodeterminar-se. Ou ainda: nenhum sen-
tido pode ser descoberto na liberdade seno a partir da
prpria liberdade.
162
Esse o fundamento conceptual :lti-
mo de uma cincia do ethos. A descoberta desse fundamento
constitui um evento histrico-especulativo "principiai" (no
sentido de arqu ou princpio explicativo de uma civiliza-
o) na histria do Ocidente. Ele designa, em suma, a
transcrio terica da experincia grega da liberdade no
momento em que conflitos sociais, polticos e culturais rom-
pem a bela unidade do ethos e pem mostra o seu n-
cleo: a liberdade agora exposta ao sol da Razo na frgil
trajetria dos destinos individuais.
163
Quando a individua-
lidade livre emerge da ruptura da eticidade substancial, o
ethos v esvair-se sua fora unificadora e ordenadora: nasce
a tica.
1
ft
4
162. Ver infra, cap. III. Analogamente a moral, como discurso
verdadeiro, no se compreende, diz Eric Weil, seno a partir de Si
mesma e , como tal, fundada sobre um infinito (ver Philosophie
morale, pp. 214-215); vem a ser, sobre sua infinita auto-reflexivida-
de: "Um discurso que no tem limite porque nenhum outro discurso
coerente existe fora dele, que compreende mesmo aquele que o re-
futa e aquele que, por uma escolha primeira, coloca-se fora dele ... ".
163. Ver G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der
Philosophie I (Werke, Ed. Moldenhauer-Michel, vol. 18, pp. 176-179).
164. No incio, pois, da histria da tica, a liberdade, surgindo
da ruptura do ethos, se submete regra da razo ou a tica se cons-
titui sobre um fundamento racional. No termo presumido dessa his-
tria - na idade do niilismo que estamos vivendo -, a liberdade
no se apia seno sobre a fico de si mesma ou sobre a iluso
delirante do tout est permis. A possibilidade de uma tica
tafsica ou de uma tica que, tendo vindo depois do "fim da meta-
fsica" no sentido heideggeriano, viria como "antes" de uma meta-
fsica que no vir mais - como trao evanescente de uma nova
morale par provision - desenha-se nesse contexto. Ver Jean-Luc
.\1:arion, Une nouvelle morale provisoire, apud La Morale, sagesse et
salut, op. cit., pp. 125-141.
78
.i\_FZISTOTELIS
::: -i .. -\ G Y R 11"' AE E T H I C
L\ 1 Lib. x cu
rif;. comn1cntariis. Irem & cufdcm
.... 'i.rHto. P o L 1 T r c a R v l\1 Libri v I II. ac
o r. c o No M r c o R. v l\1 Lib. 1 1. Leonardo
Are tino O_.uos omnes,
fi ad intpcxers,cos
prifhno candori
ftitutos
pcries.
Frontispcio da edio da tica de Nicmaco, da
Poltica e do [Econmico] de Aristteles, na tra-
duo latina de Leonardo Bruni d' Arezzo (Areti-
no), Lio, apud Jacobum Giunctam, 1542. Com
os comentrios de Averris tica (traduo la-
tina conhecida como translatio hispanica) e do
Aretino ao Econmico.
(Cortesia da Biblioteca do Centro de Estudos Superiores de Filosofia
e Teologia da Companhia de Jesus, Belo Horizonte, MG.J
vlmento do seu autodeterminar-se. Ou ainda: nenhum sen-
tido pode ser descoberto na liberdade seno a partir da
prpria liberdade.
162
Esse o fundamento conceptual :lti-
mo de uma cincia do ethos. A descoberta desse fundamento
constitui um evento histrico-especulativo "principiai" (no
sentido de arqu ou princpio explicativo de uma civiliza-
o) na histria do Ocidente. Ele designa, em suma, a
transcrio terica da experincia grega da liberdade no
momento em que conflitos sociais, polticos e culturais rom-
pem a bela unidade do ethos e pem mostra o seu n-
cleo: a liberdade agora exposta ao sol da Razo na frgil
trajetria dos destinos individuais.
163
Quando a individua-
lidade livre emerge da ruptura da eticidade substancial, o
ethos v esvair-se sua fora unificadora e ordenadora: nasce
a tica.
1
ft
4
162. Ver infra, cap. III. Analogamente a moral, como discurso
verdadeiro, no se compreende, diz Eric Weil, seno a partir de Si
mesma e , como tal, fundada sobre um infinito (ver Philosophie
morale, pp. 214-215); vem a ser, sobre sua infinita auto-reflexivida-
de: "Um discurso que no tem limite porque nenhum outro discurso
coerente existe fora dele, que compreende mesmo aquele que o re-
futa e aquele que, por uma escolha primeira, coloca-se fora dele ... ".
163. Ver G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der
Philosophie I (Werke, Ed. Moldenhauer-Michel, vol. 18, pp. 176-179).
164. No incio, pois, da histria da tica, a liberdade, surgindo
da ruptura do ethos, se submete regra da razo ou a tica se cons-
titui sobre um fundamento racional. No termo presumido dessa his-
tria - na idade do niilismo que estamos vivendo -, a liberdade
no se apia seno sobre a fico de si mesma ou sobre a iluso
delirante do tout est permis. A possibilidade de uma tica
tafsica ou de uma tica que, tendo vindo depois do "fim da meta-
fsica" no sentido heideggeriano, viria como "antes" de uma meta-
fsica que no vir mais - como trao evanescente de uma nova
morale par provision - desenha-se nesse contexto. Ver Jean-Luc
.\1:arion, Une nouvelle morale provisoire, apud La Morale, sagesse et
salut, op. cit., pp. 125-141.
78
.i\_FZISTOTELIS
::: -i .. -\ G Y R 11"' AE E T H I C
L\ 1 Lib. x cu
rif;. comn1cntariis. Irem & cufdcm
.... 'i.rHto. P o L 1 T r c a R v l\1 Libri v I II. ac
o r. c o No M r c o R. v l\1 Lib. 1 1. Leonardo
Are tino O_.uos omnes,
fi ad intpcxers,cos
prifhno candori
ftitutos
pcries.
Frontispcio da edio da tica de Nicmaco, da
Poltica e do [Econmico] de Aristteles, na tra-
duo latina de Leonardo Bruni d' Arezzo (Areti-
no), Lio, apud Jacobum Giunctam, 1542. Com
os comentrios de Averris tica (traduo la-
tina conhecida como translatio hispanica) e do
Aretino ao Econmico.
(Cortesia da Biblioteca do Centro de Estudos Superiores de Filosofia
e Teologia da Companhia de Jesus, Belo Horizonte, MG.J
Captulo Terceiro
TICA E RAZAO
" ... t d'anakaia kaz chrsima tn kaln neka"
Aristteles, Pol. VII, 13, 1333 a 36-37
1 . TEORIA DA PRAXIS
A nascente cincia do ethos, ou tica, viu-se face a face,
na Grcia, com um problema epistemolgico original, cuja
discusso vem acompanhando seus passos at nossos dias
e renasce no florescimento contemporneo das "teorias da
ao" (Handlungstheorie). Com efeito, situado entre a epis-
thme terica e a tchne, o discurso que Aristteles deno-
minou ethiks lgos
1
pretende, por um lado, gozar do es-
tatuto de uma verdadeira cincia e, de outro, no voltar-se,
como a theora, para a contemplao dos seres, mas, como
a tchne, para a produo e ordenao das aes. Entre a
theora e a tchne, a cincia do ethos dever encontrar seu
lugar epistemolgico a partir do qual seja capaz de discor-
rer demonstrativamente sobre seu objeto, vem a ser, cons-
tituir-se como teoria da praxis. Com efeito, na praxis, o
ethos tem sua realidade concreta como termo singular en-
tre a universalidade do costume e a particularidade do h-
bito (hxis).
2
No entanto, essa concretude do ethos tem
como componentes fundamentais um conhecimento que
imanente prpria praxis e um poder de autodeterminao
que constitui o sujeito na sua autonomia e o torna causa
1. Pol. III, 6, 1282 b 20.
2. Ver supra, cap. I, n. 62.
80
r
de si mesmo: liber causa sui.
3
Na dupla leitura possvel
de causa manifesta-se neste axioma a original identidade de
causalidade formal e de causalidade eficiente na qual ir
manifestar-se o ncleo conceptual mais profundo da cincia
do ethos ou a conceptualidade original da praxis. Lendo-se
causa como ablativo de modo,
4
o sujeito livre em razo
de si mesmo e a praxis desdobra a dimenso da sua cau-
salidade formal com o "dar razo" de si mesma: esse o
caminho seguido pela tica clssica. Lendo-se causa como
nominativo, o sujeito livre autodeterminao de si mesmo
e a praxis desdobra a dimenso da sua causalidade eficiente
como auto-realizao do sujeito: essa a direo predominan-
te na tica crist-moderna.
H pois, aqui, um entrelaamento de conhecimento e
ao numa identidade na diferena que confere estrutura
da praxis a natureza do movimento dialtico por excelncia,
onde a imanncia recproca do contedo e da forma asse-
gura a plenitude do ato como perfeio ou enrgeia.
5
Como foi longamente estudado no captulo anterior,
6
o propsito de uma cincia do ethos, tal como se tentou
constituir nos sculos V-IV a.C., teve como alvo transpor
a dimenso do conhecimento imanente praxis- sua for-
ma - num tipo de saber que pudesse pretender ao rigor
demonstrativo do logos da natureza e eficcia operativa
do logos da tcnica. No caso de se elevar a esse nvel da
episthme, a praxis viria a participar da necessidade racio-
nal da cincia e da eficcia operacional da tcnica. Foi esse,
como sabido, o campo da discusso entre os Sofistas e
Scrates, da qual teve origem a teoria socrtica da virtude-
-cincia.
3. Aristteles, Met. I, 982 b 26; Sto. Toms de Aquino, Summa
C. Gentiles, II, c. 48. Ver J. Finance Existence et Libert Lyon Vitte
1955, p. 7, n. 4. Para uma reflexo' metafsica sobre o ve;
S. Breton, "Reflexions sur la Causa sui" in Rev. Se. Phil. Thol. 70
(1986): 349364, I
4. A expresso grega : eletheros autou neka, p. ex. Arist.
Met., loc. cit. Sobre o sentido de ou neka, "em razo de", em Aris-
tteles, ver W. C. K. Guthrie, A history of Greek Philosophy VI p.
86, n. 2 (Cambridge, 1981). ' '
5. A prxis na sua realizao mais alta, ou seja, a beatitude
ou eudaimona , por excelncia, enrgeia. Ver Et. Nic., VII, 12,
1153 a 16; 1169 b 29; ver supra, cap. II, n. 45 e I. Dring, Aristoteles,
pp. 409-473.
6. Ver supra, cap. II, 3.
7. Sobre a interpretao da doutrina da virtude-cincia no
contexto da reflexo socrtica sobre a praxis ver F. Adorno, Intro-
81
Captulo Terceiro
TICA E RAZAO
" ... t d'anakaia kaz chrsima tn kaln neka"
Aristteles, Pol. VII, 13, 1333 a 36-37
1 . TEORIA DA PRAXIS
A nascente cincia do ethos, ou tica, viu-se face a face,
na Grcia, com um problema epistemolgico original, cuja
discusso vem acompanhando seus passos at nossos dias
e renasce no florescimento contemporneo das "teorias da
ao" (Handlungstheorie). Com efeito, situado entre a epis-
thme terica e a tchne, o discurso que Aristteles deno-
minou ethiks lgos
1
pretende, por um lado, gozar do es-
tatuto de uma verdadeira cincia e, de outro, no voltar-se,
como a theora, para a contemplao dos seres, mas, como
a tchne, para a produo e ordenao das aes. Entre a
theora e a tchne, a cincia do ethos dever encontrar seu
lugar epistemolgico a partir do qual seja capaz de discor-
rer demonstrativamente sobre seu objeto, vem a ser, cons-
tituir-se como teoria da praxis. Com efeito, na praxis, o
ethos tem sua realidade concreta como termo singular en-
tre a universalidade do costume e a particularidade do h-
bito (hxis).
2
No entanto, essa concretude do ethos tem
como componentes fundamentais um conhecimento que
imanente prpria praxis e um poder de autodeterminao
que constitui o sujeito na sua autonomia e o torna causa
1. Pol. III, 6, 1282 b 20.
2. Ver supra, cap. I, n. 62.
80
r
de si mesmo: liber causa sui.
3
Na dupla leitura possvel
de causa manifesta-se neste axioma a original identidade de
causalidade formal e de causalidade eficiente na qual ir
manifestar-se o ncleo conceptual mais profundo da cincia
do ethos ou a conceptualidade original da praxis. Lendo-se
causa como ablativo de modo,
4
o sujeito livre em razo
de si mesmo e a praxis desdobra a dimenso da sua cau-
salidade formal com o "dar razo" de si mesma: esse o
caminho seguido pela tica clssica. Lendo-se causa como
nominativo, o sujeito livre autodeterminao de si mesmo
e a praxis desdobra a dimenso da sua causalidade eficiente
como auto-realizao do sujeito: essa a direo predominan-
te na tica crist-moderna.
H pois, aqui, um entrelaamento de conhecimento e
ao numa identidade na diferena que confere estrutura
da praxis a natureza do movimento dialtico por excelncia,
onde a imanncia recproca do contedo e da forma asse-
gura a plenitude do ato como perfeio ou enrgeia.
5
Como foi longamente estudado no captulo anterior,
6
o propsito de uma cincia do ethos, tal como se tentou
constituir nos sculos V-IV a.C., teve como alvo transpor
a dimenso do conhecimento imanente praxis- sua for-
ma - num tipo de saber que pudesse pretender ao rigor
demonstrativo do logos da natureza e eficcia operativa
do logos da tcnica. No caso de se elevar a esse nvel da
episthme, a praxis viria a participar da necessidade racio-
nal da cincia e da eficcia operacional da tcnica. Foi esse,
como sabido, o campo da discusso entre os Sofistas e
Scrates, da qual teve origem a teoria socrtica da virtude-
-cincia.
3. Aristteles, Met. I, 982 b 26; Sto. Toms de Aquino, Summa
C. Gentiles, II, c. 48. Ver J. Finance Existence et Libert Lyon Vitte
1955, p. 7, n. 4. Para uma reflexo' metafsica sobre o ve;
S. Breton, "Reflexions sur la Causa sui" in Rev. Se. Phil. Thol. 70
(1986): 349364, I
4. A expresso grega : eletheros autou neka, p. ex. Arist.
Met., loc. cit. Sobre o sentido de ou neka, "em razo de", em Aris-
tteles, ver W. C. K. Guthrie, A history of Greek Philosophy VI p.
86, n. 2 (Cambridge, 1981). ' '
5. A prxis na sua realizao mais alta, ou seja, a beatitude
ou eudaimona , por excelncia, enrgeia. Ver Et. Nic., VII, 12,
1153 a 16; 1169 b 29; ver supra, cap. II, n. 45 e I. Dring, Aristoteles,
pp. 409-473.
6. Ver supra, cap. II, 3.
7. Sobre a interpretao da doutrina da virtude-cincia no
contexto da reflexo socrtica sobre a praxis ver F. Adorno, Intro-
81
No entanto, a primazia do saber codificado no lagos
cientfico ou tcnico tende a submeter a praxis necessida-
de do discurso racional ou s condies reguladoras da
norma tcnica o que, na mesma medida, limita a possibi-
lidade do seu autodeterminar-se como praxis livre. A ne-
cessidade da demonstrao ou a constrio do modelo tc-
nico teriam ocupado o espao de contingncia da liberdade.
Assim, uma teoria da praxis se, de um lado, apresenta-
-se como passo inicial necessrio de uma cincia do ethos
parece, de outro, envolver-se numa contradictio in termi-
nis s na medida em que, elevado ao nvel da teoria, o conheci-
mento prtico tende a suprimir a essencial indeterminao
da praxis ou a raiz da sua liberdade, vem a ser, a prpria
praxis. Como teoria da praxis (genitivo subjetivo) ou teo-
ria prtica, a teoria submeteria a praxis necessidade do
seu discurso. Limitando-se teoria reivindicada pela praxis
(gen. objetivo), a teoria seria apenas a descrio das mo-
dalidades de racionalidade emprica do agir, abandonando
assim a inteno normativa que presidiu ao nascimento da
cincia do ethos.
A essa, que poderia ser denominada a aporia funda-
mental de uma cincia da praxis, est subjacente a expe-
rincia histrica decisiva que marca as origens da civiliza-
o do Ocidente e da qual esta ir receber um dos seus
traos mais profundos e, igualmente, um dos seus proble-
duzione a Socrate, 3 ~ ed., Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 103-132. A
transposio socrtica do preceito dlfico Gnthi sautn abre, na
compacta solidez do ethos histrico contra a qual se dirigiam as
armas crticas dos Sofistas, o espao da moralidade - para usar uma
terminologia hegeliana - no qual o agir tico poder articular-se
como dialtica da razo e da liberdade interior. Ver, a propsito,
Vittorio Hosle, Wahrheit und Geschichte: Studien zur Struktur
der Philosophiegeschichte und parag,igmatischer Analyse der En-
twicklung von Parmenides bis Platon, op. cit., pp. 304-314. A an-
lise hegeliana do ensinamento soc:tico a mais brilhante exposi-
o do advento da razo reflexiva no terreno do ethos histrico; ver
G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie, I,
1, B (Werke, red. Moldenhauer-Michel, vol. 18, pp. 445-447; 468-473).
Ver igualmente as reflexes profundas de R. Bubner sobre o proble-
ma da Sofstica em Handlung, Sprache, Vernunjt, op. cit., pp. 112-121.
Para uma interpretao diferente do advento da "moralidade" ver o
cap. IV "La nascita dei moralismo", de A. Magris. L'idea di destino nel
pensiero antico, op. cit., I, pp. 247-369.
8. Sobre as dificuldades de formulao de uma teoria da pra-
xis ver P. Baumann, Wie ist praktische Philosophie moglich? apud
Einfhrung in die praktische Philosophie, Stuttgart-Bad, Canstatt,
Frommann-Holgboog, 1977, pp. llss.
82
mas mais desafiadores. Trata-se justamente do problemq
cuja soluo tem sido tentada atravs da longa sucesso
dos sistemas ticos. Referimo-nos experincia grega da
descoberta do lagos cientfico ou da Razo demonstrativa
e ao problema da sua extenso ao domnio da praxis huma-
na. Vitoriosa em todos os campos que se abrem expe-
rincia do homem, ordenando-os segundo a necessidade l-
gica do seu procedimento discursivo, a Razo parece, no
entanto, encontrar um obstculo intransponvel na radical
indeterminao que caracteriza o agir humano como agir
livre. A aporia de uma cincia da praxis parece tanto mais
desconcertante quanto as outras duas formas da atividade
humana, o prprio conhecimento e o fazer tcnico subme-
tem-se docilmente s normas da razo: a theoria e a tchne
tornam-se paradigmas do lagos na sua virtude demonstra-
tiva e reguladora.
Como, pois, formular uma razo da praxis a ~ t a a guiar
a prpria pra.ris pelos caminhos de um procedimento ra-
cional? Na aparente impossibilidade de adequar a lgica
imanente da ao lgica codificada da Razo, a civilizao
que se edificou sobre a experincia grega do lagos e que hoje
conhece sua expanso maior e, talvez, a sua crise mais pro-
funda vem tentando mil caminhos - pedaggicos, cientfi-
cos, tcnicos, polticos- para submeter a primeira segun-
da e, assim incorporar de vez a praxis ao projeto grandioso
de racionalizao do homem e do seu mundo.
Paralelamente, e muitas vezes em oposio a esse imen-
so esforo para adequar a razo tica razo cientfica,
a civilizao da Razo assiste, ao longo da sua histria, a
um outro tenaz e sempre recomeado esforo para assegu-
rar a autonomia de uma cincia do ethos, vem a ser, para
conciliar razo tica e razo demonstrativa, mas de tal sor-
te que a racionalidade original da praxis se reencontre no
plano de um saber que assegure ao agir tico o seu exer-
ccio como manifestao mais alta e como fruto amadure-
cido da liberdade. A tica em suma, pois dela se trata,
prope-se, sem renunciar aos cnones do_ lagos demonstra-
tivo operar a transposio do ethos vivido no ethos pen-
s a d ~ , integrando assim a praxis no grande desgnio hist-
rico da civilizao da Razo.
V-se, porm, que justamente o lugar epistemolgico e
a prpria possibilidade lgica da tica, tal como a conce-
beu a tradio clssica, tornam-se alvo de uma crtica ge-
neralizada no universo intelectual da nossa civilizao. O co-
83
No entanto, a primazia do saber codificado no lagos
cientfico ou tcnico tende a submeter a praxis necessida-
de do discurso racional ou s condies reguladoras da
norma tcnica o que, na mesma medida, limita a possibi-
lidade do seu autodeterminar-se como praxis livre. A ne-
cessidade da demonstrao ou a constrio do modelo tc-
nico teriam ocupado o espao de contingncia da liberdade.
Assim, uma teoria da praxis se, de um lado, apresenta-
-se como passo inicial necessrio de uma cincia do ethos
parece, de outro, envolver-se numa contradictio in termi-
nis s na medida em que, elevado ao nvel da teoria, o conheci-
mento prtico tende a suprimir a essencial indeterminao
da praxis ou a raiz da sua liberdade, vem a ser, a prpria
praxis. Como teoria da praxis (genitivo subjetivo) ou teo-
ria prtica, a teoria submeteria a praxis necessidade do
seu discurso. Limitando-se teoria reivindicada pela praxis
(gen. objetivo), a teoria seria apenas a descrio das mo-
dalidades de racionalidade emprica do agir, abandonando
assim a inteno normativa que presidiu ao nascimento da
cincia do ethos.
A essa, que poderia ser denominada a aporia funda-
mental de uma cincia da praxis, est subjacente a expe-
rincia histrica decisiva que marca as origens da civiliza-
o do Ocidente e da qual esta ir receber um dos seus
traos mais profundos e, igualmente, um dos seus proble-
duzione a Socrate, 3 ~ ed., Roma-Bari, Laterza, 1978, pp. 103-132. A
transposio socrtica do preceito dlfico Gnthi sautn abre, na
compacta solidez do ethos histrico contra a qual se dirigiam as
armas crticas dos Sofistas, o espao da moralidade - para usar uma
terminologia hegeliana - no qual o agir tico poder articular-se
como dialtica da razo e da liberdade interior. Ver, a propsito,
Vittorio Hosle, Wahrheit und Geschichte: Studien zur Struktur
der Philosophiegeschichte und parag,igmatischer Analyse der En-
twicklung von Parmenides bis Platon, op. cit., pp. 304-314. A an-
lise hegeliana do ensinamento soc:tico a mais brilhante exposi-
o do advento da razo reflexiva no terreno do ethos histrico; ver
G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie, I,
1, B (Werke, red. Moldenhauer-Michel, vol. 18, pp. 445-447; 468-473).
Ver igualmente as reflexes profundas de R. Bubner sobre o proble-
ma da Sofstica em Handlung, Sprache, Vernunjt, op. cit., pp. 112-121.
Para uma interpretao diferente do advento da "moralidade" ver o
cap. IV "La nascita dei moralismo", de A. Magris. L'idea di destino nel
pensiero antico, op. cit., I, pp. 247-369.
8. Sobre as dificuldades de formulao de uma teoria da pra-
xis ver P. Baumann, Wie ist praktische Philosophie moglich? apud
Einfhrung in die praktische Philosophie, Stuttgart-Bad, Canstatt,
Frommann-Holgboog, 1977, pp. llss.
82
mas mais desafiadores. Trata-se justamente do problemq
cuja soluo tem sido tentada atravs da longa sucesso
dos sistemas ticos. Referimo-nos experincia grega da
descoberta do lagos cientfico ou da Razo demonstrativa
e ao problema da sua extenso ao domnio da praxis huma-
na. Vitoriosa em todos os campos que se abrem expe-
rincia do homem, ordenando-os segundo a necessidade l-
gica do seu procedimento discursivo, a Razo parece, no
entanto, encontrar um obstculo intransponvel na radical
indeterminao que caracteriza o agir humano como agir
livre. A aporia de uma cincia da praxis parece tanto mais
desconcertante quanto as outras duas formas da atividade
humana, o prprio conhecimento e o fazer tcnico subme-
tem-se docilmente s normas da razo: a theoria e a tchne
tornam-se paradigmas do lagos na sua virtude demonstra-
tiva e reguladora.
Como, pois, formular uma razo da praxis a ~ t a a guiar
a prpria pra.ris pelos caminhos de um procedimento ra-
cional? Na aparente impossibilidade de adequar a lgica
imanente da ao lgica codificada da Razo, a civilizao
que se edificou sobre a experincia grega do lagos e que hoje
conhece sua expanso maior e, talvez, a sua crise mais pro-
funda vem tentando mil caminhos - pedaggicos, cientfi-
cos, tcnicos, polticos- para submeter a primeira segun-
da e, assim incorporar de vez a praxis ao projeto grandioso
de racionalizao do homem e do seu mundo.
Paralelamente, e muitas vezes em oposio a esse imen-
so esforo para adequar a razo tica razo cientfica,
a civilizao da Razo assiste, ao longo da sua histria, a
um outro tenaz e sempre recomeado esforo para assegu-
rar a autonomia de uma cincia do ethos, vem a ser, para
conciliar razo tica e razo demonstrativa, mas de tal sor-
te que a racionalidade original da praxis se reencontre no
plano de um saber que assegure ao agir tico o seu exer-
ccio como manifestao mais alta e como fruto amadure-
cido da liberdade. A tica em suma, pois dela se trata,
prope-se, sem renunciar aos cnones do_ lagos demonstra-
tivo operar a transposio do ethos vivido no ethos pen-
s a d ~ , integrando assim a praxis no grande desgnio hist-
rico da civilizao da Razo.
V-se, porm, que justamente o lugar epistemolgico e
a prpria possibilidade lgica da tica, tal como a conce-
beu a tradio clssica, tornam-se alvo de uma crtica ge-
neralizada no universo intelectual da nossa civilizao. O co-
83
nhecimento normativo da ao no mais situado na es-
fera tica, mas transferido para o terreno do saber tcnico
aplicado organizao da sociedade: o domnio das tecno-
estruturas estende-se das coisas aos grupos e aos indiv-
duos. Depois de submetido presso de suspeitas ideol-
gicas de inspirao to diversa quanto as que procedem
de Marx e de Nietzsche, e de sofrer as desconstrues psi-
canalticas e behavioristas (sem falar da relativizao me-
todolgica operada sobre os conceitos ticos pelas cincias
da cultura), o lugar epistemolgico da tica investido
nos seus fundamentos por aquelas correntes da filosofia
que aceitaram o veredicto do primeiro Wittgens-
tem sobre a impossibilidade de uma tica racional
9
ou
declararam insolvel a questo lgica da passagem do ser
ao dever-ser.
10
permitido pensar, no entanto, que o pro-
blema de uma tica racional ou de uma cincia do ethos
permanece o desafio terico talvez mais grave enfrentado
por uma civilizao da Razo. E tal desafio no ser efe-
tivamente vencido se no se tentar encontrar a articulao
lgica original que una razo e liberdade na estrutura do
agir tico ou, em outras palavras, se no se alcanar for-
mular, de maneira adequada, uma teoria da praxis.
A equivalncia entre praxis e agir tico se apresenta
com efeito, implicada nas caractersticas originais com
o fenmeno da praxis se apresenta na experincia. Uma teo-
ria da praxis ser, pois, constitutivamente uma teoria do
agir tico, pois toda praxis refere-se necessariamente a um
horizonte ltimo de eticidade. Desta sorte a teoria da pra-
xis dificilmente poderia ser elaborada apenas como um
limiar propedutico tica.
11
Com efeito, o saber ima-
9. L. Wittgenstein, Tractactus logico-philosophicus 6.42 6.421.
10. Alm do artigo de Kai Nielsen cit. supra, cp. I, nota
142, ver W. D .. Hu;;.son, Modern Moral Philosophy, Macmillan, 1970
(tr. esp., Madri, Allanza, 1974) e a clara exposio de U. Scarpelli
Etica, linguaggio e ragione, apud Etica senza verit Milo Il Mulino'
1982, pp. 49-72, e F. Rcken, Allgemeine Ethik <Grundkurs
phie, 4), Stuttgart, Kohlhammer, 1983, pp. 29-66. Ver igualmente o
estudo exaustivo de M. Santos Camacho, tica y Filosofa Analtica
EUNSR, Pamplona, 1975. '
11. Essa a posio de M. Riedel, Handlungstheorie als ethische
a:.undddiszipli1!, apud H. Lenk (ed.), Handlungstheorien interdiszipli-
nar II, 1, Muruque, 1978, pp. 139-159, cit. por O. Hffe Philosophische
H andlungstheorien als Ethik, apud H. Poser ( ed.),' Philosophische
Probleme der Handlungstheorien, Friburgo-Munique, Alber, 1982, pp.
233-261 (aqui, p. 234).
84
nente praxis , por essncia, normativo do seu exerccio.
12
Vale dizer que o saber prtico orienta teleologicamente o
campo terico da escolha, de sorte que uma descrio da
ao como fato ou evento neutro ou indiferente manifes-
tamente inexeqvel: a ao compreende necessariamente
em si o momento da sua auto-avaliao, a referncia cons-
titutiva e conhecida como tal a um valor escolhido ou re-
cusado. A filosofia analtica da praxis distingue vrios n-
veis de anlise da linguagem da ao e enumera notada-
n:ente a sucesso dos nveis descritivo, ascritivo e prescri-
tzvo
13
que aponta para o envolvimento sempre mais pro-
fundo do sujeito no exerccio do seu agir. Mas essa su-
cesso de nveis de anlise refere-se a um ncleo originrio,
a partir do qual a praxis pensvel geneticamente como
tenso entre os plos do conhecer e do querer. Tal tenso
, por sua vez, permanentemente superada no prprio exer-
ccio da praxis, no qual tem lugar uma causao recproca
entre razo e liberdade e no qual a praxis se apresenta, fi-
nalmente, na sua totalidade estrutural como actus huma-
nus.
14
2. ORIGENS HISTRICAS DA TEORIA DA PRAXIS
A reflexo tica no Ocidente inaugurou-se com um pro-
digioso esforo de pensamento - em Plato e Aristteles -
para captar conceptualmente esse ncleo original inteligvel
da praxis ou para construir, abrangendo toda a complexi-
dade do seu objeto, uma lgica da praxis ou o que moder-
namente se denominou uma teoria da ao e que freqen-
temente, sobretudo na sua verso analtica, no atinge a
inteligibilidade mais profunda da prpria ao. Tanto a
concepo platnica quanto a aristotlica pressupem as
peculiaridades semnticas do termo praxis, cuja significa-
12. A analogia entre a praxis e a tchne ilustra este aspecto
do conhecimento prtico, segundo a observao de Aristteles: "O
que nos foroso fazer para aprender, s o aprendemos fazendo"
(Et. Nic. II, 1, 1103 a 31-32). O fazer gera o saber, o saber nor-
mativo do fazer. Assim, igualmente, para o agir virtuoso (ibidem,
a34-b 2).
13. Sobre essa terminologia usada na recente filosofia moral
de inspirao lingstico-analtica, ver W. D. Hudson, Modern Moral
Philosophy, ch. V e VI.
14. Ver Toms de Aquino, De Virt. in comm. q. un. art. 4 c.
A teleologia imanente ao ato implica a obrigatoriedade fim. '
85
nhecimento normativo da ao no mais situado na es-
fera tica, mas transferido para o terreno do saber tcnico
aplicado organizao da sociedade: o domnio das tecno-
estruturas estende-se das coisas aos grupos e aos indiv-
duos. Depois de submetido presso de suspeitas ideol-
gicas de inspirao to diversa quanto as que procedem
de Marx e de Nietzsche, e de sofrer as desconstrues psi-
canalticas e behavioristas (sem falar da relativizao me-
todolgica operada sobre os conceitos ticos pelas cincias
da cultura), o lugar epistemolgico da tica investido
nos seus fundamentos por aquelas correntes da filosofia
que aceitaram o veredicto do primeiro Wittgens-
tem sobre a impossibilidade de uma tica racional
9
ou
declararam insolvel a questo lgica da passagem do ser
ao dever-ser.
10
permitido pensar, no entanto, que o pro-
blema de uma tica racional ou de uma cincia do ethos
permanece o desafio terico talvez mais grave enfrentado
por uma civilizao da Razo. E tal desafio no ser efe-
tivamente vencido se no se tentar encontrar a articulao
lgica original que una razo e liberdade na estrutura do
agir tico ou, em outras palavras, se no se alcanar for-
mular, de maneira adequada, uma teoria da praxis.
A equivalncia entre praxis e agir tico se apresenta
com efeito, implicada nas caractersticas originais com
o fenmeno da praxis se apresenta na experincia. Uma teo-
ria da praxis ser, pois, constitutivamente uma teoria do
agir tico, pois toda praxis refere-se necessariamente a um
horizonte ltimo de eticidade. Desta sorte a teoria da pra-
xis dificilmente poderia ser elaborada apenas como um
limiar propedutico tica.
11
Com efeito, o saber ima-
9. L. Wittgenstein, Tractactus logico-philosophicus 6.42 6.421.
10. Alm do artigo de Kai Nielsen cit. supra, cp. I, nota
142, ver W. D .. Hu;;.son, Modern Moral Philosophy, Macmillan, 1970
(tr. esp., Madri, Allanza, 1974) e a clara exposio de U. Scarpelli
Etica, linguaggio e ragione, apud Etica senza verit Milo Il Mulino'
1982, pp. 49-72, e F. Rcken, Allgemeine Ethik <Grundkurs
phie, 4), Stuttgart, Kohlhammer, 1983, pp. 29-66. Ver igualmente o
estudo exaustivo de M. Santos Camacho, tica y Filosofa Analtica
EUNSR, Pamplona, 1975. '
11. Essa a posio de M. Riedel, Handlungstheorie als ethische
a:.undddiszipli1!, apud H. Lenk (ed.), Handlungstheorien interdiszipli-
nar II, 1, Muruque, 1978, pp. 139-159, cit. por O. Hffe Philosophische
H andlungstheorien als Ethik, apud H. Poser ( ed.),' Philosophische
Probleme der Handlungstheorien, Friburgo-Munique, Alber, 1982, pp.
233-261 (aqui, p. 234).
84
nente praxis , por essncia, normativo do seu exerccio.
12
Vale dizer que o saber prtico orienta teleologicamente o
campo terico da escolha, de sorte que uma descrio da
ao como fato ou evento neutro ou indiferente manifes-
tamente inexeqvel: a ao compreende necessariamente
em si o momento da sua auto-avaliao, a referncia cons-
titutiva e conhecida como tal a um valor escolhido ou re-
cusado. A filosofia analtica da praxis distingue vrios n-
veis de anlise da linguagem da ao e enumera notada-
n:ente a sucesso dos nveis descritivo, ascritivo e prescri-
tzvo
13
que aponta para o envolvimento sempre mais pro-
fundo do sujeito no exerccio do seu agir. Mas essa su-
cesso de nveis de anlise refere-se a um ncleo originrio,
a partir do qual a praxis pensvel geneticamente como
tenso entre os plos do conhecer e do querer. Tal tenso
, por sua vez, permanentemente superada no prprio exer-
ccio da praxis, no qual tem lugar uma causao recproca
entre razo e liberdade e no qual a praxis se apresenta, fi-
nalmente, na sua totalidade estrutural como actus huma-
nus.
14
2. ORIGENS HISTRICAS DA TEORIA DA PRAXIS
A reflexo tica no Ocidente inaugurou-se com um pro-
digioso esforo de pensamento - em Plato e Aristteles -
para captar conceptualmente esse ncleo original inteligvel
da praxis ou para construir, abrangendo toda a complexi-
dade do seu objeto, uma lgica da praxis ou o que moder-
namente se denominou uma teoria da ao e que freqen-
temente, sobretudo na sua verso analtica, no atinge a
inteligibilidade mais profunda da prpria ao. Tanto a
concepo platnica quanto a aristotlica pressupem as
peculiaridades semnticas do termo praxis, cuja significa-
12. A analogia entre a praxis e a tchne ilustra este aspecto
do conhecimento prtico, segundo a observao de Aristteles: "O
que nos foroso fazer para aprender, s o aprendemos fazendo"
(Et. Nic. II, 1, 1103 a 31-32). O fazer gera o saber, o saber nor-
mativo do fazer. Assim, igualmente, para o agir virtuoso (ibidem,
a34-b 2).
13. Sobre essa terminologia usada na recente filosofia moral
de inspirao lingstico-analtica, ver W. D. Hudson, Modern Moral
Philosophy, ch. V e VI.
14. Ver Toms de Aquino, De Virt. in comm. q. un. art. 4 c.
A teleologia imanente ao ato implica a obrigatoriedade fim. '
85
o primordial diz respeito de um lado ao ato do sujeito,
ao seu realizar-se na ao e pela ao e, de outro, perfei-
o ou excelncia que o ato tem em si mesmo.
15
No caso
da praxis, com efeito, a perfeio (pertectum, o que rea-
lizado) refere-se primeiramente ao ato e no a um produto
do ato como no caso do fazer (poiein): a manifestao do
ato no efeito que dele resulta como a efuso da sua ple-
nitude e no o complemento de uma indigncia ou a sa-
tisfao de uma carncia.
16
necessrio ter presente esse
substrato semntico para se compreender plenamente as
concepes platnica e aristotlica da praxis.
A concepo platnica da praxis tem sido obscurecida
pelo lugar-comum, ainda hoje repetido, que faz de Plato
um incurvel "idealista" poltico e, como tal, oportunamen-
te criticado pelo "realista" Aristteles.
17
Na verdade, o pen-
samento platnico situa-se no contexto das profundas trans-
formaes que tiveram lugar no universo intelectual da
Grcia com o aparecimento do ideal da theoria preconizado
justamente pelo prprio Plato.
18
Sabemos que os primei-
ros dilogos platnicos so dominados pelo problema so-
crtico de um conhecimento capaz de reger e orientar re-
tamente a praxis, tornando-a portadora da verdadeira aret.
Vimos anteriormente como a soluo desse problema foi
buscada inicialmente na analogia com o conhecimento tc-
nico.
19
Mas a noo de cincia (episthme), cujas origens
estavam ligadas, de fato, ao conhecimento prtico ordin-
rio,
20
ser submetida, a partir dos dilogos da maturidade,
15. Ou o seu contrrio, como no termo dyspraxa, ver G. Chan-
traine, Dictionnaire tymologique de la Zangue grecque, s. v., III, p.
934.
16. O verbo prttein encontra um correspondente no latim age-
re, ao qual igualmente ligada a significao da auto-realizao do
sujeito. Sobre os matizes semnticos dos verbos que significam
agir, operar, produzir. . . ver Plato, Carm. 162 d-163 b.
17. No seu simplismo, essa oposio historicamente inacei-
tvel e conceptualmente infundada. Mas a leitura de Plato e Aris-
tteles d origem, nesse campo, a vises contrastantes, como se pode
ver em R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, Berlim, De
Gruyter, 1970, pp. 111-112 e G. Bien, Die Grundlegung der prakti-
schen Philosophie bei Aristoles, Friburgo-Munique, Alber 1973 pp.
162-179.
18. Ver supra, cap. II, n. 129.
19. Ver supra, cap. II, 3 e n. 121.
20. Ver J. Gould, The development of Plato's Ethics, Cambridge,
Cambridge Univ. Press, 1955, p. 31.
86
"transposio platnica" de que fala A. Dies
que vi-
sualizada na clebre comparao da linha,
2
"em pleno co-
rao do discurso sobre a theoria. E luz e sob a re-
gncia da theoria que a praxis ser doravante pensada.
Iluminada e guiada pela theoria, a praxis encontra seu
lugar inteligvel no centro do espao filosfico: theoria e
praxis se articulam no pensamento platnico, de sorte a
constituir uma unidade cujo segredo ser perdido pelo pen-
samento posterior.
23
Dentro desta perspectiva, o intelectua-
lismo platnico pode tambm ser interpretado com exati-
do como um "primado metaontolgico do prtico", na
medida em que a Idia do Bem, alvo supremo da theoria, si-
tua-se "para alm da essncia em dignidade e poder".
25
Na
verdade, era necessrio que a praxis fosse pensada nesse
horizonte transontolgico do Bem absoluto, infinitamente
distante do utilitarismo sofstico e transcendendo mesmo
o plano em que a idia da justia se apresenta apenas na
sua "funcionalidade",
26
para que theoria e praxis designas-
sem a dupla direo de um mesmo caminho, o caminho
da ascenso ao mundo inteligvel e do retorno ao mundo
sensvel: o caminho do prisioneiro que se liberta e sobe
para contemplar o sol e o mundo real, mas retoma Ca-
verna para ensinar e guiar seus antigos companheiros de
priso.
27
Os dilogos da maturidade e, particularmente, a Rep-
blica (mas convm no esquecer a prova decisiva que foi,
21. A. Dies, Autour de Platon, Paris, Beauchesne, 1927, II, PP.
440-449; aplicando, na primeira parte deste magistral estudo, a. no-
o de "transposio" Retrica, A. Dies oferece-nos, no capitulo
seguinte uma brilhante exposio da episthme platnica fundada
sobre o' mesmo esquema interpretativo. Ver L'ide de la science
dans Platon, ibidem, pp. 450-522. .
22. Rep. VI, 509 d-511 e; ver J. Moreau, Le sens du Platonzsme,
Paris, Belles Lettres, 1967, pp. 137-175.
23. Ver J. Stenzel, Metaphysik des Altertums, apud Handbuch
der Philosophie I, Munique-Berlim, C. H. Beck, 1931, p. . Ver t<;?-
do o importante pargrafo sobre "Idia do Bem como 1d1a plato-
nica do ser" ibidem, pp. 105-125.
24. expresso usada e explicada por R. em Pla-
tons "Staat" und die Demokratie, 36, "Saber absoluto e pnmado do
prtico" (pp. 225-234). J. Moreau, o B.anquete, de
"ao contemplativa": ver La constructzon de l zdalzsme platonzczen,
Paris, Boivin, 1939, p. 459.
25. Rep. VI, 509 b.
26. R. Maurer, op. cit., p. 231, n. 46.
27. Rep. VII, 514 a-517 a.
87
o primordial diz respeito de um lado ao ato do sujeito,
ao seu realizar-se na ao e pela ao e, de outro, perfei-
o ou excelncia que o ato tem em si mesmo.
15
No caso
da praxis, com efeito, a perfeio (pertectum, o que rea-
lizado) refere-se primeiramente ao ato e no a um produto
do ato como no caso do fazer (poiein): a manifestao do
ato no efeito que dele resulta como a efuso da sua ple-
nitude e no o complemento de uma indigncia ou a sa-
tisfao de uma carncia.
16
necessrio ter presente esse
substrato semntico para se compreender plenamente as
concepes platnica e aristotlica da praxis.
A concepo platnica da praxis tem sido obscurecida
pelo lugar-comum, ainda hoje repetido, que faz de Plato
um incurvel "idealista" poltico e, como tal, oportunamen-
te criticado pelo "realista" Aristteles.
17
Na verdade, o pen-
samento platnico situa-se no contexto das profundas trans-
formaes que tiveram lugar no universo intelectual da
Grcia com o aparecimento do ideal da theoria preconizado
justamente pelo prprio Plato.
18
Sabemos que os primei-
ros dilogos platnicos so dominados pelo problema so-
crtico de um conhecimento capaz de reger e orientar re-
tamente a praxis, tornando-a portadora da verdadeira aret.
Vimos anteriormente como a soluo desse problema foi
buscada inicialmente na analogia com o conhecimento tc-
nico.
19
Mas a noo de cincia (episthme), cujas origens
estavam ligadas, de fato, ao conhecimento prtico ordin-
rio,
20
ser submetida, a partir dos dilogos da maturidade,
15. Ou o seu contrrio, como no termo dyspraxa, ver G. Chan-
traine, Dictionnaire tymologique de la Zangue grecque, s. v., III, p.
934.
16. O verbo prttein encontra um correspondente no latim age-
re, ao qual igualmente ligada a significao da auto-realizao do
sujeito. Sobre os matizes semnticos dos verbos que significam
agir, operar, produzir. . . ver Plato, Carm. 162 d-163 b.
17. No seu simplismo, essa oposio historicamente inacei-
tvel e conceptualmente infundada. Mas a leitura de Plato e Aris-
tteles d origem, nesse campo, a vises contrastantes, como se pode
ver em R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, Berlim, De
Gruyter, 1970, pp. 111-112 e G. Bien, Die Grundlegung der prakti-
schen Philosophie bei Aristoles, Friburgo-Munique, Alber 1973 pp.
162-179.
18. Ver supra, cap. II, n. 129.
19. Ver supra, cap. II, 3 e n. 121.
20. Ver J. Gould, The development of Plato's Ethics, Cambridge,
Cambridge Univ. Press, 1955, p. 31.
86
"transposio platnica" de que fala A. Dies
que vi-
sualizada na clebre comparao da linha,
2
"em pleno co-
rao do discurso sobre a theoria. E luz e sob a re-
gncia da theoria que a praxis ser doravante pensada.
Iluminada e guiada pela theoria, a praxis encontra seu
lugar inteligvel no centro do espao filosfico: theoria e
praxis se articulam no pensamento platnico, de sorte a
constituir uma unidade cujo segredo ser perdido pelo pen-
samento posterior.
23
Dentro desta perspectiva, o intelectua-
lismo platnico pode tambm ser interpretado com exati-
do como um "primado metaontolgico do prtico", na
medida em que a Idia do Bem, alvo supremo da theoria, si-
tua-se "para alm da essncia em dignidade e poder".
25
Na
verdade, era necessrio que a praxis fosse pensada nesse
horizonte transontolgico do Bem absoluto, infinitamente
distante do utilitarismo sofstico e transcendendo mesmo
o plano em que a idia da justia se apresenta apenas na
sua "funcionalidade",
26
para que theoria e praxis designas-
sem a dupla direo de um mesmo caminho, o caminho
da ascenso ao mundo inteligvel e do retorno ao mundo
sensvel: o caminho do prisioneiro que se liberta e sobe
para contemplar o sol e o mundo real, mas retoma Ca-
verna para ensinar e guiar seus antigos companheiros de
priso.
27
Os dilogos da maturidade e, particularmente, a Rep-
blica (mas convm no esquecer a prova decisiva que foi,
21. A. Dies, Autour de Platon, Paris, Beauchesne, 1927, II, PP.
440-449; aplicando, na primeira parte deste magistral estudo, a. no-
o de "transposio" Retrica, A. Dies oferece-nos, no capitulo
seguinte uma brilhante exposio da episthme platnica fundada
sobre o' mesmo esquema interpretativo. Ver L'ide de la science
dans Platon, ibidem, pp. 450-522. .
22. Rep. VI, 509 d-511 e; ver J. Moreau, Le sens du Platonzsme,
Paris, Belles Lettres, 1967, pp. 137-175.
23. Ver J. Stenzel, Metaphysik des Altertums, apud Handbuch
der Philosophie I, Munique-Berlim, C. H. Beck, 1931, p. . Ver t<;?-
do o importante pargrafo sobre "Idia do Bem como 1d1a plato-
nica do ser" ibidem, pp. 105-125.
24. expresso usada e explicada por R. em Pla-
tons "Staat" und die Demokratie, 36, "Saber absoluto e pnmado do
prtico" (pp. 225-234). J. Moreau, o B.anquete, de
"ao contemplativa": ver La constructzon de l zdalzsme platonzczen,
Paris, Boivin, 1939, p. 459.
25. Rep. VI, 509 b.
26. R. Maurer, op. cit., p. 231, n. 46.
27. Rep. VII, 514 a-517 a.
87
para Plato, o dramtico confronto do Grgias) assinalam
portanto, do ponto de vista da cincia platnica, o desen-
lace da aporia entre phJysis e ethos na qual se enredara o
pensamento grego anterior. neles que Plato escreve o
primeiro captulo da longa seqncia que o problema das
relaes entre contemplao e ao ter de percorrer na
histria do pensamento e da espiritualidade ocidentais. Pro-
blema que estar no centro da tica platnica, como se
encontrar depois no pice da tica aristotlica. A solu-
o que Plato lhe d a mais audaciosa - a mais ambi-
ciosa tambm - ao fazer da ao o esto e como a preamar
da contemplao.
28
Assim se inaugura a tradio de uma
teoria da praxis - ou de uma praxis que se fundamenta,
se comprova e, finalmente, se justifica na teoria -, ou seja,
de uma teoria que , ao mesmo tempo, discurso sobre a
praxis e discurso da prpria praxis. Dentro dessa tradio,
foi possvel o desenvolvimento da tica e da Poltica na for-
ma em que foram cultivadas pelo pensamento clssico no
Ocidente. Por outro lado, essa mesma tradio conhece
seja o contemplata aliis tradere de Toms de Aquino,
29
se-
ja o prodigioso surto especulativo ao termo do qual Hegel
define a Idia absoluta como identidade dialtica da idia
teortica e da idia prtica. so
Convm, no entanto, no perder de vista que a unidade
platnica entre theora e praxis tem uma das suas razes,
como j se observou, na analogia entre a praxis e a tchne
na qual Scrates se inspirou para refletir sobre a aret.
81
28. Convm evocar aqui as frmulas, que se tornaram clssi-
cas, de A. Dis, na sua introduo edio da Repblica da cole-
o G. Bud (Platon, Oeuvres Completes t. VI, d. Chambry, Paris,
Belles Lettres 1932 pp. V-IX; LX-LXIV);! e a parte final de A. J.
Festugire, Contemplation et vie contemplative selon Platon pp. 374-
447; G. Bien Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristo-
teles, pp. 162-193. Ao evocar no incio da Repblica a figura do ve-
lho Kphalos, Plato celebra o nobre perfil do ethos antigo em vias
de declnio e desaparecimento ante o advento da razo sofstica. Por
isso Kphalos se retira (Rep. I, 331 d-e), deixando seu filho Fole-
marco como "herdeiro da discusso". Ver V. Hsle, Wahrheit und
Geschichte, op. cit., pp. 540-542.
29. S.T., lia, IIe, q. 188, a.6.
30. G. W. F. Hegel, Wissenschajt der Logik, II, 2, c. 3 <Werke,
red. Moldenhauer-Michel, 6, pp. 548-573).
31. Ver as pginas penetrantes de J. Stenzel, Das Problem der
Willensjreiheit im Platonismus, apud Kleine Schrijten zur grieschi-
chen Philosophie, Darmstadt, H. Gentner, 1957, pp. 171-187 (aqui,
88
Atravs dessa analogia com a tchne, a theora guardou um
enraizamento antropolgico e social que lhe permitiu trans-
por para o pensamento da praxis a perspectiva teleolgica
que rege, na tchne, o processo de fabricao do objeto.
Mas, enquanto o finalismo da tchne orientado para a
perfeio do objeto fabricado, o finalismo da praxis, re-
gido pela theoria, orientado para a perfeio do prprio
agir, para a sua aret. A verdade da theora flui da neces-
sidade inteligvel do Bem.
82
A luz dessa verdade ilumina
para a praxis seu horizonte ltimo que no pode ser seno
o prprio Bem absoluto.
38
A teleologia do Bem, atravs da qual a praxis se subme-
te necessidade do dever-ser, no ir, no entanto, suprimir
a possibilidade da liberdade de escolha e repropor, numa
perspectiva infinitamente mais profunda, o paradoxo socr-
tico da virtude-cincia? Presa nos laos do Bem,
34
poder
ainda a praxis reivindicar a prerrogativa da livre disposio
de si mesma?
Essa questo permanecer como um insolvel enigma
para ns, enquanto insistirmos em pensar a concepo pla-
tnica servindo-nos do conceito moderno de liberdade de
escolha. Essa liberdade comumente entendida como fa-
culdade de um Eu que se encontra originariamente em re-
lao de virtual oposio com seu mundo e que se consi-
dera livre enquanto indiferente (libertas inditferentiae) ao
contedo real dos objetos oferecidos sua escolha.
35
Ora,
tal viso dicotmica entre o Eu e o mundo no encontra
pp. 177-180), e o sugestivo estudo de H. Kuhn, Praxis und Theorie im
platonischen Denken in P. Engelhardt (org.), Zur Theorie der Pra-
xis: Interpretationen und Aspekte, Mainz, M. Grnewald, 1970, pp.
27-43; e ainda o captulo de J. Moreau, La construction de l'idalisme
platonicien, cap. IV, pp. 188-253.
32. Rep. VI, 508 e. Mas essa perfeio no deve ser confun-
dida com o interesse ou vantagem do agente, como pretende o sofis-
ta Trasmaco no liv. I da Repblica. Ver as explicaes de P. Lachie-
ze-Rey em Les ides morales, sociales et politiques de Platon, Paris,
Boivin, 1938, pp. 45-48.
33. R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, p. 201.
34 . Plato faz meno de um trocadilho entre don (lao) de
dein (enlaar) e don, o Bem, enquanto vnculo universal (comp. em
latim obligatio, em portugus, obrigao). Ver Fed. 99 c e Crt. 418
e-419 'a onde se indica a polissemia de don.
3S. Essa diferena entre a concepo platnica e a concepo
moderna da liberdade energicamente acentuada por J. Stenzel, Das
Problem der Willensjreiheit im Platonismus, art. cit., pp. 171-175.
89
para Plato, o dramtico confronto do Grgias) assinalam
portanto, do ponto de vista da cincia platnica, o desen-
lace da aporia entre phJysis e ethos na qual se enredara o
pensamento grego anterior. neles que Plato escreve o
primeiro captulo da longa seqncia que o problema das
relaes entre contemplao e ao ter de percorrer na
histria do pensamento e da espiritualidade ocidentais. Pro-
blema que estar no centro da tica platnica, como se
encontrar depois no pice da tica aristotlica. A solu-
o que Plato lhe d a mais audaciosa - a mais ambi-
ciosa tambm - ao fazer da ao o esto e como a preamar
da contemplao.
28
Assim se inaugura a tradio de uma
teoria da praxis - ou de uma praxis que se fundamenta,
se comprova e, finalmente, se justifica na teoria -, ou seja,
de uma teoria que , ao mesmo tempo, discurso sobre a
praxis e discurso da prpria praxis. Dentro dessa tradio,
foi possvel o desenvolvimento da tica e da Poltica na for-
ma em que foram cultivadas pelo pensamento clssico no
Ocidente. Por outro lado, essa mesma tradio conhece
seja o contemplata aliis tradere de Toms de Aquino,
29
se-
ja o prodigioso surto especulativo ao termo do qual Hegel
define a Idia absoluta como identidade dialtica da idia
teortica e da idia prtica. so
Convm, no entanto, no perder de vista que a unidade
platnica entre theora e praxis tem uma das suas razes,
como j se observou, na analogia entre a praxis e a tchne
na qual Scrates se inspirou para refletir sobre a aret.
81
28. Convm evocar aqui as frmulas, que se tornaram clssi-
cas, de A. Dis, na sua introduo edio da Repblica da cole-
o G. Bud (Platon, Oeuvres Completes t. VI, d. Chambry, Paris,
Belles Lettres 1932 pp. V-IX; LX-LXIV);! e a parte final de A. J.
Festugire, Contemplation et vie contemplative selon Platon pp. 374-
447; G. Bien Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristo-
teles, pp. 162-193. Ao evocar no incio da Repblica a figura do ve-
lho Kphalos, Plato celebra o nobre perfil do ethos antigo em vias
de declnio e desaparecimento ante o advento da razo sofstica. Por
isso Kphalos se retira (Rep. I, 331 d-e), deixando seu filho Fole-
marco como "herdeiro da discusso". Ver V. Hsle, Wahrheit und
Geschichte, op. cit., pp. 540-542.
29. S.T., lia, IIe, q. 188, a.6.
30. G. W. F. Hegel, Wissenschajt der Logik, II, 2, c. 3 <Werke,
red. Moldenhauer-Michel, 6, pp. 548-573).
31. Ver as pginas penetrantes de J. Stenzel, Das Problem der
Willensjreiheit im Platonismus, apud Kleine Schrijten zur grieschi-
chen Philosophie, Darmstadt, H. Gentner, 1957, pp. 171-187 (aqui,
88
Atravs dessa analogia com a tchne, a theora guardou um
enraizamento antropolgico e social que lhe permitiu trans-
por para o pensamento da praxis a perspectiva teleolgica
que rege, na tchne, o processo de fabricao do objeto.
Mas, enquanto o finalismo da tchne orientado para a
perfeio do objeto fabricado, o finalismo da praxis, re-
gido pela theoria, orientado para a perfeio do prprio
agir, para a sua aret. A verdade da theora flui da neces-
sidade inteligvel do Bem.
82
A luz dessa verdade ilumina
para a praxis seu horizonte ltimo que no pode ser seno
o prprio Bem absoluto.
38
A teleologia do Bem, atravs da qual a praxis se subme-
te necessidade do dever-ser, no ir, no entanto, suprimir
a possibilidade da liberdade de escolha e repropor, numa
perspectiva infinitamente mais profunda, o paradoxo socr-
tico da virtude-cincia? Presa nos laos do Bem,
34
poder
ainda a praxis reivindicar a prerrogativa da livre disposio
de si mesma?
Essa questo permanecer como um insolvel enigma
para ns, enquanto insistirmos em pensar a concepo pla-
tnica servindo-nos do conceito moderno de liberdade de
escolha. Essa liberdade comumente entendida como fa-
culdade de um Eu que se encontra originariamente em re-
lao de virtual oposio com seu mundo e que se consi-
dera livre enquanto indiferente (libertas inditferentiae) ao
contedo real dos objetos oferecidos sua escolha.
35
Ora,
tal viso dicotmica entre o Eu e o mundo no encontra
pp. 177-180), e o sugestivo estudo de H. Kuhn, Praxis und Theorie im
platonischen Denken in P. Engelhardt (org.), Zur Theorie der Pra-
xis: Interpretationen und Aspekte, Mainz, M. Grnewald, 1970, pp.
27-43; e ainda o captulo de J. Moreau, La construction de l'idalisme
platonicien, cap. IV, pp. 188-253.
32. Rep. VI, 508 e. Mas essa perfeio no deve ser confun-
dida com o interesse ou vantagem do agente, como pretende o sofis-
ta Trasmaco no liv. I da Repblica. Ver as explicaes de P. Lachie-
ze-Rey em Les ides morales, sociales et politiques de Platon, Paris,
Boivin, 1938, pp. 45-48.
33. R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, p. 201.
34 . Plato faz meno de um trocadilho entre don (lao) de
dein (enlaar) e don, o Bem, enquanto vnculo universal (comp. em
latim obligatio, em portugus, obrigao). Ver Fed. 99 c e Crt. 418
e-419 'a onde se indica a polissemia de don.
3S. Essa diferena entre a concepo platnica e a concepo
moderna da liberdade energicamente acentuada por J. Stenzel, Das
Problem der Willensjreiheit im Platonismus, art. cit., pp. 171-175.
89
correspondncia na v1sao platnica, na qual o Bem no
primeiramente um objeto de escolha, mas plo da teleolo-
gia universal e princpio absoluto do ser.
A primazia ontolgica (ou, mais exatamente, transon-
tolgica) do Bem no , em Plato, seno a transcrio fi-
losfica da prpria concepo grega de liberdade, cujas
caractersticas convm ter presentes para que se possam
compreender adequadamente os termos nos quais se for-
mulou, nas origens platnico-aristotlicas da tica, o pro-
blema fundamental da praxis.
Entre essas caractersticas, necessrio realar aquela
que faz da liberdade, na sua acepo grega, no um deter-
-se diante do mundo, tornado problemtico e ambguo no
risco da escolha, mas um abrir-se ao mundo como espao
oferecido audcia (tolm) da ao.
36
Tal caracterstica
se prende s origens polticas da noo de eleuthera,
37
que
significa primeiramente o estar libertado dos vnculos aos
quais o escravo permanece ligado, e o poder assim avanar
livremente no espao do mundo. A liberdade assume, aqui,
uma feio eminentemente ativa como prossecuo de um
alvo ou realizao de um fim e, nesse sentido, ela , como
autodeterminao ou senhorio sobre si mesmo (autrqueia),
a prpria razo de ser dessa perfeio ou ato (enrgeia)
que a praxis. Deste ponto de vista, a liberdade grega no
deve ser entendida como a capacidade de poder agir ou
no agir, positis omnibus necessariis ad agendum, confor-
me reza a clssica definio escolstica. Ela no tem sua
raiz numa vontade como faculdade independente, capaz de
querer ou no querer (libertas contradictionis). Tal con-
cepo estranha ao pensamento grego e em vo busca-
36. Esse aspecto da concepo grega da liberdade foi excelen-
temente ressaltado por R. Brague, analisando a passagem central do
elogio fnebre pronunciado por Pricles sobre os atenienses cados
na primeira fase da guerra do Peloponeso, segundo a verso de Tu-
cdides. Ver "Mondo greco e libert" in Il Nuovo Areopago, an. 1
n. 1 (primavera 1982): 51-88.
37. Ver A. J. Festugiere, Libert et Civilisation chez les Grecs,
Paris, Revue des Jeunes, 1947, pp. 6-29, e Max Pohlenz, La libert
grecque: nature et volution d'un idal de vie (tr. fr.), Paris, Payot,
1956, pp. 29-60. Sobre a etimologia de eletheros ver p. 13, n. 3 e V.
Warnach, art. Freiheit, I, apud. Historisches Worterbuch der Phi-
losophie, Vol. 2, Darmstadt, 1972, col. 1064-1083; ver ainda G. Ro-
meyer Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
Lausanne, L'Age d'Homme, 1983, p. 230.
90
ramos seu correspondente na psicologia platnica ou aris-
totlica.
38
Razo e liberdade so compreendidas, na ver-
dade, sob um termo nico (boleusis),
39
designando um
s e nico movimento espiritual que orienta e conduz a
praxis ao seu fim, vem a ser, sua realizao ou exceln-
cia (aret) e ao seu bem (agathn). Esse bem no deve
ser entendido subjetivamente, pois a noo de um bem
puramente subjetivo estranha viso tica dos gregos.
Sendo bem do indivduo , por essa mesma razo bem
universal. Mais exatamente, ele se faz presente na r ~ l a o
ativa - ou propriamente prtica - do indivduo ao mundo.
A relao ativa da praxis com o bem universal , indivisa-
mente, conhecimento e liberdade. , por excelncia, o agir
tico, ou seja, o agir voltado para a eudaimona.
40
luz
dessa concepo grega da liberdade, atenua-se o paradoxo
que a noo moderna de livre-arbtrio projeta sobre a teo-
ria socrtica da virtude-cincia. Com efeito, o conhecimen-
to do bem j a sua prtica, sendo a sua livre aceitao,
e nesse conhecimento que a aret se realiza.
A metafsica platnica do Bem edificou-se, pois, sobre
o solo da concepo grega da liberdade em continuidade
vital com a viso socrtica. A liberdade um pondus que
inclina o homem para o Bem, centro absoluto do universo
espiritual, assim como a Terra, na representao geocn-
trica, o centro absoluto do universo fsico. Mas essa
inclinao no cega nem obedece a um impulso recebido
ab extra: ela o prprio movimento imanente da theora.
Compreende-se assim que Plato, do Protgoras s Leis, te-
nha mantido sem discusso a doutrina da virtude-cincia
41
no obstante o fato de que a concepo tricotmica ct'as
partes da alma na Repblica haja atribudo ao logistikn
a sede do saber e colocado sob a sua regncia, na alma
38. Ver Max Pohlenz, L'Uomo greco (tr. it.), p. 379.
39. Boul , ao mesmo tempo deliberao ou conselho e assem-
blia deliberativa. Ver M. Pohlenz,' L'Uomo greco, p. 397.
40. A eudaimona (que se traduz impropriamente por "felici-
dade") no a face subjetiva do bem, mas a efetivao, racional e
livre, do bem universal no indivduo. Nesse sentido o tlos ne-
cessrio da praxis, designando-se igualmente como o "bem viver" (eu
zen) e o "bem agir" (eu prttein) (Arist., t. Nic. I 4 1095 a 17-20).
Como fim do agir livre a eudaimona distingue-se' cia "boa sorte"
(eutyqua); ver M. Pohlenz, L'Uomo greco, op. cit., pp. 577-579; 626.
41. Ver L. Robin, La Morale antique, pp. 152-153.
91
correspondncia na v1sao platnica, na qual o Bem no
primeiramente um objeto de escolha, mas plo da teleolo-
gia universal e princpio absoluto do ser.
A primazia ontolgica (ou, mais exatamente, transon-
tolgica) do Bem no , em Plato, seno a transcrio fi-
losfica da prpria concepo grega de liberdade, cujas
caractersticas convm ter presentes para que se possam
compreender adequadamente os termos nos quais se for-
mulou, nas origens platnico-aristotlicas da tica, o pro-
blema fundamental da praxis.
Entre essas caractersticas, necessrio realar aquela
que faz da liberdade, na sua acepo grega, no um deter-
-se diante do mundo, tornado problemtico e ambguo no
risco da escolha, mas um abrir-se ao mundo como espao
oferecido audcia (tolm) da ao.
36
Tal caracterstica
se prende s origens polticas da noo de eleuthera,
37
que
significa primeiramente o estar libertado dos vnculos aos
quais o escravo permanece ligado, e o poder assim avanar
livremente no espao do mundo. A liberdade assume, aqui,
uma feio eminentemente ativa como prossecuo de um
alvo ou realizao de um fim e, nesse sentido, ela , como
autodeterminao ou senhorio sobre si mesmo (autrqueia),
a prpria razo de ser dessa perfeio ou ato (enrgeia)
que a praxis. Deste ponto de vista, a liberdade grega no
deve ser entendida como a capacidade de poder agir ou
no agir, positis omnibus necessariis ad agendum, confor-
me reza a clssica definio escolstica. Ela no tem sua
raiz numa vontade como faculdade independente, capaz de
querer ou no querer (libertas contradictionis). Tal con-
cepo estranha ao pensamento grego e em vo busca-
36. Esse aspecto da concepo grega da liberdade foi excelen-
temente ressaltado por R. Brague, analisando a passagem central do
elogio fnebre pronunciado por Pricles sobre os atenienses cados
na primeira fase da guerra do Peloponeso, segundo a verso de Tu-
cdides. Ver "Mondo greco e libert" in Il Nuovo Areopago, an. 1
n. 1 (primavera 1982): 51-88.
37. Ver A. J. Festugiere, Libert et Civilisation chez les Grecs,
Paris, Revue des Jeunes, 1947, pp. 6-29, e Max Pohlenz, La libert
grecque: nature et volution d'un idal de vie (tr. fr.), Paris, Payot,
1956, pp. 29-60. Sobre a etimologia de eletheros ver p. 13, n. 3 e V.
Warnach, art. Freiheit, I, apud. Historisches Worterbuch der Phi-
losophie, Vol. 2, Darmstadt, 1972, col. 1064-1083; ver ainda G. Ro-
meyer Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
Lausanne, L'Age d'Homme, 1983, p. 230.
90
ramos seu correspondente na psicologia platnica ou aris-
totlica.
38
Razo e liberdade so compreendidas, na ver-
dade, sob um termo nico (boleusis),
39
designando um
s e nico movimento espiritual que orienta e conduz a
praxis ao seu fim, vem a ser, sua realizao ou exceln-
cia (aret) e ao seu bem (agathn). Esse bem no deve
ser entendido subjetivamente, pois a noo de um bem
puramente subjetivo estranha viso tica dos gregos.
Sendo bem do indivduo , por essa mesma razo bem
universal. Mais exatamente, ele se faz presente na r ~ l a o
ativa - ou propriamente prtica - do indivduo ao mundo.
A relao ativa da praxis com o bem universal , indivisa-
mente, conhecimento e liberdade. , por excelncia, o agir
tico, ou seja, o agir voltado para a eudaimona.
40
luz
dessa concepo grega da liberdade, atenua-se o paradoxo
que a noo moderna de livre-arbtrio projeta sobre a teo-
ria socrtica da virtude-cincia. Com efeito, o conhecimen-
to do bem j a sua prtica, sendo a sua livre aceitao,
e nesse conhecimento que a aret se realiza.
A metafsica platnica do Bem edificou-se, pois, sobre
o solo da concepo grega da liberdade em continuidade
vital com a viso socrtica. A liberdade um pondus que
inclina o homem para o Bem, centro absoluto do universo
espiritual, assim como a Terra, na representao geocn-
trica, o centro absoluto do universo fsico. Mas essa
inclinao no cega nem obedece a um impulso recebido
ab extra: ela o prprio movimento imanente da theora.
Compreende-se assim que Plato, do Protgoras s Leis, te-
nha mantido sem discusso a doutrina da virtude-cincia
41
no obstante o fato de que a concepo tricotmica ct'as
partes da alma na Repblica haja atribudo ao logistikn
a sede do saber e colocado sob a sua regncia, na alma
38. Ver Max Pohlenz, L'Uomo greco (tr. it.), p. 379.
39. Boul , ao mesmo tempo deliberao ou conselho e assem-
blia deliberativa. Ver M. Pohlenz,' L'Uomo greco, p. 397.
40. A eudaimona (que se traduz impropriamente por "felici-
dade") no a face subjetiva do bem, mas a efetivao, racional e
livre, do bem universal no indivduo. Nesse sentido o tlos ne-
cessrio da praxis, designando-se igualmente como o "bem viver" (eu
zen) e o "bem agir" (eu prttein) (Arist., t. Nic. I 4 1095 a 17-20).
Como fim do agir livre a eudaimona distingue-se' cia "boa sorte"
(eutyqua); ver M. Pohlenz, L'Uomo greco, op. cit., pp. 577-579; 626.
41. Ver L. Robin, La Morale antique, pp. 152-153.
91
justa, as virtudes do thymoeids e do epithiymetikn:
42
assim na estrutura da praxis segundo Platao um dinamis-
mo que conduz da "liberdade de ... " "liberdade pa-
ra ... "
43
e esse dinamismo designa, se assim se pode falar,
a direo fundamental da theoria que , portanto, estru-
turalmente livre na necessidade mesma do seu movimento
para o Bem. Plato conhece, verdade, a pura "liberdade
de ... " o "fazer o que cada um quer",
44
mas essa liberdade
aparece significativamente como momento, a um tempo de-
licioso e frgil, do triunfo da "democracia" j na sua fatal
deriva para a "tirania".
45
Assim, o Bem a fonte da liber-
dade como a fonte do ser,
46
no sendo a liberdade seno
o modo de ser do Bem na alma.
47
A primazia da theora
no campo da praxis conduz a essa conseqncia aparente-
mente desconcertante da doutrina da virtude-cincia de que
"ningum faz o mal ciente e intencionalmente" ou de que
"a m ao procede da ignorncia". Conseqncia j admi-
tida por Scrates e que Plato igualmente aceita, realando
assim a importncia da paideia verdadeira para que, supri-
midas as causas da ignorncia, a praxis se oriente espon-
taneamente para o Bem.
48
Aristteles, como sabido, cri-
ticou vivamente a tese socrtico-platnica,
49
mas a perspec-
tiva aristotlica assinala j, como adiante veremos, o deslo-
camento para um novo espao conceptual da articulao
entre theora e praxis.
42. Rep. IV, 441- d-444 a; ver Pohlenz, L'Uomo op.
cit., p. 628; E. Voegelin, Order and Hzstory III, Plato and Anstotle,
pp. 108-111.
43. R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, pp. 204-207.
44. Ver Rep. VIII, 557 b: poiein 6 ti tis boletai.
45. Ver P. Lachieze-Rey, Les ides morales, sociales et poli-
tiques de Platon, op. cit., pp. 198-204; Terence Irwin, Plato's moral
theory, op. cit., pp. 226-248.
46. Sobre a concepo platnica de liberdade de um ponto
de vista metafsico ver ainda A. Jagu, La conception platonicienne de
la libert apud Mlanges de philosophie grecque (offerts M. Dis),
Paris vrin 1956 pp. 128-139; e a enriquecedora nota de M. Isnardi
Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo
storico '(tr. ital. de E. Procar), parte II, vol. III, 1, Florena, La Nuo-
va Italia, 1974, pp. 520-526.
47. Este aspecto ressaltado por V. Wamach, art. "Freiheit"
in Hist. Wrterbuch der Phil. vol. II, col. 1067. .
48. Ver Tim., 86 d-e: kaks men gr ekn oudeis. Ver L. Robm,
Platon, 21;\ ed., Paris, PUF, 1968, pp. 234-235. , .
49. Ver t Eud. II, c. 6-11 e t. Nic., III, c. 1-7, a analise
clssica do "voluntrio" e do "involuntrio".
92
O mito de Er, o Panflio, ao final da Repblica,
50
en-
teixa com arte inigualvel e intensa beleza potica os trs
aspectos fundamentais da concepo platnica da praxis:
a) a solidariedade entre o agir do homem e a ordem do
universo, simbolizada pelas Parcas que celebram o passado,
o presente e o futuro em torno do fuso da Necessidade,
me universal; b) a responsabilidade do indivduo simbo-
lizada na escolha da sua forma ou do seu modelo de vida,
escolha na qual estar empenhado o homem todo, razo
e paixes; c )a dialtica imanente que desdobra a escolha
inicial em outros tantos fluxos de existncia suspensos
Necessidade -ou a Deus -pelo fio de ouro da razo ou
pelos fios de ferro das paixes. "
1
Plato confere assim
profundo sentido antropolgico-metafsico ao ethos anthr_o-
po damn de Herclito:
52
o damn mtico, na narraao
da Repblica, acompanha a escolha de vida - numa pre-
figurao do que ser a conscincia moral - como men-
sageiro da Dke que desvenda, ilumina e julga.
53
Assim, o
"discurso verossmil" do mito
54
aponta para a unidade pro-
funda da praxis virtuosa como sinergia de sabedoria e jus-
tia
5
" ou de razo e liberdade.
A historiografia usual apresenta a querela em torno
da teoria das Idias como o terreno por excelncia da cr-
tica de Aristteles a Plato e da formulao do aristotelis-
mo como sistema filosfico original. Entre a afirmao e
a negao das Idias "separadas" (chorista), a filosofia
ocidental se viu em face da primeira e mais profunda al-
ternativa terica da qual haveriam de proceder os dois gran-
des modelos que regem o seu desenvolvimento histrico.
56
50. Rep. X, 614 b-621 d; para a exegese do mito, ver, p. e:c.,
w. c. Greene, Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. clt.,
pp. 314-316; e Ap. 51, 52, 53, pp. 421-422; Erik Wolf, Griechi!che.s
Rechtsdenken, vol. IV, 1, pp. 405-410. Uma aguda .fi-
losfica proposta por J. Stenzel, Das d,er tm
Platonismus, art. cit., pp. 184-187; A. Magns, L Idea dz destzno nel
pensiero antico, op. cit., I, pp. 364-369. _ .
51. Conforme a conhecida comparaao das Lets I, 644 d-645 b.
52. Ver supra, cap. I, n. 10.
53. Rep. X, 620 d-e; ver E. Wolf op. cit., IV. 1, pp.
54. A expresso tn eikta mython encontra-se em Ttm. 29 d.
55. Rep. X, 621 c-d; eu prttmen so . ltimas palavras de
Scrates na Repblica e o fecho de todo o dialogo.
56. Ver a obra, que se tornou clssica de Harold Cherniss, Aris-
totle's criticism ot Plato and the Academy, I, Baltimore, The John
Hopkins Press, 1944; entre outras, a apreciao crtica de E. de
93
justa, as virtudes do thymoeids e do epithiymetikn:
42
assim na estrutura da praxis segundo Platao um dinamis-
mo que conduz da "liberdade de ... " "liberdade pa-
ra ... "
43
e esse dinamismo designa, se assim se pode falar,
a direo fundamental da theoria que , portanto, estru-
turalmente livre na necessidade mesma do seu movimento
para o Bem. Plato conhece, verdade, a pura "liberdade
de ... " o "fazer o que cada um quer",
44
mas essa liberdade
aparece significativamente como momento, a um tempo de-
licioso e frgil, do triunfo da "democracia" j na sua fatal
deriva para a "tirania".
45
Assim, o Bem a fonte da liber-
dade como a fonte do ser,
46
no sendo a liberdade seno
o modo de ser do Bem na alma.
47
A primazia da theora
no campo da praxis conduz a essa conseqncia aparente-
mente desconcertante da doutrina da virtude-cincia de que
"ningum faz o mal ciente e intencionalmente" ou de que
"a m ao procede da ignorncia". Conseqncia j admi-
tida por Scrates e que Plato igualmente aceita, realando
assim a importncia da paideia verdadeira para que, supri-
midas as causas da ignorncia, a praxis se oriente espon-
taneamente para o Bem.
48
Aristteles, como sabido, cri-
ticou vivamente a tese socrtico-platnica,
49
mas a perspec-
tiva aristotlica assinala j, como adiante veremos, o deslo-
camento para um novo espao conceptual da articulao
entre theora e praxis.
42. Rep. IV, 441- d-444 a; ver Pohlenz, L'Uomo op.
cit., p. 628; E. Voegelin, Order and Hzstory III, Plato and Anstotle,
pp. 108-111.
43. R. Maurer, Platons "Staat" und die Demokratie, pp. 204-207.
44. Ver Rep. VIII, 557 b: poiein 6 ti tis boletai.
45. Ver P. Lachieze-Rey, Les ides morales, sociales et poli-
tiques de Platon, op. cit., pp. 198-204; Terence Irwin, Plato's moral
theory, op. cit., pp. 226-248.
46. Sobre a concepo platnica de liberdade de um ponto
de vista metafsico ver ainda A. Jagu, La conception platonicienne de
la libert apud Mlanges de philosophie grecque (offerts M. Dis),
Paris vrin 1956 pp. 128-139; e a enriquecedora nota de M. Isnardi
Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo
storico '(tr. ital. de E. Procar), parte II, vol. III, 1, Florena, La Nuo-
va Italia, 1974, pp. 520-526.
47. Este aspecto ressaltado por V. Wamach, art. "Freiheit"
in Hist. Wrterbuch der Phil. vol. II, col. 1067. .
48. Ver Tim., 86 d-e: kaks men gr ekn oudeis. Ver L. Robm,
Platon, 21;\ ed., Paris, PUF, 1968, pp. 234-235. , .
49. Ver t Eud. II, c. 6-11 e t. Nic., III, c. 1-7, a analise
clssica do "voluntrio" e do "involuntrio".
92
O mito de Er, o Panflio, ao final da Repblica,
50
en-
teixa com arte inigualvel e intensa beleza potica os trs
aspectos fundamentais da concepo platnica da praxis:
a) a solidariedade entre o agir do homem e a ordem do
universo, simbolizada pelas Parcas que celebram o passado,
o presente e o futuro em torno do fuso da Necessidade,
me universal; b) a responsabilidade do indivduo simbo-
lizada na escolha da sua forma ou do seu modelo de vida,
escolha na qual estar empenhado o homem todo, razo
e paixes; c )a dialtica imanente que desdobra a escolha
inicial em outros tantos fluxos de existncia suspensos
Necessidade -ou a Deus -pelo fio de ouro da razo ou
pelos fios de ferro das paixes. "
1
Plato confere assim
profundo sentido antropolgico-metafsico ao ethos anthr_o-
po damn de Herclito:
52
o damn mtico, na narraao
da Repblica, acompanha a escolha de vida - numa pre-
figurao do que ser a conscincia moral - como men-
sageiro da Dke que desvenda, ilumina e julga.
53
Assim, o
"discurso verossmil" do mito
54
aponta para a unidade pro-
funda da praxis virtuosa como sinergia de sabedoria e jus-
tia
5
" ou de razo e liberdade.
A historiografia usual apresenta a querela em torno
da teoria das Idias como o terreno por excelncia da cr-
tica de Aristteles a Plato e da formulao do aristotelis-
mo como sistema filosfico original. Entre a afirmao e
a negao das Idias "separadas" (chorista), a filosofia
ocidental se viu em face da primeira e mais profunda al-
ternativa terica da qual haveriam de proceder os dois gran-
des modelos que regem o seu desenvolvimento histrico.
56
50. Rep. X, 614 b-621 d; para a exegese do mito, ver, p. e:c.,
w. c. Greene, Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. clt.,
pp. 314-316; e Ap. 51, 52, 53, pp. 421-422; Erik Wolf, Griechi!che.s
Rechtsdenken, vol. IV, 1, pp. 405-410. Uma aguda .fi-
losfica proposta por J. Stenzel, Das d,er tm
Platonismus, art. cit., pp. 184-187; A. Magns, L Idea dz destzno nel
pensiero antico, op. cit., I, pp. 364-369. _ .
51. Conforme a conhecida comparaao das Lets I, 644 d-645 b.
52. Ver supra, cap. I, n. 10.
53. Rep. X, 620 d-e; ver E. Wolf op. cit., IV. 1, pp.
54. A expresso tn eikta mython encontra-se em Ttm. 29 d.
55. Rep. X, 621 c-d; eu prttmen so . ltimas palavras de
Scrates na Repblica e o fecho de todo o dialogo.
56. Ver a obra, que se tornou clssica de Harold Cherniss, Aris-
totle's criticism ot Plato and the Academy, I, Baltimore, The John
Hopkins Press, 1944; entre outras, a apreciao crtica de E. de
93
Essa separao de caminhos no terreno da fundamentao
metafsica dos sistemas e da sua sustentao ontolgica -
ou, a partir da posio do inteligvel (to noetn), a diver-
gncia entre o caminho de uma ontologia da Idia e o ca-
minho de uma ontologia da Forma- assinala, na verdade,
os dois grandes roteiros possveis do pensamento do ser
que a filosofia posterior haveria de trilhar. Mas , talvez,
no campo da filosofia sobre o homem ou sobre as "reali-
dades humanas"
57
e, particularmente, no campo de uma
teoria da praxis que a incidncia da opo ontolgica de
Aristteles se faz sentir mais profundamente, dando origem
tica como cincia autnoma e inaugurando um novo e
decisivo captulo na histria do pensamento tico.
5
"
Mesmo admitindo-se a dificuldade de se reconstituir
exatamente os passos que vo distanciando Aristteles das
concepes de Plato, indubitvel que esses passos assi-
nalam outras tantas tentativas de resposta ao problema das
relaes da alma com o inteligvel, ou seja, outros tantos
modelos de concepo do homem De acordo com a ter-
Strycker, "Aristote, critique de Platon" in L'Antiquit Classique,
XVIII (1949): 95-107, reproduzido em Aristoteles als Kritiker Platons
apud Aristoteles in der neueren Forschung (Wege der Forschung,
LXI), ed. Moraux, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgessell-
schaft, 1968, pp. 193-211. O problema da relao Plato-Aristteles
sabidamente ligado ao problema da gnese e evoluo do pensa-
mento aristotlico, segundo demonstrou W. Jaeger. Por outro lado,
convm lembrar que o termo "sistema" (systhema) s entrou na
linguagem filosfica a partir do Estoicismo em contexto diferente
da acepo epistemolgica que adciuiriu posteriormente. com pre-
cauo, pois, que se deve aplic-lo caracterizao dos pensamen-
tos de Plato e Aristteles e sua comparao. Um balano auto-
rizado desta questo encontra-se em W. C. K. Guthrie, Aristotle, an
Encounter (History o f Greek Philosophy, VI), Cambridge, 1981, pp.
4-14.
57. H e perz t anthrpina philosopha, t. Nic. X, 9, 1181, b, 15.
Ph. Betbeder prope designar como "philosophie de l'homme" uma
cincia arquitetnica suprema que, em Aristteles, engloba poltica
e moral e cujo ato prprio a "prudncia" (phrnesisl. Ver "thi-
que et Politique selon Aristote" in Rev. des Se. Phil. et Thol., 54
(1970): 453-488 (v. p. 479ss.).
58. Decisivo em Aristteles o intento de instaurar uma teo-
ria da prxis como teoria prtica: essa a peculiaridade da tica aris-
totlica, bem ressaltada por F. Inciarte, Theorie der Praxis als prak-
tische Theorie: zur Eigenart der aristotelischen Ethik, apud P. En-
gelhardt (org.). Zur Theorte der Praxis, Mainz, M. Grnewald, 1970,
pp. 45-64.
94
minologia adotada por F. Nuyens e R. A. Gauthier,
5
9 Aris-
tteles parte de uma fase "idealista", na qual o fundamen-
to do agir tico se busca no modelo platnico da separao
e imortalidade da alma, e termina numa face "hilemorfis-
ta" na qual se consuma a ruptura com o platonismo antro-
polgico e com a teoria das Idias. Entrementes a tica
volta-se inteiramente para as "coisas humanas" ( t ~ anthr-
pina), enquanto a alma, como "forma" permanece essen-
cialmente ligada ao destino perecvel do corpo. Entre o
"idealismo" e o "hilemorfismo" antropolgicos, haveria lu-
gar, segundo ainda Nuyens-Gauthier, para um perodo in-
termedirio, denominado "instrumentista", que nos mostra
Aristteles j distanciado das concepes platnicas e fun-
damentando a cincia da vida tica l ethike epistheme),
exposta nos cursos da tica a Eudemo e da tica de Nic-
maco, numa antropologia que renuncia definitivamente
transcendncia da psych.
60
A originalidade da teoria aristotlica da praxis desenha-
-se, assim, sobre o fundo desse horizonte de conceptuali-
dade antropolgica cuja apario, segundo Eric Weil,
61
ir
constituir uma das diferenas essenciais, talvez mesmo
a diferena essencial mais profunda entre os sistemas de
Plato e Aristteles. Com efeito, a relao entre a theoria
e a praxis se estabelece, para Plato, segundo a verticalida-
de da linha que culmina na contemplao ou inteleco
( nesis) do Bem e das Idias. De acordo com esse traa-
do, o itinerrio do filsofo desprende-se do ethos histrico,
mergulhado nas sombras da Caverna,
62
para elevar-se
contemplao do Bem. E s no retorno dessa contempla-
o, o ethos histrico reencontrado para ser remodelado
59. F. Nuyens, L'volution de la Psychologie d'Aristote, (tr.
fr.), Louvain, Institut Suprieur de Philosophie 1948; R. A. Gauthier
L'thique Nicomaque, 2 ~ ed., I, 1, pp. 10-62: '
60. A concepo de Nuyens-Gauthier, admitindo uma fase "ins-
trumentista" na evoluo da Psicologia de Aristteles, rejeitada
por Ch. Lefevre, Sur l'volution d'Aristote en Psychologie, Louvain,
Institut Suprieur de Philosophie, 1972, pp. 156-250. Como quer que
seja <e eis o que importa levar em conta), a elaborao das ticas
se laz sob o signo de um progressivo distanciamento da ontologia
platnica do Bem. Esse distanciamento bem sublinhado por G. E.
R. Lloyd, Aristotle: the Growth and Structure of his Thought Caro-
bridge, Cambridge Univ. Press, 1968, pp. 204-211. '
6 ~ . Ver L'Anthropologie d'Aristote, apud Essais et Conterences
I, Pans, Plon, 1970, pp. 9-43.
62. Ver Rep. VII, 515 c-517 c.
95
Essa separao de caminhos no terreno da fundamentao
metafsica dos sistemas e da sua sustentao ontolgica -
ou, a partir da posio do inteligvel (to noetn), a diver-
gncia entre o caminho de uma ontologia da Idia e o ca-
minho de uma ontologia da Forma- assinala, na verdade,
os dois grandes roteiros possveis do pensamento do ser
que a filosofia posterior haveria de trilhar. Mas , talvez,
no campo da filosofia sobre o homem ou sobre as "reali-
dades humanas"
57
e, particularmente, no campo de uma
teoria da praxis que a incidncia da opo ontolgica de
Aristteles se faz sentir mais profundamente, dando origem
tica como cincia autnoma e inaugurando um novo e
decisivo captulo na histria do pensamento tico.
5
"
Mesmo admitindo-se a dificuldade de se reconstituir
exatamente os passos que vo distanciando Aristteles das
concepes de Plato, indubitvel que esses passos assi-
nalam outras tantas tentativas de resposta ao problema das
relaes da alma com o inteligvel, ou seja, outros tantos
modelos de concepo do homem De acordo com a ter-
Strycker, "Aristote, critique de Platon" in L'Antiquit Classique,
XVIII (1949): 95-107, reproduzido em Aristoteles als Kritiker Platons
apud Aristoteles in der neueren Forschung (Wege der Forschung,
LXI), ed. Moraux, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgessell-
schaft, 1968, pp. 193-211. O problema da relao Plato-Aristteles
sabidamente ligado ao problema da gnese e evoluo do pensa-
mento aristotlico, segundo demonstrou W. Jaeger. Por outro lado,
convm lembrar que o termo "sistema" (systhema) s entrou na
linguagem filosfica a partir do Estoicismo em contexto diferente
da acepo epistemolgica que adciuiriu posteriormente. com pre-
cauo, pois, que se deve aplic-lo caracterizao dos pensamen-
tos de Plato e Aristteles e sua comparao. Um balano auto-
rizado desta questo encontra-se em W. C. K. Guthrie, Aristotle, an
Encounter (History o f Greek Philosophy, VI), Cambridge, 1981, pp.
4-14.
57. H e perz t anthrpina philosopha, t. Nic. X, 9, 1181, b, 15.
Ph. Betbeder prope designar como "philosophie de l'homme" uma
cincia arquitetnica suprema que, em Aristteles, engloba poltica
e moral e cujo ato prprio a "prudncia" (phrnesisl. Ver "thi-
que et Politique selon Aristote" in Rev. des Se. Phil. et Thol., 54
(1970): 453-488 (v. p. 479ss.).
58. Decisivo em Aristteles o intento de instaurar uma teo-
ria da prxis como teoria prtica: essa a peculiaridade da tica aris-
totlica, bem ressaltada por F. Inciarte, Theorie der Praxis als prak-
tische Theorie: zur Eigenart der aristotelischen Ethik, apud P. En-
gelhardt (org.). Zur Theorte der Praxis, Mainz, M. Grnewald, 1970,
pp. 45-64.
94
minologia adotada por F. Nuyens e R. A. Gauthier,
5
9 Aris-
tteles parte de uma fase "idealista", na qual o fundamen-
to do agir tico se busca no modelo platnico da separao
e imortalidade da alma, e termina numa face "hilemorfis-
ta" na qual se consuma a ruptura com o platonismo antro-
polgico e com a teoria das Idias. Entrementes a tica
volta-se inteiramente para as "coisas humanas" ( t ~ anthr-
pina), enquanto a alma, como "forma" permanece essen-
cialmente ligada ao destino perecvel do corpo. Entre o
"idealismo" e o "hilemorfismo" antropolgicos, haveria lu-
gar, segundo ainda Nuyens-Gauthier, para um perodo in-
termedirio, denominado "instrumentista", que nos mostra
Aristteles j distanciado das concepes platnicas e fun-
damentando a cincia da vida tica l ethike epistheme),
exposta nos cursos da tica a Eudemo e da tica de Nic-
maco, numa antropologia que renuncia definitivamente
transcendncia da psych.
60
A originalidade da teoria aristotlica da praxis desenha-
-se, assim, sobre o fundo desse horizonte de conceptuali-
dade antropolgica cuja apario, segundo Eric Weil,
61
ir
constituir uma das diferenas essenciais, talvez mesmo
a diferena essencial mais profunda entre os sistemas de
Plato e Aristteles. Com efeito, a relao entre a theoria
e a praxis se estabelece, para Plato, segundo a verticalida-
de da linha que culmina na contemplao ou inteleco
( nesis) do Bem e das Idias. De acordo com esse traa-
do, o itinerrio do filsofo desprende-se do ethos histrico,
mergulhado nas sombras da Caverna,
62
para elevar-se
contemplao do Bem. E s no retorno dessa contempla-
o, o ethos histrico reencontrado para ser remodelado
59. F. Nuyens, L'volution de la Psychologie d'Aristote, (tr.
fr.), Louvain, Institut Suprieur de Philosophie 1948; R. A. Gauthier
L'thique Nicomaque, 2 ~ ed., I, 1, pp. 10-62: '
60. A concepo de Nuyens-Gauthier, admitindo uma fase "ins-
trumentista" na evoluo da Psicologia de Aristteles, rejeitada
por Ch. Lefevre, Sur l'volution d'Aristote en Psychologie, Louvain,
Institut Suprieur de Philosophie, 1972, pp. 156-250. Como quer que
seja <e eis o que importa levar em conta), a elaborao das ticas
se laz sob o signo de um progressivo distanciamento da ontologia
platnica do Bem. Esse distanciamento bem sublinhado por G. E.
R. Lloyd, Aristotle: the Growth and Structure of his Thought Caro-
bridge, Cambridge Univ. Press, 1968, pp. 204-211. '
6 ~ . Ver L'Anthropologie d'Aristote, apud Essais et Conterences
I, Pans, Plon, 1970, pp. 9-43.
62. Ver Rep. VII, 515 c-517 c.
95
segundo o modelo ideal.
63
Segundo o ensinamento aristo-
tlico, o filsofo permanece na cidade tal como ela , e
nela institui o lugar da sua reflexo ou o terreno onde se
elabora a forma prpria da theora que dever guiar a pra-
xis. Assim, no modelo aristotlico, a razo prtica enquan-
to razo da praxis (gen. subj.) alcana um estatuto peculiar
que a torna uma teoria prtica exatamente como teoria da
praxis (gen. obj.). O conceito de theora perde a univoci-
dade que lhe atribura Plato e passa a gozar de uma ampli-
tude analgica, diferenciando-se segundo o sujeito ao qual
se aplica o procedimento terico.
64
A concepo aristot-
lica assinala, de um lado, o desenvolvimento e a especiali-
zao da pesquisa cientfica e o reconhecimento do seu lu-
gar institucional na cidade (com a consolidao da Acade-
mia e do Liceu)
65
e, de outro, a emergncia do ideal da
vida teortica como fim em si, elevado sobre a vida tica
ou a vida poltica, e apresentando-se como meta que ape-
nas ao filsofo dado alcanar.
66
Ao abandonar a doutri-
na das Idias e, com ela, a univocidade da Razo definida
por uma direo nica do saber que aponta para a intuio
( nesis) da Ida do Bem, Aristteles no somente assegu-
63. Ver Gnther Bien, "Das Theorie-Praxis Problem und die
politische Philosophie bei Platon und Aristoteles" in Philosophisches
Jahrbuch, 76 (1968): pp. 264-314 (aqui, pp. 272-275; 282-284); J. Mo-
reau, "La cit et l'me humaine dans la Rpublique de Platon" in
Revue Intern. de Philosophie, 40 (1986): 85-96.
64. Ver t. Nic. I, 3, 1094 b 11-13; 1098 a 26-b 2. O primum ana-
logatum desta constelao analgica da theora , sem dvida - e,
nesse ponto, o platonismo de Aristteles recupera os seus direitos
- a theora pura tal como exposta nos captulos 6-9 do livro X da
tica de Nic6maco. Resta saber se a J.!:tica orientada intrinseca-
mente para esse pice ou se esses captulos desempenham apenas
uma funo "protrtica" ou exortatria como quer G. Bien (Di e
Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles, pp. 138-142).
De qualquer maneira, permanece a identidade genrica entre a eudai-
mona alcanada pela vida teortica e a eudaimona almejada pela vi-
da prtica, bem como a primazia da primeira. Sobre este problema
ver infra, n. 4, "l.!:tica e teoria".
65. A evoluo vai do ensinamento socrtico e sofstico, mi-
nistrado nos ginsios, nas praas ou nas casas particulares, aos cur-
sos, conferncias e atividades de pesquisa que tinham lugar na Aca-
demia e no Liceu. Sobre as escolas filosficas atenienses ver H.
I. Marrou, Histoire de l'ducation dans Z'Antiquit, Paris, Seuil,
1948, pp. 102-136.
66. Ver J. Ritter, Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theo-
rie bei Aristoteles, apud Metaphysik und Politik: Stuaien zu Aris-
toteles und Hegel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 9-33.
96
I
i
I
I
I
ra razo prtica seu espao prprio e sua direo original
orientada para o bem humano da eudaimona,
67
mas de-
limita igualmente o campo da conceptualidade do agir atra-
vs da distino entre razo terica e razo prtica que
acompanhar toda a evoluo posterior da tica.
Convm no esquecer, no entanto, que a distino entre
uma cincia que tem em vista apenas o conhecimento e
uma cincia que visa tambm praxis fora elaborada ini-
cialmente por Plato, ao aplicar busca da natureza da
cincia do poltico o mtodo dialtico da "diviso" (dia-
resis).
68
Antecipando o que ser a distino aristotlica,
Plato distingue uma cincia prtica ordenada ao fazer
(poietik) e outra cincia prtica que alia caracterstica
do conhecimento puro (gnostik), uma funo normativa
com relao prtica (gnostike praktik). A diviso dico-
tmica das cincias aparece como um exerccio dialtico de
diaresis no Poltico e no Sofista,
69
mas, no obstante a
ironia platnica que paira sobre estes textos, eles apontam
para o problema que se far sempre mais presente nos
ltimos dilogos e, alimentado pelas discusses da Acade-
mia, ir receber na obra de Aristteles a formulao com
que ficar conhecido na tradio filosfica ocidental: o pro-
blema das relaes entre cincia e ao.
Como j anteriormente se observou, trata-se de um pro-
blema caracterstico daquele mundo de cultura no qual o
logos demonstrativo emergiu como expresso simbiica que
tende a ser dominante na sociedade. A, com efeito, os con-
ceitos e relaes que esse saber descobre na estrutura do
agir tico encontram sua expresso concreta nas relaes
67. Esse bem definido como "uma atividade da alma segun-
do a virtude e, se h diversas virtudes, segundo a melhor e mais
completa" (t. Nic. I, 6, 1098 b 16-17).
68. Pol. 258 c-e. Eis a diviso proposta por Plato:
r
praktik = poietik
episthme ~ { praktik
l
gnostik
theoretik
Ver H. Schweizer, Zur Logik der Praxis (Symposion 37), pp.
55-61 e o comentrio de R. A. Gauthier a t. Nic. VI, 4, 1140 a 2-3
(Gauthier-Jolif, L'thique Nic., II, 2, pp. 456-459).
69. Sof. 219 a.
97
segundo o modelo ideal.
63
Segundo o ensinamento aristo-
tlico, o filsofo permanece na cidade tal como ela , e
nela institui o lugar da sua reflexo ou o terreno onde se
elabora a forma prpria da theora que dever guiar a pra-
xis. Assim, no modelo aristotlico, a razo prtica enquan-
to razo da praxis (gen. subj.) alcana um estatuto peculiar
que a torna uma teoria prtica exatamente como teoria da
praxis (gen. obj.). O conceito de theora perde a univoci-
dade que lhe atribura Plato e passa a gozar de uma ampli-
tude analgica, diferenciando-se segundo o sujeito ao qual
se aplica o procedimento terico.
64
A concepo aristot-
lica assinala, de um lado, o desenvolvimento e a especiali-
zao da pesquisa cientfica e o reconhecimento do seu lu-
gar institucional na cidade (com a consolidao da Acade-
mia e do Liceu)
65
e, de outro, a emergncia do ideal da
vida teortica como fim em si, elevado sobre a vida tica
ou a vida poltica, e apresentando-se como meta que ape-
nas ao filsofo dado alcanar.
66
Ao abandonar a doutri-
na das Idias e, com ela, a univocidade da Razo definida
por uma direo nica do saber que aponta para a intuio
( nesis) da Ida do Bem, Aristteles no somente assegu-
63. Ver Gnther Bien, "Das Theorie-Praxis Problem und die
politische Philosophie bei Platon und Aristoteles" in Philosophisches
Jahrbuch, 76 (1968): pp. 264-314 (aqui, pp. 272-275; 282-284); J. Mo-
reau, "La cit et l'me humaine dans la Rpublique de Platon" in
Revue Intern. de Philosophie, 40 (1986): 85-96.
64. Ver t. Nic. I, 3, 1094 b 11-13; 1098 a 26-b 2. O primum ana-
logatum desta constelao analgica da theora , sem dvida - e,
nesse ponto, o platonismo de Aristteles recupera os seus direitos
- a theora pura tal como exposta nos captulos 6-9 do livro X da
tica de Nic6maco. Resta saber se a J.!:tica orientada intrinseca-
mente para esse pice ou se esses captulos desempenham apenas
uma funo "protrtica" ou exortatria como quer G. Bien (Di e
Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles, pp. 138-142).
De qualquer maneira, permanece a identidade genrica entre a eudai-
mona alcanada pela vida teortica e a eudaimona almejada pela vi-
da prtica, bem como a primazia da primeira. Sobre este problema
ver infra, n. 4, "l.!:tica e teoria".
65. A evoluo vai do ensinamento socrtico e sofstico, mi-
nistrado nos ginsios, nas praas ou nas casas particulares, aos cur-
sos, conferncias e atividades de pesquisa que tinham lugar na Aca-
demia e no Liceu. Sobre as escolas filosficas atenienses ver H.
I. Marrou, Histoire de l'ducation dans Z'Antiquit, Paris, Seuil,
1948, pp. 102-136.
66. Ver J. Ritter, Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theo-
rie bei Aristoteles, apud Metaphysik und Politik: Stuaien zu Aris-
toteles und Hegel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 9-33.
96
I
i
I
I
I
ra razo prtica seu espao prprio e sua direo original
orientada para o bem humano da eudaimona,
67
mas de-
limita igualmente o campo da conceptualidade do agir atra-
vs da distino entre razo terica e razo prtica que
acompanhar toda a evoluo posterior da tica.
Convm no esquecer, no entanto, que a distino entre
uma cincia que tem em vista apenas o conhecimento e
uma cincia que visa tambm praxis fora elaborada ini-
cialmente por Plato, ao aplicar busca da natureza da
cincia do poltico o mtodo dialtico da "diviso" (dia-
resis).
68
Antecipando o que ser a distino aristotlica,
Plato distingue uma cincia prtica ordenada ao fazer
(poietik) e outra cincia prtica que alia caracterstica
do conhecimento puro (gnostik), uma funo normativa
com relao prtica (gnostike praktik). A diviso dico-
tmica das cincias aparece como um exerccio dialtico de
diaresis no Poltico e no Sofista,
69
mas, no obstante a
ironia platnica que paira sobre estes textos, eles apontam
para o problema que se far sempre mais presente nos
ltimos dilogos e, alimentado pelas discusses da Acade-
mia, ir receber na obra de Aristteles a formulao com
que ficar conhecido na tradio filosfica ocidental: o pro-
blema das relaes entre cincia e ao.
Como j anteriormente se observou, trata-se de um pro-
blema caracterstico daquele mundo de cultura no qual o
logos demonstrativo emergiu como expresso simbiica que
tende a ser dominante na sociedade. A, com efeito, os con-
ceitos e relaes que esse saber descobre na estrutura do
agir tico encontram sua expresso concreta nas relaes
67. Esse bem definido como "uma atividade da alma segun-
do a virtude e, se h diversas virtudes, segundo a melhor e mais
completa" (t. Nic. I, 6, 1098 b 16-17).
68. Pol. 258 c-e. Eis a diviso proposta por Plato:
r
praktik = poietik
episthme ~ { praktik
l
gnostik
theoretik
Ver H. Schweizer, Zur Logik der Praxis (Symposion 37), pp.
55-61 e o comentrio de R. A. Gauthier a t. Nic. VI, 4, 1140 a 2-3
(Gauthier-Jolif, L'thique Nic., II, 2, pp. 456-459).
69. Sof. 219 a.
97
que se estabelecem entre o saber socialmente reconhecido
como cincia, e a ao nas formas tpicas que assume no
universo da plis: ou seja, nas relaes entre theora e pra-
xis. Por outro lado, a linha da reflexo propriamente aris-
totlica em torno desse problema se tornar mais ntida se
a traarmos no prolongamento da doutrina platnica sobre
a aret tal como se constitui nos dilogos tardios, sobretu-
do no Poltico.
As noes de "medida" ( mtron) e de "meio-termo"
( mestes) recebidas da cincia que avanara mais longe
no caminho da theora, ou seja, a Matemtica, so aplicadas
por Plato para estabelecer a hierarquia das artes (tchnai)
ou dos saberes prticos que tm por objeto a prpria pra-
xis, hierarquia que culmina na "arte poltica" (politike
tchne). Essas artes guiam o processo educativo (paideia),
que ir produzir a aret como meio-termo entre o defeito
e o excesso das paixes. Eis a temtica que Aristteles her-
dar e que desenvolver por conta prpria na tica a Eude-
mo e na tica de Nicmaco.
70
A diferena essencial entre
Plato e Aristteles residir aqui na concepo da tchne
normativa das aes: para Plato ela est estruturalmente
ligada teoria das Idias e, por conseguinte, a uma doutri-
na dos princpios, ao passo que, para Aristteles, o discurso
tico ir desenvolver-se como saber autnomo ou como
cincia prtica (praktike episthme) que se constitui a par-
tir do ethos emprico, independentemente de uma ontologia
dos princpios.
71
Seria no entanto, excessivo e mesmo er-
rneo caracterizar a tica aristotlica como um simples em-
pirismo moral, interpretando neste sentido a concepo da
sabedoria prtica ( phrnesis).
72
A originalidade da tica
70. Ver, a propsito, o captulo de H. J. Krii.mer sobre "Me-
dida e meio-termo nos Dilogos tardios", tendo ao centro a anlise
do Poltico, Aret bei Platon und Aristoteles, op. cit., pp. 146-253; so-
bre a continuidade e descontinuidade da doutrina da mestes entre
Plato e Aristteles, ver ibidem, pp. 171; pp. 224ss. Ver ainda K.
Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, op. cit., pp. 67-106; Gauthier-Jo
lif, L'thique Nicomaque, Comm. li, 1, pp. 143-145.
71. Ver H. J. Krmer, op. cit., p. 228, n. 167 e K. Gaiser, op.
cit., pp. 311-325. A vinculao da virtude aristotlica da phrnesis
(prudentia) a uma teoria dos primeiros princpios da ordem moral
obra dos moralistas medievais, conforme demonstrou R. A. Gau-
thier in L'thique Nicomaque, t. I, 1, Introduction, pp. 273-283.
72. Essa interpretao foi proposta na obra clssica de J. Wl-
ter, Die Lehre von der praktischen Vernunft in der grieschischen Phi-
losophie, Viena, 1874, que teve grande influnca na histria da exe-
98
aristotlica reside justamente na via media aberta entre o
intelectualismo socrtico-platnico e um puro empirismo do
ethos.
73
Para Plato, a razo prtica e o agir por ela guia-
do so assumidos na unidade da phrnesis entendida como
contemplao da idia transcendente do Bem. Para Arist-
teles essa unidade se d na praxis concreta do phrnimos
do varo sbio capaz de encontrar o justo meio-termo e ~
cada virtude e de submeter-se "razo reta" (orths lgos)
que a phrnesis, entendida como sabedoria da vida segun-
do as normas do "bem viver" (eu zen), prescreve. 74 A dou-
trina do meio-termo ( mestes), a cuja procedncia platni-
ca acima nos referimos, e o seu complemento na "razo
reta" constituem na verdade, para Aristteles, a expresso
conceptual da transformao '
5
sofrida pela concepo pla-
tnica dos princpios ideais da praxis. Aristteles ir assen-
tar no domnio da physis
76
e do ethos a razo mensurante
e normativa: aqui se traar a via media do seu discurso
tico .
O caminho da reflexo tica de Aristteles tem como
ponto de partida as discusses sobre theora e praxis que
se travavam no seio da Academia, onde transcorreram os
primeiros vinte anos de vida intelectual do futuro fundador
do Liceu. Elas encontravam um eco polmico nas crticas
de Iscrates e no seu programa de uma paideia fundada
gese da tica aristotlica. Ele nega phrnesis qualquer carter
de conhecimento cientfico, considerando-a uma simples tcnica de
ao. A dimenso cognoscitiva da phrnesis como sabedoria foi ilUS-
trada por G. Teichmller na sua obra Die praktische Vernuntt bei
Aristoteles, Gotha, 1879. Os lances dessa polmica clebre so resu-
mi_dos por G. Bien, Die Grur;dlegung der praktischen Philosophie bei
Anstoteles, pp. 127-137; ver Igualmente R. A. Gauthier em Gauthier-
.Jolif, L'th. d Nic., Comm., li, 2, pp. 563-578. Sobre o no-empiris-
mo da tica de Nic6maco, em oposio nesse ponto a w. Jaeger
ver Ingemar Dring, Aristoteles, op. cit., 'p. 463 e n. 200. Ver R. Bo:
des, Le Philosophe et la Cit: recherches sur le rapport entre mo-
rale et politique dans la pense d' Aristote Paris Les Belles Letres
1982, pp. 60-66. ' ' '
73. Ver I, Dring, op. cit., pp. 456-457; ver p. 437.
74. I. Dring, op. cit., PP. 458-459: descrio do phrnimos ou
spoudaios, tipo tico ideal segtmdo Aristteles, cuja figura domina
a construo da tica de Nic6maco.
75. O termo Umgestaltung usado, nesse contexto por I. D-
ring, op. cit., p. 460. '
76. O agir tico supe, com efeito, a boa disposio natural
(physike aret), a partir da qual se desenvolve a virtude tica (ethike
aret) como hbito (hxis). Ver a discusso sobre a natureza da
virtude em t. Nic. li, c. 5 e 6.
99
que se estabelecem entre o saber socialmente reconhecido
como cincia, e a ao nas formas tpicas que assume no
universo da plis: ou seja, nas relaes entre theora e pra-
xis. Por outro lado, a linha da reflexo propriamente aris-
totlica em torno desse problema se tornar mais ntida se
a traarmos no prolongamento da doutrina platnica sobre
a aret tal como se constitui nos dilogos tardios, sobretu-
do no Poltico.
As noes de "medida" ( mtron) e de "meio-termo"
( mestes) recebidas da cincia que avanara mais longe
no caminho da theora, ou seja, a Matemtica, so aplicadas
por Plato para estabelecer a hierarquia das artes (tchnai)
ou dos saberes prticos que tm por objeto a prpria pra-
xis, hierarquia que culmina na "arte poltica" (politike
tchne). Essas artes guiam o processo educativo (paideia),
que ir produzir a aret como meio-termo entre o defeito
e o excesso das paixes. Eis a temtica que Aristteles her-
dar e que desenvolver por conta prpria na tica a Eude-
mo e na tica de Nicmaco.
70
A diferena essencial entre
Plato e Aristteles residir aqui na concepo da tchne
normativa das aes: para Plato ela est estruturalmente
ligada teoria das Idias e, por conseguinte, a uma doutri-
na dos princpios, ao passo que, para Aristteles, o discurso
tico ir desenvolver-se como saber autnomo ou como
cincia prtica (praktike episthme) que se constitui a par-
tir do ethos emprico, independentemente de uma ontologia
dos princpios.
71
Seria no entanto, excessivo e mesmo er-
rneo caracterizar a tica aristotlica como um simples em-
pirismo moral, interpretando neste sentido a concepo da
sabedoria prtica ( phrnesis).
72
A originalidade da tica
70. Ver, a propsito, o captulo de H. J. Krii.mer sobre "Me-
dida e meio-termo nos Dilogos tardios", tendo ao centro a anlise
do Poltico, Aret bei Platon und Aristoteles, op. cit., pp. 146-253; so-
bre a continuidade e descontinuidade da doutrina da mestes entre
Plato e Aristteles, ver ibidem, pp. 171; pp. 224ss. Ver ainda K.
Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, op. cit., pp. 67-106; Gauthier-Jo
lif, L'thique Nicomaque, Comm. li, 1, pp. 143-145.
71. Ver H. J. Krmer, op. cit., p. 228, n. 167 e K. Gaiser, op.
cit., pp. 311-325. A vinculao da virtude aristotlica da phrnesis
(prudentia) a uma teoria dos primeiros princpios da ordem moral
obra dos moralistas medievais, conforme demonstrou R. A. Gau-
thier in L'thique Nicomaque, t. I, 1, Introduction, pp. 273-283.
72. Essa interpretao foi proposta na obra clssica de J. Wl-
ter, Die Lehre von der praktischen Vernunft in der grieschischen Phi-
losophie, Viena, 1874, que teve grande influnca na histria da exe-
98
aristotlica reside justamente na via media aberta entre o
intelectualismo socrtico-platnico e um puro empirismo do
ethos.
73
Para Plato, a razo prtica e o agir por ela guia-
do so assumidos na unidade da phrnesis entendida como
contemplao da idia transcendente do Bem. Para Arist-
teles essa unidade se d na praxis concreta do phrnimos
do varo sbio capaz de encontrar o justo meio-termo e ~
cada virtude e de submeter-se "razo reta" (orths lgos)
que a phrnesis, entendida como sabedoria da vida segun-
do as normas do "bem viver" (eu zen), prescreve. 74 A dou-
trina do meio-termo ( mestes), a cuja procedncia platni-
ca acima nos referimos, e o seu complemento na "razo
reta" constituem na verdade, para Aristteles, a expresso
conceptual da transformao '
5
sofrida pela concepo pla-
tnica dos princpios ideais da praxis. Aristteles ir assen-
tar no domnio da physis
76
e do ethos a razo mensurante
e normativa: aqui se traar a via media do seu discurso
tico .
O caminho da reflexo tica de Aristteles tem como
ponto de partida as discusses sobre theora e praxis que
se travavam no seio da Academia, onde transcorreram os
primeiros vinte anos de vida intelectual do futuro fundador
do Liceu. Elas encontravam um eco polmico nas crticas
de Iscrates e no seu programa de uma paideia fundada
gese da tica aristotlica. Ele nega phrnesis qualquer carter
de conhecimento cientfico, considerando-a uma simples tcnica de
ao. A dimenso cognoscitiva da phrnesis como sabedoria foi ilUS-
trada por G. Teichmller na sua obra Die praktische Vernuntt bei
Aristoteles, Gotha, 1879. Os lances dessa polmica clebre so resu-
mi_dos por G. Bien, Die Grur;dlegung der praktischen Philosophie bei
Anstoteles, pp. 127-137; ver Igualmente R. A. Gauthier em Gauthier-
.Jolif, L'th. d Nic., Comm., li, 2, pp. 563-578. Sobre o no-empiris-
mo da tica de Nic6maco, em oposio nesse ponto a w. Jaeger
ver Ingemar Dring, Aristoteles, op. cit., 'p. 463 e n. 200. Ver R. Bo:
des, Le Philosophe et la Cit: recherches sur le rapport entre mo-
rale et politique dans la pense d' Aristote Paris Les Belles Letres
1982, pp. 60-66. ' ' '
73. Ver I, Dring, op. cit., pp. 456-457; ver p. 437.
74. I. Dring, op. cit., PP. 458-459: descrio do phrnimos ou
spoudaios, tipo tico ideal segtmdo Aristteles, cuja figura domina
a construo da tica de Nic6maco.
75. O termo Umgestaltung usado, nesse contexto por I. D-
ring, op. cit., p. 460. '
76. O agir tico supe, com efeito, a boa disposio natural
(physike aret), a partir da qual se desenvolve a virtude tica (ethike
aret) como hbito (hxis). Ver a discusso sobre a natureza da
virtude em t. Nic. li, c. 5 e 6.
99
sobre a Retrica e distante do que julgava ser as abstra-
es incompreensveis e inteis dos filsofos.
77
No seio da
Academia, delineia-se, no contexto desta polmica, a distin-
o proposta por Xencrates entre phrnesis teortica e
phrnesis prtica.
78
Na esteira do problema da diviso do
saber que Plato transmitira primeira Academia, Arist-
teles ir elaborar a diviso das cincias que permanecer
clssica, entre cincias teorticas, prticas e poiticas.
79
A emergncia das cincias prticas, constituindo uma re-
gio autnoma do saber, resulta, para Aristteles, da pr-
pria natureza do objeto da praxis enquanto tal. Com efeito,
tal objeto contingente (t endechmena alls chein) e
singular (t schata). claro, pois, que a cincia teorti-
ca, tendo como objeto o necessrio e o universal, deveria
deixar fora do seu mbito o domnio das aes humanas.
80
Entre a theora e a tchne tratava-se, assim, de definir a
racionalidade prpria da praxis: esse o desafio enfrentado
por Aristteles na tica e na Poltica.
81
Se pensarmos que
a contingncia da praxis encontra sua raiz ltima de um
lado na indeterminao da escolha e, por conseguinte, na
imprevisibilidade da ao singular e, de outro, nas circuns-
tncias que cercam a ao, podemos antever que a soluo
aristotlica ter a forma de uma lgica da ao que deve
unir nos vnculos de um mesmo saber o carter principiai
77. Sobre a querela pedaggica Iscrates-Plato ver H. I. Mar-
rou, Histoire de l'ducation dans l'Antiquit, pp. 102-136. Como
sabido a Antdosis de Iscrates foi escrita em polmica com a Aca-
demia:' ou uma resposta ao Protrtico de Aristteles ou Arist-
teles que, no Protrtico, responde a Iscrates. Sobre a questo ver
E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma, Studium, 1979, pp. 23-35; Gu-
thrie, A history of Greek Philosophy, VI, p. 74, n. 2. A polmica
com Iscrates tinha como objeto precpuo o problema da educao
filosfico-poltica dos governantes do Estado. Ver Margherita Is-
nardi Parente na sua preciosa nota sobre o carter e estrutura da pri-
meira Academia platnica in Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei greci,
p. 11, vol. III, 2 (Platone e l' Academia antica), pp. 861-877 (aqui pp.
872ss.).
78. Xencrates, fr. 6, 7 (Heinze); sobre o estado da questo
ver M. Isnardi Parente in Zeller-Mondolfo, La filosofia dei greci, p.
II, vol. III, 2, p. 997, n. 79.
79. Esta diviso remonta aos primeiros escritos de Aristte-
les ao tempo do seu ensinamento na Academia. Ver Met. VI, 1, 1025
b 2'1-25 e o comentrio de W. D. Ross,Aristotle's Metaphysics, Oxford,
Oxford Univ. Press, 1924, vol. I, p. 353.
80. Ver. t. Nic. VI, 3, 1139 b 14-36.
81. t Nic., VI, 4, 1140 a 1-5.
100
da o carter normativo e teleolgico da razo 8
1
e a complexidade da situao.
8
4
Vimos como as origens platnicas dessa lgica aristo-
tlica da ao remontam s discusses alimentadas na Pri-
meira Academia em torno do problema das relaes entre
theoria e praxis.
85
Na verdade, mesmo no ponto extremo
do seu distanciamento do intelectualismo platnico, Aris-
tteles no renunciar primazia da theora. Essa prima-
zia e sua incidncia sobre o problema da teleologia do agir
tico iro tornar-se patentes no contexto da transposio
aristotlica do conceito platnico de phrnesis. '
86
num
discurso exortatrio filosofia (protreptiks) dirigido a
um certo Temsio
87
e redigido provavelmente entre 353 e 351
a.C., no calor da contenda sobre a verdadeira paideia entre
a Academia e a escola de Iscrates, que o termo phrnesis
entra na terminologia filosfica de Aristteles para nela
finalmente fixar-se no sentido de "sabedoria prtica" (pru-
dentia em latim) que ser consagrado pela tradio. Como
sabido, o Protrptico e, particularmente, a sua concep-
o da phrnesis ofereceram a W. Jaeger um dos elemen-
tos essenciais da sua brilhante demonstrao da evoluo
de Aristteles na clebre obra de 1923.
88
A phrnesis aris-
totlica no Protrptico aparece, segundo Jaeger, inteira-
mente sob a influncia da phrnesis contemplativa de Pla-
to; e toda a exortao seria caracterizada pela celebra-
82. Prxes mim oun arque proaresis, t. Nic. VI, 2, 1139 a 31.
83. Proairses (arque) de rexis kai lgos o nek tinos, ibi-
dem, 1139 a 31-32.
84. Sobre a situao ver t. Nic. II, 5, 1106 b 21-24.
85. Ver M. Isnardi Parente, Teoria e prassi, apud Studi sulla
Accademia platonica antica, Florena, L. Olschki, 1979, pp. 235-305;
"Teoria e prassi nell'Accademia antica" in La Parola del Passato, 11
0956): 401-436. Ver as sugestivas reflexes de H. J. Kramer, Aret
bei Platon und Aristoteles, p. 228, n. 167.
86. "Intuio intelectual" segundo Plato ou "sabedoria prti-
ca" segundo Aristteles. A curva semntica de phrnesis descrita
por P. Aubenque, La prudence chez Aristote, pp. 15ss.; ver tambm
R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique Nicomaque, Comm., II,
1, pp. 463-469. Do sentido originrio de sensatez prtica ao sentido
filosfico de intuio intelectual das Idias em Plato, phrnesis re-
toma, com Aristteles, ao sentido de sabedoria prtica.
87. Temsio era um prncipe local de Chipre sobre o qual nada
se sabe alm da dedicatria de Aristteles.
88. Aristotele: prime linee di una storia della sua evoluzione
spirituale (tr. de G. Calogero), Florena, La Nuova Italia, 1947,
pp. 68-132 (aqm pp. 107ss.).
101
sobre a Retrica e distante do que julgava ser as abstra-
es incompreensveis e inteis dos filsofos.
77
No seio da
Academia, delineia-se, no contexto desta polmica, a distin-
o proposta por Xencrates entre phrnesis teortica e
phrnesis prtica.
78
Na esteira do problema da diviso do
saber que Plato transmitira primeira Academia, Arist-
teles ir elaborar a diviso das cincias que permanecer
clssica, entre cincias teorticas, prticas e poiticas.
79
A emergncia das cincias prticas, constituindo uma re-
gio autnoma do saber, resulta, para Aristteles, da pr-
pria natureza do objeto da praxis enquanto tal. Com efeito,
tal objeto contingente (t endechmena alls chein) e
singular (t schata). claro, pois, que a cincia teorti-
ca, tendo como objeto o necessrio e o universal, deveria
deixar fora do seu mbito o domnio das aes humanas.
80
Entre a theora e a tchne tratava-se, assim, de definir a
racionalidade prpria da praxis: esse o desafio enfrentado
por Aristteles na tica e na Poltica.
81
Se pensarmos que
a contingncia da praxis encontra sua raiz ltima de um
lado na indeterminao da escolha e, por conseguinte, na
imprevisibilidade da ao singular e, de outro, nas circuns-
tncias que cercam a ao, podemos antever que a soluo
aristotlica ter a forma de uma lgica da ao que deve
unir nos vnculos de um mesmo saber o carter principiai
77. Sobre a querela pedaggica Iscrates-Plato ver H. I. Mar-
rou, Histoire de l'ducation dans l'Antiquit, pp. 102-136. Como
sabido a Antdosis de Iscrates foi escrita em polmica com a Aca-
demia:' ou uma resposta ao Protrtico de Aristteles ou Arist-
teles que, no Protrtico, responde a Iscrates. Sobre a questo ver
E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma, Studium, 1979, pp. 23-35; Gu-
thrie, A history of Greek Philosophy, VI, p. 74, n. 2. A polmica
com Iscrates tinha como objeto precpuo o problema da educao
filosfico-poltica dos governantes do Estado. Ver Margherita Is-
nardi Parente na sua preciosa nota sobre o carter e estrutura da pri-
meira Academia platnica in Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei greci,
p. 11, vol. III, 2 (Platone e l' Academia antica), pp. 861-877 (aqui pp.
872ss.).
78. Xencrates, fr. 6, 7 (Heinze); sobre o estado da questo
ver M. Isnardi Parente in Zeller-Mondolfo, La filosofia dei greci, p.
II, vol. III, 2, p. 997, n. 79.
79. Esta diviso remonta aos primeiros escritos de Aristte-
les ao tempo do seu ensinamento na Academia. Ver Met. VI, 1, 1025
b 2'1-25 e o comentrio de W. D. Ross,Aristotle's Metaphysics, Oxford,
Oxford Univ. Press, 1924, vol. I, p. 353.
80. Ver. t. Nic. VI, 3, 1139 b 14-36.
81. t Nic., VI, 4, 1140 a 1-5.
100
da o carter normativo e teleolgico da razo 8
1
e a complexidade da situao.
8
4
Vimos como as origens platnicas dessa lgica aristo-
tlica da ao remontam s discusses alimentadas na Pri-
meira Academia em torno do problema das relaes entre
theoria e praxis.
85
Na verdade, mesmo no ponto extremo
do seu distanciamento do intelectualismo platnico, Aris-
tteles no renunciar primazia da theora. Essa prima-
zia e sua incidncia sobre o problema da teleologia do agir
tico iro tornar-se patentes no contexto da transposio
aristotlica do conceito platnico de phrnesis. '
86
num
discurso exortatrio filosofia (protreptiks) dirigido a
um certo Temsio
87
e redigido provavelmente entre 353 e 351
a.C., no calor da contenda sobre a verdadeira paideia entre
a Academia e a escola de Iscrates, que o termo phrnesis
entra na terminologia filosfica de Aristteles para nela
finalmente fixar-se no sentido de "sabedoria prtica" (pru-
dentia em latim) que ser consagrado pela tradio. Como
sabido, o Protrptico e, particularmente, a sua concep-
o da phrnesis ofereceram a W. Jaeger um dos elemen-
tos essenciais da sua brilhante demonstrao da evoluo
de Aristteles na clebre obra de 1923.
88
A phrnesis aris-
totlica no Protrptico aparece, segundo Jaeger, inteira-
mente sob a influncia da phrnesis contemplativa de Pla-
to; e toda a exortao seria caracterizada pela celebra-
82. Prxes mim oun arque proaresis, t. Nic. VI, 2, 1139 a 31.
83. Proairses (arque) de rexis kai lgos o nek tinos, ibi-
dem, 1139 a 31-32.
84. Sobre a situao ver t. Nic. II, 5, 1106 b 21-24.
85. Ver M. Isnardi Parente, Teoria e prassi, apud Studi sulla
Accademia platonica antica, Florena, L. Olschki, 1979, pp. 235-305;
"Teoria e prassi nell'Accademia antica" in La Parola del Passato, 11
0956): 401-436. Ver as sugestivas reflexes de H. J. Kramer, Aret
bei Platon und Aristoteles, p. 228, n. 167.
86. "Intuio intelectual" segundo Plato ou "sabedoria prti-
ca" segundo Aristteles. A curva semntica de phrnesis descrita
por P. Aubenque, La prudence chez Aristote, pp. 15ss.; ver tambm
R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique Nicomaque, Comm., II,
1, pp. 463-469. Do sentido originrio de sensatez prtica ao sentido
filosfico de intuio intelectual das Idias em Plato, phrnesis re-
toma, com Aristteles, ao sentido de sabedoria prtica.
87. Temsio era um prncipe local de Chipre sobre o qual nada
se sabe alm da dedicatria de Aristteles.
88. Aristotele: prime linee di una storia della sua evoluzione
spirituale (tr. de G. Calogero), Florena, La Nuova Italia, 1947,
pp. 68-132 (aqm pp. 107ss.).
101
o da filosofia como forma superior de vida, refletin-
do a tendncia dominante na Academia nos ltimos anos
de vida do seu fundador.
89
A interpretao jaegeriana
da phrnesis no Protrptico foi considerada definitiva por
R. A. Gauthier.
90
Ingemar Dring, no entanto, censura
a sua unilateralidade e defende vivamente, por outro lado,
a unidade do pensamento tico de Aristteles.
91
Mas, quais-
quer que sejam os caminhos seguidos pela evoluo do
conceito aristotlico de phrnesis, o termo dessa evoluo
que adquire uma significao decisiva do ponto de vista da
teoria da praxis e do entrelaamento de razo e desejo no
agir tico. Ento a phrnesis, no sentido j plenamente de-
finido de sabedoria prtica, ir constituir-se como virtude
dianotica, entre as virtudes ticas de um lado e a filosofia
(ou sopha) como hbito contemplativo, de outro.
92
A phr-
nesis aristotlica encontra assim o seu lugar no centro des-
sa estrutura de uma teoria da praxis como teoria prtica
que ser, finalmente, a alternativa aristotlica ontologia
platnica do Bem.
93
89. ver E. Bignone, L' Aristotele perduto e la jormazione jiloso-
jica di Epicuro, Florena, La Nuova Italia, 1936, I, pp. 77-98.
90. L'thique Nicomaque, Comm., II, 1, p. 466.
91. Essa unidade afirmada por Dring com relao s trs
ticas atribudas a Aristteles: Aristoteles, Darstellung und Interpre-
tation seines Denkens, p. 407. Dring empreendeu uma reconstruo
e edio do texto do Protrtico, cujos fragmentos foram identifica-
dos inicialmente por I. Bywater (1869) no texto do Protrtico de Jm-
blico (sculo VI d.C.), in Aristotle's Protrepticus: an attempt of re-
construction, Acta Universitatis Gotteburgensis, 12 (1961) (traduo
alem in Aristoteles, pp. 406-429). A interpretao filosfica do Pro-
trtico proposta por Dtiring em contraposio a Jaeger encontra-se
em "Aristotle in the Protrepticus: nel mezzo del cammin" in Autour
d'Aristote (Hommage M. Mansion), Louvain, Institut Suprieur de
Philosophie, 1955, pp. 81-97; ver ainda, Aristoteles, pp. 429-433. Uma
interpretao do Protrtico que se pretende mediana entre Jaeger e
Dring e se apia principalmente sobre o estudo do vocabulrio
a de B. DE;)smoulin, Recherches sur le premier Aristote: Eudeme, sur
la Philosophie, Protrptique, Paris, Vrin, 1981, pp. 112-158.
92. O termo da evoluo da phrnesis , pois, o livro VI da
tica de Nicmaco (que figura como livro V da tica e Eudemo;
como sabido, os livros IV, V, VI da tica a Eudemo foram perdi-
dos, sendo substitudos pelos livros V, VI e VII da EN; ver Dtiring,
Aristoteles, pp. 454-455). Com relao s virtudes ticas a phrnesis
se comportar como regra; com relao sophia como condio.
93. ver M. Isnardi Parente, Studi sull' Accademia platonica an-
tica, p. 270, n. 50.
102
3. A CONCEPO ARISTOTLICA DA PHRNESIS
Na enunciao da teoria aristotlica da praxis, deve,
pois, ser levado em conta inicialmente o genitivo subjeti-
vo: a praxis dotada estruturalmente de uma teoria, enten-
dida esta no sentido de um conhecimento intelectual espe-
cfico.
94
Por essa mesma razo, a teoria , aqui, uma teo-
ria prtica: ela no est presente na praxis em razo de si
mesma,
95
mas em razo do prprio exerccio do agir. Assim,
a teoria prtica obedece a um regime metodolgico e goza
de um tipo de certeza que atendem s suas caractersticas
originais e no podem pretender o rigor da teoria no senti-
do estrito que tm por objeto o necessrio e o universal.
96
Uma teoria da praxis (gen. obj.) ou uma teoria que assu-
misse a praxis no seu mbito para submet-la s suas exi-
gncias de rigor seria inexeqvel para Aristteles, pois a
praxis necessariamente relativizada pelo "bem humano":
o que pode ser realizado e possudo pelo homem.
97
ne-
cessrio observar, no entanto, que Aristteles no renuncia
ao procedimento metdico e exatido conceptual prprios
da cincia ao elaborar a teoria prtica. Apenas reclama
para esse tipo de conhecimento o mtodo e o gnero de
exatido convenientes.
98
Portanto, se a pragmateia tica,
tal como a concebe Aristteles, um retorno empirici-
dade do ethos, de forma alguma pode ser caracterizada co-
mo um empirismo do senso comum, como acima se obser-
vou a propsito do seu ncleo conceptual que , justamen-
te, a phrnesis.
99
Com efeito, ao conceber a phrnesis ou
94. Ou pertencente ao mbito da dinoia (pensamento discur-
sivo) no sentido amplo. t. Nic. VI, 1, 1139 a.
95. A pragmateia tica no se empreende em razo da teoria,
mas para nos tornarmos bons: ou theoras neka. . . all'na agathol
genmetha, t. Nic. II, 2, 1103 b 26-28; ver I, 3, 1095 a 5-6; X 10
1179 a 35-64. ' '
96. Aristteles trata do mtodo da teoria prtica nos captu-
los 3, 4, e 7 do livro I da tica de Nicmaco, em trs redaes que
foram ordenadas por R. A. Gauthier na sua traduo in Gauthier-
-Jolif, L'thique Nicomaque, I, 2 ( 2 ~ ed., 1970), pp. 3-5. Ver t. a
Eud., I, c. 5-6.
97. t. Nic. I, 4, 1096 b 33.
98. Sobre o ideal de exatido em Plato e Aristteles, ver I.
Dring, Aristoteles: Darstellung und Interpretation seines Denkens,
pp. 462-468.
99. Ver supra, III, n. 72.
103
o da filosofia como forma superior de vida, refletin-
do a tendncia dominante na Academia nos ltimos anos
de vida do seu fundador.
89
A interpretao jaegeriana
da phrnesis no Protrptico foi considerada definitiva por
R. A. Gauthier.
90
Ingemar Dring, no entanto, censura
a sua unilateralidade e defende vivamente, por outro lado,
a unidade do pensamento tico de Aristteles.
91
Mas, quais-
quer que sejam os caminhos seguidos pela evoluo do
conceito aristotlico de phrnesis, o termo dessa evoluo
que adquire uma significao decisiva do ponto de vista da
teoria da praxis e do entrelaamento de razo e desejo no
agir tico. Ento a phrnesis, no sentido j plenamente de-
finido de sabedoria prtica, ir constituir-se como virtude
dianotica, entre as virtudes ticas de um lado e a filosofia
(ou sopha) como hbito contemplativo, de outro.
92
A phr-
nesis aristotlica encontra assim o seu lugar no centro des-
sa estrutura de uma teoria da praxis como teoria prtica
que ser, finalmente, a alternativa aristotlica ontologia
platnica do Bem.
93
89. ver E. Bignone, L' Aristotele perduto e la jormazione jiloso-
jica di Epicuro, Florena, La Nuova Italia, 1936, I, pp. 77-98.
90. L'thique Nicomaque, Comm., II, 1, p. 466.
91. Essa unidade afirmada por Dring com relao s trs
ticas atribudas a Aristteles: Aristoteles, Darstellung und Interpre-
tation seines Denkens, p. 407. Dring empreendeu uma reconstruo
e edio do texto do Protrtico, cujos fragmentos foram identifica-
dos inicialmente por I. Bywater (1869) no texto do Protrtico de Jm-
blico (sculo VI d.C.), in Aristotle's Protrepticus: an attempt of re-
construction, Acta Universitatis Gotteburgensis, 12 (1961) (traduo
alem in Aristoteles, pp. 406-429). A interpretao filosfica do Pro-
trtico proposta por Dtiring em contraposio a Jaeger encontra-se
em "Aristotle in the Protrepticus: nel mezzo del cammin" in Autour
d'Aristote (Hommage M. Mansion), Louvain, Institut Suprieur de
Philosophie, 1955, pp. 81-97; ver ainda, Aristoteles, pp. 429-433. Uma
interpretao do Protrtico que se pretende mediana entre Jaeger e
Dring e se apia principalmente sobre o estudo do vocabulrio
a de B. DE;)smoulin, Recherches sur le premier Aristote: Eudeme, sur
la Philosophie, Protrptique, Paris, Vrin, 1981, pp. 112-158.
92. O termo da evoluo da phrnesis , pois, o livro VI da
tica de Nicmaco (que figura como livro V da tica e Eudemo;
como sabido, os livros IV, V, VI da tica a Eudemo foram perdi-
dos, sendo substitudos pelos livros V, VI e VII da EN; ver Dtiring,
Aristoteles, pp. 454-455). Com relao s virtudes ticas a phrnesis
se comportar como regra; com relao sophia como condio.
93. ver M. Isnardi Parente, Studi sull' Accademia platonica an-
tica, p. 270, n. 50.
102
3. A CONCEPO ARISTOTLICA DA PHRNESIS
Na enunciao da teoria aristotlica da praxis, deve,
pois, ser levado em conta inicialmente o genitivo subjeti-
vo: a praxis dotada estruturalmente de uma teoria, enten-
dida esta no sentido de um conhecimento intelectual espe-
cfico.
94
Por essa mesma razo, a teoria , aqui, uma teo-
ria prtica: ela no est presente na praxis em razo de si
mesma,
95
mas em razo do prprio exerccio do agir. Assim,
a teoria prtica obedece a um regime metodolgico e goza
de um tipo de certeza que atendem s suas caractersticas
originais e no podem pretender o rigor da teoria no senti-
do estrito que tm por objeto o necessrio e o universal.
96
Uma teoria da praxis (gen. obj.) ou uma teoria que assu-
misse a praxis no seu mbito para submet-la s suas exi-
gncias de rigor seria inexeqvel para Aristteles, pois a
praxis necessariamente relativizada pelo "bem humano":
o que pode ser realizado e possudo pelo homem.
97
ne-
cessrio observar, no entanto, que Aristteles no renuncia
ao procedimento metdico e exatido conceptual prprios
da cincia ao elaborar a teoria prtica. Apenas reclama
para esse tipo de conhecimento o mtodo e o gnero de
exatido convenientes.
98
Portanto, se a pragmateia tica,
tal como a concebe Aristteles, um retorno empirici-
dade do ethos, de forma alguma pode ser caracterizada co-
mo um empirismo do senso comum, como acima se obser-
vou a propsito do seu ncleo conceptual que , justamen-
te, a phrnesis.
99
Com efeito, ao conceber a phrnesis ou
94. Ou pertencente ao mbito da dinoia (pensamento discur-
sivo) no sentido amplo. t. Nic. VI, 1, 1139 a.
95. A pragmateia tica no se empreende em razo da teoria,
mas para nos tornarmos bons: ou theoras neka. . . all'na agathol
genmetha, t. Nic. II, 2, 1103 b 26-28; ver I, 3, 1095 a 5-6; X 10
1179 a 35-64. ' '
96. Aristteles trata do mtodo da teoria prtica nos captu-
los 3, 4, e 7 do livro I da tica de Nicmaco, em trs redaes que
foram ordenadas por R. A. Gauthier na sua traduo in Gauthier-
-Jolif, L'thique Nicomaque, I, 2 ( 2 ~ ed., 1970), pp. 3-5. Ver t. a
Eud., I, c. 5-6.
97. t. Nic. I, 4, 1096 b 33.
98. Sobre o ideal de exatido em Plato e Aristteles, ver I.
Dring, Aristoteles: Darstellung und Interpretation seines Denkens,
pp. 462-468.
99. Ver supra, III, n. 72.
103
a sabedoria prtica
100
como estrutura dianotica fundamen-
tal do agir tico, Aristteles nela recolhe de um lado a
inteno original da doutrina socrtica da virtude-cincia e,
de outro, situa num novo e especfico campo de racionali-
dade a transposio platnica da aret grega tradicional.
Esse campo da teoria prtica, tendo a phrnesis como ori-
gem das suas coordenadas conceptuais,
101
descrito no
liv. VI da tica de Nic6maco (liv. V da tica a Eudemo)
que pode ser considerado assim como o texto fundador
dessa reflexo sobre a teoria como intrnseca e constituti-
va da praxis, a partir da qual ir desenrolar-se uma das li-
nhas mestras da filosofia ocidental.
102
Esse campo da racionalidade prtica no qual podem
ser traadas as linhas de uma praxis animada intrinseca-
mente por uma forma especfica de saber - a teoria pr-
tica - o campo que Aristteles designa como o lugar
da tarefa ou do operar prprio do homem.
103
A identifi-
cao do opervel (rgon) humano levada a cabo atravs
da analogia com o fazer tcnico: nenhuma esfera particular
do fazer e do agir do homem pode conter o rgon propria-
mente humano.
104
Muito menos o podem as atividades que
o homem possui em comum com os outros seres vivos,
quais sejam as da vida vegetativa e sensitiva. Somente a
vida prtica peculiar quela parte da psych capaz de re-
100. A traduo latina clssica "prudentia" (M. T. Ccero), con-
sagrada por Sto. Toms e pelos moralistas medievais e vulgarizada
nas lnguas modernas (prudence, Klugheit) no exprime, como obser-
va R. A. Gauthier (L'thique Nicomaque, Comm., II, 2, p. 463), os
matizes prprios de phrnesis. A traduo mais aproximada , pois,
"sabedoria prtica" (practical wisdom) ou, simplesmente, "sabedo-
ria", desde que contradistinta de "sapincia" (sabedoria terica, em
italiano sagezza-sapienza, correspondendo a phrnesis-sopha). O me-
lhor alvitre, opina Guthrie (A history of Greek Phil., VI, p. 346, n. 3)
reter o termo grego phrnesis (adj. phrnimos), explicando-o devi-
damente. Em portugus pode-se usar sabedoria-sapincia.
101. Ver W. C. K. Guthrie, A history ot Greek Philosophy, VI,
pp. 345-346; H. Schweizer, Zur Logik der Praxis, p. 74.
102. Linha que H. Schweizer denomina a linha da "obra de ver-
dade" da praxis ou a estrutura da praxis como Werk der Wahrheit.
Ver Zur Logik der Praxis, pp. 30; 79ss.
103. t rgon tou anthrpou, t. Nic. I, 6, 1097 b 24-25.
104. Tendo enumerado algumas dessas esferas, Aristteles con-
clui que o rgon prprio do homem deve situar-se par pnta tauta,
ibidem, 1097 b 32.
104
gulao racional
105
pode reivindicar como propriamente
humana a sua atividade ou o seu rgon. Esse rgon, expres-
so da perfeio do homem ou da sua beatitude ( eudai-
mona) ir definir-se ento como a atividade imanente da
alma segundo a virtude
106
e, suposta a multiplicidade das
virtudes, segundo a virtude mais excelente e mais perfeita.
Toda a concepo aristotlica da praxis gira em torno des-
ses dois plos: "As coisas humanas" (t anthrpina) e "se-
gundo a virtude" (kat'aretn). As "coisas humanas" desig-
nam a realidade mltipla e mtvel por um lado, una e
permanente por outro, do ethos histrico. "Segundo a vir-
tude" designa o movimento essencial da psych humana -
do seu ser mais profundo - voltada para a excelncia e
para o bem do seu prprio ato (enrgeia)
107
segundo a me-
dida da razo (logos) que , exatamente, a medida do per-
feito, do que fim em si mesmo (tleion, o perfeito, tlos,
o fim).
Se quisermos fixar numa imagem geomtrica a estru-
tura da praxis segundo Aristteles e o espao da sua ope-
rao ou da sua obra (ergon) podemos considerar o que
alhures denominamos o crculo do ethos que floresce na
plis
108
como sendo, na verdade, uma elipse na qual um
dos focos ocupado pelas "coisas humanas" e o outro pela
"virtude". O campo descrito por essa elipse , justamente,
o campo do logos prtico ou da atividade prtica da ps:ych
105. praktik tis tou lgon chontos, t. Nic. I, 6, 1098 a 3-4.
A atividade da parte da psych dotada de razo denominada prak-
tik em sentido amplo, incluindo a contemplao pura que tambm
, nesse sentido, uma prxis ou enrgeia e mesmo a mais elevada.
(Ver Gauthier-Jolif, L'th. Nicom., Comm. II, 1, p. 56). Sobre
a glosa posterior (1098 4-5), a propsito da parte que obedece e a parte
que pensa a regra, ver Gauthier-Jolif, ibidem, pp. 56-57. Sobre a
antropologia subjacente a este texto, e que divide a alma em duas
partes (t lgon chon e t logon), vulgarizada na Academia a par-
tir de Xencrates, e que s mais tarde Aristteles substituir pelo
hilemorfismo do De Anima, ver t. Nic. I, 13, 1102 a 26-28 e o co-
mentrio de R. A. Gauthier, em Gauthier-Jolif, Comm., II, 1, pp.
93-94. Ch. Lefevre, no entanto, admite que Aristteles j chegara
concepo hilemrfica da unidade do homem ao tempo da tica de
Nicmaco, referindo-se concepo de Xencrates apenas como a
um lugar comum. Ver L'volution d'Aristote en Psychologie, op. cit.,
pp. 221-234.
106. t anthrpinon agathn psychs enrgeia gignetai kat, are-
tn... (t. Nic. I, 6, 1098 a 16).
107. t Nic. I, 1, 1094 a 1-6.
108. Ver infra, cap. 4.
105
a sabedoria prtica
100
como estrutura dianotica fundamen-
tal do agir tico, Aristteles nela recolhe de um lado a
inteno original da doutrina socrtica da virtude-cincia e,
de outro, situa num novo e especfico campo de racionali-
dade a transposio platnica da aret grega tradicional.
Esse campo da teoria prtica, tendo a phrnesis como ori-
gem das suas coordenadas conceptuais,
101
descrito no
liv. VI da tica de Nic6maco (liv. V da tica a Eudemo)
que pode ser considerado assim como o texto fundador
dessa reflexo sobre a teoria como intrnseca e constituti-
va da praxis, a partir da qual ir desenrolar-se uma das li-
nhas mestras da filosofia ocidental.
102
Esse campo da racionalidade prtica no qual podem
ser traadas as linhas de uma praxis animada intrinseca-
mente por uma forma especfica de saber - a teoria pr-
tica - o campo que Aristteles designa como o lugar
da tarefa ou do operar prprio do homem.
103
A identifi-
cao do opervel (rgon) humano levada a cabo atravs
da analogia com o fazer tcnico: nenhuma esfera particular
do fazer e do agir do homem pode conter o rgon propria-
mente humano.
104
Muito menos o podem as atividades que
o homem possui em comum com os outros seres vivos,
quais sejam as da vida vegetativa e sensitiva. Somente a
vida prtica peculiar quela parte da psych capaz de re-
100. A traduo latina clssica "prudentia" (M. T. Ccero), con-
sagrada por Sto. Toms e pelos moralistas medievais e vulgarizada
nas lnguas modernas (prudence, Klugheit) no exprime, como obser-
va R. A. Gauthier (L'thique Nicomaque, Comm., II, 2, p. 463), os
matizes prprios de phrnesis. A traduo mais aproximada , pois,
"sabedoria prtica" (practical wisdom) ou, simplesmente, "sabedo-
ria", desde que contradistinta de "sapincia" (sabedoria terica, em
italiano sagezza-sapienza, correspondendo a phrnesis-sopha). O me-
lhor alvitre, opina Guthrie (A history of Greek Phil., VI, p. 346, n. 3)
reter o termo grego phrnesis (adj. phrnimos), explicando-o devi-
damente. Em portugus pode-se usar sabedoria-sapincia.
101. Ver W. C. K. Guthrie, A history ot Greek Philosophy, VI,
pp. 345-346; H. Schweizer, Zur Logik der Praxis, p. 74.
102. Linha que H. Schweizer denomina a linha da "obra de ver-
dade" da praxis ou a estrutura da praxis como Werk der Wahrheit.
Ver Zur Logik der Praxis, pp. 30; 79ss.
103. t rgon tou anthrpou, t. Nic. I, 6, 1097 b 24-25.
104. Tendo enumerado algumas dessas esferas, Aristteles con-
clui que o rgon prprio do homem deve situar-se par pnta tauta,
ibidem, 1097 b 32.
104
gulao racional
105
pode reivindicar como propriamente
humana a sua atividade ou o seu rgon. Esse rgon, expres-
so da perfeio do homem ou da sua beatitude ( eudai-
mona) ir definir-se ento como a atividade imanente da
alma segundo a virtude
106
e, suposta a multiplicidade das
virtudes, segundo a virtude mais excelente e mais perfeita.
Toda a concepo aristotlica da praxis gira em torno des-
ses dois plos: "As coisas humanas" (t anthrpina) e "se-
gundo a virtude" (kat'aretn). As "coisas humanas" desig-
nam a realidade mltipla e mtvel por um lado, una e
permanente por outro, do ethos histrico. "Segundo a vir-
tude" designa o movimento essencial da psych humana -
do seu ser mais profundo - voltada para a excelncia e
para o bem do seu prprio ato (enrgeia)
107
segundo a me-
dida da razo (logos) que , exatamente, a medida do per-
feito, do que fim em si mesmo (tleion, o perfeito, tlos,
o fim).
Se quisermos fixar numa imagem geomtrica a estru-
tura da praxis segundo Aristteles e o espao da sua ope-
rao ou da sua obra (ergon) podemos considerar o que
alhures denominamos o crculo do ethos que floresce na
plis
108
como sendo, na verdade, uma elipse na qual um
dos focos ocupado pelas "coisas humanas" e o outro pela
"virtude". O campo descrito por essa elipse , justamente,
o campo do logos prtico ou da atividade prtica da ps:ych
105. praktik tis tou lgon chontos, t. Nic. I, 6, 1098 a 3-4.
A atividade da parte da psych dotada de razo denominada prak-
tik em sentido amplo, incluindo a contemplao pura que tambm
, nesse sentido, uma prxis ou enrgeia e mesmo a mais elevada.
(Ver Gauthier-Jolif, L'th. Nicom., Comm. II, 1, p. 56). Sobre
a glosa posterior (1098 4-5), a propsito da parte que obedece e a parte
que pensa a regra, ver Gauthier-Jolif, ibidem, pp. 56-57. Sobre a
antropologia subjacente a este texto, e que divide a alma em duas
partes (t lgon chon e t logon), vulgarizada na Academia a par-
tir de Xencrates, e que s mais tarde Aristteles substituir pelo
hilemorfismo do De Anima, ver t. Nic. I, 13, 1102 a 26-28 e o co-
mentrio de R. A. Gauthier, em Gauthier-Jolif, Comm., II, 1, pp.
93-94. Ch. Lefevre, no entanto, admite que Aristteles j chegara
concepo hilemrfica da unidade do homem ao tempo da tica de
Nicmaco, referindo-se concepo de Xencrates apenas como a
um lugar comum. Ver L'volution d'Aristote en Psychologie, op. cit.,
pp. 221-234.
106. t anthrpinon agathn psychs enrgeia gignetai kat, are-
tn... (t. Nic. I, 6, 1098 a 16).
107. t Nic. I, 1, 1094 a 1-6.
108. Ver infra, cap. 4.
105
que regida pelo lagos. Nele a racionalidade da praxis ,
pois, representada pela curva unindo os de int_er-
seco dos dois vetores do ethos e da arete e que defme
assim o campo onde o logos imanente ao ethos se explicita
em lagos refletido da aret e contm a razo da sua exce-
lncia e da sua obra prpria ( t ergon t oikeion).
109
Nessa
explicitao da razo constitutiva da racionalidade da praxis,
o perfil da aret traado na perspectiva do plo do ethos
desenha a figura das virtudes ticas, enquanto o seu perfil
que se traa na perspectiva do plo da mesma aret e do
seu lagos explcito, desenha a figura das virtudes diano-
ticas. ''
0
A phrnesis como virtude da razo reta ( orths l-
gos) 111 ou da razo que ir a
entre os extremos para as virtudes etlcas, u
2
e a pnme1ra
das virtudes dianoticas
113
e assinala justamente a presen-
a do logos regulador e ordenador no fluxo contingente das
aes singulares. '
14
Ao apontar no homem sbio (phrni-
mos) a norma existencial e concreta da phrnesis,
115
Aris-
tteles torna patente, na realidade viva das "coisas huma-
nas", a dialtica que se estabelece entre o implcito vivido
109. t. Nic. VI, 1, 1139 a 16-17.
110. t Nic. I, 13, 1103 a 3-5; VI, 2, 1138 b 36-1139 a 1. A divi-
so das virtudes em ticas e dianoticas foi ass4lalada _por W. Jae-
ger j no Crtilo de Plato (411 a-414 b) (ver Ueber ri_rsprun!? und
Kreislauf des philosophischen Lebensideals, apud Scnpta mmora,
I p 364 n ll e por R. A. Gauthier na Repblica VI, 485 a-487 b
Nic., Comm., II, 1, pp. 98-100). Desenvolvida sistematicamen-
te na primeira Academia, essa distino en?ontra sua estrutura con-
ceptual definitiva na tica de Nicmaco, vmdo .a tomar-se um
tpoi fundamentais do Uma bri-
lhante interpretao da concepao anstotelica da arete. nas suas ver-
tentes tica e dianotica apresentada por E. Voegelm, Order and
History III Plato and Aristotles, op. cit., pp. 296-303.
111: t. Nic. VI, 1, 1138 b 18-34; VI, 13, 1144 b 27-28.
112. t Nic., II, 6, 1106 b 36. .
113. Em t Nic. VI, 3, 1139 b 15-17, Aristteles enumera os
co hbitos intelectuais, cuja lista tornara-se corJ.;ente na Academia:
tchne, episthme, phrnesis, sopha, naus. Como A. A.
thier (L' th. Nic. Comm., II, 2, 350-455), essa hsta ser
por Aristteles s duas virtudes correspondentes duas
contemplativa e prtica, da parte racional da psyche: a filosofia (so-
phal e a sabedoria prtica (phrnesisl.
114. t endchmena lls chein, t. Nic. VI, 2, 1139 a 9.
115. A virtude como hbito eletivo (hxis proairetikJ tal
qual a definiria o homem sbio (s n o phrnimos orseien, t. Nic.
li, 6, 1106 b 36).
106
do ethos e o explcito pensado da tica ou da Ciencia pr-
tica. Essa dialtica vem romper exatamente o crculo vi-
cioso que parece opor, logo nos primeiros passos do pensa-
mento tico, a prtica e a definio das virtudes e do qual
nasce a aporia inicial dos chamados dilogos "socrticos"
de Plato: a prtica da virtude verdadeira contm o saber
da sua definio, e a definio da virtude no seno a
abstrao da sua prtica. necessrio praticar a virtude
para poder defini-la e necessrio defini-la para bem pra-
tic-la. A tica como cincia se prope justamente instau-
rar um tipo de reflexo que permita a ruptura deste cr-
culo entre o abstrato e o concreto estabelecendo um fun-
damento racional e uma medida par'a o agir. Plato buscar
a sada do crculo aportico da praxis na transcedncia da
Idia. A tica platnica ser uma ontologia da Idia-norma
do Bem, que est para alm de toda existncia determina-
da (ousa). A prioridade atribuda ao logos como lugar
de manifestao da "realidade realssima" (onts n) que
a realidade ideal. Ao afastar-se da rota platnica para a
transcendncia da Idia do Bem,
116
Aristteles traa o ca-
minho de sada do crculo aportico entre a praxis vivida
e a praxis pensada, aprofundando no domnio prtico a sua
intuio de uma ontologia da Forma e apontando na exce-
lncia do varo sbio, do phrnimos, a realizao concreta
da idia do Bem como forma e, nela, a norma existencial
da virtude. O Estagirita leva assim a termo, com soberana
maestria, uma das tendncias mais profundas do esprito
grego, a aspirao perfeio como forma acabada na sua
plena e irradiante atualidade ( enrgeia). Tal justamente
a aret, que esplende como norma viva no varo virtuo-
so.
117
Assim, sendo embora a virtude moral um meio-ter-
mo entre extremos, e sendo a phrnesis, como primeira
116. t. Nic. I, 4, 1096 b 8-1097 a 13; sobre outra formulao do
crculo da prxis virtuosa ver t. Nic. 11, 4, 1105 a 17-b 18.
117. Os dois primeiros captulos do Essai sur la Morale d' Aris-
tote, essa "obra-prima de penetrao e delicadeza" <R. A. Gauthier)
nos introduzem brilhantemente no corao da tica aristotlica. O pri-
meiro traa um perfil do "homem virtuoso e sbio" e o segundo com-
para "a moral de Aristteles e o gnio grego". ver Lon Oll-Lapru-
ne, Essai sur la Morale d'Aristote, Paris, Vve. Eugene Belin et Fils,
1881, pp. 21-76. Nesse contexto, ver igualmente as pginas clssicas,
de serena beleza, de A. J. Festugiere sobre "l'idal grec", apud L'Idal
religieux grecs et l'vangile, Paris, Gabalda, 1932, pp. 17-41, so-
bretudo a Importante n. 3, p. 19.
107
que regida pelo lagos. Nele a racionalidade da praxis ,
pois, representada pela curva unindo os de int_er-
seco dos dois vetores do ethos e da arete e que defme
assim o campo onde o logos imanente ao ethos se explicita
em lagos refletido da aret e contm a razo da sua exce-
lncia e da sua obra prpria ( t ergon t oikeion).
109
Nessa
explicitao da razo constitutiva da racionalidade da praxis,
o perfil da aret traado na perspectiva do plo do ethos
desenha a figura das virtudes ticas, enquanto o seu perfil
que se traa na perspectiva do plo da mesma aret e do
seu lagos explcito, desenha a figura das virtudes diano-
ticas. ''
0
A phrnesis como virtude da razo reta ( orths l-
gos) 111 ou da razo que ir a
entre os extremos para as virtudes etlcas, u
2
e a pnme1ra
das virtudes dianoticas
113
e assinala justamente a presen-
a do logos regulador e ordenador no fluxo contingente das
aes singulares. '
14
Ao apontar no homem sbio (phrni-
mos) a norma existencial e concreta da phrnesis,
115
Aris-
tteles torna patente, na realidade viva das "coisas huma-
nas", a dialtica que se estabelece entre o implcito vivido
109. t. Nic. VI, 1, 1139 a 16-17.
110. t Nic. I, 13, 1103 a 3-5; VI, 2, 1138 b 36-1139 a 1. A divi-
so das virtudes em ticas e dianoticas foi ass4lalada _por W. Jae-
ger j no Crtilo de Plato (411 a-414 b) (ver Ueber ri_rsprun!? und
Kreislauf des philosophischen Lebensideals, apud Scnpta mmora,
I p 364 n ll e por R. A. Gauthier na Repblica VI, 485 a-487 b
Nic., Comm., II, 1, pp. 98-100). Desenvolvida sistematicamen-
te na primeira Academia, essa distino en?ontra sua estrutura con-
ceptual definitiva na tica de Nicmaco, vmdo .a tomar-se um
tpoi fundamentais do Uma bri-
lhante interpretao da concepao anstotelica da arete. nas suas ver-
tentes tica e dianotica apresentada por E. Voegelm, Order and
History III Plato and Aristotles, op. cit., pp. 296-303.
111: t. Nic. VI, 1, 1138 b 18-34; VI, 13, 1144 b 27-28.
112. t Nic., II, 6, 1106 b 36. .
113. Em t Nic. VI, 3, 1139 b 15-17, Aristteles enumera os
co hbitos intelectuais, cuja lista tornara-se corJ.;ente na Academia:
tchne, episthme, phrnesis, sopha, naus. Como A. A.
thier (L' th. Nic. Comm., II, 2, 350-455), essa hsta ser
por Aristteles s duas virtudes correspondentes duas
contemplativa e prtica, da parte racional da psyche: a filosofia (so-
phal e a sabedoria prtica (phrnesisl.
114. t endchmena lls chein, t. Nic. VI, 2, 1139 a 9.
115. A virtude como hbito eletivo (hxis proairetikJ tal
qual a definiria o homem sbio (s n o phrnimos orseien, t. Nic.
li, 6, 1106 b 36).
106
do ethos e o explcito pensado da tica ou da Ciencia pr-
tica. Essa dialtica vem romper exatamente o crculo vi-
cioso que parece opor, logo nos primeiros passos do pensa-
mento tico, a prtica e a definio das virtudes e do qual
nasce a aporia inicial dos chamados dilogos "socrticos"
de Plato: a prtica da virtude verdadeira contm o saber
da sua definio, e a definio da virtude no seno a
abstrao da sua prtica. necessrio praticar a virtude
para poder defini-la e necessrio defini-la para bem pra-
tic-la. A tica como cincia se prope justamente instau-
rar um tipo de reflexo que permita a ruptura deste cr-
culo entre o abstrato e o concreto estabelecendo um fun-
damento racional e uma medida par'a o agir. Plato buscar
a sada do crculo aportico da praxis na transcedncia da
Idia. A tica platnica ser uma ontologia da Idia-norma
do Bem, que est para alm de toda existncia determina-
da (ousa). A prioridade atribuda ao logos como lugar
de manifestao da "realidade realssima" (onts n) que
a realidade ideal. Ao afastar-se da rota platnica para a
transcendncia da Idia do Bem,
116
Aristteles traa o ca-
minho de sada do crculo aportico entre a praxis vivida
e a praxis pensada, aprofundando no domnio prtico a sua
intuio de uma ontologia da Forma e apontando na exce-
lncia do varo sbio, do phrnimos, a realizao concreta
da idia do Bem como forma e, nela, a norma existencial
da virtude. O Estagirita leva assim a termo, com soberana
maestria, uma das tendncias mais profundas do esprito
grego, a aspirao perfeio como forma acabada na sua
plena e irradiante atualidade ( enrgeia). Tal justamente
a aret, que esplende como norma viva no varo virtuo-
so.
117
Assim, sendo embora a virtude moral um meio-ter-
mo entre extremos, e sendo a phrnesis, como primeira
116. t. Nic. I, 4, 1096 b 8-1097 a 13; sobre outra formulao do
crculo da prxis virtuosa ver t. Nic. 11, 4, 1105 a 17-b 18.
117. Os dois primeiros captulos do Essai sur la Morale d' Aris-
tote, essa "obra-prima de penetrao e delicadeza" <R. A. Gauthier)
nos introduzem brilhantemente no corao da tica aristotlica. O pri-
meiro traa um perfil do "homem virtuoso e sbio" e o segundo com-
para "a moral de Aristteles e o gnio grego". ver Lon Oll-Lapru-
ne, Essai sur la Morale d'Aristote, Paris, Vve. Eugene Belin et Fils,
1881, pp. 21-76. Nesse contexto, ver igualmente as pginas clssicas,
de serena beleza, de A. J. Festugiere sobre "l'idal grec", apud L'Idal
religieux grecs et l'vangile, Paris, Gabalda, 1932, pp. 17-41, so-
bretudo a Importante n. 3, p. 19.
107
virtude dianotica, uma virtude da razo calculadora (to
logistikn),
118
a concepo aristotlica no situa a virtude
moral na mediania esttica e circunspeta. A virtude, ao
contrrio, a seu modo um "extremo" (akrtes),
119
a
perfeio mesma do agir elevando-se com proporo e har-
monia sobre os extremos viciosos do excesso e do defei-
to.120 no sentido de ser uma enrgeia da forma do agir
humano, levando a praxis plenitude da sua atualidade,
121
que a virtude se refere ao tipo modelar do phrnimos e a
mestes se define em relao ao agente
122
e aos ingredientes
da sua ao.
123
118. lU. Nic. VI, 2, 1139 a 11-12.
119. t. Nic. II, 5, 1107 a 6-7: a virtude, sendo um meio-termo
segundo a sua essncia e definio (kat mim tim ousan kai Um l6-
gon ton t ti n einai), a fina ponta do agir segundo a excelncia
e o bem (kat de to riston kai to eu). Sobre a natureza da media-
nia ou meio-termo (mestes), elemento constitutivo da virtude mo-
ral e essencial para se compreender a natureza da phrnesis, ver o
comentrio de J. Y. Jolif t. a Nic. II, 5, 1106 b 27, apud Gauthier-
-Jolif, L'th. Nic., Comm., II, 1, pp. 142-145. A forma matemtica
da mestes, desenvolvida pelos pitagricos, utilizada filosoficamen-
te por Plato, sobretudo no Poltico, no Filebo e nas Leis e, assim,
transmitida a Aristteles, que se inspira igualmente, segundo W. Jae-
ger, do uso dessa noo na prtica mdica. Plato e Aristteles (ver Gu-
thrie, A history ot Greek Philosophy, VI, pp. 353-354) transpem
aqui a seu modo uma idia tpica grega, inscrita no fronto do pr-
tico do templo de Apolo em Delfos: meden gan, ne quid nimis ou
nada em excesso. A dependncia de Aristteles com relao . con-
cepo platnica da mestes, que est inscrita no mago da onto-
logia e da doutrina dos princpios do fundador da Academia, ex-
posta com amplido e riqueza textual por H. J. Krmer, Aret bei
Platon und Aristoteles, op. cit., pp. 244-379. O problema retoma-
do na VI Parte, "Platon und Aristoteles", onde se descreve a disso-
luo da metafsica platnica em virtude da nova orientao onto-
lgica de Aristteles, que implica a distino da cincia terica e da
cincia prtica (ver pp. 564ss.). Ver igualmente, K. Gaiser, Platons
ungeschriebene Le'hre, pp. 67-68; 308-324; I. Dring, Aristoteles, pp.
448-450 e M. Ganter Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie
des Aristoteles, Friburgo-Munique, Alber, 1974, pp. 63-77. Uma carac-
terizao abrangente do pensamento aristotlico como pensamento
do meio-termo (mson) desenvolvida por Jan van der Meulen na
sua obra Aristoteles: die Mitte im seinen Denken, MeisenheinjGlan,
Westkultur Verlag Anton Hain, 1951; sobre o meio-termo na praxzs
ver 11, p., c. 3, pp. 219-268.
120. hyperboles ka'i eillepseos, t Nic. li, 5, 1106 a 29.
121. t. Nic. li, 5, 1106 a 15-26; b 23-24.
122. en mestti ousa t pros hems, t. Nic. li, 6, 1107 a 1-2.
123. t. Nic. 11, 5, 1106 b 21-24: o objeto (ou seja, o meio-termo
que o excelente, riston), o tempo, as circunstncias, os destina-
trios, o fim, o modo.
108
A. praxis virtuosa aparece, assim, como "uma crista,
u?la linha cimeira que separa as vertentes opostas dos v-
ciOs",
124
e ser acm que assinala a pleni-
tude amadurecida da Idade entre a juventude e a velhice. 123
A I?raxis virtuosa ir pois orientar-se, pelo seu dinamismo
mais profundo, numa direo que transcende o domnio
das "coisas humanas" onde se exercem as virtudes ticas 12s
para a vida divina e imortal, na medida em que
e possiVel ao homem dela participar.
127
Mas, nesse cami-
nho, a phrnesi_s lugar inteligncia especulativa
( nous) e a praxzs, JUStamente pela fina ponta do seu ser
melhor que a virtude, eleva-se beatitude plena da con-
templao (theora).
1
28
. Fica, pois, evi_dente que o conceito aristotlico de praxis
Situando-se, convem repeti-lo, no campo conceptual aberto
pela ontologia platnica do Bem, estrutura-se de acordo
com o dinamismo imanente da aret prpria do agente que
opera sob a regncia do logos.
129
O seu agir tem em vista
seja a da obra : e-r:to, poesis, seja a perfeio
do _propriO agente e, entao, e praxis. o campo do operar
:acw.nal dotado constncia do hbito (hxis met lgou)
e onentado, assim, segundo as duas grandes direes do
"hbito poitico" (hxis poietik) e do "hbito prtico"
124. J. Moreau, Aris_tote et son cole, Paris, PUF, 1962, p. 207.
125. Essa comparaao desenvolvida com felicidade por G. Ro-
Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
op. clt., pp. Ver Aristteles, Ret. 11, 12, 1388 b 36; 14, 1390
b 12, e L. sur. la morale d'Aristote, op. cit., pp.
149-153. Uma adm1rvel do magnnimo exprime ex-
a. su;tese entre a mediania e o extremo que prpria
da_ v1rtude: stz o megalpsychos to mn meghtei kros, t de s
dez_ msos (t. IV, 3, 1123 b 13-14). Extremo na grandeza do
ObJeto a. que asp1ra e o justo meio quanto ao modo com
que aspua, tal o magnammo para Aristteles e tal a sntese para-
doxal da. virtude. Sobre mghetos nesse contexto ver L. Oll-Lapru-
<:P Clt., p. 123, n. 3. E sobre o "magnnimo" de Aristteles, rea-
acabada do phrnimos, ver R. A. Gauthier, Magnanimit:
l zdal de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la tholo-
gie chrtienne, Paris, Vrin, 1951, pp. 63-118.
126. t. Nic., X, 8, 1178 a 14-22.
127. t Nic., X, 7, 1177 b 33.
128. Ver infra, n. 4, tica e teoria.
129. met lgou:_ t. N!c., VI, 4, 1140 a 4. No obstante tra-
tar-se de da comum, ela adquire nesse con-
texto t:ma s1gruf1caao prpr1a, na medida em que exprime a orientao
da razao que conduz o dinamismo da virtude para o bem.
109
virtude dianotica, uma virtude da razo calculadora (to
logistikn),
118
a concepo aristotlica no situa a virtude
moral na mediania esttica e circunspeta. A virtude, ao
contrrio, a seu modo um "extremo" (akrtes),
119
a
perfeio mesma do agir elevando-se com proporo e har-
monia sobre os extremos viciosos do excesso e do defei-
to.120 no sentido de ser uma enrgeia da forma do agir
humano, levando a praxis plenitude da sua atualidade,
121
que a virtude se refere ao tipo modelar do phrnimos e a
mestes se define em relao ao agente
122
e aos ingredientes
da sua ao.
123
118. lU. Nic. VI, 2, 1139 a 11-12.
119. t. Nic. II, 5, 1107 a 6-7: a virtude, sendo um meio-termo
segundo a sua essncia e definio (kat mim tim ousan kai Um l6-
gon ton t ti n einai), a fina ponta do agir segundo a excelncia
e o bem (kat de to riston kai to eu). Sobre a natureza da media-
nia ou meio-termo (mestes), elemento constitutivo da virtude mo-
ral e essencial para se compreender a natureza da phrnesis, ver o
comentrio de J. Y. Jolif t. a Nic. II, 5, 1106 b 27, apud Gauthier-
-Jolif, L'th. Nic., Comm., II, 1, pp. 142-145. A forma matemtica
da mestes, desenvolvida pelos pitagricos, utilizada filosoficamen-
te por Plato, sobretudo no Poltico, no Filebo e nas Leis e, assim,
transmitida a Aristteles, que se inspira igualmente, segundo W. Jae-
ger, do uso dessa noo na prtica mdica. Plato e Aristteles (ver Gu-
thrie, A history ot Greek Philosophy, VI, pp. 353-354) transpem
aqui a seu modo uma idia tpica grega, inscrita no fronto do pr-
tico do templo de Apolo em Delfos: meden gan, ne quid nimis ou
nada em excesso. A dependncia de Aristteles com relao . con-
cepo platnica da mestes, que est inscrita no mago da onto-
logia e da doutrina dos princpios do fundador da Academia, ex-
posta com amplido e riqueza textual por H. J. Krmer, Aret bei
Platon und Aristoteles, op. cit., pp. 244-379. O problema retoma-
do na VI Parte, "Platon und Aristoteles", onde se descreve a disso-
luo da metafsica platnica em virtude da nova orientao onto-
lgica de Aristteles, que implica a distino da cincia terica e da
cincia prtica (ver pp. 564ss.). Ver igualmente, K. Gaiser, Platons
ungeschriebene Le'hre, pp. 67-68; 308-324; I. Dring, Aristoteles, pp.
448-450 e M. Ganter Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie
des Aristoteles, Friburgo-Munique, Alber, 1974, pp. 63-77. Uma carac-
terizao abrangente do pensamento aristotlico como pensamento
do meio-termo (mson) desenvolvida por Jan van der Meulen na
sua obra Aristoteles: die Mitte im seinen Denken, MeisenheinjGlan,
Westkultur Verlag Anton Hain, 1951; sobre o meio-termo na praxzs
ver 11, p., c. 3, pp. 219-268.
120. hyperboles ka'i eillepseos, t Nic. li, 5, 1106 a 29.
121. t. Nic. li, 5, 1106 a 15-26; b 23-24.
122. en mestti ousa t pros hems, t. Nic. li, 6, 1107 a 1-2.
123. t. Nic. 11, 5, 1106 b 21-24: o objeto (ou seja, o meio-termo
que o excelente, riston), o tempo, as circunstncias, os destina-
trios, o fim, o modo.
108
A. praxis virtuosa aparece, assim, como "uma crista,
u?la linha cimeira que separa as vertentes opostas dos v-
ciOs",
124
e ser acm que assinala a pleni-
tude amadurecida da Idade entre a juventude e a velhice. 123
A I?raxis virtuosa ir pois orientar-se, pelo seu dinamismo
mais profundo, numa direo que transcende o domnio
das "coisas humanas" onde se exercem as virtudes ticas 12s
para a vida divina e imortal, na medida em que
e possiVel ao homem dela participar.
127
Mas, nesse cami-
nho, a phrnesi_s lugar inteligncia especulativa
( nous) e a praxzs, JUStamente pela fina ponta do seu ser
melhor que a virtude, eleva-se beatitude plena da con-
templao (theora).
1
28
. Fica, pois, evi_dente que o conceito aristotlico de praxis
Situando-se, convem repeti-lo, no campo conceptual aberto
pela ontologia platnica do Bem, estrutura-se de acordo
com o dinamismo imanente da aret prpria do agente que
opera sob a regncia do logos.
129
O seu agir tem em vista
seja a da obra : e-r:to, poesis, seja a perfeio
do _propriO agente e, entao, e praxis. o campo do operar
:acw.nal dotado constncia do hbito (hxis met lgou)
e onentado, assim, segundo as duas grandes direes do
"hbito poitico" (hxis poietik) e do "hbito prtico"
124. J. Moreau, Aris_tote et son cole, Paris, PUF, 1962, p. 207.
125. Essa comparaao desenvolvida com felicidade por G. Ro-
Dherbey, Les choses mmes: la pense du rel chez Aristote,
op. clt., pp. Ver Aristteles, Ret. 11, 12, 1388 b 36; 14, 1390
b 12, e L. sur. la morale d'Aristote, op. cit., pp.
149-153. Uma adm1rvel do magnnimo exprime ex-
a. su;tese entre a mediania e o extremo que prpria
da_ v1rtude: stz o megalpsychos to mn meghtei kros, t de s
dez_ msos (t. IV, 3, 1123 b 13-14). Extremo na grandeza do
ObJeto a. que asp1ra e o justo meio quanto ao modo com
que aspua, tal o magnammo para Aristteles e tal a sntese para-
doxal da. virtude. Sobre mghetos nesse contexto ver L. Oll-Lapru-
<:P Clt., p. 123, n. 3. E sobre o "magnnimo" de Aristteles, rea-
acabada do phrnimos, ver R. A. Gauthier, Magnanimit:
l zdal de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la tholo-
gie chrtienne, Paris, Vrin, 1951, pp. 63-118.
126. t. Nic., X, 8, 1178 a 14-22.
127. t Nic., X, 7, 1177 b 33.
128. Ver infra, n. 4, tica e teoria.
129. met lgou:_ t. N!c., VI, 4, 1140 a 4. No obstante tra-
tar-se de da comum, ela adquire nesse con-
texto t:ma s1gruf1caao prpr1a, na medida em que exprime a orientao
da razao que conduz o dinamismo da virtude para o bem.
109
(hxis praktik), da tchne e da praxis.
1
"
0
A praxis, P?r
sua vez, manifesta a sua aret ou o esplendor da sua ener-
geia justamente na medida em que nela se o
bem ( agathn) como fim ( tlos) ou. como perfeito (
Ao situar, portanto, na phrneszs o centro de gravidade
da sua teoria da praxis, Aristteles traa as linhas funda-
mentais dessa estrutura conceptual do agir humano que
sustentar por longos sculos o pensamento tico do Oci-
dente. Somente uma transformao muito profundaA na
concepo do homem e do seu agir, que comea a por-se
em movimento no alvorecer da nova idade de cultura que
denominamos "modernidade", ir provocar uma reform?-
lao igualmente profunda no desenho conceptual da te_orta
da praxis. A revoluo copernicana da do umver-
so espiritual da qual procede a modermdade coloca como
centro do sistema das "coisas humanas'', compreendendo
agora numa esfera nica a poesis e a praxis, o Eu
tor que, como Eu legislador, j o do Siste-
ma das razes ou o domnio da teoria. A pnmeira conse-
qncia de uma tal _revoluo copernicana: _ a
da primazia da poeszs que submete a praxzs as suas regra:..
a distino entre praxis e tchne tende a desvanecer-se, e
0 primeiro domnio submetido t_chne ser justamente o
domnio poltico com a consuma_ao, desde, tempos ma-
quiavlicos, dessa ciso entre tica e Poht_wa que ac_ot?-
panhar, como um dos seus problemas mawres, as VICIS-
situdes da modernidade.
1
'"
1
Aristteles observava com agudeza que, no processo da
poesis o princpio do movimento permanece todo no su-
jeito no sendo, como tal, comrm1:cado obra.
1
_
32
_A
o da praxis pela esfera da poeszs e sua submissao_ as re-
gras da tchne tem, como conseqncia, o
do conceito de enrgeia, fim imanente e perfeiao do ato.
Este esgota seu dinamismo no movimento transiente da
produo da obra ad extra .. ainda uma des-
sa homologia que passa a VIgorar entre a praxzs e a techne,
a extenso do meio-termo matemtico, segundo a propor-
130. t. Nic., VI, 4, 1040 a 1-23. Sobre a distino, aqui, do
poitico e do prtico que Aristteles apresenta como j explicada
nos escritos de divulgao (en tots exoterikis lgois) ver R. A. Gau-
thiElr, em L'Eth. de Nic., Comm., I!, 2, pp. 456-459.
131. Ver Anexo 2, infra. . , A
132. n he arque en t poionti aU me en t powumeno, t
Nic., VI, 4, 1140 a 13-14.
110
o aritmtica _(kat ten arithmetiken analogan) que pre-
valec_e _na relaao _entre as coisas (prgmatos mson), 133
condiao de medida da praxis. Despojada da coroa da
enrgeia, da sua perfeio imanente, a praxis passa a ser
pensada segundo a categoria bsica da igualdade aritmtica
q:Ue reflui sobre os agentes, tornando-os iguais e diferen-
Ciados apenas pelo simples nmero com que so contados
na seqncia de uma sucesso numrica. :t3
4
A ao se exau-
re no seu objeto, o homem , primeiramente um "ser
produtor" (Marx), e o desaparecimento do de
enrgeia traz consigo de um lado o esvaziamento do con-
de (a_!et) como perfeio e medida qualita-
tiVa da propna aao
135
e, de outro, a radical impossibili-
dade de se constituir uma teoria da praxis como teoria do
bem propriamente humano - como teoria tica. 1 36
, sem dvida, nessa sujeio da praxis aos imperati-
vos da poesis e na conseqente degradao da virtude a
"um simples efeito do querer de acordo com o dever ou
a disposio para semelhante querer",
137
que se po-
dera encontrar a raiz do niilismo tico no qual acabam
desembocando as teorias modernas da praxis. Com efei-
to, para essas teorias, sendo a praxis essencialmente de-
133. t Nic., II, 5, 1106 a 29-36.
_134. Sobre esse advento do puro mltiplo ou da igualdade arit-
mehca como categoria ideolgica bsica da modernidade alimenta-
da utopia do !gualitarismo, ver Ph. Muray, Le dix-nevieme sie-
cle a travers les ages, Paris Denoel 1984 pp. 113-127 ver Sntese
34 (1985): 117-122. ' ' ' '
135. Tal Aristteles o descreve em t. Nic., 11, 5, 1106, b
5-15. O empobreCimento e o quase desaparecimento do conceito de
"virtude" como excelncia da praxis na tica moderna e sua desfi-
gurll:o na identificao de "virtude" e "dever" foram agudamente
anahsados por Max Scheler no seu ensaio de 1913 Sobre a reabilita-
o da virtude; ver cap. I, supx:a nota 59, e a introduo de Scheler,
pp. 15-19. Comparar com a critica de Platina ausncia da noo
de "virtude" entre os gnsticos, En. 11, 9, 15' e o comentrio de Hans
Jonas, L_a religion . gnostique (tr. fr.), Paris, Flammarion, 1978, pp.
347-351, Idem Gnoszs u. spiitantiker Geist II 1 Gttingen Vande-
hoeck u. Ruprecht, 1966, pp. 24-46. ' ' ' '
136. Ver t. Nic., li, 5, 1106 a 22-24: he tou anthrpou arete ehe
n he hxis aph'Ms agaths anthrpos ggnetai ka aph'hs eu to
rgon apodsei. O rgon da obra de virtude , primeiramente a
sua prpria perfeio imanente, seu ato ab intra et ad intra e 's
enquanto tal especificativa da praXis humana e pode irrad.ar ad
extra como ao virtuosa na comunidade.
137. Ver Max Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, op. cit.,
p. 16.
111
(hxis praktik), da tchne e da praxis.
1
"
0
A praxis, P?r
sua vez, manifesta a sua aret ou o esplendor da sua ener-
geia justamente na medida em que nela se o
bem ( agathn) como fim ( tlos) ou. como perfeito (
Ao situar, portanto, na phrneszs o centro de gravidade
da sua teoria da praxis, Aristteles traa as linhas funda-
mentais dessa estrutura conceptual do agir humano que
sustentar por longos sculos o pensamento tico do Oci-
dente. Somente uma transformao muito profundaA na
concepo do homem e do seu agir, que comea a por-se
em movimento no alvorecer da nova idade de cultura que
denominamos "modernidade", ir provocar uma reform?-
lao igualmente profunda no desenho conceptual da te_orta
da praxis. A revoluo copernicana da do umver-
so espiritual da qual procede a modermdade coloca como
centro do sistema das "coisas humanas'', compreendendo
agora numa esfera nica a poesis e a praxis, o Eu
tor que, como Eu legislador, j o do Siste-
ma das razes ou o domnio da teoria. A pnmeira conse-
qncia de uma tal _revoluo copernicana: _ a
da primazia da poeszs que submete a praxzs as suas regra:..
a distino entre praxis e tchne tende a desvanecer-se, e
0 primeiro domnio submetido t_chne ser justamente o
domnio poltico com a consuma_ao, desde, tempos ma-
quiavlicos, dessa ciso entre tica e Poht_wa que ac_ot?-
panhar, como um dos seus problemas mawres, as VICIS-
situdes da modernidade.
1
'"
1
Aristteles observava com agudeza que, no processo da
poesis o princpio do movimento permanece todo no su-
jeito no sendo, como tal, comrm1:cado obra.
1
_
32
_A
o da praxis pela esfera da poeszs e sua submissao_ as re-
gras da tchne tem, como conseqncia, o
do conceito de enrgeia, fim imanente e perfeiao do ato.
Este esgota seu dinamismo no movimento transiente da
produo da obra ad extra .. ainda uma des-
sa homologia que passa a VIgorar entre a praxzs e a techne,
a extenso do meio-termo matemtico, segundo a propor-
130. t. Nic., VI, 4, 1040 a 1-23. Sobre a distino, aqui, do
poitico e do prtico que Aristteles apresenta como j explicada
nos escritos de divulgao (en tots exoterikis lgois) ver R. A. Gau-
thiElr, em L'Eth. de Nic., Comm., I!, 2, pp. 456-459.
131. Ver Anexo 2, infra. . , A
132. n he arque en t poionti aU me en t powumeno, t
Nic., VI, 4, 1140 a 13-14.
110
o aritmtica _(kat ten arithmetiken analogan) que pre-
valec_e _na relaao _entre as coisas (prgmatos mson), 133
condiao de medida da praxis. Despojada da coroa da
enrgeia, da sua perfeio imanente, a praxis passa a ser
pensada segundo a categoria bsica da igualdade aritmtica
q:Ue reflui sobre os agentes, tornando-os iguais e diferen-
Ciados apenas pelo simples nmero com que so contados
na seqncia de uma sucesso numrica. :t3
4
A ao se exau-
re no seu objeto, o homem , primeiramente um "ser
produtor" (Marx), e o desaparecimento do de
enrgeia traz consigo de um lado o esvaziamento do con-
de (a_!et) como perfeio e medida qualita-
tiVa da propna aao
135
e, de outro, a radical impossibili-
dade de se constituir uma teoria da praxis como teoria do
bem propriamente humano - como teoria tica. 1 36
, sem dvida, nessa sujeio da praxis aos imperati-
vos da poesis e na conseqente degradao da virtude a
"um simples efeito do querer de acordo com o dever ou
a disposio para semelhante querer",
137
que se po-
dera encontrar a raiz do niilismo tico no qual acabam
desembocando as teorias modernas da praxis. Com efei-
to, para essas teorias, sendo a praxis essencialmente de-
133. t Nic., II, 5, 1106 a 29-36.
_134. Sobre esse advento do puro mltiplo ou da igualdade arit-
mehca como categoria ideolgica bsica da modernidade alimenta-
da utopia do !gualitarismo, ver Ph. Muray, Le dix-nevieme sie-
cle a travers les ages, Paris Denoel 1984 pp. 113-127 ver Sntese
34 (1985): 117-122. ' ' ' '
135. Tal Aristteles o descreve em t. Nic., 11, 5, 1106, b
5-15. O empobreCimento e o quase desaparecimento do conceito de
"virtude" como excelncia da praxis na tica moderna e sua desfi-
gurll:o na identificao de "virtude" e "dever" foram agudamente
anahsados por Max Scheler no seu ensaio de 1913 Sobre a reabilita-
o da virtude; ver cap. I, supx:a nota 59, e a introduo de Scheler,
pp. 15-19. Comparar com a critica de Platina ausncia da noo
de "virtude" entre os gnsticos, En. 11, 9, 15' e o comentrio de Hans
Jonas, L_a religion . gnostique (tr. fr.), Paris, Flammarion, 1978, pp.
347-351, Idem Gnoszs u. spiitantiker Geist II 1 Gttingen Vande-
hoeck u. Ruprecht, 1966, pp. 24-46. ' ' ' '
136. Ver t. Nic., li, 5, 1106 a 22-24: he tou anthrpou arete ehe
n he hxis aph'Ms agaths anthrpos ggnetai ka aph'hs eu to
rgon apodsei. O rgon da obra de virtude , primeiramente a
sua prpria perfeio imanente, seu ato ab intra et ad intra e 's
enquanto tal especificativa da praXis humana e pode irrad.ar ad
extra como ao virtuosa na comunidade.
137. Ver Max Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, op. cit.,
p. 16.
111
finida pelo projeto de um fazer ou de uma poesis, :la se
exaure toda na feitura de uma obra ou na execuao
uma tarefa exterior ao sujeito. A essencialidade. histn
ca da praxis assim entendida a partir da histria como
incessante jazer, como tchne obsessiva do
rizada pelo futuro como espao de pura possibill_dade.
A praxis enquanto histrica significa nessa perspectiva, que
domina as grandes concepes sociais e polticas dos tem-
pos modernos,
139
que o agir do homem verte a sua
realidade na obra do homem e que os homens se Igualam
fundamentalmente na sua relao ativa e operante com o
mundo. Esse predomnio do jazer e essa universalizao
quantitativa da praxis como predicado dos sujeitos
lizados na sua relao ativa com o mundo - na sua
dade poitica - significa, por outro lado, a. descentraqa?
da phrnesis na estrutura conceptual praxts e _s';la
o nas margens subjetivas do conheCimento pratico.
: apenas uma conseqncia, porm inelutvel,
reestruturao em torno do fazer tcnico do espiri-
tual da praxis, o vitorioso advento da tecnocracia na re-
gncia do domnio social e poltico e o fato de que o mo-
delo tecnocrtico se apresente como opo terica domi-
nante nos projetos e utopias de uma nova sociedade que
cadenciam a marcha da modernidade.
141
138. Ver Anexo 2 infra: Poltica e Histria. Desse ponto de
ta as criticas de H. Schweizer s pretensas limitaes da concepao
aristotlica, inspiradas em Heidegger, perman-:cem dentro dos
supostos ideo-histricos da 9-ue sao os do pro-
prio Heidegger. Ver zu; Log!k der _Prax'I.S, op. pp. 228-243. .
139. Essas concepoes sao analisadas de um angulo antropol?-
gico que ressalta sua dimenso praxeolgica, por Louis pumox:t m
Homo Aequalis: gnese et panouissement de l'idologie
Paris Gallimard 1977, e Essais sur l'individualisme: une perspectwe
anthropologique 'sur Z'idologie moderne, Paris, Seui1, 1983 (tr. bras.,
Rio de Janeiro, Rocco, 1985). . ,
140. ver supra cap. II, n. 3. A ph_rnesis , ento,
no sentido moderno. Daqui as tentativas de restauraao. ?-e
tica da phrnesis no contexto de uma recuperao da tematlca ar1s:
totlica do ethos. Ver supra cap. II, nota 148. H. G. v a1
a fecundidade hermenutica atual do pensamento de Anstteles. Ver
Wahrheit und Methode: Grundzge einer phosophischen Hermeneu-
tik, ed., Tbingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1965, 295-307
141. Agressivamente visvel, por exemplo, no SY_steme Indus-
triel de Saint-Simon, o modelo tecn?crtico 1gualmente as
linhas de fundo do pensamento marxtano. A props1to, ver K. Axe-
los Marx penseur de la technique, Paris, Minuit, 1961, pp. 204-205.
' ,
112
I
A crise da :tica que se segue paradoxalmente ao rigo-
roso e grandioso intento de Kant para salvar a pureza da
Razo prtica e, nela, a imanncia recproca de razo e
liberdade - esta na sua incondicionalidade de "fato da ra-
zo" -
142
pe mostra o abalo profundo, nos prprios
fun&mentos do pensamento tico, dessa perda de especi-
ficidade da praxis como perfeio imanente do sujeito que
acompanha sua progressiva anexao pelo domnio da poe-
sis. A dialtica hegeliana do Esprito objetivo que situa a
interioridade do sujeito moral (MoralUat) como mediao
entre a primeira objetivao do Esprito em direo ao
mundo das coisas (Direito abstrato) e sua segunda obje-
tivao em direo ao mundo histrico (vida tica concre-
ta ou Sittlichkeit) representa por outro lado, na esteira da
Razo prtica de Kant, o mais amplo e rigoroso intento
terico para restaurar a originalidade e a inteligibilidade
da esfera da praxis. : nesse sentido que se pode
considerar
143
o problema hegeliano da relao entre mo-
ralidade e eticidade como o centro do qual irradiam as
linhas cardeais da reflexo tica contempornea.
Nessa grandiosa "rememorao" (Erinnerung) dialti-
ca da Geistesgeschichte do Ocidente que a Fenomenologia
d? Hegel exprime genialmente a situao da pra-
xts VIrtuosa no movimento dialtico da razo moderna
entendida como "Razo que opera" ou "Razo prtica":
opondo a sua individualidade encerrada na universalidade
abstrata do Bem e do Verdadeiro (a virtude) individua-
lidade e universalidade igualmente abstratas do "curso do
142. Na verdade, o nico "fato da razo" segundo Kant a lei
(Kritik der Vernuntt, I, 1, 7). Mas a' lei mo-
ral e, exatamente, le1 da liberdade que tem seu estatuto transcen-
dental ou sua aprioridade como forma pura do agir moral. Eis ai
uma das verses do formalismo moral kantiano. A Krtik der Ur-
teilskratt (li, 2, 91) dir que a liberdade a nica Idia da Razo
que tambm um "fato" (Tatsache) e a expresso Faktum der Ver-
nuntt tornar-se- freqente em Kant. Ver as referncias dasl no-
tas manuscritas de Kant in Bittner-Cramer (eds.) Materalien zu
Kants Kritik der praktischen Vernunft Frankfurt a. M. Suhrkamp
1975, p, 136. r I '
143. Ver supra, cap. II, 3 e nota 142. Sobre os problemas que
se colocam na passagem da Moralitt Sittlichkeit ver o estudo mi-
nucioso de L. Siep, Was heisst: "Aufhebung der Moralitt in Sittlich-
keit" in Hegels Rechtsphilosophie? apud Hegel-Studien 17 (1982)
75-96. , .
113
finida pelo projeto de um fazer ou de uma poesis, :la se
exaure toda na feitura de uma obra ou na execuao
uma tarefa exterior ao sujeito. A essencialidade. histn
ca da praxis assim entendida a partir da histria como
incessante jazer, como tchne obsessiva do
rizada pelo futuro como espao de pura possibill_dade.
A praxis enquanto histrica significa nessa perspectiva, que
domina as grandes concepes sociais e polticas dos tem-
pos modernos,
139
que o agir do homem verte a sua
realidade na obra do homem e que os homens se Igualam
fundamentalmente na sua relao ativa e operante com o
mundo. Esse predomnio do jazer e essa universalizao
quantitativa da praxis como predicado dos sujeitos
lizados na sua relao ativa com o mundo - na sua
dade poitica - significa, por outro lado, a. descentraqa?
da phrnesis na estrutura conceptual praxts e _s';la
o nas margens subjetivas do conheCimento pratico.
: apenas uma conseqncia, porm inelutvel,
reestruturao em torno do fazer tcnico do espiri-
tual da praxis, o vitorioso advento da tecnocracia na re-
gncia do domnio social e poltico e o fato de que o mo-
delo tecnocrtico se apresente como opo terica domi-
nante nos projetos e utopias de uma nova sociedade que
cadenciam a marcha da modernidade.
141
138. Ver Anexo 2 infra: Poltica e Histria. Desse ponto de
ta as criticas de H. Schweizer s pretensas limitaes da concepao
aristotlica, inspiradas em Heidegger, perman-:cem dentro dos
supostos ideo-histricos da 9-ue sao os do pro-
prio Heidegger. Ver zu; Log!k der _Prax'I.S, op. pp. 228-243. .
139. Essas concepoes sao analisadas de um angulo antropol?-
gico que ressalta sua dimenso praxeolgica, por Louis pumox:t m
Homo Aequalis: gnese et panouissement de l'idologie
Paris Gallimard 1977, e Essais sur l'individualisme: une perspectwe
anthropologique 'sur Z'idologie moderne, Paris, Seui1, 1983 (tr. bras.,
Rio de Janeiro, Rocco, 1985). . ,
140. ver supra cap. II, n. 3. A ph_rnesis , ento,
no sentido moderno. Daqui as tentativas de restauraao. ?-e
tica da phrnesis no contexto de uma recuperao da tematlca ar1s:
totlica do ethos. Ver supra cap. II, nota 148. H. G. v a1
a fecundidade hermenutica atual do pensamento de Anstteles. Ver
Wahrheit und Methode: Grundzge einer phosophischen Hermeneu-
tik, ed., Tbingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1965, 295-307
141. Agressivamente visvel, por exemplo, no SY_steme Indus-
triel de Saint-Simon, o modelo tecn?crtico 1gualmente as
linhas de fundo do pensamento marxtano. A props1to, ver K. Axe-
los Marx penseur de la technique, Paris, Minuit, 1961, pp. 204-205.
' ,
112
I
A crise da :tica que se segue paradoxalmente ao rigo-
roso e grandioso intento de Kant para salvar a pureza da
Razo prtica e, nela, a imanncia recproca de razo e
liberdade - esta na sua incondicionalidade de "fato da ra-
zo" -
142
pe mostra o abalo profundo, nos prprios
fun&mentos do pensamento tico, dessa perda de especi-
ficidade da praxis como perfeio imanente do sujeito que
acompanha sua progressiva anexao pelo domnio da poe-
sis. A dialtica hegeliana do Esprito objetivo que situa a
interioridade do sujeito moral (MoralUat) como mediao
entre a primeira objetivao do Esprito em direo ao
mundo das coisas (Direito abstrato) e sua segunda obje-
tivao em direo ao mundo histrico (vida tica concre-
ta ou Sittlichkeit) representa por outro lado, na esteira da
Razo prtica de Kant, o mais amplo e rigoroso intento
terico para restaurar a originalidade e a inteligibilidade
da esfera da praxis. : nesse sentido que se pode
considerar
143
o problema hegeliano da relao entre mo-
ralidade e eticidade como o centro do qual irradiam as
linhas cardeais da reflexo tica contempornea.
Nessa grandiosa "rememorao" (Erinnerung) dialti-
ca da Geistesgeschichte do Ocidente que a Fenomenologia
d? Hegel exprime genialmente a situao da pra-
xts VIrtuosa no movimento dialtico da razo moderna
entendida como "Razo que opera" ou "Razo prtica":
opondo a sua individualidade encerrada na universalidade
abstrata do Bem e do Verdadeiro (a virtude) individua-
lidade e universalidade igualmente abstratas do "curso do
142. Na verdade, o nico "fato da razo" segundo Kant a lei
(Kritik der Vernuntt, I, 1, 7). Mas a' lei mo-
ral e, exatamente, le1 da liberdade que tem seu estatuto transcen-
dental ou sua aprioridade como forma pura do agir moral. Eis ai
uma das verses do formalismo moral kantiano. A Krtik der Ur-
teilskratt (li, 2, 91) dir que a liberdade a nica Idia da Razo
que tambm um "fato" (Tatsache) e a expresso Faktum der Ver-
nuntt tornar-se- freqente em Kant. Ver as referncias dasl no-
tas manuscritas de Kant in Bittner-Cramer (eds.) Materalien zu
Kants Kritik der praktischen Vernunft Frankfurt a. M. Suhrkamp
1975, p, 136. r I '
143. Ver supra, cap. II, 3 e nota 142. Sobre os problemas que
se colocam na passagem da Moralitt Sittlichkeit ver o estudo mi-
nucioso de L. Siep, Was heisst: "Aufhebung der Moralitt in Sittlich-
keit" in Hegels Rechtsphilosophie? apud Hegel-Studien 17 (1982)
75-96. , .
113
mundo".
144
A caracterizao da virtude na figura do Ca-
valeiro da Virtude (D. Quixote) mostra a perda de subs-
tncia tica da ao virtuosa ou da praxis esvaziada da
mediao da hxis.
145
Ela reaparece na "moralidade" (no
sentido kantiano) ao termo da dialtica do Esprito, ope-
rando a transio para a esfera da Religio e do Saber
absoluto onde se dar a suprassuno (Aufhebung) do fe-
nomenolgico no lgico ou da Histria no Sistema. Na
arquitetura sistemtica do Esprito, a praxis tem seu lugar
como praxis virtuosa ( Tugend) justamente no momento
em que o ethos faz a sua apario na dialtica do Esprito
objetivo como vida tica concreta (Sittlichkeit)
146
ou como
sntese da liberdade subjetiva e da substncia tica objeti-
va. A praxis reencontra aqui o caminho do seu movimento
dialtico original elevando-se, como Esprito objetivo, sobre
a objetividade da natureza qual se refere a poesis.
147
Desta sorte a poesis, como atividade produtora, ficar su-
bordinada ao movimento dialtico da praxis, tendo o seu
lugar na dialtica da "sociedade civil", na esfera do "sis-
tema das necessidades".
148
Hegel repe assim, no centro
da tica, o conceito aristotlico de virtude,
149
articulando-o
ao conceito de dever (Pflicht), mas objetivado nas relaes
nas quais se particulariza a substncia tica.
150
144. Ver Phlinomenologie des Geistes V, B, C (ed. Hoffmeister,
ed., pp. 274-282). Um comentrio extremamente claro texto
em Claus A. Scheier, Analytischer Kommentar zu Hegels Phanome-
nologie des Geistes", Friburgo, Munique, Alber, 1980, PP. So-
bre a posio estrutural e o movimento desta figura .ver
p .-J. Labarrire, Structures et mouvement dzalecttque dans la Pheno-
mnologie de l'Esprit de Hegel, Paris, Aubier, 1968, pp. 95-108.
145. Ver supra, cap. I, nota 62.
146. Ver Grundlinten einer Philosophie des Rechts, 142-154, e
Enzyklopiidie der philosophtschen Wissenschaften (1830 ), 513-516.
147. Ver Grundlinien einer Phil. des Rechts, 146, nota.
148. Ver. Enz. der phtlos. Wissenschaften (1830), 524-528;
Grundl. einer Phil. des Rechts, 189-208. A poesis como Arte cons-
tituir, por sua vez, a primeira esfera do Esprito Absoluto [Enz.
(1830), 564-571].
149. A referncia mestes aristotlica feita explicitamente
em importante texto: Grundl. der Phil. des Rechts, 150, nota.
150. Ver Enz. der phil. Wiss. (1830), 516. A a virtude de-
finida como "a personalidade tica, isto , a subjetividade que
transpassada pela vida subs!ancial". o co_mentrio sugestiyo
de B. Quelquejeu, La volante dans la de Hegel, Paris,
Seuil, 1972, pp. 289-273 e o importante comentan? aos 142-156 da
Filosofia do Direito, de A. Peperzak, Hegels und
lehren, apud Hegel-Studien, 17 <1982): 97-117, e amda Udo Ramell,
114
O esforo tenaz de Hegel para reinstaurar na estrutura
abrangente do Sistema, a concepo platnico-aristotlica
da praxis, atestado pelas referncias explcitas do texto he-
geliano, visvel.
151
Ele subjaz, por outro lado, concepo
hegeliana da liberdade exposta como fundamento de toda
a dialtica do Esprito objetivo ou dialtica da idia de
liberdade concretizada no Direito.
152
Permanece, no entan-
to, dominante no pensamento hegeliano a descoberta mo-
derna da subjetividade como relao ativa e criadora com
o mundo, o que coloca o desenvolvimento do Esprito sob
o si_gno de. uma poesis infinitamente mais ampla, estendi-
da a totalldade do real.
153
Hegel afasta-se assim da tra-
dio da philosophia practica que predominara at Chris-
tian Wolff e, nesse sentido, por ele passaria a linha que
haveria de conduzir identidade absolutizada por Marx
entre praxis e poesis.
154
Fica assim, de p a questo: com
que xito logrou Hegel conciliar a idia moderna de sub-
jetividade e a idia clssica de eticidade e restaurar, nas
suas caractersticas originais de perfeio imanente (enr-
geia), o agir propriamente humano (praxis)? Eis a um
dos problemas mais rduos no s da Hegelforschung mas
igualmente, de toda a reflexo tica ps-hegeliana.
em suma, da interpretao adequada desse passo decisivo
da dialtica do Esprito objetivo que a suprassuno da
B_ittliches Sein und Subjektivitiit: Zur Genesis der Begrif! der Sitt-
lzchkeit in Hegels Rechtsphilosophie apud Hegel-Studien 16 (1981):
123-162. ' '
151. Ver B. Quelquejeu, op. cit., pp. 290-291. A recuperao he-
geliana da noo clssica de ethos remonta, como sabido, ao Sys-
tem der Sittlichkeit (1802-1803).
152. Grundlinien einer Phil. des Rechts, 1-28. Sobre esses
pargrafos, ver o comentrio de A. Peperzak citado no cap. II nota
155. Sobre a relao Hegel-Aristteles nesse contexto ver ibidem pp.
109-110. ' '
153. Eis o que escreve M. Riedel: " o carter laborioso (Ar-
beitscharakteT) da modernidade, acima mencionado, que Hegel, co-
mo nenhum outro, articulou e trouxe filosoficamente conscincia
e que determina o seu horizonte Theorie und Praxis
im Denken Hegels: Interpretationen zu den Grundstellungen der neu-
zeitlichen Subjektivitiit, Stuttgart, Kohlhammer, 1965, p. 77. Do mes-
mo autor, Spirito oggetivo e filosofia pratica, apud Hegel fra tradi-
zione e rivoluzione (traduo de E. Tota), Bari, Laterza 1975 pp.
' '
154. Essa a tese desenvolvida por M. Riedel em vrios escritos.
Ver Theorie und Praxis im Denken Hegels, Exkurs IV, pp. 224-226;
VII, pp. 228-230.
115
mundo".
144
A caracterizao da virtude na figura do Ca-
valeiro da Virtude (D. Quixote) mostra a perda de subs-
tncia tica da ao virtuosa ou da praxis esvaziada da
mediao da hxis.
145
Ela reaparece na "moralidade" (no
sentido kantiano) ao termo da dialtica do Esprito, ope-
rando a transio para a esfera da Religio e do Saber
absoluto onde se dar a suprassuno (Aufhebung) do fe-
nomenolgico no lgico ou da Histria no Sistema. Na
arquitetura sistemtica do Esprito, a praxis tem seu lugar
como praxis virtuosa ( Tugend) justamente no momento
em que o ethos faz a sua apario na dialtica do Esprito
objetivo como vida tica concreta (Sittlichkeit)
146
ou como
sntese da liberdade subjetiva e da substncia tica objeti-
va. A praxis reencontra aqui o caminho do seu movimento
dialtico original elevando-se, como Esprito objetivo, sobre
a objetividade da natureza qual se refere a poesis.
147
Desta sorte a poesis, como atividade produtora, ficar su-
bordinada ao movimento dialtico da praxis, tendo o seu
lugar na dialtica da "sociedade civil", na esfera do "sis-
tema das necessidades".
148
Hegel repe assim, no centro
da tica, o conceito aristotlico de virtude,
149
articulando-o
ao conceito de dever (Pflicht), mas objetivado nas relaes
nas quais se particulariza a substncia tica.
150
144. Ver Phlinomenologie des Geistes V, B, C (ed. Hoffmeister,
ed., pp. 274-282). Um comentrio extremamente claro texto
em Claus A. Scheier, Analytischer Kommentar zu Hegels Phanome-
nologie des Geistes", Friburgo, Munique, Alber, 1980, PP. So-
bre a posio estrutural e o movimento desta figura .ver
p .-J. Labarrire, Structures et mouvement dzalecttque dans la Pheno-
mnologie de l'Esprit de Hegel, Paris, Aubier, 1968, pp. 95-108.
145. Ver supra, cap. I, nota 62.
146. Ver Grundlinten einer Philosophie des Rechts, 142-154, e
Enzyklopiidie der philosophtschen Wissenschaften (1830 ), 513-516.
147. Ver Grundlinien einer Phil. des Rechts, 146, nota.
148. Ver. Enz. der phtlos. Wissenschaften (1830), 524-528;
Grundl. einer Phil. des Rechts, 189-208. A poesis como Arte cons-
tituir, por sua vez, a primeira esfera do Esprito Absoluto [Enz.
(1830), 564-571].
149. A referncia mestes aristotlica feita explicitamente
em importante texto: Grundl. der Phil. des Rechts, 150, nota.
150. Ver Enz. der phil. Wiss. (1830), 516. A a virtude de-
finida como "a personalidade tica, isto , a subjetividade que
transpassada pela vida subs!ancial". o co_mentrio sugestiyo
de B. Quelquejeu, La volante dans la de Hegel, Paris,
Seuil, 1972, pp. 289-273 e o importante comentan? aos 142-156 da
Filosofia do Direito, de A. Peperzak, Hegels und
lehren, apud Hegel-Studien, 17 <1982): 97-117, e amda Udo Ramell,
114
O esforo tenaz de Hegel para reinstaurar na estrutura
abrangente do Sistema, a concepo platnico-aristotlica
da praxis, atestado pelas referncias explcitas do texto he-
geliano, visvel.
151
Ele subjaz, por outro lado, concepo
hegeliana da liberdade exposta como fundamento de toda
a dialtica do Esprito objetivo ou dialtica da idia de
liberdade concretizada no Direito.
152
Permanece, no entan-
to, dominante no pensamento hegeliano a descoberta mo-
derna da subjetividade como relao ativa e criadora com
o mundo, o que coloca o desenvolvimento do Esprito sob
o si_gno de. uma poesis infinitamente mais ampla, estendi-
da a totalldade do real.
153
Hegel afasta-se assim da tra-
dio da philosophia practica que predominara at Chris-
tian Wolff e, nesse sentido, por ele passaria a linha que
haveria de conduzir identidade absolutizada por Marx
entre praxis e poesis.
154
Fica assim, de p a questo: com
que xito logrou Hegel conciliar a idia moderna de sub-
jetividade e a idia clssica de eticidade e restaurar, nas
suas caractersticas originais de perfeio imanente (enr-
geia), o agir propriamente humano (praxis)? Eis a um
dos problemas mais rduos no s da Hegelforschung mas
igualmente, de toda a reflexo tica ps-hegeliana.
em suma, da interpretao adequada desse passo decisivo
da dialtica do Esprito objetivo que a suprassuno da
B_ittliches Sein und Subjektivitiit: Zur Genesis der Begrif! der Sitt-
lzchkeit in Hegels Rechtsphilosophie apud Hegel-Studien 16 (1981):
123-162. ' '
151. Ver B. Quelquejeu, op. cit., pp. 290-291. A recuperao he-
geliana da noo clssica de ethos remonta, como sabido, ao Sys-
tem der Sittlichkeit (1802-1803).
152. Grundlinien einer Phil. des Rechts, 1-28. Sobre esses
pargrafos, ver o comentrio de A. Peperzak citado no cap. II nota
155. Sobre a relao Hegel-Aristteles nesse contexto ver ibidem pp.
109-110. ' '
153. Eis o que escreve M. Riedel: " o carter laborioso (Ar-
beitscharakteT) da modernidade, acima mencionado, que Hegel, co-
mo nenhum outro, articulou e trouxe filosoficamente conscincia
e que determina o seu horizonte Theorie und Praxis
im Denken Hegels: Interpretationen zu den Grundstellungen der neu-
zeitlichen Subjektivitiit, Stuttgart, Kohlhammer, 1965, p. 77. Do mes-
mo autor, Spirito oggetivo e filosofia pratica, apud Hegel fra tradi-
zione e rivoluzione (traduo de E. Tota), Bari, Laterza 1975 pp.
' '
154. Essa a tese desenvolvida por M. Riedel em vrios escritos.
Ver Theorie und Praxis im Denken Hegels, Exkurs IV, pp. 224-226;
VII, pp. 228-230.
115
moralidade na eticidade e que um filsofo como E. Tu-
gendhat no hesitou em caracterizar como "perverso mo-
ral".
155
No centro do problema, encontra-se justamente a
noo de "virtude" que Hegel, fiel indiscutivelmente tra-
dio grega da aret, situa ao mesmo tempo nos fundamen-
tos e no pice da vida tica - nos fundamentos como
ethos (costume) e no pice como ethos (hbito) -
156
e
a relao fundamental entre eticidade e razo que, aos olhos
de Hegel, recebe sua expresso grandiosa e audaz na pr-
pria lgica do Sistema.
167
Nela, o conceito aristotlico de
enrgeia encontra seu correspondente na determinao do
Esprito subjetivo que deve ser o que ou auto-realizar-se
na sua atividade terica e prtica.
168
Hegel concebe o Esp-
rito subjetivo ou finito empenhado nesse processo de auto-
-realizao ou autodesenvolvimento,
169
no qual deve adequar
seu agir sua razo ou a praxis ao logos. Essa adequao
orientar justamente o roteiro dialtico do Esprito obje-
tivo. Nesse roteiro, um ponto nodal alcanado exatamen-
te na passagem da moralidade eticidade quando Hegel,
como acima se observou, reencontra o conceito aristotlico
de virtude (aret), articulando-o com a racionalidade obje-
tiva do ethos.
160
Mas o logos hegeliano, ao perseguir a conciliao entre
a subjetividade e o ethos, envolve o indivduo na necessida-
de inteligvel do Todo- pois o "verdadeiro o Todo"-,
161
155. Ver Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt a.
M., Suhrkamp, 1979, e a apreciao crtica de L. Siep, "Kehraus mit
Hegel?" im Zeitschrift fr philosophische Forschung, 35 (1981): 518-
-530 e o artigo do mesmo autor, supra, nota 143. Ver tambm O.
Pggeler, Selbstbewusstsein und Identitiit, apud Hegel-Studien, 16
(1981): 188-217 (aqui pp. 198-207).
156. Grundlinien einer Phil. des Rechts, 151. Ver a nota ma-
nuscrita de Hegel a essa passagem e o Zusatz da ed. Gans (Werke,
red. Moldenhauer-Michel, 7, pp. 301-302).
157. nosso propsito voltar a esse problema em Escritos de
Filosofia IV: a Construo do Sistema Hegeliano.
158. Ver Enzyklopadie der philosophischen Wissenschajten (1830),
440-444.
159. Ver Enz. d. phil. Wiss. (1830), 442.
160. Esse aspecto realado no artigo fundamental de A. Pe-
perzak Moralische Aspekte der Hegelschen Philosophie, apud H. C.
Lucas,' O. Pggeler (eds.), Hegels Rechtsphilosophie im Zusammen-
hang der europiitschen Verjassungsgeschichte, Stuttgart, Frommann-
Holzboog, 1986, pp. 447-463.
161. "Das Wahre ist das Ganze" (Phnomenologie des Geistes,
Vorrede, Werke, red. Moldenhauer-Michel, 3, P. 24).
116
de sorte que a "doutrina dos deveres",
162
qual corres-
pende a _?as virtudes no indivduo,
163
logicamente
uma determmaao da eticidade substancial ou um mo-
mento da Razo universal que se desdobra dialeticamente
como_ Esprito objetivo. Assim, a relao hegeliana entre
theorza e praxis eleva, com majestosa necessidade a sabe-
do:ia (ou a phrnesis, no sentido aristotlico)
universalidade da Idia do Bem, cujo desenrolar dialtico
se particulariza justamente na correlao dos deveres e vir-
tudes _indivduo.
164
O platonismo de Hegel retoma aqui
seus. dire1Atos!
165
mas a transcendncia da Idia d lugar
sua 1manenma no tempo como Esprito objetivo ou como
Histria.
no plano dessa articulao conceptual primeira entre
pra:zs e logos ou entre o agir humano e a razo que nele
habita e o conduz - articulao na qual descansa todo o
da tica_ - a_ recuperao hegeliana da noo
classiCa de praxzs distancm-se da perspectiva fundamental
de Aristteles, cujo centro de irradiao justamente a
sabedoria prtica ou a phrnesis.
166
A discusso em tomo
da Sittlichkeit hegeliana torna-se, desta sorte, a discusso
em torno da possibilidade de restituio da phrnesis sua
posio mediadora entre as virtudes ticas e a theora essa
redefinida segundo as condies atuais do saber. A
rao da phrnesis aristotlica adquire por outro lado um
significado peculiar no momento em o he-
162. Grundlinien einer Philosophie des Rechts 148 nota
163. Ibidem, 150. '
164. "Os deveres do indivduo no so outra coisa seno as de-
terminaes necessrias nas quais a liberdade ou a Idia do Bem se
c?ncretizam". A. Peperzak, Hegels Pfichten-und Tugendlehre, art.
Clt., p. 104.
165. S_obre o platonismo da tica hegeliana ver A. Peperzak,
Hegels Pflzchten-und Tugendlehre, art. cit., pp. 110-111. Peperzak
ch_ama l!' aten_o para o fato de que a phrnesis e o orths lgos
aristotlicos nao desempenham nenhum papel essencial na funda-
mentao hegeliana da virtude.
Distanciamento que, convm cbserv-lo, tem seu ponto de
partida na reinterpretao hegeliana da enrgeia aristotlica em ter-
mos da subjetividade moderna e a extenso, a todo o domnio do
da nesis nose6s que caracteriza, para Aristteles, a vida
<i_!vina: o que vem retirar theoria aristotlica seu objeto e sua ra-
zao de ser. Ver D. Janicaud, Hegel et le destin de la Grece Paris
Vrin, 1975, ,PP- 298-301 e P. Aubenque, Hegel et Aristote, apud Hegei
et la pensee grecque, Paris, PUF, . 1974, pp. 97-120: luminoso ensaio
sobre o alcance e os limites da utilizao hegeliana de Aristteles.
117
moralidade na eticidade e que um filsofo como E. Tu-
gendhat no hesitou em caracterizar como "perverso mo-
ral".
155
No centro do problema, encontra-se justamente a
noo de "virtude" que Hegel, fiel indiscutivelmente tra-
dio grega da aret, situa ao mesmo tempo nos fundamen-
tos e no pice da vida tica - nos fundamentos como
ethos (costume) e no pice como ethos (hbito) -
156
e
a relao fundamental entre eticidade e razo que, aos olhos
de Hegel, recebe sua expresso grandiosa e audaz na pr-
pria lgica do Sistema.
167
Nela, o conceito aristotlico de
enrgeia encontra seu correspondente na determinao do
Esprito subjetivo que deve ser o que ou auto-realizar-se
na sua atividade terica e prtica.
168
Hegel concebe o Esp-
rito subjetivo ou finito empenhado nesse processo de auto-
-realizao ou autodesenvolvimento,
169
no qual deve adequar
seu agir sua razo ou a praxis ao logos. Essa adequao
orientar justamente o roteiro dialtico do Esprito obje-
tivo. Nesse roteiro, um ponto nodal alcanado exatamen-
te na passagem da moralidade eticidade quando Hegel,
como acima se observou, reencontra o conceito aristotlico
de virtude (aret), articulando-o com a racionalidade obje-
tiva do ethos.
160
Mas o logos hegeliano, ao perseguir a conciliao entre
a subjetividade e o ethos, envolve o indivduo na necessida-
de inteligvel do Todo- pois o "verdadeiro o Todo"-,
161
155. Ver Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt a.
M., Suhrkamp, 1979, e a apreciao crtica de L. Siep, "Kehraus mit
Hegel?" im Zeitschrift fr philosophische Forschung, 35 (1981): 518-
-530 e o artigo do mesmo autor, supra, nota 143. Ver tambm O.
Pggeler, Selbstbewusstsein und Identitiit, apud Hegel-Studien, 16
(1981): 188-217 (aqui pp. 198-207).
156. Grundlinien einer Phil. des Rechts, 151. Ver a nota ma-
nuscrita de Hegel a essa passagem e o Zusatz da ed. Gans (Werke,
red. Moldenhauer-Michel, 7, pp. 301-302).
157. nosso propsito voltar a esse problema em Escritos de
Filosofia IV: a Construo do Sistema Hegeliano.
158. Ver Enzyklopadie der philosophischen Wissenschajten (1830),
440-444.
159. Ver Enz. d. phil. Wiss. (1830), 442.
160. Esse aspecto realado no artigo fundamental de A. Pe-
perzak Moralische Aspekte der Hegelschen Philosophie, apud H. C.
Lucas,' O. Pggeler (eds.), Hegels Rechtsphilosophie im Zusammen-
hang der europiitschen Verjassungsgeschichte, Stuttgart, Frommann-
Holzboog, 1986, pp. 447-463.
161. "Das Wahre ist das Ganze" (Phnomenologie des Geistes,
Vorrede, Werke, red. Moldenhauer-Michel, 3, P. 24).
116
de sorte que a "doutrina dos deveres",
162
qual corres-
pende a _?as virtudes no indivduo,
163
logicamente
uma determmaao da eticidade substancial ou um mo-
mento da Razo universal que se desdobra dialeticamente
como_ Esprito objetivo. Assim, a relao hegeliana entre
theorza e praxis eleva, com majestosa necessidade a sabe-
do:ia (ou a phrnesis, no sentido aristotlico)
universalidade da Idia do Bem, cujo desenrolar dialtico
se particulariza justamente na correlao dos deveres e vir-
tudes _indivduo.
164
O platonismo de Hegel retoma aqui
seus. dire1Atos!
165
mas a transcendncia da Idia d lugar
sua 1manenma no tempo como Esprito objetivo ou como
Histria.
no plano dessa articulao conceptual primeira entre
pra:zs e logos ou entre o agir humano e a razo que nele
habita e o conduz - articulao na qual descansa todo o
da tica_ - a_ recuperao hegeliana da noo
classiCa de praxzs distancm-se da perspectiva fundamental
de Aristteles, cujo centro de irradiao justamente a
sabedoria prtica ou a phrnesis.
166
A discusso em tomo
da Sittlichkeit hegeliana torna-se, desta sorte, a discusso
em torno da possibilidade de restituio da phrnesis sua
posio mediadora entre as virtudes ticas e a theora essa
redefinida segundo as condies atuais do saber. A
rao da phrnesis aristotlica adquire por outro lado um
significado peculiar no momento em o he-
162. Grundlinien einer Philosophie des Rechts 148 nota
163. Ibidem, 150. '
164. "Os deveres do indivduo no so outra coisa seno as de-
terminaes necessrias nas quais a liberdade ou a Idia do Bem se
c?ncretizam". A. Peperzak, Hegels Pfichten-und Tugendlehre, art.
Clt., p. 104.
165. S_obre o platonismo da tica hegeliana ver A. Peperzak,
Hegels Pflzchten-und Tugendlehre, art. cit., pp. 110-111. Peperzak
ch_ama l!' aten_o para o fato de que a phrnesis e o orths lgos
aristotlicos nao desempenham nenhum papel essencial na funda-
mentao hegeliana da virtude.
Distanciamento que, convm cbserv-lo, tem seu ponto de
partida na reinterpretao hegeliana da enrgeia aristotlica em ter-
mos da subjetividade moderna e a extenso, a todo o domnio do
da nesis nose6s que caracteriza, para Aristteles, a vida
<i_!vina: o que vem retirar theoria aristotlica seu objeto e sua ra-
zao de ser. Ver D. Janicaud, Hegel et le destin de la Grece Paris
Vrin, 1975, ,PP- 298-301 e P. Aubenque, Hegel et Aristote, apud Hegei
et la pensee grecque, Paris, PUF, . 1974, pp. 97-120: luminoso ensaio
sobre o alcance e os limites da utilizao hegeliana de Aristteles.
117
geliano do Sistema se torna sempre mais problemtic:o-
Aqui reside, sem dvida, o convite a uma rel!lemoraao
ps-hegeliana da tica aristotlica, que a reflexao contem-
pornea recebe como uma das suas tarefas mais importan-
tes. 16,
4. TICA E TEORIA
Ao situar a phrnesis no centro do universo da
Aristteles confere racionalidade prtica um estatuto ori-
ginal que repousa sobre a funo ent:e o
e
0
logos atribudo Aque:e e
no indivduo pelas virtudes etlcas que sao propriamente ll!ll
"hbito eletivo" (hxis proairetik) ac?mpanhado_ razao
( met lgou); este transpe as d? para
retomar a sua primazia absoluta na energeta perfeita do
ato mais elevado da alma: a contemplao (theora).
O Zogos estende pois as suas linhas s?b_re todo o
da praxis, mas passa alm: e o ultimo da
prtica ir definir-se na perspectiva dessa transcendencm
do Zogos. Aristteles mostra-se, desta_ sorte,
fiel inspirao que preside ao nasCime:r:to da tica como
cincia: a explicitao reflexiva do logos ao eth?s,
de acordo com a estrutura de um saber CientiCo; e fiel
igualmente tradio da filosofia su?limada_ por Pla-
to, que submete os interesses da aao a gratmdade da
contemplao.
Ora o saber no qual se explicita reflexivamente o logos
ao ethos - ou o discurso da cincia tica -
justamente, segundo Aristteles, um _saber
tecido na prpria estrutura da praxzs, ele nao se articula
em razo da teoria (ou theoras '. mas d?
processo do "tornar-se bom" do SUJeito (ma geno-
metha). 16s Assim, a presena do logos no dommm ?a pra-
xis uma presena normativa e finalizante. Ele e ;egra
e ordem e, nesse sentido, "razo reta" (orthos Zog_os).
Mas a medida e a destinao que a ao recebe do lagos
167 Na autocaracterizao de Eric Weil como um "kantiano ps-
est presente tambm o seu de;>
tico estudado excelentemente por Marcelo Perine, !:tlosotza e
cia: sentido e inteno da filosofia de Eric Weil, Sao Paulo, Edioes
Loyola, (col. Filosofia, 6), 1987, pp. 201-266.
168. t. Nic., li, 2, 1103 b 26-28.
118
no procedem de uma regulao ab extrnseco, nem desig-
nam a participao do indivduo no desenvolvimento his-
trico de um Esprito universal. O logos plasma ab intrn-
seco a praxis, para comunicar-lhe esta irradiao ad extra
de harmonia e beleza que denota a identidade do belo (to
kaln) e do bom (to agathn) como atributos essenciais
ao virtuosa.
169
O carter eminentemente prtico da cincia do ethos
ir justamente repor em termos originais e propriamente
aristotlicos a questo fundamental da theoria. Ela est,
com efeito, na origem dos dois problemas maiores para
cuja soluo se ordena toda a articulao conceptual da
pragmateia tica de Aristteles. O primeiro diz respeito
forma e s modalidades da imanncia do Zogos na comple-
xa estrutura da praxis humana e na contingncia do seu
acontecer. Ele objeto das sutis anlises psicolgicas da
tica de Nicmaco, no livro III, captulos 1 a 8.
170
O se-
gundo diz respeito s conseqncias que decorrem para a
praxis da ordenao da sua estrutura sob a gide do logos:
a exigncia de fundamentao e a primazia do fim. A con-
cepo da phrnesis est no centro da soluo aristotlica
a esses dois problemas. De um lado, com efeito, ela orde-
na teleologicamente a estrutura da praxis e permite distin-
guir entre os elementos que so meios na prossecuo do
fim (pros to tlos) e a prpria inteno do fim (tlos).
171
De outro lado, ao submeter a praxis norma ou retido
da ordem (orthos lgos), a phrnesis impe-lhe a exigncia
da perfeio ou da atualizao da virtude (a aret uma
enrgeia) que ir encontrar a tendncia mais profunda da
natureza humana para a plenitude da sua auto-realizao
(eudaimona).
172
No horizonte da eudaimona, ir descer-
rar-se, por sua vez, a perspectiva transcendente da theora.
Orientado pelo alvo da eudaimona, o dinamismo da ao
169. Ver o admirvel captulo de L. Oll-Laprune sobre "o belo
ou a regra moral segundo Aristteles" in Essai sur la Morale d'Aris-
tote, op. cit., pp. 77-120.
170. Ver t. Eud., li, c. 6-11.
171. Donde a distino entre a deliberao sobre os meios (boul)
e o desgnio ou inteno do fim (bolsis), t Nic., Ili, c. 5 e 6.
172. Sobre a eudaimona em Aristteles considerada a partir da
atividade mediadora da phrnesis, ver M. Ganter, Mittel und Ziel
in der praktischen Philosophie des Aristoteles, op. cit., pp. 21-31. Ver
tambm J. Vanier, Le Bonheur, prncipe et !in de la morale aristo-
tlicienne, Paris, Descle, 1965, pp. 120-166.
119
geliano do Sistema se torna sempre mais problemtic:o-
Aqui reside, sem dvida, o convite a uma rel!lemoraao
ps-hegeliana da tica aristotlica, que a reflexao contem-
pornea recebe como uma das suas tarefas mais importan-
tes. 16,
4. TICA E TEORIA
Ao situar a phrnesis no centro do universo da
Aristteles confere racionalidade prtica um estatuto ori-
ginal que repousa sobre a funo ent:e o
e
0
logos atribudo Aque:e e
no indivduo pelas virtudes etlcas que sao propriamente ll!ll
"hbito eletivo" (hxis proairetik) ac?mpanhado_ razao
( met lgou); este transpe as d? para
retomar a sua primazia absoluta na energeta perfeita do
ato mais elevado da alma: a contemplao (theora).
O Zogos estende pois as suas linhas s?b_re todo o
da praxis, mas passa alm: e o ultimo da
prtica ir definir-se na perspectiva dessa transcendencm
do Zogos. Aristteles mostra-se, desta_ sorte,
fiel inspirao que preside ao nasCime:r:to da tica como
cincia: a explicitao reflexiva do logos ao eth?s,
de acordo com a estrutura de um saber CientiCo; e fiel
igualmente tradio da filosofia su?limada_ por Pla-
to, que submete os interesses da aao a gratmdade da
contemplao.
Ora o saber no qual se explicita reflexivamente o logos
ao ethos - ou o discurso da cincia tica -
justamente, segundo Aristteles, um _saber
tecido na prpria estrutura da praxzs, ele nao se articula
em razo da teoria (ou theoras '. mas d?
processo do "tornar-se bom" do SUJeito (ma geno-
metha). 16s Assim, a presena do logos no dommm ?a pra-
xis uma presena normativa e finalizante. Ele e ;egra
e ordem e, nesse sentido, "razo reta" (orthos Zog_os).
Mas a medida e a destinao que a ao recebe do lagos
167 Na autocaracterizao de Eric Weil como um "kantiano ps-
est presente tambm o seu de;>
tico estudado excelentemente por Marcelo Perine, !:tlosotza e
cia: sentido e inteno da filosofia de Eric Weil, Sao Paulo, Edioes
Loyola, (col. Filosofia, 6), 1987, pp. 201-266.
168. t. Nic., li, 2, 1103 b 26-28.
118
no procedem de uma regulao ab extrnseco, nem desig-
nam a participao do indivduo no desenvolvimento his-
trico de um Esprito universal. O logos plasma ab intrn-
seco a praxis, para comunicar-lhe esta irradiao ad extra
de harmonia e beleza que denota a identidade do belo (to
kaln) e do bom (to agathn) como atributos essenciais
ao virtuosa.
169
O carter eminentemente prtico da cincia do ethos
ir justamente repor em termos originais e propriamente
aristotlicos a questo fundamental da theoria. Ela est,
com efeito, na origem dos dois problemas maiores para
cuja soluo se ordena toda a articulao conceptual da
pragmateia tica de Aristteles. O primeiro diz respeito
forma e s modalidades da imanncia do Zogos na comple-
xa estrutura da praxis humana e na contingncia do seu
acontecer. Ele objeto das sutis anlises psicolgicas da
tica de Nicmaco, no livro III, captulos 1 a 8.
170
O se-
gundo diz respeito s conseqncias que decorrem para a
praxis da ordenao da sua estrutura sob a gide do logos:
a exigncia de fundamentao e a primazia do fim. A con-
cepo da phrnesis est no centro da soluo aristotlica
a esses dois problemas. De um lado, com efeito, ela orde-
na teleologicamente a estrutura da praxis e permite distin-
guir entre os elementos que so meios na prossecuo do
fim (pros to tlos) e a prpria inteno do fim (tlos).
171
De outro lado, ao submeter a praxis norma ou retido
da ordem (orthos lgos), a phrnesis impe-lhe a exigncia
da perfeio ou da atualizao da virtude (a aret uma
enrgeia) que ir encontrar a tendncia mais profunda da
natureza humana para a plenitude da sua auto-realizao
(eudaimona).
172
No horizonte da eudaimona, ir descer-
rar-se, por sua vez, a perspectiva transcendente da theora.
Orientado pelo alvo da eudaimona, o dinamismo da ao
169. Ver o admirvel captulo de L. Oll-Laprune sobre "o belo
ou a regra moral segundo Aristteles" in Essai sur la Morale d'Aris-
tote, op. cit., pp. 77-120.
170. Ver t. Eud., li, c. 6-11.
171. Donde a distino entre a deliberao sobre os meios (boul)
e o desgnio ou inteno do fim (bolsis), t Nic., Ili, c. 5 e 6.
172. Sobre a eudaimona em Aristteles considerada a partir da
atividade mediadora da phrnesis, ver M. Ganter, Mittel und Ziel
in der praktischen Philosophie des Aristoteles, op. cit., pp. 21-31. Ver
tambm J. Vanier, Le Bonheur, prncipe et !in de la morale aristo-
tlicienne, Paris, Descle, 1965, pp. 120-166.
119
virtuosa dever manifestar a sua enrgea numa plenitude
do viver e do agir
173
que encontrar finalmente sua forma
acabada no repouso supremamente ativo da theora.
174
V-se, por conseguinte, que um fio discursivo sem so-
luo de continuidade une e entrelaa os temas da pragma-
teia tica de Aristteles. Ele desenrola, na verdade, o ca-
minho do lagos no campo do agir humano e encontra seu
ponto central e nodal no tema da phrnesis.
175
pon-
tos extremos so de um lado o tema da eudazmoma
176
e,
de outro, o tema 'da theora.
177
Quaisquer que tenham sido
as vicissitudes da composio e edio da tica de Nic-
maco, seu texto, tal como o possumos, apresenta, deste
ponto de vista, uma indiscutvel unidade lgica que arti-
cula a discusso inicial sobre a eudaimona com a celebra-
o final da theora. A natureza (physis) e o costume
( ethos) so conduzidos pela razo ( Zogos) e iro assinalar
as estaes do caminho que se estende da eudaimona
theora.
178
Trata-se aqui do caminho do discurso tico ou
da teoria da praxis como teoria prtica que no somente
o caminho do devir do saber,
179
mas o caminho do devir
do sujeito do saber no movimento do seu "tornar-se bom"
(na agatho'i genmetha) ou devir, no sujeito, da sua euda-
mona como bem propriamente humano.
180
O fio do dis-
curso tico desenrola-se, assim, segundo uma finalidade
imanente que no outra seno a transformao da praxis
em eupraxia,
181
ou a realizao da "obra de verdade" (ale-
thuein) da prpria praxis, sua atualizao no bem ou sua
173. t d'eu zen kal t eu prttein (t Nic., I, 2, 1095 a 18-20).
A transposio conceptual dessa expresso universal do ethos vivido
o tema fundamental das ticas de Aristteles.
174. Com efeito a theora a nica forma de atividade (enr-
geia) que , igualmente, um repouso ou lazer (schol) t Nic., X, 7,
1177 b 16-25.
175. t. Nic., VI, c. 5-12.
176. t Nic., I, c. 2-12.
177. t. Nic., X, c. 6-9.
178. Como observa J. Moreau, Aristteles ir fundir numa s
as trs concepes que definem a virtude como "natureza", "cos-
tume" e "razo". Ver Aristote et son cole, op. cit., p. 214.
179. Como o o discurso da cincia terica. .
180. Sobre a originalidade hermenutica do discurso da tlca
aristotlica sobretudo comparada com a produo da tchne, ver
H.-G. Gadmer, Wahrheit und Methode, op. cit., pp. 297-298.
181. sti gr aute he eupraxa tlos, t. Nic., VI, 5, 1040 b 7.
120
a virtude.
182
Ora, a eudaimona perfeita
e a theorza. Ela , tambm, a perfeita e mais alta enrgeia.
Se a cincia prtica se distingue rigorosamente da cincia
terica, essa distino metodolgica abre caminho, por sua
vez, para uma unidade mais profunda da teoria e da pr-
tica no momento em que, conduzida pelo dinamismo do
bem (eu prttein) ou finalizada pela eupraxa, a praxis
reencontra a theora como bem supremo do homem.
No entanto, a continuidade e a coerncia do discurso
tico aristotlico somente se manifestam, convm repeti-lo,
se nos situarmos na perspectiva que se abre a partir do
lugar central nele ocupado pela phrnesis. Tendo como
alvo explicitar o logos como forma do agir tico e, assim,
torn-lo efetivo como agir razovel, a perspectiva da phr-
nesis permite a Aristteles evidenciar, de um lado, a ima-
nncia do logos praxis, constituindo-se como a sua ente-
lquia e orientando-a para a sua plena realizao na aret;
e,. de outro, afirmar a transcendncia do logos sobre a pra-
xzs ao estabelecer a subordinao da phrnesis sopha
1
8s
e ao orientar assim todo o movimento da praxis para o
telos supremo da theora.
1
84
A unidade do discurso tico supe, por conseguinte,
que a funo mediadora da phrnesis se exera em duas
ordens de causalidade. Em primeiro lugar, na ordem da
causalidade eficiente na qual se desenrola o processo psi-
colgico do agir tico - e a passagem da aret natural
para a aret tica -
185
e na qual a phrnesis est presente
pela orientao do desejo (rexis) que a causa eficiente
primeira na gnese da ao reta ( eupraxa) atravs da de-
ciso ( proaresis) acompanhada da deliberao ( boul) e
do desgnio ou inteno ( bolsis)
186
A compenetrao ple-
182 .. H. Schweizer, Zur Logik der Praxis, op. cit., pp. 79-80,
e a defm1ao phrnesis em t. Nic., VI, 5, 1140 b 4-5.
183. t. Ntc., VI, 7, 1141 a 20-21; VI, 13, 1145 a 6-11.
184. Ver a excelente exposio de K.-H. Volkmann-Schluck
Ethos und Wissen in der nikomachischen Ethik des Aristoteles apud
Sein und Ethos (ed. P. Engelhardt), op. cit., pp. 56-68. '
185. Mais exatamente: passagem das disposies naturais
aret propriamente dita (t. Nic., II, 1, 1003 a 24-25). Sobre a aret
natural ver t Eud., III, 7, 1234 a 27-33; t Nic., VI, 13, 1144 b 1-16.
186 . O processo psicolgico do agir tico segundo Aristteles
descrito minuciosamente por R. A. Gauthier em Gauthier-Jol L'thi-
que Nicomaque, Comm., II, 1, pp. 209-212. Ver igualmente I. D-
ring, Aristteles, pp. 462-463. A presena do logos se anuncia desde
o inicio com a intuio do bem opervel (t praktn) pelo intelecto
121
virtuosa dever manifestar a sua enrgea numa plenitude
do viver e do agir
173
que encontrar finalmente sua forma
acabada no repouso supremamente ativo da theora.
174
V-se, por conseguinte, que um fio discursivo sem so-
luo de continuidade une e entrelaa os temas da pragma-
teia tica de Aristteles. Ele desenrola, na verdade, o ca-
minho do lagos no campo do agir humano e encontra seu
ponto central e nodal no tema da phrnesis.
175
pon-
tos extremos so de um lado o tema da eudazmoma
176
e,
de outro, o tema 'da theora.
177
Quaisquer que tenham sido
as vicissitudes da composio e edio da tica de Nic-
maco, seu texto, tal como o possumos, apresenta, deste
ponto de vista, uma indiscutvel unidade lgica que arti-
cula a discusso inicial sobre a eudaimona com a celebra-
o final da theora. A natureza (physis) e o costume
( ethos) so conduzidos pela razo ( Zogos) e iro assinalar
as estaes do caminho que se estende da eudaimona
theora.
178
Trata-se aqui do caminho do discurso tico ou
da teoria da praxis como teoria prtica que no somente
o caminho do devir do saber,
179
mas o caminho do devir
do sujeito do saber no movimento do seu "tornar-se bom"
(na agatho'i genmetha) ou devir, no sujeito, da sua euda-
mona como bem propriamente humano.
180
O fio do dis-
curso tico desenrola-se, assim, segundo uma finalidade
imanente que no outra seno a transformao da praxis
em eupraxia,
181
ou a realizao da "obra de verdade" (ale-
thuein) da prpria praxis, sua atualizao no bem ou sua
173. t d'eu zen kal t eu prttein (t Nic., I, 2, 1095 a 18-20).
A transposio conceptual dessa expresso universal do ethos vivido
o tema fundamental das ticas de Aristteles.
174. Com efeito a theora a nica forma de atividade (enr-
geia) que , igualmente, um repouso ou lazer (schol) t Nic., X, 7,
1177 b 16-25.
175. t. Nic., VI, c. 5-12.
176. t Nic., I, c. 2-12.
177. t. Nic., X, c. 6-9.
178. Como observa J. Moreau, Aristteles ir fundir numa s
as trs concepes que definem a virtude como "natureza", "cos-
tume" e "razo". Ver Aristote et son cole, op. cit., p. 214.
179. Como o o discurso da cincia terica. .
180. Sobre a originalidade hermenutica do discurso da tlca
aristotlica sobretudo comparada com a produo da tchne, ver
H.-G. Gadmer, Wahrheit und Methode, op. cit., pp. 297-298.
181. sti gr aute he eupraxa tlos, t. Nic., VI, 5, 1040 b 7.
120
a virtude.
182
Ora, a eudaimona perfeita
e a theorza. Ela , tambm, a perfeita e mais alta enrgeia.
Se a cincia prtica se distingue rigorosamente da cincia
terica, essa distino metodolgica abre caminho, por sua
vez, para uma unidade mais profunda da teoria e da pr-
tica no momento em que, conduzida pelo dinamismo do
bem (eu prttein) ou finalizada pela eupraxa, a praxis
reencontra a theora como bem supremo do homem.
No entanto, a continuidade e a coerncia do discurso
tico aristotlico somente se manifestam, convm repeti-lo,
se nos situarmos na perspectiva que se abre a partir do
lugar central nele ocupado pela phrnesis. Tendo como
alvo explicitar o logos como forma do agir tico e, assim,
torn-lo efetivo como agir razovel, a perspectiva da phr-
nesis permite a Aristteles evidenciar, de um lado, a ima-
nncia do logos praxis, constituindo-se como a sua ente-
lquia e orientando-a para a sua plena realizao na aret;
e,. de outro, afirmar a transcendncia do logos sobre a pra-
xzs ao estabelecer a subordinao da phrnesis sopha
1
8s
e ao orientar assim todo o movimento da praxis para o
telos supremo da theora.
1
84
A unidade do discurso tico supe, por conseguinte,
que a funo mediadora da phrnesis se exera em duas
ordens de causalidade. Em primeiro lugar, na ordem da
causalidade eficiente na qual se desenrola o processo psi-
colgico do agir tico - e a passagem da aret natural
para a aret tica -
185
e na qual a phrnesis est presente
pela orientao do desejo (rexis) que a causa eficiente
primeira na gnese da ao reta ( eupraxa) atravs da de-
ciso ( proaresis) acompanhada da deliberao ( boul) e
do desgnio ou inteno ( bolsis)
186
A compenetrao ple-
182 .. H. Schweizer, Zur Logik der Praxis, op. cit., pp. 79-80,
e a defm1ao phrnesis em t. Nic., VI, 5, 1140 b 4-5.
183. t. Ntc., VI, 7, 1141 a 20-21; VI, 13, 1145 a 6-11.
184. Ver a excelente exposio de K.-H. Volkmann-Schluck
Ethos und Wissen in der nikomachischen Ethik des Aristoteles apud
Sein und Ethos (ed. P. Engelhardt), op. cit., pp. 56-68. '
185. Mais exatamente: passagem das disposies naturais
aret propriamente dita (t. Nic., II, 1, 1003 a 24-25). Sobre a aret
natural ver t Eud., III, 7, 1234 a 27-33; t Nic., VI, 13, 1144 b 1-16.
186 . O processo psicolgico do agir tico segundo Aristteles
descrito minuciosamente por R. A. Gauthier em Gauthier-Jol L'thi-
que Nicomaque, Comm., II, 1, pp. 209-212. Ver igualmente I. D-
ring, Aristteles, pp. 462-463. A presena do logos se anuncia desde
o inicio com a intuio do bem opervel (t praktn) pelo intelecto
121
na do lagos e do desejo (rexis) se d
ciso (proaresis), sendo que o desejo procede
mente tanto da parte irracional quanto da parte raciOnal
da alma.
18
7 A deciso assume, assim, um lugar fundamental
na estrutura da praxis pois nela se define a orientao efe-
tiva para o fim, tanto pela escolha adequada dos
quanto pela concretizao do princpio universal do agir
tico a tendncia para a eudaimona, na ao singular.
188
A se apresenta, pois, como uma sntese do ethos e
do lagos, na medida em que no pode sem o inte:
lecto prtico e o pensamento discursivo ( out aneu nau kat
dianoas) nem sem o hbito tico (out neu ethikes h-
xeos).189 A retificao do desejo pela phrnesis
190
atesta,
em segundo lugar, a presena normativa do lagos no
mento (knesis) da praxis e significa igualmente que a pri-
mazia da phrnesis exclui, na perspectiva de Aristteles,
prtico (o praktiks naus). O princpio do movimento do agir
desencadeado pelo desejo (rexis), mas submetido regra do logos
(t Nic., VI, 2, 1139 a 31-b 5). O movimento (knesis) da praX!.s tem,
pois, como causa eficiente o desejo, como causa. formal a razao,
mo causa final o bem. ver ainda, sobre causahdade e
dade no agir tico, M. Ganter, Mittel und Ziel in der praktlschen
Philosophie des Aristoteles, op. cit., pp. 106-110.
187. t Nic., I 13, 1102 a 26-b 28; ver infra, nota 195.
188. A concepo da proaresis em Aristteles e,
te na tica de Nicmaco foi estudada por D. J. Allan em The practlcal
syllogism (Autour d'Aristote, op. cit., pp. 326-340) e em Aristote, le
Philosophe (tr. fr. de Ch. Lefevre, Nauwelaerts, pp.
183-185). A interpretao de Allan contrapoe duas apresentaoes .da
proaresis na tica de Nicmaco: no liv. 111 como escolha dos me1os
para a consecuo do fim, e nos e yu como esc? lha da
ao que est de acordo com um prmClplo umversal do bom.
Ver igualmente a comunicao Aristotle's account o f . the ongms. o f
moral principles in Actes du Xleme Congres Internatwnal de Phtlo-
sophie, Bruxelas, 1953, vol. XII, PP: A f?i lon:
gamente discutida por R. A. Gauth1er m Gauth1er-Johf, L thlque a
Nic. Comm. 11 1 pp. 209-212. Segundo Gauthier, as duas apre-
da proaresis no se opem, corresp.on-
dem a pontos de vista diferentes, o da causalldade efiCiente
-fim liv III) e o da causalidade formal (abstrato-concreto, hv. VI-
-VII). . racionalidade da proaresis aparece na sua sinonmi.a col!l a
dinoia nas primeiras obras de Aristteles, segundo F. D1rlme1er:
ver M. Ganter, Mittel und Ziel . .. , p. 114, n. 84.
189. t. Nic., VI, 2, 1139 b 23-24. . _ .
190. A deciso um desejo acompanhado de dellberaao
bouletik) e no caso da deciso virtuosa (spoudaia), necessano
que a razo' seja verdadeira e o desejo reto (kal ten rexin orthn,
St Nic., VI, 2, 1139 b 23-24) .
122
qualquer forma de empirismo hedonista.
191
O agir tico,
com efeito, um movimento que procede inicialmente de
acordo com a razo (kat tn lgon) para, ao termo e me-
diante a phrnesis, unir-se vitalmente com a razo ( met
tou lgou).
192
Assim, se o princpio (arqu) do movimento
( then he knesis) da praxis a deciso e o princpio da
deciso o desejo (rexis),
193
razo e desejo articulam-se
em indissolvel unidade no ponto de partida do agir tico,
aquela como forma e este como causa motriz do movimento
imanente ou da enrgeia do agir.
194
Aristteles levado,
desta sorte, a implantar profundamente a phrnesis, seja
na inteligncia prtica (naus), seja no desejo (rexis). 1
95
O desejo tem seu dinamismo dirigido segundo o caminho
traado pelo lagos e recebe sua consagrao tica como
desejo do bem, causa eficiente do agir virtuoso.
196
191. Justas observaes de Allan em Aristote, le Philosophe, p.
186.
192. t. Nic., VI, 13, 1144 b 26-27. ver Ganter, op. cit., p. 116.
A imanncia recproca do ethos e do Zogos afirmada num texto cls-
sico: t Nic., X, 8, 1178 a 16-19.
193. t. Nic., VI, 2, 1139 a 31-33.
194. A contradio que se quer descobrir (R. A. Gauthier in Gau-
thier-Jolif, L'thique Nic., Comm., 11, 1, pp. 203-204; 212-213) en-
tre as passagens da t. Nic., 111, 5, 1112 b 33, e 111, 7, 1113 b 5-6,
onde Aristteles parece afirmar o carter transiente do agir tico, e
a concepo da prxis como agir imanente (VI, 2, 1139 b 1-4; VI, 4,
1140 a 1-17) talvez possa ser resolvida se se levar em conta o ponto
de vista da causa eficiente (movimento) no liv. 111 (analogia com a
produo) e da causa formal no liv. VI (razo como regra).
195. Esse o ponto de vista que prevalece na tica de Nicmaco,
distinto do que prevalecera na tica a Eudemo, onde a rexis tem
sua raiz somente na parte irracional da alma. Ver sobre o tema.
"Desejo e Razo" o excelente captulo de Jean Frre, Les Grecs et
le dsir de l'tre: des Preplatoniciens Aristote, op. cit. pp. 323-342;
e concluso da parte sobre Aristteles, pp. 434-437. Sobre o "de-
seJo reto", pp. 338ss.
196. Como no h, em Aristteles, o conceito de vontade ou de
livre-arbtrio como faculdade independente e dotada de espontanei-
dade ativa (o de origem estica, s se vulgari-
zou na linguagem filosfica a partir do sc. I d.C., voluntas e liberum
arbitrium fazem parte da terminologia teolgico-filosfica da Patrs-
tica latina e dos telogos medievais), a causalidade eficiente ou mo-
triz (then he knesis) do agir tico deferida ao desejo informado
pela razo reta, acompanhado da inteno do fim e da deliberao
sobre os meios e desembocando na proaresis. A anlise aristotlica
da prxis tica permanece assim, fundamentalmente, nos quadros do
intelectualismo socrtico-platnico. Ver, a propsito, R. A. Gauthier
in Gauthier-Jolif, L'thique Nic., Comm., 11 1, pp. 217-220.
123
na do lagos e do desejo (rexis) se d
ciso (proaresis), sendo que o desejo procede
mente tanto da parte irracional quanto da parte raciOnal
da alma.
18
7 A deciso assume, assim, um lugar fundamental
na estrutura da praxis pois nela se define a orientao efe-
tiva para o fim, tanto pela escolha adequada dos
quanto pela concretizao do princpio universal do agir
tico a tendncia para a eudaimona, na ao singular.
188
A se apresenta, pois, como uma sntese do ethos e
do lagos, na medida em que no pode sem o inte:
lecto prtico e o pensamento discursivo ( out aneu nau kat
dianoas) nem sem o hbito tico (out neu ethikes h-
xeos).189 A retificao do desejo pela phrnesis
190
atesta,
em segundo lugar, a presena normativa do lagos no
mento (knesis) da praxis e significa igualmente que a pri-
mazia da phrnesis exclui, na perspectiva de Aristteles,
prtico (o praktiks naus). O princpio do movimento do agir
desencadeado pelo desejo (rexis), mas submetido regra do logos
(t Nic., VI, 2, 1139 a 31-b 5). O movimento (knesis) da praX!.s tem,
pois, como causa eficiente o desejo, como causa. formal a razao,
mo causa final o bem. ver ainda, sobre causahdade e
dade no agir tico, M. Ganter, Mittel und Ziel in der praktlschen
Philosophie des Aristoteles, op. cit., pp. 106-110.
187. t Nic., I 13, 1102 a 26-b 28; ver infra, nota 195.
188. A concepo da proaresis em Aristteles e,
te na tica de Nicmaco foi estudada por D. J. Allan em The practlcal
syllogism (Autour d'Aristote, op. cit., pp. 326-340) e em Aristote, le
Philosophe (tr. fr. de Ch. Lefevre, Nauwelaerts, pp.
183-185). A interpretao de Allan contrapoe duas apresentaoes .da
proaresis na tica de Nicmaco: no liv. 111 como escolha dos me1os
para a consecuo do fim, e nos e yu como esc? lha da
ao que est de acordo com um prmClplo umversal do bom.
Ver igualmente a comunicao Aristotle's account o f . the ongms. o f
moral principles in Actes du Xleme Congres Internatwnal de Phtlo-
sophie, Bruxelas, 1953, vol. XII, PP: A f?i lon:
gamente discutida por R. A. Gauth1er m Gauth1er-Johf, L thlque a
Nic. Comm. 11 1 pp. 209-212. Segundo Gauthier, as duas apre-
da proaresis no se opem, corresp.on-
dem a pontos de vista diferentes, o da causalldade efiCiente
-fim liv III) e o da causalidade formal (abstrato-concreto, hv. VI-
-VII). . racionalidade da proaresis aparece na sua sinonmi.a col!l a
dinoia nas primeiras obras de Aristteles, segundo F. D1rlme1er:
ver M. Ganter, Mittel und Ziel . .. , p. 114, n. 84.
189. t. Nic., VI, 2, 1139 b 23-24. . _ .
190. A deciso um desejo acompanhado de dellberaao
bouletik) e no caso da deciso virtuosa (spoudaia), necessano
que a razo' seja verdadeira e o desejo reto (kal ten rexin orthn,
St Nic., VI, 2, 1139 b 23-24) .
122
qualquer forma de empirismo hedonista.
191
O agir tico,
com efeito, um movimento que procede inicialmente de
acordo com a razo (kat tn lgon) para, ao termo e me-
diante a phrnesis, unir-se vitalmente com a razo ( met
tou lgou).
192
Assim, se o princpio (arqu) do movimento
( then he knesis) da praxis a deciso e o princpio da
deciso o desejo (rexis),
193
razo e desejo articulam-se
em indissolvel unidade no ponto de partida do agir tico,
aquela como forma e este como causa motriz do movimento
imanente ou da enrgeia do agir.
194
Aristteles levado,
desta sorte, a implantar profundamente a phrnesis, seja
na inteligncia prtica (naus), seja no desejo (rexis). 1
95
O desejo tem seu dinamismo dirigido segundo o caminho
traado pelo lagos e recebe sua consagrao tica como
desejo do bem, causa eficiente do agir virtuoso.
196
191. Justas observaes de Allan em Aristote, le Philosophe, p.
186.
192. t. Nic., VI, 13, 1144 b 26-27. ver Ganter, op. cit., p. 116.
A imanncia recproca do ethos e do Zogos afirmada num texto cls-
sico: t Nic., X, 8, 1178 a 16-19.
193. t. Nic., VI, 2, 1139 a 31-33.
194. A contradio que se quer descobrir (R. A. Gauthier in Gau-
thier-Jolif, L'thique Nic., Comm., 11, 1, pp. 203-204; 212-213) en-
tre as passagens da t. Nic., 111, 5, 1112 b 33, e 111, 7, 1113 b 5-6,
onde Aristteles parece afirmar o carter transiente do agir tico, e
a concepo da prxis como agir imanente (VI, 2, 1139 b 1-4; VI, 4,
1140 a 1-17) talvez possa ser resolvida se se levar em conta o ponto
de vista da causa eficiente (movimento) no liv. 111 (analogia com a
produo) e da causa formal no liv. VI (razo como regra).
195. Esse o ponto de vista que prevalece na tica de Nicmaco,
distinto do que prevalecera na tica a Eudemo, onde a rexis tem
sua raiz somente na parte irracional da alma. Ver sobre o tema.
"Desejo e Razo" o excelente captulo de Jean Frre, Les Grecs et
le dsir de l'tre: des Preplatoniciens Aristote, op. cit. pp. 323-342;
e concluso da parte sobre Aristteles, pp. 434-437. Sobre o "de-
seJo reto", pp. 338ss.
196. Como no h, em Aristteles, o conceito de vontade ou de
livre-arbtrio como faculdade independente e dotada de espontanei-
dade ativa (o de origem estica, s se vulgari-
zou na linguagem filosfica a partir do sc. I d.C., voluntas e liberum
arbitrium fazem parte da terminologia teolgico-filosfica da Patrs-
tica latina e dos telogos medievais), a causalidade eficiente ou mo-
triz (then he knesis) do agir tico deferida ao desejo informado
pela razo reta, acompanhado da inteno do fim e da deliberao
sobre os meios e desembocando na proaresis. A anlise aristotlica
da prxis tica permanece assim, fundamentalmente, nos quadros do
intelectualismo socrtico-platnico. Ver, a propsito, R. A. Gauthier
in Gauthier-Jolif, L'thique Nic., Comm., 11 1, pp. 217-220.
123
O livro VI da tica de Nicmaco (V da tica a Eude-
mo)
191
pode ser considerado o centro de toda a pragmateia
tica de Aristteles e o ponto nodal onde se entrelaam de-
finitivamente ethos e lagos. Com efeito, ele dedicado
sabedoria prtica (phrnesis) e na concepo da phr-
nesis, como vimos, que a originalidade do pensamento ti-
co de Aristteles se afirma com relao a Plato e s dou-
trinas da Primeira Academia, sem contudo romper os li-
mites do intelectualismo socrtico-platnico. Se a eudaimo-
na o fim para o qual tende necessariamente a praxis hu-
mana, e o logos a diferena especfica do homem, como
pensar a eudaimona seno a partir das formas de exerc-
cio do lagos? E como no referir a eudaimona perfeita
atividade mais alta da razo? Dentro da estrutura da tica
de Nicmaco,
198
a discusso sobre as virtudes que tem a
sua sede na parte racional da alma (virtudes dianoticas)
e que Aristteles finalmente reduz a duas, a sabedoria pr-
tica (phrnesis) e a sabedoria especulativa (sopha),
199
de-
sempenha um papel fundamental, articulando a contingn-
cia do objeto da ao (regida pela phrnesis) necessida-
de do objeto da contemplao (exercida pela sopha). Essa
articulao se apia na compenetrao e conseqente orien-
tao da ao pela razo reta (orths Zgos) que Aristte-
les exprime utilizando a forma demonstrativa do silogismo
no chamado silogismo prtico ou silogismo do dever-ser da
ao.
200
A singularidade lgica desse silogismo consiste em
que a uma premissa maior universal, ditando uma norma
ou uma prescrio (com um enunciado positivo ou negati-
vo) segue-se uma premissa menor particular que aplica a
proposio universal ad casum, sendo a concluso o prprio
exerccio da ao que recebe, assim, uma fundamentao
lgica. : claro que tal fundamentao lgica no significa
uma reintegrao da cincia prtica na cincia teortica,
pois subsiste uma diferena essencial entre as duas classes
de silogismo: no cientico (eptsthemoniks), a concluso
197. Ao qual convm associar o liv. VII (1-11) sobre a "conti-
nncia" (enkrteia) e a "incontinncia" (akrasa), caso privilegiado
da relao entre a phrnesis e o desejo.
198. Sobre a composio e estrutura da tica de Nicmaco,
com particular relevo para a posio nela ocupada pela sabedoria
prtica, ver R. A. Gauthier, L'thique Ntc., Intr., ed., I, pp. 77-82.
199. Ver o comentrio de R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thi-
que Nic., Comm., II, 2, pp. 450-452; 507-540.
200. oi sylZogismo'i tn praktikn, t. Nic., VI 12, 1144 a 31.
124
sempre_ ao passo que, no silogismo da ao,
a conclusao nao e uma proposio, mas a ao singular. 201
mesm? o silogismo prtico no entra na catego-
ria dos silogismos . dialticos (na acepo aristotlica) que
permanecem no mvel da opinio provvel ainda que as
pr:icas possam ser submetida's a um exame
dialebco ( tam bem no sentido aristotlico). 202 Trata-se na
verdade,. de uma l?ica peculiar, a lgica da ao, na
a que hga as premissas ao no uma ne-
logzca estrita (o que contradiria toda a concepo
_do prtico) mas uma necessida-
de logi_co-eXIstenCial na qual est intrinsecamente presente
o _um desejo que se articula em termos de
razao (orexzs dzanoetik), vem a ser, a deciso (proaresis)
que se transfunde imediatamente na ao. 2oa
Ao _celebrar praxis essa alma de racionalidade que
se no Silogismo prtico, Aristteles pretende res-
da pura contingncia ou do puro acontecer aleatrio
como, ao distinguir rigorosamente o conhecimento
e ? conhec_imento prtico, pretendera libertar a pr-
pna dos vmculos da necessidade inteligvel que se
traduzma na necessidade da ao deduzida logicamente de
201. Aristteles refere-se ao silogismo prtico na t N" VI
13, 1144 a 22-.36; yu, 5, 1146 b 35-1147 a 10; De Anima, III, 434 !c"6-21;
De f!lOtu anzmaltum a 7-23. bibliografia em torno desses tex-
tos e abundante e sua das mais discutidas. o texto-
-chave parece ser _t .. Ntc., VII, 5, 1146 b 35-1147 a 10, onde Arist-
tele.s faz do sllog1smo prtico para refutar a doutrina socrtica
da 1mposs1bi11dade da coexistncia no mesmo SUJ"eito da c
1
n
continn v
1
. - ' , e em e ln-
cm. er a exp 1caao de J. Y. Jolif L'thique Nic c
2: pp. 611-613. Da bft?liografia sobre o' silogismo
mtar. _D. Allan, -z:he_practtcal syllogism (v. nota 188 supra); M. Gan-
und Ztel tn der Ph_ilosophie des Aristoteles, pp.
. , Le syllog1sme pratique chez Aristote"
10
Les lptud.es Phtloso'f!htques", n. 1 0976): 57-78; P. Donini, "Incontinen-
e. SI1log1sm? nell'Etica Nicomachea" in Rivista critica di
1
XXXIII: 1977, fase. 2, pp. 176-194 (estudo fi-
o gico e !ilosflco de t. Nic., VII, 3); W. c. K. Guthrie, History o f
Phtl., VI, .PP. 349-3?2; R. Bubner, Handlung, Sprache, Ver-
n1untt. Grundbegnffe prakttscher PhilOsophie Frankfurt Suhrkamp
976, pp. 238-250.
1
' ,
. 202. Ver G. Even-Granboulan Le syll. pratique chez Arist op
Clt., pp. 66-71. ' "
203. t Nic., VI, 2, 1139 b 4-5; ver Even-Granboulan art
PP. 64-65; J. Moreau, Aristote et son cole, pp. 195-
196
. ' cit.,
125
O livro VI da tica de Nicmaco (V da tica a Eude-
mo)
191
pode ser considerado o centro de toda a pragmateia
tica de Aristteles e o ponto nodal onde se entrelaam de-
finitivamente ethos e lagos. Com efeito, ele dedicado
sabedoria prtica (phrnesis) e na concepo da phr-
nesis, como vimos, que a originalidade do pensamento ti-
co de Aristteles se afirma com relao a Plato e s dou-
trinas da Primeira Academia, sem contudo romper os li-
mites do intelectualismo socrtico-platnico. Se a eudaimo-
na o fim para o qual tende necessariamente a praxis hu-
mana, e o logos a diferena especfica do homem, como
pensar a eudaimona seno a partir das formas de exerc-
cio do lagos? E como no referir a eudaimona perfeita
atividade mais alta da razo? Dentro da estrutura da tica
de Nicmaco,
198
a discusso sobre as virtudes que tem a
sua sede na parte racional da alma (virtudes dianoticas)
e que Aristteles finalmente reduz a duas, a sabedoria pr-
tica (phrnesis) e a sabedoria especulativa (sopha),
199
de-
sempenha um papel fundamental, articulando a contingn-
cia do objeto da ao (regida pela phrnesis) necessida-
de do objeto da contemplao (exercida pela sopha). Essa
articulao se apia na compenetrao e conseqente orien-
tao da ao pela razo reta (orths Zgos) que Aristte-
les exprime utilizando a forma demonstrativa do silogismo
no chamado silogismo prtico ou silogismo do dever-ser da
ao.
200
A singularidade lgica desse silogismo consiste em
que a uma premissa maior universal, ditando uma norma
ou uma prescrio (com um enunciado positivo ou negati-
vo) segue-se uma premissa menor particular que aplica a
proposio universal ad casum, sendo a concluso o prprio
exerccio da ao que recebe, assim, uma fundamentao
lgica. : claro que tal fundamentao lgica no significa
uma reintegrao da cincia prtica na cincia teortica,
pois subsiste uma diferena essencial entre as duas classes
de silogismo: no cientico (eptsthemoniks), a concluso
197. Ao qual convm associar o liv. VII (1-11) sobre a "conti-
nncia" (enkrteia) e a "incontinncia" (akrasa), caso privilegiado
da relao entre a phrnesis e o desejo.
198. Sobre a composio e estrutura da tica de Nicmaco,
com particular relevo para a posio nela ocupada pela sabedoria
prtica, ver R. A. Gauthier, L'thique Ntc., Intr., ed., I, pp. 77-82.
199. Ver o comentrio de R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thi-
que Nic., Comm., II, 2, pp. 450-452; 507-540.
200. oi sylZogismo'i tn praktikn, t. Nic., VI 12, 1144 a 31.
124
sempre_ ao passo que, no silogismo da ao,
a conclusao nao e uma proposio, mas a ao singular. 201
mesm? o silogismo prtico no entra na catego-
ria dos silogismos . dialticos (na acepo aristotlica) que
permanecem no mvel da opinio provvel ainda que as
pr:icas possam ser submetida's a um exame
dialebco ( tam bem no sentido aristotlico). 202 Trata-se na
verdade,. de uma l?ica peculiar, a lgica da ao, na
a que hga as premissas ao no uma ne-
logzca estrita (o que contradiria toda a concepo
_do prtico) mas uma necessida-
de logi_co-eXIstenCial na qual est intrinsecamente presente
o _um desejo que se articula em termos de
razao (orexzs dzanoetik), vem a ser, a deciso (proaresis)
que se transfunde imediatamente na ao. 2oa
Ao _celebrar praxis essa alma de racionalidade que
se no Silogismo prtico, Aristteles pretende res-
da pura contingncia ou do puro acontecer aleatrio
como, ao distinguir rigorosamente o conhecimento
e ? conhec_imento prtico, pretendera libertar a pr-
pna dos vmculos da necessidade inteligvel que se
traduzma na necessidade da ao deduzida logicamente de
201. Aristteles refere-se ao silogismo prtico na t N" VI
13, 1144 a 22-.36; yu, 5, 1146 b 35-1147 a 10; De Anima, III, 434 !c"6-21;
De f!lOtu anzmaltum a 7-23. bibliografia em torno desses tex-
tos e abundante e sua das mais discutidas. o texto-
-chave parece ser _t .. Ntc., VII, 5, 1146 b 35-1147 a 10, onde Arist-
tele.s faz do sllog1smo prtico para refutar a doutrina socrtica
da 1mposs1bi11dade da coexistncia no mesmo SUJ"eito da c
1
n
continn v
1
. - ' , e em e ln-
cm. er a exp 1caao de J. Y. Jolif L'thique Nic c
2: pp. 611-613. Da bft?liografia sobre o' silogismo
mtar. _D. Allan, -z:he_practtcal syllogism (v. nota 188 supra); M. Gan-
und Ztel tn der Ph_ilosophie des Aristoteles, pp.
. , Le syllog1sme pratique chez Aristote"
10
Les lptud.es Phtloso'f!htques", n. 1 0976): 57-78; P. Donini, "Incontinen-
e. SI1log1sm? nell'Etica Nicomachea" in Rivista critica di
1
XXXIII: 1977, fase. 2, pp. 176-194 (estudo fi-
o gico e !ilosflco de t. Nic., VII, 3); W. c. K. Guthrie, History o f
Phtl., VI, .PP. 349-3?2; R. Bubner, Handlung, Sprache, Ver-
n1untt. Grundbegnffe prakttscher PhilOsophie Frankfurt Suhrkamp
976, pp. 238-250.
1
' ,
. 202. Ver G. Even-Granboulan Le syll. pratique chez Arist op
Clt., pp. 66-71. ' "
203. t Nic., VI, 2, 1139 b 4-5; ver Even-Granboulan art
PP. 64-65; J. Moreau, Aristote et son cole, pp. 195-
196
. ' cit.,
125
premissas tericas.
204
Orientada, porm, pela sua alma de
racionalidade a praxis visa necessariamente a um fim, que
a A partir da unidade do principio (arqu)
que unifica inteligncia e desejo, vem a ser, do prprio ho-
mem, 2os e no qual a theora e a P_Taxis tm a
sua unidade, o problema das relaoes entre as virtudes da
parte "cientfica" (to episthemonikn) e da parte "calcula-
dora" (to logistikn) da alma se coloca inevitavelmente.
Como se relacionam entre si a sabedoria terica (sopha)
e a sabedoria prtica (phrnesis) e que horizontes a sopha
abre diante da estrutura teleolgica da praxis? Essa a
questo decisiva para a qual converge toda a reflexo tica
de Aristteles e na qual ele reencontra a inspirao original
da :Etica como um "dar razo" (lgon dounai) do ethos.
o "dar razo" do ethos, que se constitui no leit-motiv da
tica, 2os orienta-se, nessa aurora grega da cincia do
onde seus caminhos possveis se traaram, para duas di-
rees principais: a identidade platnica da phrnesis e da
sopha e, por conseguinte, a identidade entre o sbio e o
virtuoso (atestada na figura exemplar de Scrates) e a dis-
tino aristotlica entre a phrnesis e a sopha e, portanto,
a distino entre Pricles, o phrnimos, de um lado
207
e
Tales ou Anxagoras, os sopho, de outro.
208
Mas distino
no separao e a phrnesis aristotlica no ir distan-
ciar-se definitivamente da phrnesis platnica como simples
habilidade prtica, tal como o pretenderam J. Walter e seus
seguidores. 209 Ao contrrio, ela ir reencontrar-se com a
sopha na unidade antropolgica que une princpio e fim
da praxis, ou seja desejo e eudaimona, unindo-os pelo fio
do lagos. Se, na perspectiva do princpio, a causalidade for-
mal do lagos deve compor-se com a causalidade motriz do
204. Assim, a parte racional da alma que rege a ao, ou
o intelecto prtico, propriamente a "parte calculadora" (t logts-
tikn) tendo por objeto os princpios das coisas que podem ser desse
ou daquele modo (endchomena alls chein). Ver t. Nic., VI, 2, 1139
a 6-15.
205. t. Nic., VI, 2, 1139 b 5.
206. Ver supra, cap. II, n. 3.
207. t. Nic., VI, 5, 1140 b 8.
208. t Nic., VI, 7, 1141.b 3-4 .. Segundo A. J .. Fest';lgiere, Les
trais vies apud tudes de Phtlosophte grecque, Pans, Vrm, 1971, p.
132 a aristotlica da "vida teortica" e da "vida prtica"
coloca o problema da sua relao num novo espao de conceptualidade.
209. Ver supra, n. 72.
126
( rexis). e a phrnesis permanece ligada ao mbito
das virtudes ticas ou ao esquema horizontal da relativida-
de do ethos, conduzindo a deliberao sobre os meios 210
na fim, a forma do lagos alcana definitlva-
a pnmazia e . a phrnesis participa ento, de alguma
maneira! do conheCimento desse fim mais excelente e des-
sa eudazmona perfeita representados pela vida teortica.
E}a se eleva, atravs da sua vinculao com a sopha a um
mvel _que transcende a contingncia da praxis. 211 '
. E que o princpio racional que informa a vida
v1rtuosa nao e, para Aristteles, a phrnesis contemplativa
como Plato, e sim o ethos no qual se
o pela phrnesis prtica. Mas esta, em
me10 ao seu can.nnho, encontra-se com a filosofia (sopha)
e passa a ser gwada por ela em direo s alturas da con-
templao_ ( theora). A tarefa ordenadora da phrnesis
entao a em vista da atividade de co-
nheCimento da filosofia como prerrogativa da parte melhor
da alma,
212
que ir e11contrar na theora sua co-
roa e consumaao. Desta sorte, na medida em que a phr-
210.. Ver t. Ni_c., VI, 10, 1142 b 32-33. Essa participao da
n? fim, realada por R. A. Gauthier in
C! !Ytc., Comm., II, 2, pp. 518-519, de acordo
COJ?._a mterpretaao tradiCional, fora rejeitada por J. Walter cuja
opmmo encontrou recentemel?-te um defensor autorizado em P. Au-
benque, La chez Anstotet. Paris, PUF, 1953, e foi criticada
por R. A. Gauthxer na sua recensao da mesma obra em Revue des
t1;ldes Grecques 76 (1963): 265-268. P. Aubenque respondeu a Gau-
thxer em La aristotlicienne porte-t-elle sur la fin ou sur
les Ibide:n, 78 (1965), 40-51, artigo apreciado por Gauthier
em L !Vteomaque, Introduction ed.), I, 1, p. 283, n. 118.
Sobre fms e meios na ordem da causa eficiente ver ainda t a Nic
Comm., II, 2, p. 560. .,
211. Sobre as expresses "esquema horizontal" e "esquema ver-
ti?al". ver, num ligeiramente diferente, M. Ganter, Mittel und
Ztel m der prakttSchen Philosophie des Aristoteles, pp. 132-138. Pa-
ra esse .autor, o esquema vertical traduz-se na akrtes, na fina pon-
ta da virtude, e o esquema horizontal na mestes, na mediania en-
os extremos. pode-se dizer que a dialtica platnica a ma-
tnz. do esquema vertiCal e que em direo ao "perfeito" segundo
a ascendente do sensvel ao inteligvel que a virtude atinge a
sua "fma ponta".
.212. eke?Zs (i. thei sophas) oun neka epitttei (i. he phr-
neszs), Ntc:, ,VI, 13, 1145 a 9. Se Aristteles reivindica para a
a atividade de ordenar e imperar, que Plato reserva
o fim em razo do qual a phr-
neszs (e a consciencia ou synests, t. Nic., VI, 11, 1143 a 8-10), or-
127
premissas tericas.
204
Orientada, porm, pela sua alma de
racionalidade a praxis visa necessariamente a um fim, que
a A partir da unidade do principio (arqu)
que unifica inteligncia e desejo, vem a ser, do prprio ho-
mem, 2os e no qual a theora e a P_Taxis tm a
sua unidade, o problema das relaoes entre as virtudes da
parte "cientfica" (to episthemonikn) e da parte "calcula-
dora" (to logistikn) da alma se coloca inevitavelmente.
Como se relacionam entre si a sabedoria terica (sopha)
e a sabedoria prtica (phrnesis) e que horizontes a sopha
abre diante da estrutura teleolgica da praxis? Essa a
questo decisiva para a qual converge toda a reflexo tica
de Aristteles e na qual ele reencontra a inspirao original
da :Etica como um "dar razo" (lgon dounai) do ethos.
o "dar razo" do ethos, que se constitui no leit-motiv da
tica, 2os orienta-se, nessa aurora grega da cincia do
onde seus caminhos possveis se traaram, para duas di-
rees principais: a identidade platnica da phrnesis e da
sopha e, por conseguinte, a identidade entre o sbio e o
virtuoso (atestada na figura exemplar de Scrates) e a dis-
tino aristotlica entre a phrnesis e a sopha e, portanto,
a distino entre Pricles, o phrnimos, de um lado
207
e
Tales ou Anxagoras, os sopho, de outro.
208
Mas distino
no separao e a phrnesis aristotlica no ir distan-
ciar-se definitivamente da phrnesis platnica como simples
habilidade prtica, tal como o pretenderam J. Walter e seus
seguidores. 209 Ao contrrio, ela ir reencontrar-se com a
sopha na unidade antropolgica que une princpio e fim
da praxis, ou seja desejo e eudaimona, unindo-os pelo fio
do lagos. Se, na perspectiva do princpio, a causalidade for-
mal do lagos deve compor-se com a causalidade motriz do
204. Assim, a parte racional da alma que rege a ao, ou
o intelecto prtico, propriamente a "parte calculadora" (t logts-
tikn) tendo por objeto os princpios das coisas que podem ser desse
ou daquele modo (endchomena alls chein). Ver t. Nic., VI, 2, 1139
a 6-15.
205. t. Nic., VI, 2, 1139 b 5.
206. Ver supra, cap. II, n. 3.
207. t. Nic., VI, 5, 1140 b 8.
208. t Nic., VI, 7, 1141.b 3-4 .. Segundo A. J .. Fest';lgiere, Les
trais vies apud tudes de Phtlosophte grecque, Pans, Vrm, 1971, p.
132 a aristotlica da "vida teortica" e da "vida prtica"
coloca o problema da sua relao num novo espao de conceptualidade.
209. Ver supra, n. 72.
126
( rexis). e a phrnesis permanece ligada ao mbito
das virtudes ticas ou ao esquema horizontal da relativida-
de do ethos, conduzindo a deliberao sobre os meios 210
na fim, a forma do lagos alcana definitlva-
a pnmazia e . a phrnesis participa ento, de alguma
maneira! do conheCimento desse fim mais excelente e des-
sa eudazmona perfeita representados pela vida teortica.
E}a se eleva, atravs da sua vinculao com a sopha a um
mvel _que transcende a contingncia da praxis. 211 '
. E que o princpio racional que informa a vida
v1rtuosa nao e, para Aristteles, a phrnesis contemplativa
como Plato, e sim o ethos no qual se
o pela phrnesis prtica. Mas esta, em
me10 ao seu can.nnho, encontra-se com a filosofia (sopha)
e passa a ser gwada por ela em direo s alturas da con-
templao_ ( theora). A tarefa ordenadora da phrnesis
entao a em vista da atividade de co-
nheCimento da filosofia como prerrogativa da parte melhor
da alma,
212
que ir e11contrar na theora sua co-
roa e consumaao. Desta sorte, na medida em que a phr-
210.. Ver t. Ni_c., VI, 10, 1142 b 32-33. Essa participao da
n? fim, realada por R. A. Gauthier in
C! !Ytc., Comm., II, 2, pp. 518-519, de acordo
COJ?._a mterpretaao tradiCional, fora rejeitada por J. Walter cuja
opmmo encontrou recentemel?-te um defensor autorizado em P. Au-
benque, La chez Anstotet. Paris, PUF, 1953, e foi criticada
por R. A. Gauthxer na sua recensao da mesma obra em Revue des
t1;ldes Grecques 76 (1963): 265-268. P. Aubenque respondeu a Gau-
thxer em La aristotlicienne porte-t-elle sur la fin ou sur
les Ibide:n, 78 (1965), 40-51, artigo apreciado por Gauthier
em L !Vteomaque, Introduction ed.), I, 1, p. 283, n. 118.
Sobre fms e meios na ordem da causa eficiente ver ainda t a Nic
Comm., II, 2, p. 560. .,
211. Sobre as expresses "esquema horizontal" e "esquema ver-
ti?al". ver, num ligeiramente diferente, M. Ganter, Mittel und
Ztel m der prakttSchen Philosophie des Aristoteles, pp. 132-138. Pa-
ra esse .autor, o esquema vertical traduz-se na akrtes, na fina pon-
ta da virtude, e o esquema horizontal na mestes, na mediania en-
os extremos. pode-se dizer que a dialtica platnica a ma-
tnz. do esquema vertiCal e que em direo ao "perfeito" segundo
a ascendente do sensvel ao inteligvel que a virtude atinge a
sua "fma ponta".
.212. eke?Zs (i. thei sophas) oun neka epitttei (i. he phr-
neszs), Ntc:, ,VI, 13, 1145 a 9. Se Aristteles reivindica para a
a atividade de ordenar e imperar, que Plato reserva
o fim em razo do qual a phr-
neszs (e a consciencia ou synests, t. Nic., VI, 11, 1143 a 8-10), or-
127
nesis na ordem da causa eficiente, rege o movimento que
eudaimona ela se ordena filosofia e ao seu ato
perfeito, a theora, 'como causa formal da eudaimona per-
feita.
218
As pginas clebres da tica de Nicmaco (liv. X, cap.
6-9), longe de constituir uma digresso mais ?U menos ar-
bitrria assinalam o pice conceptual a partir do qual se
a coerncia profunda do discurso tico de
teles. Razo, pois, assiste a Gnther Bien quando afirma
que a explicao de X, 6-9 constitui a pedra de toque para
qualquer interpretao da filosofia prtica de Aristteles.
214
Mesmo admitindo que esses captulos apresentem
redacionais mais antigos do que as outras partes da tzca
de Nicmaco sua insero no plano da obra obedece, sem
dvida, a desgnio deliberado de Aristteles,
215
que. foi
respeitado por seu filho e editor Nicmaco. Ao termmar
dena, julga e impera. Ver R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'th.
Nic. Comm., II, 2, pp. 527-532.
213. t. Nic., VI, 13, 1144 a 3-6. Texto fundamental, que_ deu
origem a engenhosas interpretaes. A comparao com a tzca a
Eudemo (VIII 3 1249 b 9-16) e com o Protrtico (fr. 6 Walzer) per-
mitiu a R. A.' Gauthier propor a interpretao mais e,
provavelmente, definitiva, apoia<}a na. concepo da f:tlosof:ta como
causa formal da eudaimona (L th. a Nic., Comm., II, 2, pp. 542-
547). A comparao entre a sade e a filosofia de um lado, a _me-
dicina e a phr6nesis de outro retoma V_I, 13, 1145 a 7-!J para ilus-
trar a relao entre a phrnesis e a filosofia. Essa relaao. encont;a
no lugar paralelo da t. Eud., VIII, 3, 1249 b 6-23 uma :tlustraao
eloqente. Para alm dos problemas de crtica textual 9ue e_sta pas-
sagem apresenta (Gauthier, ibidem, pp. 560-563) nela f:tca
te claro que em relao preeminncia da theora se,
a norma reguladora da prxis tica. Ao do
cincia da prxis, Aristteles reencontra, ass:tm, a ex1genc1a do
telectualismo platnico, qual dar, porm, uma forma .nova e on-
ginal propriamente aristotlica. Segundo W. Jaeger (Arzst?tele: ed.
cit., pp. 325-331), essas ltimas linhas da tica a Eude'T-o msp;ra;n-
-se ainda na concepo platnica de uma fundamentaao
da tica mas tal opinio repousa, por sua vez, sobre a opos:tao
jaegerian'a entre a tica a Eudemo e a tica de Nicmaco, que pare-
ce dificilmente aceitvel. Ver G. Bien, Die Grundlegung der prak-
tischen Philosophte bei Aristoteles, pp. 156-159. . .
214. G. Bien, op. cit., 139; ver W. C. K. Guthne, A hzstory ot
Greek Philosophy, VI, p. 391.
215. Esse plano relembrado em X, 6, 1176 a 30-31. . Sobre o
lugar do tratado da contemplao no plano da tica de Nzc., ver I,
3, 1096 a 5, e R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique . Nicoma-
que, Comm., li, 1, p. 33; 2, pp. 873-874. Sobre a
textos ver Ch. Lefvre, Sur l'volution de la Psychologze d Anstote,
pp. 235-242.
128
o discurso da Ciencia da praxis com um hino em louvor
da theora que, segundo Eduard Schwartz,
21
" "apenas uma
vez se_ no Aristteles parece querer pr
em evidencm que a distmao entre o prtico e o terico,
sobre , a _.qual repousa a autonomia do saber prtico, ca-
ractenstwa de um estgio intermedirio no caminho do
logos. , estg!o, detm-se aqueles que optam por fazer
da no sentido amplo
217
a sua "forma de vida" (bos
e para os quais a phrnesis a virtude mais alta
d? m:electo ( nous). Mas o caminho do logos prossegue em
<?reao, ao seu onde a perfeita enrgeia
e_ tambem a perfeita eudazmonza: a atividade da contempla-
ao. 2,,
de atinge aqui um grau extremo de
tensao, essa tensao que se forma quando o logos ima-
nente ao ethos se explicita e se liberta de alguma sorte,
216. Citado por G. Bien, op. cit., pp. 140-141
217. t. Nic., I, 1, 1094 a 26-27.
218. Na concepo de G. Bien (op. cit., pp. 138-162) o cami-
nho lagos no terreno da praxis um caminho que bifurca
UI?. lad_o, ao bos politiks que goza de perfeita
e JUstifiCa Independentemente da theoria e, de outro ao
bzos theorettks reservado ao filsofo e s atividade da escola ' Os
que celebram .a theora teriam em Aristteles um carter. pro-
tretiCo ou exortatz:lO e dirigidos ao cidado que se conten-
ta com o bel? da v:tda polltiCa. Mas essa viso a nosso ver intro-
duz um x;a viso aristotlica que os no justlficam.
Se . a theona _!}ao e, ?ara o fundamento da tica, como
o e para. Platao, ela e o seu tzm, sendo o ato mais excelente da vir-
ma:ts excelente, a sophta. Assim, a theora o termo de uma
traada pelo percurso do lagos que ultrapassa o
dOJ?lnlO _da prax_zs ou do ocupar-se com as coisas humanas (anthro-
t. Nzc., X, 8, 1178 b 7) para penetrar na esfera do divi-
no, da que , ela mesma, algo de sobre-huma-
no e divmo (t. Nzc., X, 7, 1177 b 26-1178 a 7). A theora no en-
tanto, tem um mbito mais vasto do que a esfera das divi-
nas: W. C: K. Guthrie, A oj Greek Phil., VI, 396-398. Ver
a pos:tao matizada de R. Bodeus Le Philosophe et la Cit op cit
pp. 157-225. ' , . .,
219. Expresso de R. A. Gauthier, La Morale d'Aristote Paris
PUF, 1958, p. 105. Essa tenso se manifesta com particular
quando tra.ta: de conciliar a vida ativa e a vida contemplativa (R.
pp. 108-111). certo que Aristteles no \.:on-
s:tdera a v:tda como simples meio para a vida teortica. Ela
tem sua autonom:ta prpria. Mas ela indissocivel da vida con-
definio da vida que encerra, para Aristteles, a eu-
dazmoma. malS completa, e que um termo tardio designar como
rn_ista", (b?s sy'!'-the_tos, Ario Didimo, ap. Estobeu, ver Gau-
th:ter-Johf, L thtque a Ntc., Comm., 11, 2, P. 864). o problema
129
nesis na ordem da causa eficiente, rege o movimento que
eudaimona ela se ordena filosofia e ao seu ato
perfeito, a theora, 'como causa formal da eudaimona per-
feita.
218
As pginas clebres da tica de Nicmaco (liv. X, cap.
6-9), longe de constituir uma digresso mais ?U menos ar-
bitrria assinalam o pice conceptual a partir do qual se
a coerncia profunda do discurso tico de
teles. Razo, pois, assiste a Gnther Bien quando afirma
que a explicao de X, 6-9 constitui a pedra de toque para
qualquer interpretao da filosofia prtica de Aristteles.
214
Mesmo admitindo que esses captulos apresentem
redacionais mais antigos do que as outras partes da tzca
de Nicmaco sua insero no plano da obra obedece, sem
dvida, a desgnio deliberado de Aristteles,
215
que. foi
respeitado por seu filho e editor Nicmaco. Ao termmar
dena, julga e impera. Ver R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'th.
Nic. Comm., II, 2, pp. 527-532.
213. t. Nic., VI, 13, 1144 a 3-6. Texto fundamental, que_ deu
origem a engenhosas interpretaes. A comparao com a tzca a
Eudemo (VIII 3 1249 b 9-16) e com o Protrtico (fr. 6 Walzer) per-
mitiu a R. A.' Gauthier propor a interpretao mais e,
provavelmente, definitiva, apoia<}a na. concepo da f:tlosof:ta como
causa formal da eudaimona (L th. a Nic., Comm., II, 2, pp. 542-
547). A comparao entre a sade e a filosofia de um lado, a _me-
dicina e a phr6nesis de outro retoma V_I, 13, 1145 a 7-!J para ilus-
trar a relao entre a phrnesis e a filosofia. Essa relaao. encont;a
no lugar paralelo da t. Eud., VIII, 3, 1249 b 6-23 uma :tlustraao
eloqente. Para alm dos problemas de crtica textual 9ue e_sta pas-
sagem apresenta (Gauthier, ibidem, pp. 560-563) nela f:tca
te claro que em relao preeminncia da theora se,
a norma reguladora da prxis tica. Ao do
cincia da prxis, Aristteles reencontra, ass:tm, a ex1genc1a do
telectualismo platnico, qual dar, porm, uma forma .nova e on-
ginal propriamente aristotlica. Segundo W. Jaeger (Arzst?tele: ed.
cit., pp. 325-331), essas ltimas linhas da tica a Eude'T-o msp;ra;n-
-se ainda na concepo platnica de uma fundamentaao
da tica mas tal opinio repousa, por sua vez, sobre a opos:tao
jaegerian'a entre a tica a Eudemo e a tica de Nicmaco, que pare-
ce dificilmente aceitvel. Ver G. Bien, Die Grundlegung der prak-
tischen Philosophte bei Aristoteles, pp. 156-159. . .
214. G. Bien, op. cit., 139; ver W. C. K. Guthne, A hzstory ot
Greek Philosophy, VI, p. 391.
215. Esse plano relembrado em X, 6, 1176 a 30-31. . Sobre o
lugar do tratado da contemplao no plano da tica de Nzc., ver I,
3, 1096 a 5, e R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique . Nicoma-
que, Comm., li, 1, p. 33; 2, pp. 873-874. Sobre a
textos ver Ch. Lefvre, Sur l'volution de la Psychologze d Anstote,
pp. 235-242.
128
o discurso da Ciencia da praxis com um hino em louvor
da theora que, segundo Eduard Schwartz,
21
" "apenas uma
vez se_ no Aristteles parece querer pr
em evidencm que a distmao entre o prtico e o terico,
sobre , a _.qual repousa a autonomia do saber prtico, ca-
ractenstwa de um estgio intermedirio no caminho do
logos. , estg!o, detm-se aqueles que optam por fazer
da no sentido amplo
217
a sua "forma de vida" (bos
e para os quais a phrnesis a virtude mais alta
d? m:electo ( nous). Mas o caminho do logos prossegue em
<?reao, ao seu onde a perfeita enrgeia
e_ tambem a perfeita eudazmonza: a atividade da contempla-
ao. 2,,
de atinge aqui um grau extremo de
tensao, essa tensao que se forma quando o logos ima-
nente ao ethos se explicita e se liberta de alguma sorte,
216. Citado por G. Bien, op. cit., pp. 140-141
217. t. Nic., I, 1, 1094 a 26-27.
218. Na concepo de G. Bien (op. cit., pp. 138-162) o cami-
nho lagos no terreno da praxis um caminho que bifurca
UI?. lad_o, ao bos politiks que goza de perfeita
e JUstifiCa Independentemente da theoria e, de outro ao
bzos theorettks reservado ao filsofo e s atividade da escola ' Os
que celebram .a theora teriam em Aristteles um carter. pro-
tretiCo ou exortatz:lO e dirigidos ao cidado que se conten-
ta com o bel? da v:tda polltiCa. Mas essa viso a nosso ver intro-
duz um x;a viso aristotlica que os no justlficam.
Se . a theona _!}ao e, ?ara o fundamento da tica, como
o e para. Platao, ela e o seu tzm, sendo o ato mais excelente da vir-
ma:ts excelente, a sophta. Assim, a theora o termo de uma
traada pelo percurso do lagos que ultrapassa o
dOJ?lnlO _da prax_zs ou do ocupar-se com as coisas humanas (anthro-
t. Nzc., X, 8, 1178 b 7) para penetrar na esfera do divi-
no, da que , ela mesma, algo de sobre-huma-
no e divmo (t. Nzc., X, 7, 1177 b 26-1178 a 7). A theora no en-
tanto, tem um mbito mais vasto do que a esfera das divi-
nas: W. C: K. Guthrie, A oj Greek Phil., VI, 396-398. Ver
a pos:tao matizada de R. Bodeus Le Philosophe et la Cit op cit
pp. 157-225. ' , . .,
219. Expresso de R. A. Gauthier, La Morale d'Aristote Paris
PUF, 1958, p. 105. Essa tenso se manifesta com particular
quando tra.ta: de conciliar a vida ativa e a vida contemplativa (R.
pp. 108-111). certo que Aristteles no \.:on-
s:tdera a v:tda como simples meio para a vida teortica. Ela
tem sua autonom:ta prpria. Mas ela indissocivel da vida con-
definio da vida que encerra, para Aristteles, a eu-
dazmoma. malS completa, e que um termo tardio designar como
rn_ista", (b?s sy'!'-the_tos, Ario Didimo, ap. Estobeu, ver Gau-
th:ter-Johf, L thtque a Ntc., Comm., 11, 2, P. 864). o problema
129
passando a constituir o plo de: campo, de
racionalidade para o qual o .e, tor-
nando-se objeto de uma "cincia etlca
ou cincia das normas e dos fins da praXts. Mas nao ha-
vendo fraturas absolutas no campo do logos, ele estende
ao infinito suas linhas: nele a alma se dilata para tornar-se,
de algum modo, todas as coisas.
220
O ethos .arrastado
no movimento sem fim do lagos e confrontado, fmalmente,
com a exigncia de fundamentao absoluta que impele esse
movimento. Tal a polarizao fundamental que
o campo da tica nas suas origens gregas e no seu
rio ao longo da filosofia ocidental: de um lado a contm-
gncia do ethos, de outro a necessidade .do. l?gos: O campo
de tenso entre os dois plos se constltm mevltavelmente
desde o momento em que o sujeito da praxis (do bos. p_o-
litiks a vida mais alta e mais nobre segundo a trad1ao
grega)' se mostra igualmente como sujeito da theora; ou
desde o momento em que o sol do lagos se eleva alto so-
bre o horizonte da vida humana para iluminar toda a rea-
lidade e assinala a hora meridiana dos grandes sistemas
de e Aristteles. O bos theoretiks revela-se, ento,
como a vida mais excelente do homem, tendo seu ato mais
perfeito na theora. Como no celebrar nessa forma de vida,
que nos comum com os deuses, o alvo a que tende a
vida segundo a virtude, que a vida propriamente huma-
na?
221
Essa celebrao, com as diferenas de e ma-
tiz que assinalam os passos de uma longa carreua, mas
conservando o estilo solene da parenese, apresenta-se como
um "invariante" do pensamento aristotlico,
222
descrevendo
da relao entre o conhecimento prtico e o conhecimento terico
aparece, assim, ligado ao tema clssico das "trs . :Vidas", evocado
por Aristteles em t. Nic., I, 3, e que A. J. Festug1ere estudou
gistralmente no seu belo estudo citado supra, nota 208. sab1do
que a tica de Nic6maco pode ser considerada para
reduzir a um nico princpio - 3; bus?a da eudmmonta - e
sintetizar num nico ideal - a v1da - o .esquema plato-
nico das trs vidas: vida de prazer, v1da e Vl?a contem-
plao. ver R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L th. a Nw., Comm.,
II, 2, pp. 860-86
2
. III 8 431 b 21
220 He psyche t nta p6s esti pan.ta, De An. , , .
221: t. Nic., X, 7, 1177 b 26-1178 a 8. Sobre o sentido
ra aristotlica e sua relao com a praxis ver o belo estudo, Ja. elas:
sico de J Ritter Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theone bel
ap. Metaphysik und Politik: Studien ber Aristoteles und
Hegel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 9-33. .
222. Ch. Lefevre, Sur Z'volution d'Aristote en Psychologze, p.
130
uma linha cimeira na qual se elevam os altos textos dos
fragmentos do Protrtico da Metafsica I e XII e da tica
de Nicmaco, X, 6-9. '
A profunda revoluo provocada na esfera das "coisas
humanas" (t anthrpina) pelo advento da Razo epistmi-
ca, ou a descida dessa Razo da majestade divina da phtysis
para a proximidade humana da polis,
223
completa em Aris-
tteles um primeiro ciclo que se iniciara com Scrates e
os Sofistas. Da investigao (istora) pr-socrtica da phy-
sis theora aristotlica, passando pelo relativismo sofsti-
co e ontologia platnica, ficam marcados os estgios
que designam outras tantas formas de transposio do ethos
no lagos ou de tentativas de constituio de um saber do
ethos obediente aos critrios do lagos da cincia. No entan-
to, somente com Aristteles esse desgnio ir alcanar seu
pleno cumprimento com a criao da ethike episthme ou
da tica propriamente dita. lcito, porm perguntar-se se
o itinerrio que ser percorrido pela tica n tradio ociden-
tal no ir reencontrar, uma e muitas vezes, as estaes do
caminho da primeira tica grega e ver-se face a face com seus
problemas fundamentais. De fato, as vicissitudes do pensa-
mento tico no Ocidente mostram que no pode ser alte-
rado sem graves desequilbrios na anlise da praxis tica
22
4
o diagrama conceptual traado por Aristteles, no qual a
funo mediadora da phrnesis se exerce na interseco da
linha horizontal do desejo apontando para o prazer ( rexis
- hedon) e da linha vertical da razo apontando para a
contemplao (lagos - theora). m
223. Ver supra, cap, II, n. 2.
224. Esses desequilbrios so assinalados pelo predomnio do
empirismo e do formalismo na constituio da cincia do ethos e
que Hegel criticou na 1 e partes do seu escrito sobre o Direito
Natural. Ver G. W. Hegel, tJber die wissenschaftlichen Behandlungs-
arten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie
und sein Verhiiltnis zu den positiven Rechtswissenschaften ap. Je-
naer kritische Schrijten, hrsg. v. H. Buchner/0. Pggeler' (Gesam-
melte Werke, 4) Hamburgo, Meiner, 1968, pp. 417-485 (aqui pp,
417-449).
225. Eis um esboo desse esquema:
the!j.ria
I
rexis< . .... ..... ">hedon
I
lgos
131
passando a constituir o plo de: campo, de
racionalidade para o qual o .e, tor-
nando-se objeto de uma "cincia etlca
ou cincia das normas e dos fins da praXts. Mas nao ha-
vendo fraturas absolutas no campo do logos, ele estende
ao infinito suas linhas: nele a alma se dilata para tornar-se,
de algum modo, todas as coisas.
220
O ethos .arrastado
no movimento sem fim do lagos e confrontado, fmalmente,
com a exigncia de fundamentao absoluta que impele esse
movimento. Tal a polarizao fundamental que
o campo da tica nas suas origens gregas e no seu
rio ao longo da filosofia ocidental: de um lado a contm-
gncia do ethos, de outro a necessidade .do. l?gos: O campo
de tenso entre os dois plos se constltm mevltavelmente
desde o momento em que o sujeito da praxis (do bos. p_o-
litiks a vida mais alta e mais nobre segundo a trad1ao
grega)' se mostra igualmente como sujeito da theora; ou
desde o momento em que o sol do lagos se eleva alto so-
bre o horizonte da vida humana para iluminar toda a rea-
lidade e assinala a hora meridiana dos grandes sistemas
de e Aristteles. O bos theoretiks revela-se, ento,
como a vida mais excelente do homem, tendo seu ato mais
perfeito na theora. Como no celebrar nessa forma de vida,
que nos comum com os deuses, o alvo a que tende a
vida segundo a virtude, que a vida propriamente huma-
na?
221
Essa celebrao, com as diferenas de e ma-
tiz que assinalam os passos de uma longa carreua, mas
conservando o estilo solene da parenese, apresenta-se como
um "invariante" do pensamento aristotlico,
222
descrevendo
da relao entre o conhecimento prtico e o conhecimento terico
aparece, assim, ligado ao tema clssico das "trs . :Vidas", evocado
por Aristteles em t. Nic., I, 3, e que A. J. Festug1ere estudou
gistralmente no seu belo estudo citado supra, nota 208. sab1do
que a tica de Nic6maco pode ser considerada para
reduzir a um nico princpio - 3; bus?a da eudmmonta - e
sintetizar num nico ideal - a v1da - o .esquema plato-
nico das trs vidas: vida de prazer, v1da e Vl?a contem-
plao. ver R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L th. a Nw., Comm.,
II, 2, pp. 860-86
2
. III 8 431 b 21
220 He psyche t nta p6s esti pan.ta, De An. , , .
221: t. Nic., X, 7, 1177 b 26-1178 a 8. Sobre o sentido
ra aristotlica e sua relao com a praxis ver o belo estudo, Ja. elas:
sico de J Ritter Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theone bel
ap. Metaphysik und Politik: Studien ber Aristoteles und
Hegel, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 9-33. .
222. Ch. Lefevre, Sur Z'volution d'Aristote en Psychologze, p.
130
uma linha cimeira na qual se elevam os altos textos dos
fragmentos do Protrtico da Metafsica I e XII e da tica
de Nicmaco, X, 6-9. '
A profunda revoluo provocada na esfera das "coisas
humanas" (t anthrpina) pelo advento da Razo epistmi-
ca, ou a descida dessa Razo da majestade divina da phtysis
para a proximidade humana da polis,
223
completa em Aris-
tteles um primeiro ciclo que se iniciara com Scrates e
os Sofistas. Da investigao (istora) pr-socrtica da phy-
sis theora aristotlica, passando pelo relativismo sofsti-
co e ontologia platnica, ficam marcados os estgios
que designam outras tantas formas de transposio do ethos
no lagos ou de tentativas de constituio de um saber do
ethos obediente aos critrios do lagos da cincia. No entan-
to, somente com Aristteles esse desgnio ir alcanar seu
pleno cumprimento com a criao da ethike episthme ou
da tica propriamente dita. lcito, porm perguntar-se se
o itinerrio que ser percorrido pela tica n tradio ociden-
tal no ir reencontrar, uma e muitas vezes, as estaes do
caminho da primeira tica grega e ver-se face a face com seus
problemas fundamentais. De fato, as vicissitudes do pensa-
mento tico no Ocidente mostram que no pode ser alte-
rado sem graves desequilbrios na anlise da praxis tica
22
4
o diagrama conceptual traado por Aristteles, no qual a
funo mediadora da phrnesis se exerce na interseco da
linha horizontal do desejo apontando para o prazer ( rexis
- hedon) e da linha vertical da razo apontando para a
contemplao (lagos - theora). m
223. Ver supra, cap, II, n. 2.
224. Esses desequilbrios so assinalados pelo predomnio do
empirismo e do formalismo na constituio da cincia do ethos e
que Hegel criticou na 1 e partes do seu escrito sobre o Direito
Natural. Ver G. W. Hegel, tJber die wissenschaftlichen Behandlungs-
arten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie
und sein Verhiiltnis zu den positiven Rechtswissenschaften ap. Je-
naer kritische Schrijten, hrsg. v. H. Buchner/0. Pggeler' (Gesam-
melte Werke, 4) Hamburgo, Meiner, 1968, pp. 417-485 (aqui pp,
417-449).
225. Eis um esboo desse esquema:
the!j.ria
I
rexis< . .... ..... ">hedon
I
lgos
131
Deve-se reconhecer, no entanto, que a expe!incia gre-
ga da transposio do ethos no espao da razao demons-
trativa que deu origem criao ocidental da tica, reve-
lou-se igualmente a fonte de alguns dos problemas de cultu-
ra mais desafiadores entre quantos vem acompanhando
nossa civilizao. A constituio da tica significa o reco-
nhecimento e a legitimao, implicada na prpria legiti-
mao social do lagos da cincia, de uma instncia julga-
dora do ethos que, em princpio, no se refere s normas
e valores incorporados tradio ou sabedoria da vida,
nem s prescries e sanes de origem religiosa, mas se
guia pelos critrios de uma racionalidade regida pelo c-
digo do lagos demonstrativo. O intento que mais longe
avanou para aproximar as razes tericas da tica das
razes histricas do ethos foi o de Aristteles. A distino
entre as virtudes ticas e as virtudes dianoticas e sua inte-
grao na estrutura da praxis virtuosa sob a regncia da
sabedoria prtica (phrnesis), a traduo conceptual des-
se encontro entre ethos e tica. No obstante, vimos que
a pragnwteia tica de Aristteles termina na tenso extrema
que se estabelece entre a elevao sobre-humana da con-
templao e os limites humanos da ao. A tica, coroada
pela phrnesis, no , finalmente, seno um prembulo da
philosopha e volta-se, como que movida por um irresist-
vel fototropismo espiritual, para o ato supremo da theora.
Abre-se, desta sorte, um hiato sempre renovado entre as
razes do ethos que a tradio transmite e justifica e as ra-
zes da tica que o ensinamento pretende transmitir e de-
monstrar dentro dos quadros institucionais da escola.
226
Para Plato, como sabido, o filsofo avoca a si as tare-
fas do legislador e do governante.
227
Para Aristteles, os
filsofos devero dispor-se a ministrar um ensinamento ti-
co aos cidados aptos a receb-lo. m
226. Assim as virtudes ticas so transmitidas pela tradio e
as virtudes dianoticas pelo ensinamento. Ver t. Nic., II, 1, 1103
a 14-18.
227. Ver o texto clebre da Rep. V, 473 c-d e entre os comen-
trios recentes desta passagem, R. Maurer, Platons "Staat" und die
Demokratie, op. cit., pp. 24-27.
228. Sobre essa aptido ver t. Nic., I, 3, 1095 a 2-30. Sobre a
distino entre o "cidado" e o "filsofo", ver G. Bien, Die Gru"!-d-
legung der politischen Philosophie bei Aristoteles, pp. G. B1en
propugna a possibilidade em Aristteles, de uma tica sem Meta-
fsica. Mas permanece o' fato, talvez no levado suficientemente em
132
Se o ethos, como acima se procurou mostrar,
229
co-
-extensivo cultura e se a constituio de uma cincia do
ethos ofereceu-se como o caminho mais vivel para uma
nova fundamentao do ethos na grande crise que abalou a
cl!ltura grega nos sculos V-IV a.C. - caminho que ainda
nao. ?ca?amos de percorrer -, igualmente indubitvel que
a c1enc1a do ethos, na diversidade das suas verses no
logrou constituir-se em forma universal do ethos ele
co-extensiva cultura, em nenhum dos estgios do ciclo ci-
vilizatrio que teve incio com a civilizao grega clssica.
Se acompanharmos a sucesso das doutrinas ticas da pri-
meira Academia e do primeiro Liceu no tramonto da plis
das ticas helensticas at o fim da Antigidade, da
. _na Idade_ da. humanista na Renascena,
das e na idade da Ilustrao,
da etlca da e1enc1a do seculo XIX aos nossos dias,
23
0 ve-
remos que nenhuma dessas grandes sistematizaes do
pensamento tico elevou-se forma de um ethos universal.
Isto no obstante o fato de que muitas das idias funda-
mentais por elas difundidas tornaram-se princpios de vida
e de ao para as elites polticas e letradas da sua poca
(como as idias do Estoicismo na poca helenstico-roma-
na) ou se incorporaram mentalidade e s instituies (co-
mo a idia racionalista dos direitos universais do homem
na poca moderna). Vale dizer que o projeto de um ethos
efe!ivamente histrico cujas razes encontrem sua explici-
taao adequada nas razes e na linguagem de uma tica
universal e reconhecida como tal - ou de um ethos que
se autojustifique numa cincia normativa da praxis - per-
manece distante de uma realizao efetiva, enquanto os
thea tradicionais entram em processo de desagregao
aparentemente incontrolvel, e o niilismo tico passa a rei-
conta por esse autor, de que o ensinamento da cincia tica prerro-
gativa do filscfo e de que suas lies terminam com uma exorta-
o theora, fundada na subordinao da tica Filosofia. na
Filosofia, com efeito, que a Poltica (no sentido amplo incluindo a
tica), ir fundamentar seu poder arquitetnico. V L. Oll-La-
prune, Essai sur la Morale d' Aristote, pp. 174-186.
229. Ver supra, cap. li, n. 1.
230. Ver a cbra clssica de O. Dittrich, Geschichte der Ethik:
die Systeme der Moral vom Altertum bis zum Gegenwart 4 vols.
Leipzig, F. Meiner, 1926ss. e a excelente sntese de Vernon F. Bourke'
History of Ethics, Nova Iorque, Doubleday, 1968 Ctr. fr. Paris Cerr'
19701. ' '
133
Deve-se reconhecer, no entanto, que a expe!incia gre-
ga da transposio do ethos no espao da razao demons-
trativa que deu origem criao ocidental da tica, reve-
lou-se igualmente a fonte de alguns dos problemas de cultu-
ra mais desafiadores entre quantos vem acompanhando
nossa civilizao. A constituio da tica significa o reco-
nhecimento e a legitimao, implicada na prpria legiti-
mao social do lagos da cincia, de uma instncia julga-
dora do ethos que, em princpio, no se refere s normas
e valores incorporados tradio ou sabedoria da vida,
nem s prescries e sanes de origem religiosa, mas se
guia pelos critrios de uma racionalidade regida pelo c-
digo do lagos demonstrativo. O intento que mais longe
avanou para aproximar as razes tericas da tica das
razes histricas do ethos foi o de Aristteles. A distino
entre as virtudes ticas e as virtudes dianoticas e sua inte-
grao na estrutura da praxis virtuosa sob a regncia da
sabedoria prtica (phrnesis), a traduo conceptual des-
se encontro entre ethos e tica. No obstante, vimos que
a pragnwteia tica de Aristteles termina na tenso extrema
que se estabelece entre a elevao sobre-humana da con-
templao e os limites humanos da ao. A tica, coroada
pela phrnesis, no , finalmente, seno um prembulo da
philosopha e volta-se, como que movida por um irresist-
vel fototropismo espiritual, para o ato supremo da theora.
Abre-se, desta sorte, um hiato sempre renovado entre as
razes do ethos que a tradio transmite e justifica e as ra-
zes da tica que o ensinamento pretende transmitir e de-
monstrar dentro dos quadros institucionais da escola.
226
Para Plato, como sabido, o filsofo avoca a si as tare-
fas do legislador e do governante.
227
Para Aristteles, os
filsofos devero dispor-se a ministrar um ensinamento ti-
co aos cidados aptos a receb-lo. m
226. Assim as virtudes ticas so transmitidas pela tradio e
as virtudes dianoticas pelo ensinamento. Ver t. Nic., II, 1, 1103
a 14-18.
227. Ver o texto clebre da Rep. V, 473 c-d e entre os comen-
trios recentes desta passagem, R. Maurer, Platons "Staat" und die
Demokratie, op. cit., pp. 24-27.
228. Sobre essa aptido ver t. Nic., I, 3, 1095 a 2-30. Sobre a
distino entre o "cidado" e o "filsofo", ver G. Bien, Die Gru"!-d-
legung der politischen Philosophie bei Aristoteles, pp. G. B1en
propugna a possibilidade em Aristteles, de uma tica sem Meta-
fsica. Mas permanece o' fato, talvez no levado suficientemente em
132
Se o ethos, como acima se procurou mostrar,
229
co-
-extensivo cultura e se a constituio de uma cincia do
ethos ofereceu-se como o caminho mais vivel para uma
nova fundamentao do ethos na grande crise que abalou a
cl!ltura grega nos sculos V-IV a.C. - caminho que ainda
nao. ?ca?amos de percorrer -, igualmente indubitvel que
a c1enc1a do ethos, na diversidade das suas verses no
logrou constituir-se em forma universal do ethos ele
co-extensiva cultura, em nenhum dos estgios do ciclo ci-
vilizatrio que teve incio com a civilizao grega clssica.
Se acompanharmos a sucesso das doutrinas ticas da pri-
meira Academia e do primeiro Liceu no tramonto da plis
das ticas helensticas at o fim da Antigidade, da
. _na Idade_ da. humanista na Renascena,
das e na idade da Ilustrao,
da etlca da e1enc1a do seculo XIX aos nossos dias,
23
0 ve-
remos que nenhuma dessas grandes sistematizaes do
pensamento tico elevou-se forma de um ethos universal.
Isto no obstante o fato de que muitas das idias funda-
mentais por elas difundidas tornaram-se princpios de vida
e de ao para as elites polticas e letradas da sua poca
(como as idias do Estoicismo na poca helenstico-roma-
na) ou se incorporaram mentalidade e s instituies (co-
mo a idia racionalista dos direitos universais do homem
na poca moderna). Vale dizer que o projeto de um ethos
efe!ivamente histrico cujas razes encontrem sua explici-
taao adequada nas razes e na linguagem de uma tica
universal e reconhecida como tal - ou de um ethos que
se autojustifique numa cincia normativa da praxis - per-
manece distante de uma realizao efetiva, enquanto os
thea tradicionais entram em processo de desagregao
aparentemente incontrolvel, e o niilismo tico passa a rei-
conta por esse autor, de que o ensinamento da cincia tica prerro-
gativa do filscfo e de que suas lies terminam com uma exorta-
o theora, fundada na subordinao da tica Filosofia. na
Filosofia, com efeito, que a Poltica (no sentido amplo incluindo a
tica), ir fundamentar seu poder arquitetnico. V L. Oll-La-
prune, Essai sur la Morale d' Aristote, pp. 174-186.
229. Ver supra, cap. li, n. 1.
230. Ver a cbra clssica de O. Dittrich, Geschichte der Ethik:
die Systeme der Moral vom Altertum bis zum Gegenwart 4 vols.
Leipzig, F. Meiner, 1926ss. e a excelente sntese de Vernon F. Bourke'
History of Ethics, Nova Iorque, Doubleday, 1968 Ctr. fr. Paris Cerr'
19701. ' '
133
nar sobre os escombros desses antigos thea. predom-
nio dos problemas ticos na filosofia contempor:mea
te essa situao, que no exprime apenas a crise teonca
de um saber tradicionalmente integrado ao corpus dos sa-
beres filosficos, mas ainda, e sobretudo, a crise de uma
civilizao que vive o espetculo paradoxal dos homens
errantes numa floresta de razes - tcnicas, cientficas,
econmicas, polticas, culturais- e incapazes de
razes para o seu prprio caminho ou razes normativas
para o seu agir.
A tica uma resposta tipicamente grega a uma situa-
o de crise profunda do ethos tradicional. Ela parte do
pressuposto de que, sendo portador do logos e definido pelo
lagos, o homem - deve ser - regido pelo logos. Nesse
sentido tica uma disciplina eminentemente educativa,
uma que dispe o homem a viver segundo a razo
o que necessariamente, ensinou Scrates, viver segundo a
virtude. A correspondncia efetiva entre o lagos e a aret o
alvo perseguido desde as suas origens, por essa tentativa de
fundamentao 'do ethos num lagos formalmente codificado
em saber demonstrativo, que Aristteles denominou prakti-
ke episthme.
Mas uma experincia de amplitude to vasta e de re-
percusses to decisivas no campo do agir quanto
a experincia grega do lagos comea a delmear-se o
fim do ciclo da plis e com a exausto dos grandes Siste-
mas da idade socrtica, e alcana suas dimenses defini-
tivas e sua maior profundidade no encontro entre a cultu-
ra filosfica do ecmeno helenstico-romano e a tradio
bblico-crist: a experincia da liberdade moral. A tica,
paideia do homem clssico, definido pelo predicado da ra-
cionalidade, ter de acolher no seu sistema de razes o
indivduo que se autodetermina a partir da sua livre sub-
jetividade. O caminho da tica ocidental passa a ser indi-
cado, desde ento, pelas direes da dialtica entre razo
e liberdade que se constitui na sua articulao conceptual
mais profunda e no seu problema maior.
Captulo Quarto
TICA E DIREITO *
1. DO ET HOS SOCIEDADE POLTICA:
A GNESE DO DIREITO
O aparecimento e desenvolvimento da idia de socie-
dade poltica caminham em estreita inter-relao com a for-
mao da cincia do ethos. A matriz conceptual repre.
sentada aqui pela idia de lei ( nmos), que deve permitir
o estabelecimento de uma proporo ou correspondncia
( analoga) entre a lei ou medida ( mtron) interior que rege
a praxis do indivduo, e a lei da cidade que propriamente
nmos, e deve assegurar a participao eqitativa (euno-
ma) dos indivduos no bem que comum a todos e que
, primeiramente, o prprio viver-em-comum.
1
De um lado
a explicitao da racionalidade imanente do ethos se cons-
titui como teoria da praxis individual e assume a forma
de uma doutrina da virtude ( aret) ou da tica no sentido
estrito. O ethos , ento, conceptualizado fundamentalmen-
te como hbito (hexis). De outro, a razo do ethos ir
exprimir-se na forma de uma teoria do existir e do agir
em comum e se apresentar como doutrina da lei justa
(politeia) que , na comunidade, o anlogo da virtude no
indivduo. o ethos , ento, conceptualizado fundamental-
mente como costume. A cincia da politeia ou a Poltica
Sob o ttulo "Antropologia e direitos humanos" este captulo
foi publicado in REB, 37 (1977): 13-40 (verso refundida).
1. Ver supra cap. II, n. 2 e as notas 50 e 63.
135
nar sobre os escombros desses antigos thea. predom-
nio dos problemas ticos na filosofia contempor:mea
te essa situao, que no exprime apenas a crise teonca
de um saber tradicionalmente integrado ao corpus dos sa-
beres filosficos, mas ainda, e sobretudo, a crise de uma
civilizao que vive o espetculo paradoxal dos homens
errantes numa floresta de razes - tcnicas, cientficas,
econmicas, polticas, culturais- e incapazes de
razes para o seu prprio caminho ou razes normativas
para o seu agir.
A tica uma resposta tipicamente grega a uma situa-
o de crise profunda do ethos tradicional. Ela parte do
pressuposto de que, sendo portador do logos e definido pelo
lagos, o homem - deve ser - regido pelo logos. Nesse
sentido tica uma disciplina eminentemente educativa,
uma que dispe o homem a viver segundo a razo
o que necessariamente, ensinou Scrates, viver segundo a
virtude. A correspondncia efetiva entre o lagos e a aret o
alvo perseguido desde as suas origens, por essa tentativa de
fundamentao 'do ethos num lagos formalmente codificado
em saber demonstrativo, que Aristteles denominou prakti-
ke episthme.
Mas uma experincia de amplitude to vasta e de re-
percusses to decisivas no campo do agir quanto
a experincia grega do lagos comea a delmear-se o
fim do ciclo da plis e com a exausto dos grandes Siste-
mas da idade socrtica, e alcana suas dimenses defini-
tivas e sua maior profundidade no encontro entre a cultu-
ra filosfica do ecmeno helenstico-romano e a tradio
bblico-crist: a experincia da liberdade moral. A tica,
paideia do homem clssico, definido pelo predicado da ra-
cionalidade, ter de acolher no seu sistema de razes o
indivduo que se autodetermina a partir da sua livre sub-
jetividade. O caminho da tica ocidental passa a ser indi-
cado, desde ento, pelas direes da dialtica entre razo
e liberdade que se constitui na sua articulao conceptual
mais profunda e no seu problema maior.
Captulo Quarto
TICA E DIREITO *
1. DO ET HOS SOCIEDADE POLTICA:
A GNESE DO DIREITO
O aparecimento e desenvolvimento da idia de socie-
dade poltica caminham em estreita inter-relao com a for-
mao da cincia do ethos. A matriz conceptual repre.
sentada aqui pela idia de lei ( nmos), que deve permitir
o estabelecimento de uma proporo ou correspondncia
( analoga) entre a lei ou medida ( mtron) interior que rege
a praxis do indivduo, e a lei da cidade que propriamente
nmos, e deve assegurar a participao eqitativa (euno-
ma) dos indivduos no bem que comum a todos e que
, primeiramente, o prprio viver-em-comum.
1
De um lado
a explicitao da racionalidade imanente do ethos se cons-
titui como teoria da praxis individual e assume a forma
de uma doutrina da virtude ( aret) ou da tica no sentido
estrito. O ethos , ento, conceptualizado fundamentalmen-
te como hbito (hexis). De outro, a razo do ethos ir
exprimir-se na forma de uma teoria do existir e do agir
em comum e se apresentar como doutrina da lei justa
(politeia) que , na comunidade, o anlogo da virtude no
indivduo. o ethos , ento, conceptualizado fundamental-
mente como costume. A cincia da politeia ou a Poltica
Sob o ttulo "Antropologia e direitos humanos" este captulo
foi publicado in REB, 37 (1977): 13-40 (verso refundida).
1. Ver supra cap. II, n. 2 e as notas 50 e 63.
135
, assim, a outra face da tica.
2
Se, no domnio da tica
no sentido estrito, como cincia da praxis individual, o pro-
blema maior o problema de uma razo da liberdade (gen.
subj.) ou de uma razo imanente liberdade e que de-
monstre na virtude a realizao plena, a enrgeia da praxis
livre, no domnio da Poltica no sentido estrito, como cin-
cia normativa da praxis comunitria, o problema maior
o problema de uma razo do livre consenso (gen. subj.),
ou de uma razo imanente livre aceitao do existir e
agir em comum e que demonstre na lei justa a realizao
plena, a enrgeia da praxis consensual. A razo imanente
ao livre consenso e que se explicita em leis, regras, prescri-
es e sentenas o que se denomina propriamente Di-
reito e que est para a comunidade como a razo reta
(orths lgos) est para o indivduo. A sociedade, como
o indivduo, tem o seu excesso, a sua hybris, que se traduz
em formas degeneradas ou perversas de politeia ou na pr-
pria perverso do Direito.
3
A lei aparece, assim, como o
oposto exato da hfybris social em todas as suas formas e,
portanto, como a razo explicitada e codificada da liberda-
de consensual. Neste sentido o Direito ou o sistema do Di-
reito definido por Hegel, com perfeita exatido, como "o
reino da liberdade realizada".
A idia de sociedade poltica, emergindo historicamente
do ethos das sociedades aristocrticas e guerreiras da Gr-
cia arcaica, defronta-se inicialmente com o problema do
poder como fato social fundamental imposto pelo prprio
pacto implcito de associao que rene os indivduos em
grupos estveis. A associao do poder com a fora , por
sua vez, um fato universal e natural, e a fora se exprime
primeiramente como violncia. A sociedade poltica se apre-
senta exatamente como o intento de desvincular a neces-
sidade natural da associao e a utilidade comum dela re-
2. A cincia das "coisas humanas" (t anthrpina) abrange
assim, segundo Aristteles (t. Nic., I, 1, 1094 a 25-30; X, 9, 1181 b
15; ver supra, cap. III, nota 57) a tica e a Poltica no seu sentido
estrito. a Cincia Poltica por excelncia.
3. Essa perverso se exprime de modo exemplar na identi-
ficao entre c Direito e a fora que encontra sua forma poltica na
tirania. Do Grgias Repblica esse tema constitui o fio condutor
da reflexo poltica platnica, e vem terminar na clebre tipologia
dos regimes e dos homens polticos e na sua perverso extrema, a
tirania e o homem tirnico. Ver Rep. VIII 562 a-IX, 579 e.
4. Grundlinien der Philosophie des Rechts, 4.
136
do do poder como fora ou como vio-
lenCia, e assumi-las na esfera legitimadora da lei e do Di-
reito. Esse intento vir a concretizar-se historicamente na
in:ven? da Estado onde o poder deferido
lei a (politeia) e cuja essncia o filsofo
estowo. Panec10. Rodes traduzir na definio lapidar que
fOI transmitida por M. T. Ccero: coetus multitudinis
zuns consensu et utilitatis communione sociatus. 5
_Ao das formas primitivas de associao, nas
quais o exercicio do poder est ligado ao desenlace de uma
dialtica da violncia ou aos termos da relao senhor-es-
cravo,
6
a nascente sociedade poltica v-se face a face com
o_ problema da legitimao consensual do poder. Da solu-
ao deste problema iro depender sua unidade sua esta-
bilidade e, afinal, sua viabilidade histrica. como
no indivduo, o movimento do desejo tende ao excesso
deve ser regido pelo mtron da virtude, assim a dinmica
do poder habitada internamente pela desmesura ou a
hybris da violncia e deve ser regulada internamente pelo
logos lei. P?r. conseguinte o poder que, como
efiCient_e,_ e necessar10 para a constituio do ser da
sociedade pohtlca e para_ a garantia do seu permanecer, de-
ve encontrar na ordenaao da razo que a lei 1 sua causa
e sua legitimao. Deve ser, em suma, um poder
vem se!, um poder no qual o exerccio da fora
e pela JUStia e no qual a mybris da violncia cede
e se retira diante da eqidade da dke. A justia, por sua
vez, segundo a definio clssica do Direito Romano reto-
mada por Toms de Aquino, s tem por objeto o direito a
ser atribudo permanentemente a quem devido. , pois,
. 5. M. T. Ccero, De Rep. I, 139; essa definio remonta a Cri-
Slpo segundo o testemunho de Dion Crisstomo (v. Arnin Stoicorum
veterum fragmenta, III, 329). '
6 . Essa. . a relao tpica de poder que acabou revestida de
um carater rehg1oso na sociedade arcaica do oikos grego e da famlia
as pginas clssicas de Fustel de Coulanges, La cit
antzque, Pans, Hachette, 1952, pp. 93-103. Sobre a dialtica senhor-
-esc_r';\vo na gnese do reconhecimento, que d origem sociedade
ver H. C. de Lima Vaz, "Senhor e escravo: uma parbola da
fllosofia ocidental" in Sntese, 21 {1981): 7-29.
7 . Segundo a definio clssica: quaedam ordinatio rationis
ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promul-
gata, Toms de Aquino, S.T., 11il 2ae. q. 90 a. 4, c.
8. S.T., 21}.. 2ae. q. 58 a. 1 c.: iustitia est constans et perpetua
voluntas ius suum unicuique tribuens.
137
, assim, a outra face da tica.
2
Se, no domnio da tica
no sentido estrito, como cincia da praxis individual, o pro-
blema maior o problema de uma razo da liberdade (gen.
subj.) ou de uma razo imanente liberdade e que de-
monstre na virtude a realizao plena, a enrgeia da praxis
livre, no domnio da Poltica no sentido estrito, como cin-
cia normativa da praxis comunitria, o problema maior
o problema de uma razo do livre consenso (gen. subj.),
ou de uma razo imanente livre aceitao do existir e
agir em comum e que demonstre na lei justa a realizao
plena, a enrgeia da praxis consensual. A razo imanente
ao livre consenso e que se explicita em leis, regras, prescri-
es e sentenas o que se denomina propriamente Di-
reito e que est para a comunidade como a razo reta
(orths lgos) est para o indivduo. A sociedade, como
o indivduo, tem o seu excesso, a sua hybris, que se traduz
em formas degeneradas ou perversas de politeia ou na pr-
pria perverso do Direito.
3
A lei aparece, assim, como o
oposto exato da hfybris social em todas as suas formas e,
portanto, como a razo explicitada e codificada da liberda-
de consensual. Neste sentido o Direito ou o sistema do Di-
reito definido por Hegel, com perfeita exatido, como "o
reino da liberdade realizada".
A idia de sociedade poltica, emergindo historicamente
do ethos das sociedades aristocrticas e guerreiras da Gr-
cia arcaica, defronta-se inicialmente com o problema do
poder como fato social fundamental imposto pelo prprio
pacto implcito de associao que rene os indivduos em
grupos estveis. A associao do poder com a fora , por
sua vez, um fato universal e natural, e a fora se exprime
primeiramente como violncia. A sociedade poltica se apre-
senta exatamente como o intento de desvincular a neces-
sidade natural da associao e a utilidade comum dela re-
2. A cincia das "coisas humanas" (t anthrpina) abrange
assim, segundo Aristteles (t. Nic., I, 1, 1094 a 25-30; X, 9, 1181 b
15; ver supra, cap. III, nota 57) a tica e a Poltica no seu sentido
estrito. a Cincia Poltica por excelncia.
3. Essa perverso se exprime de modo exemplar na identi-
ficao entre c Direito e a fora que encontra sua forma poltica na
tirania. Do Grgias Repblica esse tema constitui o fio condutor
da reflexo poltica platnica, e vem terminar na clebre tipologia
dos regimes e dos homens polticos e na sua perverso extrema, a
tirania e o homem tirnico. Ver Rep. VIII 562 a-IX, 579 e.
4. Grundlinien der Philosophie des Rechts, 4.
136
do do poder como fora ou como vio-
lenCia, e assumi-las na esfera legitimadora da lei e do Di-
reito. Esse intento vir a concretizar-se historicamente na
in:ven? da Estado onde o poder deferido
lei a (politeia) e cuja essncia o filsofo
estowo. Panec10. Rodes traduzir na definio lapidar que
fOI transmitida por M. T. Ccero: coetus multitudinis
zuns consensu et utilitatis communione sociatus. 5
_Ao das formas primitivas de associao, nas
quais o exercicio do poder est ligado ao desenlace de uma
dialtica da violncia ou aos termos da relao senhor-es-
cravo,
6
a nascente sociedade poltica v-se face a face com
o_ problema da legitimao consensual do poder. Da solu-
ao deste problema iro depender sua unidade sua esta-
bilidade e, afinal, sua viabilidade histrica. como
no indivduo, o movimento do desejo tende ao excesso
deve ser regido pelo mtron da virtude, assim a dinmica
do poder habitada internamente pela desmesura ou a
hybris da violncia e deve ser regulada internamente pelo
logos lei. P?r. conseguinte o poder que, como
efiCient_e,_ e necessar10 para a constituio do ser da
sociedade pohtlca e para_ a garantia do seu permanecer, de-
ve encontrar na ordenaao da razo que a lei 1 sua causa
e sua legitimao. Deve ser, em suma, um poder
vem se!, um poder no qual o exerccio da fora
e pela JUStia e no qual a mybris da violncia cede
e se retira diante da eqidade da dke. A justia, por sua
vez, segundo a definio clssica do Direito Romano reto-
mada por Toms de Aquino, s tem por objeto o direito a
ser atribudo permanentemente a quem devido. , pois,
. 5. M. T. Ccero, De Rep. I, 139; essa definio remonta a Cri-
Slpo segundo o testemunho de Dion Crisstomo (v. Arnin Stoicorum
veterum fragmenta, III, 329). '
6 . Essa. . a relao tpica de poder que acabou revestida de
um carater rehg1oso na sociedade arcaica do oikos grego e da famlia
as pginas clssicas de Fustel de Coulanges, La cit
antzque, Pans, Hachette, 1952, pp. 93-103. Sobre a dialtica senhor-
-esc_r';\vo na gnese do reconhecimento, que d origem sociedade
ver H. C. de Lima Vaz, "Senhor e escravo: uma parbola da
fllosofia ocidental" in Sntese, 21 {1981): 7-29.
7 . Segundo a definio clssica: quaedam ordinatio rationis
ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promul-
gata, Toms de Aquino, S.T., 11il 2ae. q. 90 a. 4, c.
8. S.T., 21}.. 2ae. q. 58 a. 1 c.: iustitia est constans et perpetua
voluntas ius suum unicuique tribuens.
137
em torno do homem como sujeito de direitos que a socie-
dade poltica se organiza e que se legitimam as foras que
a regem e mantm. O homem portanto, no no seu simples
ser natural mas nesta "segunda natureza" pela qual su-
jeito de ou sujeito da liberdade realizada,
9
deve exercer a mediao entre a simples fora que e VIO-
lncia e o poder poltico que deve ser justo. O indivduo
poltico , por definio, o indivduo livre ou capaz de li-
berdade.10
O tema da gnese e concepo do Direito, forma da
sociedade poltica, est desta sorte intrinsecamente ligado
concepo do homem que d razo desses direitos - que
so, por excelncia, direitos humanos - dominante na
ciedade em que tais direitos so reconhecidos se no efeti-
vamente respeitados. H, assim, uma antropologia poltica
fundamental que, em formas diversas, acompanha a hist-
ria j relativamente longa das sociedades polticas do Oci-
dente.
11
Desde a chamada "cosmonomia" do Direito arcai-
co na Grcia
12
at o conflito dos humanismos ou mesmo
s tendncias anti-humanistas que refletem a crise das so-
ciedades polticas contemporneas, estamos diante de uma
sucesso de concepes do homem, cuja funo histrico-
-ideolgica, explicitada freqentemente na inteno dos pen-
sadores que as formularam ou interpretaram, define-se jus-
tamente como tarefa terica, ora de crtica ora de justifi-
cao, da prpria prtica poltica, ou seja, do tipo de re-
lao entre o poder e o direito reconhecida na sociedade.
notrio que essas concepes do homem refletem
uma prtica poltica j constituda ou em vias de constituir-
-se no contexto de complexas causaes histricas. Arist-
teles fixa os traos do zon politikn no momento em que
a plis se encaminha para o seu declnio, e Rousseau de-
senha a imagem do "homem natural" quando a sociedade
liberal moderna apenas ensaia seus primeiros passos. con-
9. Ver o Zusatz da ed. Gans ao 4 da Filosofia do Direito
de Hegel (ed. Moldenhauer-Miehel, 7, pp. 46-48).
10. Ver Claude Bruaire, La Raison politique, Paris, Fayard,
1974, pp. 13-40.
11. A observao de Erie Voegelin: We must have a syste-
matic understanding of the nature ot the man if we want to have. a
systematic political science, Order and History, III, Plato and Ans-
toteles, p. 296. Ver Aristteles, t. Nic., I, 13, 1102 a 18-27.
12. Ver R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, Fribur-
go na Brisgvia, Rombaeh, 1971, pp. 132-137.
138
veniente, pois, distinguir entre a prtica poltica de deter-
minada sociedade ou poca histrica com a idia do homem
que lhe imanente (j que a prtica poltica postula do
indivduo que ele se pense como ser moral, isto , univer-
sal),
13
e as teorias polticas que visam explicitar, justifican-
do ou criticando, tal prtica, e so levadas assim a tema-
tizar a concepo do homem que sustenta a racionalidade
implcita dessa prtica. Temos assim, de um lado, a idia
do homem presente no ethos das sociedades polticas e que
orienta e regula, como uma espcie de norma rectrix, o
seu desempenho histrico; de outro, as teorias do homem
como ser poltico que se formulam em momentos cruciais
- de ascenso, crise ou declnio - nos quais a sociedade
poltica se volta sobre si mesma e se interroga sobre a
validez e consistncia das idias fundamentais que do ra-
zo da sua existncia.
Como no caso da cincia do ethos, tambm no caso
da cincia da plis a razo poltica torna-se uma razo do
poltico (gen. subj.) ou uma teoria do poltico no momento
em que se obscurecem as evidncias que justificam a exis-
tncia histrica da sociedade. Nesse caso, as tentativas pa-
ra reencontrar ou redefinir o campo dessas evidncias pas-
sam a fazer parte da prpria praxis poltica, assim como,
na crise do ethos, a praxis tica postula uma cincia do
ethos. O ato poltico exige aqui a explicitao da sua teoria
e da idia do homem presente na conscincia social do cor-
po poltico, ou seja, exige que se defina uma idia do Di-
reito segundo a qual o indivduo, como membro da comu-
nidade poltica, possa ser pensado no na particularidade
emprica da sua existncia natural, mas na universalidade
racional da sua existncia poltica, como sujeito livre de
direitos e deveres.
14
Se os chamados direitos humanos permanecem um
tema problemtico nas sociedades polticas contemporneas,
dois sculos aps as Declaraes solenes de 1776 e 1789,
que a busca de novas e adequadas formas de organizao
e iderio polticos, na seqncia das profundas transfor-
maes que vm acompanhando o fim do Ancien Rgime,
13. Ver E. Weil, Philosophie politique, ed., Paris, Vrin, 1971,
pp. 132-137.
14. Ver Hegel, Grundlinien der Ph!losophie des Rechts, 24;
209, nota; 211 e o Zusatz a esse paragrafo da ed. Gans (Werke
ed. Moldenhauer-Miehel, 7, p. 364). '
139
em torno do homem como sujeito de direitos que a socie-
dade poltica se organiza e que se legitimam as foras que
a regem e mantm. O homem portanto, no no seu simples
ser natural mas nesta "segunda natureza" pela qual su-
jeito de ou sujeito da liberdade realizada,
9
deve exercer a mediao entre a simples fora que e VIO-
lncia e o poder poltico que deve ser justo. O indivduo
poltico , por definio, o indivduo livre ou capaz de li-
berdade.10
O tema da gnese e concepo do Direito, forma da
sociedade poltica, est desta sorte intrinsecamente ligado
concepo do homem que d razo desses direitos - que
so, por excelncia, direitos humanos - dominante na
ciedade em que tais direitos so reconhecidos se no efeti-
vamente respeitados. H, assim, uma antropologia poltica
fundamental que, em formas diversas, acompanha a hist-
ria j relativamente longa das sociedades polticas do Oci-
dente.
11
Desde a chamada "cosmonomia" do Direito arcai-
co na Grcia
12
at o conflito dos humanismos ou mesmo
s tendncias anti-humanistas que refletem a crise das so-
ciedades polticas contemporneas, estamos diante de uma
sucesso de concepes do homem, cuja funo histrico-
-ideolgica, explicitada freqentemente na inteno dos pen-
sadores que as formularam ou interpretaram, define-se jus-
tamente como tarefa terica, ora de crtica ora de justifi-
cao, da prpria prtica poltica, ou seja, do tipo de re-
lao entre o poder e o direito reconhecida na sociedade.
notrio que essas concepes do homem refletem
uma prtica poltica j constituda ou em vias de constituir-
-se no contexto de complexas causaes histricas. Arist-
teles fixa os traos do zon politikn no momento em que
a plis se encaminha para o seu declnio, e Rousseau de-
senha a imagem do "homem natural" quando a sociedade
liberal moderna apenas ensaia seus primeiros passos. con-
9. Ver o Zusatz da ed. Gans ao 4 da Filosofia do Direito
de Hegel (ed. Moldenhauer-Miehel, 7, pp. 46-48).
10. Ver Claude Bruaire, La Raison politique, Paris, Fayard,
1974, pp. 13-40.
11. A observao de Erie Voegelin: We must have a syste-
matic understanding of the nature ot the man if we want to have. a
systematic political science, Order and History, III, Plato and Ans-
toteles, p. 296. Ver Aristteles, t. Nic., I, 13, 1102 a 18-27.
12. Ver R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, Fribur-
go na Brisgvia, Rombaeh, 1971, pp. 132-137.
138
veniente, pois, distinguir entre a prtica poltica de deter-
minada sociedade ou poca histrica com a idia do homem
que lhe imanente (j que a prtica poltica postula do
indivduo que ele se pense como ser moral, isto , univer-
sal),
13
e as teorias polticas que visam explicitar, justifican-
do ou criticando, tal prtica, e so levadas assim a tema-
tizar a concepo do homem que sustenta a racionalidade
implcita dessa prtica. Temos assim, de um lado, a idia
do homem presente no ethos das sociedades polticas e que
orienta e regula, como uma espcie de norma rectrix, o
seu desempenho histrico; de outro, as teorias do homem
como ser poltico que se formulam em momentos cruciais
- de ascenso, crise ou declnio - nos quais a sociedade
poltica se volta sobre si mesma e se interroga sobre a
validez e consistncia das idias fundamentais que do ra-
zo da sua existncia.
Como no caso da cincia do ethos, tambm no caso
da cincia da plis a razo poltica torna-se uma razo do
poltico (gen. subj.) ou uma teoria do poltico no momento
em que se obscurecem as evidncias que justificam a exis-
tncia histrica da sociedade. Nesse caso, as tentativas pa-
ra reencontrar ou redefinir o campo dessas evidncias pas-
sam a fazer parte da prpria praxis poltica, assim como,
na crise do ethos, a praxis tica postula uma cincia do
ethos. O ato poltico exige aqui a explicitao da sua teoria
e da idia do homem presente na conscincia social do cor-
po poltico, ou seja, exige que se defina uma idia do Di-
reito segundo a qual o indivduo, como membro da comu-
nidade poltica, possa ser pensado no na particularidade
emprica da sua existncia natural, mas na universalidade
racional da sua existncia poltica, como sujeito livre de
direitos e deveres.
14
Se os chamados direitos humanos permanecem um
tema problemtico nas sociedades polticas contemporneas,
dois sculos aps as Declaraes solenes de 1776 e 1789,
que a busca de novas e adequadas formas de organizao
e iderio polticos, na seqncia das profundas transfor-
maes que vm acompanhando o fim do Ancien Rgime,
13. Ver E. Weil, Philosophie politique, ed., Paris, Vrin, 1971,
pp. 132-137.
14. Ver Hegel, Grundlinien der Ph!losophie des Rechts, 24;
209, nota; 211 e o Zusatz a esse paragrafo da ed. Gans (Werke
ed. Moldenhauer-Miehel, 7, p. 364). '
139
persiste como um desafio para o mundo que est surgindo
dessas transformaes. Entre a proclamao formal dos
direitos e o real estatuto poltico dos indivduos e dos gru-
pos aos quais eles so atribudos, estende-se um vasto es-
pao, ocupado por formas antigas e novas de violncia.
Vale dizer que os mecanismos de poder em ao nas so-
ciedades polticas contemporneas no alcanam aquela le-
gitimao que seria propiciada pela real efetivao dos di-
reitos do homem ou pelo reconhecimento do cidado como
portador efetivo dos direitos cujo respeito confere ao poder
seu predicado essencial como poder poltico, ou seja, poder
justo. Ora, tal efetivao no possvel seno atravs da
institucionalizao dos mecanismos do poder em termos
de lei e de direito, vem a ser, em termos de justia. V-se,
assim, que o problema clssico da melhor Constituio (da
mais justa), nada perdeu da sua atualidade, no obstante
o fato de que a poltica moderna, obedecendo inspirao
maquiavlica que est na sua origem, formula-se cada vez
mais como problema de tcnica do poder e cada vez menos
como discernimento sapiencial do mais justo.
15
Na verdade, porm, a histria das sociedades polticas
nos mostra que o exerccio do poder no deriva nelas para
a pura violncia seno em situaes de extrema desagre-
gao do corpo social. A busca da legitimao ou a refe-
rncia ao horizonte universal do Direito definido pela es-
critura de uma lei bsica (politeia) uma caracterstica
inerente dialtica do poder nas sociedades polticas. Ela
se acentua e se impe de maneira aparentemente irrever-
svel no mundo moderno,
16
no obstante o aparecimento
de novos instrumentos de poder imensamente mais eficazes
do que aqueles conhecidos pelas sociedades antigas.
Ao ser reconhecido na sua existncia poltica, ou seja,
como membro da comunidade poltica, como cidado (pol-
ts), o homem se constitui, portanto, sujeito de direitos ou
sujeito universal. Desta sorte, o existir poltico somente
15. Ver J. Habermas, Die klassische Lehre von Politik in ihrem
Verhiiltnis zur Sozialphilosophie in Theorie und Praxis Neuwied-
-Berlim, Luchterhand, 1969, pp: 13-51; R. Maurer, Platbns "Staat"
und die Demokratie, Berlim, de Gruyter, 1970, pp. 1-18; ver ainda
G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte
Einl. (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 12, p. 63). '
16. Ver J. Ladriere, Les droits de l'homme et l'historicit ap.
Vie sociale et destine, Gembloux, Duculot, 1973, pp. 116-138 ( ~ q u i ,
pp. 119-121).
140
pode ser pensado por meio de uma idia do homem que
d razo desse movimento de transcendncia que o eleva
acima da particularidade individual ou grupal. De fato, as
vicissitudes das sociedades polticas no Ocidente so acom-
panhadas pelas variaes de um motivo antropolgico fun-
damental que se esfora por traduzir as complexas relaes
que se estabelecem entre a universalidade objetiva da lei
e do Direito e a particularidade das situaes que circuns-
crevem a existncia do cidado de um lado e, de outro,
entre essa mesma universalidade e a singularidade das cons-
cincias individuais.
17
A apario histrica do poltico traz
consigo, portanto, a mesma necessidade de justificao ra-
cional ou ideal que se fez presente no momento em que
o advento do indivduo, emergindo da ruptura do ethos
tradicional, suscitou o imperativo da criao da tica co-
mo cincia do ethos. O itinerrio que conduz da tica so-
crtica Poltica platnica permanece como paradigma des-
sa exigncia de pensamento do universal, que tenta assen-
tar sobre novos fundamentos - sobre os fundamentos do
lagos demonstrativo ou da cincia - o existir histrico
do indivduo e da comunidade. H pois, como viu Arist-
teles, lR uma continuidade necessria entre a tica e a Po-
ltica: a dialtica particular-universal-singular desdobra-se
no campo da existncia individual como circularidade dia-
ltica do tico
19
e no campo da existncia social como cir-
cularidade dialtica do poltico. Mas preciso convir que
nem todas as concepes do homem logram articular cor-
retamente essa dialtica e permitido supor que a inade-
quao de algumas dessas concepes s exigncias con-
ceptuais que se manifestam na analogia entre o tico e o
poltico seja um dos problemas fundamentais do pensa-
mento poltico contemporneo. Assim, um dos caminhos
para se estudar a relao entre o tico e o poltico ou entre
a tica e o Direito, e que aqui pretendemos seguir, ofere-
ce-se no terreno da evoluo histrica do motivo antropo-
lgico que subjaz dialtica do particular-universal-singular
que constitui a estrutura conceptual bsica da idia do po-
ltico.
2
"
17. Sobre essa dialtica ver nosso estudo "Moral, Sociedade e
Nac;o" in Revista Brasileira de Filosofia, 53: jan., mar. 1964, pp. 1-30.
18. Ver t. Nic., X, 10, 1179 b 31-1181 b 23.
19. Ver supra, cap. I, notas 19 e 62.
20. O problema terico das relaes entre os direitos do ho-
mem e a historicidade foi tratado por J. Ladriere no estudo citado
141
persiste como um desafio para o mundo que est surgindo
dessas transformaes. Entre a proclamao formal dos
direitos e o real estatuto poltico dos indivduos e dos gru-
pos aos quais eles so atribudos, estende-se um vasto es-
pao, ocupado por formas antigas e novas de violncia.
Vale dizer que os mecanismos de poder em ao nas so-
ciedades polticas contemporneas no alcanam aquela le-
gitimao que seria propiciada pela real efetivao dos di-
reitos do homem ou pelo reconhecimento do cidado como
portador efetivo dos direitos cujo respeito confere ao poder
seu predicado essencial como poder poltico, ou seja, poder
justo. Ora, tal efetivao no possvel seno atravs da
institucionalizao dos mecanismos do poder em termos
de lei e de direito, vem a ser, em termos de justia. V-se,
assim, que o problema clssico da melhor Constituio (da
mais justa), nada perdeu da sua atualidade, no obstante
o fato de que a poltica moderna, obedecendo inspirao
maquiavlica que est na sua origem, formula-se cada vez
mais como problema de tcnica do poder e cada vez menos
como discernimento sapiencial do mais justo.
15
Na verdade, porm, a histria das sociedades polticas
nos mostra que o exerccio do poder no deriva nelas para
a pura violncia seno em situaes de extrema desagre-
gao do corpo social. A busca da legitimao ou a refe-
rncia ao horizonte universal do Direito definido pela es-
critura de uma lei bsica (politeia) uma caracterstica
inerente dialtica do poder nas sociedades polticas. Ela
se acentua e se impe de maneira aparentemente irrever-
svel no mundo moderno,
16
no obstante o aparecimento
de novos instrumentos de poder imensamente mais eficazes
do que aqueles conhecidos pelas sociedades antigas.
Ao ser reconhecido na sua existncia poltica, ou seja,
como membro da comunidade poltica, como cidado (pol-
ts), o homem se constitui, portanto, sujeito de direitos ou
sujeito universal. Desta sorte, o existir poltico somente
15. Ver J. Habermas, Die klassische Lehre von Politik in ihrem
Verhiiltnis zur Sozialphilosophie in Theorie und Praxis Neuwied-
-Berlim, Luchterhand, 1969, pp: 13-51; R. Maurer, Platbns "Staat"
und die Demokratie, Berlim, de Gruyter, 1970, pp. 1-18; ver ainda
G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte
Einl. (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 12, p. 63). '
16. Ver J. Ladriere, Les droits de l'homme et l'historicit ap.
Vie sociale et destine, Gembloux, Duculot, 1973, pp. 116-138 ( ~ q u i ,
pp. 119-121).
140
pode ser pensado por meio de uma idia do homem que
d razo desse movimento de transcendncia que o eleva
acima da particularidade individual ou grupal. De fato, as
vicissitudes das sociedades polticas no Ocidente so acom-
panhadas pelas variaes de um motivo antropolgico fun-
damental que se esfora por traduzir as complexas relaes
que se estabelecem entre a universalidade objetiva da lei
e do Direito e a particularidade das situaes que circuns-
crevem a existncia do cidado de um lado e, de outro,
entre essa mesma universalidade e a singularidade das cons-
cincias individuais.
17
A apario histrica do poltico traz
consigo, portanto, a mesma necessidade de justificao ra-
cional ou ideal que se fez presente no momento em que
o advento do indivduo, emergindo da ruptura do ethos
tradicional, suscitou o imperativo da criao da tica co-
mo cincia do ethos. O itinerrio que conduz da tica so-
crtica Poltica platnica permanece como paradigma des-
sa exigncia de pensamento do universal, que tenta assen-
tar sobre novos fundamentos - sobre os fundamentos do
lagos demonstrativo ou da cincia - o existir histrico
do indivduo e da comunidade. H pois, como viu Arist-
teles, lR uma continuidade necessria entre a tica e a Po-
ltica: a dialtica particular-universal-singular desdobra-se
no campo da existncia individual como circularidade dia-
ltica do tico
19
e no campo da existncia social como cir-
cularidade dialtica do poltico. Mas preciso convir que
nem todas as concepes do homem logram articular cor-
retamente essa dialtica e permitido supor que a inade-
quao de algumas dessas concepes s exigncias con-
ceptuais que se manifestam na analogia entre o tico e o
poltico seja um dos problemas fundamentais do pensa-
mento poltico contemporneo. Assim, um dos caminhos
para se estudar a relao entre o tico e o poltico ou entre
a tica e o Direito, e que aqui pretendemos seguir, ofere-
ce-se no terreno da evoluo histrica do motivo antropo-
lgico que subjaz dialtica do particular-universal-singular
que constitui a estrutura conceptual bsica da idia do po-
ltico.
2
"
17. Sobre essa dialtica ver nosso estudo "Moral, Sociedade e
Nac;o" in Revista Brasileira de Filosofia, 53: jan., mar. 1964, pp. 1-30.
18. Ver t. Nic., X, 10, 1179 b 31-1181 b 23.
19. Ver supra, cap. I, notas 19 e 62.
20. O problema terico das relaes entre os direitos do ho-
mem e a historicidade foi tratado por J. Ladriere no estudo citado
141
conveniente, no entanto, fixar desde o incio com exa-
tido os termos da dialtica, cujas vicissitudes histricas
pretendemos acompanhar e cuja articulao revela as for-
mas o homem ocidental tentou pensar -
numa mtenao JUStlfiCadora, programtica ou crtica - suas
efetivas experincias polticas.
poltica representa a elevao do indivduo
empiri?O a un;t de exiStncia universal, vem a ser, de
uma VIda social regida por normas racionais e obediente
ao imperativo de um dever-ser: exatamente o
da lei ou do Direito. necessrio, pois, caracteri-
n:ne1almente a particularidade do indivduo que ser
dialeticamente negada pela passagem ao universal da exis-
Trata-se, evidentemente, dessa forma de
partlculandade que traz em si o princpio da sua prpria
nega_o particularidade. Fica, portanto, excluda a
_que caracteriza uma parte simplesmente
adicwnavel ou mtegrvel num todo no qual cessa a sua
separada. , Fica igualmente excluda a particula-
ridade que se mantem fechada em si mesma como centro
referncia para a satisfao das suas necessidades ime-
diatas. Em outras palavras, no na particularidade do
seu ser fsico ou do seu ser biolgico que o homem se abre
ao movimento de passagem universalidade da existncia
Numa pgina clebre, no incio da sua Poltica,
Anstoteles deli:t:?itou o terreno no qual tem
lugar esse movimento de umversalizao:
clara, pois, a razo pela qual o homem um animal po-
ltico de modo superior a qualquer abelha ou a qualquer ani-
mal gregrio. Dizemos, com efeito, que a natureza nada faz
em vo. Ora, entre os animais somente o homem possui a palavra
(lgon). verdade que a voz (phon) sinal da pena e do
prazer, e por isso se encontra nos outros animais (pois a sua
natureza se desenvolveu a ponto de poderem significar uns aos
outros a sensao de pena e de prazer); mas a palavra apta
para significar o conveniente e o danoso e assim tambm o justo
e o injusto. Essa a peculiaridade do homem que o distin-
na nota 16 supra. A perspectiva que aqui adotamos diferente.
de acompanhar as formas histricas da dialtica universal-
na qual se. exprime a do indivduo universalidade
1
D1re1_to, o. f1m de exammar a adequao dessas formas bis-
r cas as eX1genc1as tericas dessa dialtica.
142
gue dos outros animais: somente ele tem a percepo do bem
e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades desta
natureza. Ora, o ser-em-comum (koinona) segundo tais qua-
lidades que constitui a sociedade domstica e a cidade. 21
, pois, no terreno do lagos como espao de comuni-
cao, como estrutura de interpretao e expresso, que a
particularidade do indivduo como zon logikn dialeti-
camente negada e ele se eleva universalidade ou, como
Aristteles mostra agudamente, ao universal questionamen-
to sobre o bem e o mal, sobre o justo e o injusto. A me-
dida que se constitui como ser tico, o homem se torna
apto para elevar-se esfera do ser poltico.
22
Temos, assim, presentes os dois plos fundamentais da
dialtica constitutiva da existncia poltica: de uma parte
o homem individual como portador do lagos e, de outra,
a universalidade objetiva do mesmo lagos que se exprime,
por sua vez, numa dialtica formal de valores e numa lgi-
ca do dever-ser: o bem e o mal, o justo e o injusto etc ...
Mas, se a particularidade do indivduo negada na passa-
gem universalidade do lagos, ela se conserva a como
singularidade, vem a ser, como universalidade concreta, ca-
paz de tornar-se sujeito enunciador e portador de valores
e, como tal, capaz de articular-se com seus semelhantes na
forma da vida poltica (bos politiks). Portanto, a nega-
o dialtica da particularidade que advm ao indivduo
pela sua situao natural opera-se atravs do movimento
universalizante do lagos e tem como termo a universalida-
de do existir segundo a razo que convm ao indivduo co-
mo ser poltico. Por conseguinte, o estdio final da dial-
tica da existncia poltica no ope o indivduo particular
de um lado e o universo dos valores de outro, mas articula
a universalidade objetiva do lagos (no caso, a lei e o Direi-
to) com a universalidade subjetiva e concreta que o lagos
assume no indivduo como tendo atualizado a sua condio
de lgon chon ou de zon politikn,
23
ou seja, como so-
. 21. Pol. I, 1, 1253 a 7-19. Ver a dialtica universal-particular-
smgular em Hegel, Grundlinien der Phil. des Rechts, Einl. 5-7 com
as respectivas notas.
22. Sobre esse dinamismo universalizante do logos na consti-
tuio da comunidade tica ver K.-H. Volkmann-Schluck, Ethos und
Wissen in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, ap. Sein und
Ethos, op. cit., pp. 56-68 (aqui pp. 59-60).
23. Ver Aristteles, Pol. I, 1, 1253 a 10.
143
conveniente, no entanto, fixar desde o incio com exa-
tido os termos da dialtica, cujas vicissitudes histricas
pretendemos acompanhar e cuja articulao revela as for-
mas o homem ocidental tentou pensar -
numa mtenao JUStlfiCadora, programtica ou crtica - suas
efetivas experincias polticas.
poltica representa a elevao do indivduo
empiri?O a un;t de exiStncia universal, vem a ser, de
uma VIda social regida por normas racionais e obediente
ao imperativo de um dever-ser: exatamente o
da lei ou do Direito. necessrio, pois, caracteri-
n:ne1almente a particularidade do indivduo que ser
dialeticamente negada pela passagem ao universal da exis-
Trata-se, evidentemente, dessa forma de
partlculandade que traz em si o princpio da sua prpria
nega_o particularidade. Fica, portanto, excluda a
_que caracteriza uma parte simplesmente
adicwnavel ou mtegrvel num todo no qual cessa a sua
separada. , Fica igualmente excluda a particula-
ridade que se mantem fechada em si mesma como centro
referncia para a satisfao das suas necessidades ime-
diatas. Em outras palavras, no na particularidade do
seu ser fsico ou do seu ser biolgico que o homem se abre
ao movimento de passagem universalidade da existncia
Numa pgina clebre, no incio da sua Poltica,
Anstoteles deli:t:?itou o terreno no qual tem
lugar esse movimento de umversalizao:
clara, pois, a razo pela qual o homem um animal po-
ltico de modo superior a qualquer abelha ou a qualquer ani-
mal gregrio. Dizemos, com efeito, que a natureza nada faz
em vo. Ora, entre os animais somente o homem possui a palavra
(lgon). verdade que a voz (phon) sinal da pena e do
prazer, e por isso se encontra nos outros animais (pois a sua
natureza se desenvolveu a ponto de poderem significar uns aos
outros a sensao de pena e de prazer); mas a palavra apta
para significar o conveniente e o danoso e assim tambm o justo
e o injusto. Essa a peculiaridade do homem que o distin-
na nota 16 supra. A perspectiva que aqui adotamos diferente.
de acompanhar as formas histricas da dialtica universal-
na qual se. exprime a do indivduo universalidade
1
D1re1_to, o. f1m de exammar a adequao dessas formas bis-
r cas as eX1genc1as tericas dessa dialtica.
142
gue dos outros animais: somente ele tem a percepo do bem
e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades desta
natureza. Ora, o ser-em-comum (koinona) segundo tais qua-
lidades que constitui a sociedade domstica e a cidade. 21
, pois, no terreno do lagos como espao de comuni-
cao, como estrutura de interpretao e expresso, que a
particularidade do indivduo como zon logikn dialeti-
camente negada e ele se eleva universalidade ou, como
Aristteles mostra agudamente, ao universal questionamen-
to sobre o bem e o mal, sobre o justo e o injusto. A me-
dida que se constitui como ser tico, o homem se torna
apto para elevar-se esfera do ser poltico.
22
Temos, assim, presentes os dois plos fundamentais da
dialtica constitutiva da existncia poltica: de uma parte
o homem individual como portador do lagos e, de outra,
a universalidade objetiva do mesmo lagos que se exprime,
por sua vez, numa dialtica formal de valores e numa lgi-
ca do dever-ser: o bem e o mal, o justo e o injusto etc ...
Mas, se a particularidade do indivduo negada na passa-
gem universalidade do lagos, ela se conserva a como
singularidade, vem a ser, como universalidade concreta, ca-
paz de tornar-se sujeito enunciador e portador de valores
e, como tal, capaz de articular-se com seus semelhantes na
forma da vida poltica (bos politiks). Portanto, a nega-
o dialtica da particularidade que advm ao indivduo
pela sua situao natural opera-se atravs do movimento
universalizante do lagos e tem como termo a universalida-
de do existir segundo a razo que convm ao indivduo co-
mo ser poltico. Por conseguinte, o estdio final da dial-
tica da existncia poltica no ope o indivduo particular
de um lado e o universo dos valores de outro, mas articula
a universalidade objetiva do lagos (no caso, a lei e o Direi-
to) com a universalidade subjetiva e concreta que o lagos
assume no indivduo como tendo atualizado a sua condio
de lgon chon ou de zon politikn,
23
ou seja, como so-
. 21. Pol. I, 1, 1253 a 7-19. Ver a dialtica universal-particular-
smgular em Hegel, Grundlinien der Phil. des Rechts, Einl. 5-7 com
as respectivas notas.
22. Sobre esse dinamismo universalizante do logos na consti-
tuio da comunidade tica ver K.-H. Volkmann-Schluck, Ethos und
Wissen in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, ap. Sein und
Ethos, op. cit., pp. 56-68 (aqui pp. 59-60).
23. Ver Aristteles, Pol. I, 1, 1253 a 10.
143
cializado no no crculo fechado da existncia gregria, mas
no espao livre da existncia poltica.
Realizar efetivamente essa sntese da universalidade
objetiva e do indivduo universal no espao do lagos, eis
a tarefa que cabe s sociedades polticas na medida em
que tentam assegurar ao homem a existncia social como
existncia regida pela razo. Se, nas teorias polticas, essa
tarefa pensada segundo as exigncias de otimizao que
decorrem da prpria razo,
24
na realidade histrica efetiva
a existncia poltica marcada pela contingncia que torna
impossvel a sntese perfeita entre a universalidade objetiva
do lagos e a universalidade subjetiva da razo singular.
25
Com efeito, a particularidade natural do indivduo, mani-
festando-se no "mau infinito" do desejo nunca satisfeito,
subsiste sob a universalidade objetiva do lagos e se ope
sua concretizao adequada numa prtica poltica total-
mente penetrada pela razo.
26
A utopia da cidade ideal, na
qual o lagos universal e a razo individual se compenetra-
riam mutuamente suprimiria, de fato, a sociedade poltica,
pois implicaria a total autarquia do indivduo: a supresso
de toda questo, de toda relao problemtica e consen-
sual com o outro, do prprio objeto da ao poltica.
2
7
O homem poltico no apenas um animal e, muito menos,
um deus.
28
Ele se situa em face do horizonte do lagos
24. Segundo o ensinamento de Plato, (Rep. VI, 504 c), a razo
tem como medida ideal o que perfeito. Uma teoria poltica no
teria sentido se no tentasse demonstrar-se como a melhor em dada
conjuntura histrica. A passagem do "melhor" ao "possvel" assi-
nala justamente a passagem da teoria prtica poltica.
25. Essa impossibilidade se traduz na inadequao que sub-
siste entre a lei e a justia e que constitui um dos leit-motiv do pen-
samento poltico de Plato. H, em Plato, uma oscilao entre a
primazia da justia sobre a lei escrita, que atinge seu climax no Po-
ltico com a exaltao da cincia do governante como a "cincia real"
que "a mais difcil e a mais elevada" (Pol. 292 d) , e o restabele-
cimento da soberania da lei no dilogp Leis. Ver o importante ca-
ptulo de J. de Romilly, La Loi dans la pense grecque, Paris, Belles
Lettres, 1971, pp. 179-201.
26. Sobre essa dialtica da razo e da insatisfao que se faz
presente nas sociedades humanas enquanto sociedades histricas ver
o captUlo de Eric Weil, Philosophie politique, op. cit., pp. 93-128.
. _ 27. A autarquia do cidado que , segundo Aristteles, a con-
diao ~ sua participao na cidade, no isola o homem mas, ao
contrrio, torna-o capaz de exercer a vida poltica. Ver Pol. II, 1,
1261 a 34; t. Nic., v, 10, 1134 a 26-27.
28. Pol. I, 2, 1253 a 27-29.
144
universal, mas a partir da particularidade de uma existncia
histrica que tenta encontrar, na existncia poltica a forma
de vida racional - ou razovel - compatvel com as vicis-
situdes da sua contingncia.
Eis-nos, por conseguinte, diante de trs termos fun-
damentais que circunscrevem o espao dialtico no qual
se tecem as relaes constitutivas da sociedade poltica.
Esses termos no devem ser pensados, como tais, no seu
isolamento mas, exatamente, como termos de um sistema
de relaes.
29
As variaes historicamente observveis de
um tal sistema permitem-nos acompanhar a evoluo das
sociedades polticas no apenas na sua factualidade emp-
rica, mas no plano do que poderamos denominar o seu
motivo antropolgico fundamental, que rege - e- orienta as
expresses simblicas nas quais a sociedade busca exprimir
suas razes de ser.
O indivduo particular (natural), o lagos universal e
o indivduo que se universaliza (ou se socializa politica-
mente) na submisso ao lagos: a funo mediadora entre
esses termos exercida, na dialtica constitutiva da socie-
dade poltica, pelo terceiro termo,
30
j que o indivduo par-
ticular incapaz de referir-se imediatamente ao lagos (caso
contrrio no teria necessidade de socializar-se politicamen-
te) e o lagos, por sua vez, permanece abstrato enquanto
no alcana a sua concretude no indivduo singular que
nessa e por essa participao ao lagos se torna indivduo
universal. Portanto, entre a razo presente na sociedade
poltica, expressa na lei e no Direito, e o indivduo natural,
estende-se todo o processo de universalizao, propriamente
pedaggico (a Poltica, como a :Etica fundamentalmente
uma paideia), que eleva o indivduo condio de cidado
(polts ou civis), indivduo universal porque vivendo se-
gundo a razo. Ora, a razo da vida poltica , exatamen-
29. Ver o exemplo proposto por Hegel, dos trs silogismos do
Estado em Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschajten (1830),
198 nota. (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 8, pp. 355-356).
30. No silogismo dialtico, como sabido, as determinaes
do conceito universal, particular, singular ocupam respectivamente
os extremos e o meio-termo, interpenetrando-se num crculo que cons-
titui propriamente o movimento dialtico ou a racionalidade (das
Vernnjtige) do real. Ver G. W. F. Hegel, Wissenschajt der Logik II,
1, 3 (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 6, pp. 351-354); Enzyklopadie
der phil. Wissenschajten (1830), 181. (Werke, 8, pp. 331-332), e
198 nota (W. 8, pp. 355-356).
145
cializado no no crculo fechado da existncia gregria, mas
no espao livre da existncia poltica.
Realizar efetivamente essa sntese da universalidade
objetiva e do indivduo universal no espao do lagos, eis
a tarefa que cabe s sociedades polticas na medida em
que tentam assegurar ao homem a existncia social como
existncia regida pela razo. Se, nas teorias polticas, essa
tarefa pensada segundo as exigncias de otimizao que
decorrem da prpria razo,
24
na realidade histrica efetiva
a existncia poltica marcada pela contingncia que torna
impossvel a sntese perfeita entre a universalidade objetiva
do lagos e a universalidade subjetiva da razo singular.
25
Com efeito, a particularidade natural do indivduo, mani-
festando-se no "mau infinito" do desejo nunca satisfeito,
subsiste sob a universalidade objetiva do lagos e se ope
sua concretizao adequada numa prtica poltica total-
mente penetrada pela razo.
26
A utopia da cidade ideal, na
qual o lagos universal e a razo individual se compenetra-
riam mutuamente suprimiria, de fato, a sociedade poltica,
pois implicaria a total autarquia do indivduo: a supresso
de toda questo, de toda relao problemtica e consen-
sual com o outro, do prprio objeto da ao poltica.
2
7
O homem poltico no apenas um animal e, muito menos,
um deus.
28
Ele se situa em face do horizonte do lagos
24. Segundo o ensinamento de Plato, (Rep. VI, 504 c), a razo
tem como medida ideal o que perfeito. Uma teoria poltica no
teria sentido se no tentasse demonstrar-se como a melhor em dada
conjuntura histrica. A passagem do "melhor" ao "possvel" assi-
nala justamente a passagem da teoria prtica poltica.
25. Essa impossibilidade se traduz na inadequao que sub-
siste entre a lei e a justia e que constitui um dos leit-motiv do pen-
samento poltico de Plato. H, em Plato, uma oscilao entre a
primazia da justia sobre a lei escrita, que atinge seu climax no Po-
ltico com a exaltao da cincia do governante como a "cincia real"
que "a mais difcil e a mais elevada" (Pol. 292 d) , e o restabele-
cimento da soberania da lei no dilogp Leis. Ver o importante ca-
ptulo de J. de Romilly, La Loi dans la pense grecque, Paris, Belles
Lettres, 1971, pp. 179-201.
26. Sobre essa dialtica da razo e da insatisfao que se faz
presente nas sociedades humanas enquanto sociedades histricas ver
o captUlo de Eric Weil, Philosophie politique, op. cit., pp. 93-128.
. _ 27. A autarquia do cidado que , segundo Aristteles, a con-
diao ~ sua participao na cidade, no isola o homem mas, ao
contrrio, torna-o capaz de exercer a vida poltica. Ver Pol. II, 1,
1261 a 34; t. Nic., v, 10, 1134 a 26-27.
28. Pol. I, 2, 1253 a 27-29.
144
universal, mas a partir da particularidade de uma existncia
histrica que tenta encontrar, na existncia poltica a forma
de vida racional - ou razovel - compatvel com as vicis-
situdes da sua contingncia.
Eis-nos, por conseguinte, diante de trs termos fun-
damentais que circunscrevem o espao dialtico no qual
se tecem as relaes constitutivas da sociedade poltica.
Esses termos no devem ser pensados, como tais, no seu
isolamento mas, exatamente, como termos de um sistema
de relaes.
29
As variaes historicamente observveis de
um tal sistema permitem-nos acompanhar a evoluo das
sociedades polticas no apenas na sua factualidade emp-
rica, mas no plano do que poderamos denominar o seu
motivo antropolgico fundamental, que rege - e- orienta as
expresses simblicas nas quais a sociedade busca exprimir
suas razes de ser.
O indivduo particular (natural), o lagos universal e
o indivduo que se universaliza (ou se socializa politica-
mente) na submisso ao lagos: a funo mediadora entre
esses termos exercida, na dialtica constitutiva da socie-
dade poltica, pelo terceiro termo,
30
j que o indivduo par-
ticular incapaz de referir-se imediatamente ao lagos (caso
contrrio no teria necessidade de socializar-se politicamen-
te) e o lagos, por sua vez, permanece abstrato enquanto
no alcana a sua concretude no indivduo singular que
nessa e por essa participao ao lagos se torna indivduo
universal. Portanto, entre a razo presente na sociedade
poltica, expressa na lei e no Direito, e o indivduo natural,
estende-se todo o processo de universalizao, propriamente
pedaggico (a Poltica, como a :Etica fundamentalmente
uma paideia), que eleva o indivduo condio de cidado
(polts ou civis), indivduo universal porque vivendo se-
gundo a razo. Ora, a razo da vida poltica , exatamen-
29. Ver o exemplo proposto por Hegel, dos trs silogismos do
Estado em Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschajten (1830),
198 nota. (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 8, pp. 355-356).
30. No silogismo dialtico, como sabido, as determinaes
do conceito universal, particular, singular ocupam respectivamente
os extremos e o meio-termo, interpenetrando-se num crculo que cons-
titui propriamente o movimento dialtico ou a racionalidade (das
Vernnjtige) do real. Ver G. W. F. Hegel, Wissenschajt der Logik II,
1, 3 (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 6, pp. 351-354); Enzyklopadie
der phil. Wissenschajten (1830), 181. (Werke, 8, pp. 331-332), e
198 nota (W. 8, pp. 355-356).
145
te o Direito. Podemos, dizer, pois, que o motivo antro-
pc;lgico fundamental que rege po-
ltica reside no nvel de universallzaao que o Direito nela
vigente permite ao indivduo particular alcanar. Nesse
sentido, esse Direito pode ser dito um Direito humano ou,
mais exatamente, humanizante, j que a universalizao pe-
lo Direito no , por definio, uma propriedade
do indivduo particular, mas uma tarefa a ser cumprida
historicamente pela sociedade poltica. Ao desempenhar
essa funo mediadora entre a sua individualidade natural
e a unversalidade do Direito o indivduo poltico aparece-
-nos na Histria com os da imagem antropolgica
compatvel com a forma de universalidade que lhe com-
pete mediatizar. Encontramo-nos, assim, diante. de
antropologia poltica clssica, de uma
moderna e, nos nossos dias, ao que tudo mdiCa, assistimos,
juntamente com a crise da sociedade poltica e com a insu-
ficincia dos modelos do passado, a um penoso trabalho
de constituio de uma nova imagem do homem como
sujeito universal de direitos. No o caso de vaticinar
os seus traos futuros, pois a filosofia no profecia. Obe-
diente ao ensinamento de Hegel, cabe ao filsofo rememo-
rar apenas o passado para nele descobrir as linhas que
se cruzam nos enigmas do presente o que ser, talvez, a
primeira condio para se aceitar lucidamente o desafio do
futuro.
Para ficarmos na brevidade de uma frmula, podemos
dizer que, na antropologia poltica clssica, a universalida-
de do Direito tem a forma de uma universalidade nomot-
tica,
31
ao passo que na antropologia poltica moderna es-
tamos diante de uma universalidade hipottica. A univer-
salidade nomottica aquela que tem como fundamento
uma ordem do mundo que se supe manifesta e na qual
o nmos ou a lei da cidade o modo de vida do homem
que reflete a ordem csmica contemplada pela razo. A uni-
versalidade hipottica, ao invs, aquela cujo fundamento
permanece oculto e requer uma explicao a ttulo de hi-
31. Nomottica se diz propriamente da arte de legislar. No-
mothtes o legislador. Aqui aplicamos analogicamente o a
uma ordem objetiva que se pe como lei e , como tal, apreendida
pela razo.
146
-
ptese inicial no verificada empiricamente e que deve ser
confirmada dedutivamente pelas suas conseqncias.
32
f-
cil observar que a universalidade nomottica constitui o
horizonte das teorias do Direito natural clssico, ao passo
que a universalidade hipottica o pressuposto epistemo-
lgico das teorias do Direito natural moderno. No primei-
ro caso, permanecemos no mbito da ontologia antiga, no
segundo caminhamos sob o signo do pensamento cientfico
moderno. No primeiro caso, a Poltica conserva uma intrn-
seca relao com a tica, no segundo essa relao torna-se
extrnseca e problemtica e a Poltica tende a se constituir
em esfera autnoma, independente da normatividade tica
e freqentemente a ela oposta. A evoluo do conceito de
Natureza, que oferece o fundamento para a definio da
universalidade do Direito, que permite a passagem da uni-
versalidade nomottica universalidade hipottica. jus-
tamente essa passagem que constitui, talvez, o desafio maior
da reflexo poltica contempornea voltada para o processo
histrico que assistiu formao das modernas sociedades
liberais e vive hoje a sua crise. Essa crise, por sua vez,
recoloca em termos de extrema gravidade o problema das
relaes entre tica e Direito.
Uma vez restitudas as intuies fundamentais que esto
nos fundamentos desses dois tipos de universalidade, ser
necessrio interrogar-se sobre o sentido da sua oposio
histrica e sobre o destino dos direitos humanos no des-
dobramento de uma lgica da universalidade hipottica le-
vada s suas ltimas conseqncias. na linha dessa in-
terrogao que adquire especial relevo a tentativa hegelia-
na
33
de retomar a universalidade nomottica, integrando-a
na perspectiva do Estado moderno e derivando a ordem da
Natureza para a teleologia da Histria. Esse o quadro con-
ceptual dentro do qual o problema das relaes entre tica
e Direito se coloca para ns.
32. As expresses clssicas de teorias polticas que se referem
respectivamente a um fundamento de universalidade nomottica e
de universalidade hipottica so o livro I da Poltica de Aristteles
e o Prefcio ao Discours sur l'ingalit de J.-J. Rousseau.
33. Essa tentativa passa a ser um dos plos da reflexo hege-
liana a partir dos tempos de Iena e encontra uma primeira expres-
so no System der Sittlichkeit (1802-1803) e no artigo sobre o Di-
reito natural (1802).
147
te o Direito. Podemos, dizer, pois, que o motivo antro-
pc;lgico fundamental que rege po-
ltica reside no nvel de universallzaao que o Direito nela
vigente permite ao indivduo particular alcanar. Nesse
sentido, esse Direito pode ser dito um Direito humano ou,
mais exatamente, humanizante, j que a universalizao pe-
lo Direito no , por definio, uma propriedade
do indivduo particular, mas uma tarefa a ser cumprida
historicamente pela sociedade poltica. Ao desempenhar
essa funo mediadora entre a sua individualidade natural
e a unversalidade do Direito o indivduo poltico aparece-
-nos na Histria com os da imagem antropolgica
compatvel com a forma de universalidade que lhe com-
pete mediatizar. Encontramo-nos, assim, diante. de
antropologia poltica clssica, de uma
moderna e, nos nossos dias, ao que tudo mdiCa, assistimos,
juntamente com a crise da sociedade poltica e com a insu-
ficincia dos modelos do passado, a um penoso trabalho
de constituio de uma nova imagem do homem como
sujeito universal de direitos. No o caso de vaticinar
os seus traos futuros, pois a filosofia no profecia. Obe-
diente ao ensinamento de Hegel, cabe ao filsofo rememo-
rar apenas o passado para nele descobrir as linhas que
se cruzam nos enigmas do presente o que ser, talvez, a
primeira condio para se aceitar lucidamente o desafio do
futuro.
Para ficarmos na brevidade de uma frmula, podemos
dizer que, na antropologia poltica clssica, a universalida-
de do Direito tem a forma de uma universalidade nomot-
tica,
31
ao passo que na antropologia poltica moderna es-
tamos diante de uma universalidade hipottica. A univer-
salidade nomottica aquela que tem como fundamento
uma ordem do mundo que se supe manifesta e na qual
o nmos ou a lei da cidade o modo de vida do homem
que reflete a ordem csmica contemplada pela razo. A uni-
versalidade hipottica, ao invs, aquela cujo fundamento
permanece oculto e requer uma explicao a ttulo de hi-
31. Nomottica se diz propriamente da arte de legislar. No-
mothtes o legislador. Aqui aplicamos analogicamente o a
uma ordem objetiva que se pe como lei e , como tal, apreendida
pela razo.
146
-
ptese inicial no verificada empiricamente e que deve ser
confirmada dedutivamente pelas suas conseqncias.
32
f-
cil observar que a universalidade nomottica constitui o
horizonte das teorias do Direito natural clssico, ao passo
que a universalidade hipottica o pressuposto epistemo-
lgico das teorias do Direito natural moderno. No primei-
ro caso, permanecemos no mbito da ontologia antiga, no
segundo caminhamos sob o signo do pensamento cientfico
moderno. No primeiro caso, a Poltica conserva uma intrn-
seca relao com a tica, no segundo essa relao torna-se
extrnseca e problemtica e a Poltica tende a se constituir
em esfera autnoma, independente da normatividade tica
e freqentemente a ela oposta. A evoluo do conceito de
Natureza, que oferece o fundamento para a definio da
universalidade do Direito, que permite a passagem da uni-
versalidade nomottica universalidade hipottica. jus-
tamente essa passagem que constitui, talvez, o desafio maior
da reflexo poltica contempornea voltada para o processo
histrico que assistiu formao das modernas sociedades
liberais e vive hoje a sua crise. Essa crise, por sua vez,
recoloca em termos de extrema gravidade o problema das
relaes entre tica e Direito.
Uma vez restitudas as intuies fundamentais que esto
nos fundamentos desses dois tipos de universalidade, ser
necessrio interrogar-se sobre o sentido da sua oposio
histrica e sobre o destino dos direitos humanos no des-
dobramento de uma lgica da universalidade hipottica le-
vada s suas ltimas conseqncias. na linha dessa in-
terrogao que adquire especial relevo a tentativa hegelia-
na
33
de retomar a universalidade nomottica, integrando-a
na perspectiva do Estado moderno e derivando a ordem da
Natureza para a teleologia da Histria. Esse o quadro con-
ceptual dentro do qual o problema das relaes entre tica
e Direito se coloca para ns.
32. As expresses clssicas de teorias polticas que se referem
respectivamente a um fundamento de universalidade nomottica e
de universalidade hipottica so o livro I da Poltica de Aristteles
e o Prefcio ao Discours sur l'ingalit de J.-J. Rousseau.
33. Essa tentativa passa a ser um dos plos da reflexo hege-
liana a partir dos tempos de Iena e encontra uma primeira expres-
so no System der Sittlichkeit (1802-1803) e no artigo sobre o Di-
reito natural (1802).
147
2. TICA E DIREITO NO PENSAMENTO CLSSICO
a idia de correspondncia entre a ordem csmica e
a ordem da cidade sob a soberania de uma mesma lei
universal que inspira as primeiras tentativas de definio
de uma esfera do direito e da justia qual o homem
deve elevar-se para libertar-se do mundo da violncia e do
caos. Essas tentativas inscrevem-se, por sua vez, na esteira
do grande movimento que assinala, na Grcia dos sculos
VI e V a.C., a edificao de uma cincia da phJysis e, para-
lelamente, os primeiros passos na edificao de uma cin-
cia do ethos.
34
So conhecidas as origens csmico-sociais
do nascente pensamento jurdico na Grcia e foram estu-
dadas, entre outros, por Werner Jaeger.
35
Aqui, como em
outros domnios, a originalidade do gnio grego consiste
em dar ao postulado da ordem, que toma possvel a exis-
tncia histrica, a forma do lagos ou, no nosso caso, da
razo jurdica, a partir da idia fundamental de lei (n-
mos).
36
A significao fundamental do nmos refere-se,
exatamente, ordem divina transcendente ou ordem do
ksmos divino, qual dever conformar-se a lei humana.
37
As origens mticas da idia de correspondncia entre a
ordem csmica ou a plvysis e a ordem social ou a plis
assinalam, nesse como em outros terrenos, o ponto de par-
tida da evoluo que conduz da forma narrativa do logos
sua forma demonstrativa. as A histria do pensamento
jurdico na Grcia est colocada sob a gide das figuras
34. Ver supra cap. II, n. 2.
35. Ver Praise oj Law: the origins of legal Philosophy and the
Greeks, ap. Scripta minora, II, pp. 318-351.
36. A forma especfica da ordem reguladora do curso histri-
co exprime-se, na Grcia clssica, pela atividade poltica e pela filo-
sofia ou, como dir Aristteles, pelo logos prdtico e pelo logos teo-
rtico. o que Eric Voegelin denomina a "diferenciao notica"
da conscincia, caracterstica da experincia grega das relaes en-
tre "ordem" e "histria". Ver Order and History, vol. II, The World
of Polis; vol. III, Plato and Aristoteles, Louisiana State University
Press, 1957.
37. Ver E. Voegelin, Order and History, II, The World o f
Polis, p. 306.
38. A celebrada passagem do mythos ao lagos refere-se, com
efeito, apario do lagos cientfico: ela tem lugar no interior do
mesmo espao simblico em que o mythos se desdobra, ou seja, o
espao do lagos como discurso. Ver as explicaes de J. P. Vernant,
Mythe et societ en Grece ancienne, Paris, Maspro, 1974, pp. 196-217, e
W. Nestle, Von Mythos zum Lagos: die Selbstent/altung des griechi-
148
divinas de Thmis e Dke.
39
Nelas se personificam as intui-
es da ordem universal e do entrelaamento de todos os
seres nas malhas dessa ordem ( Thmis), bem como do seu
carter iluminador e prescritivo (Dike).
40
Assim, a ordem universal toma-se termo de uma re-
lao propriamente jurdica quando se manifesta como lei
(nmos). , pois, na aurora do pensamento grego que tem
lugar essa iniciativa de imenso alcance para a histria das
sociedades ocidentais que a atribuio ordem divina
do mundo, transcrita no registro racional da idia de na-
tureza (pnysis) do carter formal de lei normativa das
aes humanas. Ligada intimamente, desde seus incios,
noo de natureza, a idia do nmos que o "rei de todas
as coisas, das mortais e das imortais", segundo o fragmento
clebre de Pndaro,
41
vai orientar o desenvolvimento da
razo segundo duas linhas especficas de racionalidade que
conservaro entre si uma constante homologia: a raciona-
lidade do pensamento cientfico e a racionalidade do pen-
samento social e poltico.
42
schen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, 2l;l ed.
Aalen, Scientia Verlag, 1966, pp. 491-496: a racionalizao do discurso
poltico, sobretudo na Sofstica, ocupa aqui um lugar importante.
39. O estudo das figuras dessas duas deusas abre a monumen-
tal histria do pensamento jurdico grego de E. Wolff, Griechisches
Rechtsdenken, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1950, I, pp. 22-45.
40. Dke tem como uma das suas irtns Eirne (a Paz). Um
eco da intuio dessa ordem universal, pacificadora de todas as coi-
sas, pode-se ouvir na sentena de Sto. Toms de Aquino: Divina pax
/acit omnia ad se invicem concreta. Ver In lib. de Divinis Nominibus,
cap. XI, lec. 2.
41. Pndaro, fr. 119. Ver supra, cap. 11 nota 57. A analogia
entre physis de um lado e ethos-nmos de outro, constitutiva da tica
clssica, supe a sua distino. Essa distino tende a desaparecer
com a extenso a toda a physis, no mundo moderno, do domnio
tcnco do homem, o que revoluciona as bases da tica. Ver H. Jo-
nas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik fr technolo-
gische Zivilization, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1984, pp. 33-34.
42. A vinculao entre nmos e physis na origem do pensamen-
to social e poltico aparece nitidamente em Herclito, anteriormen-
te oposio estabelecida pela Sofstica entre os dois termos. He-
rclito prope presumivelmente uma concepo tridica da ordem -
na alma, na cidade, no universo - que antecipa a ordem platnica
na Repblica. Ver E. Voegelin, Order and History, 11, pp. 229-239,
e G. Plumpe, art. Gesetz II, 1, ap. J. Ritter (org.l, Historisches Wor-
terbuch der Philosophie, III, pp. 494-495. Sobre a relatividade do
nmos em Herdoto, que prenuncia a dualidade e oposio nmos-
physis, ver J. de Romilly, La loi dans la pense grecque, op. cit., cap.
Ill, pp. 52-71.
149
2. TICA E DIREITO NO PENSAMENTO CLSSICO
a idia de correspondncia entre a ordem csmica e
a ordem da cidade sob a soberania de uma mesma lei
universal que inspira as primeiras tentativas de definio
de uma esfera do direito e da justia qual o homem
deve elevar-se para libertar-se do mundo da violncia e do
caos. Essas tentativas inscrevem-se, por sua vez, na esteira
do grande movimento que assinala, na Grcia dos sculos
VI e V a.C., a edificao de uma cincia da phJysis e, para-
lelamente, os primeiros passos na edificao de uma cin-
cia do ethos.
34
So conhecidas as origens csmico-sociais
do nascente pensamento jurdico na Grcia e foram estu-
dadas, entre outros, por Werner Jaeger.
35
Aqui, como em
outros domnios, a originalidade do gnio grego consiste
em dar ao postulado da ordem, que toma possvel a exis-
tncia histrica, a forma do lagos ou, no nosso caso, da
razo jurdica, a partir da idia fundamental de lei (n-
mos).
36
A significao fundamental do nmos refere-se,
exatamente, ordem divina transcendente ou ordem do
ksmos divino, qual dever conformar-se a lei humana.
37
As origens mticas da idia de correspondncia entre a
ordem csmica ou a plvysis e a ordem social ou a plis
assinalam, nesse como em outros terrenos, o ponto de par-
tida da evoluo que conduz da forma narrativa do logos
sua forma demonstrativa. as A histria do pensamento
jurdico na Grcia est colocada sob a gide das figuras
34. Ver supra cap. II, n. 2.
35. Ver Praise oj Law: the origins of legal Philosophy and the
Greeks, ap. Scripta minora, II, pp. 318-351.
36. A forma especfica da ordem reguladora do curso histri-
co exprime-se, na Grcia clssica, pela atividade poltica e pela filo-
sofia ou, como dir Aristteles, pelo logos prdtico e pelo logos teo-
rtico. o que Eric Voegelin denomina a "diferenciao notica"
da conscincia, caracterstica da experincia grega das relaes en-
tre "ordem" e "histria". Ver Order and History, vol. II, The World
of Polis; vol. III, Plato and Aristoteles, Louisiana State University
Press, 1957.
37. Ver E. Voegelin, Order and History, II, The World o f
Polis, p. 306.
38. A celebrada passagem do mythos ao lagos refere-se, com
efeito, apario do lagos cientfico: ela tem lugar no interior do
mesmo espao simblico em que o mythos se desdobra, ou seja, o
espao do lagos como discurso. Ver as explicaes de J. P. Vernant,
Mythe et societ en Grece ancienne, Paris, Maspro, 1974, pp. 196-217, e
W. Nestle, Von Mythos zum Lagos: die Selbstent/altung des griechi-
148
divinas de Thmis e Dke.
39
Nelas se personificam as intui-
es da ordem universal e do entrelaamento de todos os
seres nas malhas dessa ordem ( Thmis), bem como do seu
carter iluminador e prescritivo (Dike).
40
Assim, a ordem universal toma-se termo de uma re-
lao propriamente jurdica quando se manifesta como lei
(nmos). , pois, na aurora do pensamento grego que tem
lugar essa iniciativa de imenso alcance para a histria das
sociedades ocidentais que a atribuio ordem divina
do mundo, transcrita no registro racional da idia de na-
tureza (pnysis) do carter formal de lei normativa das
aes humanas. Ligada intimamente, desde seus incios,
noo de natureza, a idia do nmos que o "rei de todas
as coisas, das mortais e das imortais", segundo o fragmento
clebre de Pndaro,
41
vai orientar o desenvolvimento da
razo segundo duas linhas especficas de racionalidade que
conservaro entre si uma constante homologia: a raciona-
lidade do pensamento cientfico e a racionalidade do pen-
samento social e poltico.
42
schen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates, 2l;l ed.
Aalen, Scientia Verlag, 1966, pp. 491-496: a racionalizao do discurso
poltico, sobretudo na Sofstica, ocupa aqui um lugar importante.
39. O estudo das figuras dessas duas deusas abre a monumen-
tal histria do pensamento jurdico grego de E. Wolff, Griechisches
Rechtsdenken, Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1950, I, pp. 22-45.
40. Dke tem como uma das suas irtns Eirne (a Paz). Um
eco da intuio dessa ordem universal, pacificadora de todas as coi-
sas, pode-se ouvir na sentena de Sto. Toms de Aquino: Divina pax
/acit omnia ad se invicem concreta. Ver In lib. de Divinis Nominibus,
cap. XI, lec. 2.
41. Pndaro, fr. 119. Ver supra, cap. 11 nota 57. A analogia
entre physis de um lado e ethos-nmos de outro, constitutiva da tica
clssica, supe a sua distino. Essa distino tende a desaparecer
com a extenso a toda a physis, no mundo moderno, do domnio
tcnco do homem, o que revoluciona as bases da tica. Ver H. Jo-
nas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik fr technolo-
gische Zivilization, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1984, pp. 33-34.
42. A vinculao entre nmos e physis na origem do pensamen-
to social e poltico aparece nitidamente em Herclito, anteriormen-
te oposio estabelecida pela Sofstica entre os dois termos. He-
rclito prope presumivelmente uma concepo tridica da ordem -
na alma, na cidade, no universo - que antecipa a ordem platnica
na Repblica. Ver E. Voegelin, Order and History, 11, pp. 229-239,
e G. Plumpe, art. Gesetz II, 1, ap. J. Ritter (org.l, Historisches Wor-
terbuch der Philosophie, III, pp. 494-495. Sobre a relatividade do
nmos em Herdoto, que prenuncia a dualidade e oposio nmos-
physis, ver J. de Romilly, La loi dans la pense grecque, op. cit., cap.
Ill, pp. 52-71.
149
O horizonte de universalidade que denominamos uni-
versalidade nomottica desenha-se justamente a partir do
conceito de uma ordem universal qual se atribui o carter
prescritivo da lei.
43
nesse horizonte que se procurar
fixar, como iniciativa fundamental da primeira grande for-
ma de pensamento poltico-jurdico do Ocidente, o plo do
movimento dialtico que suprassume no homem a sua par-
ticularidade psicobiolgica (presa ao mundo da violncia e
do caos, onde reinam as foras inimigas da Dke),
44
para
elev-la ao mundo divino do nmos.
45
, pois, a submisso do mundo do homem ordem
do universo como ordem regida pela lei e pela justia -
como ordem divina oposta ao caos - que torna possvel
a abertura desse horizonte de universalidade ao qual ir
referir-se o pensamento poltico-jurdico clssico. Somente
o desaparecimento do kosmos antigo, substitudo pela ima-
gem do mundo suscitada pela revoluo cientfica moder-
na, ir retirar universalidade nomottica o seu fundamen-
to ontolgico. Essa universalidade assegurada pela impes-
soalidade do nmos divino que tudo abraa. Nos laos de
uma mesma ordem ficam unificados, assim, o homem e o
universo. Essa cosmonomia
46
no direito arcaico d origem,
em Hesodo,
47
expresso mtico-potica da ordem do
mundo sob a gide do nmos e da unidade do gnero hu-
mano em virtude da prescrio da mesma Dke. Ela co-
nhecer as primeiras tentativas de transposio racional
ou filosfica em Anaximandro e Herclito.
48
O propsito
visvel dessas tentativas o de compreender o mundo e o
43. Ver M. Landmann, De Homine: der Mensch im Spiegel sei-
nes Gedankens, Friburgo-Munique, Alber, 1962, pp. 3-64.
44. Ver E. Wolff, Griechisches Rechtsdenken, I, pp. 46-52.
45. Sob esse ponto de vista o nmos aparece como o caminho
para o desenlace do destino trgico, com o triunfo da ordem divina
no universo e na cidade. Ver os captulos de E. Wolff sobre squilo
(op. cit., I, pp. 340-342) e sobre Sfocles (op. cit., vol. 11, 1952, pp.
198-335). Enquanto squilo e Sfocles apresentam-se como poetas
da ptrios politeia, Eurpedes (op. cit. 11, pp. 373-471), j sob a in-
fluncia da Ilustrao sofstica, exalta a "virtude popular (demotik
aret). Sobre as relaes da tragdia grega e da poltica, ver o
breve, mas sugestivo, captulo de G. Sebba ap. P. W. Schiifer (org.),
Das politische Denken der Griechen, Munique, List Verlag, 1969, pp.
17-47.
46. R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, op. cit., p.155.
47. Ver. E. Wolff, op. cit., I, pp. 120-151.
48. Sobre Anaximandro ver supra, cap. 11, nota 31. E sobre
150
homem nos vnculos de um mesmo logos universal, assegu-
rando assim a unidade do ksmos e colocando as primeiras
pedras do que ser o edifcio do Direito natural clssico.
49
A primeira crise, que envolve ao mesmo tempo a es-
trutura da plis e as representaes tradicionais que uniam
as leis dos homens e a lei do universo na viso de uma
mesma phJysis divina, tem lugar com as transformaes que
se seguem s guerras prsicas e assistem ao florescimento
da primeira Ilustrao sofstica. Ao propor a sua clebre
oposio entre physis e nmos,
50
os Sofistas iro provocar
uma ruptura de alto a baixo no harmonioso edifcio da
viso csmico-poltica tradicional, que se apoiava sobre o
fundamento da universalidade nomottica. Os efeitos da
crise sofstica no campo das relaes entre tica e Poltica
foram decisivos. Efeitos prximos: a constituio da tica
como cincia no ensinamento socrtico
51
e a constituio
de uma filosofia poltica em Plato e Aristteles, nas quais
a idia de ordem universal, fundada numa reelaborao
conceptual da idia de phtysis, guiar o desenho do modelo
da cidade justa. Efeitos remotos ou que se podem supor
tais: a ciso moderna entre natureza e sociedade
52
e a bus-
ca de uma universalidade hipottica como fundamento do
Direito, de Hobbes a nossos dias. Por outro lado, a crise
sofstica representou a transio final do lagos tico e do
logos poltico-jurdico para o campo da razo demonstrati-
va com a conseqente posio secundria e subordinada
que passa a ser atribuda ao discurso do mito por Plato
e Aristteles: enquanto a cincia reivindica a qualidade de
Herclito ver supra nota 42. Compj:i.rar com Plato, Grgias, 507
e-508 a.
49. Sobre as intuies que regem a viso clssica do ksmos
ver W. Kranz, Kosmos (Archiv fr Begriffsgeschichte, 11, 1, 2) Bonn,
Bouvier, 1958, pp. 27-58; sobre a organizao do mundo humano ver
J. P. Vernant, As origens do pensamento grego, So Paulo, Difel,
1972, pp. 27-58; e sobre a experincia primordial do ksmos ver E.
Voegelin, Order and History, IV, The Ecumenic Age, pp. 68-75. .
50. Sobre a oposio physis-nmos ver W. C. Greene, Matra:
Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. cit., pp. 221-244; E. Voe-
gelin Order and History, 11 The World o! Polis, pp. 30S-312 e, so-
bretudo, w. c. G. Guthrie, A history ot Greek Philosophy, op. cit. Ill,
PP. 55-134.
51. Ver supra, cap. 11.
52. Ciso que pode ser considerada in dos ingredientes da
crise ecolgica dos nossos dias. Ver supra nota 41.
151
O horizonte de universalidade que denominamos uni-
versalidade nomottica desenha-se justamente a partir do
conceito de uma ordem universal qual se atribui o carter
prescritivo da lei.
43
nesse horizonte que se procurar
fixar, como iniciativa fundamental da primeira grande for-
ma de pensamento poltico-jurdico do Ocidente, o plo do
movimento dialtico que suprassume no homem a sua par-
ticularidade psicobiolgica (presa ao mundo da violncia e
do caos, onde reinam as foras inimigas da Dke),
44
para
elev-la ao mundo divino do nmos.
45
, pois, a submisso do mundo do homem ordem
do universo como ordem regida pela lei e pela justia -
como ordem divina oposta ao caos - que torna possvel
a abertura desse horizonte de universalidade ao qual ir
referir-se o pensamento poltico-jurdico clssico. Somente
o desaparecimento do kosmos antigo, substitudo pela ima-
gem do mundo suscitada pela revoluo cientfica moder-
na, ir retirar universalidade nomottica o seu fundamen-
to ontolgico. Essa universalidade assegurada pela impes-
soalidade do nmos divino que tudo abraa. Nos laos de
uma mesma ordem ficam unificados, assim, o homem e o
universo. Essa cosmonomia
46
no direito arcaico d origem,
em Hesodo,
47
expresso mtico-potica da ordem do
mundo sob a gide do nmos e da unidade do gnero hu-
mano em virtude da prescrio da mesma Dke. Ela co-
nhecer as primeiras tentativas de transposio racional
ou filosfica em Anaximandro e Herclito.
48
O propsito
visvel dessas tentativas o de compreender o mundo e o
43. Ver M. Landmann, De Homine: der Mensch im Spiegel sei-
nes Gedankens, Friburgo-Munique, Alber, 1962, pp. 3-64.
44. Ver E. Wolff, Griechisches Rechtsdenken, I, pp. 46-52.
45. Sob esse ponto de vista o nmos aparece como o caminho
para o desenlace do destino trgico, com o triunfo da ordem divina
no universo e na cidade. Ver os captulos de E. Wolff sobre squilo
(op. cit., I, pp. 340-342) e sobre Sfocles (op. cit., vol. 11, 1952, pp.
198-335). Enquanto squilo e Sfocles apresentam-se como poetas
da ptrios politeia, Eurpedes (op. cit. 11, pp. 373-471), j sob a in-
fluncia da Ilustrao sofstica, exalta a "virtude popular (demotik
aret). Sobre as relaes da tragdia grega e da poltica, ver o
breve, mas sugestivo, captulo de G. Sebba ap. P. W. Schiifer (org.),
Das politische Denken der Griechen, Munique, List Verlag, 1969, pp.
17-47.
46. R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, op. cit., p.155.
47. Ver. E. Wolff, op. cit., I, pp. 120-151.
48. Sobre Anaximandro ver supra, cap. 11, nota 31. E sobre
150
homem nos vnculos de um mesmo logos universal, assegu-
rando assim a unidade do ksmos e colocando as primeiras
pedras do que ser o edifcio do Direito natural clssico.
49
A primeira crise, que envolve ao mesmo tempo a es-
trutura da plis e as representaes tradicionais que uniam
as leis dos homens e a lei do universo na viso de uma
mesma phJysis divina, tem lugar com as transformaes que
se seguem s guerras prsicas e assistem ao florescimento
da primeira Ilustrao sofstica. Ao propor a sua clebre
oposio entre physis e nmos,
50
os Sofistas iro provocar
uma ruptura de alto a baixo no harmonioso edifcio da
viso csmico-poltica tradicional, que se apoiava sobre o
fundamento da universalidade nomottica. Os efeitos da
crise sofstica no campo das relaes entre tica e Poltica
foram decisivos. Efeitos prximos: a constituio da tica
como cincia no ensinamento socrtico
51
e a constituio
de uma filosofia poltica em Plato e Aristteles, nas quais
a idia de ordem universal, fundada numa reelaborao
conceptual da idia de phtysis, guiar o desenho do modelo
da cidade justa. Efeitos remotos ou que se podem supor
tais: a ciso moderna entre natureza e sociedade
52
e a bus-
ca de uma universalidade hipottica como fundamento do
Direito, de Hobbes a nossos dias. Por outro lado, a crise
sofstica representou a transio final do lagos tico e do
logos poltico-jurdico para o campo da razo demonstrati-
va com a conseqente posio secundria e subordinada
que passa a ser atribuda ao discurso do mito por Plato
e Aristteles: enquanto a cincia reivindica a qualidade de
Herclito ver supra nota 42. Compj:i.rar com Plato, Grgias, 507
e-508 a.
49. Sobre as intuies que regem a viso clssica do ksmos
ver W. Kranz, Kosmos (Archiv fr Begriffsgeschichte, 11, 1, 2) Bonn,
Bouvier, 1958, pp. 27-58; sobre a organizao do mundo humano ver
J. P. Vernant, As origens do pensamento grego, So Paulo, Difel,
1972, pp. 27-58; e sobre a experincia primordial do ksmos ver E.
Voegelin, Order and History, IV, The Ecumenic Age, pp. 68-75. .
50. Sobre a oposio physis-nmos ver W. C. Greene, Matra:
Fate, Good and Evil in Greek Thought, op. cit., pp. 221-244; E. Voe-
gelin Order and History, 11 The World o! Polis, pp. 30S-312 e, so-
bretudo, w. c. G. Guthrie, A history ot Greek Philosophy, op. cit. Ill,
PP. 55-134.
51. Ver supra, cap. 11.
52. Ciso que pode ser considerada in dos ingredientes da
crise ecolgica dos nossos dias. Ver supra nota 41.
151
discurso verdadeiro (alethes lgos), o mito fica reduzido
apenas condio de um discurso verossmil (eiks l-
gos). 53
sabido que a tentativa de retraar, dentro do espao
do logos cientfico, o horizonte da universalidade nomot-
tica - nica alternativa construtiva destruio sofstica
do lagos tradicional do mito - constitui a inteno funda-
mental de Scrates e o sentido mais profundo da doutrina
da virtude-cincia.
54
A inteno socrtica prolongada por
Plato e Aristteles. Mas as perspectivas epistemolgicas
em que eles se situam so diferentes e delas resultaro os
dois grandes tipos alternativos de filosofia da praxis e de
cincia do nmos que a tradio ocidental conhece. Con-
vm, no entanto, lembrar que platonismo e aristotelismo
situam-se diante do mesmo horizonte de universalidade no-
mottica e sobre o mesmo terreno do lagos demonstra-
tivo que ambos levam a cabo sua crtica da Sofstica. Os
traos distintivos que caracterizam a tica e a poltica pla-
tnicas e a tica e a poltica aristotlicas vm exatamente
da concepo distinta de cincia que preside sua elabo-
rao.
Ao passo que, para Plato, a universalidade nomottica
deve constituir-se a partir de uma crtica radical da physis
sensvel, em cuja ordem o nmos tradicional buscava o seu
modelo e, por conseguinte, deve definir-se rigorosamente
como universalidade ideal, para Aristteles o prprio ethos
vivido pela comunidade histrica - e que era o alvo pre-
ferido da crtica sofstica - que dever mostrar, atravs
de uma investigao adequada, os traos essenciais e uni-
versais, inscritos na sua natureza (phJysei) ou na natureza
do homem como ser tico e poltico.
55
Uma discusso pormenorizada da politologia platnica
e sua comparao com as concepes de Aristteles iria
muito alm do fim que nos propusemos nestas pginas.
56
53. Ver Fedro 270 c; Timeu, 29 c.
54. Ver supra, cap. li, n. 87.
55. Sobre o conceito de physis em Plato e sua relao com
a tica, ver K. Gaiser, Die Ursprnge der idealistischen Naturbe-
griff bei Platon, ap. M. J. Petry (org.), Hegel und die Naturwissen-
schajten, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1987, pp. 3-32.
56. Uma excelente resenha e apreciao das tendncias recen-
tes dos estudos sobre a filosofia politica de Plato e das relaes en-
tre theoria e praxis no seu pensamento oferecida por Margherita
Isnardi-Parente, ap. Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo
152
Conquanto a direo apontada por Aristteles tenha aca-
bado por prevalecer no desenvolvimento da filosofia pol-
tica clssica at o sculo XVII, convm no esquecer que
a oposio entre Plato e Aristteles adquire, nesse ponto
como em outros, um carter exemplar. As vicissitudes do
problema das relaes entre theora e praxis ao longo de
todo o desenvolvimento posterior do pensamento ocidental
iro refletir uma tenso conceptual permanente entre o
modelo platnico e o modelo aristotlico de vida poltica.
O intento fundamental de Plato, aps a dramti-ca ex-
perincia que mostrou o reinado da injustia na vida pol-
tica de Atenas, seja sob o domnio dos Trinta Tiranos, seja
sob o regime democrtico que condenou Scrates, foi o
de reduzir os princpios da vida poltica aos cnones de
uma cincia rigorosa - a cincia do Bem - da qual seja
possvel deduzir o modelo da plis ideal.
57
A universalidade
nomottica eleva-se assim, no pensamento de Plato, a um
plano absoluto, fundado na idealidade da ordem e do Bem.
No obstante a imensa soma d ~ experincias e observaes
recolhidas nos Dilogos, e a regenerao da Atenas real ser
o alvo de todo o esforo especulativo da politologia plat-
nica, o Filsofo no faz qualquer concesso particulari-
dade emprica ao designar o fundamento explicativo da ne-
cessidade do nmos. A condio humana, mergulhada no
sensvel ou nas sombras da Caverna, deve ser submetida a
um longo exerccio ou a uma trabalhosa subida,
58
at que
se torne capaz de contemplar a verdade segundo a qual
dever ser traado o modelo da cidade ideal. Plato reto-
ma, assim, a crtica sofstica do ethos tradicional, mas pa-
ra transp-la no plano da cincia do Bem no qual ela se
sviluppo storico, vol. III, 2, Florena, La Nuova Italia, 1974, pp. 564-
-583. Uma interpretao original da viso platnica exposta por
Henry Joly, Le renversement platonicien: Logos, Episthme, Polis,
Paris, Vrin, 1974, pp. 273-373. Com referncia concepo das Leis
ver Ada B. Hentschke, Polttik und Philosophie bei Plato und Aris-
toteles, Frankfurt a. M., Klostermann, 1971, pp. 50-54. Ver supra,
cap. III, 1.
57. Esse intento permanece o mesmo da Repblica s Leis, no
obstante a abundncia do material emprico recolhido no dilogo da
velhice em vista da demonstrao prtica (atravs da arte de legis-
lar) da possibilidade de realizao da Cidade ideal. Ver Ada B. Hent-
schke, op. cit., pp. 322-324. Sobre os limites da aplicao da noo
de medida, utilizada segundo uma analogia matemtica, cincia
poltica, ver H. Joly, op. cit., pp. 366-373.
58. Rep. VII, 515 e.
153
discurso verdadeiro (alethes lgos), o mito fica reduzido
apenas condio de um discurso verossmil (eiks l-
gos). 53
sabido que a tentativa de retraar, dentro do espao
do logos cientfico, o horizonte da universalidade nomot-
tica - nica alternativa construtiva destruio sofstica
do lagos tradicional do mito - constitui a inteno funda-
mental de Scrates e o sentido mais profundo da doutrina
da virtude-cincia.
54
A inteno socrtica prolongada por
Plato e Aristteles. Mas as perspectivas epistemolgicas
em que eles se situam so diferentes e delas resultaro os
dois grandes tipos alternativos de filosofia da praxis e de
cincia do nmos que a tradio ocidental conhece. Con-
vm, no entanto, lembrar que platonismo e aristotelismo
situam-se diante do mesmo horizonte de universalidade no-
mottica e sobre o mesmo terreno do lagos demonstra-
tivo que ambos levam a cabo sua crtica da Sofstica. Os
traos distintivos que caracterizam a tica e a poltica pla-
tnicas e a tica e a poltica aristotlicas vm exatamente
da concepo distinta de cincia que preside sua elabo-
rao.
Ao passo que, para Plato, a universalidade nomottica
deve constituir-se a partir de uma crtica radical da physis
sensvel, em cuja ordem o nmos tradicional buscava o seu
modelo e, por conseguinte, deve definir-se rigorosamente
como universalidade ideal, para Aristteles o prprio ethos
vivido pela comunidade histrica - e que era o alvo pre-
ferido da crtica sofstica - que dever mostrar, atravs
de uma investigao adequada, os traos essenciais e uni-
versais, inscritos na sua natureza (phJysei) ou na natureza
do homem como ser tico e poltico.
55
Uma discusso pormenorizada da politologia platnica
e sua comparao com as concepes de Aristteles iria
muito alm do fim que nos propusemos nestas pginas.
56
53. Ver Fedro 270 c; Timeu, 29 c.
54. Ver supra, cap. li, n. 87.
55. Sobre o conceito de physis em Plato e sua relao com
a tica, ver K. Gaiser, Die Ursprnge der idealistischen Naturbe-
griff bei Platon, ap. M. J. Petry (org.), Hegel und die Naturwissen-
schajten, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1987, pp. 3-32.
56. Uma excelente resenha e apreciao das tendncias recen-
tes dos estudos sobre a filosofia politica de Plato e das relaes en-
tre theoria e praxis no seu pensamento oferecida por Margherita
Isnardi-Parente, ap. Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo
152
Conquanto a direo apontada por Aristteles tenha aca-
bado por prevalecer no desenvolvimento da filosofia pol-
tica clssica at o sculo XVII, convm no esquecer que
a oposio entre Plato e Aristteles adquire, nesse ponto
como em outros, um carter exemplar. As vicissitudes do
problema das relaes entre theora e praxis ao longo de
todo o desenvolvimento posterior do pensamento ocidental
iro refletir uma tenso conceptual permanente entre o
modelo platnico e o modelo aristotlico de vida poltica.
O intento fundamental de Plato, aps a dramti-ca ex-
perincia que mostrou o reinado da injustia na vida pol-
tica de Atenas, seja sob o domnio dos Trinta Tiranos, seja
sob o regime democrtico que condenou Scrates, foi o
de reduzir os princpios da vida poltica aos cnones de
uma cincia rigorosa - a cincia do Bem - da qual seja
possvel deduzir o modelo da plis ideal.
57
A universalidade
nomottica eleva-se assim, no pensamento de Plato, a um
plano absoluto, fundado na idealidade da ordem e do Bem.
No obstante a imensa soma d ~ experincias e observaes
recolhidas nos Dilogos, e a regenerao da Atenas real ser
o alvo de todo o esforo especulativo da politologia plat-
nica, o Filsofo no faz qualquer concesso particulari-
dade emprica ao designar o fundamento explicativo da ne-
cessidade do nmos. A condio humana, mergulhada no
sensvel ou nas sombras da Caverna, deve ser submetida a
um longo exerccio ou a uma trabalhosa subida,
58
at que
se torne capaz de contemplar a verdade segundo a qual
dever ser traado o modelo da cidade ideal. Plato reto-
ma, assim, a crtica sofstica do ethos tradicional, mas pa-
ra transp-la no plano da cincia do Bem no qual ela se
sviluppo storico, vol. III, 2, Florena, La Nuova Italia, 1974, pp. 564-
-583. Uma interpretao original da viso platnica exposta por
Henry Joly, Le renversement platonicien: Logos, Episthme, Polis,
Paris, Vrin, 1974, pp. 273-373. Com referncia concepo das Leis
ver Ada B. Hentschke, Polttik und Philosophie bei Plato und Aris-
toteles, Frankfurt a. M., Klostermann, 1971, pp. 50-54. Ver supra,
cap. III, 1.
57. Esse intento permanece o mesmo da Repblica s Leis, no
obstante a abundncia do material emprico recolhido no dilogo da
velhice em vista da demonstrao prtica (atravs da arte de legis-
lar) da possibilidade de realizao da Cidade ideal. Ver Ada B. Hent-
schke, op. cit., pp. 322-324. Sobre os limites da aplicao da noo
de medida, utilizada segundo uma analogia matemtica, cincia
poltica, ver H. Joly, op. cit., pp. 366-373.
58. Rep. VII, 515 e.
153
prolonga na proposio de um novo ethos conforme ra-
zo.
59
A paideia platnica assim, profundamente, um
ensinamento tico-poltico que deve orientar para o "centro
divino" oo ou para o real verdadeiro (nts n) a praxis hu-
mana ordenada segundo a justia na alma e segundo a jus-
tia na cidade.
6
'
A universalidade nomottica como horizonte da lei e
da ao poltica recebe em Plato um estatuto terico de
extremo rigor na descrio mtica
62
do "estado primitivo"
da idade de Cronos que elevado condio de estado
mais perfeito da sociedade em razo do pastoreio e da ati-
vidade legisladora do deus com relao aos homens.
63
Por
sua vez, o "estado de natureza" objeto de uma descrio
irnica.
6
~ Com efeito, no teria sentido para Plato tomar
como ponto de partida uma "hiptese" inicial sob a forma
de um postulado apenas metodo[gico (como ser o caso
do "estado de natureza" nos sistemas modernos do Direito
natural) para explicar o estado atual da sociedade poltica.
Para ele a verdadeira plis se explica e se justifica em vir-
tude da referncia a um paradigma ideal eternamente pre-
sente e a cuja contemplao o filsofo se eleva pela nesis,
a intuio da Idia. Esse paradigma universal com re-
lao particularidade da cidade emprica e o seu ho-
rizonte nomottico: ele pe absolutamente as leis da sua
natureza verdadeira, vem a ser, conforme razo.
Entre o pensamento poltico de Plato e Aristteles
permanece o fundamento comum que a presena norma-
tiva da Idia como universalidade nomottica que eleva o
ser emprico do indivduo e da cidade da sua particulari-
59 Ver supra cap. III, nota 28.
60. Tal a tese desenvolvida brilhantemente por W. Jaeger no
II vol. da sua Paideia.
61. Como sabido, esse o fio condutor do dilogo na Rep-
blica. Sobre a impropriedade de se caracterizar o modelo ideal como
"idealismo utpico" ver supra cap. II, nota 64; Hegel, Grundlinien
der Phil. des Rechts, 185 nota e E. Voegelin, Order and History, IV
The Ecumenic Age, pp. 219-227.
62. No sentido de um eiks lgos, de um "discurso veross-
mil" que aponta para uma realidade superior. Ver P. Friedlnder,
Platon: Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit, Berlim, W. de Gruy-
ter, 1954, I, pp. 188-201.
63. Ver Pol. 271 c-272 a; Leis, IV, 713 a-714 a.
64. Ver Rep. II, 369 a-372 d; sobre o "estado de natureza" na
perspectiva da idia platnica de "medida" ver H. Joly, op. cit., pp.
277-301.
154
dade contingente universalidade racional e, por isso mes-
mo necessria, da vida poltica. A Idia aristotlica no en-
tanto, no uma Idia "separada" (chorisms), m'as ima-
nente ~ P_rpria physis sensvel: ~ i s por que no h lugar,
em Anstoteles, para a propos1ao do paradigma de uma
plis ideal como realidade "separada" e oferecida con-
templao do filsofo ou do legislador que sero, finalmen-
te, um s e mesmo indivduo. na multiplicidade e rela-
tividade as Constituies (politeiai) tais como as conhe-
cera a histria das cidades gregas, que Aristteles ir inves-
tigar os elementos essenciais que se mostram como cons-
titutivos da forma melhor da comunidade poltica.
65
A ori-
ginalidade de Aristteles, aqui como alhures, no consiste
em opor o emprico ao ideal, pois o emprico no encontra
em si mesmo sua explicao ou sua razo de ser. Fiel
filiao socrtica do seu pensamento, Aristteles abraa ple-
namente a alternativa que Scrates apresentou crtica
sofstica, ou seja, elevar-se ao logos da cincia como Zogos
universal no qual tem lugar a operao fundamental do
"dar razo" ( lgon donai) de qualquer realidade. A con-
cordia discors de Aristteles com Plato manifesta-se par-
ticularmente no campo da tica e da poltica.
66
Para Plato,
o nico lagos que pode aspirar dignidade da cincia
o "discurso sobre as Idias", a Dialtica como Ontologia.
Ao rejeitar as Idias separadas, fundamento da univocidade
do saber cientfico, Aristteles estabelece a dualidade do
discurso da cincia que se divide em episthme teortica e
episthme prtica. Se a elas acrescentarmos o saber que
orienta a produo, ou saber poitico, temos o corpo dos
saberes segundo a concepo de Aristteles, regido por
uma ordem de proporo, ou analgica, na qual o saber
prtico intermedirio entre o saber teortico e o saber
poitico e utiliza ora um ora outro dos seus modelos para
construir a sua prpria estrutura epistemolgica. Na ver-
dade, a cincia aristotlica assegura a sua unidade profun-
da enquanto tem como nico objeto a ph'ysis universal que
contemplada pela theoria, que confere ao ethos, campo da
65. Aristteles, Poltica, II, 1, 1260 b 28-35. sabido que Aris-
tteles empreendeu o trabalho de colecionar as constituies das ci-
dades gregas. Desta coleo s nos resta a Constituio dos Ate-
nienses (ed. H. Oppermann, Leipzig, Teubner 1928) descoberta em
1891 num papiro do British Museum. '
66. Ver supra cap. III, nota 56.
155
prolonga na proposio de um novo ethos conforme ra-
zo.
59
A paideia platnica assim, profundamente, um
ensinamento tico-poltico que deve orientar para o "centro
divino" oo ou para o real verdadeiro (nts n) a praxis hu-
mana ordenada segundo a justia na alma e segundo a jus-
tia na cidade.
6
'
A universalidade nomottica como horizonte da lei e
da ao poltica recebe em Plato um estatuto terico de
extremo rigor na descrio mtica
62
do "estado primitivo"
da idade de Cronos que elevado condio de estado
mais perfeito da sociedade em razo do pastoreio e da ati-
vidade legisladora do deus com relao aos homens.
63
Por
sua vez, o "estado de natureza" objeto de uma descrio
irnica.
6
~ Com efeito, no teria sentido para Plato tomar
como ponto de partida uma "hiptese" inicial sob a forma
de um postulado apenas metodo[gico (como ser o caso
do "estado de natureza" nos sistemas modernos do Direito
natural) para explicar o estado atual da sociedade poltica.
Para ele a verdadeira plis se explica e se justifica em vir-
tude da referncia a um paradigma ideal eternamente pre-
sente e a cuja contemplao o filsofo se eleva pela nesis,
a intuio da Idia. Esse paradigma universal com re-
lao particularidade da cidade emprica e o seu ho-
rizonte nomottico: ele pe absolutamente as leis da sua
natureza verdadeira, vem a ser, conforme razo.
Entre o pensamento poltico de Plato e Aristteles
permanece o fundamento comum que a presena norma-
tiva da Idia como universalidade nomottica que eleva o
ser emprico do indivduo e da cidade da sua particulari-
59 Ver supra cap. III, nota 28.
60. Tal a tese desenvolvida brilhantemente por W. Jaeger no
II vol. da sua Paideia.
61. Como sabido, esse o fio condutor do dilogo na Rep-
blica. Sobre a impropriedade de se caracterizar o modelo ideal como
"idealismo utpico" ver supra cap. II, nota 64; Hegel, Grundlinien
der Phil. des Rechts, 185 nota e E. Voegelin, Order and History, IV
The Ecumenic Age, pp. 219-227.
62. No sentido de um eiks lgos, de um "discurso veross-
mil" que aponta para uma realidade superior. Ver P. Friedlnder,
Platon: Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit, Berlim, W. de Gruy-
ter, 1954, I, pp. 188-201.
63. Ver Pol. 271 c-272 a; Leis, IV, 713 a-714 a.
64. Ver Rep. II, 369 a-372 d; sobre o "estado de natureza" na
perspectiva da idia platnica de "medida" ver H. Joly, op. cit., pp.
277-301.
154
dade contingente universalidade racional e, por isso mes-
mo necessria, da vida poltica. A Idia aristotlica no en-
tanto, no uma Idia "separada" (chorisms), m'as ima-
nente ~ P_rpria physis sensvel: ~ i s por que no h lugar,
em Anstoteles, para a propos1ao do paradigma de uma
plis ideal como realidade "separada" e oferecida con-
templao do filsofo ou do legislador que sero, finalmen-
te, um s e mesmo indivduo. na multiplicidade e rela-
tividade as Constituies (politeiai) tais como as conhe-
cera a histria das cidades gregas, que Aristteles ir inves-
tigar os elementos essenciais que se mostram como cons-
titutivos da forma melhor da comunidade poltica.
65
A ori-
ginalidade de Aristteles, aqui como alhures, no consiste
em opor o emprico ao ideal, pois o emprico no encontra
em si mesmo sua explicao ou sua razo de ser. Fiel
filiao socrtica do seu pensamento, Aristteles abraa ple-
namente a alternativa que Scrates apresentou crtica
sofstica, ou seja, elevar-se ao logos da cincia como Zogos
universal no qual tem lugar a operao fundamental do
"dar razo" ( lgon donai) de qualquer realidade. A con-
cordia discors de Aristteles com Plato manifesta-se par-
ticularmente no campo da tica e da poltica.
66
Para Plato,
o nico lagos que pode aspirar dignidade da cincia
o "discurso sobre as Idias", a Dialtica como Ontologia.
Ao rejeitar as Idias separadas, fundamento da univocidade
do saber cientfico, Aristteles estabelece a dualidade do
discurso da cincia que se divide em episthme teortica e
episthme prtica. Se a elas acrescentarmos o saber que
orienta a produo, ou saber poitico, temos o corpo dos
saberes segundo a concepo de Aristteles, regido por
uma ordem de proporo, ou analgica, na qual o saber
prtico intermedirio entre o saber teortico e o saber
poitico e utiliza ora um ora outro dos seus modelos para
construir a sua prpria estrutura epistemolgica. Na ver-
dade, a cincia aristotlica assegura a sua unidade profun-
da enquanto tem como nico objeto a ph'ysis universal que
contemplada pela theoria, que confere ao ethos, campo da
65. Aristteles, Poltica, II, 1, 1260 b 28-35. sabido que Aris-
tteles empreendeu o trabalho de colecionar as constituies das ci-
dades gregas. Desta coleo s nos resta a Constituio dos Ate-
nienses (ed. H. Oppermann, Leipzig, Teubner 1928) descoberta em
1891 num papiro do British Museum. '
66. Ver supra cap. III, nota 56.
155
prtica, sua constncia e regularidade como "segunda na-
tureza", e que imitada pela arte. Assim, a majestade da
physis eleva-se no horizonte do saber aristotlico, conferin-
do ao saber prtico a universalidade de cunho nomottico
que a situa sob a norma da idia ou da forma imanente
physis.
A poltica , pois, para Aristteles, uma parte da cin-
cia da prtica ou cincia do ethos. A praxis reivindica, com
efeito, um lugar original entre as coisas que so por neces-
sidade natural (physei) e as que so produzidas pelo ho-
mem (techn).
67
Sendo atividade auto-realizadora do ho-
mem, a praxis no se dirige produo de uma obra exte-
rior mas tem um fim em si mesma; e, embora integrada
como o prprio homem no movimento universal da Natu-
reza,
68
nem est submetida necessidade dos movimentos
naturais nem abandonada ao acaso. Enquanto atividade na-
tural, a praxis se insere - ou deve inserir-se - na ordem da
natureza universal e, nesse sentido, ela regida por uma
universalidade nomottica; mas, enquanto atividade huma-
na, a praxis obedece a leis peculiares que so aquelas pr-
prias de um ser cuja ao finalizada pela forma do lagos
ou pela regra da razo reta (orths lgos).
69
Desta sorte,
Aristteles busca a superao da oposio sofstica entre
um nmos relativizado segundo as convenes humanas e
uma physis submetida cega necessidade da lei do mais
forte, numa sntese entre o conceito de phrysis entendida
como nmos ou ordem, segundo a tradio pr-socrtica,
e a teleologia do lagos como razo do melhor segundo a
tradio socrtico-platnica. O terreno que Aristteles abre
investigao da cincia da praxis humana , em outras pa-
lavras, o terreno do ethos histrico, no qual se encontram
a ordem da physis e o finalismo do lagos.
Se considerarmos a perspectiva aristotlica do ponto de
vista do fundamento antropolgico que ela oferece para
a tica e para a Poltica, sua originalidade e fecundidade
tornam-se mais patentes.
70
Dando primazia noo de fim
(tlos) imanente natureza (pltysis) enquanto "princpio
67. Ver Met. VI, 7, 1032 a 12-13; Fis. II, 1, 192 b 9-10.
68. A physis entendida aqui no sentido da totalidade dos se-
res, acepo registrada por Bonitz, Index Aristotelicus, s.v., n. 1, p.
835: rerum universitas.
69. Ver supra, cap. III, nota 196.
70. Ver a citao de Eric Weil, supra, cap. III, nota 61.
156
do movimento" (arque kinses),
7
' a concepo aristotli-
ca permite articular organicamente a atividade propriamen-
te tica do homem e a atividade poltica na unidade de
um mesmo saber prtico.
72
Rigorosamente distinto do fim
prosseguido pela atividade tcnica ou poitica que se orde-
na para a perfeio de uma obra exterior ao agente, o fim
almejado pela atividade prtica interior ao prprio agen-
te, vem a ser, o estado designado como "vida feliz" (eudai-
mona) ou "bem viver" (eu zn) que no seno a auto-
-realizao do homem segundo a sua essncia. O dinamismo
desse nico fim traa uma linha epistemolgica sem ruptu-
ra na qual situam-se tica e Poltica.
73
Assim, a Poltica
no pode ser considerada como uma forma peculiar de
tchne, ou simplesmente como arte de persuadir e coman-
dar segundo os critrios da verossimilhana e da fora, tal
como a proclamara o ensinamento sofstico criticado por
Plato. Como praxis, a Poltica deve ser julgada segundo
os critrios da auto-realizao do homem ou do seu ser-
-em-razo-de-si-mesmo (autou n ~ k a , autrqueia),
74
H, pois,
uma correspondncia entre a unidade epistemolgica da
cincia prtica e a unidade antropolgica do ser moral e
poltico do homem, manifestado no finalismo constitutivo
da sua praxis. Theora, praxis e tchne, ou seja, contem-
plao, ao e produo, encontram na physis o termo co-
mum segundo o qual se estabelece entre elas a unidade de
proporo ou analgica que assegura a cada uma tanto a
sua peculiaridade quanto o seu fundamento comum. No ca-
so da praxis, a relao entre lagos e plVysis exprime-se nes-
sa forma peculiar do saber que , justamente, o lagos pr-
tico.
75
Na medida em que permanece no mbito da physis co-
71. Ver Fis. II, 1, 192 b 21-23.
72. Ver supra cap. III, nota 57.
73. Ver o final da t. Nic., X, 10, 1179 a 33-1181 b 23, e o co-
mentrio de R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique Nicomaque,
II, 2, pp. 900-913.
74. Sobre a autrqeia na poltica aristotlica, ver a nota de A.
Plebe em Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo
storico, II, 6 (org.: A. Plebe), Florena, La Nuova Italia, 1966, pp.
123-124. E sobre a finalidade na vida poltica segundo Aristteles,
sobretudo na perspectiva da tica de Nicmaco, ver Ada B. Hentscke,
op. cit., pp. 375-387.
75. Ver o estudo fundamental de J. Ritter, Zur Grundlegung
der praktischen Philosophie bei Aristoteles, (originalmente publca-
do em 1960) ap. M. Riedel (org.), Rehabilitierung der praktischen
Philosophie, Friburgo na Brisgvia, Rombach, 1974, II, pp. 479-500;
157
prtica, sua constncia e regularidade como "segunda na-
tureza", e que imitada pela arte. Assim, a majestade da
physis eleva-se no horizonte do saber aristotlico, conferin-
do ao saber prtico a universalidade de cunho nomottico
que a situa sob a norma da idia ou da forma imanente
physis.
A poltica , pois, para Aristteles, uma parte da cin-
cia da prtica ou cincia do ethos. A praxis reivindica, com
efeito, um lugar original entre as coisas que so por neces-
sidade natural (physei) e as que so produzidas pelo ho-
mem (techn).
67
Sendo atividade auto-realizadora do ho-
mem, a praxis no se dirige produo de uma obra exte-
rior mas tem um fim em si mesma; e, embora integrada
como o prprio homem no movimento universal da Natu-
reza,
68
nem est submetida necessidade dos movimentos
naturais nem abandonada ao acaso. Enquanto atividade na-
tural, a praxis se insere - ou deve inserir-se - na ordem da
natureza universal e, nesse sentido, ela regida por uma
universalidade nomottica; mas, enquanto atividade huma-
na, a praxis obedece a leis peculiares que so aquelas pr-
prias de um ser cuja ao finalizada pela forma do lagos
ou pela regra da razo reta (orths lgos).
69
Desta sorte,
Aristteles busca a superao da oposio sofstica entre
um nmos relativizado segundo as convenes humanas e
uma physis submetida cega necessidade da lei do mais
forte, numa sntese entre o conceito de phrysis entendida
como nmos ou ordem, segundo a tradio pr-socrtica,
e a teleologia do lagos como razo do melhor segundo a
tradio socrtico-platnica. O terreno que Aristteles abre
investigao da cincia da praxis humana , em outras pa-
lavras, o terreno do ethos histrico, no qual se encontram
a ordem da physis e o finalismo do lagos.
Se considerarmos a perspectiva aristotlica do ponto de
vista do fundamento antropolgico que ela oferece para
a tica e para a Poltica, sua originalidade e fecundidade
tornam-se mais patentes.
70
Dando primazia noo de fim
(tlos) imanente natureza (pltysis) enquanto "princpio
67. Ver Met. VI, 7, 1032 a 12-13; Fis. II, 1, 192 b 9-10.
68. A physis entendida aqui no sentido da totalidade dos se-
res, acepo registrada por Bonitz, Index Aristotelicus, s.v., n. 1, p.
835: rerum universitas.
69. Ver supra, cap. III, nota 196.
70. Ver a citao de Eric Weil, supra, cap. III, nota 61.
156
do movimento" (arque kinses),
7
' a concepo aristotli-
ca permite articular organicamente a atividade propriamen-
te tica do homem e a atividade poltica na unidade de
um mesmo saber prtico.
72
Rigorosamente distinto do fim
prosseguido pela atividade tcnica ou poitica que se orde-
na para a perfeio de uma obra exterior ao agente, o fim
almejado pela atividade prtica interior ao prprio agen-
te, vem a ser, o estado designado como "vida feliz" (eudai-
mona) ou "bem viver" (eu zn) que no seno a auto-
-realizao do homem segundo a sua essncia. O dinamismo
desse nico fim traa uma linha epistemolgica sem ruptu-
ra na qual situam-se tica e Poltica.
73
Assim, a Poltica
no pode ser considerada como uma forma peculiar de
tchne, ou simplesmente como arte de persuadir e coman-
dar segundo os critrios da verossimilhana e da fora, tal
como a proclamara o ensinamento sofstico criticado por
Plato. Como praxis, a Poltica deve ser julgada segundo
os critrios da auto-realizao do homem ou do seu ser-
-em-razo-de-si-mesmo (autou n ~ k a , autrqueia),
74
H, pois,
uma correspondncia entre a unidade epistemolgica da
cincia prtica e a unidade antropolgica do ser moral e
poltico do homem, manifestado no finalismo constitutivo
da sua praxis. Theora, praxis e tchne, ou seja, contem-
plao, ao e produo, encontram na physis o termo co-
mum segundo o qual se estabelece entre elas a unidade de
proporo ou analgica que assegura a cada uma tanto a
sua peculiaridade quanto o seu fundamento comum. No ca-
so da praxis, a relao entre lagos e plVysis exprime-se nes-
sa forma peculiar do saber que , justamente, o lagos pr-
tico.
75
Na medida em que permanece no mbito da physis co-
71. Ver Fis. II, 1, 192 b 21-23.
72. Ver supra cap. III, nota 57.
73. Ver o final da t. Nic., X, 10, 1179 a 33-1181 b 23, e o co-
mentrio de R. A. Gauthier in Gauthier-Jolif, L'thique Nicomaque,
II, 2, pp. 900-913.
74. Sobre a autrqeia na poltica aristotlica, ver a nota de A.
Plebe em Zeller-Mondolfo, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo
storico, II, 6 (org.: A. Plebe), Florena, La Nuova Italia, 1966, pp.
123-124. E sobre a finalidade na vida poltica segundo Aristteles,
sobretudo na perspectiva da tica de Nicmaco, ver Ada B. Hentscke,
op. cit., pp. 375-387.
75. Ver o estudo fundamental de J. Ritter, Zur Grundlegung
der praktischen Philosophie bei Aristoteles, (originalmente publca-
do em 1960) ap. M. Riedel (org.), Rehabilitierung der praktischen
Philosophie, Friburgo na Brisgvia, Rombach, 1974, II, pp. 479-500;
157
mo estrutura universal do ser, a praxis deve referir-se a uma
norma imanente do seu agir, ao "justo por natureza" (phy-
sei dkaion) sobre cujo fundamento se edifica o mundo va-
riado e complexo dos thoi dos diversos povos e culturas.
76
Essa presena normativa da ph}ysis no ethos (o ethos acaba
sendo uma "segunda natureza") que permite a Aristte-
les constituir um horizonte de universalidade nomottica,
dentro do qual a vida poltica se afirma como realizao
suprema do ethos, como comunidade (koinona) perfeita,
dotada de prioridade ontolgica (embora no histrica)
sobre todas as outras formas de socialidade humana.
77
Vemos, assim, que a antropologia poltica de Arist-
teles tem como objeto o indivduo e a comunidade tais
como se apresentavam reflexo do filsofo no terreno da
experincia histrica da plis grega. Mas a reflexo poltica
de Aristteles tem lugar exatamente no momento em que
a plis, como entidade poltica independente, ia desapare-
cer, absorvida no grande corpo dos reinos helensticos. As
limitaes da concepo aristotlica da ordem poltica apa-
recem, assim, ligadas ao anacronismo de uma teoria que
se formulava exatamente no momento em que seu objeto dei-
xava de existir.'" Enquanto ligado s estruturas da plis, o
id. "Politik" und "Ethik" in der praktischen Philosophie des Aristo-
teles, ap. Metaphysik und Politik: Studien zu Aristoteles und Hegel,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 107-132. Os estudos de J. Rit-
ter colocaram em plena atualidade os problemas e temas da antiga
philosophia practica inspirada em Aristteles, tendo em vista as di-
ficuldades a que conduziu a ciso moderna entre tica e Poltica.
76. Ver R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, op. cit.,
pp. 185-188. O texto fundamental-lugar clssico da teoria aristot-
lica do Direito natural - t. Nic., V, 10, 1134 b 18-1135 a 4. Ver
o comentrio de J. Y. Jolif em Gauthier-Jolif, L'thic Nic., II, 1,
pp. 391-396 e o estudo magistral de J. Ritter, "Naturrecht" bei Aris-
toteles, ap. Metaphysik und Politik, op. cit., pp. 133-179.
77. Ver Pol. I, 1, 1053 a 19-40. A propsito ver A. Schwann,
Politik als "Werk der Wahrheit": Einheit und Dif!erenz von Ethik
und Politik bei Aristoteles, ap. Sein und Ethos, op. cit., pp. 69-110.
Ver igualmente o importante estudo de L. Landgrebe, tJber einige
Grundfragen der Philosophie der Politik, ap. Rehabilitierung der prak-
tischen Phil., op. cit., II, pp. 173-210. Hegel j chamara a ateno
sobre a diferena entre a ordem do desenvolvimento da Idia e a
ordem do tempo histrico: Grundlinien der Phil. des Rechts, 32
nota.
78. O fim da plis e do seu nmos torna agudo, a partir do
sculo IV, o problema da igualdade de todos os homens que partici-
pam da mesma natureza humana. Ver Eric Voegelin, Order and History
li, The World of Polis, pp. 323-331.
158
universalismo tico-poltico de Aristteles sofre as limita-
es do seu contexto histrico e formula-se como ideal do
polts, do cidado livre, de cuja koinona esto excludos
os escravos, as mulheres e as crianas. As virtudes polti-
cas so virtudes de alguns, dos melhores (ristoi) no sen-
tido literal, aos quais est reservado o privilgio da cidada-
nia.
No obstante, o ensinamento tico-poltico de Aristte-
les ser a fonte principal da qual fluir a corrente das con-
cepes morais e polticas do Ocidente at o sculo XVII,
quando o advento do individualismo, seja racionalista seja
empirista, levar ao abandono dos quadros conceptuais da
chamada philosophia practica.
79
Se nos interrogarmos so-
bre as razes da longa posteridade das concepes aristo-
tlicas, iremos provavelmente encontr-las na viso coerente
e unitria da praxis, na qual a universalidade da physis e
a particularidade do ethos so unidas pela normatividade
de um mesmo lagos que , justamente, o lagos prtico.
O terreno em que a ao poltia como ao razovel, isto
, justa, se faz presente na contingncia do acontecer his-
trico fica assim definido, sem que seja necessrio recorrer
ao paradigma transhistrico da cidade ideal, como preten-
dera Plato. so
O destino da filosofia da praxis na cultura ocidental
at o limiar dos tempos modernos conhecer duas grandes
verses da sntese entre phJysis e ethos, segundo a influn-
cia preponderante seja do Estoicismo seja do Cristianismo
na tradio do Direito Natural clssico.
81
De um lado a
influncia estica ir acentuar a transcendncia e i m ~ t a
bilidade da physis e, correlativamente, a necessidade do la-
gos universal em que ela se exprime e que se formula como
nmos eterno, sob cuja gide se constitui a unidade do
gnero humano. De outro lado, a tradio bblico-crist
79. Ver, a propsito, J. Ritter, Zur Grundlegung der prakti-
chen Philosophie bei Aristoteles, loc. cit. e, sobretudo, W. Hennis, Po-
litik und praktische Philosophie, Berlim-Neuwied, Luchterhand, 1963.
80. Sobre histria e poltica em Aristteles ver Ezio Riondato
Storia e Metafsica nel pensiero di Aristoteles, Pdua, Antenore, 1971,
pp. 279-313.
81. Entendemos aqui essa tradio na sua expresso filosfica
e teolgica. Sua expresso jurdica estar presente nos textos funda-
mentais do Direito Romano. Ver L. Lachance, Le Droit et les droits
de l'homme, Paris, PUF, 1959, pp. 34-57; R. Mareie, Geschichte der
Rechtsphilosophie, op. cit., pp. 205-221.
159
mo estrutura universal do ser, a praxis deve referir-se a uma
norma imanente do seu agir, ao "justo por natureza" (phy-
sei dkaion) sobre cujo fundamento se edifica o mundo va-
riado e complexo dos thoi dos diversos povos e culturas.
76
Essa presena normativa da ph}ysis no ethos (o ethos acaba
sendo uma "segunda natureza") que permite a Aristte-
les constituir um horizonte de universalidade nomottica,
dentro do qual a vida poltica se afirma como realizao
suprema do ethos, como comunidade (koinona) perfeita,
dotada de prioridade ontolgica (embora no histrica)
sobre todas as outras formas de socialidade humana.
77
Vemos, assim, que a antropologia poltica de Arist-
teles tem como objeto o indivduo e a comunidade tais
como se apresentavam reflexo do filsofo no terreno da
experincia histrica da plis grega. Mas a reflexo poltica
de Aristteles tem lugar exatamente no momento em que
a plis, como entidade poltica independente, ia desapare-
cer, absorvida no grande corpo dos reinos helensticos. As
limitaes da concepo aristotlica da ordem poltica apa-
recem, assim, ligadas ao anacronismo de uma teoria que
se formulava exatamente no momento em que seu objeto dei-
xava de existir.'" Enquanto ligado s estruturas da plis, o
id. "Politik" und "Ethik" in der praktischen Philosophie des Aristo-
teles, ap. Metaphysik und Politik: Studien zu Aristoteles und Hegel,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969, pp. 107-132. Os estudos de J. Rit-
ter colocaram em plena atualidade os problemas e temas da antiga
philosophia practica inspirada em Aristteles, tendo em vista as di-
ficuldades a que conduziu a ciso moderna entre tica e Poltica.
76. Ver R. Mareie, Geschichte der Rechtsphilosophie, op. cit.,
pp. 185-188. O texto fundamental-lugar clssico da teoria aristot-
lica do Direito natural - t. Nic., V, 10, 1134 b 18-1135 a 4. Ver
o comentrio de J. Y. Jolif em Gauthier-Jolif, L'thic Nic., II, 1,
pp. 391-396 e o estudo magistral de J. Ritter, "Naturrecht" bei Aris-
toteles, ap. Metaphysik und Politik, op. cit., pp. 133-179.
77. Ver Pol. I, 1, 1053 a 19-40. A propsito ver A. Schwann,
Politik als "Werk der Wahrheit": Einheit und Dif!erenz von Ethik
und Politik bei Aristoteles, ap. Sein und Ethos, op. cit., pp. 69-110.
Ver igualmente o importante estudo de L. Landgrebe, tJber einige
Grundfragen der Philosophie der Politik, ap. Rehabilitierung der prak-
tischen Phil., op. cit., II, pp. 173-210. Hegel j chamara a ateno
sobre a diferena entre a ordem do desenvolvimento da Idia e a
ordem do tempo histrico: Grundlinien der Phil. des Rechts, 32
nota.
78. O fim da plis e do seu nmos torna agudo, a partir do
sculo IV, o problema da igualdade de todos os homens que partici-
pam da mesma natureza humana. Ver Eric Voegelin, Order and History
li, The World of Polis, pp. 323-331.
158
universalismo tico-poltico de Aristteles sofre as limita-
es do seu contexto histrico e formula-se como ideal do
polts, do cidado livre, de cuja koinona esto excludos
os escravos, as mulheres e as crianas. As virtudes polti-
cas so virtudes de alguns, dos melhores (ristoi) no sen-
tido literal, aos quais est reservado o privilgio da cidada-
nia.
No obstante, o ensinamento tico-poltico de Aristte-
les ser a fonte principal da qual fluir a corrente das con-
cepes morais e polticas do Ocidente at o sculo XVII,
quando o advento do individualismo, seja racionalista seja
empirista, levar ao abandono dos quadros conceptuais da
chamada philosophia practica.
79
Se nos interrogarmos so-
bre as razes da longa posteridade das concepes aristo-
tlicas, iremos provavelmente encontr-las na viso coerente
e unitria da praxis, na qual a universalidade da physis e
a particularidade do ethos so unidas pela normatividade
de um mesmo lagos que , justamente, o lagos prtico.
O terreno em que a ao poltia como ao razovel, isto
, justa, se faz presente na contingncia do acontecer his-
trico fica assim definido, sem que seja necessrio recorrer
ao paradigma transhistrico da cidade ideal, como preten-
dera Plato. so
O destino da filosofia da praxis na cultura ocidental
at o limiar dos tempos modernos conhecer duas grandes
verses da sntese entre phJysis e ethos, segundo a influn-
cia preponderante seja do Estoicismo seja do Cristianismo
na tradio do Direito Natural clssico.
81
De um lado a
influncia estica ir acentuar a transcendncia e i m ~ t a
bilidade da physis e, correlativamente, a necessidade do la-
gos universal em que ela se exprime e que se formula como
nmos eterno, sob cuja gide se constitui a unidade do
gnero humano. De outro lado, a tradio bblico-crist
79. Ver, a propsito, J. Ritter, Zur Grundlegung der prakti-
chen Philosophie bei Aristoteles, loc. cit. e, sobretudo, W. Hennis, Po-
litik und praktische Philosophie, Berlim-Neuwied, Luchterhand, 1963.
80. Sobre histria e poltica em Aristteles ver Ezio Riondato
Storia e Metafsica nel pensiero di Aristoteles, Pdua, Antenore, 1971,
pp. 279-313.
81. Entendemos aqui essa tradio na sua expresso filosfica
e teolgica. Sua expresso jurdica estar presente nos textos funda-
mentais do Direito Romano. Ver L. Lachance, Le Droit et les droits
de l'homme, Paris, PUF, 1959, pp. 34-57; R. Mareie, Geschichte der
Rechtsphilosophie, op. cit., pp. 205-221.
159
caminha no sentido de um aprofundamento da universali-
dade subjetiva ou da conscincia do q_ue
o constitui como sujeito propriamente dito ou como mstan-
cia interior do dever-ser, em face da universalidade
da lei. O aparecimento dessa polaridade entre a consCien-
cia e lei, que ir acompanhar a poste:ior
e do Direito supe por sua vez, o fim do ciclo histonco
da plis e do ponto de vista da evoluo das instituies
e das idlas polticas, a formao dos primeiros esboos
da sociedade civil no enorme corpo poltico do Imprio Ro-
mano e, posteriormente, nas sociedades urbanas- da Idade
Mdia.
82
As complexas e delicadas relaes que se estabelecem
entre a conscincia e a lei iro constituir um captulo cls-
sico da tica crist e um dos temas fundamentais da re-
leitura, por parte dos telogos cristos, da teoria estica
do Direito Natural. Essas relaes ou a sua correta formu-
lao sero um dos fios da assimilao da: tica
aristotlica por Toms de Aqumo e da sua tentativa de
reinterpretao das concepes polticas de Aristteles no
contexto histrico do mundo medieval-cristo.
83
A estru-
tura teonmica da universalidade objetiva da phtysis - j
presente no Estoicismo e no neoplatonismo - encontra
uma forma sistemtica definitiva na teologia de Sto. Toms
pela proposio de um teocentrismo rigoroso, fundado na
transcendncia absoluta do Deus Criador, que estende seu
influxo ordenador realidade poltica.
84
Na sntese tomis-
ta, anunciam-se, no entanto, os problemas das relaes en-
82. o conceito de sociedade poltica (koinona politik) tem
sua origem em Aristteles, mas adquire um novo e mais amplo sen-
tido em Ccero (societas civilis) na sua adaptao ao mundo roma-
no e em Toms de Aquino no sculo XII na sua adaptao ao mun-
do' medieval. Ver o artigo de M. Riedel in Historisches Wrterbuch
der Philosophie, op. cit. III, pp. 466-474.
83. Sobre o Direito Natural em Sto. Toms. ver o
sico de O. Lottin, O.S.B., Le Droit Naturel chez Saznt Thomas. d
et ses prdecesseurs, Bruges, Beyaert, 1931, e a toma-
sica da sociedade nas suas relaes de dependncia e com
respeito s concepes de Aristteles, ver G. de !A nazssan-
ce de l'esprit laique au dclin du Moyen-A.ge, Louvam-Paris, B. Nau-
welaerts, 1958, li, pp. 50-85. . .
84. ver G. de Lagarde, op. cit. II, pp. 83-85; e amda H. c .. de LI-
ma vaz "Toms de Aquino e o nosso tempo: o do _fim do
homem': in Escritos de Filosofia I, Problemas de Frontezra, Sao Pau-
lo, Edies Loyola, 1986, pp. 34-70.
160
tre sociedade poltica e sociedade religiosa que eram des-
conhecidos de Aristteles e que acabaram por constituir
o terreno de longas polmicas preparadoras e antecipado-
ras da crise das concepes polticas clssicas que acom-
panha a formao do mundo moderno.
85
Como H. Arendt
88
mostrou luminosamente, essa crise se desenrola sob o signo
do conceito moderno de sociedade, que passa a ser consi-
derada a realidade genrica e indiferenciada do homem en-
quanto ser social,
87
a ser ulteriormente especificada nas
duas formas contrrias e freqentemente conflitantes da
sociedade civil (esfera dos interesses privados) e da socie-
dade poltica.
3. TICA E DIREITO NO PENSAMENTO MODERNO
A ruptura com a tradio clssica do bos politiks
tem lugar, pois, no seio do vasto e profundo movimento
de transformao do mundo ocidental com o qual se con-
vencionou assinalar o incio da -idade moderna. Uma das
direes fundamentais desse movimento caracterizada pe-
lo advento de uma nova forma de Razo que , ao mesmo
tempo, herdeira da Razo grega e a ela oposta, seja nos
instrumentos metodolgicos que utiliza, seja no ideal de
conhecimento que passa a perseguir. A essa nova forma de
Razo corresponde necessariamente uma nova imagem do
homem. Assim, o movimento de transformao do qual
emergiu o mundo moderno caracteriza-se igualmente pelo
advento de uma nova concepo do homem elaborada se-
gundo as categorias da filosofia racionalista e da sua de-
rivao empirista, e que fornecer os traos para a nova
85. Esse conflito de doutrinas que acompanha a progressiva
secularizao da vida e das teorias polticas a partir do sculo XIII
o objeto da grande obra de G. de Lagarde, 5 vols., cit. nota 83 supra.
86. Ver Condition de l'homme moderne (tr. fr.), Paris, Cal-
mann-Lvy, 1961, pp. 31-90.
87. A esse "ser social" genrico corresponde o que E. Voege-
lin denominou: the apocalyptic dream of one "morality" for a com-
munity of men who are all equal, Order and History IV The Ecume-
nic Age, p. 196. Por sua vez H. Arendt nota (op. cit., pp. 32-33) que
P8.l'a Plato e Aristteles no o ser social (que ele tem em comum
com os animais), mas o ser poltico que define essencialmente o ho-
mem. A identificao do social e do poltico j aparece, no entanto,
em Sto. Toms de Aquino. Ver J. Habermas, Dte klassische Lehre von
Politik in ihren Verhiiltnis zur Sozialphilosophie, Theorie und Pra-
zt., op. cit., pp. 18-22.
161
caminha no sentido de um aprofundamento da universali-
dade subjetiva ou da conscincia do q_ue
o constitui como sujeito propriamente dito ou como mstan-
cia interior do dever-ser, em face da universalidade
da lei. O aparecimento dessa polaridade entre a consCien-
cia e lei, que ir acompanhar a poste:ior
e do Direito supe por sua vez, o fim do ciclo histonco
da plis e do ponto de vista da evoluo das instituies
e das idlas polticas, a formao dos primeiros esboos
da sociedade civil no enorme corpo poltico do Imprio Ro-
mano e, posteriormente, nas sociedades urbanas- da Idade
Mdia.
82
As complexas e delicadas relaes que se estabelecem
entre a conscincia e a lei iro constituir um captulo cls-
sico da tica crist e um dos temas fundamentais da re-
leitura, por parte dos telogos cristos, da teoria estica
do Direito Natural. Essas relaes ou a sua correta formu-
lao sero um dos fios da assimilao da: tica
aristotlica por Toms de Aqumo e da sua tentativa de
reinterpretao das concepes polticas de Aristteles no
contexto histrico do mundo medieval-cristo.
83
A estru-
tura teonmica da universalidade objetiva da phtysis - j
presente no Estoicismo e no neoplatonismo - encontra
uma forma sistemtica definitiva na teologia de Sto. Toms
pela proposio de um teocentrismo rigoroso, fundado na
transcendncia absoluta do Deus Criador, que estende seu
influxo ordenador realidade poltica.
84
Na sntese tomis-
ta, anunciam-se, no entanto, os problemas das relaes en-
82. o conceito de sociedade poltica (koinona politik) tem
sua origem em Aristteles, mas adquire um novo e mais amplo sen-
tido em Ccero (societas civilis) na sua adaptao ao mundo roma-
no e em Toms de Aquino no sculo XII na sua adaptao ao mun-
do' medieval. Ver o artigo de M. Riedel in Historisches Wrterbuch
der Philosophie, op. cit. III, pp. 466-474.
83. Sobre o Direito Natural em Sto. Toms. ver o
sico de O. Lottin, O.S.B., Le Droit Naturel chez Saznt Thomas. d
et ses prdecesseurs, Bruges, Beyaert, 1931, e a toma-
sica da sociedade nas suas relaes de dependncia e com
respeito s concepes de Aristteles, ver G. de !A nazssan-
ce de l'esprit laique au dclin du Moyen-A.ge, Louvam-Paris, B. Nau-
welaerts, 1958, li, pp. 50-85. . .
84. ver G. de Lagarde, op. cit. II, pp. 83-85; e amda H. c .. de LI-
ma vaz "Toms de Aquino e o nosso tempo: o do _fim do
homem': in Escritos de Filosofia I, Problemas de Frontezra, Sao Pau-
lo, Edies Loyola, 1986, pp. 34-70.
160
tre sociedade poltica e sociedade religiosa que eram des-
conhecidos de Aristteles e que acabaram por constituir
o terreno de longas polmicas preparadoras e antecipado-
ras da crise das concepes polticas clssicas que acom-
panha a formao do mundo moderno.
85
Como H. Arendt
88
mostrou luminosamente, essa crise se desenrola sob o signo
do conceito moderno de sociedade, que passa a ser consi-
derada a realidade genrica e indiferenciada do homem en-
quanto ser social,
87
a ser ulteriormente especificada nas
duas formas contrrias e freqentemente conflitantes da
sociedade civil (esfera dos interesses privados) e da socie-
dade poltica.
3. TICA E DIREITO NO PENSAMENTO MODERNO
A ruptura com a tradio clssica do bos politiks
tem lugar, pois, no seio do vasto e profundo movimento
de transformao do mundo ocidental com o qual se con-
vencionou assinalar o incio da -idade moderna. Uma das
direes fundamentais desse movimento caracterizada pe-
lo advento de uma nova forma de Razo que , ao mesmo
tempo, herdeira da Razo grega e a ela oposta, seja nos
instrumentos metodolgicos que utiliza, seja no ideal de
conhecimento que passa a perseguir. A essa nova forma de
Razo corresponde necessariamente uma nova imagem do
homem. Assim, o movimento de transformao do qual
emergiu o mundo moderno caracteriza-se igualmente pelo
advento de uma nova concepo do homem elaborada se-
gundo as categorias da filosofia racionalista e da sua de-
rivao empirista, e que fornecer os traos para a nova
85. Esse conflito de doutrinas que acompanha a progressiva
secularizao da vida e das teorias polticas a partir do sculo XIII
o objeto da grande obra de G. de Lagarde, 5 vols., cit. nota 83 supra.
86. Ver Condition de l'homme moderne (tr. fr.), Paris, Cal-
mann-Lvy, 1961, pp. 31-90.
87. A esse "ser social" genrico corresponde o que E. Voege-
lin denominou: the apocalyptic dream of one "morality" for a com-
munity of men who are all equal, Order and History IV The Ecume-
nic Age, p. 196. Por sua vez H. Arendt nota (op. cit., pp. 32-33) que
P8.l'a Plato e Aristteles no o ser social (que ele tem em comum
com os animais), mas o ser poltico que define essencialmente o ho-
mem. A identificao do social e do poltico j aparece, no entanto,
em Sto. Toms de Aquino. Ver J. Habermas, Dte klassische Lehre von
Politik in ihren Verhiiltnis zur Sozialphilosophie, Theorie und Pra-
zt., op. cit., pp. 18-22.
161
imagem do indivduo delineada nas novas teorias morais
e polticas.
88
Ora, a linha de ruptura que assinala a formao de
uma nova idia da Razo e o desenho de uma nova ima-
gem do homem inscreve-se justamente nesse terreno fun-
damental que o conceito de Natureza e significa o aban-
dono definitivo das propriedades que caracterizavam a an-
tiga physis.
89
Por outro lado, a nova idia de Razo se
manifesta exatamente na constituio de um tipo de cin-
cia que se funda numa relao de fazer - uma relao
tcnica ou experimental- entre o homem e o mundo. Co-
mo termo desse tipo de relao, o mundo se apresenta
como campo de fenmenos que se oferece atividade con-
ceptualizante e legisladora da Razo e atividade transfor-
mante da tcnica. sabido que, na tradio da diviso
aristotlica do saber, a relao poitica ou tcnica com a
Natureza constitui uma forma de saber distinta do saber
que rege as relaes sociais e polticas. Mas na histria
das sociedades modernas, a relao tcnica com a natureza
assume uma importncia sempre maior. Ela acaba deter-
minando a formao de uma constelao de valores pola-
rizados em torno do problema da satisfao das necessida-
des, que se torna o problema fundamental da organiza&.o
sociopoltica. O direito ao trabalho universal e livre e
sua adequada remunerao passa a ser o ncleo axiolgico
da civilizao.
90
A luta pela dominao e explorao da na-
tureza tendo em vista a satisfao das necessidades que
88. Na sua extensa obra, que recolhe uma enorme informao
e rica de penetrantes anlises e sugestivas snteses, Les sciences
humaines et la pense occidentale (10 vols. publicados, Paris, Payot,
1966ss.), G. Gusdorf nos faz acompanhar passo a passo o processo
da formao de uma nova concepo do homem no desenvolvimen-
to de um novo tipo de saber cientifico. De um ponto de vista do
antroplogo, essa nova imagem do homem como indivduo dese-
nhada por Louis Dumont na sua obra j clssica Homo aequalis:
Genese et panouissement de l'idologie conomique, Paris, Galli-
mard, 1977; e do ponto de vista da anlise do declnio do fato reli-
gioso na formao da modernidade ver Mareei Gauchet, Le dsen-
chantement du monde: une histoire politique de la religion, Paris,
Gallimard, 1985, pp. 126-130.
89. ver R. Lenoble, Esquisse d'une histoire de l'ide de nature,
Paris, A. Michel, 1969, pp. 217ss.
90. Sobre o trabalho no mundo moderno ver as pginas pene-
trantes de H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit., pp.
91-152. Igualmente "Trabalho e contemplao" ap. Escritos de Filo-
sofia I, op. cit., pp. 122-140.
162
se desdobram segundo a lgica do que Hegel denominou
o "mau infinito", que no seno o infinHo em potncia
( ~ n ~ m ~ i ) de Aristteles, transforma profundamente a pr-
pna 1de1a de natureza na sua relao com o agir do ho-
mem.
91
A natureza no mais a physis na imutabilidade
da sua ordem e fundamento de um nmos objetivo ao
qual deve referir-se a praxis humana. Nem se oferece mais
como um horizonte de universalidade que est permanen-
temente aberto contemplao do filsofo ou sabedoria
do legislador. Uma nova homologia dever vigorar entre
o modelo da sociedade e a nova idia da natureza. Ela de.-
ver submeter o pensamento social e poltico bem como
o pensamento tico, aos princpios epistemolgicos e s
regras metodolgicas da nova cincia da natureza cincia
de tipo hipottico-dedutivo e tendo a anlise ma'temtica
como seu instrumento conceptual privilegiado.
Eis a os pressupostos que, na articulao da dialtica
indivduo-sociedade, iro determinar a abertura de um no-
vo horizonte de universalidade, aquela que denominamos
justamente universalidade hipot-tica. Se a questo funda-
mental da antiga filosofia prtica no mbito da vida social
era a determinao dos requisitos essenciais que asseguram
ao homem, como cidado, exercer na sociedade poltica os
atos prprios da vida virtuosa (eu zn) ou da vida orde-
nada para o bem da cidade - identificado com o bem
do indivduo ou com a sua autrqueia - o pensamento
poltico moderno assume como sua tarefa primordial pro-
por a soluo analiticamente
92
satisfatria ao problema da
associao dos indivduos, tendo como alvo assegurar a
satisfao das suas necessidades vitais. A prioridade tanto
lgica quanto ontolgica aqui deferida ao indivduo na
sua particularidade psicobiolgica, que se apresenta como
elemento simples que se supe inicialmente independente
na sua suficincia de ser-para-si.
93
A gnese analtica da
sociedade tem o seu segundo momento justamente quando
o indivduo, na impossibilidade de atender sozinho s suas
necessidades ou de garantir a sua sobrevivncia, forado
91. Ver H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer
Ethik tr die technologische Zivilisation, op. cit., pp. 17-25.
92. No sentido da anlise cartesiana, que vai do simples ao com-
plexo.
93. A transposio filosfica da auto-suficincia do ndivduo
(profundamente distinta da autrqueia aristotlica) encontrar sua
expresso no Cogito cartesano.
163
imagem do indivduo delineada nas novas teorias morais
e polticas.
88
Ora, a linha de ruptura que assinala a formao de
uma nova idia da Razo e o desenho de uma nova ima-
gem do homem inscreve-se justamente nesse terreno fun-
damental que o conceito de Natureza e significa o aban-
dono definitivo das propriedades que caracterizavam a an-
tiga physis.
89
Por outro lado, a nova idia de Razo se
manifesta exatamente na constituio de um tipo de cin-
cia que se funda numa relao de fazer - uma relao
tcnica ou experimental- entre o homem e o mundo. Co-
mo termo desse tipo de relao, o mundo se apresenta
como campo de fenmenos que se oferece atividade con-
ceptualizante e legisladora da Razo e atividade transfor-
mante da tcnica. sabido que, na tradio da diviso
aristotlica do saber, a relao poitica ou tcnica com a
Natureza constitui uma forma de saber distinta do saber
que rege as relaes sociais e polticas. Mas na histria
das sociedades modernas, a relao tcnica com a natureza
assume uma importncia sempre maior. Ela acaba deter-
minando a formao de uma constelao de valores pola-
rizados em torno do problema da satisfao das necessida-
des, que se torna o problema fundamental da organiza&.o
sociopoltica. O direito ao trabalho universal e livre e
sua adequada remunerao passa a ser o ncleo axiolgico
da civilizao.
90
A luta pela dominao e explorao da na-
tureza tendo em vista a satisfao das necessidades que
88. Na sua extensa obra, que recolhe uma enorme informao
e rica de penetrantes anlises e sugestivas snteses, Les sciences
humaines et la pense occidentale (10 vols. publicados, Paris, Payot,
1966ss.), G. Gusdorf nos faz acompanhar passo a passo o processo
da formao de uma nova concepo do homem no desenvolvimen-
to de um novo tipo de saber cientifico. De um ponto de vista do
antroplogo, essa nova imagem do homem como indivduo dese-
nhada por Louis Dumont na sua obra j clssica Homo aequalis:
Genese et panouissement de l'idologie conomique, Paris, Galli-
mard, 1977; e do ponto de vista da anlise do declnio do fato reli-
gioso na formao da modernidade ver Mareei Gauchet, Le dsen-
chantement du monde: une histoire politique de la religion, Paris,
Gallimard, 1985, pp. 126-130.
89. ver R. Lenoble, Esquisse d'une histoire de l'ide de nature,
Paris, A. Michel, 1969, pp. 217ss.
90. Sobre o trabalho no mundo moderno ver as pginas pene-
trantes de H. Arendt, La condition de l'homme moderne, op. cit., pp.
91-152. Igualmente "Trabalho e contemplao" ap. Escritos de Filo-
sofia I, op. cit., pp. 122-140.
162
se desdobram segundo a lgica do que Hegel denominou
o "mau infinito", que no seno o infinHo em potncia
( ~ n ~ m ~ i ) de Aristteles, transforma profundamente a pr-
pna 1de1a de natureza na sua relao com o agir do ho-
mem.
91
A natureza no mais a physis na imutabilidade
da sua ordem e fundamento de um nmos objetivo ao
qual deve referir-se a praxis humana. Nem se oferece mais
como um horizonte de universalidade que est permanen-
temente aberto contemplao do filsofo ou sabedoria
do legislador. Uma nova homologia dever vigorar entre
o modelo da sociedade e a nova idia da natureza. Ela de.-
ver submeter o pensamento social e poltico bem como
o pensamento tico, aos princpios epistemolgicos e s
regras metodolgicas da nova cincia da natureza cincia
de tipo hipottico-dedutivo e tendo a anlise ma'temtica
como seu instrumento conceptual privilegiado.
Eis a os pressupostos que, na articulao da dialtica
indivduo-sociedade, iro determinar a abertura de um no-
vo horizonte de universalidade, aquela que denominamos
justamente universalidade hipot-tica. Se a questo funda-
mental da antiga filosofia prtica no mbito da vida social
era a determinao dos requisitos essenciais que asseguram
ao homem, como cidado, exercer na sociedade poltica os
atos prprios da vida virtuosa (eu zn) ou da vida orde-
nada para o bem da cidade - identificado com o bem
do indivduo ou com a sua autrqueia - o pensamento
poltico moderno assume como sua tarefa primordial pro-
por a soluo analiticamente
92
satisfatria ao problema da
associao dos indivduos, tendo como alvo assegurar a
satisfao das suas necessidades vitais. A prioridade tanto
lgica quanto ontolgica aqui deferida ao indivduo na
sua particularidade psicobiolgica, que se apresenta como
elemento simples que se supe inicialmente independente
na sua suficincia de ser-para-si.
93
A gnese analtica da
sociedade tem o seu segundo momento justamente quando
o indivduo, na impossibilidade de atender sozinho s suas
necessidades ou de garantir a sua sobrevivncia, forado
91. Ver H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer
Ethik tr die technologische Zivilisation, op. cit., pp. 17-25.
92. No sentido da anlise cartesiana, que vai do simples ao com-
plexo.
93. A transposio filosfica da auto-suficincia do ndivduo
(profundamente distinta da autrqueia aristotlica) encontrar sua
expresso no Cogito cartesano.
163
a submeter-se necessidade extrnseca do pacto de associa-
o e ao constrangimento do pacto de submisso na vida
social e poltica. Dentro de semelhante esquema, a univer-
salidade hipottica - que tem exatamente por fim supras-
sumir a particularidade emprica do indivduo pela sua ele-
vao universalidade da vida social - dotada das ca-
ractersticas epistemolgicas de um modelo,
94
capaz de ex-
plicar a passagem do estado de natureza - situao origi-
nal do indivduo - ao estado de sociedade - situao atual,
que se supe derivada e mesmo, em algumas teorias, de-
gradada, do mesmo indivduo.
Desta sorte, a tarefa a que se proporo as teorias do
Direito natural moderno
95
ser a de assegurar ao indiv-
no, na sua passagem ao estado de sociedade, os direitos
que radicam no seu hipottico estado de natureza original.
Por conseguinte, o horizonte ontolgico no qual se inscre-
vem essas novas teorias do Direito natural no ser a na-
tureza (physis) como universalidade nomottica ou como
ordem universal que se manifesta aos homens dotada de
normatividade, mas sim o modelo hipottico de um estado
de natureza, modelo cuja validez verificada pela explicao
satisfatria do fato da existncia social do indivduo como
condio histrica da sua sobrevivncia, pela hiptese de um
estado original do qual a sociedade seria a um tempo a
negao e a continuao. esse o horizonte em face do
qual situam-se as concepes modernas do Direito natural
e as filosofias polticas de Hobbes a Fichte, no obstante a
diversidade reinante na descrio do estado de natureza
e na maneira de se explicar a passagem ao estado de so-
ciedade.
96
Por outro lado, parece evidente que semelhante
concepo do Direito natural implica, ao menos em princ-
pio, uma universalizao dos direitos do homem, cujo fun-
damento bem diverso da ensinada, sej.a no Estoicismo -
94. No no sentido paradigmtico cie Plato, mas no sentido
metodolgico da cincia fsico-matemtica.
95. Ver J. Sauter, Die philosophische Grundlagen des Natur-
rechts, Wien, J. Springer, 1932, pp. 113-220.. Para os problemas me-
todolgicos do Direito natural moderno ver W. Rd, Rationalistisches
Naturrecht und praktische Philosophie der Neuzeit, ap. Rehabilitie-
rung der praktischen Philosophie, op. cit., I, pp. 269-295.
96. A presena desse horizonte permite ordenar cientificamen-
te com exemplar rigor a teoria poltica de J.-J. Rousseau, como V.
Goldschmidt mostrou magistralmente, analisando o Discours sur l'in-
galit. Ver Anthropologie et Polttique: les principes du systeme de
Rousseau, Paris, Vrin, 1974.
164
onde a universalidade dos direitos funda-se na participao
de todos os homens ao logos universal -, seja no Cristia-
nismo - onde a igualdade dos homens funda-se na unici-
dade do Deus Criador, do qual todos so criatura e ima-
gem. A universalidade dos direitos que deriva do Direito
natural moderno fundada no postulado igualitarista, ou
seja, na igualdade dos indivduos enquanto unidades isola-
das, numericamente distintas, no estado de natureza. Den-
tro desta concepo, o estado de sociedade , primeiramen-
te, a soma destes indivduos vinculados extrinsecamente
pelo pacto social.
97
Por outro lado, essa forma de univer-
salizao dos direitos do homem est implicada na dinmi-
ca organizacional de uma sociedade na qual se universali-
zou o trabalho livre e na qual, portanto, a generalizao da
propriedade privada, a implantao da economia de mer-
cado e a exarcebao dos conflitos entre os interesses par-
ticulares reclamam a garantia jurdica de uma liberdade
formal que circunscreva o espao do direito natural do in-
divduo sua autoconservao. O Direito natural moderno
adquire, assim, um inegvel alance revolucionrio ao in-
troduzir na conscincia poltica da nascente sociedade libe-
ral as premissas tericas que conduziro s solenes decla-
raes dos direitos do homem. 9s
A universalidade hipottica que est no fundamento
do Direito natural moderno tem a mesma estrutura epis-
temolgica e obedece s mesmas regras metodolgicas que
caracterizam as cincias modernas da Natureza, cujo pa-
radigma dado pela mecnica galileiano-newtoniana. Elas
se situam no nvel de inteligibilidade que Hegel denominou
nvel do Entendimento.
99
De fato, o Direito natural mo-
derno tem como alvo estabelecer um fundamento racional
e universal ao sistema de normas jurdicas, cuja formula-.
o acompanhava o desenvolvimento da sociedade do tra-
balho e da produo. A cincia experimental, por sua vez,
aparece historicamente como o tipo privilegiado e paradig-
97. ~ conhecida a crtica de Hegel a esse conceito de igualda-
de abstrata. Ver Grundlinien der Phil. des Rechts, 200 nota. So-
bre as conseqncias desta concepo para a definio moderna de
democracia ver infra Anexo 4.
98. Ver o estudo de J. Habermas, Naturrecht und Revolution,
ap. Theorie und Praxis, op. cit., pp_ 52-88 (aqui pp. 53-55).
99. Ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
183. E ainda, Wissenschaft der Logik I, Prefcio da 11;l edio (Wer-
ke, ed. Moldenhauer-Michel, 5, pp. 16-17).
165
a submeter-se necessidade extrnseca do pacto de associa-
o e ao constrangimento do pacto de submisso na vida
social e poltica. Dentro de semelhante esquema, a univer-
salidade hipottica - que tem exatamente por fim supras-
sumir a particularidade emprica do indivduo pela sua ele-
vao universalidade da vida social - dotada das ca-
ractersticas epistemolgicas de um modelo,
94
capaz de ex-
plicar a passagem do estado de natureza - situao origi-
nal do indivduo - ao estado de sociedade - situao atual,
que se supe derivada e mesmo, em algumas teorias, de-
gradada, do mesmo indivduo.
Desta sorte, a tarefa a que se proporo as teorias do
Direito natural moderno
95
ser a de assegurar ao indiv-
no, na sua passagem ao estado de sociedade, os direitos
que radicam no seu hipottico estado de natureza original.
Por conseguinte, o horizonte ontolgico no qual se inscre-
vem essas novas teorias do Direito natural no ser a na-
tureza (physis) como universalidade nomottica ou como
ordem universal que se manifesta aos homens dotada de
normatividade, mas sim o modelo hipottico de um estado
de natureza, modelo cuja validez verificada pela explicao
satisfatria do fato da existncia social do indivduo como
condio histrica da sua sobrevivncia, pela hiptese de um
estado original do qual a sociedade seria a um tempo a
negao e a continuao. esse o horizonte em face do
qual situam-se as concepes modernas do Direito natural
e as filosofias polticas de Hobbes a Fichte, no obstante a
diversidade reinante na descrio do estado de natureza
e na maneira de se explicar a passagem ao estado de so-
ciedade.
96
Por outro lado, parece evidente que semelhante
concepo do Direito natural implica, ao menos em princ-
pio, uma universalizao dos direitos do homem, cujo fun-
damento bem diverso da ensinada, sej.a no Estoicismo -
94. No no sentido paradigmtico cie Plato, mas no sentido
metodolgico da cincia fsico-matemtica.
95. Ver J. Sauter, Die philosophische Grundlagen des Natur-
rechts, Wien, J. Springer, 1932, pp. 113-220.. Para os problemas me-
todolgicos do Direito natural moderno ver W. Rd, Rationalistisches
Naturrecht und praktische Philosophie der Neuzeit, ap. Rehabilitie-
rung der praktischen Philosophie, op. cit., I, pp. 269-295.
96. A presena desse horizonte permite ordenar cientificamen-
te com exemplar rigor a teoria poltica de J.-J. Rousseau, como V.
Goldschmidt mostrou magistralmente, analisando o Discours sur l'in-
galit. Ver Anthropologie et Polttique: les principes du systeme de
Rousseau, Paris, Vrin, 1974.
164
onde a universalidade dos direitos funda-se na participao
de todos os homens ao logos universal -, seja no Cristia-
nismo - onde a igualdade dos homens funda-se na unici-
dade do Deus Criador, do qual todos so criatura e ima-
gem. A universalidade dos direitos que deriva do Direito
natural moderno fundada no postulado igualitarista, ou
seja, na igualdade dos indivduos enquanto unidades isola-
das, numericamente distintas, no estado de natureza. Den-
tro desta concepo, o estado de sociedade , primeiramen-
te, a soma destes indivduos vinculados extrinsecamente
pelo pacto social.
97
Por outro lado, essa forma de univer-
salizao dos direitos do homem est implicada na dinmi-
ca organizacional de uma sociedade na qual se universali-
zou o trabalho livre e na qual, portanto, a generalizao da
propriedade privada, a implantao da economia de mer-
cado e a exarcebao dos conflitos entre os interesses par-
ticulares reclamam a garantia jurdica de uma liberdade
formal que circunscreva o espao do direito natural do in-
divduo sua autoconservao. O Direito natural moderno
adquire, assim, um inegvel alance revolucionrio ao in-
troduzir na conscincia poltica da nascente sociedade libe-
ral as premissas tericas que conduziro s solenes decla-
raes dos direitos do homem. 9s
A universalidade hipottica que est no fundamento
do Direito natural moderno tem a mesma estrutura epis-
temolgica e obedece s mesmas regras metodolgicas que
caracterizam as cincias modernas da Natureza, cujo pa-
radigma dado pela mecnica galileiano-newtoniana. Elas
se situam no nvel de inteligibilidade que Hegel denominou
nvel do Entendimento.
99
De fato, o Direito natural mo-
derno tem como alvo estabelecer um fundamento racional
e universal ao sistema de normas jurdicas, cuja formula-.
o acompanhava o desenvolvimento da sociedade do tra-
balho e da produo. A cincia experimental, por sua vez,
aparece historicamente como o tipo privilegiado e paradig-
97. ~ conhecida a crtica de Hegel a esse conceito de igualda-
de abstrata. Ver Grundlinien der Phil. des Rechts, 200 nota. So-
bre as conseqncias desta concepo para a definio moderna de
democracia ver infra Anexo 4.
98. Ver o estudo de J. Habermas, Naturrecht und Revolution,
ap. Theorie und Praxis, op. cit., pp_ 52-88 (aqui pp. 53-55).
99. Ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
183. E ainda, Wissenschaft der Logik I, Prefcio da 11;l edio (Wer-
ke, ed. Moldenhauer-Michel, 5, pp. 16-17).
165
mtico de racionalidade aos olhos dessa sociedade, ao mes-
mo tempo que se oferece como o instrumento adequado
para a execuo do seu projeto fundamental de explorao
e utilizao da natureza.
Ora, sabido que a racionalidade predominante ao n-
vel do Entendimento a racionalidade analtica que recom-
pe o todo a partir das partes elementares e na qual o mo-
vimento pensado a partir da vis a tergo da causalidade
mecnica. Ao ser transposto para esse nvel de inteligibi-
lidade, o problema fundamental da sociedade poltica for-
mulado como um problema de cooptao de partes ele-
mentares - a partir do tomo social que o indivduo -
e de composio de foras - a partir da fora social ele-
mentar que o egosmo individual.
10
Compreende-se,
assim, que as doutrinas polticas fundadas sobre a concep-
o moderna do Direito natural tenham como pressuposto
uma antropologia individualista, na qual o homem repre-
sentado, nos traos constitutivos da sua essncia, como o
indivduo solitrio e carente em face da natureza, e a so-
ciedade surge como o remdio trazido sua solido e o
auxlio necessrio para a satisfao das suas necessidades.
O problema mais grave dessas sociedades, retratado dra-
maticamente na figura do Leviat de Hobbes, o problema
da dominao que a sociedade passa a exercer sobre o
indivduo e que procurar mil formas de legitimar-se nas
estruturas jurdicas e polticas.
101
na trilha desse proble-
ma que a evoluo do pensamento moderno no campo so-
cial e poltico ser marcada por dualismos e oposies
aparentemente irredutveis: entre o indivduo e a sociedade,
entre moralidade e legalidade, entre o privado e o pblico
e, finalmente, entre o Estado e a sociedade civil.
102
O even-
100. Ver E. Weil, Philosophie politique, op. cit., pp. 61-105.
101. Para Aristteles, a dominao na esfera do trabalho e da
necessidade a dominao desptica do senhor na sociedade do-
mstica (oikos). Ver a propsito do problema da dominao, M.
Riedel, Herrschaft und Gesellschatt: zum Legitimationsproblem des
Politischen in der Philosophie, ap. Rehabilitierung der praktischen
Philosophie, op. cit., 11, pp. 235-258.
102 . sabido que esses dualismos iro alimentar o escatologis-
mo religioso e a ideologia do progresso da Aufklrung, formando a
grande corrente do pensamento da recnciliao da qual Hegel ser
o esturio. Ver P. Cornehl, Die Zukunft der Vershnung: Eschato-
logie und Emanzipation in der Aufklrung, bei Hegel und in der He-
gelschen Schule, Gttingen, Vandehoeck und Ruprecht, 1971.
166
to histrico da proclamao dos direitos universais do ho-
mem aparece, assim, como exigncia efetiva de uma civi-
lizao que universaliza o trabalho e a propriedade, mas,
ao mesmo tempo, pe mostra uma ciso profunda entre
a igualdade formal e quantitativa (a soma dos direitos de
cada um constituindo o direito de todos) e as novas formas
de desigualdade social e poltica que se manifestam no pro-
cesso de estruturao e diferenciao internas da sociedade.
Levanta-se, assim, a interrogao qual tentam res-
ponder todas as teorias polticas modernas: se o direito tem
em vista a liberdade do indivduo tal como se constitui
na sua independncia, antes de se vincular a outro indiv-
duo pelo pacto social, como definir e preservar a esfera do
direito no momento em que a liberdade aliena algo de si
mesma na submisso a uma lei ou a um poder exteriores?
Ou ainda, como legitimar a dominao que tem origem no
fato do contrato social, uma vez que a liberdade individual,
fonte suposta de toda legitimao e de todo direito, jus-
tamente o que de algum modo se aliena ou se restringe
em virtude do contrato? A essas interrogaes Rousseau
tentar responder com a noo de volont gnrale, e a
elas Kant julgar poder oferecer uma satisfao radical ao
fazer do contrato social uma idia a priori da Razo pr-
tica. lo2a
Todas essas oposies e essas interrogaes iro desa-
guar na idia de sociedade civil na sua acepo tipicamente
moderna, cuja exata conceptualizao filosfica ser alcan-
ada como um dos resultados mais notveis da meditao
poltica de Hegel.
103
Com efeito, segundo mostraram estu-
dos recentes,
104
o conceito clssico de societas civilis acaba
por perder, pelos fins do sculo XVIII, sua antiga signifi-
cao de sociedade poltica (como comunidade dos palitai
ou dos cives) e passa a designar a nova realidade de um
102a. Ver S. Goyard Fabre, Kant et le probleme du droit, Pa-
ris, Vrin, 1975, pp. 181-254.
103. Assim o mostraram as pesquisas de M. Riedel. Ver sobre-
tudo Brgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel, Neuwied, Ber-
lim Luchterhand 1970 e Studien zur Heg_els Rechtsphilosophie, Frank-
furt a.M., 1969; ver a recenso da traduo italiana desta
ltima obra in Sntese, 6 (1976): 113-116.
104. Ver uma sntese desses estudos no art. de M. Riedel, cit.
supra na nota 82. Sobre sociedade poltica e sociedade civil de um
ponto de vista marxista ver L. Krader, Dialectic of Civil Society,
Assen-Amsterdam, Van Gorcum, 1976, pp. 47-120.
167
mtico de racionalidade aos olhos dessa sociedade, ao mes-
mo tempo que se oferece como o instrumento adequado
para a execuo do seu projeto fundamental de explorao
e utilizao da natureza.
Ora, sabido que a racionalidade predominante ao n-
vel do Entendimento a racionalidade analtica que recom-
pe o todo a partir das partes elementares e na qual o mo-
vimento pensado a partir da vis a tergo da causalidade
mecnica. Ao ser transposto para esse nvel de inteligibi-
lidade, o problema fundamental da sociedade poltica for-
mulado como um problema de cooptao de partes ele-
mentares - a partir do tomo social que o indivduo -
e de composio de foras - a partir da fora social ele-
mentar que o egosmo individual.
10
Compreende-se,
assim, que as doutrinas polticas fundadas sobre a concep-
o moderna do Direito natural tenham como pressuposto
uma antropologia individualista, na qual o homem repre-
sentado, nos traos constitutivos da sua essncia, como o
indivduo solitrio e carente em face da natureza, e a so-
ciedade surge como o remdio trazido sua solido e o
auxlio necessrio para a satisfao das suas necessidades.
O problema mais grave dessas sociedades, retratado dra-
maticamente na figura do Leviat de Hobbes, o problema
da dominao que a sociedade passa a exercer sobre o
indivduo e que procurar mil formas de legitimar-se nas
estruturas jurdicas e polticas.
101
na trilha desse proble-
ma que a evoluo do pensamento moderno no campo so-
cial e poltico ser marcada por dualismos e oposies
aparentemente irredutveis: entre o indivduo e a sociedade,
entre moralidade e legalidade, entre o privado e o pblico
e, finalmente, entre o Estado e a sociedade civil.
102
O even-
100. Ver E. Weil, Philosophie politique, op. cit., pp. 61-105.
101. Para Aristteles, a dominao na esfera do trabalho e da
necessidade a dominao desptica do senhor na sociedade do-
mstica (oikos). Ver a propsito do problema da dominao, M.
Riedel, Herrschaft und Gesellschatt: zum Legitimationsproblem des
Politischen in der Philosophie, ap. Rehabilitierung der praktischen
Philosophie, op. cit., 11, pp. 235-258.
102 . sabido que esses dualismos iro alimentar o escatologis-
mo religioso e a ideologia do progresso da Aufklrung, formando a
grande corrente do pensamento da recnciliao da qual Hegel ser
o esturio. Ver P. Cornehl, Die Zukunft der Vershnung: Eschato-
logie und Emanzipation in der Aufklrung, bei Hegel und in der He-
gelschen Schule, Gttingen, Vandehoeck und Ruprecht, 1971.
166
to histrico da proclamao dos direitos universais do ho-
mem aparece, assim, como exigncia efetiva de uma civi-
lizao que universaliza o trabalho e a propriedade, mas,
ao mesmo tempo, pe mostra uma ciso profunda entre
a igualdade formal e quantitativa (a soma dos direitos de
cada um constituindo o direito de todos) e as novas formas
de desigualdade social e poltica que se manifestam no pro-
cesso de estruturao e diferenciao internas da sociedade.
Levanta-se, assim, a interrogao qual tentam res-
ponder todas as teorias polticas modernas: se o direito tem
em vista a liberdade do indivduo tal como se constitui
na sua independncia, antes de se vincular a outro indiv-
duo pelo pacto social, como definir e preservar a esfera do
direito no momento em que a liberdade aliena algo de si
mesma na submisso a uma lei ou a um poder exteriores?
Ou ainda, como legitimar a dominao que tem origem no
fato do contrato social, uma vez que a liberdade individual,
fonte suposta de toda legitimao e de todo direito, jus-
tamente o que de algum modo se aliena ou se restringe
em virtude do contrato? A essas interrogaes Rousseau
tentar responder com a noo de volont gnrale, e a
elas Kant julgar poder oferecer uma satisfao radical ao
fazer do contrato social uma idia a priori da Razo pr-
tica. lo2a
Todas essas oposies e essas interrogaes iro desa-
guar na idia de sociedade civil na sua acepo tipicamente
moderna, cuja exata conceptualizao filosfica ser alcan-
ada como um dos resultados mais notveis da meditao
poltica de Hegel.
103
Com efeito, segundo mostraram estu-
dos recentes,
104
o conceito clssico de societas civilis acaba
por perder, pelos fins do sculo XVIII, sua antiga signifi-
cao de sociedade poltica (como comunidade dos palitai
ou dos cives) e passa a designar a nova realidade de um
102a. Ver S. Goyard Fabre, Kant et le probleme du droit, Pa-
ris, Vrin, 1975, pp. 181-254.
103. Assim o mostraram as pesquisas de M. Riedel. Ver sobre-
tudo Brgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel, Neuwied, Ber-
lim Luchterhand 1970 e Studien zur Heg_els Rechtsphilosophie, Frank-
furt a.M., 1969; ver a recenso da traduo italiana desta
ltima obra in Sntese, 6 (1976): 113-116.
104. Ver uma sntese desses estudos no art. de M. Riedel, cit.
supra na nota 82. Sobre sociedade poltica e sociedade civil de um
ponto de vista marxista ver L. Krader, Dialectic of Civil Society,
Assen-Amsterdam, Van Gorcum, 1976, pp. 47-120.
167
corpo social cujo tecido urdido pelas relaes de trabalho
e produo e pelo conflito dos interesses. O pressuposto
antropolgico que subjaz a esse tipo de socialidade expri-
me-se no conceito do indivduo ao qual o predicado da li-
berdade - como liberdade "natural" - atribudo antes
e independentemente do seu envolvimento na relaes so-
ciais, ou antes da abertura dessa liberdade estritamente indi-
vidual a um horizonte efetivo de universalidade. feio
profundamente individualista desse pressuposto antropol-
gico corresponde, pois, um conceito de liberdade que atri-
bui uma prioridade essencial liberdade de arbtrio (liber-
tas arbitrii) e segundo o qual o universal , na esfera da
liberdade, apenas um domnio formal de possibilidades. Ora,
justamente nesse domnio que se armam e se desdobram
os conflitos da sociedade civil. Hegel pode, pois, defini-la
como um todo cujo princpio ou elemento o indivduo
particular e cuja organizao resulta da interseco e da
composio do arbtrio dos indivduos com as suas neces-
sidades naturais.
105
Vale dizer que a sociedade civil, lugar
social de afirmao dos direitos dos indivduos, no ofe-
rece como fundamento a esses direitos seno a relao
de exterioridade que tem como termos de um lado a liber-
dade individual como liberdade de indiferena ou de arb-
trio e, de outro, a universalidade como dependncia onmo-
da dos indivduos na busca comum para a satisfao das
suas necessidades.
100
O advento da sociedade civil como
lugar histrico da realizao da liberdade e, portanto, da
vigncia da lei e do Direito, est na origem da ciso mo-
derna entre ethos e nmos que se exprime nas diversas for-
mas de positivismo jurdico, como tambm da separao
entre tica e Poltica que faz a poltica pesar sobre o ho-
mem moderno como um destino trgico, como forma dila-
cerante daquela "tragdia no tico" (Tragoedie im Sittli-
chen) de que fala Hegel. lor
105. Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 182. Do
ponto de vista da formao do sistema do mercado auto-regulvel
(sc. XIX), a emergncia da sociedade econmica estudada por
Karl Polanyi no seu livro justamente famoso The Great Transjor-
mation, Boston, Beacon Press, 1957 (tr. port., Rio de Janeiro, Ed.
Campus, 1980).
106. Ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
183-184 e Adendo ao 184.
107. Ver t!ber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Na-
turrechts. . . (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 2, pp. 495-498). Ver
168
A sociedade civil apoia-se, por conseguinte, sobre essa
fundamentao dos direitos do homem dotada do tipo de
universalidade que denominamos hipottica: os direitos se
fundam na hiptese de um modelo que permita conciliar
a liberdade de cada um com a liberdade de todos, de acor-
do com a finalidade do atendimento necessidade universal,
atendimento que deve ser racionalizado na forma de um
sistema das necessidades ou de um sistema econmico.
108
Esse modelo, portanto, no traduz uma ordem contempla-
da num paradigma ideal nem fundada na natureza (no sen-
tido aristotlico) das coisas e do homem. A ordem que o
sistema das necessidades procura traduzir em razo resul-
ta das tentativas histricas para se organizar a produo
como tarefa de toda a sociedade. A esse nvel de organi-
zao racional do corpo social Hegel denominou Estado do
Entendimento.
109
Como sabido, Hegel atribuiu ao Estado do Entendi-
mento ou sociedade civil a natureza de momento essencial
na estrutura da Filosofia do :Pireito, ou da Filosofia do
Esprito objetivo da Enciclopdia. Ele o momento me-
diador, ao nvel da vida tica concreta (Sittlichkeit), entre
a sociedade familiar e o Estado. A irrupo do sistema
das necessidades no domnio do ethos nele abrindo um no-
vo horizonte de universalidade (a universalidade do traba-
lho livre e do sistema da produo) aparece, assim, como
um evento histrico definitivo: ele rompe a homologia que,
no domnio da universalidade nomottica, se estabelecia
entre a physis e o nmos e que era o fundamento do Di-
reito natural antigo. A busca de um novo fundamento uni-
versal para o Direito passa a ser o desafio maior lanado
diante da reflexo tica e poltica da modernidade.
110
F. Chiereghin, Dialettica dell'assoluto e ontologia della soggetivit
in Hegel, Trento, Verifiche, 1980, pp. 83-86.
108. G. w. F. Hegel, Philosophie des Rechts, 189-207.
109. Philosophie des Rechts, 183.
110. Foi justamente meditando sob:L"e as condies modernas do
trabalho e da produo atravs do estudo dos economistas ingle-
ses que Hegel renunciou "bela" unidade tica da plis antiga, que
seduzira seus anos de juventude. A partir dos anos do professo-
rado em Iena (1801-1806), a noo de "sociedade civil" comeou a
adquirir importncia a seus olhos e levantou-se o problema da sua
integrao na totalidade tica do Estado. Ver, a respeito, R. Horst
mann, "Uber die Rolle der brgerlichen Gesellschaft in Hegels po-
litischer Plhilosophie" in Hegel Studien, 9 (1974): 209-240.
169
corpo social cujo tecido urdido pelas relaes de trabalho
e produo e pelo conflito dos interesses. O pressuposto
antropolgico que subjaz a esse tipo de socialidade expri-
me-se no conceito do indivduo ao qual o predicado da li-
berdade - como liberdade "natural" - atribudo antes
e independentemente do seu envolvimento na relaes so-
ciais, ou antes da abertura dessa liberdade estritamente indi-
vidual a um horizonte efetivo de universalidade. feio
profundamente individualista desse pressuposto antropol-
gico corresponde, pois, um conceito de liberdade que atri-
bui uma prioridade essencial liberdade de arbtrio (liber-
tas arbitrii) e segundo o qual o universal , na esfera da
liberdade, apenas um domnio formal de possibilidades. Ora,
justamente nesse domnio que se armam e se desdobram
os conflitos da sociedade civil. Hegel pode, pois, defini-la
como um todo cujo princpio ou elemento o indivduo
particular e cuja organizao resulta da interseco e da
composio do arbtrio dos indivduos com as suas neces-
sidades naturais.
105
Vale dizer que a sociedade civil, lugar
social de afirmao dos direitos dos indivduos, no ofe-
rece como fundamento a esses direitos seno a relao
de exterioridade que tem como termos de um lado a liber-
dade individual como liberdade de indiferena ou de arb-
trio e, de outro, a universalidade como dependncia onmo-
da dos indivduos na busca comum para a satisfao das
suas necessidades.
100
O advento da sociedade civil como
lugar histrico da realizao da liberdade e, portanto, da
vigncia da lei e do Direito, est na origem da ciso mo-
derna entre ethos e nmos que se exprime nas diversas for-
mas de positivismo jurdico, como tambm da separao
entre tica e Poltica que faz a poltica pesar sobre o ho-
mem moderno como um destino trgico, como forma dila-
cerante daquela "tragdia no tico" (Tragoedie im Sittli-
chen) de que fala Hegel. lor
105. Ver Grundlinien der Philosophie des Rechts, 182. Do
ponto de vista da formao do sistema do mercado auto-regulvel
(sc. XIX), a emergncia da sociedade econmica estudada por
Karl Polanyi no seu livro justamente famoso The Great Transjor-
mation, Boston, Beacon Press, 1957 (tr. port., Rio de Janeiro, Ed.
Campus, 1980).
106. Ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
183-184 e Adendo ao 184.
107. Ver t!ber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Na-
turrechts. . . (Werke, ed. Moldenhauer-Michel, 2, pp. 495-498). Ver
168
A sociedade civil apoia-se, por conseguinte, sobre essa
fundamentao dos direitos do homem dotada do tipo de
universalidade que denominamos hipottica: os direitos se
fundam na hiptese de um modelo que permita conciliar
a liberdade de cada um com a liberdade de todos, de acor-
do com a finalidade do atendimento necessidade universal,
atendimento que deve ser racionalizado na forma de um
sistema das necessidades ou de um sistema econmico.
108
Esse modelo, portanto, no traduz uma ordem contempla-
da num paradigma ideal nem fundada na natureza (no sen-
tido aristotlico) das coisas e do homem. A ordem que o
sistema das necessidades procura traduzir em razo resul-
ta das tentativas histricas para se organizar a produo
como tarefa de toda a sociedade. A esse nvel de organi-
zao racional do corpo social Hegel denominou Estado do
Entendimento.
109
Como sabido, Hegel atribuiu ao Estado do Entendi-
mento ou sociedade civil a natureza de momento essencial
na estrutura da Filosofia do :Pireito, ou da Filosofia do
Esprito objetivo da Enciclopdia. Ele o momento me-
diador, ao nvel da vida tica concreta (Sittlichkeit), entre
a sociedade familiar e o Estado. A irrupo do sistema
das necessidades no domnio do ethos nele abrindo um no-
vo horizonte de universalidade (a universalidade do traba-
lho livre e do sistema da produo) aparece, assim, como
um evento histrico definitivo: ele rompe a homologia que,
no domnio da universalidade nomottica, se estabelecia
entre a physis e o nmos e que era o fundamento do Di-
reito natural antigo. A busca de um novo fundamento uni-
versal para o Direito passa a ser o desafio maior lanado
diante da reflexo tica e poltica da modernidade.
110
F. Chiereghin, Dialettica dell'assoluto e ontologia della soggetivit
in Hegel, Trento, Verifiche, 1980, pp. 83-86.
108. G. w. F. Hegel, Philosophie des Rechts, 189-207.
109. Philosophie des Rechts, 183.
110. Foi justamente meditando sob:L"e as condies modernas do
trabalho e da produo atravs do estudo dos economistas ingle-
ses que Hegel renunciou "bela" unidade tica da plis antiga, que
seduzira seus anos de juventude. A partir dos anos do professo-
rado em Iena (1801-1806), a noo de "sociedade civil" comeou a
adquirir importncia a seus olhos e levantou-se o problema da sua
integrao na totalidade tica do Estado. Ver, a respeito, R. Horst
mann, "Uber die Rolle der brgerlichen Gesellschaft in Hegels po-
litischer Plhilosophie" in Hegel Studien, 9 (1974): 209-240.
169
Com efeito, a universalidade do Direito dever levar
em conta, doravante, o momento da singularidade do indi-
vduo pensada como momento da conscincia-de-si singular
ou como momento da "personalidade independente, infini-
ta em-si" que, de acordo com a leitura hegeliana da hist-
ria espiritual do Ocidente,
111
resulta do Cristianismo, do
Direito Romano e da filosofia moderna. Ela leva a seu
termo, tanto do ponto de vista dialtico quanto do ponto
de vista histrico, o ciclo da totalidade substancial do anti-
go mundo tico que encontrara uma transposio racional
na universalidade nomottica. Na estrutura da Filosofia do
Direito ou da Filosofia do Esprito objetivo, a singularida-
de do indivduo tico aparece na figura da moralidade kan-
tiana como momento mediador entre o Direito abstrato
(relao do homem com o mundo no trabalho e na pro-
priedade) e a Eticidade concreta que se desdobra, por sua
vez, nos momentos dialeticamente articulados da famlia,
da sociedade civil e do Estado. Ora, justamente em vir-
tude do momento mediador da moralidade, cuja transposi-
o na vida tica concreta o indivduo na sociedade civil,
que Hegel encontra um fundamento dos direitos universais
do homem "enquanto homem, no enquanto judeu, catlico,
protestante, alemo, italiano etc ... ", no somente na uni-
versalidade quantitativa pressuposta ao contrato social, mas
no processo histrico-cultural do qual emerge o pensamento
da conscincia singular suprassumida na forma da univer-
salidade do Eu como pessoa universal.
112
Essa forma de
universalidade torna-se historicamente efetiva com o adven-
to do indivduo na sociedade moderna do trabalho e da
produo e preside definio dos direitos na constituio
dos modernos Estados liberais. Como tal ela dialetica-
mente integrada na estrutura do sistema do Direito como
realizao da liberdade segundo a concepo hegeliana.
113
Se verdade, no entanto, que a expresso filosfica
do conceito de universalidade ao qual se eleva a pessoa
singular corresponde s exigncias de universalizao efe-
tiva dos direitos que a sociedade civil traz inscritas nas pr-
prias condies da sua apario histrica, no menos
111. Grundlinien der Phil. des Rechts, 185 nota.
112. Phil. des Rechts, 209 nota.
113. Ver a exegese magistral de D. Rosenfield dos pargrafos
sobre a sociedade civil em Poltica e Liberdade em Hegel, So Pau-
lo, Brasiliense, 1983, pp. 157-210.
170
verdade, como mostra o desenvolvimento da reflexo he-
geliana, ''
1
que a natureza da relao indivduo-sociedade
que assumida como pressuposto do modelo de universa-
lidade hipottica oferece um suporte terico inadequado
para sobre ele se edificar o edifcio conceptual que abrigue
juntamente a tica e o Direito ou no qual se integrem a
universalidade subjetiva da pessoa - a liberdade - e a
universalidade objetiva do Direito - a lei. Essa articulao
entre liberdade e lei s pode ser pensada, a partir de um
tal pressuposto, na ordem da causa eficiente ou em termos
do exerccio efetivo do poder e do pacto de submisso que
lhe corresponde. Por outro lado, o carter no-finalstico
da cadeia de universal interdependncia com que os indi-
vduos se ligam uns aos outros num sistema das necessida-
des, cuja racionalidade preside sociedade civil,
115
faz com
que os mecanismos da administrao da justia que se
estabelecem nesse nvel da estrutura social procedam se-
gundo uma relao de exterioridade ou de coatividade entre
a lei e o indivduo.
116
A intensa meditao da idia aristo-
tlica de totalidade tica
117
procede, em Hegel, da viva cons-
cincia desse problema. Ela o leva a tentar restaurar o ho-
rizonte da antiga universalidade nomottica substituindo
a ordem eterna da physis pela idia do Estado como "uni-
dade substancial e fim em si mesmo absoluto e imvel,
no qual a liberdade alcana o seu supremo direito".
118
A teoria hegeliana do Estado representa, do ponto de
vista aqui considerado, o intento mais vasto e mais ambi-
cioso para recuperar a unidade ontolgica da tica e da
Poltica, deslocando da natureza para a histria (ou para
o terreno do Esprito objetivo, segundo a terminologa de
Hegel) o seu fundamento conceptual. A intensa polmica
que acompanha, desde a sua publicao, a Filosofia do Di-
reito de Hegel''
9
fere-se, sobretudo, em torno da sua con-
114. Ver o artigo de R. Horstmann cit. na nota 110 supra e H.
C. de Lima Vaz, "Sociedade civil e Estado em Hegel" in Sntese, 19
(1980) : 21-29 e a bibl. a indicada.
115. Grundlinien der Phil. des Rechts, 187.
116. Grundl. der Phil. des Rechts, 209-229.
117. Ver o importante estudo de K.-H. Ilting, "Hegels Ausei-
nandersetzung mit der aristotelischen Politiki" in Philosophisches
Jahrbuch, 71 (1963): 38-58.
118. Grundl. der Philosophie des Rechts, 258.
119. Ver Henning Ottmann, Individuum und Gemeinschaft bei
Hegel: Bd. I Hegel im Spiegel der Interpretationen, Berlim, W. de
Gruyter, 1977 e a nota bibliogrfica in Sntese 22 (1981): 113-122.
171
Com efeito, a universalidade do Direito dever levar
em conta, doravante, o momento da singularidade do indi-
vduo pensada como momento da conscincia-de-si singular
ou como momento da "personalidade independente, infini-
ta em-si" que, de acordo com a leitura hegeliana da hist-
ria espiritual do Ocidente,
111
resulta do Cristianismo, do
Direito Romano e da filosofia moderna. Ela leva a seu
termo, tanto do ponto de vista dialtico quanto do ponto
de vista histrico, o ciclo da totalidade substancial do anti-
go mundo tico que encontrara uma transposio racional
na universalidade nomottica. Na estrutura da Filosofia do
Direito ou da Filosofia do Esprito objetivo, a singularida-
de do indivduo tico aparece na figura da moralidade kan-
tiana como momento mediador entre o Direito abstrato
(relao do homem com o mundo no trabalho e na pro-
priedade) e a Eticidade concreta que se desdobra, por sua
vez, nos momentos dialeticamente articulados da famlia,
da sociedade civil e do Estado. Ora, justamente em vir-
tude do momento mediador da moralidade, cuja transposi-
o na vida tica concreta o indivduo na sociedade civil,
que Hegel encontra um fundamento dos direitos universais
do homem "enquanto homem, no enquanto judeu, catlico,
protestante, alemo, italiano etc ... ", no somente na uni-
versalidade quantitativa pressuposta ao contrato social, mas
no processo histrico-cultural do qual emerge o pensamento
da conscincia singular suprassumida na forma da univer-
salidade do Eu como pessoa universal.
112
Essa forma de
universalidade torna-se historicamente efetiva com o adven-
to do indivduo na sociedade moderna do trabalho e da
produo e preside definio dos direitos na constituio
dos modernos Estados liberais. Como tal ela dialetica-
mente integrada na estrutura do sistema do Direito como
realizao da liberdade segundo a concepo hegeliana.
113
Se verdade, no entanto, que a expresso filosfica
do conceito de universalidade ao qual se eleva a pessoa
singular corresponde s exigncias de universalizao efe-
tiva dos direitos que a sociedade civil traz inscritas nas pr-
prias condies da sua apario histrica, no menos
111. Grundlinien der Phil. des Rechts, 185 nota.
112. Phil. des Rechts, 209 nota.
113. Ver a exegese magistral de D. Rosenfield dos pargrafos
sobre a sociedade civil em Poltica e Liberdade em Hegel, So Pau-
lo, Brasiliense, 1983, pp. 157-210.
170
verdade, como mostra o desenvolvimento da reflexo he-
geliana, ''
1
que a natureza da relao indivduo-sociedade
que assumida como pressuposto do modelo de universa-
lidade hipottica oferece um suporte terico inadequado
para sobre ele se edificar o edifcio conceptual que abrigue
juntamente a tica e o Direito ou no qual se integrem a
universalidade subjetiva da pessoa - a liberdade - e a
universalidade objetiva do Direito - a lei. Essa articulao
entre liberdade e lei s pode ser pensada, a partir de um
tal pressuposto, na ordem da causa eficiente ou em termos
do exerccio efetivo do poder e do pacto de submisso que
lhe corresponde. Por outro lado, o carter no-finalstico
da cadeia de universal interdependncia com que os indi-
vduos se ligam uns aos outros num sistema das necessida-
des, cuja racionalidade preside sociedade civil,
115
faz com
que os mecanismos da administrao da justia que se
estabelecem nesse nvel da estrutura social procedam se-
gundo uma relao de exterioridade ou de coatividade entre
a lei e o indivduo.
116
A intensa meditao da idia aristo-
tlica de totalidade tica
117
procede, em Hegel, da viva cons-
cincia desse problema. Ela o leva a tentar restaurar o ho-
rizonte da antiga universalidade nomottica substituindo
a ordem eterna da physis pela idia do Estado como "uni-
dade substancial e fim em si mesmo absoluto e imvel,
no qual a liberdade alcana o seu supremo direito".
118
A teoria hegeliana do Estado representa, do ponto de
vista aqui considerado, o intento mais vasto e mais ambi-
cioso para recuperar a unidade ontolgica da tica e da
Poltica, deslocando da natureza para a histria (ou para
o terreno do Esprito objetivo, segundo a terminologa de
Hegel) o seu fundamento conceptual. A intensa polmica
que acompanha, desde a sua publicao, a Filosofia do Di-
reito de Hegel''
9
fere-se, sobretudo, em torno da sua con-
114. Ver o artigo de R. Horstmann cit. na nota 110 supra e H.
C. de Lima Vaz, "Sociedade civil e Estado em Hegel" in Sntese, 19
(1980) : 21-29 e a bibl. a indicada.
115. Grundlinien der Phil. des Rechts, 187.
116. Grundl. der Phil. des Rechts, 209-229.
117. Ver o importante estudo de K.-H. Ilting, "Hegels Ausei-
nandersetzung mit der aristotelischen Politiki" in Philosophisches
Jahrbuch, 71 (1963): 38-58.
118. Grundl. der Philosophie des Rechts, 258.
119. Ver Henning Ottmann, Individuum und Gemeinschaft bei
Hegel: Bd. I Hegel im Spiegel der Interpretationen, Berlim, W. de
Gruyter, 1977 e a nota bibliogrfica in Sntese 22 (1981): 113-122.
171
cepo do Estado e atesta, a um tempo, que o
a levantado diz respeito prpria essncia do proJeto po-
ltico da modernidade e que a soluo hegeliana permanece
exposta a graves objees. Mas vem a propsito observar
que a mais clebre dentre as que efetivamente se formu-
laram acaba por recair no plano da ciso entre tica e
Poltica que Hegel justamente tentara superar. Refiro-me
leitura crtica (inacabada) que Marx faz aos pargrafos
sobre o Estado da Filosofia do Direito.
120
O cerne desta
crtica consiste em denunciar no Estado hegeliano a hipos-
tasiao idealista de uma abstrao, o Estado, que passa
a ser o sujeito lgico das proposies que tem como pre-
dicado idealizado a realidade concreta da sociedade civil e
das suas contradies efetivas.
121
Este no lugar para
uma discusso a fundo desta crtica de Marx.
122
Mas no
se pode deixar de refletir sobre o fato de que; ao recusar
a idia de uma totalidade tica que enfeixe a dialtica entre
ethos e nmos ou entre tica e Direito na sociedade his-
toricamente existente, denunciando-a como sublimao idea-
lista e como mscara ideolgica de contradies no-resol-
vidas da sociedade civil, Marx, ao mesmo tempo em que
projeta essa sntese no futuro utpico de uma sociedade
sem Estado, leva a cabo uma dissociao radical do poltico
e do tico na sociedade presente. Cingindo-se esfera das
contradies da sociedade civil, o poltico fica reduzido a
uma tcnica revolucionria de transformao da sociedade
existente, obediente ao "mau infinito" de uma dialtica do
desejo utpico. De fato, o que teve lugar nos regimes mar-
xistas do chamado "socialismo real" foi um espetacular
retour du rejoul, com a formao de um gigantesco apa-
relho do Estado que no conhece outra tica seno a sua
tcnica de poder, e diante do qual o discurso sobre os di-
reitos humanos s encontra refgio na contestao solit-
ria e obstinada de alguns intelectuais.
120. Ver Kritik des Hegels Staatsrechts, comentri?. aos . 261-
313 da Filosofia do Direito. Texto em K. Marx, Fruhe Schnften
(Werke I, ed. Lieber-Furth), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1962, pp. 238-426.
121. Ver Phil. des Rechts, 262 e Marx, ibidem (Werke, I, pp.
264-265): "Neste pargrafo est todo o mistrio da Filosofia do Diret-
to e da filosofia hegeliana em geral". Ver supra, cap. 11, nota 155.
122. Ver uma minuciosa anlise e uma apologia no-ortodoxa da
crtica marxiana teoria do Estado de Hegel em M. Henry, Marx 1:
Une philosophie de la ralit, Paris, Gallimard, 1976, pp. 35-83.
172
4. CONCLUSAO
Ao estudarmos as relaes entre tica e Direito, per-
corremos um longo itinerrio desde as origens gregas da
formao de uma cincia do ethos e a busca da sua fun-
damentao conceptual nas idias de physis e nmos. A uni-
dade da tica e do Direito funda-se justamente no carter
normativo da physis e ela se exprime nessa lei universal
do ser e do vir-a-ser enunciada no fragmento n. 1 de Ana-
ximandro,
123
que pode ser considerado a pgina inaugural
do pensamento fsico e tico-poltico do Ocidente. Esse iti-
nerrio vem desembocar na filosofia hegeliana do Esprito
objetivo ou Filosofia do Direito, ltima e ambiciosa snte-
se na qual se tentou unir "Direito Natural e Cincia do
Estado",
124
ou se articular dialeticamente tica e Direito.
O pensamento poltico de Hegel alcana assim, como mos-
trou entre outros B. Bourgeois, m uma altitude da qual
possvel ainda dominar a longa rota das teorias do passa-
do. Mas, a partir da, foroso _confess-lo, o caminho para
a frente desce e se perde rapidamente na confusa plancie
onde o pensamento tico-poltico ps-hegeliano erra em ve-
redas sem nmero e parece incapaz de fixar um horizonte
comum para onde seus passos possam convergir.
O fio condutor do nosso itinerrio foi o que denomina-
mos o motivo antropolgico, ou seja, a idia do homem
que esteve implicitamente presente na organizao da cida-
de antiga ou na edificao do Estado moderno, e recebeu
uma expresso terica nesses vinte e seis sculos de his-
tria do pensamento tico e poltico do Ocidente. Ora, se
examinarmos a situao atual, haveremos de convir que
ela nos apresenta um profundo paradoxo. De um lado, ve-
mos que o tema da definio e da garantia dos chamados
"direitos humanos" tornou-se um tema de alta relevncia
poltica nas Declaraes solenes, no Direito constitucional
e no dilogo entre as naes.
126
De outro, a crise das con-
cepes do homem na trilha do espao de questionamento
123. Ver supra, cap. 11, nota 31.
124. Esse , com efeito, o duplo titulo das lies de Filosofia
do Direito na edio publicada por Hegel em 1820.
125. Bemard Bourgeois, La pense polttique de Hegel, Paris,
PUF, 1969, pp. 15-26 e c. 1, pp. 26-81. .
128. Ver a obra de Jos Soder, Os Direitos do Homem, So
Paulo, CEN 1960.
173
cepo do Estado e atesta, a um tempo, que o
a levantado diz respeito prpria essncia do proJeto po-
ltico da modernidade e que a soluo hegeliana permanece
exposta a graves objees. Mas vem a propsito observar
que a mais clebre dentre as que efetivamente se formu-
laram acaba por recair no plano da ciso entre tica e
Poltica que Hegel justamente tentara superar. Refiro-me
leitura crtica (inacabada) que Marx faz aos pargrafos
sobre o Estado da Filosofia do Direito.
120
O cerne desta
crtica consiste em denunciar no Estado hegeliano a hipos-
tasiao idealista de uma abstrao, o Estado, que passa
a ser o sujeito lgico das proposies que tem como pre-
dicado idealizado a realidade concreta da sociedade civil e
das suas contradies efetivas.
121
Este no lugar para
uma discusso a fundo desta crtica de Marx.
122
Mas no
se pode deixar de refletir sobre o fato de que; ao recusar
a idia de uma totalidade tica que enfeixe a dialtica entre
ethos e nmos ou entre tica e Direito na sociedade his-
toricamente existente, denunciando-a como sublimao idea-
lista e como mscara ideolgica de contradies no-resol-
vidas da sociedade civil, Marx, ao mesmo tempo em que
projeta essa sntese no futuro utpico de uma sociedade
sem Estado, leva a cabo uma dissociao radical do poltico
e do tico na sociedade presente. Cingindo-se esfera das
contradies da sociedade civil, o poltico fica reduzido a
uma tcnica revolucionria de transformao da sociedade
existente, obediente ao "mau infinito" de uma dialtica do
desejo utpico. De fato, o que teve lugar nos regimes mar-
xistas do chamado "socialismo real" foi um espetacular
retour du rejoul, com a formao de um gigantesco apa-
relho do Estado que no conhece outra tica seno a sua
tcnica de poder, e diante do qual o discurso sobre os di-
reitos humanos s encontra refgio na contestao solit-
ria e obstinada de alguns intelectuais.
120. Ver Kritik des Hegels Staatsrechts, comentri?. aos . 261-
313 da Filosofia do Direito. Texto em K. Marx, Fruhe Schnften
(Werke I, ed. Lieber-Furth), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, 1962, pp. 238-426.
121. Ver Phil. des Rechts, 262 e Marx, ibidem (Werke, I, pp.
264-265): "Neste pargrafo est todo o mistrio da Filosofia do Diret-
to e da filosofia hegeliana em geral". Ver supra, cap. 11, nota 155.
122. Ver uma minuciosa anlise e uma apologia no-ortodoxa da
crtica marxiana teoria do Estado de Hegel em M. Henry, Marx 1:
Une philosophie de la ralit, Paris, Gallimard, 1976, pp. 35-83.
172
4. CONCLUSAO
Ao estudarmos as relaes entre tica e Direito, per-
corremos um longo itinerrio desde as origens gregas da
formao de uma cincia do ethos e a busca da sua fun-
damentao conceptual nas idias de physis e nmos. A uni-
dade da tica e do Direito funda-se justamente no carter
normativo da physis e ela se exprime nessa lei universal
do ser e do vir-a-ser enunciada no fragmento n. 1 de Ana-
ximandro,
123
que pode ser considerado a pgina inaugural
do pensamento fsico e tico-poltico do Ocidente. Esse iti-
nerrio vem desembocar na filosofia hegeliana do Esprito
objetivo ou Filosofia do Direito, ltima e ambiciosa snte-
se na qual se tentou unir "Direito Natural e Cincia do
Estado",
124
ou se articular dialeticamente tica e Direito.
O pensamento poltico de Hegel alcana assim, como mos-
trou entre outros B. Bourgeois, m uma altitude da qual
possvel ainda dominar a longa rota das teorias do passa-
do. Mas, a partir da, foroso _confess-lo, o caminho para
a frente desce e se perde rapidamente na confusa plancie
onde o pensamento tico-poltico ps-hegeliano erra em ve-
redas sem nmero e parece incapaz de fixar um horizonte
comum para onde seus passos possam convergir.
O fio condutor do nosso itinerrio foi o que denomina-
mos o motivo antropolgico, ou seja, a idia do homem
que esteve implicitamente presente na organizao da cida-
de antiga ou na edificao do Estado moderno, e recebeu
uma expresso terica nesses vinte e seis sculos de his-
tria do pensamento tico e poltico do Ocidente. Ora, se
examinarmos a situao atual, haveremos de convir que
ela nos apresenta um profundo paradoxo. De um lado, ve-
mos que o tema da definio e da garantia dos chamados
"direitos humanos" tornou-se um tema de alta relevncia
poltica nas Declaraes solenes, no Direito constitucional
e no dilogo entre as naes.
126
De outro, a crise das con-
cepes do homem na trilha do espao de questionamento
123. Ver supra, cap. 11, nota 31.
124. Esse , com efeito, o duplo titulo das lies de Filosofia
do Direito na edio publicada por Hegel em 1820.
125. Bemard Bourgeois, La pense polttique de Hegel, Paris,
PUF, 1969, pp. 15-26 e c. 1, pp. 26-81. .
128. Ver a obra de Jos Soder, Os Direitos do Homem, So
Paulo, CEN 1960.
173
aberto pelo advento das Clencias humanas e pelo predom-
nio da ideologia individualista torna difcil para nossa so-
ciedade, altamente politizada no sentido organizacional e
tcnico (sem falar no ideolgico), o reconhecer-se num mo-
tivo antropolgico fundamental ou o referir-se a uma ima-
gem coerente do homem.
127
Ora, essa fragmentao da
imagem do homem na pluralidade dos universos culturais
nos quais ele se socializa e se politiza efetivamente - o
universo da famlia, do trabalho, do bem-estar, da realiza-
o profissional, da poltica, da fruio cultural e do lazer
- torna problemtica e difcil a adequao das convices
do indivduo e da sua liberdade a idias e valores univer-
salmente reconhecidos e legitimados num sistema de nor-
mas e fins aceito pela sociedade. Reside a a raiz prov-
vel do paradoxo de uma sociedade obsessivamente preo-
cupada em definir e proclamar uma lista crescente de di-
reitos humanos, e impotente para fazer descer do plano
de um formalismo abstrato e inoperante esses direitos e
lev-los a uma efetivao concreta nas instituies e nas
prticas sociais. Na verdade, entre a universalidade do
Direito e as liberdades singulares a relao permanece abs-
trata e, no espao dessa abstrao, desencadeiam-se formas
muito reais de violncia que acabam por consumar a ciso
entre E:tica e Direito no mundo contemporneo: aquela de-
gradada em moral do interesse e do prazer, esse exilado
na abstrao da lei ou confiscado pela violncia ideolgica.
Se considerarmos ainda uma vez o roteiro do itiner-
rio que acabamos de percorrer e a convergncia das suas
linhas para os temas fundamentais da filosofia hegeliana
do Direito, talvez possamos descobrir uma das razes da
atual crise das sociedades polticas do Ocidente - razo
terica, mas no menos real - na insuficincia conceptual
com que nelas comumente pensada a relao entre tica
e Direito. Com efeito, o fundamento dessa relao bus-
cado naquela que denominamos universalidade hipottica,
ou seja, na hiptese de um modelo de sociedade no qual
as relaes do indivduo com o todo social sejam deduzi-
das analiticamente a partir do pacto de associao. Como
o pacto de associao ou o contrato social formulado co-
127. Entre as tentativas recentes para situar a crise do huma-
nismo e definir as perspectivas de uma concepo unitria do ho-
mem, ver P. J. Labarriere, Dimensions pour l'homme: essai sur l'ex-
prience du sens, Paris, Descle, 1975.
174
mo garantia dos interesses e das necessidades do indivduo,
o Direito passa a ser conceptualizado fundamentalmente
como conveno garantidora desses interesses e da satis-
fao dessas necessidades. O Direito assim entendido recai
na idia sofstica de nmos e reabre o caminho para o re-
nascimento da oposio physis-nmos ou seja, em termos
modernos, para o reaparecimento do estado de natureza em
pleno corao da vida social, com o conflito dos interesses
na sociedade civil precariamente conjurado pelo convencio-
nalismo jurdico. A relao entre o indivduo e a univer-
salidade da lei estabelecida segundo aquela que Hegel
denominou a lgica do Entendimento. Essa 'lgica procede
segundo as exigncias de uma racionalidade analtica que
isola os indivduos como tomos sociais para reintegr-los
num sistema que se prope compatibilizar o movimento
centrpeto da busca da satisfao ou do egosmo que move
as partculas sociais elementares, e os fins comuns do todo
social. Encerrada nos cnones de semelhante lgica, a re-
lao da sociedade- e, particularmente, do Estado- com
os indivduos ser uma relao tcnica, da qual fica exclu-
da, em princpio, qualquer dimenso tica; e a relao dos
indivduos com a sociedade e o Estado ser, por sua vez,
a relao da parte que se submete ou que resiste sua
integrao num todo considerado estranho e freqentemen-
te hostil. Relao quantitativa da parte e do todo, da qual
a qualidade tica permanece tambm, em princpio, au-
sente.
No obstante a inspirao humanista que anima os
grandes tericos modernos do Direito e da Poltica, a uni-
versalidade hipottica assumida sem discusso como fun-
damento conceptual da idia de sociedade acaba por cons-
tituir-se no prton pseudos do seu pensamento, cujas con-
seqncias se fazem visveis a cada passo da construo
do sistema poltico-jurdico.
128
Uma reflexo atenta mostra
que essas conseqncias alimentam, por sua vez, a perma-
128. A persistncia desse esquema contratualista torna discut-
veis os fundamentos da teoria da justia de John Rawls, no obs-
tante o enorme esforo ali dispendido para se restaurar essa noo
central do pensamento tico-poltico e jurdico. Ver a crtica de M.
Villey in Archives de Philosophie du Droit, 21 (1976): 271-272 e O.
Hffe Ethik und Politik: Grundmodelle und Probleme der prakti-
schen' Philosophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979, pp. 160-226. O
livro de Rawls aqui considerado A Theory ot Justice, Cambridge,
Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
175
aberto pelo advento das Clencias humanas e pelo predom-
nio da ideologia individualista torna difcil para nossa so-
ciedade, altamente politizada no sentido organizacional e
tcnico (sem falar no ideolgico), o reconhecer-se num mo-
tivo antropolgico fundamental ou o referir-se a uma ima-
gem coerente do homem.
127
Ora, essa fragmentao da
imagem do homem na pluralidade dos universos culturais
nos quais ele se socializa e se politiza efetivamente - o
universo da famlia, do trabalho, do bem-estar, da realiza-
o profissional, da poltica, da fruio cultural e do lazer
- torna problemtica e difcil a adequao das convices
do indivduo e da sua liberdade a idias e valores univer-
salmente reconhecidos e legitimados num sistema de nor-
mas e fins aceito pela sociedade. Reside a a raiz prov-
vel do paradoxo de uma sociedade obsessivamente preo-
cupada em definir e proclamar uma lista crescente de di-
reitos humanos, e impotente para fazer descer do plano
de um formalismo abstrato e inoperante esses direitos e
lev-los a uma efetivao concreta nas instituies e nas
prticas sociais. Na verdade, entre a universalidade do
Direito e as liberdades singulares a relao permanece abs-
trata e, no espao dessa abstrao, desencadeiam-se formas
muito reais de violncia que acabam por consumar a ciso
entre E:tica e Direito no mundo contemporneo: aquela de-
gradada em moral do interesse e do prazer, esse exilado
na abstrao da lei ou confiscado pela violncia ideolgica.
Se considerarmos ainda uma vez o roteiro do itiner-
rio que acabamos de percorrer e a convergncia das suas
linhas para os temas fundamentais da filosofia hegeliana
do Direito, talvez possamos descobrir uma das razes da
atual crise das sociedades polticas do Ocidente - razo
terica, mas no menos real - na insuficincia conceptual
com que nelas comumente pensada a relao entre tica
e Direito. Com efeito, o fundamento dessa relao bus-
cado naquela que denominamos universalidade hipottica,
ou seja, na hiptese de um modelo de sociedade no qual
as relaes do indivduo com o todo social sejam deduzi-
das analiticamente a partir do pacto de associao. Como
o pacto de associao ou o contrato social formulado co-
127. Entre as tentativas recentes para situar a crise do huma-
nismo e definir as perspectivas de uma concepo unitria do ho-
mem, ver P. J. Labarriere, Dimensions pour l'homme: essai sur l'ex-
prience du sens, Paris, Descle, 1975.
174
mo garantia dos interesses e das necessidades do indivduo,
o Direito passa a ser conceptualizado fundamentalmente
como conveno garantidora desses interesses e da satis-
fao dessas necessidades. O Direito assim entendido recai
na idia sofstica de nmos e reabre o caminho para o re-
nascimento da oposio physis-nmos ou seja, em termos
modernos, para o reaparecimento do estado de natureza em
pleno corao da vida social, com o conflito dos interesses
na sociedade civil precariamente conjurado pelo convencio-
nalismo jurdico. A relao entre o indivduo e a univer-
salidade da lei estabelecida segundo aquela que Hegel
denominou a lgica do Entendimento. Essa 'lgica procede
segundo as exigncias de uma racionalidade analtica que
isola os indivduos como tomos sociais para reintegr-los
num sistema que se prope compatibilizar o movimento
centrpeto da busca da satisfao ou do egosmo que move
as partculas sociais elementares, e os fins comuns do todo
social. Encerrada nos cnones de semelhante lgica, a re-
lao da sociedade- e, particularmente, do Estado- com
os indivduos ser uma relao tcnica, da qual fica exclu-
da, em princpio, qualquer dimenso tica; e a relao dos
indivduos com a sociedade e o Estado ser, por sua vez,
a relao da parte que se submete ou que resiste sua
integrao num todo considerado estranho e freqentemen-
te hostil. Relao quantitativa da parte e do todo, da qual
a qualidade tica permanece tambm, em princpio, au-
sente.
No obstante a inspirao humanista que anima os
grandes tericos modernos do Direito e da Poltica, a uni-
versalidade hipottica assumida sem discusso como fun-
damento conceptual da idia de sociedade acaba por cons-
tituir-se no prton pseudos do seu pensamento, cujas con-
seqncias se fazem visveis a cada passo da construo
do sistema poltico-jurdico.
128
Uma reflexo atenta mostra
que essas conseqncias alimentam, por sua vez, a perma-
128. A persistncia desse esquema contratualista torna discut-
veis os fundamentos da teoria da justia de John Rawls, no obs-
tante o enorme esforo ali dispendido para se restaurar essa noo
central do pensamento tico-poltico e jurdico. Ver a crtica de M.
Villey in Archives de Philosophie du Droit, 21 (1976): 271-272 e O.
Hffe Ethik und Politik: Grundmodelle und Probleme der prakti-
schen' Philosophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979, pp. 160-226. O
livro de Rawls aqui considerado A Theory ot Justice, Cambridge,
Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
175
nente crise das sociedades polticas modernas, seja na sua
verso liberal, seja na sua verso socialista. Com efeito,
essas crises tm seu nascedouro nas contradies da so-
ciedade civil como esfera de interesses e necessidades, que
Marx elevou a paradigma de todas as contradies sociais.
Ora, a reduo dos problemas da sociedade s contra-
dies da sociedade civil - pressuposto do pensamento
liberal e do pensamento marxiano - na qual a prima-
zia dada ao individuo particular e s satisfao das suas
necessidades psicobiolgicas subordinadas dialtica do de-
sejo, bloqueia sem remdio o movimento dialtico cons-
titutivo do ser tico e poltico do homem e atravs do
qual ele se eleva da sua particularidade singularidade
concreta ou universalidade efetiva de sujeito da virtu-
de e da lei. Compreende-se, assim, que o problema da
extenso dessa universalidade a uma comunidade de sujei-
tos atravs da universalizao efetiva das normas ticas e
jurdicas se tenha transformado no tema mais candente
da reflexo tica e jurdica contempornea.
129
Trata-se, em
suma, de definir uma forma de razo capaz de articular
numa unidade social orgnica a comunidade tica e a co-
munidade poltica e de reencontrar assim, em condies
e situaes histricas infinitamente mais complexas, o ca-
minho aristotlico que conduz da tica Poltica. As dis-
cusses em torno da obra de J. Habermas e de K. O. Apel
so sumamente ilustrativas a esse respeito.
130
Como quer que seja, a rememorao histrica que aqui
tentamos mostra que o primeiro passo conceptual para
o reencontro desse caminho a inverso da relao entre
liberdade e necessidade que domina a teoria e a prtica
da tica e da poltica contemporneas. Nelas a liberdade
est a servio da satisfao das necessidades (sobretudo
"artificiais"), uma libertao dos limites (sobretudo da-
queles traados pela norma e pela lei) que abre ao indi-
vduo o campo infinito (infinito "em potncia" ou "mau
infinito") do desejo. A liberdade submetida, na sua pr-
129. Ver Reiner Wimmer, Universaliesierung in der Ethik, Ana-
lyse, Kritik und Rekonstruktion ethischer Rationalitiitsansprche,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1980, com exaustiva bibliografia, pp. 411-
-448.
130. Ver o livro sobre Apel de Adela Cortina, Razn comunica-
tiva y responsabilidad solidaria: tica y Poltica en K.-0. Apel, Sa-
lamanca, Ed. Sgueme, 1985 e a recenso de X. Herrero em Sntese,
40 (1987)' pp. 107-113.
176
pria razo de ser, a fins fora dela mesma aos quais ela
serve. Com muito mais razo do que Lutero com relao
servido do pecado, deve-se falar aqui de servo arbtrio.
Ora, a liberdade fim em si mesma e para si mesma -
eis a lio imortal de Kant - e ela se autofinaliza no
consentimento ao bem, dando-se a si mesma o seu ser ver-
dadeiro como virtude. Como tal, ela liberdade tica. A li-
berdade poltica pressupe no seu conceito o desenvolvi-
mento da liberdade como liberdade tica.
131
Ela no se
abre sobre um espao hipottico criado por um pacto de
associao que limita ou constrange o arbtrio natural subme-
tendo-o a regras de exerccio que, no entanto, deixam in-
tacto seu egosmo fundamental. A liberdade poltica -
ou deve ser - a expresso socialmente mais alta da liber-
dade tica. Nesse sentido a vida poltica, sendo exerccio
da liberdade que se autofinaliza como liberdade tica ,
por excelncia, escola de virtude. A relao, pois, se inver-
te entre liberdade e necessidade, sendo que a necessidade
passa a ser como o corpo da liberdade obediente aos seus
fins propriamente ticos e s exigncias impostas pela ta-
refa da sua auto-realizao. Esta auto-realizao no se
cumpre, pois, no tempo do desejo cadenciado pela dialtica
essencialmente inconclusa da necessidade e da sua satisfa-
o. Ela tem lugar num tempo qualitativamente distin-
to,
132
o tempo propriamente espiritual no qual a dialtica
constitutiva do ethos
133
se articula no espao absoluto da
liberdade como crculo da sua autodeterminao.
134
A enr-
geia do ato livre , ento, entelqueia, vem a ser, aret,
perfeio, virtude. O paradigma dessa perfeio transluz
como ordem prpria da liberdade, irredutvel ao precrio
e contingente arranjo dos objetos dos sentidos e ao "mau
infinito" do desejo. justamente a experincia radical des-
sa ordem que instaura, nas culturas e civilizaes, o tempo
histrico como tempo no qual pode ter lugar a epifania da
liberdade.
135
Sem a referncia a esse horizonte de univer-
salidade no qual se inscreve uma ordem que paradigm-
131. Ver infra Anexo 4 sobre "Democracia e Sociedade''.
132. Ver supra cap. I, n. 2 e nota 35.
133. Ver supra, cap. I, notas 19 e 62.
134. Sobre a idia da liberdade como autodeterminao na pers-
pectiva da Lgica hegeliana, ver B. Lakebrink, Die europiiische Idee
der Freiheit: I. Teil, Hegelslogik und die Tradition der Selbsbestim-
mung, Leiden, E. J. Brill, 1968, pp. 1-39.
135. Ver supra cap. I, nota 2.
177
nente crise das sociedades polticas modernas, seja na sua
verso liberal, seja na sua verso socialista. Com efeito,
essas crises tm seu nascedouro nas contradies da so-
ciedade civil como esfera de interesses e necessidades, que
Marx elevou a paradigma de todas as contradies sociais.
Ora, a reduo dos problemas da sociedade s contra-
dies da sociedade civil - pressuposto do pensamento
liberal e do pensamento marxiano - na qual a prima-
zia dada ao individuo particular e s satisfao das suas
necessidades psicobiolgicas subordinadas dialtica do de-
sejo, bloqueia sem remdio o movimento dialtico cons-
titutivo do ser tico e poltico do homem e atravs do
qual ele se eleva da sua particularidade singularidade
concreta ou universalidade efetiva de sujeito da virtu-
de e da lei. Compreende-se, assim, que o problema da
extenso dessa universalidade a uma comunidade de sujei-
tos atravs da universalizao efetiva das normas ticas e
jurdicas se tenha transformado no tema mais candente
da reflexo tica e jurdica contempornea.
129
Trata-se, em
suma, de definir uma forma de razo capaz de articular
numa unidade social orgnica a comunidade tica e a co-
munidade poltica e de reencontrar assim, em condies
e situaes histricas infinitamente mais complexas, o ca-
minho aristotlico que conduz da tica Poltica. As dis-
cusses em torno da obra de J. Habermas e de K. O. Apel
so sumamente ilustrativas a esse respeito.
130
Como quer que seja, a rememorao histrica que aqui
tentamos mostra que o primeiro passo conceptual para
o reencontro desse caminho a inverso da relao entre
liberdade e necessidade que domina a teoria e a prtica
da tica e da poltica contemporneas. Nelas a liberdade
est a servio da satisfao das necessidades (sobretudo
"artificiais"), uma libertao dos limites (sobretudo da-
queles traados pela norma e pela lei) que abre ao indi-
vduo o campo infinito (infinito "em potncia" ou "mau
infinito") do desejo. A liberdade submetida, na sua pr-
129. Ver Reiner Wimmer, Universaliesierung in der Ethik, Ana-
lyse, Kritik und Rekonstruktion ethischer Rationalitiitsansprche,
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1980, com exaustiva bibliografia, pp. 411-
-448.
130. Ver o livro sobre Apel de Adela Cortina, Razn comunica-
tiva y responsabilidad solidaria: tica y Poltica en K.-0. Apel, Sa-
lamanca, Ed. Sgueme, 1985 e a recenso de X. Herrero em Sntese,
40 (1987)' pp. 107-113.
176
pria razo de ser, a fins fora dela mesma aos quais ela
serve. Com muito mais razo do que Lutero com relao
servido do pecado, deve-se falar aqui de servo arbtrio.
Ora, a liberdade fim em si mesma e para si mesma -
eis a lio imortal de Kant - e ela se autofinaliza no
consentimento ao bem, dando-se a si mesma o seu ser ver-
dadeiro como virtude. Como tal, ela liberdade tica. A li-
berdade poltica pressupe no seu conceito o desenvolvi-
mento da liberdade como liberdade tica.
131
Ela no se
abre sobre um espao hipottico criado por um pacto de
associao que limita ou constrange o arbtrio natural subme-
tendo-o a regras de exerccio que, no entanto, deixam in-
tacto seu egosmo fundamental. A liberdade poltica -
ou deve ser - a expresso socialmente mais alta da liber-
dade tica. Nesse sentido a vida poltica, sendo exerccio
da liberdade que se autofinaliza como liberdade tica ,
por excelncia, escola de virtude. A relao, pois, se inver-
te entre liberdade e necessidade, sendo que a necessidade
passa a ser como o corpo da liberdade obediente aos seus
fins propriamente ticos e s exigncias impostas pela ta-
refa da sua auto-realizao. Esta auto-realizao no se
cumpre, pois, no tempo do desejo cadenciado pela dialtica
essencialmente inconclusa da necessidade e da sua satisfa-
o. Ela tem lugar num tempo qualitativamente distin-
to,
132
o tempo propriamente espiritual no qual a dialtica
constitutiva do ethos
133
se articula no espao absoluto da
liberdade como crculo da sua autodeterminao.
134
A enr-
geia do ato livre , ento, entelqueia, vem a ser, aret,
perfeio, virtude. O paradigma dessa perfeio transluz
como ordem prpria da liberdade, irredutvel ao precrio
e contingente arranjo dos objetos dos sentidos e ao "mau
infinito" do desejo. justamente a experincia radical des-
sa ordem que instaura, nas culturas e civilizaes, o tempo
histrico como tempo no qual pode ter lugar a epifania da
liberdade.
135
Sem a referncia a esse horizonte de univer-
salidade no qual se inscreve uma ordem que paradigm-
131. Ver infra Anexo 4 sobre "Democracia e Sociedade''.
132. Ver supra cap. I, n. 2 e nota 35.
133. Ver supra, cap. I, notas 19 e 62.
134. Sobre a idia da liberdade como autodeterminao na pers-
pectiva da Lgica hegeliana, ver B. Lakebrink, Die europiiische Idee
der Freiheit: I. Teil, Hegelslogik und die Tradition der Selbsbestim-
mung, Leiden, E. J. Brill, 1968, pp. 1-39.
135. Ver supra cap. I, nota 2.
177
tica ou nomottica com relao ao agir humano, no h
liberdade. H arbtrio e desordem profunda. esse o es-
petculo oferecido pelas sociedades que se descrevem como
"afluentes", porque nelas a liberdade no seno o arbtrio
arrastado e submerso pelo fluxo sempre crescente dos obje-
tos lanados diante do desejo. O pensamento antigo tentou
realizar uma sntese grandiosa entre a ordem da liberdade
e a ordem da ph'ysis celebrada como ordem eterna e divi-
na. O Estoicismo foi a expresso acabada e supremamente
coerente dessa sntese. Mas um aprofundamento dramti-
co
136
da ordem da liberdade tem lugar quando a liberdade,
com o Cristianismo, interpelada pelo apelo e pela graa
da Liberdade infinita de um Deus pessoal que se manifesta
como Evento salvfico na histria. A modernidade assistiu
ao desmoronamento da antiga physis por obra da cincia
galileiana. Mas, por outro lado, o esprito (Geist) da mo-
dernidade foi plasmado segundo a linha de uma inverso
radical (Umkehrung) ou de uma imanentizao das catego-
rias teolgicas de salvao e graa.
131
A ordem da liberda-
de passa a ser pensada na prpria imanncia da histria
segundo modelos de universalidade hipottica. Fiel a essa
matriz historiocntrica e levando a cabo a Umkehrung do
Cristianismo em filosofia da histria, Hegel empreende to-
davia um esforo titnico para restaurar na imanncia
histrica uma forma de universalidade nomottica como
universalidade do Esprito que se objetiva e tem na hist-
ria a sua teodicia.
Nosso tempo assiste exausto terica da matriz his-
toriocntrica,
138
mas esse refluxo das filosofias da histria
136. O encontro da liberdade e do Destino d origem tragdia
no mundo antigo, ao passo que o apelo da liberdade finita pela Li-
berdade infinita no cristianismo configura propriamente um drama
divino-humano, no qual o trgico da existncia humana assumido
por Deus feito homem na sua ltima e abissal profundidade (Fl 2,6-11)
e assim transfigurado em evento salvfico. O eixo dramtico estru-
tura a segunda parte da grandiosa sntese teolgica de Hans Urs v.
Balthasar, intitulada justamente Teodramtica. Ver Theodramatik,
4 vols., Einsiedeln, Johannes Verlag, 1973ss. Sobre a situao da
perspectiva dramtica em face das tendncias da teologia contem-
pornea, ver vol. I, Prolegomena, pp. 23-46; sobre Deus e o trgico
da existncia humana, vol. 2. B., Die Personen des Spiels, T. 1- Der
Mensch in Gott, pp. 48-55. Sobre esse tema nosso propsito voltar
em Escritos de Filosofia III: tica e Liberdade.
137. Ver Escritos de Filosofia I: Problemas de fronteira, Ane-
xo IV Religio e Sociedade, pp. 286-290.
13B. Ver infra Anexo I, A Histria em questo.
178
no acompanhado, no pensamento contemporneo, pela
busca de um horizonte ontolgico para a ordem da liber-
dade comparvel em amplitude e profundidade, com o inten-
to hegeliano.
139
Ao contrrio, o niilismo tico sob as for-
mas mais diversas ocupa a cena intelectual desse fim de
milnio e difunde sua linguagem e seu wt:iy ot life no campo
inteiro das idias e das prticas sociais. Hegel continua,
portanto, um interlocutor vlido porque seu problema fun-
damental, qual seja o encontro de um novo fundamento
universal para a ordem da liberdade, continua a desafiar-
-nos.
140
Se essa ordem no transluz mais na physis divina
oferecida contemplao do Sbio, e se no conseguimos
mais descobrir na Histria a Penlope maternal que sobre
seus joelhos vai tecendo pacientemente, com as voltas e la-
os da "astcia da Razo", os fios dessa ordem, ser talvez
necessrio retomar o pensamento de uma ordem prpria
da liberdade como ordo amoris (segundo a acepo agos-
tiniana),
141
ou seja, como ordem na qual a primazia abso-
139. Com efeito, entre os pensadores do nosso tempo, apenas
Eric Voegelin manifesta na sua obra a ambio da procura de um
fundamento ontolgico para a Histria que, contrapondo-se a Hegel,
aproxima-se da vastido e da altitude especulativa do desenho hege-
liano. A discusso com Hegel em torno do problema de uma "po-
ca absoluta" e da definio de um eixo ontolgico que oriente o tem-
po da Histria ocupa o centro do pensamento de E. Voegelin. Ver
Order and History, IV, The Ecumenic Age, op. cit., pp. 300-335.
140. Ver H. C. de Lima Vaz, "Por que ler Hegel, hoje?" in Boletim
SEAF-MG, 1 (1982), pp. 61-76.
141. Na acepo agostiniana, o ordo amoris parte da distino
entre uti e frui (De doctrina christiana, I, 3,3: PL, 34, 21, e passim
nas obras de Sto. Agostinho). Ela implica a subordinao do uso
fruio e a ordenao teocntrica da fruio segundo o axioma: Solo
Deo fruendum. A identidade do uso e da fruio caracteriza a desor-
dem profunda da sociedade de consumo e a degradao da liberdade
em servum arbitrium, pois verdadeira liberdade fruio do verda-
deiro bem. O ordo amoris primazia da fruio sobre o uso ou ain-
da da virtude sobre o interesse ou da caridade sobre a lei. Assim,
Agostinho pde definir a virtude: Unde mihi videtur quod definitio
brevis et vera virtutis: ordo est amoris (De Civitate Dei, XV, 22; PL
41, 647). Sobre a doutrina agostiniana do ordo amoris ver as p-
ginas clssicas de E. Gilson, Introduction l'tude de Saint Augus-
tin, 2 ~ ed., Paris, Vrin, 1943, pp. 165-184; 215-225. Ver ainda R. Holte,
Batitude et Sagesse: Saint Augustin et le probleme de la fin de l'hom-
me dans la philosophie ancienne, Paris, tudes Augustiniennes, 1962,
PP. 227-231. Como sabido, a idia do ordo amoris foi retomada
pOr Max Scheler num texto. de visvel inspirao agostiniana e no
Qual se encontram fecundas e profundas indicaes sobre o problema
da ordem da liberdade. Ver Scheler, Gesammelte Werke, vol. X,
179
tica ou nomottica com relao ao agir humano, no h
liberdade. H arbtrio e desordem profunda. esse o es-
petculo oferecido pelas sociedades que se descrevem como
"afluentes", porque nelas a liberdade no seno o arbtrio
arrastado e submerso pelo fluxo sempre crescente dos obje-
tos lanados diante do desejo. O pensamento antigo tentou
realizar uma sntese grandiosa entre a ordem da liberdade
e a ordem da ph'ysis celebrada como ordem eterna e divi-
na. O Estoicismo foi a expresso acabada e supremamente
coerente dessa sntese. Mas um aprofundamento dramti-
co
136
da ordem da liberdade tem lugar quando a liberdade,
com o Cristianismo, interpelada pelo apelo e pela graa
da Liberdade infinita de um Deus pessoal que se manifesta
como Evento salvfico na histria. A modernidade assistiu
ao desmoronamento da antiga physis por obra da cincia
galileiana. Mas, por outro lado, o esprito (Geist) da mo-
dernidade foi plasmado segundo a linha de uma inverso
radical (Umkehrung) ou de uma imanentizao das catego-
rias teolgicas de salvao e graa.
131
A ordem da liberda-
de passa a ser pensada na prpria imanncia da histria
segundo modelos de universalidade hipottica. Fiel a essa
matriz historiocntrica e levando a cabo a Umkehrung do
Cristianismo em filosofia da histria, Hegel empreende to-
davia um esforo titnico para restaurar na imanncia
histrica uma forma de universalidade nomottica como
universalidade do Esprito que se objetiva e tem na hist-
ria a sua teodicia.
Nosso tempo assiste exausto terica da matriz his-
toriocntrica,
138
mas esse refluxo das filosofias da histria
136. O encontro da liberdade e do Destino d origem tragdia
no mundo antigo, ao passo que o apelo da liberdade finita pela Li-
berdade infinita no cristianismo configura propriamente um drama
divino-humano, no qual o trgico da existncia humana assumido
por Deus feito homem na sua ltima e abissal profundidade (Fl 2,6-11)
e assim transfigurado em evento salvfico. O eixo dramtico estru-
tura a segunda parte da grandiosa sntese teolgica de Hans Urs v.
Balthasar, intitulada justamente Teodramtica. Ver Theodramatik,
4 vols., Einsiedeln, Johannes Verlag, 1973ss. Sobre a situao da
perspectiva dramtica em face das tendncias da teologia contem-
pornea, ver vol. I, Prolegomena, pp. 23-46; sobre Deus e o trgico
da existncia humana, vol. 2. B., Die Personen des Spiels, T. 1- Der
Mensch in Gott, pp. 48-55. Sobre esse tema nosso propsito voltar
em Escritos de Filosofia III: tica e Liberdade.
137. Ver Escritos de Filosofia I: Problemas de fronteira, Ane-
xo IV Religio e Sociedade, pp. 286-290.
13B. Ver infra Anexo I, A Histria em questo.
178
no acompanhado, no pensamento contemporneo, pela
busca de um horizonte ontolgico para a ordem da liber-
dade comparvel em amplitude e profundidade, com o inten-
to hegeliano.
139
Ao contrrio, o niilismo tico sob as for-
mas mais diversas ocupa a cena intelectual desse fim de
milnio e difunde sua linguagem e seu wt:iy ot life no campo
inteiro das idias e das prticas sociais. Hegel continua,
portanto, um interlocutor vlido porque seu problema fun-
damental, qual seja o encontro de um novo fundamento
universal para a ordem da liberdade, continua a desafiar-
-nos.
140
Se essa ordem no transluz mais na physis divina
oferecida contemplao do Sbio, e se no conseguimos
mais descobrir na Histria a Penlope maternal que sobre
seus joelhos vai tecendo pacientemente, com as voltas e la-
os da "astcia da Razo", os fios dessa ordem, ser talvez
necessrio retomar o pensamento de uma ordem prpria
da liberdade como ordo amoris (segundo a acepo agos-
tiniana),
141
ou seja, como ordem na qual a primazia abso-
139. Com efeito, entre os pensadores do nosso tempo, apenas
Eric Voegelin manifesta na sua obra a ambio da procura de um
fundamento ontolgico para a Histria que, contrapondo-se a Hegel,
aproxima-se da vastido e da altitude especulativa do desenho hege-
liano. A discusso com Hegel em torno do problema de uma "po-
ca absoluta" e da definio de um eixo ontolgico que oriente o tem-
po da Histria ocupa o centro do pensamento de E. Voegelin. Ver
Order and History, IV, The Ecumenic Age, op. cit., pp. 300-335.
140. Ver H. C. de Lima Vaz, "Por que ler Hegel, hoje?" in Boletim
SEAF-MG, 1 (1982), pp. 61-76.
141. Na acepo agostiniana, o ordo amoris parte da distino
entre uti e frui (De doctrina christiana, I, 3,3: PL, 34, 21, e passim
nas obras de Sto. Agostinho). Ela implica a subordinao do uso
fruio e a ordenao teocntrica da fruio segundo o axioma: Solo
Deo fruendum. A identidade do uso e da fruio caracteriza a desor-
dem profunda da sociedade de consumo e a degradao da liberdade
em servum arbitrium, pois verdadeira liberdade fruio do verda-
deiro bem. O ordo amoris primazia da fruio sobre o uso ou ain-
da da virtude sobre o interesse ou da caridade sobre a lei. Assim,
Agostinho pde definir a virtude: Unde mihi videtur quod definitio
brevis et vera virtutis: ordo est amoris (De Civitate Dei, XV, 22; PL
41, 647). Sobre a doutrina agostiniana do ordo amoris ver as p-
ginas clssicas de E. Gilson, Introduction l'tude de Saint Augus-
tin, 2 ~ ed., Paris, Vrin, 1943, pp. 165-184; 215-225. Ver ainda R. Holte,
Batitude et Sagesse: Saint Augustin et le probleme de la fin de l'hom-
me dans la philosophie ancienne, Paris, tudes Augustiniennes, 1962,
PP. 227-231. Como sabido, a idia do ordo amoris foi retomada
pOr Max Scheler num texto. de visvel inspirao agostiniana e no
Qual se encontram fecundas e profundas indicaes sobre o problema
da ordem da liberdade. Ver Scheler, Gesammelte Werke, vol. X,
179
luta e o prinCipiO ordenador so atribudos ao livre reco-
nhecimento do outro, ao consenso em torno do melhor ou
do mais justo, virtude enfim, como tlos imanente da
liberdade. Segundo os princpios dessa ordem, o universo
poltico emana do universo tico e nele a legitimao do
poder estritamente correlativa s condies efetivas do
exerccio dos deveres e do gozo dos direitos.
142
As sociedades polticas contemporneas encontram no
mago da sua crise a questo mais decisiva que lhes lan-
ada, qual seja a da significao tica do ato poltico ou
a da relao entre Etica e Direito. Na verdade, trata-se de
uma questo decisiva entre todas, pois da resposta que
para ela for encontrada ir depender o destino dessas so-
ciedades como sociedades polticas no sentido original do
termo, vem a ser, sociedades justas. A outra alternativa
que se esboa no horizonte a dessas sociedades como
imensos sistemas mecnicos dos quais a liberdade ter sido
eliminada e que se regularo apenas por modelos sempre
mais eficazes e racionais de controle do arbtrio dos indi-
vduos, j ento despojados da sua razo de ser como ho-
mens ou como portadores do ethos.
Schriften aus dem Nachlass, vol. 1, Berna, Francke Verlag,
1957, pp. 344-376.
142. Sobre a dialtica da identidade e diferena entre direitos e
deveres, ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
155.
180
Captulo Quinto
~ T I C A E CI!NCIA
1. DO ETHOS A CiltNCIA
No captulo UI, estudamos_ o problema das relaes
entre tica e razo, que se torna grave problema de ci-
vilizao ao mesmo tempo em que se delineia como pro-
blema filosfico, no momento em que a razo avana pa-
ra assumir uma forma codificada e paradigmtica sob a
forma de razo cientfica. A passagem do saber cincia
assinala uma das mais profundas revolues conhecidas pe-
la histria humana.
1
Ela pode ser caracterizada como aque-
le momento em que a racionalidade latente e difusa no
esforo milenar do homem, para submeter a natureza a
seus fins de utilizao, para buscar nela as matrizes sim-
blicas das suas representaes e crenas e para organizar
seu prprio mundo humano, eleva-se sobre os enigmas do
mito e sobre a cinzenta monotonia das rotinas empricas
e aparece como um grande sol que ilumina e atrai pode-
rosamente tudo o que se move no universo fsico e intelec-
tual. As origens do pensamento cientfico, h vinte e cinco
sculos foram comparadas justamente com uma aurora,
pois 'incontestvel que, a partir de ento, o mundo his-
trico tende a organizar-se cada vez mais nitidamente se-
gundo a estrutura de um sistema solar tendo como centro
* Sob o ttulo "O ethos da atividade cientfica" este captulo
foi publicado in REB 34 (1974): 45-73 (verso refundida).
1. Ver H. C. de ma Vaz, Cultura e Universidade, Petrpolis, Vo-
zes, 1966, pp. 8-16.
181
luta e o prinCipiO ordenador so atribudos ao livre reco-
nhecimento do outro, ao consenso em torno do melhor ou
do mais justo, virtude enfim, como tlos imanente da
liberdade. Segundo os princpios dessa ordem, o universo
poltico emana do universo tico e nele a legitimao do
poder estritamente correlativa s condies efetivas do
exerccio dos deveres e do gozo dos direitos.
142
As sociedades polticas contemporneas encontram no
mago da sua crise a questo mais decisiva que lhes lan-
ada, qual seja a da significao tica do ato poltico ou
a da relao entre Etica e Direito. Na verdade, trata-se de
uma questo decisiva entre todas, pois da resposta que
para ela for encontrada ir depender o destino dessas so-
ciedades como sociedades polticas no sentido original do
termo, vem a ser, sociedades justas. A outra alternativa
que se esboa no horizonte a dessas sociedades como
imensos sistemas mecnicos dos quais a liberdade ter sido
eliminada e que se regularo apenas por modelos sempre
mais eficazes e racionais de controle do arbtrio dos indi-
vduos, j ento despojados da sua razo de ser como ho-
mens ou como portadores do ethos.
Schriften aus dem Nachlass, vol. 1, Berna, Francke Verlag,
1957, pp. 344-376.
142. Sobre a dialtica da identidade e diferena entre direitos e
deveres, ver G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,
155.
180
Captulo Quinto
~ T I C A E CI!NCIA
1. DO ETHOS A CiltNCIA
No captulo UI, estudamos_ o problema das relaes
entre tica e razo, que se torna grave problema de ci-
vilizao ao mesmo tempo em que se delineia como pro-
blema filosfico, no momento em que a razo avana pa-
ra assumir uma forma codificada e paradigmtica sob a
forma de razo cientfica. A passagem do saber cincia
assinala uma das mais profundas revolues conhecidas pe-
la histria humana.
1
Ela pode ser caracterizada como aque-
le momento em que a racionalidade latente e difusa no
esforo milenar do homem, para submeter a natureza a
seus fins de utilizao, para buscar nela as matrizes sim-
blicas das suas representaes e crenas e para organizar
seu prprio mundo humano, eleva-se sobre os enigmas do
mito e sobre a cinzenta monotonia das rotinas empricas
e aparece como um grande sol que ilumina e atrai pode-
rosamente tudo o que se move no universo fsico e intelec-
tual. As origens do pensamento cientfico, h vinte e cinco
sculos foram comparadas justamente com uma aurora,
pois 'incontestvel que, a partir de ento, o mundo his-
trico tende a organizar-se cada vez mais nitidamente se-
gundo a estrutura de um sistema solar tendo como centro
* Sob o ttulo "O ethos da atividade cientfica" este captulo
foi publicado in REB 34 (1974): 45-73 (verso refundida).
1. Ver H. C. de ma Vaz, Cultura e Universidade, Petrpolis, Vo-
zes, 1966, pp. 8-16.
181
a razo demonstrativa, o lgos apodeiktiks. Suas linhas
de fora estendem-se ao infinito, pois nada parece pensvel
fora dos cnones da razo cientfica. Mais claramente do
que o universo fsico, o universo da razo se expande pro-
digiosamente. Mesmo as profundezas mais obscuras do
nosso mundo humano e as certezas milenarmente imveis
que jazem no seu fundo - crenas, costumes, representa-
es, enigmas- so atradas ao campo da razo, mostram
sua luz sua estrutura e seus limites, adquirem significa-
o e passam a mover-se lentamente em torno do grande
sol implacvel.
A metfora da luz e do sol tornou-se, na tradio oci-
dental, a mais clebre metfora do conhecimento, em torno
da qual formou-se um ncleo semntico que acabou por
se depositar no termo idia, para evocar o perfil luminoso
do ser. Plato consagrou-a na passagem mais famosa da
Repblica e usou-a para caracterizar a mais alta das cin-
cias, a Dialtica.
2
Nietzsche a retomou numa pgina fas-
cinante e estranha quando Zaratustra aspira a um conhe-
cimento que no seja imaculado como a luz fria e distante
do disco lunar na escurido da noite, mas seja ardor de
conquista e desejo de criao como a luz e a fora de um
sol ardente brilhando sobre o mar.
8
Na verdade, a partir
do momento em que o saber caminha para tornar-se razo
demonstrativa ou cincia, os velhos problemas que acom-
panham a histria dos homens no somente se iluminam
com uma luz nova, mas sofrem uma mudana qualitativa,
uma mudana de natureza. No so mais apenas desafios
lanados diante do homem, mas, na sua expresso, desdo-
bram-se nesse extraordinrio paradoxo que uma outra me-
tfora tica designou como a sua reflexo, o saber trans-
posto e codificado num lagos epistmico ou num saber do
saber, que veio a denominar-se, por excelncia, a lgica.
A partir de ento, a luta pelo sentido ou pela significao
racional dos seus projetos e dos seus eventos passa a ser
um destino inexorvel que pesa sobre a histria. Ele torna
possvel, numa histria que se v face a face com o pro-
blema do sentido, a proclamao extrema do absurdo, que
no seno a prova mais radical da reflexividade absoluta
da razo. Com efeito, ainda que denunciemos a vida como
2. Plato, Rep. VII, 532 b-d.
3. P. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, II, Von der unbe-
fleckten Erkenntnis, ed. Schlechta, II, pp. 377-380.
182
um conto narrado por um idiota, cheio de rudo e furor
e sem significao alguma, mesmo assim ns a julgamos e,
portanto, compreendemos ou pensamos compreender o sen-
tido do seu no-sentido. Anunciamos, em suma, a sua sem-
-razo, o que quer dizer que ns a situamos na rbita e
na luz da razo.
Por conseguinte, o advento da razo cientfica como
razo reflexiva ou razo que explcita e codifica a sua pr-
pria lgica, significa igualmente que o centro do universo
das formas simblicas na civilizao ocidental passa a ser
ocupado pela Cincia (no sentido amplo da episthme gre-
ga coroada pela Filosofia) porque todo caminho de objeti-
vao das obras de cultura dela parte e a ela retoma. Mes-
mo para pensarmos o longo e noturno caminho da pr-razo
ou da pr-histria na cincia das origens, devemos tra-lo
na direo da sua aurora, porque j no dia avanado
da razo cientfica que podemos reconstitu-lo e recomp-lo
no saber do nosso passado.
A expresso acabada desta centralidade solar da Cincia
no sistema das representaes dada na clebre tautologia
hegeliana: "O que racional efetivamente real e o que
efetivamente real racional".
4
Como o prprio Hegel
teve ocasio de explicar, no se trata da identidade abstrata
do "mesmo", a modo do ser parmenidiano, mas da identi-
dade dialtica do mesmo e do diferente, da Idia e do seu
objeto:
5
identidade que atesta a necessria e irrefutvel
presena da razo a si mesma na diferena infinita do seu
objeto. A realidade efetiva (Wirklichkeit) no , portanto,
desde o ponto de vista da cincia da razo ou da Lgica,
seno a categoria que exprime a fora totalizante, unifica-
dora e ordenadora da prpria razo.
6
Hegel evoca ainda
o mesmo carter paradoxal do saber reflexo quando mos-
tra a conscincia como medida de si mesma a partir do
primeiro momento dialtico dessa cincia que , exatamen-
te, "cincia da experincia da conscincia", ou caminho (m-
4. G. w. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Vor-
rede, (Werke, red. Moldenhauer-Michel, 7; pp. 24-25).
5. Enzyklopdie der philosophischen Wissenschaften (1830), 6,
Anm.
6. Die Wissenschaft der Logik, II, 3 <Werke, red. Molden-
hauer-Michel, 6, pp. 186-242).
183
a razo demonstrativa, o lgos apodeiktiks. Suas linhas
de fora estendem-se ao infinito, pois nada parece pensvel
fora dos cnones da razo cientfica. Mais claramente do
que o universo fsico, o universo da razo se expande pro-
digiosamente. Mesmo as profundezas mais obscuras do
nosso mundo humano e as certezas milenarmente imveis
que jazem no seu fundo - crenas, costumes, representa-
es, enigmas- so atradas ao campo da razo, mostram
sua luz sua estrutura e seus limites, adquirem significa-
o e passam a mover-se lentamente em torno do grande
sol implacvel.
A metfora da luz e do sol tornou-se, na tradio oci-
dental, a mais clebre metfora do conhecimento, em torno
da qual formou-se um ncleo semntico que acabou por
se depositar no termo idia, para evocar o perfil luminoso
do ser. Plato consagrou-a na passagem mais famosa da
Repblica e usou-a para caracterizar a mais alta das cin-
cias, a Dialtica.
2
Nietzsche a retomou numa pgina fas-
cinante e estranha quando Zaratustra aspira a um conhe-
cimento que no seja imaculado como a luz fria e distante
do disco lunar na escurido da noite, mas seja ardor de
conquista e desejo de criao como a luz e a fora de um
sol ardente brilhando sobre o mar.
8
Na verdade, a partir
do momento em que o saber caminha para tornar-se razo
demonstrativa ou cincia, os velhos problemas que acom-
panham a histria dos homens no somente se iluminam
com uma luz nova, mas sofrem uma mudana qualitativa,
uma mudana de natureza. No so mais apenas desafios
lanados diante do homem, mas, na sua expresso, desdo-
bram-se nesse extraordinrio paradoxo que uma outra me-
tfora tica designou como a sua reflexo, o saber trans-
posto e codificado num lagos epistmico ou num saber do
saber, que veio a denominar-se, por excelncia, a lgica.
A partir de ento, a luta pelo sentido ou pela significao
racional dos seus projetos e dos seus eventos passa a ser
um destino inexorvel que pesa sobre a histria. Ele torna
possvel, numa histria que se v face a face com o pro-
blema do sentido, a proclamao extrema do absurdo, que
no seno a prova mais radical da reflexividade absoluta
da razo. Com efeito, ainda que denunciemos a vida como
2. Plato, Rep. VII, 532 b-d.
3. P. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, II, Von der unbe-
fleckten Erkenntnis, ed. Schlechta, II, pp. 377-380.
182
um conto narrado por um idiota, cheio de rudo e furor
e sem significao alguma, mesmo assim ns a julgamos e,
portanto, compreendemos ou pensamos compreender o sen-
tido do seu no-sentido. Anunciamos, em suma, a sua sem-
-razo, o que quer dizer que ns a situamos na rbita e
na luz da razo.
Por conseguinte, o advento da razo cientfica como
razo reflexiva ou razo que explcita e codifica a sua pr-
pria lgica, significa igualmente que o centro do universo
das formas simblicas na civilizao ocidental passa a ser
ocupado pela Cincia (no sentido amplo da episthme gre-
ga coroada pela Filosofia) porque todo caminho de objeti-
vao das obras de cultura dela parte e a ela retoma. Mes-
mo para pensarmos o longo e noturno caminho da pr-razo
ou da pr-histria na cincia das origens, devemos tra-lo
na direo da sua aurora, porque j no dia avanado
da razo cientfica que podemos reconstitu-lo e recomp-lo
no saber do nosso passado.
A expresso acabada desta centralidade solar da Cincia
no sistema das representaes dada na clebre tautologia
hegeliana: "O que racional efetivamente real e o que
efetivamente real racional".
4
Como o prprio Hegel
teve ocasio de explicar, no se trata da identidade abstrata
do "mesmo", a modo do ser parmenidiano, mas da identi-
dade dialtica do mesmo e do diferente, da Idia e do seu
objeto:
5
identidade que atesta a necessria e irrefutvel
presena da razo a si mesma na diferena infinita do seu
objeto. A realidade efetiva (Wirklichkeit) no , portanto,
desde o ponto de vista da cincia da razo ou da Lgica,
seno a categoria que exprime a fora totalizante, unifica-
dora e ordenadora da prpria razo.
6
Hegel evoca ainda
o mesmo carter paradoxal do saber reflexo quando mos-
tra a conscincia como medida de si mesma a partir do
primeiro momento dialtico dessa cincia que , exatamen-
te, "cincia da experincia da conscincia", ou caminho (m-
4. G. w. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Vor-
rede, (Werke, red. Moldenhauer-Michel, 7; pp. 24-25).
5. Enzyklopdie der philosophischen Wissenschaften (1830), 6,
Anm.
6. Die Wissenschaft der Logik, II, 3 <Werke, red. Molden-
hauer-Michel, 6, pp. 186-242).
183
thodos) a ser por ela percorrido na rota para a claridade
meridiana da razo, ou para o Saber absoluto.
7
Desta sorte, no prprio processo da gnese da Cin-
cia que surge e se impe a idia de medida ou regra ( cann
ou mtron) .
8
A medida se manifesta em primeiro lugar co-
mo imanente prpria razo, ao definir-se esta como um
sistema de regras, como uma medida de si mesma ou, se-
gundo a reduplicao caracterstica do termo que origina-
riamente a designou, como uma lgica, ou seja, uma razo
da razo.
Se a universalidade absoluta da razo implicada na sua
reflexividade imanente e explicitada na sua constituio co-
mo razo cientfica a leva a manifestar-se como domnio
da necessidade ab intrnseco ou da necessidade pensada,
9
poder-se-ia supor que essa normatividade originria fosse
encontrar um campo privilegiado de aplicao justamente
na esfera da realidade que se constituiu originariamente e
historicamente subsistiu na exata medida em que se subme-
teu a um cdigo de regras ou normas: a esfera do agir hu-
mano, das relaes intersubjetivas ou a esfera propriamente
tica. Em outras palavras, pareceria razovel supor que o
agir humano que, ao contrrio do instinto animal, se d a
si mesmo as suas prprias regras, encontrasse na Cincia,
obra do prprio homem, o instrumento adequado para es-
tabelecer as normas do seu proceder. A convergncia espon-
tnea das razes do ethos e da razo da episthme seria
uma conseqncia natural do advento da razo cientfica e
a prova de que a indeterminao caracterstica do agir hu-
mano, ou a sua liberdade, se mostra estruturalmente ra-
zovel.10
Entretanto, uma das mais surpreendentes e dramticas
experincias que acompanharam, no Ocidente, o alvorecer
de uma civilizao da Razo teve lugar no conflito, que atin-
7. Phanomenologie des Geistes, Einl. (Werke, red. Molden-
hauer-Michel, 3, pp. 68-72).
8. A idia de medida fornece, como sabido, um dos fios con-
dutores que permitem acompanhar o desenvolvimento do pensamen-
to grego. Ver supra, cap. II, nota 8 e ainda, G. Reale, Storia della
Filosofia antica, op. cit., vol. V, pp, 177-178.
9. G. W. F. Hegel, Enzyklopiidie der phil. Wissenschaften
(1830), 159 Anm.
10. Sobre a distino, nesse contexto, entre "racional" e "ra-
zovel", ver S. Breton, Rflexion philosophique et humanisme tech-
nique, ap. Civilisation technique et humanisme, Paris, Beauchesne,
1968, pp. 111-148.
184
ge seu auge na idade dos Sofistas e Scrates, entre a sa-
bedoria consubstanciada no ethos da tradio grega e o no-
vo lagos do saber cientfico que ensaiava os primeiros pas-
sos da sua atividade crtica e comprovava a fecundidade
aparentemente ilimitada dos seus procedimentos demons-
trativos.
11
A transcrio da physis na ordem e na coern-
cia do lagos d origem, como sabido, aos primeiros sis-
temas cosmolgicos e aos primeiros lineamentos de uma
cincia da natureza, cujo destino j aparece traado na exi-
gncia de um rigor racional sempre crescente.
12
Mas essa
adequao entre physis e lagos no se repete nas relaes
entre ethos e lagos. Se a idia de lei ( nmos) exprime a
presena da razo no ethos, ela declina rapidamente, na sua
oposio com a physis, para o arbitrrio da conveno.
18
A resistncia do ethos tradicional s pretenses do logos
da cincia acompanha, de fato, as vicissitudes da existncia
poltica do homem grego nos sculos V e IV, at a runa
final da plis.
Na verdade, estamos aqui diante de um longo conflito,
pontilhado pelos processos de asbeia das cidades contra
os filsofos, e que culmina tragicamente na condenao e
na morte de Scrates. A famosa pendncia entre a physis
e o nmos
14
tece a trama desse conflito que acompanha,
11. A figura enigmtica de Xenfanes a que talvez melhor
antecipe e exprima o encontro da aret antiga e do novo lagos de-
monstrativo. Ver J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie: glissement
des espaces humains, op. cit., pp. 497-558; A. Magris, L'idea di des-
tino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 257-261.
12. Ver J. Lorite Mena, op. cit., pp. 233-354.
13. As relaes entre as origens do pensamento racional apli-
cado physis e a organizao social arcaica e, particularmente, a
simblica mtica que a sustentava, so extremamente complexas e
no o lugar aqui para estud-las. Sejam assinalados, no entanto,
trs pontos: a) a origem do lagos fsico a partir dos mythoi cos-
mognicos, tema ilustrado pelas pesquisas de W. Jaeger, F. M. Corn-
ford, P. M. SJchuhl e outros. Ver J. P. Vernant, Mythe et pense
chez les Grecs, Paris, Maspro, 1965, pp. 285-314. b) a analogia entre
a ordem da cidade assegurada pelo nmos e regida pela justia (dke)
e a ordem (ksmos) da physis, estabelecendo uma relao entre pen-
samento cientfico e pensamento jurdico, estudada por W. Jaeger
(ver supra, cap. II, nota 50); c) O retorno os problemas da cida-
de e do homem a partir de um estdio j desenvolvido do pensa-
mento racional e que caracterstico da Sofstica e de Scrates. Ver
K. von Fritz, Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissen-
schaften, op. cit., pp. 221-250 e Erik Wolff, Griechisches Rechtsden-
ken, op. cit., Bd. li, 1.
14. Ver, a respeito, supra, cap. Il, nota 52. Acrescentar W.
Nestle, Von Mythos zum Lagos: die Selbstentjaltung des griechischen
185
thodos) a ser por ela percorrido na rota para a claridade
meridiana da razo, ou para o Saber absoluto.
7
Desta sorte, no prprio processo da gnese da Cin-
cia que surge e se impe a idia de medida ou regra ( cann
ou mtron) .
8
A medida se manifesta em primeiro lugar co-
mo imanente prpria razo, ao definir-se esta como um
sistema de regras, como uma medida de si mesma ou, se-
gundo a reduplicao caracterstica do termo que origina-
riamente a designou, como uma lgica, ou seja, uma razo
da razo.
Se a universalidade absoluta da razo implicada na sua
reflexividade imanente e explicitada na sua constituio co-
mo razo cientfica a leva a manifestar-se como domnio
da necessidade ab intrnseco ou da necessidade pensada,
9
poder-se-ia supor que essa normatividade originria fosse
encontrar um campo privilegiado de aplicao justamente
na esfera da realidade que se constituiu originariamente e
historicamente subsistiu na exata medida em que se subme-
teu a um cdigo de regras ou normas: a esfera do agir hu-
mano, das relaes intersubjetivas ou a esfera propriamente
tica. Em outras palavras, pareceria razovel supor que o
agir humano que, ao contrrio do instinto animal, se d a
si mesmo as suas prprias regras, encontrasse na Cincia,
obra do prprio homem, o instrumento adequado para es-
tabelecer as normas do seu proceder. A convergncia espon-
tnea das razes do ethos e da razo da episthme seria
uma conseqncia natural do advento da razo cientfica e
a prova de que a indeterminao caracterstica do agir hu-
mano, ou a sua liberdade, se mostra estruturalmente ra-
zovel.10
Entretanto, uma das mais surpreendentes e dramticas
experincias que acompanharam, no Ocidente, o alvorecer
de uma civilizao da Razo teve lugar no conflito, que atin-
7. Phanomenologie des Geistes, Einl. (Werke, red. Molden-
hauer-Michel, 3, pp. 68-72).
8. A idia de medida fornece, como sabido, um dos fios con-
dutores que permitem acompanhar o desenvolvimento do pensamen-
to grego. Ver supra, cap. II, nota 8 e ainda, G. Reale, Storia della
Filosofia antica, op. cit., vol. V, pp, 177-178.
9. G. W. F. Hegel, Enzyklopiidie der phil. Wissenschaften
(1830), 159 Anm.
10. Sobre a distino, nesse contexto, entre "racional" e "ra-
zovel", ver S. Breton, Rflexion philosophique et humanisme tech-
nique, ap. Civilisation technique et humanisme, Paris, Beauchesne,
1968, pp. 111-148.
184
ge seu auge na idade dos Sofistas e Scrates, entre a sa-
bedoria consubstanciada no ethos da tradio grega e o no-
vo lagos do saber cientfico que ensaiava os primeiros pas-
sos da sua atividade crtica e comprovava a fecundidade
aparentemente ilimitada dos seus procedimentos demons-
trativos.
11
A transcrio da physis na ordem e na coern-
cia do lagos d origem, como sabido, aos primeiros sis-
temas cosmolgicos e aos primeiros lineamentos de uma
cincia da natureza, cujo destino j aparece traado na exi-
gncia de um rigor racional sempre crescente.
12
Mas essa
adequao entre physis e lagos no se repete nas relaes
entre ethos e lagos. Se a idia de lei ( nmos) exprime a
presena da razo no ethos, ela declina rapidamente, na sua
oposio com a physis, para o arbitrrio da conveno.
18
A resistncia do ethos tradicional s pretenses do logos
da cincia acompanha, de fato, as vicissitudes da existncia
poltica do homem grego nos sculos V e IV, at a runa
final da plis.
Na verdade, estamos aqui diante de um longo conflito,
pontilhado pelos processos de asbeia das cidades contra
os filsofos, e que culmina tragicamente na condenao e
na morte de Scrates. A famosa pendncia entre a physis
e o nmos
14
tece a trama desse conflito que acompanha,
11. A figura enigmtica de Xenfanes a que talvez melhor
antecipe e exprima o encontro da aret antiga e do novo lagos de-
monstrativo. Ver J. Lorite Mena, Du mythe l'ontologie: glissement
des espaces humains, op. cit., pp. 497-558; A. Magris, L'idea di des-
tino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 257-261.
12. Ver J. Lorite Mena, op. cit., pp. 233-354.
13. As relaes entre as origens do pensamento racional apli-
cado physis e a organizao social arcaica e, particularmente, a
simblica mtica que a sustentava, so extremamente complexas e
no o lugar aqui para estud-las. Sejam assinalados, no entanto,
trs pontos: a) a origem do lagos fsico a partir dos mythoi cos-
mognicos, tema ilustrado pelas pesquisas de W. Jaeger, F. M. Corn-
ford, P. M. SJchuhl e outros. Ver J. P. Vernant, Mythe et pense
chez les Grecs, Paris, Maspro, 1965, pp. 285-314. b) a analogia entre
a ordem da cidade assegurada pelo nmos e regida pela justia (dke)
e a ordem (ksmos) da physis, estabelecendo uma relao entre pen-
samento cientfico e pensamento jurdico, estudada por W. Jaeger
(ver supra, cap. II, nota 50); c) O retorno os problemas da cida-
de e do homem a partir de um estdio j desenvolvido do pensa-
mento racional e que caracterstico da Sofstica e de Scrates. Ver
K. von Fritz, Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissen-
schaften, op. cit., pp. 221-250 e Erik Wolff, Griechisches Rechtsden-
ken, op. cit., Bd. li, 1.
14. Ver, a respeito, supra, cap. Il, nota 52. Acrescentar W.
Nestle, Von Mythos zum Lagos: die Selbstentjaltung des griechischen
185
no Ocidente, os primeiros passos da civilizao que se cons-
titui sob a gide da razo cientfica e em cujo caminho
histrico se levantar o sempre renascente desafio de ela-
borar um saber universalmente vlido do ethos ou seja,
exatamente, uma tica. O nmos ou a lei que rege o mundo
moral segundo a tradio dos antepassados, rebaixado
por toda uma corrente do pensamento sofstico (Grgias,
Antifonte, os Dssoi Lgoi, o Clicles platnico, Trasma-
co, ... ) ao nvel da conveno e, assim, torna-se incapaz
de uma justificao racional em face da necessidade impe-
riosa da phlysis, que o objeto por excelncia do logos. Um
contraste eloqente e significativo se estabelece entre a uni-
dade e perenidade da physis, a identidade dos seus objetos,
e a uniformidade dos seus movimentos de um lado e, de
outro, a variedade infinita dos costumes, a diferena das
leis de uma cidade a outra, a fronteira cultural e tnica
que separa os gregos e os brbaros, todo esse variado es-
petculo das coisas humanas que Herdoto desenrolara aos
olhos dos homens do V sculo.
15
Uma oposio aparente-
mente inconcilivel parece estabelecer-se entre a phiysis co-
mo necessidade e o nmos como conveno. Eis o proble-
ma que ir alimentar o admirvel florescimento de uma
rica filosofia da cultura ao tempo da primeira Ilustrao
sofstica.
16
Ele se formula, em suma, como problema da
constituio de um logos capaz de compreender na sua uni-
versalidade, modelada pela necessidade da physis, a parti-
cularidade dos nmoi e a singularidade do universo huma-
no da praxis.
17
O que torna esse problema mais agudamen-
te desafiante para a nascente razo cientfica o paradoxo
oferecido pelo homem, portador do logos e, no entanto,
incapaz de submeter o seu prprio mundo - seus costumes
Denkens von Homer bis aut die Sophistik, op. cit., pp. 335-345; F. Hei-
nimann, Nomos und Physis: Herkuntt und Bedeutung einer Anti-
these im griechischen Denken des V. Jahrhunderts, Schw. Beitr. Al-
tertumswissenschaft, Heft 1, Basel, 1945; A. Magris L' I dea di des-
tino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 313-315. '
15. Sobre Herdoto como historiador ver A. Momigliano Pro-
blemes d'historiographie ancienne et moderne (tr. fr.), Paris, 'aalli-
mard, 1983, pp. 169-185.
16. Ver M. Landmann, De Homine; der Mensch im Spiegel sei-
nes Gedankens (Orbis Academicus), Friburgo na Brisgvia, Alber,
1962, pp. 47-48 sobre o clebre primeiro estsimo do coro da Antgona
de Sfocles, que data de 441 a.C.
17. Sobre o mundo dos prgmata ver supra, cap. II, nota 1.
186
e o seu agir - forma mais acabada e mais alta do logos,
ou seja, episthme. O ncleo do problema com o qual
se v s voltas a cincia do ethos nas suas origens , pois,
o conflito entre a universalidade da episthme e a particula-
ridade do ethos. Poder a cincia oferecer um fundamento
a um ethos universal? O pressentimento de uma lei natu-
ral, participando, pois, da universalidade da phJysis e ima-
nente s motivaes mais profundas do agir, e que a tra-
dio celebrava com o nome de lei no-escrita (agrphos
nmos), '" que ir indicar a direo na qual se encaminha-
r o pensamento clssico nas tentativas de constituio de
uma cincia do ethos. A se desenhar enfim, a convergn-
cia entre physis e ethos para tornar possvel a passagem
da particularidade do ethos universalidade da physis e
estabelecer assim os fundamentos da tica.
no ensinamento socrtico, como sabemos, que o pro-
blema das relaes entre o ethos, entendido como a moral
tradicional da plis, e a cincia que, por obra dos Sofistas,
se tornava uma poderosa fora social, atinge o momento
verdadeiramente crucial da sua evoluo. Pela primeira
vez, os termos do problema sero clara e rigorosamente
formulados. Scrates parte da apora sofstica que deixa
em face de um dilema aparentemente insolvel o ato tico
fundamental de transmisso da virtude. Como transmitir
a virtude aos mais jovens: pela paideia tradicional ou pela
nova cincia? A reflexo socrtica termina na proposio
da tese, primeira vista paradoxal, da incompatibilidade
entre a cincia verdadeira e a escolha do que injusto, en-
tre a cincia do bem e a prtica do mal. Dificilmente po-
deramos exagerar a importncia desse "momento histri-
co" de Scrates, como o denominou G. Bastide,
19
na evo-
luo espiritual do Ocidente. Do ponto de vista em que
aqui nos colocamos, ele significa, em suma, a conscincia
de que a exigncia tica est intrinsecamente presente no
projeto da razo cientfica e que a neutralidade tica da
cincia sofre de uma insupervel contradio. Com efeito,
um saber demonstrativamente alcanado e portanto, por hi-
18. Ver. W. C. G. Guthrie, A History o] Greek Philosophy, op.
cit., III, pp. 117-131.
19. Ver G. Bastide, Le moment historique de Socrate, Paris
Alcan, 1939; A. Tovar, Vida de Scrates, Madri, Revista de O c c i d e n ~
te, 1953, pp. 109-139. Sobre a significao de Scrates na histria da
cincia ver A. Rey, La maturit de la pense scientifique en Grece
Paris, A. Michel, .1939, pp. 213-227. '
187
no Ocidente, os primeiros passos da civilizao que se cons-
titui sob a gide da razo cientfica e em cujo caminho
histrico se levantar o sempre renascente desafio de ela-
borar um saber universalmente vlido do ethos ou seja,
exatamente, uma tica. O nmos ou a lei que rege o mundo
moral segundo a tradio dos antepassados, rebaixado
por toda uma corrente do pensamento sofstico (Grgias,
Antifonte, os Dssoi Lgoi, o Clicles platnico, Trasma-
co, ... ) ao nvel da conveno e, assim, torna-se incapaz
de uma justificao racional em face da necessidade impe-
riosa da phlysis, que o objeto por excelncia do logos. Um
contraste eloqente e significativo se estabelece entre a uni-
dade e perenidade da physis, a identidade dos seus objetos,
e a uniformidade dos seus movimentos de um lado e, de
outro, a variedade infinita dos costumes, a diferena das
leis de uma cidade a outra, a fronteira cultural e tnica
que separa os gregos e os brbaros, todo esse variado es-
petculo das coisas humanas que Herdoto desenrolara aos
olhos dos homens do V sculo.
15
Uma oposio aparente-
mente inconcilivel parece estabelecer-se entre a phiysis co-
mo necessidade e o nmos como conveno. Eis o proble-
ma que ir alimentar o admirvel florescimento de uma
rica filosofia da cultura ao tempo da primeira Ilustrao
sofstica.
16
Ele se formula, em suma, como problema da
constituio de um logos capaz de compreender na sua uni-
versalidade, modelada pela necessidade da physis, a parti-
cularidade dos nmoi e a singularidade do universo huma-
no da praxis.
17
O que torna esse problema mais agudamen-
te desafiante para a nascente razo cientfica o paradoxo
oferecido pelo homem, portador do logos e, no entanto,
incapaz de submeter o seu prprio mundo - seus costumes
Denkens von Homer bis aut die Sophistik, op. cit., pp. 335-345; F. Hei-
nimann, Nomos und Physis: Herkuntt und Bedeutung einer Anti-
these im griechischen Denken des V. Jahrhunderts, Schw. Beitr. Al-
tertumswissenschaft, Heft 1, Basel, 1945; A. Magris L' I dea di des-
tino nel pensiero antico, op. cit., I, pp. 313-315. '
15. Sobre Herdoto como historiador ver A. Momigliano Pro-
blemes d'historiographie ancienne et moderne (tr. fr.), Paris, 'aalli-
mard, 1983, pp. 169-185.
16. Ver M. Landmann, De Homine; der Mensch im Spiegel sei-
nes Gedankens (Orbis Academicus), Friburgo na Brisgvia, Alber,
1962, pp. 47-48 sobre o clebre primeiro estsimo do coro da Antgona
de Sfocles, que data de 441 a.C.
17. Sobre o mundo dos prgmata ver supra, cap. II, nota 1.
186
e o seu agir - forma mais acabada e mais alta do logos,
ou seja, episthme. O ncleo do problema com o qual
se v s voltas a cincia do ethos nas suas origens , pois,
o conflito entre a universalidade da episthme e a particula-
ridade do ethos. Poder a cincia oferecer um fundamento
a um ethos universal? O pressentimento de uma lei natu-
ral, participando, pois, da universalidade da phJysis e ima-
nente s motivaes mais profundas do agir, e que a tra-
dio celebrava com o nome de lei no-escrita (agrphos
nmos), '" que ir indicar a direo na qual se encaminha-
r o pensamento clssico nas tentativas de constituio de
uma cincia do ethos. A se desenhar enfim, a convergn-
cia entre physis e ethos para tornar possvel a passagem
da particularidade do ethos universalidade da physis e
estabelecer assim os fundamentos da tica.
no ensinamento socrtico, como sabemos, que o pro-
blema das relaes entre o ethos, entendido como a moral
tradicional da plis, e a cincia que, por obra dos Sofistas,
se tornava uma poderosa fora social, atinge o momento
verdadeiramente crucial da sua evoluo. Pela primeira
vez, os termos do problema sero clara e rigorosamente
formulados. Scrates parte da apora sofstica que deixa
em face de um dilema aparentemente insolvel o ato tico
fundamental de transmisso da virtude. Como transmitir
a virtude aos mais jovens: pela paideia tradicional ou pela
nova cincia? A reflexo socrtica termina na proposio
da tese, primeira vista paradoxal, da incompatibilidade
entre a cincia verdadeira e a escolha do que injusto, en-
tre a cincia do bem e a prtica do mal. Dificilmente po-
deramos exagerar a importncia desse "momento histri-
co" de Scrates, como o denominou G. Bastide,
19
na evo-
luo espiritual do Ocidente. Do ponto de vista em que
aqui nos colocamos, ele significa, em suma, a conscincia
de que a exigncia tica est intrinsecamente presente no
projeto da razo cientfica e que a neutralidade tica da
cincia sofre de uma insupervel contradio. Com efeito,
um saber demonstrativamente alcanado e portanto, por hi-
18. Ver. W. C. G. Guthrie, A History o] Greek Philosophy, op.
cit., III, pp. 117-131.
19. Ver G. Bastide, Le moment historique de Socrate, Paris
Alcan, 1939; A. Tovar, Vida de Scrates, Madri, Revista de O c c i d e n ~
te, 1953, pp. 109-139. Sobre a significao de Scrates na histria da
cincia ver A. Rey, La maturit de la pense scientifique en Grece
Paris, A. Michel, .1939, pp. 213-227. '
187
ptese, verdadeiro seria, nesse caso, ao mesmo tempo, um
bem para a inteligncia e no seria um bem para a vida.
Contradio intolervel para quem admite a definio do
homem como vivente portador do logos (zon lgon chn)
consagrada pela tradio grega.
20
Logo, fonte de verdade
a cincia - ou deve ser - fonte de virtude, prenuncian-
do-se j no ensinamento socrtico a identidade do bem e
do verdadeiro - verum et bonum convertuntur - que ser
afirmada pela ontologia clssica. A alternativa a essa con-
seqncia seria a absolutizao da ao como vontade de
poder, que permite estabelecer entre Nietzsche e os contra-
ditares de Scrates ( Clicles no Grgias e Trasmaco na
Repblica I) um incontestvel parentesco e far dele nos
tempos modernos o anti-Scrates por excelncia. Desta sor-
te, parece permitido afirmar que o problema das relaes
entre ethos e cincia permanece encerrado, para a nossa
reflexo, dentro do espao do questionamento socrtico.
21
Seus termos continuam sendo os termos de Scrates. Com
efeito, sem querer discutir aqui o problema da historici-
dade da famosa autobiografia de Scrates no Fdon,
22
de-
vemos reconhecer que nela se formula a interrogao fun-
damental de uma cultura que comea a mover-se sob o sig-
no da episthme e avana para tornar-se uma civilizao
da Razo cientfica: o conhecimento da phJysis enquanto
sistema movido pela vis a tergo da necessidade mecnica
pode estender-se praxis humana e compreender na sua
explicao o movimento da liberdade que se orienta para
os fins estatudos pelo agente? A resposta do Scrates pla-
tnico, como sabido, decididamente negativa; e o pro-
blema de uma cincia da physis oferece a ocasio para que
seja tentada essa "segunda navegao",
23
que dever con-
duzir terra firme da teoria das Idias e nova cincia
fundada sobre o finalismo do Bem ou seja, primeira
forma da tica na tradio ocidental.
24
A crtica da physis
20. Essa tradio recolhida por Aristteles no VI livro da
tica de Nic6maco (V da tica a Eudemo ao tratar das virtudes in-
telectuais).
21. Ver J. Mller, Zum Begrift des Ethischen, ap. K. Ulmer
(ed.) Die Verantwortung der Wissenschajt, Bonn, Bouvier Verlag,
H. Grundmann, 1975, pp. 8-25.
22. Fed. 96 a-99 e; Lon Robin, Notice in Platon, Oeuvres Com-
pletes, IV, 1, Paris, Belles Lettres, 1949, pp. XLVI-XLVIII; A. Tovar,
Vida de Scrates, pp. 111-126.
23. Fed. 99 d.
24. Ver supra, cap. III, n. 1.
188
pr-socrtica significava, na inteno de Scrates, trazer a
filosofia do cu terra, segundo o dito clebre de Cce-
ro,
25
faz-la habitar na cidade e torn-la uma cincia da
conduta da vida (trpos tou bou). Nesse sentido, o inten-
to socrtico repousava na pressuposio de que o logos da
cincia , por excelncia, um logos educador, e essa pres-
suposio, ao mesmo tempo em que assegura as virtudes
filosficas do dilogo que Plato utilizar com incompar-
vel maestria,
26
lana na tradio intelectual do Ocidente o
intrigante paradoxo, j assinalado por Aristteles,
27
de uma
cincia da virtude que , por isso mesmo, cincia-virtude.
Paradoxo que reflua sobre a prpria personalidade de S-
crates
28
e constitua o centro do desafiante mistrio da sua
existncia histrica.
Por outro lado, necessrio restituir ao termo aret
todos os matizes sociolgicos, pedaggicos e ticos com
que se enriquecera na tradio grega,
29
para se compreen-
der o alcance profundamente revolucionrio de uma cin-
cia da aret na dupla acepo subjetiva e objetiva do ge-
nitivo - cincia sobre a aret cincia constitutiva da are-
t - que Scrates se propunha designar como problema
fundamental cultura grega do seu tempo.
Ora, os termos socrticos desse problema comportam,
de fato, duas alternativas e somente duas, de soluo, e
que sero sucessivamente tentadas ao longo da histria do
pensamento ocidental. De um lado, a nfase posta sobre
a cincia, de tal sorte que esta estenda sobre a praxis vir-
tuosa suas exigncias de coerncia e rigor; de outro, a
praxis que reclama para si um tipo de cincia adequada
s suas caractersticas originais. fcil reconhecer nessas
duas alternativas as duas grandes direes que sero dadas
reflexo socrtica por Plato e Aristteles. Partindo do
pressuposto comum da cincia imanente aret e consti-
tutiva da sua natureza - ou do pressuposto de uma logi-
cidade originria da praxis - elas se encaminham seja na
25. M. T. Ccero, Disp. Tusc., V. 4, 10.
26. Sobre a significao do dilogo platnico ver a bibliogra-
fia citada em H. C. de Lima Vaz, "Nas origens do realismo: a teoria
das Idias no Fedon de Plato", in Filosofar Cristiano, Crdova, 13-14
0983): 115-129 (aqui pp. 118-119).
27. Ver as observaes de W. C. G. Guthrie, A History o f Greek
Philosophy, op. cit., III, pp. 424-425.
28. Ver Plato, Banq. 221 c-222 b.
29. Ver supra, cap. II, nota 79.
189
ptese, verdadeiro seria, nesse caso, ao mesmo tempo, um
bem para a inteligncia e no seria um bem para a vida.
Contradio intolervel para quem admite a definio do
homem como vivente portador do logos (zon lgon chn)
consagrada pela tradio grega.
20
Logo, fonte de verdade
a cincia - ou deve ser - fonte de virtude, prenuncian-
do-se j no ensinamento socrtico a identidade do bem e
do verdadeiro - verum et bonum convertuntur - que ser
afirmada pela ontologia clssica. A alternativa a essa con-
seqncia seria a absolutizao da ao como vontade de
poder, que permite estabelecer entre Nietzsche e os contra-
ditares de Scrates ( Clicles no Grgias e Trasmaco na
Repblica I) um incontestvel parentesco e far dele nos
tempos modernos o anti-Scrates por excelncia. Desta sor-
te, parece permitido afirmar que o problema das relaes
entre ethos e cincia permanece encerrado, para a nossa
reflexo, dentro do espao do questionamento socrtico.
21
Seus termos continuam sendo os termos de Scrates. Com
efeito, sem querer discutir aqui o problema da historici-
dade da famosa autobiografia de Scrates no Fdon,
22
de-
vemos reconhecer que nela se formula a interrogao fun-
damental de uma cultura que comea a mover-se sob o sig-
no da episthme e avana para tornar-se uma civilizao
da Razo cientfica: o conhecimento da phJysis enquanto
sistema movido pela vis a tergo da necessidade mecnica
pode estender-se praxis humana e compreender na sua
explicao o movimento da liberdade que se orienta para
os fins estatudos pelo agente? A resposta do Scrates pla-
tnico, como sabido, decididamente negativa; e o pro-
blema de uma cincia da physis oferece a ocasio para que
seja tentada essa "segunda navegao",
23
que dever con-
duzir terra firme da teoria das Idias e nova cincia
fundada sobre o finalismo do Bem ou seja, primeira
forma da tica na tradio ocidental.
24
A crtica da physis
20. Essa tradio recolhida por Aristteles no VI livro da
tica de Nic6maco (V da tica a Eudemo ao tratar das virtudes in-
telectuais).
21. Ver J. Mller, Zum Begrift des Ethischen, ap. K. Ulmer
(ed.) Die Verantwortung der Wissenschajt, Bonn, Bouvier Verlag,
H. Grundmann, 1975, pp. 8-25.
22. Fed. 96 a-99 e; Lon Robin, Notice in Platon, Oeuvres Com-
pletes, IV, 1, Paris, Belles Lettres, 1949, pp. XLVI-XLVIII; A. Tovar,
Vida de Scrates, pp. 111-126.
23. Fed. 99 d.
24. Ver supra, cap. III, n. 1.
188
pr-socrtica significava, na inteno de Scrates, trazer a
filosofia do cu terra, segundo o dito clebre de Cce-
ro,
25
faz-la habitar na cidade e torn-la uma cincia da
conduta da vida (trpos tou bou). Nesse sentido, o inten-
to socrtico repousava na pressuposio de que o logos da
cincia , por excelncia, um logos educador, e essa pres-
suposio, ao mesmo tempo em que assegura as virtudes
filosficas do dilogo que Plato utilizar com incompar-
vel maestria,
26
lana na tradio intelectual do Ocidente o
intrigante paradoxo, j assinalado por Aristteles,
27
de uma
cincia da virtude que , por isso mesmo, cincia-virtude.
Paradoxo que reflua sobre a prpria personalidade de S-
crates
28
e constitua o centro do desafiante mistrio da sua
existncia histrica.
Por outro lado, necessrio restituir ao termo aret
todos os matizes sociolgicos, pedaggicos e ticos com
que se enriquecera na tradio grega,
29
para se compreen-
der o alcance profundamente revolucionrio de uma cin-
cia da aret na dupla acepo subjetiva e objetiva do ge-
nitivo - cincia sobre a aret cincia constitutiva da are-
t - que Scrates se propunha designar como problema
fundamental cultura grega do seu tempo.
Ora, os termos socrticos desse problema comportam,
de fato, duas alternativas e somente duas, de soluo, e
que sero sucessivamente tentadas ao longo da histria do
pensamento ocidental. De um lado, a nfase posta sobre
a cincia, de tal sorte que esta estenda sobre a praxis vir-
tuosa suas exigncias de coerncia e rigor; de outro, a
praxis que reclama para si um tipo de cincia adequada
s suas caractersticas originais. fcil reconhecer nessas
duas alternativas as duas grandes direes que sero dadas
reflexo socrtica por Plato e Aristteles. Partindo do
pressuposto comum da cincia imanente aret e consti-
tutiva da sua natureza - ou do pressuposto de uma logi-
cidade originria da praxis - elas se encaminham seja na
25. M. T. Ccero, Disp. Tusc., V. 4, 10.
26. Sobre a significao do dilogo platnico ver a bibliogra-
fia citada em H. C. de Lima Vaz, "Nas origens do realismo: a teoria
das Idias no Fedon de Plato", in Filosofar Cristiano, Crdova, 13-14
0983): 115-129 (aqui pp. 118-119).
27. Ver as observaes de W. C. G. Guthrie, A History o f Greek
Philosophy, op. cit., III, pp. 424-425.
28. Ver Plato, Banq. 221 c-222 b.
29. Ver supra, cap. II, nota 79.
189
direo de um matematismo estrito (no sentido original
de mthema, cincia rigorosa), seja na direo de uma cin-
cia da prtica estritamente adequada ao seu objeto. Em
Plato, o lagos socrtico da virtude desdobra-se em onto-
logia do Bem, ao que une nos laos do vnculo mais belo
a proporo ou analoga,
31
o indivduo, a cidade e o uni-
verso segundo a lei de uma mesma justia e o finalismo
de um mesmo Bem supremo.
32
A aportica socrtica sobre
a virtude que domina os primeiros Dilogos,
33
resolve-se,
assim, no discurso dialtico
34
de uma totalidade ordenada,
o mundo das Idias, que ao mesmo tempo paradigma e
medida ( mtron), trazendo mensurabilidade essencial da
praxis humana uma norma axiolgica absoluta. A crtica
aristotlica ao Bem em-si de Plato que ocupa os primeiros
captulos do livro I da tica de Nicmaco,
35
pode ser con-
siderada, para usarmos a terminologia da Escola, uma pas-
sagem do uso da analogia de atribuio (a proporo fun-
dada na identidade absoluta do Bem em-si) em Plato, ao
uso da analogia de proporcionalidade (a igualdade das pro-
pores segundo a relatividade recproca dos seus termos)
em Aristteles. O Estagirita pode assim estabelecer a sua
clebre diviso das cincias segundo a proporo intrnse-
ca entre o saber e o seu objeto, o que assegura a autonomia
dos saberes, no obstante a primazia da theora em razo
da excelncia do seu objeto.
36
Aristteles permanece, sem
dvida, dentro do espao do questionamento socrtico e,
portanto, em continuidade com Plato,
37
mas faz surgir
30. Ver supra, cap. 111, nota 1.
31. Ver Paul Grenet, Les origines de l'analogie philosophique
dans les Dialogues de Platon, Paris, Boivin, 1948, pp. 198-214.
32. Ver K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre . .. , op. cit.,
pp. 260-263; sobre cincia e tica na perspectiva da cincia platnica,
ibidem, pp. 329-331; sobre a cincia como bem e, portanto, como ati-
vidade eminentemente tica na concepo moderna ver K. Ulmer
Wissenschatt und Ethik, ap. K. Ulmer (ed.), Die der
Wissenschaft, op. cit., pp. 26-45.
33. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek Culture, op. cit.,
11, pp. 87-106.
34. Ver H. C. de Lima Vaz, A dialtica das Idias no "Sofista", ap.
Ontologia e Histria, So Paulo, Duas Cidades, 1968, pp. 15-66.
35. Et. Nic., I, c. 2-12; ver o magistral comentrio de R. A.
Gauthier, L'thique Nicomaque, Comm., 11, 1, pp. 26-88.
36. Ver A. Mansion, Introduction la Physique aristotlicienne,
ed., Louvain, Inst. Sup. de Phil., 1945, p. 42.
37. Ver H. J. Krii.mer, Aret bei Platon und Aristoteles, op. cit.,
PP. 228, n. 167.
190
nesse espao a novidade da ethike episthme, que tem co-
mo objeto formal a praxis, o agir prprio do homem en-
quanto portador do lagos.
38
Desta sorte, a tica aristot-
lica somente se entende, em face da soluo platnica, co-
mo alternativa ao problema socrtico do carter intrinse-
camente tico da cincia.
39
O saber do ethos, ao fazer-se
cincia, continua medido, de acordo com o princpio fun-
damental da notica aristotlica, pela forma imanente
realidade emprica do seu objeto, ou seja, pela aret como
forma da praxis tica, cujas modalidades sero estudadas
ao longo dos livros II a X da tica de Nicmaco. Se h,
portanto, uma cincia do ethos segundo a qual a praxis
se qualifica como tica, como queria Scrates, ela possui
suas exigncias metodolgicas prprias,
40
e no pode aspi-
rar ao rigor demonstrativo que convm aos objetos das
cincias tericas propriamente ditas: a phiysis, as mathema-
tik, os primeiros princpios e as realidades divinas. A cin-
cia do ethos uma cincia prtica e no terica. Mas pre-
ciso observar que Aristteles leva em conta a polissemia
do termo ethos
41
para articular sua soluo ao problema
sofstico-socrtico da ensinabilidade da virtude, com a dis-
tino entre virtudes ticas e virtudes dianoticas.
42
No
entanto, a inspirao socrtica permanece determinante,
com a submisso programtica das virtudes ticas dire-
o das virtudes dianoticas ou intelectuais, regidas pela
sabedoria prtica (phrnesis).
43
Esto assim presentes, nesses primeiros e decisivos es-
tilos de reflexo surgidos no seio de uma cultura do lagos
que se prope aplicar ao mundo das coisas humanas ( t
anthrpina) e realidade histrica do ethos a virtude uni-
versalizante e ordenadora que o logos, manifesta no dom-
nio da physis, as duas alternativas possveis ao problema
levantado por Scrates. Com efeito, afastada a tentao
de se voltar as costas ao lagos, de repudi-lo, cedendo-se
misologia solenemente condenada pelo prprio Scrates,
44
38. Ver supra, cap. III, nota 2.
39. Ver supra, cap. III, nota 58.
40. t. Nic., I, Prlogo: os textos relativos ao mtodo da in-
vestigao tica foram alinhados como prlogo por R. A. Gauthier
na sua traduo; ver L'thique Nicomaque, I, 2, pp. 1-5.
41. Ver supra, cap. I, nota 1.
42. t. Nic., I, 13, 1103 a 3-13.
43. Ver supra, cap. 111, nota 2.
44. Fed. 89 d-91 b.
191
direo de um matematismo estrito (no sentido original
de mthema, cincia rigorosa), seja na direo de uma cin-
cia da prtica estritamente adequada ao seu objeto. Em
Plato, o lagos socrtico da virtude desdobra-se em onto-
logia do Bem, ao que une nos laos do vnculo mais belo
a proporo ou analoga,
31
o indivduo, a cidade e o uni-
verso segundo a lei de uma mesma justia e o finalismo
de um mesmo Bem supremo.
32
A aportica socrtica sobre
a virtude que domina os primeiros Dilogos,
33
resolve-se,
assim, no discurso dialtico
34
de uma totalidade ordenada,
o mundo das Idias, que ao mesmo tempo paradigma e
medida ( mtron), trazendo mensurabilidade essencial da
praxis humana uma norma axiolgica absoluta. A crtica
aristotlica ao Bem em-si de Plato que ocupa os primeiros
captulos do livro I da tica de Nicmaco,
35
pode ser con-
siderada, para usarmos a terminologia da Escola, uma pas-
sagem do uso da analogia de atribuio (a proporo fun-
dada na identidade absoluta do Bem em-si) em Plato, ao
uso da analogia de proporcionalidade (a igualdade das pro-
pores segundo a relatividade recproca dos seus termos)
em Aristteles. O Estagirita pode assim estabelecer a sua
clebre diviso das cincias segundo a proporo intrnse-
ca entre o saber e o seu objeto, o que assegura a autonomia
dos saberes, no obstante a primazia da theora em razo
da excelncia do seu objeto.
36
Aristteles permanece, sem
dvida, dentro do espao do questionamento socrtico e,
portanto, em continuidade com Plato,
37
mas faz surgir
30. Ver supra, cap. 111, nota 1.
31. Ver Paul Grenet, Les origines de l'analogie philosophique
dans les Dialogues de Platon, Paris, Boivin, 1948, pp. 198-214.
32. Ver K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre . .. , op. cit.,
pp. 260-263; sobre cincia e tica na perspectiva da cincia platnica,
ibidem, pp. 329-331; sobre a cincia como bem e, portanto, como ati-
vidade eminentemente tica na concepo moderna ver K. Ulmer
Wissenschatt und Ethik, ap. K. Ulmer (ed.), Die der
Wissenschaft, op. cit., pp. 26-45.
33. Ver W. Jaeger, Paideia, the Ideals of Greek Culture, op. cit.,
11, pp. 87-106.
34. Ver H. C. de Lima Vaz, A dialtica das Idias no "Sofista", ap.
Ontologia e Histria, So Paulo, Duas Cidades, 1968, pp. 15-66.
35. Et. Nic., I, c. 2-12; ver o magistral comentrio de R. A.
Gauthier, L'thique Nicomaque, Comm., 11, 1, pp. 26-88.
36. Ver A. Mansion, Introduction la Physique aristotlicienne,
ed., Louvain, Inst. Sup. de Phil., 1945, p. 42.
37. Ver H. J. Krii.mer, Aret bei Platon und Aristoteles, op. cit.,
PP. 228, n. 167.
190
nesse espao a novidade da ethike episthme, que tem co-
mo objeto formal a praxis, o agir prprio do homem en-
quanto portador do lagos.
38
Desta sorte, a tica aristot-
lica somente se entende, em face da soluo platnica, co-
mo alternativa ao problema socrtico do carter intrinse-
camente tico da cincia.
39
O saber do ethos, ao fazer-se
cincia, continua medido, de acordo com o princpio fun-
damental da notica aristotlica, pela forma imanente
realidade emprica do seu objeto, ou seja, pela aret como
forma da praxis tica, cujas modalidades sero estudadas
ao longo dos livros II a X da tica de Nicmaco. Se h,
portanto, uma cincia do ethos segundo a qual a praxis
se qualifica como tica, como queria Scrates, ela possui
suas exigncias metodolgicas prprias,
40
e no pode aspi-
rar ao rigor demonstrativo que convm aos objetos das
cincias tericas propriamente ditas: a phiysis, as mathema-
tik, os primeiros princpios e as realidades divinas. A cin-
cia do ethos uma cincia prtica e no terica. Mas pre-
ciso observar que Aristteles leva em conta a polissemia
do termo ethos
41
para articular sua soluo ao problema
sofstico-socrtico da ensinabilidade da virtude, com a dis-
tino entre virtudes ticas e virtudes dianoticas.
42
No
entanto, a inspirao socrtica permanece determinante,
com a submisso programtica das virtudes ticas dire-
o das virtudes dianoticas ou intelectuais, regidas pela
sabedoria prtica (phrnesis).
43
Esto assim presentes, nesses primeiros e decisivos es-
tilos de reflexo surgidos no seio de uma cultura do lagos
que se prope aplicar ao mundo das coisas humanas ( t
anthrpina) e realidade histrica do ethos a virtude uni-
versalizante e ordenadora que o logos, manifesta no dom-
nio da physis, as duas alternativas possveis ao problema
levantado por Scrates. Com efeito, afastada a tentao
de se voltar as costas ao lagos, de repudi-lo, cedendo-se
misologia solenemente condenada pelo prprio Scrates,
44
38. Ver supra, cap. III, nota 2.
39. Ver supra, cap. III, nota 58.
40. t. Nic., I, Prlogo: os textos relativos ao mtodo da in-
vestigao tica foram alinhados como prlogo por R. A. Gauthier
na sua traduo; ver L'thique Nicomaque, I, 2, pp. 1-5.
41. Ver supra, cap. I, nota 1.
42. t. Nic., I, 13, 1103 a 3-13.
43. Ver supra, cap. 111, nota 2.
44. Fed. 89 d-91 b.
191
dois caminhos se oferecem. Ou a cincia se prope como
roteiro de total libertao das sombras da Caverna, ondP
o ethos emprico aprisiona o homem com a fascinao de
uma realidade ilusria, para elev-lo a um mundo ilumi-
nado pela claridade solar da idia do Bem,
45
ou ento a
cincia aceita submeter-se relatividade emprica do ethos,
mas para orden-lo segundo o finalismo de um Bem ltimo,
seja esse embora talhado medida do homem e propor-
cional diversidade das suas situaes.
46
De um lado, uma
tica da cincia qual confiada a tarefa de edificar um
novo ethos, cujos princpios, prescries e normas partici-
pam da necessidade inteligvel das relaes entre as Idias;
de outro, uma cincia tica na qual o ethos emprico deve
ser ordenado segundo os princpios de um logos prtico,
ou seja, capaz de conduzir o homem ao "bem viver' (eu
zen) e felicidade (eudaimonia). Esses os dois modelos
fundamentais de respostas que podem ser dadas questo
socrtica: como tornar a conduta humana, individual e so-
cial ou poltica, uma conduta que proceda de acordo com
o logos, uma conduta racional e, nessa mesma medida, ra-
zovel, eticamente justificvel?
A resposta aristotlica a essa questo assinala, por ou-
tro lado, o definitivo ato de fundao, na cultura ocidental,
de uma cincia do ethos propriamente dita. Ela est na
origem da segunda das questes programticas que Kant
enumera no limiar da Filosofia: "Que devemos fazer"?
Questo que, reivindicando a originalidade da Razo prti-
ca, coloca no ponto de partida da tica
47
o problema da
relao de um dever-ser, de um Sollen, com a trama emp-
rica do agir humano, envolvido pela necessidade da Natu-
reza. Mostra-se a a indelvel marca aristotlica na tradio
ocidental de uma cincia do ethos.
48
Por outro lado, no-
trio que Aristteles, reconhecendo embora a necessidade
de se conferir cincia da praxis uma autonomia especfica
com relao theora pura, em nenhum momento renun-
ciou ao ideal da vida teortica como realizao mais alta
45. Rep. VII, 514 a-518 d.
46. Et. Nic., I, 4, 1096 a 11-1097 a 13. Ver L. OllLaprune,
Essai sur la Morale d' Aristote, op. cit., pp. 21-52.
47. Ver Nikolai Hartmann, Ethik, 3 ~ ed., Berlim, de Gruyter,
1949, pp. 1-3.
48. Sobre essa tradio, ver o magistral artigo "Ethik" in J.
Ritter (dir.), Historisches Worterbuch der Philosophie, op. cit., II, pp.
759-809.
192
e felicidade suprema do homem.
4
" De fato, a tradio cls-
sica da tica, de Scrates s filosofias helensticas e mes-
rno ao neoplatonismo, dominada pela figura do Sbio ou
pelo ideal da equao socrtica entre o saber e a virtude.
50
Desta sorte, seja na forma de uma tica da cincia
que se inspira na soluo platnica ao problema de Scra-
tes, seja na forma de uma cincia tica que caracteriza a
soluo aristotlica, a filosofia antiga reflete sobre o agir
humano de acordo com a matriz logocntrica que se impe,
desde o nascimento do pensamento cientfico na Grcia, co-
rno a matriz cultural fundamental da civilizao do Oci-
dente. No difcil ver, por outro lado, que o problema
atual das relaes entre tica e Cincia continua a ser for-
mulado dentro do quadro de referncia representado por
essa matriz. Nela encontramos o espao conceptual de onde
esse problema procedeu historicamente e onde se situam
os termos da sua formulao terica. A matriz logocntri-
ca do pensamento clssico pode ser visualizada no seguinte
esquema:
kosmos
""
/ I
"' I
physis{-- - - -logos-
.....
.....
tchne
I /
..... I ,"'
...... ,
theora
- - - .... ~ plis (ethosl
/
praxis
Para Plato, um nico crculo, irradiando do sol do
logos que subsiste como um mundo de idias, envolve a
physis e a plis e constitui um ksmos rigorosamente uno,
que a theora contempla e em cuja ordem a praxis e a
tchne encontram o lugar que a prpria theora lhes desig-
na. Para Aristteles, o logos irradia a partir do ponto ondt:.
se tocam dois crculos, o da theoria, que contempla a physis
49. Ver supra, cap. III, nota 3.
50. Ver supra, cap. III, nota 208.
193
dois caminhos se oferecem. Ou a cincia se prope como
roteiro de total libertao das sombras da Caverna, ondP
o ethos emprico aprisiona o homem com a fascinao de
uma realidade ilusria, para elev-lo a um mundo ilumi-
nado pela claridade solar da idia do Bem,
45
ou ento a
cincia aceita submeter-se relatividade emprica do ethos,
mas para orden-lo segundo o finalismo de um Bem ltimo,
seja esse embora talhado medida do homem e propor-
cional diversidade das suas situaes.
46
De um lado, uma
tica da cincia qual confiada a tarefa de edificar um
novo ethos, cujos princpios, prescries e normas partici-
pam da necessidade inteligvel das relaes entre as Idias;
de outro, uma cincia tica na qual o ethos emprico deve
ser ordenado segundo os princpios de um logos prtico,
ou seja, capaz de conduzir o homem ao "bem viver' (eu
zen) e felicidade (eudaimonia). Esses os dois modelos
fundamentais de respostas que podem ser dadas questo
socrtica: como tornar a conduta humana, individual e so-
cial ou poltica, uma conduta que proceda de acordo com
o logos, uma conduta racional e, nessa mesma medida, ra-
zovel, eticamente justificvel?
A resposta aristotlica a essa questo assinala, por ou-
tro lado, o definitivo ato de fundao, na cultura ocidental,
de uma cincia do ethos propriamente dita. Ela est na
origem da segunda das questes programticas que Kant
enumera no limiar da Filosofia: "Que devemos fazer"?
Questo que, reivindicando a originalidade da Razo prti-
ca, coloca no ponto de partida da tica
47
o problema da
relao de um dever-ser, de um Sollen, com a trama emp-
rica do agir humano, envolvido pela necessidade da Natu-
reza. Mostra-se a a indelvel marca aristotlica na tradio
ocidental de uma cincia do ethos.
48
Por outro lado, no-
trio que Aristteles, reconhecendo embora a necessidade
de se conferir cincia da praxis uma autonomia especfica
com relao theora pura, em nenhum momento renun-
ciou ao ideal da vida teortica como realizao mais alta
45. Rep. VII, 514 a-518 d.
46. Et. Nic., I, 4, 1096 a 11-1097 a 13. Ver L. OllLaprune,
Essai sur la Morale d' Aristote, op. cit., pp. 21-52.
47. Ver Nikolai Hartmann, Ethik, 3 ~ ed., Berlim, de Gruyter,
1949, pp. 1-3.
48. Sobre essa tradio, ver o magistral artigo "Ethik" in J.
Ritter (dir.), Historisches Worterbuch der Philosophie, op. cit., II, pp.
759-809.
192
e felicidade suprema do homem.
4
" De fato, a tradio cls-
sica da tica, de Scrates s filosofias helensticas e mes-
rno ao neoplatonismo, dominada pela figura do Sbio ou
pelo ideal da equao socrtica entre o saber e a virtude.
50
Desta sorte, seja na forma de uma tica da cincia
que se inspira na soluo platnica ao problema de Scra-
tes, seja na forma de uma cincia tica que caracteriza a
soluo aristotlica, a filosofia antiga reflete sobre o agir
humano de acordo com a matriz logocntrica que se impe,
desde o nascimento do pensamento cientfico na Grcia, co-
rno a matriz cultural fundamental da civilizao do Oci-
dente. No difcil ver, por outro lado, que o problema
atual das relaes entre tica e Cincia continua a ser for-
mulado dentro do quadro de referncia representado por
essa matriz. Nela encontramos o espao conceptual de onde
esse problema procedeu historicamente e onde se situam
os termos da sua formulao terica. A matriz logocntri-
ca do pensamento clssico pode ser visualizada no seguinte
esquema:
kosmos
""
/ I
"' I
physis{-- - - -logos-
.....
.....
tchne
I /
..... I ,"'
...... ,
theora
- - - .... ~ plis (ethosl
/
praxis
Para Plato, um nico crculo, irradiando do sol do
logos que subsiste como um mundo de idias, envolve a
physis e a plis e constitui um ksmos rigorosamente uno,
que a theora contempla e em cuja ordem a praxis e a
tchne encontram o lugar que a prpria theora lhes desig-
na. Para Aristteles, o logos irradia a partir do ponto ondt:.
se tocam dois crculos, o da theoria, que contempla a physis
49. Ver supra, cap. III, nota 3.
50. Ver supra, cap. III, nota 208.
193
e se eleva s realidades primeiras e divinas, e o da sabe-
doria (phrnesis) que se constitui em theora prtica e rege
o agir do homem no mundo contingente da plis e do thos.
2. TICA E CINCIA MODERNA
Se examinarmos o esquema do logocentrismo antigo que
acabamos de propor, veremos, primeira vista, que a tchne
ocupa nele um lugar perifrico, sendo apenas a imitao
imperfeita da physis majestosa e eterna. verdade que,
para Plato, a prpria phJysis uma tchne, mas, segundo
a fabulao mtica do Timeu
51
imitao, a mais perfeita
possvel, do modelo ideal e obra do Demiurgo que opera
sobre a matria informe, tendo os olhos postos no mundo
das Idias.
Uma profunda rearticulao da matriz logocntrica da
cultura ocidental comea a desenhar-se com a revoluo
cientfica moderna, cujos prdromos podem ser acompa-
nhados desde os fins da Idade Mdia
52
e que est consu-
mada no sculo XVII. Entre as suas caractersticas fun-
damentais, encontra-se justamente o deslocamento da tch-
ne do seu lugar perifrico para o eixo central traado pela
linha que une a theora ao kosmos pela mediao do dis-
curso cientfico (logos). Com esse deslocamento, o logos
teortico torna-se estruturalmente tambm um logos tcni-
co e nessa transformao residir, talvez, a originalidade
mais profunda da cincia moderna, bem como nela se ma-
nifestar o seu carter revolucionrio com relao aos qua-
dros tradicionais da existncia humana. Se quisermos trans-
por na perspectiva da nova cincia a fabulao platnica
do Timeu, deveremos dizer que o logos humano reivindica
para si a tarefa demirgica atribuda ao Artfice divino por
Plato.
51. Ver Tim. 28 a-29 b. Sobre a fsica do Timeu ver o artigo
clssico de Lon Robin, tudes sur la signification et la place de la
Physique dans la philosophie de Platon (1918), reproduzido em La
pense hllenique des origines picure Paris PUF 1942 pp. 230-
336. , ' ' '
52. Esses prdromos, entendidos como um caminho de lenta
superao do aristotelismo, foram reconstitudos na obra monumen-
tal de Anneliese Maier, da qual se d notcia na introduo tradu-
o italiana de alguns dos seus textos principais: A. Maier, Scienza
e Filosofia nel Medioevo: Saggi sui secoli XIII e XIV (tr. M. Parodi
e A. Zoerle), Milo, Jaca Book, 1983, Intr., pp. 1-11.
194
Aqui no lugar para se acompanhar mais uma vez,
atravs dos seus episdios decisivos, o curso dessa profun-
da revoluo epistemolgica e cultural que ir provocar,
entre outras conseqncias, uma transformao radical das
condies materiais da vida humana e, ao mesmo tempo,
dar novo contedo e novo sentido antiga interrogao
socrtica sobre as relaes entre Cincia e tica.
53
Como conhecido, a histria da formao da cincia
moderna foi assinalada pelos lances de uma longa polmica
com a cincia aristotlica ento dominante, sobretudo nos
dois campos intimamente relacionados da Astronomia e da
Mecnica.
54
Durante algum tempo, as concepes orgnico-
-vitalistas da Mater Natura que floresceram no perodo re-
nascentista, pareciam representar a alternativa vitoriosa ao
aristotelismo dominante. Na verdade, elas representavam
um recuo epistemolgico com relao prpria cincia aris-
totlica. O desenvolvimento efetivo do pensamento cient-
fico caminhava noutra direo, assinalada pelo imenso la-
bor experimental e terico que. E. Dijkterhuis denominou
a "mecanizao da imagem do mundo".
55
A Natureza das
grandezas mensurveis e das suas correlaes matemticas,
cuja inteligibilidade se presta a um procedimento epistemo-
lgico de construo segundo o modelo ideal da grande
mquina do mundo,
5
"' substitui-se antiga physis das for-
53. Para o problema que nos interessa, ou seja, a formao
de um ethos prprio da atividade cientfica consultar: a) sobre a
significao histrica da revoluo cientfica,' H. Butterfield, The ori-
gins o f modern Science (1300-1800), Londres, G. Bells and Son 1962
pp. 175-190, b) sobre a sua significao epistemolgica R. r.enoble'
Origines de la pense scientifique moderne ap. Histoire de la S c i e n c ~
(Bibl. de la Pliade), Paris, Gallimard, 1957, pp. 365-534; E. J. Dijks
terhuis, Die Mechaniesierung des Weltbildes (tr. al.), Berlim, Sprin-
ger, 1956; A. Koyre, tudes d'histoire de la pense philosophique Pa-
ris, Gallimard, 2 ~ ed., 1971, pp. 341-362. '
54. Ver M. Clavelin, La philosophie naturelle de Galile: essai
sur l'origine et la formation de la Mcanique classique Paris A. Co-
lin, 1968. ' '
55. Ver nota 53 supra. Sobre esse tema consultar sobretudo
R. Lenoble, Mersenne ou la naissance du Mcanisme, Paris, Vrin,
1942 e Histoire de l'ide de Nature, Paris, A. Michel, 1969, pp. 217-337.
56. Ver G. Gusdorf, Les sciences humaines et la pense occi-
dentale, III, La Rvolution galilenne, t. 2, Paris, Payot, 1969, pp. 219-
235. Esse novo modelo fixa-se, na sntese newtoniana, como um pa-
radigma que guiar a cincia normal da Natureza na poca clssica,
segundo a terminologia de T. S. Kuhn, The Structure of scientific re-
volution, 2 ~ ed., Chicago, The University of Chicago Press, 1970,
caps. 1-4.
195
e se eleva s realidades primeiras e divinas, e o da sabe-
doria (phrnesis) que se constitui em theora prtica e rege
o agir do homem no mundo contingente da plis e do thos.
2. TICA E CINCIA MODERNA
Se examinarmos o esquema do logocentrismo antigo que
acabamos de propor, veremos, primeira vista, que a tchne
ocupa nele um lugar perifrico, sendo apenas a imitao
imperfeita da physis majestosa e eterna. verdade que,
para Plato, a prpria phJysis uma tchne, mas, segundo
a fabulao mtica do Timeu
51
imitao, a mais perfeita
possvel, do modelo ideal e obra do Demiurgo que opera
sobre a matria informe, tendo os olhos postos no mundo
das Idias.
Uma profunda rearticulao da matriz logocntrica da
cultura ocidental comea a desenhar-se com a revoluo
cientfica moderna, cujos prdromos podem ser acompa-
nhados desde os fins da Idade Mdia
52
e que est consu-
mada no sculo XVII. Entre as suas caractersticas fun-
damentais, encontra-se justamente o deslocamento da tch-
ne do seu lugar perifrico para o eixo central traado pela
linha que une a theora ao kosmos pela mediao do dis-
curso cientfico (logos). Com esse deslocamento, o logos
teortico torna-se estruturalmente tambm um logos tcni-
co e nessa transformao residir, talvez, a originalidade
mais profunda da cincia moderna, bem como nela se ma-
nifestar o seu carter revolucionrio com relao aos qua-
dros tradicionais da existncia humana. Se quisermos trans-
por na perspectiva da nova cincia a fabulao platnica
do Timeu, deveremos dizer que o logos humano reivindica
para si a tarefa demirgica atribuda ao Artfice divino por
Plato.
51. Ver Tim. 28 a-29 b. Sobre a fsica do Timeu ver o artigo
clssico de Lon Robin, tudes sur la signification et la place de la
Physique dans la philosophie de Platon (1918), reproduzido em La
pense hllenique des origines picure Paris PUF 1942 pp. 230-
336. , ' ' '
52. Esses prdromos, entendidos como um caminho de lenta
superao do aristotelismo, foram reconstitudos na obra monumen-
tal de Anneliese Maier, da qual se d notcia na introduo tradu-
o italiana de alguns dos seus textos principais: A. Maier, Scienza
e Filosofia nel Medioevo: Saggi sui secoli XIII e XIV (tr. M. Parodi
e A. Zoerle), Milo, Jaca Book, 1983, Intr., pp. 1-11.
194
Aqui no lugar para se acompanhar mais uma vez,
atravs dos seus episdios decisivos, o curso dessa profun-
da revoluo epistemolgica e cultural que ir provocar,
entre outras conseqncias, uma transformao radical das
condies materiais da vida humana e, ao mesmo tempo,
dar novo contedo e novo sentido antiga interrogao
socrtica sobre as relaes entre Cincia e tica.
53
Como conhecido, a histria da formao da cincia
moderna foi assinalada pelos lances de uma longa polmica
com a cincia aristotlica ento dominante, sobretudo nos
dois campos intimamente relacionados da Astronomia e da
Mecnica.
54
Durante algum tempo, as concepes orgnico-
-vitalistas da Mater Natura que floresceram no perodo re-
nascentista, pareciam representar a alternativa vitoriosa ao
aristotelismo dominante. Na verdade, elas representavam
um recuo epistemolgico com relao prpria cincia aris-
totlica. O desenvolvimento efetivo do pensamento cient-
fico caminhava noutra direo, assinalada pelo imenso la-
bor experimental e terico que. E. Dijkterhuis denominou
a "mecanizao da imagem do mundo".
55
A Natureza das
grandezas mensurveis e das suas correlaes matemticas,
cuja inteligibilidade se presta a um procedimento epistemo-
lgico de construo segundo o modelo ideal da grande
mquina do mundo,
5
"' substitui-se antiga physis das for-
53. Para o problema que nos interessa, ou seja, a formao
de um ethos prprio da atividade cientfica consultar: a) sobre a
significao histrica da revoluo cientfica,' H. Butterfield, The ori-
gins o f modern Science (1300-1800), Londres, G. Bells and Son 1962
pp. 175-190, b) sobre a sua significao epistemolgica R. r.enoble'
Origines de la pense scientifique moderne ap. Histoire de la S c i e n c ~
(Bibl. de la Pliade), Paris, Gallimard, 1957, pp. 365-534; E. J. Dijks
terhuis, Die Mechaniesierung des Weltbildes (tr. al.), Berlim, Sprin-
ger, 1956; A. Koyre, tudes d'histoire de la pense philosophique Pa-
ris, Gallimard, 2 ~ ed., 1971, pp. 341-362. '
54. Ver M. Clavelin, La philosophie naturelle de Galile: essai
sur l'origine et la formation de la Mcanique classique Paris A. Co-
lin, 1968. ' '
55. Ver nota 53 supra. Sobre esse tema consultar sobretudo
R. Lenoble, Mersenne ou la naissance du Mcanisme, Paris, Vrin,
1942 e Histoire de l'ide de Nature, Paris, A. Michel, 1969, pp. 217-337.
56. Ver G. Gusdorf, Les sciences humaines et la pense occi-
dentale, III, La Rvolution galilenne, t. 2, Paris, Payot, 1969, pp. 219-
235. Esse novo modelo fixa-se, na sntese newtoniana, como um pa-
radigma que guiar a cincia normal da Natureza na poca clssica,
segundo a terminologia de T. S. Kuhn, The Structure of scientific re-
volution, 2 ~ ed., Chicago, The University of Chicago Press, 1970,
caps. 1-4.
195
mas substanciais e das qualidades sensveis, ordenada se-
gundo uma hierarquia de causas finais.
57
Ao distanciar-se criticamente da viso aristotlica, mo-
vendo-se embora dentro do mesmo espao logocntrico, a
cincia moderna reencontrava necessariamente o esprito e
a inspirao do matematismo platnico, ainda que no, evi-
dentemente, a sua letra. ss Por outro lado, se levarmos em
conta esse decisivo elemento epistemolgico-cultural que
define a originalidade da nova cincia, isto , a posio cen-
tral ocupada doravante pela tchne como dimenso estru-
tural do logos da cincia, veremos que o antigo problema
socrtico ressurge com uma urgncia e uma fora tanto
maiores quanto mais profunda a diferena, no plano da
eficcia da transformao do mundo, entre o logos contem-
plativo da cincia antiga e o logos construtivo da cincia
moderna. Com efeito, no mais o mundo das essncias
inteligveis em si, a cuja ordem universal e eterna o homem
deve submeter-se, que se prope como objeto contempla-
o do Sbio. O inteligvel passa a ser construdo, de algu-
ma sorte, pela prpria cincia e a sua verdade uma ver-
dade verificvel segundo os procedimentos experimentais e
hipottico-dedutivos que constituem a estrutura emprico-
-formal da cincia.
59
Desta sorte, o problema levantado na aurora da civili-
zao do logos pela discusso entre os Sofistas e Scrates
atinge, do sculo XVII aos nossos dias, uma
que a filosofia antiga no conhecera. Presentemente, esta-
mos em face de um duplo paradoxo: ao paradoxo socrti-
57. Sobre a natureza da cincia aristotlico-escolstica ver D.
Salman, La conception scotastique de la Physique ap. Philosophie et
Sciences, Louvain, Inst. Sup. de Philosophie, 1935: pp. 39-60.
58. Sobre a inspirao platnica da cincia moderna ver K.
Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, op. cit., pp. 325-329; p. 438,
nota 304. O platonismo de Galileu defendido, entre outros por A.
Koyr, tudes galilennes, ed., Paris, Hermann, 1966; tudes d'his-
toire de la pense scienti/ique, PUF, Paris, pp. 147ss.; tudes new-
toniennes, Gallimard, Paris, 1968, pp. 245-265, mas contestado por
M. Clavelin, op. cit., pp. 430-435.
59. A noo de paradigma segundo T. S. Kuhn pe em evidn-
cia esse carter seletivo e do procedimento cientfico,
que prprio do que Kuhn denomina a cincia normal. Presente
j, ao menos incoativamente, em alguns ramos da cincia antiga no!'
quais se utiliza a forma matemtica (p. ex. a Astronomia, a Est-
tica), a estrutura emprico-formal se impe na cincia moderna da
natureza.
196
. ' .
co-platnico formado pela oposio entre o logos da cincia
e o ethos tradicional e que se resolveu seja pela proposio
de um novo ethos a ser vivido numa plis ideal iluminada
apenas pelo sol do logos, seja pela definio de uma cincia
da praxis capaz de explicitar e ordenar a racionalidade ima-
nente do ethos histrico, acrescenta-se agora o paradoxo
nascido da oposio entre um novo estatuto do logos e a
tica constituda segundo os pressupostos do logos antigo.
Esse paradoxo foi vivido intensamente por Descartes e est
sem dvida na origem da resoluo cartesiana de elaborar
uma nova moral, de acordo com a nova cincia.
60
Em
verdade, o logos antigo repousa sobre a evidncia de uma
physis oferecida imediatamente aos sentidos e cuja ordem
servir de paradigma para a cincia do ethos. O logos da
cincia moderna, ao invs, constri uma nova empiricidade
que se torna o domnio da verdade experimentalmente ve-
rificvel: uma empiricidade intrinsecamente lgica porque
estruturalmente matemtica. Por conseguinte, o lagos da
cincia moderna manifesta um iuplo paradoxo ao ser con-
frontado com a condio emprica do ethos: no apenas
a normatividade particular do ethos transmitido como cos-
tume que deve submeter-se ao universalismo do logos da
cincia, como na tica clssica. o prprio domnio da
experincia no qual a praxis se exerce e que o lugar de
constituio do ethos transmitido pela tradio, que pro-
fundamente remodelado pela razo cientfico-tcnica moder-
na. Sobre ele se edifica a nova Natureza, que ocupa o
espao da antiga physis. Ela estruturalmente matemti-
ca, dotada de uma inteligibilidade operacional e, como tal,
intrinsecamente referida ao fazer tcnico do homem. No
terreno dessa inteligibilidade constitutivamente antropocn-
trica,
61
reiteram-se as tentativas de definio dos princpios
e normas de um ethos que proceda da cincia e nela encon-
60. Ver Genevive Rodis-Lewis, L'oeuvre de Descartes, Paris,
Vrin, 1971, pp. 394-415. .
61. Sobre a significao ativa desse antropocentrismo da cin-
cia moderna ver H. Arendt, La condition de l'homme moderne (tr.
fr. de Vita activa), Paris, Calmann-Lvy, 1961, pp. 279-366. Ver igual-
mente, H. C. de Lima Vaz, Cristianismo e conscincia histrica I, ap.
Ontologia e Histria, So Paulo, Duas Cidades, 1968, pp. 201-229. So-
bre os limites da dominao da "natureza" a partir das restries
impostas pelo carter abstrato do objeto cientfico, ver D. Dubarle,
Macht und Verantwortung, ap. Wissenschaft und gesellschaftliche
Verantwortung, op. cit., pp. 45-84 (aqui, pp. 47ss.).
197
mas substanciais e das qualidades sensveis, ordenada se-
gundo uma hierarquia de causas finais.
57
Ao distanciar-se criticamente da viso aristotlica, mo-
vendo-se embora dentro do mesmo espao logocntrico, a
cincia moderna reencontrava necessariamente o esprito e
a inspirao do matematismo platnico, ainda que no, evi-
dentemente, a sua letra. ss Por outro lado, se levarmos em
conta esse decisivo elemento epistemolgico-cultural que
define a originalidade da nova cincia, isto , a posio cen-
tral ocupada doravante pela tchne como dimenso estru-
tural do logos da cincia, veremos que o antigo problema
socrtico ressurge com uma urgncia e uma fora tanto
maiores quanto mais profunda a diferena, no plano da
eficcia da transformao do mundo, entre o logos contem-
plativo da cincia antiga e o logos construtivo da cincia
moderna. Com efeito, no mais o mundo das essncias
inteligveis em si, a cuja ordem universal e eterna o homem
deve submeter-se, que se prope como objeto contempla-
o do Sbio. O inteligvel passa a ser construdo, de algu-
ma sorte, pela prpria cincia e a sua verdade uma ver-
dade verificvel segundo os procedimentos experimentais e
hipottico-dedutivos que constituem a estrutura emprico-
-formal da cincia.
59
Desta sorte, o problema levantado na aurora da civili-
zao do logos pela discusso entre os Sofistas e Scrates
atinge, do sculo XVII aos nossos dias, uma
que a filosofia antiga no conhecera. Presentemente, esta-
mos em face de um duplo paradoxo: ao paradoxo socrti-
57. Sobre a natureza da cincia aristotlico-escolstica ver D.
Salman, La conception scotastique de la Physique ap. Philosophie et
Sciences, Louvain, Inst. Sup. de Philosophie, 1935: pp. 39-60.
58. Sobre a inspirao platnica da cincia moderna ver K.
Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, op. cit., pp. 325-329; p. 438,
nota 304. O platonismo de Galileu defendido, entre outros por A.
Koyr, tudes galilennes, ed., Paris, Hermann, 1966; tudes d'his-
toire de la pense scienti/ique, PUF, Paris, pp. 147ss.; tudes new-
toniennes, Gallimard, Paris, 1968, pp. 245-265, mas contestado por
M. Clavelin, op. cit., pp. 430-435.
59. A noo de paradigma segundo T. S. Kuhn pe em evidn-
cia esse carter seletivo e do procedimento cientfico,
que prprio do que Kuhn denomina a cincia normal. Presente
j, ao menos incoativamente, em alguns ramos da cincia antiga no!'
quais se utiliza a forma matemtica (p. ex. a Astronomia, a Est-
tica), a estrutura emprico-formal se impe na cincia moderna da
natureza.
196
. ' .
co-platnico formado pela oposio entre o logos da cincia
e o ethos tradicional e que se resolveu seja pela proposio
de um novo ethos a ser vivido numa plis ideal iluminada
apenas pelo sol do logos, seja pela definio de uma cincia
da praxis capaz de explicitar e ordenar a racionalidade ima-
nente do ethos histrico, acrescenta-se agora o paradoxo
nascido da oposio entre um novo estatuto do logos e a
tica constituda segundo os pressupostos do logos antigo.
Esse paradoxo foi vivido intensamente por Descartes e est
sem dvida na origem da resoluo cartesiana de elaborar
uma nova moral, de acordo com a nova cincia.
60
Em
verdade, o logos antigo repousa sobre a evidncia de uma
physis oferecida imediatamente aos sentidos e cuja ordem
servir de paradigma para a cincia do ethos. O logos da
cincia moderna, ao invs, constri uma nova empiricidade
que se torna o domnio da verdade experimentalmente ve-
rificvel: uma empiricidade intrinsecamente lgica porque
estruturalmente matemtica. Por conseguinte, o lagos da
cincia moderna manifesta um iuplo paradoxo ao ser con-
frontado com a condio emprica do ethos: no apenas
a normatividade particular do ethos transmitido como cos-
tume que deve submeter-se ao universalismo do logos da
cincia, como na tica clssica. o prprio domnio da
experincia no qual a praxis se exerce e que o lugar de
constituio do ethos transmitido pela tradio, que pro-
fundamente remodelado pela razo cientfico-tcnica moder-
na. Sobre ele se edifica a nova Natureza, que ocupa o
espao da antiga physis. Ela estruturalmente matemti-
ca, dotada de uma inteligibilidade operacional e, como tal,
intrinsecamente referida ao fazer tcnico do homem. No
terreno dessa inteligibilidade constitutivamente antropocn-
trica,
61
reiteram-se as tentativas de definio dos princpios
e normas de um ethos que proceda da cincia e nela encon-
60. Ver Genevive Rodis-Lewis, L'oeuvre de Descartes, Paris,
Vrin, 1971, pp. 394-415. .
61. Sobre a significao ativa desse antropocentrismo da cin-
cia moderna ver H. Arendt, La condition de l'homme moderne (tr.
fr. de Vita activa), Paris, Calmann-Lvy, 1961, pp. 279-366. Ver igual-
mente, H. C. de Lima Vaz, Cristianismo e conscincia histrica I, ap.
Ontologia e Histria, So Paulo, Duas Cidades, 1968, pp. 201-229. So-
bre os limites da dominao da "natureza" a partir das restries
impostas pelo carter abstrato do objeto cientfico, ver D. Dubarle,
Macht und Verantwortung, ap. Wissenschaft und gesellschaftliche
Verantwortung, op. cit., pp. 45-84 (aqui, pp. 47ss.).
197
tre sua legitimao racional. No ser mais a sntese entre
o modo de ser ( ethos como costume) e a virtude ( ethos
como hexis) segundo o ensinamento aristotlico, mas a
prescrio de uma conduta ditada por um lagos que trans-
fere para a comunidade humana e para o agir do indivduo
os princpios da organizao racional que rege o mundo dos
objetos ou o universo cientfico-tcnico. A figura socrtica
do Sbio continua a dominar a cultura logocntrica do Oci-
dente. Mas o Sbio, agora, o Cientista, cujo perfil his-
trico comea a definir-se a partir do sculo XVII, mas
cuja importncia cultural, social e poltica apenas em tem-
pos recentes se imps de modo decisivo.
62
O signo de Scrates, que paira sobre a cultura moder-
na como acompanhava o desenvolvimento da cultura anti-
ga, propicia pois o reaparecimento, em novo contexto inte-
lectual, do antigo dilema entre o intento programtico de
uma tica da cincia, evocando o matematismo platnico,
e de uma cincia tica segundo a tradio aristotlica, que
tenta aplicar ao ethos emprico as novas regras de inteligi-
bilidade. Na realidade, porm, a histria do pensamento
tico na filosofia moderna apresenta um entrecruzamento
permanente e extraordinariamente complexo entre o projeto
de uma tica da cincia e a tradio de uma cincia tica
ou Filosofia moral como passa a ser denominada.
63
o epi-
sdio inaugural dessa acidentada histria sem dvida o
' '
prudente recurso de Descartes morale par provision na
terceira parte do Discurso.
64
Na verdade, lcito afirmar
que, entre essa moral provisria, fundamentada ainda no
ethos tradicional, e a moral definitiva que a Cincia se pro-
pe edificar, estende-se um tempo de espera que se prolon-
ga de Descartes aos nossos dias.
65
Com efeito, hoje mais
do que nunca, e depois de trs sculos de sucessivos xitos
62. Ver H. Arendt, op. cit., pp. 305-306. Um perfil do cientista
como humanista traado por Enrico Cantore Scientific Man: the
humanistic significance of Science Nova Iorque ISH Publications
1977, sobretudo pp. 390-446; sobre ssa obra imprtante ver a r e c e n ~
so de H. C. de Lima Vaz in Sntese, 16 (1979): 158-159.
. ~ 3 . Ver o artigo Ethik citado na nota 48 supra e V. J. Bourke,
Hzstmre de la Morale (tr. fr.), Paris, Cerf, 1970, pp. 185-439.
64. Ver a nota de F. Alqui sua edio de R. Descartes Oeu-
vres Philosophiques I, Paris, Garnier, 1963, p. 592, nota 1. '
65. Ver as penetrantes reflexes de Snia M. Viegas Andrade
De Descartes a Hegel: destino da moral provisria in Sntese 10 (1977);
45-60.
198
da nova cincia da Natureza, continua aberta e extrema-
mente viva a discusso em torno de uma tica que pro-
ceda das concluses comprovadas da cincia e seja, final-
mente, uma cincia tica digna desse nome. A ela se con-
trape a afirmao de um reino de valores e fins indepen-
dente e autnomo com relao aos tatos cientficos. Entre
a concepo monista de Espinoza, cuja tica demonstrada
ao modo dos gemetras une Metafsica e tica na neces-
sidade dedutiva de uma mesma Razo que exprime a inte-
ligibilidade imanente do Todo e deve reger as aes do ho-
mem, e a concepo dualista de Kant,
66
segundo a qual a
Natureza e a Liberdade apenas se limitam como dois rei-
nos independentes oferecidos um legislao da Razo pura
e outro ao imperativo da Razo prtica, a idade raciona-
lista oscila na busca de uma sntese que somente ser en-
trevista atravs do imenso esforo especulativo de Hegel.
67
O sculo XIX assiste, no campo da filosofia da cultura,
ao crescimento de uma poderosa vaga anti-socrtica, que
investe seja contra a persistncia e as pretenses do ethos
tradicional vivido na prtica das sociedades ocidentais e
codificado na Filosofia moral, seja contra os propsitos mo-
ralizantes da ideologia cientista, sobretudo na forma ento
dominante da moral positivista. Essa vaga anti-socrtica
tenta romper, de fato, os limites traados pelo crculo que
envolve o ethos e a physis a partir do logos e dentro do
qual se formulara, na cultura logocntrica do Ocidente, o
projeto de uma cincia do ethos. Nietzsche e Freud re-
presentam a crista dessa vaga, ao passo que Marx, que
costuma ser enumerado em primeiro lugar numa espcie
de trindade sagrada dos "mestres da suspeita" demolido-
res da tradio socrtica permanece, a nosso ver, inteira-
mente no interior do espao logocntrico e transmite, de
66. Convm, no entanto, no simplificar esse dualismo, pois
em Kant, como mostrou G. Krger, o problema moral est intima-
mente presente ao intento de uma Crtica do conhecimento. Ver G.
Krger, Critique et Morale chez Kant (tr. fr. de M. Rgnier), Paris,
Beauchesne, 1961.
67. O problema da relao entre tica e Cincia em termos
hegelianos deve formular-se a partir da posio da Natureza no to-
do do Sistema. Ver, a propsito, o estudo recente de D. Wandschnei-
der, Die Stellung der Natur im Gesamtentwurf der Hegelschen Phi-
losophie, ap. M. J. Petry (ed.), Hegel und die Naturwissenschaft,
(Spekulation und Erjahrung, II, 2), Stuttgart, Frmmann-Holzboog,
1987, pp. 33-64.
199
tre sua legitimao racional. No ser mais a sntese entre
o modo de ser ( ethos como costume) e a virtude ( ethos
como hexis) segundo o ensinamento aristotlico, mas a
prescrio de uma conduta ditada por um lagos que trans-
fere para a comunidade humana e para o agir do indivduo
os princpios da organizao racional que rege o mundo dos
objetos ou o universo cientfico-tcnico. A figura socrtica
do Sbio continua a dominar a cultura logocntrica do Oci-
dente. Mas o Sbio, agora, o Cientista, cujo perfil his-
trico comea a definir-se a partir do sculo XVII, mas
cuja importncia cultural, social e poltica apenas em tem-
pos recentes se imps de modo decisivo.
62
O signo de Scrates, que paira sobre a cultura moder-
na como acompanhava o desenvolvimento da cultura anti-
ga, propicia pois o reaparecimento, em novo contexto inte-
lectual, do antigo dilema entre o intento programtico de
uma tica da cincia, evocando o matematismo platnico,
e de uma cincia tica segundo a tradio aristotlica, que
tenta aplicar ao ethos emprico as novas regras de inteligi-
bilidade. Na realidade, porm, a histria do pensamento
tico na filosofia moderna apresenta um entrecruzamento
permanente e extraordinariamente complexo entre o projeto
de uma tica da cincia e a tradio de uma cincia tica
ou Filosofia moral como passa a ser denominada.
63
o epi-
sdio inaugural dessa acidentada histria sem dvida o
' '
prudente recurso de Descartes morale par provision na
terceira parte do Discurso.
64
Na verdade, lcito afirmar
que, entre essa moral provisria, fundamentada ainda no
ethos tradicional, e a moral definitiva que a Cincia se pro-
pe edificar, estende-se um tempo de espera que se prolon-
ga de Descartes aos nossos dias.
65
Com efeito, hoje mais
do que nunca, e depois de trs sculos de sucessivos xitos
62. Ver H. Arendt, op. cit., pp. 305-306. Um perfil do cientista
como humanista traado por Enrico Cantore Scientific Man: the
humanistic significance of Science Nova Iorque ISH Publications
1977, sobretudo pp. 390-446; sobre ssa obra imprtante ver a r e c e n ~
so de H. C. de Lima Vaz in Sntese, 16 (1979): 158-159.
. ~ 3 . Ver o artigo Ethik citado na nota 48 supra e V. J. Bourke,
Hzstmre de la Morale (tr. fr.), Paris, Cerf, 1970, pp. 185-439.
64. Ver a nota de F. Alqui sua edio de R. Descartes Oeu-
vres Philosophiques I, Paris, Garnier, 1963, p. 592, nota 1. '
65. Ver as penetrantes reflexes de Snia M. Viegas Andrade
De Descartes a Hegel: destino da moral provisria in Sntese 10 (1977);
45-60.
198
da nova cincia da Natureza, continua aberta e extrema-
mente viva a discusso em torno de uma tica que pro-
ceda das concluses comprovadas da cincia e seja, final-
mente, uma cincia tica digna desse nome. A ela se con-
trape a afirmao de um reino de valores e fins indepen-
dente e autnomo com relao aos tatos cientficos. Entre
a concepo monista de Espinoza, cuja tica demonstrada
ao modo dos gemetras une Metafsica e tica na neces-
sidade dedutiva de uma mesma Razo que exprime a inte-
ligibilidade imanente do Todo e deve reger as aes do ho-
mem, e a concepo dualista de Kant,
66
segundo a qual a
Natureza e a Liberdade apenas se limitam como dois rei-
nos independentes oferecidos um legislao da Razo pura
e outro ao imperativo da Razo prtica, a idade raciona-
lista oscila na busca de uma sntese que somente ser en-
trevista atravs do imenso esforo especulativo de Hegel.
67
O sculo XIX assiste, no campo da filosofia da cultura,
ao crescimento de uma poderosa vaga anti-socrtica, que
investe seja contra a persistncia e as pretenses do ethos
tradicional vivido na prtica das sociedades ocidentais e
codificado na Filosofia moral, seja contra os propsitos mo-
ralizantes da ideologia cientista, sobretudo na forma ento
dominante da moral positivista. Essa vaga anti-socrtica
tenta romper, de fato, os limites traados pelo crculo que
envolve o ethos e a physis a partir do logos e dentro do
qual se formulara, na cultura logocntrica do Ocidente, o
projeto de uma cincia do ethos. Nietzsche e Freud re-
presentam a crista dessa vaga, ao passo que Marx, que
costuma ser enumerado em primeiro lugar numa espcie
de trindade sagrada dos "mestres da suspeita" demolido-
res da tradio socrtica permanece, a nosso ver, inteira-
mente no interior do espao logocntrico e transmite, de
66. Convm, no entanto, no simplificar esse dualismo, pois
em Kant, como mostrou G. Krger, o problema moral est intima-
mente presente ao intento de uma Crtica do conhecimento. Ver G.
Krger, Critique et Morale chez Kant (tr. fr. de M. Rgnier), Paris,
Beauchesne, 1961.
67. O problema da relao entre tica e Cincia em termos
hegelianos deve formular-se a partir da posio da Natureza no to-
do do Sistema. Ver, a propsito, o estudo recente de D. Wandschnei-
der, Die Stellung der Natur im Gesamtentwurf der Hegelschen Phi-
losophie, ap. M. J. Petry (ed.), Hegel und die Naturwissenschaft,
(Spekulation und Erjahrung, II, 2), Stuttgart, Frmmann-Holzboog,
1987, pp. 33-64.
199
fato aos diversos marxismos um culto militante e intran-
da tica cientfica.
68
Por outro lado, o extraodinrio progresso das chama-
ds cincias do homem (paleontologia humana e pr-hist-
ria dentro do quadro terico do evolucionismo biolgico,
etnologia, antropologia cultural, histria das religies e cin-
cias histricas em geral dentro do quadro, terico do evo-
lucionismo cultural) tornou, ao longo do sculo XIX, infi-
nitamente mais amplo e complexo, na diversidade geogr-
fica e histrica das culturas, o campo do ethos. O proble-
ma de uma tica efetivamente universal, inspirada e regida
pela Razo cientfica, recoloca-se nesse contexto com reno-
vada fora, impelido pelo movimento que foi denominado
movimento de "planetizao" e que justamente caracters-
tico da civilizao tcnico-cientfica.
69
As chamadas ticas
de inspirao "naturalista",
7
{) entre as quais a "moral so-
ciolgica" ou science des moeurs, de inspirao positivista
e que se apresentou um momento como a alternativa mais
promissora de uma tica cientfica,
71
crescem, de fato, no
sulco cavado no antigo solo dos gneros tradicionais de vida
pelo rpido desenvolvimento cientfico-tecnolgico dos lti-
mos dois sculos. Assim, dos meados do sculo XIX at
nossos dias, multiplicam-se os tipos de tica "naturalista",
desde o otimismo fcil da ideologia cientificista dos fins
do sculo at o otimismo militante e cautelosamente lcido
do evolutionary humanism de um Julian Huxley ou o oti-
mismo prospectivista de um Teilhard de Chardin na pri-
68. No necessrio dizer que se trata aqui de uma cincia
inteiramente submetida ao pressuposto ideolgico que sustenta o pro-
jeto revolucionrio de criao de uma nova sociedade. Mesmo sem
admitir a leitura arbitrria e simplista de K. Popper, que traa en-
tre ambos uma linha sem soluo de continuidade, permitido obser-
var que Plato e Marx, na aurora e no dia j avanado da civiliza-
o do lagos desenham seu perfil na claridade de uma mesma luz,
a luz de uma Histria que se pretende efetivamente transformada
pela Razo.
69. Sobre os problemas dessa chamada "planetizao" da cul-
tura cientfico-tecnolgica ver o penetrante comentrio de D. Dubar
le Philosophie poltique de ric Weil: "Tota.lisation terrestre et
devenir humain" in Archives de Philosophie, 33 0970): 527-545.
70. Ver V. J. Bourke, Histoire de la Morale, op. cit., pp. 370
-394.
71. A obra mais representativa nessa linha , talvez, e de LU
cien Lvy-Bruhl, La Morale et la science des moeurs, Paris, 1903.
200
meira metade do nosso sculo.
72
O declnio do cientismo
e as profundas mudanas recentes nas relaes do homem
com a natureza
73
reabrem, por sua vez em novas dimen-
ses, os problemas que as ticas "naturalistas" julgavam
poder solucionar satisfatoriamente.
Por outro lado, o desenvolvimento do pensamento "na-
turalista", que estende ao domnio das questes antropol-
gicas fundamentais e a todo o campo das cincias do ho-
mem a metodologia das cincias da natureza, acompa-
nhado por uma constante reao crtica, caracterstica de
algumas das obras mais significativas da filosofia contem-
pornea. A "moral aberta" de Henri Bergson, a axiologia
de Max Scheler, a tica ontolgica de N. Hartmann, a re-
cuperao do "mundo da vida" (Lebenswelt) e, finalmente,
a reflexo heideggeriana sobre a tcnica e sua crtica de
toda a tradio da tica ocidental, so instncias crticas
que devem ser levadas em conta no contexto de uma dis-
cusso sobre as relaes entre tica e Cincia. Cada uma
delas, no entanto, mereceria um estudo pormenorizado, que
aqui no poderia ter lugar.
74
Nosso propsito, com efeito,
limita-se a situar o problema da tica em face dos pro-
72. A propsito desses dois tipos, "testa" e "atesta" de uma
"tica da cincia", ver a apreciao de Julian Huxley sobre Teilhard
de Chardin in Essays of a Humanist, Londres, Penguin Books, 1966,
pp. 206-221. Sobre a tica teilhardiana ver, entre outros, M. Barth-
lemy-Madaule, La Personne et le drame humain chez Teilhard de Char-
din, Paris, Seuil, 1967 e L. Gendron, Le probleme de l'action humai-
ne chez Teilhard de Chardin, ap. Panthisme, Action, Omga chez T.
de Chardin, Paris, DDB, 1967, pp. 68-136.
73. Sobre o declnio do cientismo, estudado a partir do ponto
de vista do insucesso reconhecido da tentativa do primeiro Wittgens-
tein no Tractatus, ver J.-F. Malherbe, Le langage thologique l'ge
de la science: lecture de Jean Ladriere, Paris, Cerf, 1985, pp. 33-53;
sobre a modificao das relaes do homem com a natureza, im-
plicando o aparecimento de uma nova noo tica de responsabili-
dade ver Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, op. cit., pp. 15-38.
'74 Sobre a crtica bergsoniana da cincia e sua significao
para a constituio de uma "moral aberta", ver P. Trotignon, L'ide
de vie chez Bergson et la critique de la Mtaphysique, Paris, PUF,
1968, pp. 362522; sobre a posio de Scheler, ver. Vom der
Philosophie und der moralischen Bedmgung des phdosophtschen Er-
kennens ap. Vom Ewigen im Menschen,_ Berlim, Der Neue Geist Ver-
lag 1933 pp 58-133 a grande obra de N. Hartmann, Ethik ed.
192S) j 'roi citada 'em notas anteriores; sobre a crtica de Husserl
ao abandono do Lebenswelt pela cincia de tipo galileiano, ver Die
Krisis der europiiischen Wissenschajten und die Phii-
ftOmenologie (Husserliana VI), Den Haag, M. NlJhof, 1954, so-
bretudo pp. 48-54; no caso de M. Heidegger, a sua inteno de cons-
201
fato aos diversos marxismos um culto militante e intran-
da tica cientfica.
68
Por outro lado, o extraodinrio progresso das chama-
ds cincias do homem (paleontologia humana e pr-hist-
ria dentro do quadro terico do evolucionismo biolgico,
etnologia, antropologia cultural, histria das religies e cin-
cias histricas em geral dentro do quadro, terico do evo-
lucionismo cultural) tornou, ao longo do sculo XIX, infi-
nitamente mais amplo e complexo, na diversidade geogr-
fica e histrica das culturas, o campo do ethos. O proble-
ma de uma tica efetivamente universal, inspirada e regida
pela Razo cientfica, recoloca-se nesse contexto com reno-
vada fora, impelido pelo movimento que foi denominado
movimento de "planetizao" e que justamente caracters-
tico da civilizao tcnico-cientfica.
69
As chamadas ticas
de inspirao "naturalista",
7
{) entre as quais a "moral so-
ciolgica" ou science des moeurs, de inspirao positivista
e que se apresentou um momento como a alternativa mais
promissora de uma tica cientfica,
71
crescem, de fato, no
sulco cavado no antigo solo dos gneros tradicionais de vida
pelo rpido desenvolvimento cientfico-tecnolgico dos lti-
mos dois sculos. Assim, dos meados do sculo XIX at
nossos dias, multiplicam-se os tipos de tica "naturalista",
desde o otimismo fcil da ideologia cientificista dos fins
do sculo at o otimismo militante e cautelosamente lcido
do evolutionary humanism de um Julian Huxley ou o oti-
mismo prospectivista de um Teilhard de Chardin na pri-
68. No necessrio dizer que se trata aqui de uma cincia
inteiramente submetida ao pressuposto ideolgico que sustenta o pro-
jeto revolucionrio de criao de uma nova sociedade. Mesmo sem
admitir a leitura arbitrria e simplista de K. Popper, que traa en-
tre ambos uma linha sem soluo de continuidade, permitido obser-
var que Plato e Marx, na aurora e no dia j avanado da civiliza-
o do lagos desenham seu perfil na claridade de uma mesma luz,
a luz de uma Histria que se pretende efetivamente transformada
pela Razo.
69. Sobre os problemas dessa chamada "planetizao" da cul-
tura cientfico-tecnolgica ver o penetrante comentrio de D. Dubar
le Philosophie poltique de ric Weil: "Tota.lisation terrestre et
devenir humain" in Archives de Philosophie, 33 0970): 527-545.
70. Ver V. J. Bourke, Histoire de la Morale, op. cit., pp. 370
-394.
71. A obra mais representativa nessa linha , talvez, e de LU
cien Lvy-Bruhl, La Morale et la science des moeurs, Paris, 1903.
200
meira metade do nosso sculo.
72
O declnio do cientismo
e as profundas mudanas recentes nas relaes do homem
com a natureza
73
reabrem, por sua vez em novas dimen-
ses, os problemas que as ticas "naturalistas" julgavam
poder solucionar satisfatoriamente.
Por outro lado, o desenvolvimento do pensamento "na-
turalista", que estende ao domnio das questes antropol-
gicas fundamentais e a todo o campo das cincias do ho-
mem a metodologia das cincias da natureza, acompa-
nhado por uma constante reao crtica, caracterstica de
algumas das obras mais significativas da filosofia contem-
pornea. A "moral aberta" de Henri Bergson, a axiologia
de Max Scheler, a tica ontolgica de N. Hartmann, a re-
cuperao do "mundo da vida" (Lebenswelt) e, finalmente,
a reflexo heideggeriana sobre a tcnica e sua crtica de
toda a tradio da tica ocidental, so instncias crticas
que devem ser levadas em conta no contexto de uma dis-
cusso sobre as relaes entre tica e Cincia. Cada uma
delas, no entanto, mereceria um estudo pormenorizado, que
aqui no poderia ter lugar.
74
Nosso propsito, com efeito,
limita-se a situar o problema da tica em face dos pro-
72. A propsito desses dois tipos, "testa" e "atesta" de uma
"tica da cincia", ver a apreciao de Julian Huxley sobre Teilhard
de Chardin in Essays of a Humanist, Londres, Penguin Books, 1966,
pp. 206-221. Sobre a tica teilhardiana ver, entre outros, M. Barth-
lemy-Madaule, La Personne et le drame humain chez Teilhard de Char-
din, Paris, Seuil, 1967 e L. Gendron, Le probleme de l'action humai-
ne chez Teilhard de Chardin, ap. Panthisme, Action, Omga chez T.
de Chardin, Paris, DDB, 1967, pp. 68-136.
73. Sobre o declnio do cientismo, estudado a partir do ponto
de vista do insucesso reconhecido da tentativa do primeiro Wittgens-
tein no Tractatus, ver J.-F. Malherbe, Le langage thologique l'ge
de la science: lecture de Jean Ladriere, Paris, Cerf, 1985, pp. 33-53;
sobre a modificao das relaes do homem com a natureza, im-
plicando o aparecimento de uma nova noo tica de responsabili-
dade ver Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, op. cit., pp. 15-38.
'74 Sobre a crtica bergsoniana da cincia e sua significao
para a constituio de uma "moral aberta", ver P. Trotignon, L'ide
de vie chez Bergson et la critique de la Mtaphysique, Paris, PUF,
1968, pp. 362522; sobre a posio de Scheler, ver. Vom der
Philosophie und der moralischen Bedmgung des phdosophtschen Er-
kennens ap. Vom Ewigen im Menschen,_ Berlim, Der Neue Geist Ver-
lag 1933 pp 58-133 a grande obra de N. Hartmann, Ethik ed.
192S) j 'roi citada 'em notas anteriores; sobre a crtica de Husserl
ao abandono do Lebenswelt pela cincia de tipo galileiano, ver Die
Krisis der europiiischen Wissenschajten und die Phii-
ftOmenologie (Husserliana VI), Den Haag, M. NlJhof, 1954, so-
bretudo pp. 48-54; no caso de M. Heidegger, a sua inteno de cons-
201
cedimentos da explicao
75
cientfica. Em que termos
possvel formular, nesse nvel, o problema de uma tica
estruturalmente ligada ao conhecimento cientfico, ou de
uma tica da cincia no duplo sentido de tica fundada na
cincia e tica da praxis cientfica? Retomando os fios do
desenvolvimento histrico que conduz dos Sofistas e S-
crates aos nossos dias, a questo poderia ainda ser colo-
cada da seguinte maneira: onde encontrar o lugar de uma
racionalidade tica no universo de uma Razo no j con-
templadora da ordem, mas instauradora de uma ordem que,
de algum modo, dela procede?
3. A DIMENSO TICA DA CINCIA
Toda ao humana aberta, por definio, a uma di-
menso axiolgica. Em se tratando de um ato humano,
76
sua natureza implica necessariamente a inteno de um fim
e a posio de um valor. A prtica cientfica representa
um caso privilegiado desta relao essencial entre a ativi-
dade humana e o valor, pois nenhum valor - nenhum
bem - se mostra mais precioso para o homem do que a
verdade. No obstante a unidade intrnseca entre teoria e
Pxperimentao que a constitui, a cincia no se define ape-
nas como a vinculao convencional de determinados sm-
bolos e determinadas operaes. As discusses da episte-
mologia contempornea das cincias mostram inequvoca-
tit?ir uma "tica originria" permaneceu como propsito no-cum-
pndo do pensamento do Ser e da superao da ontoteologia. Ver
supra cap. 11, notas 48 e 49 e E. Nicoletti, "L'etica originaria in M.
Heidegger" in A quinas, 25 (1982): 478-498.
75. O procedimento epistemolgico das cincias da natureza
comumente definido como explicao, que se pretendeu opor com-
preenso prpria das cincias do esprito. Essa oposio consagra-
da. culturalismo, hoje reconhecida como inadequada para ex-
pnmlr a estrutura fundamental do ato do conhecimento cientfico
nos seus diversos tipos, e que admite uma dimenso interpretativa
essencial. Esse aspecto particularmente realado na obra episte-
molgica de Jean Ladrire. Ver Le statut de la science dans la dy-
namique de la comprhension, ap. Sur les chemins de la Raison Re-
cherches et Dbats, 75 (1972): 29-46; "Verit et praxis dans d-
scientifique in Rev. Phil. de Louvain, 72 (1974) : 284-310; ver
amda J.-F. Malherbe, La thologie l'ge de la science op. cit. pp.
109-126. , '
76. Ver Toms de Aquino, De Virt. in comm. q. un., art. 4,
c.; In Im. Eth., Iec. 1, n. 3.
202
mente que o problema da verdade objetiva do mundo no
pode ser declarado sem sentido para a cincia sem que a
prpria cincia renuncie a seu sentido mais profundo como
atividade de conhecimento que , justamente, a busca da
verdade das coisas.
77
Se existe um consenso entre os cien-
tistas em torno da virtude humanizadora da cincia, a de-
finio desse humanismo cientfico supe necessariamente
que a cincia tenha vindo abrir para o homem um novo
horizonte de verdade. E na referncia a esse horizonte
que a prtica do conhecimento cientfico alcana um nvel
tico, seja enquanto ato, seja enquanto objeto de um saber
verdadeiro.'" A questo se coloca a respeito do estatuto
terico desse nvel tico ao qual a cincia, enquanto praxis
humana e humanizadora, deve necessariamente elevar-se.
Trata-se do nvel de uma teoria tica metacientfica ou
transcientfica, mas capaz de referir a prtica cientica no
seu todo, como prtica terica e experimental, a um uni-
verso reconhecido de valores? Eticamente neutra em si
mesma, a cincia seria, no entanto, enquanto atividade hu-
mana, submetida aos princpios e concluses da cincia do
ethos. Nessa hiptese, autonomia metodolgica da cincia
corresponderia a sua heteronomia axiolgica. Teramos de
admitir uma ciso que soa como um paradoxo, entre o ca-
rter constitutivamente tico do conhecimento cientfico en-
quanto atividade humana e a neutralidade tica do objeto
desse conhecimento. A tica da prtica cientfica seria to-
talmente subjetiva se referida aos critrios de objetividade
da cincia. Conquanto seja essa uma opinio bastante di-
fundida no mundo cientico,
79
ela sofre de uma ilogicidade
flagrante desde que admitamos ser a verdade um bem e
um valor para o homem. Por que no o seria a verdade
cientfica? E se o , como no referi-la cincia geral do
bem ou, exatamente, tica? Assim, se admitirmos ser
a cincia, por excelncia, um saber verdadeiro (qualquer
que seja a concepo da verdade cientica que professemos,
desde que se no reduza a um mero convencionalismo),
77. Ver F. Selvaggi, Filosofia del Mondo, Roma, PUG, 1985, pp.
146-184 (tr. br.: Ed. Loyola, So Paulo, 1988) E. Cantare, Scienti/ic
Man, op. cit., pp. 261-267.
78. Ver E. Cantore, Scientijic Man, op. cit., pp. 339-341.
79. Sobretudo a partir da formulao das teorias emotivistas da
tica na trilha do primeiro Wittgenstein. Ver. W. D. Hudson, Mo-
dern 'Moral Philosophy, op. cit., cap. IV.
203
cedimentos da explicao
75
cientfica. Em que termos
possvel formular, nesse nvel, o problema de uma tica
estruturalmente ligada ao conhecimento cientfico, ou de
uma tica da cincia no duplo sentido de tica fundada na
cincia e tica da praxis cientfica? Retomando os fios do
desenvolvimento histrico que conduz dos Sofistas e S-
crates aos nossos dias, a questo poderia ainda ser colo-
cada da seguinte maneira: onde encontrar o lugar de uma
racionalidade tica no universo de uma Razo no j con-
templadora da ordem, mas instauradora de uma ordem que,
de algum modo, dela procede?
3. A DIMENSO TICA DA CINCIA
Toda ao humana aberta, por definio, a uma di-
menso axiolgica. Em se tratando de um ato humano,
76
sua natureza implica necessariamente a inteno de um fim
e a posio de um valor. A prtica cientfica representa
um caso privilegiado desta relao essencial entre a ativi-
dade humana e o valor, pois nenhum valor - nenhum
bem - se mostra mais precioso para o homem do que a
verdade. No obstante a unidade intrnseca entre teoria e
Pxperimentao que a constitui, a cincia no se define ape-
nas como a vinculao convencional de determinados sm-
bolos e determinadas operaes. As discusses da episte-
mologia contempornea das cincias mostram inequvoca-
tit?ir uma "tica originria" permaneceu como propsito no-cum-
pndo do pensamento do Ser e da superao da ontoteologia. Ver
supra cap. 11, notas 48 e 49 e E. Nicoletti, "L'etica originaria in M.
Heidegger" in A quinas, 25 (1982): 478-498.
75. O procedimento epistemolgico das cincias da natureza
comumente definido como explicao, que se pretendeu opor com-
preenso prpria das cincias do esprito. Essa oposio consagra-
da. culturalismo, hoje reconhecida como inadequada para ex-
pnmlr a estrutura fundamental do ato do conhecimento cientfico
nos seus diversos tipos, e que admite uma dimenso interpretativa
essencial. Esse aspecto particularmente realado na obra episte-
molgica de Jean Ladrire. Ver Le statut de la science dans la dy-
namique de la comprhension, ap. Sur les chemins de la Raison Re-
cherches et Dbats, 75 (1972): 29-46; "Verit et praxis dans d-
scientifique in Rev. Phil. de Louvain, 72 (1974) : 284-310; ver
amda J.-F. Malherbe, La thologie l'ge de la science op. cit. pp.
109-126. , '
76. Ver Toms de Aquino, De Virt. in comm. q. un., art. 4,
c.; In Im. Eth., Iec. 1, n. 3.
202
mente que o problema da verdade objetiva do mundo no
pode ser declarado sem sentido para a cincia sem que a
prpria cincia renuncie a seu sentido mais profundo como
atividade de conhecimento que , justamente, a busca da
verdade das coisas.
77
Se existe um consenso entre os cien-
tistas em torno da virtude humanizadora da cincia, a de-
finio desse humanismo cientfico supe necessariamente
que a cincia tenha vindo abrir para o homem um novo
horizonte de verdade. E na referncia a esse horizonte
que a prtica do conhecimento cientfico alcana um nvel
tico, seja enquanto ato, seja enquanto objeto de um saber
verdadeiro.'" A questo se coloca a respeito do estatuto
terico desse nvel tico ao qual a cincia, enquanto praxis
humana e humanizadora, deve necessariamente elevar-se.
Trata-se do nvel de uma teoria tica metacientfica ou
transcientfica, mas capaz de referir a prtica cientica no
seu todo, como prtica terica e experimental, a um uni-
verso reconhecido de valores? Eticamente neutra em si
mesma, a cincia seria, no entanto, enquanto atividade hu-
mana, submetida aos princpios e concluses da cincia do
ethos. Nessa hiptese, autonomia metodolgica da cincia
corresponderia a sua heteronomia axiolgica. Teramos de
admitir uma ciso que soa como um paradoxo, entre o ca-
rter constitutivamente tico do conhecimento cientfico en-
quanto atividade humana e a neutralidade tica do objeto
desse conhecimento. A tica da prtica cientfica seria to-
talmente subjetiva se referida aos critrios de objetividade
da cincia. Conquanto seja essa uma opinio bastante di-
fundida no mundo cientico,
79
ela sofre de uma ilogicidade
flagrante desde que admitamos ser a verdade um bem e
um valor para o homem. Por que no o seria a verdade
cientfica? E se o , como no referi-la cincia geral do
bem ou, exatamente, tica? Assim, se admitirmos ser
a cincia, por excelncia, um saber verdadeiro (qualquer
que seja a concepo da verdade cientica que professemos,
desde que se no reduza a um mero convencionalismo),
77. Ver F. Selvaggi, Filosofia del Mondo, Roma, PUG, 1985, pp.
146-184 (tr. br.: Ed. Loyola, So Paulo, 1988) E. Cantare, Scienti/ic
Man, op. cit., pp. 261-267.
78. Ver E. Cantore, Scientijic Man, op. cit., pp. 339-341.
79. Sobretudo a partir da formulao das teorias emotivistas da
tica na trilha do primeiro Wittgenstein. Ver. W. D. Hudson, Mo-
dern 'Moral Philosophy, op. cit., cap. IV.
203
foroso nos admitir igualmente que a prtica do conhe-
cimento cientfico, no seu ato como no seu objeto, do-
tada de uma dimenso tica que lhe prpria. A autono-
mia da cincia se estenderia, nesse caso, ao mundo de va-
lores que dela procedem e ela seria chamada a definir sua
prpria tica. O problema da relao entre tica e Cincia
se formularia no terreno das relaes entre a tica da cin-
cia e o sistema tico geral.
Seramos tentados a estabelecer uma analogia entre o
problema das relaes entre tica e Cincia no contexto
da cincia moderna e aquele que se apresentou aos herdei-
ros de Scrates e recebeu solues distintas no matema-
tismo platnico e na tica aristotlica. Mas essa analogia
vlida apenas nas suas grandes linhas. Se verdade que
a cincia platnica identicamente uma axiologia ontol-
gica porque as Idias no so somente objeto do conhe-
cimento verdadeiro mas normas do ser e do agir. A cincia
platnica uma ontologia do Bem, o que no ocorre com
a cincia moderna na qual se pressupe, pelo menos meto-
dologicamente, a distino entre o fato e o valor. Por outro
lado, a autonomia da cincia prtica em Aristteles no a
afasta, mas, ao contrrio, a orienta para a cincia terica,
de tal sorte que a atividade de conhecimento na sua forma
puramente terica passa a ser o pice da vida tica e a
atividade mais perfeita do homem. so No essa a situao
da cincia moderna que, na sua neutralidade tica perma-
nece ou se supe permanecer numa relao ex-
trnseca com a esfera do bem ou do valor.
Ora, enquanto o desgnio de uma tica universal e acei-
ta como tal permanece problemtico na civilizao tcnico-
-cientfica, so vrias as instncias extracientficas que se
propem prescrever cincia suas normas ticas: religies
filosofias, ideologias, tradies culturais. Ao tentar, por
vez, constituir-se como fonte de um cdigo tico especfico,
a cincia passa necessariamente alm dos limites da expli-
cao cientfica propriamente dita e entra no terreno da com-
preenso ou de um procedimento hermenutica st que, ao
abrir-se a um horizonte de totalidade, que horizonte da
80. Ver supra cap. III, nota 4.
81. Ver J. Ladriere, L'articulation du sens, op. cit., II, pp. 110-
134.
204
1
,
'
vida humana como tal, "
2
se encontra em pleno domnio
da filosofia. Assim, o problema das relaes entre tica
e Cincia no mundo moderno oscila entre a heteronomia
tica da cincia, (o horizonte tico se traa, nesse caso, fora
e independentemente do espao conceptual da cincia) e
a autonomia da cincia para elaborar, a partir dos seus
prprios pressupostos, uma hermenutica normativa da vi-
da humana que se conceptualizaria como tica da cincia.
No mbito dessa oscilao, as relaes entre o ethos e o
logos no espao aberto pelo advento da cincia moderna
permanecem, foroso reconhec-lo, incertas e confusas.
Convm pois concordar, se no com a teraputica, certa-
mente com o diagnstico de Jacques Monod que v a uma
das razes profundas da crise e do mal-estar da nossa ci-
vilizao. sa
No parece tarefa fcil definir essas relaes de modo
a conciliar numa viso coerente o ethos e o logos cientico.
Continuamos sob o signo de Scrates e enredados na apo-
ria entre a virtude e o saber. H aqui a considerar outro
aspecto importante que enfraquece, provavelmente de modo
definitivo, a posio que afirma a heteronomia tica da
cincia ou a submisso da cincia a uma instncia tica
extracientfica. A chamada "cincia normal", s
4
no obstan-
te seu carter evolutivo e a "provisoriedade" das suas teo-
rias, goza de uma universalidade efetiva, legitimada pelo
reconhecimento da comunidade cientfica, que no conhece
fronteiras culturais ou nacionais. Nenhuma instncia tica
extracientfica, ainda que reclame para si uma universali-
dade de jure como os sistemas filosficos ou as religies
universais, parece capaz de demonstrar convincentemente a
incluso da universalidade de jacto da cincia no domnio
objetivo regido pelas normas da sua postulada universali-
dade de jure. Em outras palavras, nenhuma dessas instn-
cias parece capaz de articular intrinsecamente seu sistema
de normas com a prtica cientfica e com o domnio de
objetividade (o universo dos tatos cientficos) ao qual ela
se refere.
82. Ver J. Ladriere, Le statut de la science dans la dynamique
de la comprhension, art. cit., p. 31.
83. J. Monod, Le hasard et la ncessit, Paris, Seuil, 1970, pp.
186-188.
84. Assim como a define T. S. Kuhn, op. cit., cap. II.
205
foroso nos admitir igualmente que a prtica do conhe-
cimento cientfico, no seu ato como no seu objeto, do-
tada de uma dimenso tica que lhe prpria. A autono-
mia da cincia se estenderia, nesse caso, ao mundo de va-
lores que dela procedem e ela seria chamada a definir sua
prpria tica. O problema da relao entre tica e Cincia
se formularia no terreno das relaes entre a tica da cin-
cia e o sistema tico geral.
Seramos tentados a estabelecer uma analogia entre o
problema das relaes entre tica e Cincia no contexto
da cincia moderna e aquele que se apresentou aos herdei-
ros de Scrates e recebeu solues distintas no matema-
tismo platnico e na tica aristotlica. Mas essa analogia
vlida apenas nas suas grandes linhas. Se verdade que
a cincia platnica identicamente uma axiologia ontol-
gica porque as Idias no so somente objeto do conhe-
cimento verdadeiro mas normas do ser e do agir. A cincia
platnica uma ontologia do Bem, o que no ocorre com
a cincia moderna na qual se pressupe, pelo menos meto-
dologicamente, a distino entre o fato e o valor. Por outro
lado, a autonomia da cincia prtica em Aristteles no a
afasta, mas, ao contrrio, a orienta para a cincia terica,
de tal sorte que a atividade de conhecimento na sua forma
puramente terica passa a ser o pice da vida tica e a
atividade mais perfeita do homem. so No essa a situao
da cincia moderna que, na sua neutralidade tica perma-
nece ou se supe permanecer numa relao ex-
trnseca com a esfera do bem ou do valor.
Ora, enquanto o desgnio de uma tica universal e acei-
ta como tal permanece problemtico na civilizao tcnico-
-cientfica, so vrias as instncias extracientficas que se
propem prescrever cincia suas normas ticas: religies
filosofias, ideologias, tradies culturais. Ao tentar, por
vez, constituir-se como fonte de um cdigo tico especfico,
a cincia passa necessariamente alm dos limites da expli-
cao cientfica propriamente dita e entra no terreno da com-
preenso ou de um procedimento hermenutica st que, ao
abrir-se a um horizonte de totalidade, que horizonte da
80. Ver supra cap. III, nota 4.
81. Ver J. Ladriere, L'articulation du sens, op. cit., II, pp. 110-
134.
204
1
,
'
vida humana como tal, "
2
se encontra em pleno domnio
da filosofia. Assim, o problema das relaes entre tica
e Cincia no mundo moderno oscila entre a heteronomia
tica da cincia, (o horizonte tico se traa, nesse caso, fora
e independentemente do espao conceptual da cincia) e
a autonomia da cincia para elaborar, a partir dos seus
prprios pressupostos, uma hermenutica normativa da vi-
da humana que se conceptualizaria como tica da cincia.
No mbito dessa oscilao, as relaes entre o ethos e o
logos no espao aberto pelo advento da cincia moderna
permanecem, foroso reconhec-lo, incertas e confusas.
Convm pois concordar, se no com a teraputica, certa-
mente com o diagnstico de Jacques Monod que v a uma
das razes profundas da crise e do mal-estar da nossa ci-
vilizao. sa
No parece tarefa fcil definir essas relaes de modo
a conciliar numa viso coerente o ethos e o logos cientico.
Continuamos sob o signo de Scrates e enredados na apo-
ria entre a virtude e o saber. H aqui a considerar outro
aspecto importante que enfraquece, provavelmente de modo
definitivo, a posio que afirma a heteronomia tica da
cincia ou a submisso da cincia a uma instncia tica
extracientfica. A chamada "cincia normal", s
4
no obstan-
te seu carter evolutivo e a "provisoriedade" das suas teo-
rias, goza de uma universalidade efetiva, legitimada pelo
reconhecimento da comunidade cientfica, que no conhece
fronteiras culturais ou nacionais. Nenhuma instncia tica
extracientfica, ainda que reclame para si uma universali-
dade de jure como os sistemas filosficos ou as religies
universais, parece capaz de demonstrar convincentemente a
incluso da universalidade de jacto da cincia no domnio
objetivo regido pelas normas da sua postulada universali-
dade de jure. Em outras palavras, nenhuma dessas instn-
cias parece capaz de articular intrinsecamente seu sistema
de normas com a prtica cientfica e com o domnio de
objetividade (o universo dos tatos cientficos) ao qual ela
se refere.
82. Ver J. Ladriere, Le statut de la science dans la dynamique
de la comprhension, art. cit., p. 31.
83. J. Monod, Le hasard et la ncessit, Paris, Seuil, 1970, pp.
186-188.
84. Assim como a define T. S. Kuhn, op. cit., cap. II.
205
Dentre essas instncias transcendentes cincia, con-
vm realar a f crist e a sua interpretao teolgica, pois
foi no espao cultural do Ocidente cristo e a partir do
seu universo simblico que a cincia moderna se originou
e cresceu. A idia de uma "teologia da cincia" tomou-se
um dos temas mais importantes da reflexo teolgica con-
tempornea ss e entre seus captulos mais rduos se apre-
senta, sem dvida, o das relaes entre tica crist e Cin-
cia seja na sua elaborao terica seja, nas suas aplicaes
prticas.
86
No obstante a obra notvel de alguns filso-
fos cristos,
87
seria temerrio afirmar que a inteligncia
teolgica e a explicao cientfica tenham finalmente alcan-
ado o lugar do seu encontro e da sua reconciliao. Como
quer que seja, a busca desse lugar constitui um dos desa-
fios maiores do pensamento teolgico dos nossos dias.
Se, por outro lado, nos voltarmos para os cientistas
que refletem sobre a significao tica da sua cincia, pre-
senciaremos um desacordo tanto mais surpreendente quan-
to unnime o acordo da comunidade cientfica em tomo
dos resultados comprovados da prpria cincia, e que ates-
ta a sua universalidade de jacto. A est um indcio se-
guro de que o problema das relaes entre tica e Cincia,
mesmo formulado no interior da conceptualidade cientfi-
ca, ultrapassa seus limites metodolgicos e penetra no ter-
reno da filosofia. Na verdade, a filosofia, implcita ou
explcita, do cientista que guia as suas opes ticas no
prprio terreno da sua prtica cientfica. Vemos, assim,
o clebre zologo Pierre P. Grass recusar cincia, con-
siderada em si mesma, qualquer ttulo para prescrever a
85. Ver, sobretudo, D. Dubarle, Approches d'une de
la science (Cogitatio fidei, 22),. Paris, Cerf, 1967; o_:; de K.
Rahner reunidos em traduo francesa em Science, evolutzon et pen-
se chrtienne e sobretudo o 2Q volume de J. Ladrire, L'articula-
tion du sens: es' langages de la foi (Cogitatio Fidei 125), Paris, Cerf,
1984.
86. Ver a Constituio Pastoral Gaudium et Spes, n. 36-44, e o
comentrio nitidamente cauteloso, do Lexikon fr Theologie und Kir-
che (LTK)' Das zweite Vatikanische Konzil, III, Herder, 1968, pp.
385-388; 416:418.
87. Ver o livro de J.-F. Malherbe, Le langage thologique
l'ge de la science, op. cit., supra nota 73. Ver ainda G. Thill, La
fte scientifique: d'une praxologie scientifique une analyse de la
dcision chrtienne Paris BRS 1973, e as refiexoes de E. Bon, Der
christliche und die Fragen unserer Zeit, ap. N. Luyten (ed.l
Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung, op. cit., pp. 123-159.
206
1
.
i
conduta moral dos homens. "" Ao invs, o conhecido epis-
temlogo Mrio Bunge exalta fervorosamente os valores
morais nsitos na prpria atividade cientfica e espera da
cincia a soluo dos problemas ticos que at agora de-
safiaram o igualmente notvel a oposio que
divide dois estudiosos da vida, e separa o otimismo de um
Teilhard de Chardin do severo pessimismo de um Jacques
Monod: ambos, no entanto, proclamando sua adeso deci-
dida a uma escala de valores ticos fundada na prpria
cincia. Em suma, tanto o apelo a instncias ticas trans-
cendentes cincia quanto o recurso s convices pes-
soais dos homens de cincia
9
" no parecem suficientes para
equacionar e fazer avanar em direo a uma soluo sa-
tisfatria o problema das relaes entre o ethos, codifica-
do na tradio ocidental em sistema tico, e o logos da
cincia moderna, problema que se apresenta indiscutivel-
mente como um dos mais urgentes e dramticos da nossa
poca.
9
'
A possibilidade de um caminho que conduza do logos
da cincia a uma forma de ethos situada no prolongamento
da racionalidade cientfica apresenta-se, assim, como a sa-
da dessa grave aporia na qual se encontra nossa civiliza-
o. Partindo do terreno da explicao cientfica, esse ca-
minho deve passar alm das suas fronteiras para terminar
no domnio da reflexo filosfica fundamental, mas de tal
sorte que por ele no possam transitar essas formas to
freqentes de utilizao extracientfica da cincia, por exem-
plo sua utilizao ideolgica. Em outras palavras, ele deve
permitir a passagem para o domnio tico-filosfico do de-
ver-ser das verdades da cincia universalizadas efetivamente
pelo consenso da comunidade cientfica. Dir-se- que tal
88. P. Grass, Toi, ce petit Dieu: essai sur l'histoire naturelle
de l'homme, Paris, A. Michel, 1971, pp. 249-251. .
89. M. Bunge, La investigacin cientfica, Barcelona, Anel, 1969,
pp. 50-54; tica y Ciencia, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1971.
90. Ver as divergncias de opinio de vrios titulares do Pr-
mio Nobel em cincias, ap. E. Poli, H_omo Sapie"!s: metodologia dell'in-
terpretazione naturalistica, Milo, Vlta e Pens1ero, 1972, pp. 338-339.
91 Trata-se em suma da verso moderna desse problema fun-
que, coino se prOcurou ao l?n_g? pg_inas,
acompanha o e as cnses da c1v1hzaao d? OClden-
te como "civilizao da Razao", e que pode ser formulado lgualmen-
te como problema das relaes J;l';lffianismo. e cincia. Ver a
recenso do livro de E. Cantore, SC1enhfzc Man, clt. supra nota 62.
207
Dentre essas instncias transcendentes cincia, con-
vm realar a f crist e a sua interpretao teolgica, pois
foi no espao cultural do Ocidente cristo e a partir do
seu universo simblico que a cincia moderna se originou
e cresceu. A idia de uma "teologia da cincia" tomou-se
um dos temas mais importantes da reflexo teolgica con-
tempornea ss e entre seus captulos mais rduos se apre-
senta, sem dvida, o das relaes entre tica crist e Cin-
cia seja na sua elaborao terica seja, nas suas aplicaes
prticas.
86
No obstante a obra notvel de alguns filso-
fos cristos,
87
seria temerrio afirmar que a inteligncia
teolgica e a explicao cientfica tenham finalmente alcan-
ado o lugar do seu encontro e da sua reconciliao. Como
quer que seja, a busca desse lugar constitui um dos desa-
fios maiores do pensamento teolgico dos nossos dias.
Se, por outro lado, nos voltarmos para os cientistas
que refletem sobre a significao tica da sua cincia, pre-
senciaremos um desacordo tanto mais surpreendente quan-
to unnime o acordo da comunidade cientfica em tomo
dos resultados comprovados da prpria cincia, e que ates-
ta a sua universalidade de jacto. A est um indcio se-
guro de que o problema das relaes entre tica e Cincia,
mesmo formulado no interior da conceptualidade cientfi-
ca, ultrapassa seus limites metodolgicos e penetra no ter-
reno da filosofia. Na verdade, a filosofia, implcita ou
explcita, do cientista que guia as suas opes ticas no
prprio terreno da sua prtica cientfica. Vemos, assim,
o clebre zologo Pierre P. Grass recusar cincia, con-
siderada em si mesma, qualquer ttulo para prescrever a
85. Ver, sobretudo, D. Dubarle, Approches d'une de
la science (Cogitatio fidei, 22),. Paris, Cerf, 1967; o_:; de K.
Rahner reunidos em traduo francesa em Science, evolutzon et pen-
se chrtienne e sobretudo o 2Q volume de J. Ladrire, L'articula-
tion du sens: es' langages de la foi (Cogitatio Fidei 125), Paris, Cerf,
1984.
86. Ver a Constituio Pastoral Gaudium et Spes, n. 36-44, e o
comentrio nitidamente cauteloso, do Lexikon fr Theologie und Kir-
che (LTK)' Das zweite Vatikanische Konzil, III, Herder, 1968, pp.
385-388; 416:418.
87. Ver o livro de J.-F. Malherbe, Le langage thologique
l'ge de la science, op. cit., supra nota 73. Ver ainda G. Thill, La
fte scientifique: d'une praxologie scientifique une analyse de la
dcision chrtienne Paris BRS 1973, e as refiexoes de E. Bon, Der
christliche und die Fragen unserer Zeit, ap. N. Luyten (ed.l
Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung, op. cit., pp. 123-159.
206
1
.
i
conduta moral dos homens. "" Ao invs, o conhecido epis-
temlogo Mrio Bunge exalta fervorosamente os valores
morais nsitos na prpria atividade cientfica e espera da
cincia a soluo dos problemas ticos que at agora de-
safiaram o igualmente notvel a oposio que
divide dois estudiosos da vida, e separa o otimismo de um
Teilhard de Chardin do severo pessimismo de um Jacques
Monod: ambos, no entanto, proclamando sua adeso deci-
dida a uma escala de valores ticos fundada na prpria
cincia. Em suma, tanto o apelo a instncias ticas trans-
cendentes cincia quanto o recurso s convices pes-
soais dos homens de cincia
9
" no parecem suficientes para
equacionar e fazer avanar em direo a uma soluo sa-
tisfatria o problema das relaes entre o ethos, codifica-
do na tradio ocidental em sistema tico, e o logos da
cincia moderna, problema que se apresenta indiscutivel-
mente como um dos mais urgentes e dramticos da nossa
poca.
9
'
A possibilidade de um caminho que conduza do logos
da cincia a uma forma de ethos situada no prolongamento
da racionalidade cientfica apresenta-se, assim, como a sa-
da dessa grave aporia na qual se encontra nossa civiliza-
o. Partindo do terreno da explicao cientfica, esse ca-
minho deve passar alm das suas fronteiras para terminar
no domnio da reflexo filosfica fundamental, mas de tal
sorte que por ele no possam transitar essas formas to
freqentes de utilizao extracientfica da cincia, por exem-
plo sua utilizao ideolgica. Em outras palavras, ele deve
permitir a passagem para o domnio tico-filosfico do de-
ver-ser das verdades da cincia universalizadas efetivamente
pelo consenso da comunidade cientfica. Dir-se- que tal
88. P. Grass, Toi, ce petit Dieu: essai sur l'histoire naturelle
de l'homme, Paris, A. Michel, 1971, pp. 249-251. .
89. M. Bunge, La investigacin cientfica, Barcelona, Anel, 1969,
pp. 50-54; tica y Ciencia, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1971.
90. Ver as divergncias de opinio de vrios titulares do Pr-
mio Nobel em cincias, ap. E. Poli, H_omo Sapie"!s: metodologia dell'in-
terpretazione naturalistica, Milo, Vlta e Pens1ero, 1972, pp. 338-339.
91 Trata-se em suma da verso moderna desse problema fun-
que, coino se prOcurou ao l?n_g? pg_inas,
acompanha o e as cnses da c1v1hzaao d? OClden-
te como "civilizao da Razao", e que pode ser formulado lgualmen-
te como problema das relaes J;l';lffianismo. e cincia. Ver a
recenso do livro de E. Cantore, SC1enhfzc Man, clt. supra nota 62.
207
passagem permanece vedada in limine pela aparentemente
definitiva crtica de Hume
92
ao trnsito lgico do ser ao
dever-ser. Mas se admitirmos que praxis cientfica ine-
rente e intrnseca - tanto ao ato de conhecimento quanto
ao seu objeto - uma dimenso de valor que o seu valor
de verdade, teremos de considerar a separao humiana en-
tre ser e dever-ser como uma fico lgica que no se aplica
:ealidade concreta do saber como ato humano. Traar,
pOis, um caminho da Cincia tica a tarefa que se
apresenta reflexo filosfica contempornea, o que mui-
to diferente e infinitamente mais rduo do que anexar a
cincia a um sistema tico j constitudo. No se trata
evidentemente, de atribuir sem mais s proposies
lgicas da cincia um carter normativo, o que seria logi-
camente inadmissvel. Trata-se de identificar na estrutura
da prtica cientfica uma normatividade imanente e funda-
mental que pode operar como mediao entre a ordem dos
fatos e uma ordem de valores ticos que se descobre a
partir da interao entre o ato e o objeto do conhecimento
cientfico.
93
Essa normatividade se reduz, em suma, ao va-
lor de verdade do conhecimento cientfico que se apresen-
ta . como a motivao mais profunda da atividade de pes-
qwsa, e inveno tcnica, constituindo a praxis
cultural dommante da nossa civilizao. Explicitar essa
ordem de valores ticos e definir atravs deles um ethos
da atividade cientfica que possa ser reconhecido como ti-
ca ou sistema de normas e obrigaes racionalmente inte-
grado ao sistema cientfico-tecnolgico, eis a questo deci-
siva que se coloca no campo das relaes entre tica e
Cincia.
4. O ETHOS DA ATIVIDADE CIENTFICA
Como acima se observou, uma tal questo s pode ser
formulada adequadamente nos termos de uma hermenu-
tica da cientfica situada, por sua vez, nos quadros
conceptua1s de uma hermenutica geral da ao humana,
92. D. Hume, Treatise on Human Nature III 1 1
. 93. Ver J. Ladriere, Les enjeux de la le. dfi de la
sctence et de la technologie aux cultures Paris Aubier-UNESCO 1977
pp. 122-135; 148. ' ' ' '
208
vale dizer, nos quadros de uma filosofia do agir.
9
! Em
que medida e sob que formas a atividade cientfica partici-
pa da natureza constitutivamente axiolgica e da virtude
axiognica da ao humana, referindo-se a um horizonte de
valores fundamentais e nele fazendo surgir uma constela-
o original e prpria de valores? E como definir a deon-
tologia desses valores, ou seja, a sua transcrio em cdigo
tico que venha a reger universalmente a prtica cientfi-
ca?
Essas interrogaes nos colocam, portanto, no interior
de um ncleo de problemas filosficos que vimos constituir-
-se na aurora da nossa civilizao com o advento desse tipo
de hermenutica da ao humana que acabou por denomi-
nar-se justamente cincia tica ou simplesmente tica. u
Vimos igualmente que a estrutura dialtica desse procedi-
mento hermenutica se manifestou como passagem da par-
ticularidade do ethos como costume universalidade de
um logos epistmico dotado de normatividade com relao
ao ethos, seja que esse logos se refira a uma norma trans-
cendente como a Idia platnica, ou a uma norma imanen-
te ao prprio ethos como a hexis aristotlica.
96
Portanto,
o evento decisivo que aqui tem lugar na ordem da inter-
pretao da ao humana a transcrio da ao na lgica
do discurso epistmico e, por conseguinte, a sua interpre-
tao nos termos da dialtica particular-universal que cons-
94. Ver J.-F. Malherbe, Le langage thologique l'ge de la
science, pp. 109-125.
95. Com efeito, parece evidente que nos encontramos aqui em fa-
ce de uma situao histrico-cultural, cuja elucidao filosfica nos re-
conduz a esse estilo de hermenutica da ao humana inaugurado no
Ocidente pelo advento da tica ou pela passagem do ethos tica
(ver supra, cap. li). A estrutura dialtica desse evento hermenu-
tica descobre-se na forma que nele assume a dialtioa do particular-
-universal: da particularidade do ethos histrico do
lagos que se codifica em tica, ou cincia do ethos. A
da situao atual manesta-se no fato de que o parti-
cularidade deve ser atribuido diversidade dos s1stemas tlcos cor-
respondendo diversidade das tradies filosficas, ao pli.Sso que o
momento da universalidade pertence universalidade efetiva do lo-
gos da cincia. O problema se delineia, pois, como passagem da par-
ticularidade dos sistemas ticos (que . se propem como universais
de jure mas no conseguem impor-se como universais de facto) pa-
ra um 'terreno de convergncia onde a universalidade de facto da
cincia possa ser conceptualizada filosoficamente, desde o ponto de
vista de uma normatividade imanente, como universalidade de jure.
96. Ver supra, cap. III, nota 1.
209
passagem permanece vedada in limine pela aparentemente
definitiva crtica de Hume
92
ao trnsito lgico do ser ao
dever-ser. Mas se admitirmos que praxis cientfica ine-
rente e intrnseca - tanto ao ato de conhecimento quanto
ao seu objeto - uma dimenso de valor que o seu valor
de verdade, teremos de considerar a separao humiana en-
tre ser e dever-ser como uma fico lgica que no se aplica
:ealidade concreta do saber como ato humano. Traar,
pOis, um caminho da Cincia tica a tarefa que se
apresenta reflexo filosfica contempornea, o que mui-
to diferente e infinitamente mais rduo do que anexar a
cincia a um sistema tico j constitudo. No se trata
evidentemente, de atribuir sem mais s proposies
lgicas da cincia um carter normativo, o que seria logi-
camente inadmissvel. Trata-se de identificar na estrutura
da prtica cientfica uma normatividade imanente e funda-
mental que pode operar como mediao entre a ordem dos
fatos e uma ordem de valores ticos que se descobre a
partir da interao entre o ato e o objeto do conhecimento
cientfico.
93
Essa normatividade se reduz, em suma, ao va-
lor de verdade do conhecimento cientfico que se apresen-
ta . como a motivao mais profunda da atividade de pes-
qwsa, e inveno tcnica, constituindo a praxis
cultural dommante da nossa civilizao. Explicitar essa
ordem de valores ticos e definir atravs deles um ethos
da atividade cientfica que possa ser reconhecido como ti-
ca ou sistema de normas e obrigaes racionalmente inte-
grado ao sistema cientfico-tecnolgico, eis a questo deci-
siva que se coloca no campo das relaes entre tica e
Cincia.
4. O ETHOS DA ATIVIDADE CIENTFICA
Como acima se observou, uma tal questo s pode ser
formulada adequadamente nos termos de uma hermenu-
tica da cientfica situada, por sua vez, nos quadros
conceptua1s de uma hermenutica geral da ao humana,
92. D. Hume, Treatise on Human Nature III 1 1
. 93. Ver J. Ladriere, Les enjeux de la le. dfi de la
sctence et de la technologie aux cultures Paris Aubier-UNESCO 1977
pp. 122-135; 148. ' ' ' '
208
vale dizer, nos quadros de uma filosofia do agir.
9
! Em
que medida e sob que formas a atividade cientfica partici-
pa da natureza constitutivamente axiolgica e da virtude
axiognica da ao humana, referindo-se a um horizonte de
valores fundamentais e nele fazendo surgir uma constela-
o original e prpria de valores? E como definir a deon-
tologia desses valores, ou seja, a sua transcrio em cdigo
tico que venha a reger universalmente a prtica cientfi-
ca?
Essas interrogaes nos colocam, portanto, no interior
de um ncleo de problemas filosficos que vimos constituir-
-se na aurora da nossa civilizao com o advento desse tipo
de hermenutica da ao humana que acabou por denomi-
nar-se justamente cincia tica ou simplesmente tica. u
Vimos igualmente que a estrutura dialtica desse procedi-
mento hermenutica se manifestou como passagem da par-
ticularidade do ethos como costume universalidade de
um logos epistmico dotado de normatividade com relao
ao ethos, seja que esse logos se refira a uma norma trans-
cendente como a Idia platnica, ou a uma norma imanen-
te ao prprio ethos como a hexis aristotlica.
96
Portanto,
o evento decisivo que aqui tem lugar na ordem da inter-
pretao da ao humana a transcrio da ao na lgica
do discurso epistmico e, por conseguinte, a sua interpre-
tao nos termos da dialtica particular-universal que cons-
94. Ver J.-F. Malherbe, Le langage thologique l'ge de la
science, pp. 109-125.
95. Com efeito, parece evidente que nos encontramos aqui em fa-
ce de uma situao histrico-cultural, cuja elucidao filosfica nos re-
conduz a esse estilo de hermenutica da ao humana inaugurado no
Ocidente pelo advento da tica ou pela passagem do ethos tica
(ver supra, cap. li). A estrutura dialtica desse evento hermenu-
tica descobre-se na forma que nele assume a dialtioa do particular-
-universal: da particularidade do ethos histrico do
lagos que se codifica em tica, ou cincia do ethos. A
da situao atual manesta-se no fato de que o parti-
cularidade deve ser atribuido diversidade dos s1stemas tlcos cor-
respondendo diversidade das tradies filosficas, ao pli.Sso que o
momento da universalidade pertence universalidade efetiva do lo-
gos da cincia. O problema se delineia, pois, como passagem da par-
ticularidade dos sistemas ticos (que . se propem como universais
de jure mas no conseguem impor-se como universais de facto) pa-
ra um 'terreno de convergncia onde a universalidade de facto da
cincia possa ser conceptualizada filosoficamente, desde o ponto de
vista de uma normatividade imanente, como universalidade de jure.
96. Ver supra, cap. III, nota 1.
209
titui a estrutura fundamental da episthme. Nasce assim
a tica e com ela a ao humana passa a orientar-se no
sentido desse eixo central da civilizao da Razo no Oci-
dente - o eixo da sua matriz logocntrica - que aponta
para a universalidade racional como forma privilegiada do
discurso do sentido. Ora, a prpria sucesso dos sistemas
ticos na histria da filosofia ocidental mostra que o desg-
nio de uma tica universal no se cumpriu efetivamente e
que mesmo em torno dos seus fundamentos a discusso
permanece viva.
97
Por outro lado, a partir do advento da
cincia moderna, o logos das cincias da natureza alcanou
uma universalidade de jacto que o torna indiscutivelmente
a forma simblica dominante no nosso universo cultural.
Com efeito, entre todas as formas de cultura, pelo menos
na tradio ocidental (entre elas as linguagens naturais, as
religies, as instituies, a arte ... ) , apenas o logos da cin-
cia desenvolveu historicamente esse tipo de dialtica no
qual, universalidade reconhecida de jure s operaes da
razo (na determinao do seu objeto como idia e do seu
procedimento como demonstrao) corresponde a universa-
lidade de jacto das suas obras (as teorias cientficas e os
objetos tcnicos), que passam a ser olhadas como mani-
festaes de um lagos nico e universal, segundo a profun-
da intuio do Estoicismo. A partir, pois, do momento em
que essas obras da razo se apresentam como o termo de
uma ao que conjuga intrinsecamente teoria e tcnica
( theora, praxis e tchne como os trs momentos dialetica-
mente articulados dos lagos da cincia moderna),
98
a uni-
versalidade de jacto da razo cientfica torna-se cada vez
mais visvel na criao de sistemas tericos e sistemas tc-
nicos que situam e qualificam toda particularidade (natu-
ral ou histrica) no campo da universalidade racional.
99
97. No obstante a difuso, na conscincia coletiva em prati-
camente todas as naes, de temas ticos como os direitos humanos
fundamentais, direitos sociais, direito preservao do meio am-
biente etc ...
98. Ver J. Ladrire, Technique et eschatologie terrestre, ap.
Civilisation technique et Humanisme, Paris, Beauchesne, 1968, pp.
211-243.
99. Essa universalidade de fato consubstancia-se nos sistemas
da produo cientfica do saber que alimentam, por sua vez, o sis-
tema tcnico. Uma documentada e impressionante anlise dessa "so-
ciedade da cincia" encontra-se em R. Kreibich, Die Wissenschaftsge-
sellschaft: von Galilei zur High-Tech Revolution, Frankfurt a. M.,
Suhrkamp, 1986; sobre o "sistema tcnico" ver J. Ellul, Le systeme
210
Retornamos assim, de alguma maneira, aos termos do ques-
tionamento socrtico que deram origem tica ocidental
pois, como bem observou Hans Jonas,
100
os sistemas ticos
tradicionais, como o antigo ethos grego, em face da epis-
thme clssica, situam-se como particularidades historica-
mente limitadas em face da universalidade efetiva da epis-
thme moderna. A novidade da cincia moderna e do tipo
de praxis que dela resulta exigiria a fundao de uma nova
tica.
1111
Esse desideratum pode mesmo ser considerado co-
mo gerador de alguns dos mais poderosos estmulos intelec-
tuais que movem a cultura do nosso tempo.
102
O reverso da medalha representado aqui pela litera-
tura de condenao do chamado imperialismo da razo
cientfico-tcnica. Trata-se de um dos captulos obrigatrios
dessa generalizada crtica da modernidade que faz eco
grande crise do mundo ocidental, dramaticamente visvel a
partir dos fins dos anos 60. As formas dessa crtica des-
dobram-se em vasto leque que vai desde o extremo da
contracultura at o registro da falncia do cientismo.
103
A tecnocincia apresentada justamente como a mais efi-
caz fora destruidora dos thea tradicionais nos quais se
manifesta a originalidade das culturas e a solidez lenta-
mente construda da morada simblica dos indivduos e
grupos. Na tecnocincia deveria ser buscada, pois, a ra_iZ
mais profunda do niilismo tico. Trata-se de uma soluao
radical e extrema a um problema real e urgente: conciliar
technicien, Paris, Calmann-Lvy, 1977. Por outro lado, a universali-
dade de fato da cincia manifesta-se no processo de objetivizao
cientfica que se estende a todos os campos do saber e permite falar
de uma "cincia das religies", uma "cincia da poltica", uma "cin-
cia da sociedade" etc ...
100. Das Prinzip Verantwortung, op. cit., pp. 22-25.
101. Nova tica significa aqui uma tica articulada intrinseca-
mente racionalidade cientfica, retomando-se, de alguma sorte, o
intento de Plato na aurora da civilizao da Razo. Ver o texto
sugestivo de Manfredo A. de Oliveira, "tica e Cincia" in Sntese,
36(1986): 11-29.
102. Ver as comunicaes reunidas em "The Role and Respon-
sability of Moral Philosopher" in Proceedings of the American Ca-
tholic Philosophical Association, LVI (1982)'. Washington, D.C.; Wal-
ter Schulz, Philosophie in der vernderten Welt, Pfllingen, Neske,
1974, pp. 630-840.
103. O movimento da contracultura atingiu seu clmax nos fins
da dcada de 60 sobretudo nos Estados Unidos (T. Roszak). Sinto-
mtico de um estado de crise de civilizao, levantou problemas reais,
mas para cuja soluo no podia oferecer idias consistentes.
211
titui a estrutura fundamental da episthme. Nasce assim
a tica e com ela a ao humana passa a orientar-se no
sentido desse eixo central da civilizao da Razo no Oci-
dente - o eixo da sua matriz logocntrica - que aponta
para a universalidade racional como forma privilegiada do
discurso do sentido. Ora, a prpria sucesso dos sistemas
ticos na histria da filosofia ocidental mostra que o desg-
nio de uma tica universal no se cumpriu efetivamente e
que mesmo em torno dos seus fundamentos a discusso
permanece viva.
97
Por outro lado, a partir do advento da
cincia moderna, o logos das cincias da natureza alcanou
uma universalidade de jacto que o torna indiscutivelmente
a forma simblica dominante no nosso universo cultural.
Com efeito, entre todas as formas de cultura, pelo menos
na tradio ocidental (entre elas as linguagens naturais, as
religies, as instituies, a arte ... ) , apenas o logos da cin-
cia desenvolveu historicamente esse tipo de dialtica no
qual, universalidade reconhecida de jure s operaes da
razo (na determinao do seu objeto como idia e do seu
procedimento como demonstrao) corresponde a universa-
lidade de jacto das suas obras (as teorias cientficas e os
objetos tcnicos), que passam a ser olhadas como mani-
festaes de um lagos nico e universal, segundo a profun-
da intuio do Estoicismo. A partir, pois, do momento em
que essas obras da razo se apresentam como o termo de
uma ao que conjuga intrinsecamente teoria e tcnica
( theora, praxis e tchne como os trs momentos dialetica-
mente articulados dos lagos da cincia moderna),
98
a uni-
versalidade de jacto da razo cientfica torna-se cada vez
mais visvel na criao de sistemas tericos e sistemas tc-
nicos que situam e qualificam toda particularidade (natu-
ral ou histrica) no campo da universalidade racional.
99
97. No obstante a difuso, na conscincia coletiva em prati-
camente todas as naes, de temas ticos como os direitos humanos
fundamentais, direitos sociais, direito preservao do meio am-
biente etc ...
98. Ver J. Ladrire, Technique et eschatologie terrestre, ap.
Civilisation technique et Humanisme, Paris, Beauchesne, 1968, pp.
211-243.
99. Essa universalidade de fato consubstancia-se nos sistemas
da produo cientfica do saber que alimentam, por sua vez, o sis-
tema tcnico. Uma documentada e impressionante anlise dessa "so-
ciedade da cincia" encontra-se em R. Kreibich, Die Wissenschaftsge-
sellschaft: von Galilei zur High-Tech Revolution, Frankfurt a. M.,
Suhrkamp, 1986; sobre o "sistema tcnico" ver J. Ellul, Le systeme
210
Retornamos assim, de alguma maneira, aos termos do ques-
tionamento socrtico que deram origem tica ocidental
pois, como bem observou Hans Jonas,
100
os sistemas ticos
tradicionais, como o antigo ethos grego, em face da epis-
thme clssica, situam-se como particularidades historica-
mente limitadas em face da universalidade efetiva da epis-
thme moderna. A novidade da cincia moderna e do tipo
de praxis que dela resulta exigiria a fundao de uma nova
tica.
1111
Esse desideratum pode mesmo ser considerado co-
mo gerador de alguns dos mais poderosos estmulos intelec-
tuais que movem a cultura do nosso tempo.
102
O reverso da medalha representado aqui pela litera-
tura de condenao do chamado imperialismo da razo
cientfico-tcnica. Trata-se de um dos captulos obrigatrios
dessa generalizada crtica da modernidade que faz eco
grande crise do mundo ocidental, dramaticamente visvel a
partir dos fins dos anos 60. As formas dessa crtica des-
dobram-se em vasto leque que vai desde o extremo da
contracultura at o registro da falncia do cientismo.
103
A tecnocincia apresentada justamente como a mais efi-
caz fora destruidora dos thea tradicionais nos quais se
manifesta a originalidade das culturas e a solidez lenta-
mente construda da morada simblica dos indivduos e
grupos. Na tecnocincia deveria ser buscada, pois, a ra_iZ
mais profunda do niilismo tico. Trata-se de uma soluao
radical e extrema a um problema real e urgente: conciliar
technicien, Paris, Calmann-Lvy, 1977. Por outro lado, a universali-
dade de fato da cincia manifesta-se no processo de objetivizao
cientfica que se estende a todos os campos do saber e permite falar
de uma "cincia das religies", uma "cincia da poltica", uma "cin-
cia da sociedade" etc ...
100. Das Prinzip Verantwortung, op. cit., pp. 22-25.
101. Nova tica significa aqui uma tica articulada intrinseca-
mente racionalidade cientfica, retomando-se, de alguma sorte, o
intento de Plato na aurora da civilizao da Razo. Ver o texto
sugestivo de Manfredo A. de Oliveira, "tica e Cincia" in Sntese,
36(1986): 11-29.
102. Ver as comunicaes reunidas em "The Role and Respon-
sability of Moral Philosopher" in Proceedings of the American Ca-
tholic Philosophical Association, LVI (1982)'. Washington, D.C.; Wal-
ter Schulz, Philosophie in der vernderten Welt, Pfllingen, Neske,
1974, pp. 630-840.
103. O movimento da contracultura atingiu seu clmax nos fins
da dcada de 60 sobretudo nos Estados Unidos (T. Roszak). Sinto-
mtico de um estado de crise de civilizao, levantou problemas reais,
mas para cuja soluo no podia oferecer idias consistentes.
211
o universal da razo cientfica e o particular das vrias tra-
dies culturais, no somente no campo terico de uma fi-
losofia da cultura, mas igualmente no campo prtico de
uma poltica cultural.
104
Como quer que seja, se admitirmos ser a tecnocincia
a manifestao mais evidente e mais eficaz da razo em
ato - da sua universalidade em processo de devir his-
trico -, teremos de reconhecer sua significao humanis-
ta ou humanizante,
105
a menos que renunciemos ao prprio
fundamento do humanismo ocidental que define o homem
como portador do logos.
106
E se a tica no mais do
que a tentativa de transposio do ethos no espao do logos
formalmente universal, que o logos epistmico, uma tica
formulada segundo as exigncias do logos efetivamente uni-
versal, que o logos da tecnocincia, aparece como uma
necessidade a um tempo terica e histrica. No momento
em que a civilizao da Razo cumpre vinte e cinco sculos
de uma experincia histrica aparentemente irreversvel,
podemos afirmar, sem hesitao, que nenhuma tica pode-
r pretender reger a prtica cientfica se no se articular
intrinsecamente prpria estrutura da cincia. Essa inde-
lvel marca socrtica no destino do logos ocidental no im-
plica necessariamente a retomada do audaz projeto plat-
nico de uma segunda criao do homem na cidade ideal
luz do lgos e sob a regncia incorruptvel dos Sbios.
1
0
7
No obstante, preciso reconhecer a justeza da intuio
fundamental que est na base da ontologia platnica do
104. Ver D. Dubarle, Totalisation terrestre et devenir humain,
art. cit., aqui pp. 543-545; id. Macht und Verantwortung der moder-
nen Wissenschajten, art. cit., sobretudo a discusso subseqente pp.
85-96. '
105. Ver a sntese das concluses sobre o tema "Humanismo e
Cincia" proposta por E. Cantore, Scientijic Man, op. cit., pp. 390-
-445 e infra, Anexo V.
106. Essa renncia pode manifestar-se, como em certas corren-
tes irracionalistas, sob a forma de uma denncia radical da cincia e
da tcnica, imputando-lhes um carter demonaco consagrdo pela
fabulao faustiana. Sobre esta, ver o livro extremamente documenta-
do de A. Dabezies, Visages du Faust au XXeme Sicle: littrature,
idologie et mythes, Paris, PUF, 1967.
107. A utopia ou o mito da "cidade ideal" (que no correspon-
de ao projeto histrico de Plato, ver supra, cap. 11, nota 64) colo-
cando-se sob a gide do platonismo, permanece ao longo do desen-
volvimento da civilizao do lagos como um dos seus motivos pode-
rosos e sempre renascentes. Ver R. Mucchielli, Le mythe de la cit
idale, Paris, PUF, 1960, sobretudo pp, 173-248.
212
Bem: somente um ethos intrinsecamente racional e, por
conseguinte, capaz de submeter-se s condies de demons-
tratividade prprias dos objetos da razo e gozando, assim,
de uma universalidade efetiva, ser capaz de atender aos
imperativos morais de uma civilizao do logos.
As relaes desse ethos da atividade cientfica com ou-
tras instncias ticas que subsistem e reafirmam sua va-
lidez no mundo de cultura dominado pela tecnocincia (por
exemplo, as instncias ticas de inspirao religiosa e, par-
ticularmente, a moral crist), formam um ncleo de pro-
blemas reconhecidamente complexos e difceis, freqente-
mente obscurecidos por polmicas confusas e por utiliza-
es ideolgicas simplistas da cincia, seja por parte dos
prprios cientistas, seja por parte de idelogos polticos,
religiosos etc. . . Talvez mesmo a discusso desses proble-
mas se apresente prematura enquanto no se desenvolver
suficientemente, na sua expresso terica e nas suas apli-
caes prticas, um ethos da atividade cientfica reconhe-
cido e vivido como tal.
O que nos cabe fazer inicialmente tentar definir al-
guns dos pontos segundo os quais se dever traar a linha,
a um tempo epistemolgica e operacional desse ethos da
atividade cientfica. Desde j parece possvel assinalar trs
desses pontos. So pontos de referncia tica da atividade
cientfica, seja considerada em si mesma, seja nos seus efei-
tos sobre a cultura em geral e, em particular, sobre a es-
fera social e poltica.
a) O ethos da atividade cientfica como ethos
pedaggico
A atividade cientfica , reconhecidamente, um exerccio
efetivo de formao de um determinado estilo
108
de com-
preenso do mundo e da sociedade. Assim sendo, todas as
suas manifestaes (enumeremos, por exemplo, o aprendi-
zado escolar da cincia, a formao em nvel superior, a
formao de pesquisadores, a atividade de pesquisa e a
constituio e funcionamento da comunidade dos pesqui-
108. Sobre a definio de "estilo", tendo em vista justamente
as condies de insero de estruturas gerais na individualidade da
prxis (em particular, da prxis cientfica), ver G. G. Granger, Essai
d'une philosophie du style, Paris, A. Colin, 1968.
213
o universal da razo cientfica e o particular das vrias tra-
dies culturais, no somente no campo terico de uma fi-
losofia da cultura, mas igualmente no campo prtico de
uma poltica cultural.
104
Como quer que seja, se admitirmos ser a tecnocincia
a manifestao mais evidente e mais eficaz da razo em
ato - da sua universalidade em processo de devir his-
trico -, teremos de reconhecer sua significao humanis-
ta ou humanizante,
105
a menos que renunciemos ao prprio
fundamento do humanismo ocidental que define o homem
como portador do logos.
106
E se a tica no mais do
que a tentativa de transposio do ethos no espao do logos
formalmente universal, que o logos epistmico, uma tica
formulada segundo as exigncias do logos efetivamente uni-
versal, que o logos da tecnocincia, aparece como uma
necessidade a um tempo terica e histrica. No momento
em que a civilizao da Razo cumpre vinte e cinco sculos
de uma experincia histrica aparentemente irreversvel,
podemos afirmar, sem hesitao, que nenhuma tica pode-
r pretender reger a prtica cientfica se no se articular
intrinsecamente prpria estrutura da cincia. Essa inde-
lvel marca socrtica no destino do logos ocidental no im-
plica necessariamente a retomada do audaz projeto plat-
nico de uma segunda criao do homem na cidade ideal
luz do lgos e sob a regncia incorruptvel dos Sbios.
1
0
7
No obstante, preciso reconhecer a justeza da intuio
fundamental que est na base da ontologia platnica do
104. Ver D. Dubarle, Totalisation terrestre et devenir humain,
art. cit., aqui pp. 543-545; id. Macht und Verantwortung der moder-
nen Wissenschajten, art. cit., sobretudo a discusso subseqente pp.
85-96. '
105. Ver a sntese das concluses sobre o tema "Humanismo e
Cincia" proposta por E. Cantore, Scientijic Man, op. cit., pp. 390-
-445 e infra, Anexo V.
106. Essa renncia pode manifestar-se, como em certas corren-
tes irracionalistas, sob a forma de uma denncia radical da cincia e
da tcnica, imputando-lhes um carter demonaco consagrdo pela
fabulao faustiana. Sobre esta, ver o livro extremamente documenta-
do de A. Dabezies, Visages du Faust au XXeme Sicle: littrature,
idologie et mythes, Paris, PUF, 1967.
107. A utopia ou o mito da "cidade ideal" (que no correspon-
de ao projeto histrico de Plato, ver supra, cap. 11, nota 64) colo-
cando-se sob a gide do platonismo, permanece ao longo do desen-
volvimento da civilizao do lagos como um dos seus motivos pode-
rosos e sempre renascentes. Ver R. Mucchielli, Le mythe de la cit
idale, Paris, PUF, 1960, sobretudo pp, 173-248.
212
Bem: somente um ethos intrinsecamente racional e, por
conseguinte, capaz de submeter-se s condies de demons-
tratividade prprias dos objetos da razo e gozando, assim,
de uma universalidade efetiva, ser capaz de atender aos
imperativos morais de uma civilizao do logos.
As relaes desse ethos da atividade cientfica com ou-
tras instncias ticas que subsistem e reafirmam sua va-
lidez no mundo de cultura dominado pela tecnocincia (por
exemplo, as instncias ticas de inspirao religiosa e, par-
ticularmente, a moral crist), formam um ncleo de pro-
blemas reconhecidamente complexos e difceis, freqente-
mente obscurecidos por polmicas confusas e por utiliza-
es ideolgicas simplistas da cincia, seja por parte dos
prprios cientistas, seja por parte de idelogos polticos,
religiosos etc. . . Talvez mesmo a discusso desses proble-
mas se apresente prematura enquanto no se desenvolver
suficientemente, na sua expresso terica e nas suas apli-
caes prticas, um ethos da atividade cientfica reconhe-
cido e vivido como tal.
O que nos cabe fazer inicialmente tentar definir al-
guns dos pontos segundo os quais se dever traar a linha,
a um tempo epistemolgica e operacional desse ethos da
atividade cientfica. Desde j parece possvel assinalar trs
desses pontos. So pontos de referncia tica da atividade
cientfica, seja considerada em si mesma, seja nos seus efei-
tos sobre a cultura em geral e, em particular, sobre a es-
fera social e poltica.
a) O ethos da atividade cientfica como ethos
pedaggico
A atividade cientfica , reconhecidamente, um exerccio
efetivo de formao de um determinado estilo
108
de com-
preenso do mundo e da sociedade. Assim sendo, todas as
suas manifestaes (enumeremos, por exemplo, o aprendi-
zado escolar da cincia, a formao em nvel superior, a
formao de pesquisadores, a atividade de pesquisa e a
constituio e funcionamento da comunidade dos pesqui-
108. Sobre a definio de "estilo", tendo em vista justamente
as condies de insero de estruturas gerais na individualidade da
prxis (em particular, da prxis cientfica), ver G. G. Granger, Essai
d'une philosophie du style, Paris, A. Colin, 1968.
213
sadores, o uso dos objetos tcnicos, as tarefas mltiplas
dos brain trusts cientficos, enfim, a vulgarizao cientfica
nos seus diversos nveis),
109
acabam por determinar, em
medida maior ou menor, o comportamento e a escala de
valores dos indivduos que se situam no raio dessa esfera
de atividade extraordinariamente multiforme e em rpida
expanso. De resto, no parece excessivo afirmar que toda
a humanidade atual acabou sendo abrangida por essa es-
fera, sem dvida mais real e determinante para a sua exis-
tncia e para o seu destino do que o espao fsico que
a envolve.
110
Pela primeira vez, uma forma de cultura -
a cultura cientfica - torna-se efetivamente universal na
sua estrutura formal e nas obras que produz. O projeto
de uma educao universal, segundo a intuio grandiosa
de Augusto Comte,
111
torna-se possvel. Ora, toda atividade
educativa essencialmente uma atividade tica no sentido
de que a cultura como formao (Bildung) coextensiva
ao ethos e, como fruto da educao, ela no somente for-
ma de conhecimento, mas tambm forma de vida. Essa a
experincia fundadora na qual repousa a tradio pedag-
gica do Ocidente e que alimenta a idia grega do bos theo-
retiks. Como processo de educao universal, a cincia
indiscutivelmente plasmadora de um ethos universal que
necessrio definir nos seus traos originais e integrar nos
ethoi constitudos das sociedades e das culturas histricas.
Por outro lado, dadas as caractersticas do mtodo cientfi-
co,
112
no difcil compreender o formidvel impacto peda-
ggico que a cincia exerce hoje sobre os homens, e sobre
cujo alcance tico necessrio refletir. A cincia , fundamen-
talmente, educao para a verdade, para esse tipo de verdade
109. Ver o sugestivo artigo de A. Georges, "Pour une vulgari-
sation service de la science" in Recherches et Dbats, 12 (1955): pp.
34-43.
110. Pela primeira vez toma-se tangvel na histria e, de algu-
ma maneira, mensurvel, a densidade desse tecido quase orgnico li-
gado evoluo biolgica da espcie humana que E. Le Roy e Tei-
lhard de Chardin denominaram Noosfera e do qual a pesquisa cien-
tfica a manifestao mais evidente. Ver Neil P. Hurley, "The first
decade of Nosphere" in America, 19-8-1967, pp. 171-173.
111. Ver P. Arbousse-Bastide, La doctrine de Z'ducation univer-
selle dans la philosophie d'Auguste Comte, Paris, PUF, 1957.
112. conveniente distinguir entre as discusses tericas em
tomo da natureza do mtodo cientfico de um lado e a prtica do
mesmo mtodo e sua eficcia cognoscitiva, como se d no ensino e
na pesquisa.
214
que se alcana no respeito coerncia do pc;mto de lgi-
co e na submisso aos fatos do ponto de vista expenmental.
A verdade como valor ou como bem e .
virtude: essa a primeira lio da pedagogia etlca da Ciencm,
de enorme importncia para que a inteligncia prtica do
indivduo possa estender-se a outros campos guardando as
virtudes da coerncia e da objetividade, que so as virtudes
fundamentais do indivduo que aceita viver segundo a Ra-
zo: do indivduo que , por definio, o sujeito
de uma tica. Assim, a cincia pode apresentar-se histori-
camente como uma matriz pedaggica privilegiada de su-
jeitos ticos, e talvez aqui que tica e Cincia encontra-
ro o terreno da sua vinculao mais profunda.
113
Outros aspectos da atividade cientfica apresentam, na
sua vertente pedaggica, uma dimenso tica cuja impor-
tncia no lcito desconhecer. O primeiro o da ativida-
de cientfica como criao.
114
H aqui um extraordinrio
apelo liberdade crtica em face da tirania da rotina
no pode deixar de repercutir poderosamente na formaao
do senso de responsabilidade tica. O outro aspecto o
da atividade cientfica como jogo - um extraordinrio jogo
entre o homem e a natureza. Se refletirmos sobre a essen-
cial funo educadora e humanizadora que o jogo desem-
penhou na histria da cultura,
115
no difcil reconhecer
que a normatividade ldica inerente a essa atividade a um
tempo gratuita e rigorosamente regrada desempenhou um
papel decisivo nessa obra pedaggica do jogo.
te nesse aspecto da normatividade ldica que se mamfesta
uma profunda analogia entre o jogo e a cincia, sendo a
cincia um desafio permanentemente renovado ao homem
pela natureza, fonte de enigmas, mas que no ser
vencido seno atravs da submisso a um complexo sistema
de regras, constituindo assim uma experincia privilegiada
- tal como o jogo - da sntese entre a liberdade e a nor-
ma, na qual se reconhece a essncia da atividade tica.
113. Ver, a propsito, as reflexes ;;ugestivas Cludio
que toma como referncia a interpretaao heideggenana da tcnica.
"La tecnica e il destino dell'Occidente" in IZ Nuovo Areopago, an. 6,
n. 2 (22), estate 1987, pp. 128-146. . .
114. Sobre a significao da atual filoso-
fia das cincias, ver A. Moles, A cnaao Sao Paulo, Pers-
Pectiva 1971 e o captulo de E. Cantore, Man, pp. 21-69.
115'. coino mostrou J. Huizinga na sua obra clssica, Homq
dens, So Paulo, Perspectiva, 1971. Sobre o problema da ciencm
215
sadores, o uso dos objetos tcnicos, as tarefas mltiplas
dos brain trusts cientficos, enfim, a vulgarizao cientfica
nos seus diversos nveis),
109
acabam por determinar, em
medida maior ou menor, o comportamento e a escala de
valores dos indivduos que se situam no raio dessa esfera
de atividade extraordinariamente multiforme e em rpida
expanso. De resto, no parece excessivo afirmar que toda
a humanidade atual acabou sendo abrangida por essa es-
fera, sem dvida mais real e determinante para a sua exis-
tncia e para o seu destino do que o espao fsico que
a envolve.
110
Pela primeira vez, uma forma de cultura -
a cultura cientfica - torna-se efetivamente universal na
sua estrutura formal e nas obras que produz. O projeto
de uma educao universal, segundo a intuio grandiosa
de Augusto Comte,
111
torna-se possvel. Ora, toda atividade
educativa essencialmente uma atividade tica no sentido
de que a cultura como formao (Bildung) coextensiva
ao ethos e, como fruto da educao, ela no somente for-
ma de conhecimento, mas tambm forma de vida. Essa a
experincia fundadora na qual repousa a tradio pedag-
gica do Ocidente e que alimenta a idia grega do bos theo-
retiks. Como processo de educao universal, a cincia
indiscutivelmente plasmadora de um ethos universal que
necessrio definir nos seus traos originais e integrar nos
ethoi constitudos das sociedades e das culturas histricas.
Por outro lado, dadas as caractersticas do mtodo cientfi-
co,
112
no difcil compreender o formidvel impacto peda-
ggico que a cincia exerce hoje sobre os homens, e sobre
cujo alcance tico necessrio refletir. A cincia , fundamen-
talmente, educao para a verdade, para esse tipo de verdade
109. Ver o sugestivo artigo de A. Georges, "Pour une vulgari-
sation service de la science" in Recherches et Dbats, 12 (1955): pp.
34-43.
110. Pela primeira vez toma-se tangvel na histria e, de algu-
ma maneira, mensurvel, a densidade desse tecido quase orgnico li-
gado evoluo biolgica da espcie humana que E. Le Roy e Tei-
lhard de Chardin denominaram Noosfera e do qual a pesquisa cien-
tfica a manifestao mais evidente. Ver Neil P. Hurley, "The first
decade of Nosphere" in America, 19-8-1967, pp. 171-173.
111. Ver P. Arbousse-Bastide, La doctrine de Z'ducation univer-
selle dans la philosophie d'Auguste Comte, Paris, PUF, 1957.
112. conveniente distinguir entre as discusses tericas em
tomo da natureza do mtodo cientfico de um lado e a prtica do
mesmo mtodo e sua eficcia cognoscitiva, como se d no ensino e
na pesquisa.
214
que se alcana no respeito coerncia do pc;mto de lgi-
co e na submisso aos fatos do ponto de vista expenmental.
A verdade como valor ou como bem e .
virtude: essa a primeira lio da pedagogia etlca da Ciencm,
de enorme importncia para que a inteligncia prtica do
indivduo possa estender-se a outros campos guardando as
virtudes da coerncia e da objetividade, que so as virtudes
fundamentais do indivduo que aceita viver segundo a Ra-
zo: do indivduo que , por definio, o sujeito
de uma tica. Assim, a cincia pode apresentar-se histori-
camente como uma matriz pedaggica privilegiada de su-
jeitos ticos, e talvez aqui que tica e Cincia encontra-
ro o terreno da sua vinculao mais profunda.
113
Outros aspectos da atividade cientfica apresentam, na
sua vertente pedaggica, uma dimenso tica cuja impor-
tncia no lcito desconhecer. O primeiro o da ativida-
de cientfica como criao.
114
H aqui um extraordinrio
apelo liberdade crtica em face da tirania da rotina
no pode deixar de repercutir poderosamente na formaao
do senso de responsabilidade tica. O outro aspecto o
da atividade cientfica como jogo - um extraordinrio jogo
entre o homem e a natureza. Se refletirmos sobre a essen-
cial funo educadora e humanizadora que o jogo desem-
penhou na histria da cultura,
115
no difcil reconhecer
que a normatividade ldica inerente a essa atividade a um
tempo gratuita e rigorosamente regrada desempenhou um
papel decisivo nessa obra pedaggica do jogo.
te nesse aspecto da normatividade ldica que se mamfesta
uma profunda analogia entre o jogo e a cincia, sendo a
cincia um desafio permanentemente renovado ao homem
pela natureza, fonte de enigmas, mas que no ser
vencido seno atravs da submisso a um complexo sistema
de regras, constituindo assim uma experincia privilegiada
- tal como o jogo - da sntese entre a liberdade e a nor-
ma, na qual se reconhece a essncia da atividade tica.
113. Ver, a propsito, as reflexes ;;ugestivas Cludio
que toma como referncia a interpretaao heideggenana da tcnica.
"La tecnica e il destino dell'Occidente" in IZ Nuovo Areopago, an. 6,
n. 2 (22), estate 1987, pp. 128-146. . .
114. Sobre a significao da atual filoso-
fia das cincias, ver A. Moles, A cnaao Sao Paulo, Pers-
Pectiva 1971 e o captulo de E. Cantore, Man, pp. 21-69.
115'. coino mostrou J. Huizinga na sua obra clssica, Homq
dens, So Paulo, Perspectiva, 1971. Sobre o problema da ciencm
215
b) O ethos da atividade cientfica como ethos
praxeolgico
Vimos anteriormente
116
que o desafio maior enfrentado
pela cultura grega no momento em que passou a ser ca-
racteristicamente uma cultura do lagos epistmico foi o de
formular uma lgica da ao, que viria a constituir a estru-
tura formal de uma cincia do ethos. Como operar uma
transposio - ou uma reorientao - da razo implcita
no ethos espontneo da conduta humana para a razo expl-
cita e ordenada do conhecimento cientfico? Eis a inter-
rogao que a cultura do Ocidente se coloca h vinte e
cinco sculos e que d origem j longa sucesso dos sis-
temas ticos. Ora, claro que a relao se estabelece aqui
entre duas ordens de atividade. O ethos como costume se
atualiza em hbitos ou em estilos de agir que se constituem
como tais exatamente na medida em que se submetem a
uma estrutura normativa. Por sua vez, o conhecimento
cientfico , por definio, um tipo de atividade rigorosa-
mente metdica, ou seja, conduzida por estritas normas de
procedimento. A norma tica tem uma relao unvoca
(Plato) ou, ao menos analgica (Aristteles) com a norma
cientfica?
A tica parte de uma resposta afirmativa - num sen-
tido ou noutro - a essa pergunta. Nesse sentido a tica
e a Cincia so, fundamentalmente, praxeologias e tem o
seu lugar epistemolgico numa teoria geral da ao. A pra-
xeologia geral desenvolveu-se rapidamente nos ltimos anos
e caminhou sobretudo para especializar-se como disciplina
lgica, abrangendo notadamente a lgica das normas, ou
dentica, a lgica dos valores e a lgica das decises.
111
Mas uma teoria geral da ao desemboca necessariamente
como jogo ver a interessante exposio do bilogo Hansjrgen Stau-
dinger Wissenschaft ein Spiel?, ap. N. Luyten (ed.) Wissenschaft und
geseUschaftliche Verantwortung, op. cit., pp. 13-37 (c. Bibl.). Sobre
prxis e jogo, ver, por outro lado, as observaes de R. Bubne:r:, Hand-
lung, Sprache, Vernuntt, op. cit., pp. 83-8_7, a
essencial entre as duas atividades, em razao do fmalismo mtnnseco
prxis.
116. Ver supra, cap. li, nota 1.
117. Uma primeira, mas completa, informao a respeito dada
por G. Kalinowski, La Logique des Normes (col. SUP), Paris, PUF,
19'72; igualmente N. Rescher, Introduction to Value Theory, Nova
Jrsei, Prentice Hall, 1969.
216
em campo filosfico e recoloca a em novas perspectivas o
problema das relaes entre Cincia e tica, entendidas am-
bas como formas de atividade que manifestam uma estru-
tura praxeolgica especfica.
118
Por outro lado, o predomnio da perspectiva sociol-
gica ou analtico-lingstica na teoria da ao pode consti-
tuir um obstculo para que se encontrem, em nvel pro-
priamente filosfico,
119
ou seja, de um conceito compreen-
sivo da ao, a atividade tica e a atividade cientfica. Ora,
nesse nvel, a distino aristotlica entre praxis como rea-
lizao e poesis como produo parece ter atingido uma
articulao fundamental da estrutura geral da ao,
120
e as
tentativas de abolir essa distino que acompanham as con-
cepes modernas da ao
121
acabaram enredando-se em
problemas aparentemente insolveis. Se esta distino de-
ve ser mantida e se a atividade tica essencialmente uma
praxis ou realizao do sujeito, e no uma poesis ou pro-
duo de um objeto, sua analogia com a atividade cientfi-
ca torna-se mais complexa pois, como acima se observou,
a originalidade epistemolgica e praxeolgica da cincia
moderna consiste justamente na articulao entre os trs
momentos da theora, da praxis e da poesis numa ativida-
de de conhecimento que contemplao e produo do seu
objeto. O ethos da atividade cientfica como ethos praxeo-
lgico dever assim ser pensado na perspectiva de uma pri-
mazia da praxis ou da atividade cientfica como realizao,
subordinando a seus fins, que so fins propriamente ticos
(dada a coextensividade entre ethos e praxis), o momento
da produo, seja entendido como momento integrante da
forma do conhecimento cientfico (construo do objeto
segundo relaes matemticas abstratas), seja entendido
como resultado desse conhecimento na formao do uni-
118. A praxeologia como disciplina lgica (recorrendo, inclusi-
ve, s tcnicas do computador), permanece no nvel abstrato do pro-
cedimento da tecnocincia. Ver D. Dubarle, Macht und Verantwor-
tung der modernen Wissenschaften, ap. N. Luyten (org.), Wissenschaft
und gesellschaftliche Verantwortung, op. cit., aqui pp. 55-59.
119. Ver R. Bubner, Handlung, Sprache, Vernuntt, op. cit., pp.
16-60.
120. Segundo R. Bubner (op. cit., pp. 66-90), o conceito mo-
demo de praxeologia oblitera, justamente, essa distino fundamen-
tal entre praxis e produo.
121. Ver a sntese histrica da evoluo do problema teoria-
-prxis in M. Riedel, Theorie und Praxis im Denken Hegels, Stuttgart,
Kohlhammer, 1965, pp. 228-230.
217
b) O ethos da atividade cientfica como ethos
praxeolgico
Vimos anteriormente
116
que o desafio maior enfrentado
pela cultura grega no momento em que passou a ser ca-
racteristicamente uma cultura do lagos epistmico foi o de
formular uma lgica da ao, que viria a constituir a estru-
tura formal de uma cincia do ethos. Como operar uma
transposio - ou uma reorientao - da razo implcita
no ethos espontneo da conduta humana para a razo expl-
cita e ordenada do conhecimento cientfico? Eis a inter-
rogao que a cultura do Ocidente se coloca h vinte e
cinco sculos e que d origem j longa sucesso dos sis-
temas ticos. Ora, claro que a relao se estabelece aqui
entre duas ordens de atividade. O ethos como costume se
atualiza em hbitos ou em estilos de agir que se constituem
como tais exatamente na medida em que se submetem a
uma estrutura normativa. Por sua vez, o conhecimento
cientfico , por definio, um tipo de atividade rigorosa-
mente metdica, ou seja, conduzida por estritas normas de
procedimento. A norma tica tem uma relao unvoca
(Plato) ou, ao menos analgica (Aristteles) com a norma
cientfica?
A tica parte de uma resposta afirmativa - num sen-
tido ou noutro - a essa pergunta. Nesse sentido a tica
e a Cincia so, fundamentalmente, praxeologias e tem o
seu lugar epistemolgico numa teoria geral da ao. A pra-
xeologia geral desenvolveu-se rapidamente nos ltimos anos
e caminhou sobretudo para especializar-se como disciplina
lgica, abrangendo notadamente a lgica das normas, ou
dentica, a lgica dos valores e a lgica das decises.
111
Mas uma teoria geral da ao desemboca necessariamente
como jogo ver a interessante exposio do bilogo Hansjrgen Stau-
dinger Wissenschaft ein Spiel?, ap. N. Luyten (ed.) Wissenschaft und
geseUschaftliche Verantwortung, op. cit., pp. 13-37 (c. Bibl.). Sobre
prxis e jogo, ver, por outro lado, as observaes de R. Bubne:r:, Hand-
lung, Sprache, Vernuntt, op. cit., pp. 83-8_7, a
essencial entre as duas atividades, em razao do fmalismo mtnnseco
prxis.
116. Ver supra, cap. li, nota 1.
117. Uma primeira, mas completa, informao a respeito dada
por G. Kalinowski, La Logique des Normes (col. SUP), Paris, PUF,
19'72; igualmente N. Rescher, Introduction to Value Theory, Nova
Jrsei, Prentice Hall, 1969.
216
em campo filosfico e recoloca a em novas perspectivas o
problema das relaes entre Cincia e tica, entendidas am-
bas como formas de atividade que manifestam uma estru-
tura praxeolgica especfica.
118
Por outro lado, o predomnio da perspectiva sociol-
gica ou analtico-lingstica na teoria da ao pode consti-
tuir um obstculo para que se encontrem, em nvel pro-
priamente filosfico,
119
ou seja, de um conceito compreen-
sivo da ao, a atividade tica e a atividade cientfica. Ora,
nesse nvel, a distino aristotlica entre praxis como rea-
lizao e poesis como produo parece ter atingido uma
articulao fundamental da estrutura geral da ao,
120
e as
tentativas de abolir essa distino que acompanham as con-
cepes modernas da ao
121
acabaram enredando-se em
problemas aparentemente insolveis. Se esta distino de-
ve ser mantida e se a atividade tica essencialmente uma
praxis ou realizao do sujeito, e no uma poesis ou pro-
duo de um objeto, sua analogia com a atividade cientfi-
ca torna-se mais complexa pois, como acima se observou,
a originalidade epistemolgica e praxeolgica da cincia
moderna consiste justamente na articulao entre os trs
momentos da theora, da praxis e da poesis numa ativida-
de de conhecimento que contemplao e produo do seu
objeto. O ethos da atividade cientfica como ethos praxeo-
lgico dever assim ser pensado na perspectiva de uma pri-
mazia da praxis ou da atividade cientfica como realizao,
subordinando a seus fins, que so fins propriamente ticos
(dada a coextensividade entre ethos e praxis), o momento
da produo, seja entendido como momento integrante da
forma do conhecimento cientfico (construo do objeto
segundo relaes matemticas abstratas), seja entendido
como resultado desse conhecimento na formao do uni-
118. A praxeologia como disciplina lgica (recorrendo, inclusi-
ve, s tcnicas do computador), permanece no nvel abstrato do pro-
cedimento da tecnocincia. Ver D. Dubarle, Macht und Verantwor-
tung der modernen Wissenschaften, ap. N. Luyten (org.), Wissenschaft
und gesellschaftliche Verantwortung, op. cit., aqui pp. 55-59.
119. Ver R. Bubner, Handlung, Sprache, Vernuntt, op. cit., pp.
16-60.
120. Segundo R. Bubner (op. cit., pp. 66-90), o conceito mo-
demo de praxeologia oblitera, justamente, essa distino fundamen-
tal entre praxis e produo.
121. Ver a sntese histrica da evoluo do problema teoria-
-prxis in M. Riedel, Theorie und Praxis im Denken Hegels, Stuttgart,
Kohlhammer, 1965, pp. 228-230.
217
verso dos objetos tcnicos. Em outras palavras, o fim da
atividade cientfica enquanto praxis cognoscitiva, que no
outro seno a verdade como valor ou como bem, impo-
ria a essa atividade, no desdobramento de todos os seus
momentos, suas exigncias ticas que brotam fundamental
mente da essencial destinao do homem como portador
do logos para o bem prprio do logos que a verdade.
Reencontramos, assim, o problema das relaes entre hu-
manismo e cincia, problema que se formula e se resolve
exatamente no terreno do ethos prprio da atividade cien-
tfica.
122
c) O ethos da atividade cientfica e as cincias
do homem
Sendo o ethos coextensivo cultura como vimos no
incio do captulo II, e sendo o homem, por definio, um
ser cultural, a relao entre o ethos e essa forma dominan-
te de cultura do homem moderno que a atividade cien-
tfica no pode deixar de constituir um problema funda-
mental para as chamadas cincias do homem, que so, num
sentido amplo, cincias da cultura. Com efeito, entre os
traos distintivos do mundo moderno, inscrevem-se justa-
mente essas complexas relaes, histricas e tericas, entre
o ethos e o . logos da cincia que aqui estamos tentando
analisar.
A medida que as cincias do homem se desenvolvem
e adquirem sua especificidade epistemolgica e sua autono-
mia metodolgica, o problema de um ethos inerente ati-
vidade cientfica passa a formular-se no s com relao
s cincias da natureza, mas tambm com relao s cin-
cias do homem. um ethos que pode ser denominado
especificamente antropolgico na medida em que o logos
da cincia faz do prprio homem o seu objeto. o prop-
sito da tica justamente o de dirigir a praxis atravs de
um saber ou de um logos que seja normativo para o seu
exerccio. Neste sentido a tica, como cincia normativa
da praxis , eminentemente, cincia do homem. Um saber
122. Sobre a cincia como prxis ver o texto de W. Kluxen "V-
rit et praxis de la Science" in Recherches et Dbats, 75 (1972): '73-88
e a discusso, pp. 89-94; F. Russo, La science comme action et ar-
tfice, ibidem, pp. 95-105.
218
tico especfico poder constituir-se a partir das Ciencias
do homem no sentido moderno, formando assim como que
a coroa do ethos da atividade cientfica?
A resposta a essa interrogao encontra-se de fato em
face de um caminho que dever ser traado meio a
selva de problemas, estendendo-se entre os saberes
e freqentemente no ainda interdisciplinarmente
articulados das cincias do homem de um lado e, de outro,
as escalas de valores e os cdigos de normas que devem
ser propostos aos homens de uma cultura que ligou indis-
soluvelmente - atravs do conceito de conscincia moral -
o. agir e . o conhece-te a ti mesmo da tradio socr-
tica. cienCias do homem apresentam-se j capazes de
uma enorme soma de informaes sobre
a nossa origem, o nosso passado natural e histrico nossa
constituio biolgica e seu funcionamento nossa estrutura
psquica e suas funes simbolizantes, comportamen-
to, nosso ser social. Esse conhecimento cientfico de si
permitir_ ao homem entrever os traos de um tipo
Ideal de humamdade que se impor necessariamente como
do coz:becimento de si mesmo guiado pela
c_Iencta? Eis a questao que, sob o ponto de vista especi-
fiCamente antropolgico, colocada pelo problema de um
ethos da atividade cientfica. Teramos aqui alimentado
o saber de um ethos 'regulador da
atividade Cientif1Ca - ethos do sujeito da cincia - mas
igualmente regulador do agir humano como tal - ethos
?bje!o da cincia que o prprio homem.
A mspiraao socratica da tica teria encontrado um terre-
no privilegiado de realizao: o conhecimento de si mesmo
poderia alcanar a sntese entre a singularidade da cons-
cincia e a universalidade efetiva do saber. entre o contedo
e a forma do agir tico.
Parece, no entanto, altamente duvidoso que a extenso
dos conhecimentos sobre o homem, mesmo dotados da uni-
versalidade de facto que lhes assegurada pelo mtodo cien-
tfico, possa, por si mesma, pretender realizar esse salto
para um universal dever-ser, ou seja, para uma
Imagem do homem que se apresente como ideal tico efe-
tivamente universal. verdade que as tentativas nesse sen-
tido tm-se multiplicado, e ainda recentemente num oest-
-seller internacional, Jacques Monod foi buscar' nos ensina
mentos da biologia molecular os princpios de uma tica
219
verso dos objetos tcnicos. Em outras palavras, o fim da
atividade cientfica enquanto praxis cognoscitiva, que no
outro seno a verdade como valor ou como bem, impo-
ria a essa atividade, no desdobramento de todos os seus
momentos, suas exigncias ticas que brotam fundamental
mente da essencial destinao do homem como portador
do logos para o bem prprio do logos que a verdade.
Reencontramos, assim, o problema das relaes entre hu-
manismo e cincia, problema que se formula e se resolve
exatamente no terreno do ethos prprio da atividade cien-
tfica.
122
c) O ethos da atividade cientfica e as cincias
do homem
Sendo o ethos coextensivo cultura como vimos no
incio do captulo II, e sendo o homem, por definio, um
ser cultural, a relao entre o ethos e essa forma dominan-
te de cultura do homem moderno que a atividade cien-
tfica no pode deixar de constituir um problema funda-
mental para as chamadas cincias do homem, que so, num
sentido amplo, cincias da cultura. Com efeito, entre os
traos distintivos do mundo moderno, inscrevem-se justa-
mente essas complexas relaes, histricas e tericas, entre
o ethos e o . logos da cincia que aqui estamos tentando
analisar.
A medida que as cincias do homem se desenvolvem
e adquirem sua especificidade epistemolgica e sua autono-
mia metodolgica, o problema de um ethos inerente ati-
vidade cientfica passa a formular-se no s com relao
s cincias da natureza, mas tambm com relao s cin-
cias do homem. um ethos que pode ser denominado
especificamente antropolgico na medida em que o logos
da cincia faz do prprio homem o seu objeto. o prop-
sito da tica justamente o de dirigir a praxis atravs de
um saber ou de um logos que seja normativo para o seu
exerccio. Neste sentido a tica, como cincia normativa
da praxis , eminentemente, cincia do homem. Um saber
122. Sobre a cincia como prxis ver o texto de W. Kluxen "V-
rit et praxis de la Science" in Recherches et Dbats, 75 (1972): '73-88
e a discusso, pp. 89-94; F. Russo, La science comme action et ar-
tfice, ibidem, pp. 95-105.
218
tico especfico poder constituir-se a partir das Ciencias
do homem no sentido moderno, formando assim como que
a coroa do ethos da atividade cientfica?
A resposta a essa interrogao encontra-se de fato em
face de um caminho que dever ser traado meio a
selva de problemas, estendendo-se entre os saberes
e freqentemente no ainda interdisciplinarmente
articulados das cincias do homem de um lado e, de outro,
as escalas de valores e os cdigos de normas que devem
ser propostos aos homens de uma cultura que ligou indis-
soluvelmente - atravs do conceito de conscincia moral -
o. agir e . o conhece-te a ti mesmo da tradio socr-
tica. cienCias do homem apresentam-se j capazes de
uma enorme soma de informaes sobre
a nossa origem, o nosso passado natural e histrico nossa
constituio biolgica e seu funcionamento nossa estrutura
psquica e suas funes simbolizantes, comportamen-
to, nosso ser social. Esse conhecimento cientfico de si
permitir_ ao homem entrever os traos de um tipo
Ideal de humamdade que se impor necessariamente como
do coz:becimento de si mesmo guiado pela
c_Iencta? Eis a questao que, sob o ponto de vista especi-
fiCamente antropolgico, colocada pelo problema de um
ethos da atividade cientfica. Teramos aqui alimentado
o saber de um ethos 'regulador da
atividade Cientif1Ca - ethos do sujeito da cincia - mas
igualmente regulador do agir humano como tal - ethos
?bje!o da cincia que o prprio homem.
A mspiraao socratica da tica teria encontrado um terre-
no privilegiado de realizao: o conhecimento de si mesmo
poderia alcanar a sntese entre a singularidade da cons-
cincia e a universalidade efetiva do saber. entre o contedo
e a forma do agir tico.
Parece, no entanto, altamente duvidoso que a extenso
dos conhecimentos sobre o homem, mesmo dotados da uni-
versalidade de facto que lhes assegurada pelo mtodo cien-
tfico, possa, por si mesma, pretender realizar esse salto
para um universal dever-ser, ou seja, para uma
Imagem do homem que se apresente como ideal tico efe-
tivamente universal. verdade que as tentativas nesse sen-
tido tm-se multiplicado, e ainda recentemente num oest-
-seller internacional, Jacques Monod foi buscar' nos ensina
mentos da biologia molecular os princpios de uma tica
219
estritamente vinculada ao postulado da "objetividade cien-
tfica".
123
Mas justamente no momento em que os con-
ceitos de valor, de norma ou de deciso moralmente quali-
ficada entram em jogo que a objetividade cientfica, irre-
cusvel no domnio da experincia e da sua explicao, se
mostra insuficiente.
124
Permanece assim o desafio de se
estabelecer, no terreno das modernas cincias do homem,
uma forma de continuidade entre o conhecimento de si mes-
mo propiciado pela cincia e o conhecimento de si mesmo
segundo os fins e as normas de um ideal de auto-realizao
tica.
Mesmo se aceitarmos para as cincias do homem, as-
sim como para as cincias em geral, a neutralidade tica
preconizada por Max Weber,
125
impe-se, no obstante, a
busca de uma forma de continuidade entre saber cienti-
co e saber tico ou normativo de si mesmo, a partir do
estatuto epistemolgico das cincias do homem na sua re-
lao com a epistemologia das cincias da natureza. Essa
relao torna-se um tema filosfico dominante com o de-
senvolvimento das Geisteswissenschaften nos fins do s-
culo passado e d origem corrente culturalista em filoso-
fia e nas cincias sociais, ilustrada pelos nomes de W. Dil-
they, H. Rickert, e do prprio Weber, entre outros. Mas,
como tivemos ocasio de assinalar,
126
o problema das re-
laes entre cincia da natureza e cincia do ethos (ou da
cultura) remonta s origens do pensamento cientfico no
Ocidente e marcado pela oscilao dos termos da analogia
entre pltysis e ethos, ora tendendo para a univocidade ou
identidade entre esses termos como em Plato, ora para a
sua proporcionalidade como em Aristteles. A mudana de
paradigma da physis levada a cabo pela revoluo galileia-
na vai operar aqui no sentido de uma dissoluo da antiga
analogia e de uma separao entre os seus termos. O pri-
meiro e fundamental paradigma da cincia moderna ser
um paradigma mecanicista consagrado na sntese newto-
niana. Ele impor dois caminhos tica moderna: o ca-
123. Ver J. Monod, op. cit., pp. 188ss.
124. Ver M. Bartlmy-Madaule, L'idologie du hasard et de
la ncssit, Paris, Seuil, 1972, pp. 167-209.
125. Sobre o ponto de vista de Weber e de outros !autores da
neutralidade tica da cincia ver E. Cantore, Scientijic Man, op. cit.,
pp. 376-379.
126. Ver supra, cap. II, notas 2 e 3.
220
l
'
"-.:t
:t:'?
":/',
minho aberto por Hobbes, que parte de uma antropologia
mecanicista e materialista e que despoja, portanto, a natu-
reza da teleologia platnica do Bem, e o caminho seguido
por Kant que rompe a analogia aristotlica entre physis
e ethos, consagrando a ciso entre o homem como Na-
turwesen, submetido causalidade a tergo da Natureza, e
o homem como Vernunttwesen, obediente ao finalismo do
mundo moral. Entre a explicao como procedimento epis-
temolgico prprio das cincias da natureza e que preva-
lece nas antropologias naturalistas e a compreenso reivin-
dicada pelas cincias do homem e que rege as antropolo-
gias culturalistas, a natureza humana jaz, na expresso de
E. Morin,
127
como um "paradigma perdido", entre a Natu-
reza e a Histria. Ser necessrio ultrapassar a rgida di-
cotomia entre explicao e compreenso e avanar para um
estdio mais satisfatrio da epistemologia das cincias do
homem
128
para que se formule adequadamente o problema
de um ethos da atividade cientfica que leve em conta a
universalidade de um saber do prprio sujeito propiciado
pelas cincias do homem. O reconhecimento de uma essen-
cial estrutura interpretativa ou hermenutica em toda for-
ma de conhecimento enquanto ao
129
parece abrir aqui
um caminho promissor, na medida em que a atividade cien-
tfica passe a ser compreendida numa cincia geral da ao,
tal como acima se buscou caracterizar.
Integrada numa antropologia do conhecimento,
130
a ati-
vidade cientfica encontraria a o terreno de continuidade
entre as duas dimenses da lgica da cincia e da herme-
nutica do ato do conhecimento na sua orientao essen-
cialmente normativa para a verdade como aprendizado, co-
mo ensinamento, como pesquisa e como saber tcnico.
A articulao da lgica da cincia e do ato do conhecimen-
to cientfico tornaria possvel a passagem, no puramente
lgica segundo a estrita formalidade do objeto, mas impli-
127. Ver E. Morin, Le paradigme perdu: la nature humaine, Pa-
ris, Seuil, 1973.
128. Sobre o problema da insuficincia epistemolgica das cin-
cias do homem, ver P. Veyne, Comment on crit l'histoire, Paris,
Seuil, 1971, pp. 318-333.
129. Ver o captulo de J . .F. Malherbe, Le langage thologique
l'ge de la science, op. cit., pp. 109-125.
130. A idia de uma antropologia do conhecimento (Erkenntni-
santhropologie) foi proposta por K.-0. Apel, Transformation der Phi-
losophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973, II, pp. 96-127.
221
estritamente vinculada ao postulado da "objetividade cien-
tfica".
123
Mas justamente no momento em que os con-
ceitos de valor, de norma ou de deciso moralmente quali-
ficada entram em jogo que a objetividade cientfica, irre-
cusvel no domnio da experincia e da sua explicao, se
mostra insuficiente.
124
Permanece assim o desafio de se
estabelecer, no terreno das modernas cincias do homem,
uma forma de continuidade entre o conhecimento de si mes-
mo propiciado pela cincia e o conhecimento de si mesmo
segundo os fins e as normas de um ideal de auto-realizao
tica.
Mesmo se aceitarmos para as cincias do homem, as-
sim como para as cincias em geral, a neutralidade tica
preconizada por Max Weber,
125
impe-se, no obstante, a
busca de uma forma de continuidade entre saber cienti-
co e saber tico ou normativo de si mesmo, a partir do
estatuto epistemolgico das cincias do homem na sua re-
lao com a epistemologia das cincias da natureza. Essa
relao torna-se um tema filosfico dominante com o de-
senvolvimento das Geisteswissenschaften nos fins do s-
culo passado e d origem corrente culturalista em filoso-
fia e nas cincias sociais, ilustrada pelos nomes de W. Dil-
they, H. Rickert, e do prprio Weber, entre outros. Mas,
como tivemos ocasio de assinalar,
126
o problema das re-
laes entre cincia da natureza e cincia do ethos (ou da
cultura) remonta s origens do pensamento cientfico no
Ocidente e marcado pela oscilao dos termos da analogia
entre pltysis e ethos, ora tendendo para a univocidade ou
identidade entre esses termos como em Plato, ora para a
sua proporcionalidade como em Aristteles. A mudana de
paradigma da physis levada a cabo pela revoluo galileia-
na vai operar aqui no sentido de uma dissoluo da antiga
analogia e de uma separao entre os seus termos. O pri-
meiro e fundamental paradigma da cincia moderna ser
um paradigma mecanicista consagrado na sntese newto-
niana. Ele impor dois caminhos tica moderna: o ca-
123. Ver J. Monod, op. cit., pp. 188ss.
124. Ver M. Bartlmy-Madaule, L'idologie du hasard et de
la ncssit, Paris, Seuil, 1972, pp. 167-209.
125. Sobre o ponto de vista de Weber e de outros !autores da
neutralidade tica da cincia ver E. Cantore, Scientijic Man, op. cit.,
pp. 376-379.
126. Ver supra, cap. II, notas 2 e 3.
220
l
'
"-.:t
:t:'?
":/',
minho aberto por Hobbes, que parte de uma antropologia
mecanicista e materialista e que despoja, portanto, a natu-
reza da teleologia platnica do Bem, e o caminho seguido
por Kant que rompe a analogia aristotlica entre physis
e ethos, consagrando a ciso entre o homem como Na-
turwesen, submetido causalidade a tergo da Natureza, e
o homem como Vernunttwesen, obediente ao finalismo do
mundo moral. Entre a explicao como procedimento epis-
temolgico prprio das cincias da natureza e que preva-
lece nas antropologias naturalistas e a compreenso reivin-
dicada pelas cincias do homem e que rege as antropolo-
gias culturalistas, a natureza humana jaz, na expresso de
E. Morin,
127
como um "paradigma perdido", entre a Natu-
reza e a Histria. Ser necessrio ultrapassar a rgida di-
cotomia entre explicao e compreenso e avanar para um
estdio mais satisfatrio da epistemologia das cincias do
homem
128
para que se formule adequadamente o problema
de um ethos da atividade cientfica que leve em conta a
universalidade de um saber do prprio sujeito propiciado
pelas cincias do homem. O reconhecimento de uma essen-
cial estrutura interpretativa ou hermenutica em toda for-
ma de conhecimento enquanto ao
129
parece abrir aqui
um caminho promissor, na medida em que a atividade cien-
tfica passe a ser compreendida numa cincia geral da ao,
tal como acima se buscou caracterizar.
Integrada numa antropologia do conhecimento,
130
a ati-
vidade cientfica encontraria a o terreno de continuidade
entre as duas dimenses da lgica da cincia e da herme-
nutica do ato do conhecimento na sua orientao essen-
cialmente normativa para a verdade como aprendizado, co-
mo ensinamento, como pesquisa e como saber tcnico.
A articulao da lgica da cincia e do ato do conhecimen-
to cientfico tornaria possvel a passagem, no puramente
lgica segundo a estrita formalidade do objeto, mas impli-
127. Ver E. Morin, Le paradigme perdu: la nature humaine, Pa-
ris, Seuil, 1973.
128. Sobre o problema da insuficincia epistemolgica das cin-
cias do homem, ver P. Veyne, Comment on crit l'histoire, Paris,
Seuil, 1971, pp. 318-333.
129. Ver o captulo de J . .F. Malherbe, Le langage thologique
l'ge de la science, op. cit., pp. 109-125.
130. A idia de uma antropologia do conhecimento (Erkenntni-
santhropologie) foi proposta por K.-0. Apel, Transformation der Phi-
losophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973, II, pp. 96-127.
221
cada na unidade antropolgica do sujeito do conhecimento,
da ordenao nomolgica do objeto para a ordenao nor-
mativa do ato.
111
Essa articulao entre a lgica da cincia (enquanto
ordenada ao valor "verdade") e a hermenutica do ato do
conhecimento cientfico (enquanto submetido norma da
verdade) permitiria articular em trs grandes nveis a an-
tropologia do conhecimento segundo os trs domnios de
realidade que se abrem atividade cognoscitiva do
a natureza a vida e a sociedade. Em cada um deles a ati-
vidade se veria referida a uma constelao de
fins e normas constituindo-se em ethos da cincia naquele
domnio particular e formulando-se a eventualmente como
sistema tico.
tica da physis (ou fisiotica, tendo por objeto o
conhecimento cientfico da natureza) caberia regular nor-
mativamente o complexo e delicado processo de extenso
(e modificao) do ecossistema "natural" do homem com
o advento e desenvolvimento do seu ecossistema "tcnico",
processo no qual a dimenso do futuro adquire uma im-
portncia decisiva e suscita um campo indito e extrema-
mente grave de responsabilidade tica.
132
tica do bos
(ou biotica, tendo por objeto o conhecimento cientfico
da vida) caberia regular normativamente a interveno do
homem, por meio da tecnocincia, nas estruturas e funes
da vida, questo cuja gravidade e urgncia j deu origem
a uma literatura considervel e em contnuo crescimento.
Finalmente, tica do nthropos (ou antropotica, tendo
por objeto o conhecimento cientfico do homem e da so-
ciedade, ou o campo das cincias do homem no sentido
amplo) caberia regular normativamente as pesquisas e tc-
nicas que atingem o homem como sujeito e as relaes
intersubjetivas: campo entre todos delicado, pois aqui o
valor "verdade", do qual procedem as normas da antro-
potica, impe a primazia do homem como sujeito (ser
responsvel e livre), inobjetivvel na condio de coisa,
irredutvel a qualquer tipo de relao puramente objetiva
(relaes que prevalecem no campo da fisiotica e da bio-
131. Sobre o problema do "ser" (Sein) e do "dever-ser" (Sollen)
nesse contexto ver Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, op. cit.,
pp. 96-106; 153-171.
132. Ver Hans Jonas, ibidem, pp. 15-102.
222
tica), sendo ele o articulador e o portador do logos de
todo e de qualquer objeto.
133
5. CONCLUSO
Como troncos venerveis, arrancados de antigas mar-
gens e que um caudal poderoso arrasta nas suas guas
tumultuosas, as grandes idias morais que lanavam fun-
das razes no solo cultural do Ocidente vogam hoje impe-
lidas pela torrente da tecnocincia, que cobre todos os do-
mnios da vida e da cultura. Como no tempo de Scrates,
em que o ethos tradicional se desagregava ao choque da
crtica sofstica, nosso tempo v os grandes sistemas ticos
que se entrelaavam na sucesso de uma vigorosa e rica
tradio intelectual e espiritual, questionados nos seus fun-
damentos e rejeitados nas suas concluses pela dissoluo
crtica que a postura cientfica opera sobre o prprio su-
jeito tico, despojado do seu ttulo mais nobre, ou seja,
do seu poder de autodeterminar-se
134
e da especificidade
mesma do seu agir, implacavelmente absorvido pelo impe-
rialismo do fazer.
Mas poder o homem sobreviver fora da morada do
ethos? A questo merece ser posta porque, de fato, a tecno-
cincia est construindo para o homem um novo espao
bem diverso do antigo espao "natural", e a que o di-
lema se coloca entre um ethos aberto s dimenses desse
novo espao ou o niilismo tico que nele abandona o ho-
mem ao annimo destino dos objetos. Entregar-se, pois,
tarefa de edificar no espao do mundo aberto pela cin-
cia uma morada ou um ethos capaz de abrigar o homem
da civilizao cientfico-tecnolgica obedecer a um impe-
rativo de sobrevivncia do prprio homem como sujeito
responsvel e livre. Definir um ethos inerente atividade
133. Sobre essa primazia do sujeito, ver J. de Finance, L'a!fron-
tement de l'autre: essa sur l'altrit, Roma, Universidade Gregoria-
na, 1973, e a ampla sntese terica e histrica de W. Schulz, Ich und
Welt: Philosophie der Subjektivitt, Pfllingen, Neske, 1979.
134. J nos referimos anteriormente s criticas, do ponto de
vista da filosofia analtica (E. Tugendhat) s noes de "autoconscin-
cia" (Selbstbewusstsein) e "autodeterminao" (Selbstbestimmung).
Ver supra, cap. III, nota 155; ver igualmente as reflexes de Nevio
Genghini, "L'esperienza morale della modernit" in Il Nuovo Areopago,
6, 2 (1987) : 117-128.
223
cada na unidade antropolgica do sujeito do conhecimento,
da ordenao nomolgica do objeto para a ordenao nor-
mativa do ato.
111
Essa articulao entre a lgica da cincia (enquanto
ordenada ao valor "verdade") e a hermenutica do ato do
conhecimento cientfico (enquanto submetido norma da
verdade) permitiria articular em trs grandes nveis a an-
tropologia do conhecimento segundo os trs domnios de
realidade que se abrem atividade cognoscitiva do
a natureza a vida e a sociedade. Em cada um deles a ati-
vidade se veria referida a uma constelao de
fins e normas constituindo-se em ethos da cincia naquele
domnio particular e formulando-se a eventualmente como
sistema tico.
tica da physis (ou fisiotica, tendo por objeto o
conhecimento cientfico da natureza) caberia regular nor-
mativamente o complexo e delicado processo de extenso
(e modificao) do ecossistema "natural" do homem com
o advento e desenvolvimento do seu ecossistema "tcnico",
processo no qual a dimenso do futuro adquire uma im-
portncia decisiva e suscita um campo indito e extrema-
mente grave de responsabilidade tica.
132
tica do bos
(ou biotica, tendo por objeto o conhecimento cientfico
da vida) caberia regular normativamente a interveno do
homem, por meio da tecnocincia, nas estruturas e funes
da vida, questo cuja gravidade e urgncia j deu origem
a uma literatura considervel e em contnuo crescimento.
Finalmente, tica do nthropos (ou antropotica, tendo
por objeto o conhecimento cientfico do homem e da so-
ciedade, ou o campo das cincias do homem no sentido
amplo) caberia regular normativamente as pesquisas e tc-
nicas que atingem o homem como sujeito e as relaes
intersubjetivas: campo entre todos delicado, pois aqui o
valor "verdade", do qual procedem as normas da antro-
potica, impe a primazia do homem como sujeito (ser
responsvel e livre), inobjetivvel na condio de coisa,
irredutvel a qualquer tipo de relao puramente objetiva
(relaes que prevalecem no campo da fisiotica e da bio-
131. Sobre o problema do "ser" (Sein) e do "dever-ser" (Sollen)
nesse contexto ver Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, op. cit.,
pp. 96-106; 153-171.
132. Ver Hans Jonas, ibidem, pp. 15-102.
222
tica), sendo ele o articulador e o portador do logos de
todo e de qualquer objeto.
133
5. CONCLUSO
Como troncos venerveis, arrancados de antigas mar-
gens e que um caudal poderoso arrasta nas suas guas
tumultuosas, as grandes idias morais que lanavam fun-
das razes no solo cultural do Ocidente vogam hoje impe-
lidas pela torrente da tecnocincia, que cobre todos os do-
mnios da vida e da cultura. Como no tempo de Scrates,
em que o ethos tradicional se desagregava ao choque da
crtica sofstica, nosso tempo v os grandes sistemas ticos
que se entrelaavam na sucesso de uma vigorosa e rica
tradio intelectual e espiritual, questionados nos seus fun-
damentos e rejeitados nas suas concluses pela dissoluo
crtica que a postura cientfica opera sobre o prprio su-
jeito tico, despojado do seu ttulo mais nobre, ou seja,
do seu poder de autodeterminar-se
134
e da especificidade
mesma do seu agir, implacavelmente absorvido pelo impe-
rialismo do fazer.
Mas poder o homem sobreviver fora da morada do
ethos? A questo merece ser posta porque, de fato, a tecno-
cincia est construindo para o homem um novo espao
bem diverso do antigo espao "natural", e a que o di-
lema se coloca entre um ethos aberto s dimenses desse
novo espao ou o niilismo tico que nele abandona o ho-
mem ao annimo destino dos objetos. Entregar-se, pois,
tarefa de edificar no espao do mundo aberto pela cin-
cia uma morada ou um ethos capaz de abrigar o homem
da civilizao cientfico-tecnolgica obedecer a um impe-
rativo de sobrevivncia do prprio homem como sujeito
responsvel e livre. Definir um ethos inerente atividade
133. Sobre essa primazia do sujeito, ver J. de Finance, L'a!fron-
tement de l'autre: essa sur l'altrit, Roma, Universidade Gregoria-
na, 1973, e a ampla sntese terica e histrica de W. Schulz, Ich und
Welt: Philosophie der Subjektivitt, Pfllingen, Neske, 1979.
134. J nos referimos anteriormente s criticas, do ponto de
vista da filosofia analtica (E. Tugendhat) s noes de "autoconscin-
cia" (Selbstbewusstsein) e "autodeterminao" (Selbstbestimmung).
Ver supra, cap. III, nota 155; ver igualmente as reflexes de Nevio
Genghini, "L'esperienza morale della modernit" in Il Nuovo Areopago,
6, 2 (1987) : 117-128.
223
cientica como tal , sem dvida, o primeiro passo dessa
tarefa. O segundo consistir em formalizar esse ethos em
cdigos de normas ticas que venham reger o ensinamento,
a pesquisa, a produo tcnica. A tecnocincia , indiscuti-
velmente, a mais poderosa fora cultural que arranca o
homem do contorno fechado da repetio e do instinto
onde o prendem as necessidades "naturais" e o atira no
espao sem fronteiras de um logos que se dilata ao infini-
to.
135
A, no entanto, um novo e muito mais grave risco
de perda no mundo dos objetos o ameaa - dos objetos
sem vida e sem alma do sistema tcnico - se ele no res-
tabelecer as referncias da sua interioridade propriamente
humana, ou seja, as dimenses de um ethos no interior do
qual possa habitar como homem.
136
135. J Herclito se referia a essa vastido sem fim do logos
que, do ponto de Vista da alma, o crescimento incessante do seu
saber: "Caminhando no encontrars os limites da alma, mesmo
se andares todos os caminhos; to profundo logos ela possui" (D-K,
22, B, 45; ver B, 115).
136. A civilizao que possui na tecnocincia sua forma domi-
nante de saber e ao e, igualmente, sua mais poderosa fora de
produo, atingiu um estgio crtico do seu desenvolvimento no qual
o problema tico se impe como o mais profundo, o mais grave e
o mais premente. Urge refazer a morada do ethos para o homem
errante no deserto do niilismo tico, mas essa, pela primeira vez na
histria da humanidade, e num sentido que pe em jogo a sobrevi-
vncia da espcie, deve ser imperativamente uma morada da paz (do-
mus pacis), vem a ser, da paz como valor tico de convivncia e so-
lidariedade. Ver, a propsito, o dramtico apelo do grande fsico
e filsofo Carl Friedrich von Weizsii.cker, Die Zeit drangt, Munique,
Viena, Carl Hanser, Verlag, 1986; tr. fr.: Le temps presse, Paris, Cerf,
1987. Sobre o problema filosfico da paz, a partir de uma compara-
o crtica entre a concepo platnica da justia como cincia e a
concepo aristotlica da justia como consenso da opinio reta, ver
Klaus Held, Stato, interessi e mondi vitali: per una fenomenologia
del politico (tr. it. de A. Ponsetto), Brescia, Morcelliana, 1981, pp.
163-183.
224
ANEXOS
cientica como tal , sem dvida, o primeiro passo dessa
tarefa. O segundo consistir em formalizar esse ethos em
cdigos de normas ticas que venham reger o ensinamento,
a pesquisa, a produo tcnica. A tecnocincia , indiscuti-
velmente, a mais poderosa fora cultural que arranca o
homem do contorno fechado da repetio e do instinto
onde o prendem as necessidades "naturais" e o atira no
espao sem fronteiras de um logos que se dilata ao infini-
to.
135
A, no entanto, um novo e muito mais grave risco
de perda no mundo dos objetos o ameaa - dos objetos
sem vida e sem alma do sistema tcnico - se ele no res-
tabelecer as referncias da sua interioridade propriamente
humana, ou seja, as dimenses de um ethos no interior do
qual possa habitar como homem.
136
135. J Herclito se referia a essa vastido sem fim do logos
que, do ponto de Vista da alma, o crescimento incessante do seu
saber: "Caminhando no encontrars os limites da alma, mesmo
se andares todos os caminhos; to profundo logos ela possui" (D-K,
22, B, 45; ver B, 115).
136. A civilizao que possui na tecnocincia sua forma domi-
nante de saber e ao e, igualmente, sua mais poderosa fora de
produo, atingiu um estgio crtico do seu desenvolvimento no qual
o problema tico se impe como o mais profundo, o mais grave e
o mais premente. Urge refazer a morada do ethos para o homem
errante no deserto do niilismo tico, mas essa, pela primeira vez na
histria da humanidade, e num sentido que pe em jogo a sobrevi-
vncia da espcie, deve ser imperativamente uma morada da paz (do-
mus pacis), vem a ser, da paz como valor tico de convivncia e so-
lidariedade. Ver, a propsito, o dramtico apelo do grande fsico
e filsofo Carl Friedrich von Weizsii.cker, Die Zeit drangt, Munique,
Viena, Carl Hanser, Verlag, 1986; tr. fr.: Le temps presse, Paris, Cerf,
1987. Sobre o problema filosfico da paz, a partir de uma compara-
o crtica entre a concepo platnica da justia como cincia e a
concepo aristotlica da justia como consenso da opinio reta, ver
Klaus Held, Stato, interessi e mondi vitali: per una fenomenologia
del politico (tr. it. de A. Ponsetto), Brescia, Morcelliana, 1981, pp.
163-183.
224
ANEXOS
I
A HISTORIA EM QUESTAO *
1. A Histria existe? Essa interrogao pode surpreen-
der no momento em que opressiva ou libertadora, a Hist-
ria celebrada por uns e amaldioada por outros; no mo-
mento em que, tornada finalmente universal no s no
paralelismo cronolgico de seqncias independentes de
eventos locais obedecendo a um s calendrio mundial, mas
na simultaneidade de eventos interdependentes de alcance
mundial, ela fecha o crculo do horizonte cultural do ho-
mem, assim como a curvatura da Terra fecha o crculo
do seu horizonte fsico. O homem de um passado ainda
recente, encerrado nesse horizonte fsico por uma lei ine-
lutvel de estrutura do universo, buscou toda sorte de
sadas em direo a mundos transterrenos, que a imagi-
nao ou o sonho se encarregavam de ordenar ou po-
voar. O homem de hoje v as linhas do seu horizonte cultu-
ral entretecidas em torno da Terra em tal grau de com-
plexidade que se sente incapaz de romper a teia desse man-
to que o envolve; e recai dentro dele no pluralismo e no
relativismo das crenas e das representaes.
1
A migrao
transterrena ou mesmo transcendente era igualmente uma
In Sfntese (NF>, 1 (1974): 5-23 (verso corrigida).
1. ~ sabido que, para Teilhard de Chardin, a curvatura da Ter-
ra e o enrolamento cultural da humanidade sobre ela mesma (fe-
nmeno eminentemente biolgico para Teilhard) se condicionam e
colocam o problema de uma transcendncia en avant pela conver-
gncia do tempo evolutivo. Ver Teilhard de Chardin, L' Avenir de
fHomme (Oeuvres V), Paris, Seuil, 1959, pp. 129-156; 318-349.
227
I
A HISTORIA EM QUESTAO *
1. A Histria existe? Essa interrogao pode surpreen-
der no momento em que opressiva ou libertadora, a Hist-
ria celebrada por uns e amaldioada por outros; no mo-
mento em que, tornada finalmente universal no s no
paralelismo cronolgico de seqncias independentes de
eventos locais obedecendo a um s calendrio mundial, mas
na simultaneidade de eventos interdependentes de alcance
mundial, ela fecha o crculo do horizonte cultural do ho-
mem, assim como a curvatura da Terra fecha o crculo
do seu horizonte fsico. O homem de um passado ainda
recente, encerrado nesse horizonte fsico por uma lei ine-
lutvel de estrutura do universo, buscou toda sorte de
sadas em direo a mundos transterrenos, que a imagi-
nao ou o sonho se encarregavam de ordenar ou po-
voar. O homem de hoje v as linhas do seu horizonte cultu-
ral entretecidas em torno da Terra em tal grau de com-
plexidade que se sente incapaz de romper a teia desse man-
to que o envolve; e recai dentro dele no pluralismo e no
relativismo das crenas e das representaes.
1
A migrao
transterrena ou mesmo transcendente era igualmente uma
In Sfntese (NF>, 1 (1974): 5-23 (verso corrigida).
1. ~ sabido que, para Teilhard de Chardin, a curvatura da Ter-
ra e o enrolamento cultural da humanidade sobre ela mesma (fe-
nmeno eminentemente biolgico para Teilhard) se condicionam e
colocam o problema de uma transcendncia en avant pela conver-
gncia do tempo evolutivo. Ver Teilhard de Chardin, L' Avenir de
fHomme (Oeuvres V), Paris, Seuil, 1959, pp. 129-156; 318-349.
227
migrao transhistrica, na medida em que a Histria era
sentida como a limitao, a contingncia, as carncias ou
a misria da existncia no estreito horizonte fsico, ou na
medida em que a Histria era apenas o fio sempre igual
dos eventos no mundo sublunar da gerao e da corrupo.
Fechado aparentemente o caminho para o transhistrico, a
Histria pesa sobre os homens como um destino universal
e solidrio. A velha luta contra o destino csmico renas-
ce como luta contra o destino histrico. O horizonte fsico
que oprimia o homem primitivo foi vencido com a conquis-
ta do espao. Mas nunca, como agora, uma exploso de
mitos e de msticas to ampla e to violenta sacudiu a
Terra num frenesi de evases, de libertaes, de contesta-
es, de contraculturas. Todavia, no contra a monoto-
nia repetitiva das coisas e dos eventos no espao fechado
de um estreito horizonte que se luta. contra a implacvel
teia que envolve e aprisiona os pequenos acontecimentos
do cotidiano na trama majestosa dos eventos mundiais.
Em suma, contra a Histria (com H maisculo) que se
luta e, portanto, ela existe. Para outros, ao contrrio, sua
existncia se afirma e se evidencia como resultado dessa
praxis humana que se proclama como nica digna des.::;e
nome e que justamente reivindica para si o fazer a Hist-
ria. Entre a fuga e o afrontamento a Histria existe ou a
Histria advm, dominadora, existncia humana cada vez
mais enlaada nas malhas do seu prodigioso devir. Como
possvel, pois, pr em dvida ou questionar a prpria
existncia da Histria?
Essa aparente evidncia pode, no entanto, ocultar uma
realidade bem mais complexa. Como as quimeras q u ~ po-
voavam o espao do homem antigo, acaso no poderia ser
a Histria a grande Quimera que preside corrida aluc-
nante do nosso tempo? A questo merece ser posta e pode
mesmo ser formulada a partir de diversos ngulos. So-
bretudo, ela traz consigo uma interrogao em torno da
significao dessa corrente poderosa que cava, h dois s-
culos, um sulco profundo no terreno da cultura ocidental
e que se denomina, exatamente, de historicismo. A hora do
balano e do julgamento do historicismo parece ter chega-
do quando, em vrios campos, parece erguer-se um anti-his-
toricismo intransigente como um dos aspectos dessa crtica
s filosofias da conscincia e do sujeito que hoje ocupa a
228
cena filosfica.
2
Como sabido, foi no clima dessas filo
sofias que o historicismo floresceu e fez da noo de cons-
cincia histrica uma das suas categorias fundamentais.
Nossa inteno nessas pginas apenas a de salientar,
em duas importantes obras recentes que se ocupam com
o problema da histria, alguns traos dessa crtica da no-
o de conscincia histrica, seja no seu uso epistemolgi-
co seja na sua significao ontolgica. Ao termo dessa cr-
tica, continuar, no entanto, de p, a pergunta sobre o des-
tino dessa imensa aspirao a um viver histrico plena-
mente consciente que levantou tantas bandeiras nos com-
bates polticos e culturais dos ltimos dois sculos. Tentar
responder a essa pergunta seria ambio demasiada para
as limitaes e para a modstia do nosso propsito. Mas
teremos alcanado um resultado aprecivel para ns se lo-
grarmos reunir alguns elementos que permitam formul-la
adequadamente.
2 . A epistemologia do conhecimento histrico girou
por longo tempo, como sabido, em torno da epistemolo-
gia do conhecimento da natureza. A configurao do campo
epistemolgico, determinada pelo enorme avano das cin-
cias da natureza e pela vantagem cronolgica que lhes dava
a constituio definitiva do seu mtodo no sculo XVII
poderia, com efeito, ser comparada a um campo gravitacio-
nal, cuja massa central era constituda exatamente por
essas mesmas cincias da natureza, em particular a Fsica,
com a tremenda fora de atrao de seus mtodos precisos
de experimentao e do seu rigoroso formalismo matem-
tico. As cincias histricas, entre outras, moveram-se lon-
gamente em torno desse sol das chamadas cincias exatas,
seja atradas por ele na tentativa de imitao do mtodo des-
sas cincias, seja tentando escapar ao seu campo de fora
pela afirmao de uma originalidade epistemolgica definida
em oposio ao conhecimento da natureza. A grande querela
entre cincias da natureza e cincias do esprito que alimen-
tou a literatura historicista dos fins do sculo passado e dos
comeos deste sculo situa-se no ponto de divergncia des-
ses dois movimentos que apontam para os dois procedi-
mentos epistemolgicos diferentes da explicao e da com-
2. Essa crtica particularmente notvel na obra de E. Tugend-
hat: ver Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: sprachanalytische
Interpretationen, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979.
229
migrao transhistrica, na medida em que a Histria era
sentida como a limitao, a contingncia, as carncias ou
a misria da existncia no estreito horizonte fsico, ou na
medida em que a Histria era apenas o fio sempre igual
dos eventos no mundo sublunar da gerao e da corrupo.
Fechado aparentemente o caminho para o transhistrico, a
Histria pesa sobre os homens como um destino universal
e solidrio. A velha luta contra o destino csmico renas-
ce como luta contra o destino histrico. O horizonte fsico
que oprimia o homem primitivo foi vencido com a conquis-
ta do espao. Mas nunca, como agora, uma exploso de
mitos e de msticas to ampla e to violenta sacudiu a
Terra num frenesi de evases, de libertaes, de contesta-
es, de contraculturas. Todavia, no contra a monoto-
nia repetitiva das coisas e dos eventos no espao fechado
de um estreito horizonte que se luta. contra a implacvel
teia que envolve e aprisiona os pequenos acontecimentos
do cotidiano na trama majestosa dos eventos mundiais.
Em suma, contra a Histria (com H maisculo) que se
luta e, portanto, ela existe. Para outros, ao contrrio, sua
existncia se afirma e se evidencia como resultado dessa
praxis humana que se proclama como nica digna des.::;e
nome e que justamente reivindica para si o fazer a Hist-
ria. Entre a fuga e o afrontamento a Histria existe ou a
Histria advm, dominadora, existncia humana cada vez
mais enlaada nas malhas do seu prodigioso devir. Como
possvel, pois, pr em dvida ou questionar a prpria
existncia da Histria?
Essa aparente evidncia pode, no entanto, ocultar uma
realidade bem mais complexa. Como as quimeras q u ~ po-
voavam o espao do homem antigo, acaso no poderia ser
a Histria a grande Quimera que preside corrida aluc-
nante do nosso tempo? A questo merece ser posta e pode
mesmo ser formulada a partir de diversos ngulos. So-
bretudo, ela traz consigo uma interrogao em torno da
significao dessa corrente poderosa que cava, h dois s-
culos, um sulco profundo no terreno da cultura ocidental
e que se denomina, exatamente, de historicismo. A hora do
balano e do julgamento do historicismo parece ter chega-
do quando, em vrios campos, parece erguer-se um anti-his-
toricismo intransigente como um dos aspectos dessa crtica
s filosofias da conscincia e do sujeito que hoje ocupa a
228
cena filosfica.
2
Como sabido, foi no clima dessas filo
sofias que o historicismo floresceu e fez da noo de cons-
cincia histrica uma das suas categorias fundamentais.
Nossa inteno nessas pginas apenas a de salientar,
em duas importantes obras recentes que se ocupam com
o problema da histria, alguns traos dessa crtica da no-
o de conscincia histrica, seja no seu uso epistemolgi-
co seja na sua significao ontolgica. Ao termo dessa cr-
tica, continuar, no entanto, de p, a pergunta sobre o des-
tino dessa imensa aspirao a um viver histrico plena-
mente consciente que levantou tantas bandeiras nos com-
bates polticos e culturais dos ltimos dois sculos. Tentar
responder a essa pergunta seria ambio demasiada para
as limitaes e para a modstia do nosso propsito. Mas
teremos alcanado um resultado aprecivel para ns se lo-
grarmos reunir alguns elementos que permitam formul-la
adequadamente.
2 . A epistemologia do conhecimento histrico girou
por longo tempo, como sabido, em torno da epistemolo-
gia do conhecimento da natureza. A configurao do campo
epistemolgico, determinada pelo enorme avano das cin-
cias da natureza e pela vantagem cronolgica que lhes dava
a constituio definitiva do seu mtodo no sculo XVII
poderia, com efeito, ser comparada a um campo gravitacio-
nal, cuja massa central era constituda exatamente por
essas mesmas cincias da natureza, em particular a Fsica,
com a tremenda fora de atrao de seus mtodos precisos
de experimentao e do seu rigoroso formalismo matem-
tico. As cincias histricas, entre outras, moveram-se lon-
gamente em torno desse sol das chamadas cincias exatas,
seja atradas por ele na tentativa de imitao do mtodo des-
sas cincias, seja tentando escapar ao seu campo de fora
pela afirmao de uma originalidade epistemolgica definida
em oposio ao conhecimento da natureza. A grande querela
entre cincias da natureza e cincias do esprito que alimen-
tou a literatura historicista dos fins do sculo passado e dos
comeos deste sculo situa-se no ponto de divergncia des-
ses dois movimentos que apontam para os dois procedi-
mentos epistemolgicos diferentes da explicao e da com-
2. Essa crtica particularmente notvel na obra de E. Tugend-
hat: ver Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung: sprachanalytische
Interpretationen, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979.
229
preenso. No que diz respeito ao conhecimento histrico,
a questo sempre renascente refletia indubitavelmente o
aprisionamento da histria no campo de atrao das cin-
cias da natureza: a histria uma cincia?
3
H. Taine e
Karl Lamprecht de um lado, W. Dilthey de outro, represen-
tam exemplarmente atitudes epistemolgicas tpicas em face
desta questo. De resto, segundo a observao de J. A. Ma-
ravall comentando J. Huizinga, trata-se de uma questo que
se coloca e se discute margem do efetivo e enorme pro-
gresso da investigao histrica, que no sofre interrupo
com essa discusso terica e apenas em medida muito redu-
zida influenciada por ela.
4
De qualquer maneira, porm,
a interrogao sobre a natureza e os fundamentos do saber
histrico surgia necessariamente no seio do prprio labor
historiogrfico, pois pertence essncia de todo saber met-
dico o interrogar-se sobre si mesmo. Por outro lado, o saber
histrico viu-se arrastado no movimento de crise ou crtica
dos fundamentos que, depois de um sculo de um extraordi-
nrio progresso cientfico, atinge, no fim do sculo XIX,
todas as cincias e est na origem da constituio da epis-
temologia como cincia.
No caso do saber histrico, as questes fundamentais
se formulavam em torno da natureza do objeto, ou seja, da
prpria realidade que o conhecimento histrico tem em mi-
ra, e a respeito da natureza das proposies que enunciam
esse conhecimento e da forma do seu encadeamento, ou
seja, da lgica do conhecimento histrico. Se a reduo
univocista do objeto da histria e da sua explicao ao mo-
delo das cincias da natureza se mostrava inexeqvel, a
rgida oposio entre explicao e compreenso revela-se,
por sua vez, inadequada s verdadeiras condies de exer-
3. Uma viso do problema a partir do ponto de vista de um
positivismo mitigado nos .no comeo do sculo UJ?
clssico da literatura filosfica braslle1ra: Pedro Lessa, a Htstna
uma Sciencia? introduo traduo portuguesa da Histria da Ci-
vtlizao na Inglaterra, de Buckle, So Paulo, Typographia da Casa
Eclectica, 1900.
4. J. A. Maravall, Teoria del Saber Histrico, 21;1 ed., Madri, Re-
vista de Occidente 1967 p. 20. Sobre a histria e os progressos da
historiografia ver 'J. P.' Gooch, Historia y historiadores en el siglo
:XIX tr. esp. Mxico Fondo de Cultura, 1943; H. Butterfield, Man on
his Jast: study oj the history oj historical scholarship, Cambrid-
ge, University Press, 1969.
230
ccio do conhecimento histrico.
5
Hoje as teorias da expli-
cao buscam justamente formular-se com rigor, amplitude
e flexibilidade suficientes, de modo a incluir o tipo de expli-
cao que o historiador se prope oferecer.
6
No entanto,
ser ainda necessrio descrever, no interior de uma teoria
geral da explicao, a estrutura prpria da explicao his-
trica, tarefa que objeto da pesquisa de numerosos epis-
temlogos contemporneos.
7
fcil observar por outro la-
do, no campo da epistemologia do conhecimento histrico,
uma ntida mudana do centro de referncia que se mos-
trava dominante na perspectiva historicista e que era, jus-
tamente, a conscincia do evento histrico, para outro cen-
tro de referncia preponderante do ponto de vista analtico,
e que a descrio do objeto histrico. No primeiro caso,
pode-se dizer que o evento histrico se caracteriza pelo n-
vel de conscincia da sua significao por parte dos atores
que nele esto implicados. O historiador, segundo o ideal
proposto por Dilthey, deveria inserir-se do modo mais com-
pleto possvel na perspectiva consciencial ou na viso do
mundo das pocas passadas, numa espcie de experincia
original de recriao do passado, enquanto vivido em ter-
mos de conscincia histrica pelos atores de um determi-
nado evento ou pelas personagens de uma determinada po-
ca. s A atual epistemologia do conhecimento histrico pa-
rece renunciar decididamente a essa pretenso. A conscin-
cia no um elemento essencial na estrutura epistemolgi-
ca do objeto do conhecimento histrico e pode mesmo mos-
trar-se irrelevante para a reconstituio de uma srie de
5. Ver, a respeito, W. Stegmller, Probleme und Resultate der
Wissenschajtstheorie und der analytischen Philosophie, I, Wissen-
schajtliche Erklrung und Begrndung, Berlim, Springer Verlag, 1969,
pp. 335-427.
6. A propsito, ver o artigo de H. Lenk, s.v. Erklrung, ap.
Historisches Wrterbuch der Philosophie, ed. por J. Ritter, Darms-
tadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, 11, pp. 690-701; sobre a
explicao em histria ver ainda A. C. Danto, Analytical Philosophy
oj History, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, pp. 201-256
e W. A. Dray, Filosofia da Histria. Rio de Janeiro, Zahar, 1969, pp.
15-35.
7. Uma viso recente sobre os problemas do conhecimento e
interpretao da histria apresentada por Rdiger Bubner, Ges-
chichtsprozesse und Handlungsnormen: Untersuchungen zur praktis-
chen Philosophie Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1984, pp. 11-172.
8. Trata-se' da empatia do historiador qual se refere S. Kor-
ner expondo a teoria de R. G. Collingwood: Fundamental questions
in Philosophy, Londres, Penguin Univ. Books, 1971, pp. 152-153.
231
preenso. No que diz respeito ao conhecimento histrico,
a questo sempre renascente refletia indubitavelmente o
aprisionamento da histria no campo de atrao das cin-
cias da natureza: a histria uma cincia?
3
H. Taine e
Karl Lamprecht de um lado, W. Dilthey de outro, represen-
tam exemplarmente atitudes epistemolgicas tpicas em face
desta questo. De resto, segundo a observao de J. A. Ma-
ravall comentando J. Huizinga, trata-se de uma questo que
se coloca e se discute margem do efetivo e enorme pro-
gresso da investigao histrica, que no sofre interrupo
com essa discusso terica e apenas em medida muito redu-
zida influenciada por ela.
4
De qualquer maneira, porm,
a interrogao sobre a natureza e os fundamentos do saber
histrico surgia necessariamente no seio do prprio labor
historiogrfico, pois pertence essncia de todo saber met-
dico o interrogar-se sobre si mesmo. Por outro lado, o saber
histrico viu-se arrastado no movimento de crise ou crtica
dos fundamentos que, depois de um sculo de um extraordi-
nrio progresso cientfico, atinge, no fim do sculo XIX,
todas as cincias e est na origem da constituio da epis-
temologia como cincia.
No caso do saber histrico, as questes fundamentais
se formulavam em torno da natureza do objeto, ou seja, da
prpria realidade que o conhecimento histrico tem em mi-
ra, e a respeito da natureza das proposies que enunciam
esse conhecimento e da forma do seu encadeamento, ou
seja, da lgica do conhecimento histrico. Se a reduo
univocista do objeto da histria e da sua explicao ao mo-
delo das cincias da natureza se mostrava inexeqvel, a
rgida oposio entre explicao e compreenso revela-se,
por sua vez, inadequada s verdadeiras condies de exer-
3. Uma viso do problema a partir do ponto de vista de um
positivismo mitigado nos .no comeo do sculo UJ?
clssico da literatura filosfica braslle1ra: Pedro Lessa, a Htstna
uma Sciencia? introduo traduo portuguesa da Histria da Ci-
vtlizao na Inglaterra, de Buckle, So Paulo, Typographia da Casa
Eclectica, 1900.
4. J. A. Maravall, Teoria del Saber Histrico, 21;1 ed., Madri, Re-
vista de Occidente 1967 p. 20. Sobre a histria e os progressos da
historiografia ver 'J. P.' Gooch, Historia y historiadores en el siglo
:XIX tr. esp. Mxico Fondo de Cultura, 1943; H. Butterfield, Man on
his Jast: study oj the history oj historical scholarship, Cambrid-
ge, University Press, 1969.
230
ccio do conhecimento histrico.
5
Hoje as teorias da expli-
cao buscam justamente formular-se com rigor, amplitude
e flexibilidade suficientes, de modo a incluir o tipo de expli-
cao que o historiador se prope oferecer.
6
No entanto,
ser ainda necessrio descrever, no interior de uma teoria
geral da explicao, a estrutura prpria da explicao his-
trica, tarefa que objeto da pesquisa de numerosos epis-
temlogos contemporneos.
7
fcil observar por outro la-
do, no campo da epistemologia do conhecimento histrico,
uma ntida mudana do centro de referncia que se mos-
trava dominante na perspectiva historicista e que era, jus-
tamente, a conscincia do evento histrico, para outro cen-
tro de referncia preponderante do ponto de vista analtico,
e que a descrio do objeto histrico. No primeiro caso,
pode-se dizer que o evento histrico se caracteriza pelo n-
vel de conscincia da sua significao por parte dos atores
que nele esto implicados. O historiador, segundo o ideal
proposto por Dilthey, deveria inserir-se do modo mais com-
pleto possvel na perspectiva consciencial ou na viso do
mundo das pocas passadas, numa espcie de experincia
original de recriao do passado, enquanto vivido em ter-
mos de conscincia histrica pelos atores de um determi-
nado evento ou pelas personagens de uma determinada po-
ca. s A atual epistemologia do conhecimento histrico pa-
rece renunciar decididamente a essa pretenso. A conscin-
cia no um elemento essencial na estrutura epistemolgi-
ca do objeto do conhecimento histrico e pode mesmo mos-
trar-se irrelevante para a reconstituio de uma srie de
5. Ver, a respeito, W. Stegmller, Probleme und Resultate der
Wissenschajtstheorie und der analytischen Philosophie, I, Wissen-
schajtliche Erklrung und Begrndung, Berlim, Springer Verlag, 1969,
pp. 335-427.
6. A propsito, ver o artigo de H. Lenk, s.v. Erklrung, ap.
Historisches Wrterbuch der Philosophie, ed. por J. Ritter, Darms-
tadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, 11, pp. 690-701; sobre a
explicao em histria ver ainda A. C. Danto, Analytical Philosophy
oj History, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, pp. 201-256
e W. A. Dray, Filosofia da Histria. Rio de Janeiro, Zahar, 1969, pp.
15-35.
7. Uma viso recente sobre os problemas do conhecimento e
interpretao da histria apresentada por Rdiger Bubner, Ges-
chichtsprozesse und Handlungsnormen: Untersuchungen zur praktis-
chen Philosophie Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1984, pp. 11-172.
8. Trata-se' da empatia do historiador qual se refere S. Kor-
ner expondo a teoria de R. G. Collingwood: Fundamental questions
in Philosophy, Londres, Penguin Univ. Books, 1971, pp. 152-153.
231
fatores, condies, eventos e mesmo personagens suficien-
temente interligados, de sorte a constiturem uma estrutura
ou um conjunto historicamente inteligvel e explicvel.
9
Acentua-se o que R. Aron
10
denominou a pluralidade irredu-
tvel do objeto histrico, para se excluir a possibilidade de
uma conscincia totalizante (seja a conscincia histrica,
seja a conscincia historiadora) que unifique essa plura-
lidade nas linhas de uma nica viso do mundo.
Vamos encontrar uma brilhante apresentao das no-
vas tendncias da epistemologia no campo do conhecimen-
to histrico na obra recente de Paul Veyne.
11
Uma das
grandes originalidades metodolgicas de Veyne consiste em
transpor para o universo da epistemologia contempornea
a distino entre o supralunar e o sublunar que presidia ao
universo fsico de Aristteles.
12
O sublunar o terreno do
vivido; o supralunar, do formal ou do modelar. O primeiro
extremamente complexo e nele convivem a ordem e a
desordem; o segundo o domnio do simples ou do sim-
plificvel, e nele reina somente a ordem. A oposio entre
os dois domnios do saber anloga oposio entre o
sereno movimento circular das esferas incorruptveis e a
inextricvel confuso das geraes e corrupes, que divi-
de o cosmos aristotlico. Em suma, o sublunar ocupado
no-redutvel cincia; o supralunar pela
Ciencia que resulta de uma simplificao da experincia.
Tal oposio, porm, se instala na ordem do conhecimen-
to
13
e , portanto, por fora de uma opo de ordem epis-
temolgica que o historiador se coloca ao lado do sublunar
ou seja, ao lado do vivido anteriormente sua possvel for:
malizao. Descrio do vivido, a histria no uma cin-
cia. A posio de Veyne , aqui, exemplarmente ntida, e
proporciona-lhe a ocasio para um exame da situao atual
da epistemologia das chamadas cincias humanas. O resul-
tado desse exame parecer a muitos de extrema severidade.
Nele, Veyne afasta do campo da cincia boa parte dessa
9. Sobre o conceito de estrutura em histria no qual de resto
h se reconhecer uma origem historicista, ver A. J. ' Maravan:
Teona deZ saber histrico, pp. 174-203.
10. Ver R. Aron, Dimensions de la conscience historique Paris
10/18, 1965, PP. 111-146. I '
. 11. Paul Veyne, Comment on crit l'histoire: essai d'pstemo-
logte, Paris, Seuil, 1971 (citado daqui para a frente com a sigla CEH).
12. CEH, pp. 42-43; 279-311.
13. CEH, p. 282.
232
enorme literatura que se acumula sob o nome de czencias
humanas. Essa literatura s pode ser classificada como
uma "retrica ou uma tpica extrada da descrio do vi-
vido''.
14
Quando se pretendem tericas tais "cincias" -
e Veyne tem em mira particularmente a Sociologia - "so
semelhantes antiga fsica que conceptualizava o Quente
e o mido e queria fazer uma qumica com a Terra e o
Fogo".
Com efeito, entre o vivido e o formal nada h em ter-
mos de cincia. Trata-se de domnios co-extensivos do co-
nhecer, mas no se passa do vivido para o formal seno
por meio dessa opo epistemolgica que elimina exata-
mente os resduos do vivido para no conservar seno os
elementos de construo do modelo formal. O abandono
do vivido o preo a ser pago pela cincia. Mas a cincia
no todo o conhecimento. A histria situa-se inequivoca-
mente do lado do vivido; ela ser uma descrio ou uma
retrica, nunca uma cincia. Segundo Veyne, apenas algu-
mas pginas das cincias humanas que se possam justificar
como tais encontram-se presentemente escritas: na lings
tica, na economia, na cincia poltica. Sua situao a
mesma da cincia galileiana no sculo XVII, que apenas po-
dia apresentar como verificadas algumas leis do movimento
(dos corpos terrestres e dos corpos celestes, enfim unifi-
cados no domnio supralunar da formalizao em termos
de massas, movimento uniforme, acelerao, fora etc ... ) ,
mas tinha diante de si o campo aberto de um incessante
progresso. Nessa mesma situao encontram-se hoje as
cincias humanas que apenas ensaiam seus primeiros pas-
sos.
15
Elas se definem como cincias da ao ou praxeolo-
gias.
16
Como cincias, elas so tericas e seu tipo de expli-
cao nomolgico-dedutivo, o que significa que no se re-
ferem s condies subjetivas da ao, ao vivido, mas aos
seus elementos objetivos, na medida em que podem abstrair
do vivido. Referem-se, em uma palavra, ao que na ao
formalizvel. Diante das cincias humanas assim definidas,
14. CEH, p. 283.
15. P. Veyne aproxima-se aqui da posio de G. G. Granger,
que , de resto, citado (CEH, p. 292, n. 16) nos seus dois importan-
tes ensaios; Pense jormelle et sciences de l'homme (Analyses et Rai-
sons, 2), Paris, Aubier, 1960; e Essai d'une philosophie du style (Phi-
losophies pour l'ge de la science), Paris, A. Colin, 1968.
16. CEH, pp. 290-295.
233
fatores, condies, eventos e mesmo personagens suficien-
temente interligados, de sorte a constiturem uma estrutura
ou um conjunto historicamente inteligvel e explicvel.
9
Acentua-se o que R. Aron
10
denominou a pluralidade irredu-
tvel do objeto histrico, para se excluir a possibilidade de
uma conscincia totalizante (seja a conscincia histrica,
seja a conscincia historiadora) que unifique essa plura-
lidade nas linhas de uma nica viso do mundo.
Vamos encontrar uma brilhante apresentao das no-
vas tendncias da epistemologia no campo do conhecimen-
to histrico na obra recente de Paul Veyne.
11
Uma das
grandes originalidades metodolgicas de Veyne consiste em
transpor para o universo da epistemologia contempornea
a distino entre o supralunar e o sublunar que presidia ao
universo fsico de Aristteles.
12
O sublunar o terreno do
vivido; o supralunar, do formal ou do modelar. O primeiro
extremamente complexo e nele convivem a ordem e a
desordem; o segundo o domnio do simples ou do sim-
plificvel, e nele reina somente a ordem. A oposio entre
os dois domnios do saber anloga oposio entre o
sereno movimento circular das esferas incorruptveis e a
inextricvel confuso das geraes e corrupes, que divi-
de o cosmos aristotlico. Em suma, o sublunar ocupado
no-redutvel cincia; o supralunar pela
Ciencia que resulta de uma simplificao da experincia.
Tal oposio, porm, se instala na ordem do conhecimen-
to
13
e , portanto, por fora de uma opo de ordem epis-
temolgica que o historiador se coloca ao lado do sublunar
ou seja, ao lado do vivido anteriormente sua possvel for:
malizao. Descrio do vivido, a histria no uma cin-
cia. A posio de Veyne , aqui, exemplarmente ntida, e
proporciona-lhe a ocasio para um exame da situao atual
da epistemologia das chamadas cincias humanas. O resul-
tado desse exame parecer a muitos de extrema severidade.
Nele, Veyne afasta do campo da cincia boa parte dessa
9. Sobre o conceito de estrutura em histria no qual de resto
h se reconhecer uma origem historicista, ver A. J. ' Maravan:
Teona deZ saber histrico, pp. 174-203.
10. Ver R. Aron, Dimensions de la conscience historique Paris
10/18, 1965, PP. 111-146. I '
. 11. Paul Veyne, Comment on crit l'histoire: essai d'pstemo-
logte, Paris, Seuil, 1971 (citado daqui para a frente com a sigla CEH).
12. CEH, pp. 42-43; 279-311.
13. CEH, p. 282.
232
enorme literatura que se acumula sob o nome de czencias
humanas. Essa literatura s pode ser classificada como
uma "retrica ou uma tpica extrada da descrio do vi-
vido''.
14
Quando se pretendem tericas tais "cincias" -
e Veyne tem em mira particularmente a Sociologia - "so
semelhantes antiga fsica que conceptualizava o Quente
e o mido e queria fazer uma qumica com a Terra e o
Fogo".
Com efeito, entre o vivido e o formal nada h em ter-
mos de cincia. Trata-se de domnios co-extensivos do co-
nhecer, mas no se passa do vivido para o formal seno
por meio dessa opo epistemolgica que elimina exata-
mente os resduos do vivido para no conservar seno os
elementos de construo do modelo formal. O abandono
do vivido o preo a ser pago pela cincia. Mas a cincia
no todo o conhecimento. A histria situa-se inequivoca-
mente do lado do vivido; ela ser uma descrio ou uma
retrica, nunca uma cincia. Segundo Veyne, apenas algu-
mas pginas das cincias humanas que se possam justificar
como tais encontram-se presentemente escritas: na lings
tica, na economia, na cincia poltica. Sua situao a
mesma da cincia galileiana no sculo XVII, que apenas po-
dia apresentar como verificadas algumas leis do movimento
(dos corpos terrestres e dos corpos celestes, enfim unifi-
cados no domnio supralunar da formalizao em termos
de massas, movimento uniforme, acelerao, fora etc ... ) ,
mas tinha diante de si o campo aberto de um incessante
progresso. Nessa mesma situao encontram-se hoje as
cincias humanas que apenas ensaiam seus primeiros pas-
sos.
15
Elas se definem como cincias da ao ou praxeolo-
gias.
16
Como cincias, elas so tericas e seu tipo de expli-
cao nomolgico-dedutivo, o que significa que no se re-
ferem s condies subjetivas da ao, ao vivido, mas aos
seus elementos objetivos, na medida em que podem abstrair
do vivido. Referem-se, em uma palavra, ao que na ao
formalizvel. Diante das cincias humanas assim definidas,
14. CEH, p. 283.
15. P. Veyne aproxima-se aqui da posio de G. G. Granger,
que , de resto, citado (CEH, p. 292, n. 16) nos seus dois importan-
tes ensaios; Pense jormelle et sciences de l'homme (Analyses et Rai-
sons, 2), Paris, Aubier, 1960; e Essai d'une philosophie du style (Phi-
losophies pour l'ge de la science), Paris, A. Colin, 1968.
16. CEH, pp. 290-295.
233
a histria - descrio do vivido - oscila entre a averso
s essncias sem cuja presena o vivido se tornaria caos,
e a reduo s essncias que acabaria por eliminar o vivido
e, por conseguinte, a prpria histria.
17
Plantada com to-
das as suas razes no terreno do vivido, a histria no
e nunca poder ser uma cincia, muito embora a descrio
historiogrfica utilize cada vez mais instrumentos e tcni-
cas das mais diversas cincias. Com efeito, jamais o his-
toriador poder descobrir leis que sejam, especificamente,
leis histricas. Ora, toda cincia cincia de leis; e a lei
somente pode ser formulada dentro das condies ideais
s quais se submete apenas o modelo formal, ou que dizem
respeito a uma forma abstrata. No h modelo que reprn-
duza o vivido ou o concreto como tais, pois ele seria per-
feitamente intil.
1
s Desta sorte a histria - "cincia do
concreto" como pretendeu constitu-la um certo existencia-
l i s m o ~ ~ - um contra-senso epistemolgico.
Mas, no sendo a histria uma cincia, como poderia
ser caracterizado o tecido dos acontecimentos mais diver-
sos que ela entrelaa para ordenar sua narrao? A pri-
meira caracterstica desse tecido so suas lacunas. Se a
cincia inacabada de jure, a histria o de facto.
20
Im-
possvel distinguir entre os eventos que seriam matria da
narrao histrica e aqueles que ficariam fora da histria
narrada. E h ainda todo o domnio do no-acontecvel
que entra na pesquisa e na descrio do historiador. Na
verdade, a histria funo da informao do historiador;
e o campo da informao , por um lado, ilimitado e, por
outro, limitado pelo estado das font'es. Portanto, se tudo
histrico - este o ttulo do segundo captulo de Veyne
- a Histria (com H maisculo) no existe. Temos ape-
nas "histrias de ... " A Histria uma idia-limite ou um
ideal transcendental que institui um fim regulador ativi-
dade do historiador. Sua funo reguladora no campo do
conhecimento histrico assemelha-se funo dos ideais
da Razo pura na critica de Kant. Daqui, segundo Veyne,
17. CEH, pp. 296-299.
18. Trata-se da conhecida comparao que Lewis Carroll tornou
famosa, do mapa idntico regio e, portanto, intil. Sobre as ana-
logias epistemolgicas entre geografia e histria, ver CEH, pp. 49-50;
nota 3.
19. o ttulo do livro de Eric Dardel, L'Histoire, science clu
concret (Paris, 1946) que Veyne no cita.
20. CEH, pp. 21-29.
234
a inutilidade do historicismo. Seu nico mrito foi mostrar
os limites da objetividade histrica e as dificuldades de uma
"idia da Histria". Em suma, o resultado do historicismo
ao empreender uma "crtica da Razo histrica" como que-
ria Dilthey foi, com relao idia da Histria, anlogo
ao que Kant pretendeu ter alcanado na Crtica da Razo
Pura com relao idia da Metafsica: a impossibilidade
de um uso numenal da idia de Histria ou de uma onto-
logia da Histria. Ao historiador que tenta reconstituir o
passado abre-se o campo "muito humano" e muito pouco
"cientfico", pela confuso que nele reina de causas mate-
riais, de acasos e de fins, dos chamados "fatos" histricos.
A nica articulao possvel desses fatos, oferecendo um
certo sentido, tem a estrutura de uma intriga.
21
Um roman-
ce nos dar a melhor idia do que seja uma intriga e o
melhor modelo (evidentemente no formal) do que seja
a histria real. A utilizao do modelo de intriga liberta
o historiador da iluso do fato "indiviso", do fato "atmico"
ou do fato significativo por si mesmo. A intriga um ro-
teiro possvel no campo dos eventos, campo objetivo mas
que no resulta de uma sucesso de eventos isolados. Com
efeito, o evento no aqui seno o lugar do cruzamento
do roteiro de intrigas possveis. Desta sorte, a histria
"subjetiva" no sentido dado a este termo por H. I. Marrou,
22
ou incuravelmente nominalista. A compreenso da histria
, apenas, a compreenso de uma intriga, podendo perfei-
tamente prescindir da "conscincia" dos intrigantes ou dos
atores."" Para o historiador, compreender retrodizer a
partir de certas constantes do comportamento humano:
usos, costumes, rotinas. No se pode falar, aqui, de leis.
Fala-se de uma multido de retrodies que compem a fi-
sionomia possvel de um episdio histrico e que consti-
tuem, propriamente, a sntese em histria. A objetividade
de tal sntese limitada por fronteiras intransponveis: a
documentao e a diversidade das experincias humanas.
Em uma palavra: como no h possibilidade de se isolar
em condies iniciais que expliquem inteiramente uma se-
qncia de eventos, no h possibilidade de se formularem
leis em histria.
24
Por conseguinte, nela no h tambm
21. CEH, pp. 45-67.
22. De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954, pp. 51-67.
23. CEH, pp. 212; 181-189.
24. CEH, pp. 187-189.
235
a histria - descrio do vivido - oscila entre a averso
s essncias sem cuja presena o vivido se tornaria caos,
e a reduo s essncias que acabaria por eliminar o vivido
e, por conseguinte, a prpria histria.
17
Plantada com to-
das as suas razes no terreno do vivido, a histria no
e nunca poder ser uma cincia, muito embora a descrio
historiogrfica utilize cada vez mais instrumentos e tcni-
cas das mais diversas cincias. Com efeito, jamais o his-
toriador poder descobrir leis que sejam, especificamente,
leis histricas. Ora, toda cincia cincia de leis; e a lei
somente pode ser formulada dentro das condies ideais
s quais se submete apenas o modelo formal, ou que dizem
respeito a uma forma abstrata. No h modelo que reprn-
duza o vivido ou o concreto como tais, pois ele seria per-
feitamente intil.
1
s Desta sorte a histria - "cincia do
concreto" como pretendeu constitu-la um certo existencia-
l i s m o ~ ~ - um contra-senso epistemolgico.
Mas, no sendo a histria uma cincia, como poderia
ser caracterizado o tecido dos acontecimentos mais diver-
sos que ela entrelaa para ordenar sua narrao? A pri-
meira caracterstica desse tecido so suas lacunas. Se a
cincia inacabada de jure, a histria o de facto.
20
Im-
possvel distinguir entre os eventos que seriam matria da
narrao histrica e aqueles que ficariam fora da histria
narrada. E h ainda todo o domnio do no-acontecvel
que entra na pesquisa e na descrio do historiador. Na
verdade, a histria funo da informao do historiador;
e o campo da informao , por um lado, ilimitado e, por
outro, limitado pelo estado das font'es. Portanto, se tudo
histrico - este o ttulo do segundo captulo de Veyne
- a Histria (com H maisculo) no existe. Temos ape-
nas "histrias de ... " A Histria uma idia-limite ou um
ideal transcendental que institui um fim regulador ativi-
dade do historiador. Sua funo reguladora no campo do
conhecimento histrico assemelha-se funo dos ideais
da Razo pura na critica de Kant. Daqui, segundo Veyne,
17. CEH, pp. 296-299.
18. Trata-se da conhecida comparao que Lewis Carroll tornou
famosa, do mapa idntico regio e, portanto, intil. Sobre as ana-
logias epistemolgicas entre geografia e histria, ver CEH, pp. 49-50;
nota 3.
19. o ttulo do livro de Eric Dardel, L'Histoire, science clu
concret (Paris, 1946) que Veyne no cita.
20. CEH, pp. 21-29.
234
a inutilidade do historicismo. Seu nico mrito foi mostrar
os limites da objetividade histrica e as dificuldades de uma
"idia da Histria". Em suma, o resultado do historicismo
ao empreender uma "crtica da Razo histrica" como que-
ria Dilthey foi, com relao idia da Histria, anlogo
ao que Kant pretendeu ter alcanado na Crtica da Razo
Pura com relao idia da Metafsica: a impossibilidade
de um uso numenal da idia de Histria ou de uma onto-
logia da Histria. Ao historiador que tenta reconstituir o
passado abre-se o campo "muito humano" e muito pouco
"cientfico", pela confuso que nele reina de causas mate-
riais, de acasos e de fins, dos chamados "fatos" histricos.
A nica articulao possvel desses fatos, oferecendo um
certo sentido, tem a estrutura de uma intriga.
21
Um roman-
ce nos dar a melhor idia do que seja uma intriga e o
melhor modelo (evidentemente no formal) do que seja
a histria real. A utilizao do modelo de intriga liberta
o historiador da iluso do fato "indiviso", do fato "atmico"
ou do fato significativo por si mesmo. A intriga um ro-
teiro possvel no campo dos eventos, campo objetivo mas
que no resulta de uma sucesso de eventos isolados. Com
efeito, o evento no aqui seno o lugar do cruzamento
do roteiro de intrigas possveis. Desta sorte, a histria
"subjetiva" no sentido dado a este termo por H. I. Marrou,
22
ou incuravelmente nominalista. A compreenso da histria
, apenas, a compreenso de uma intriga, podendo perfei-
tamente prescindir da "conscincia" dos intrigantes ou dos
atores."" Para o historiador, compreender retrodizer a
partir de certas constantes do comportamento humano:
usos, costumes, rotinas. No se pode falar, aqui, de leis.
Fala-se de uma multido de retrodies que compem a fi-
sionomia possvel de um episdio histrico e que consti-
tuem, propriamente, a sntese em histria. A objetividade
de tal sntese limitada por fronteiras intransponveis: a
documentao e a diversidade das experincias humanas.
Em uma palavra: como no h possibilidade de se isolar
em condies iniciais que expliquem inteiramente uma se-
qncia de eventos, no h possibilidade de se formularem
leis em histria.
24
Por conseguinte, nela no h tambm
21. CEH, pp. 45-67.
22. De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954, pp. 51-67.
23. CEH, pp. 212; 181-189.
24. CEH, pp. 187-189.
235
lugar para a predio, mas apenas para a profecia, segundo
a conhecida distino de Karl Popper.
26
A histria o rei-
no da retrodio que tenta captar algo das seqncias alea-
trias dos eventos sublunares e move-se no terreno incerto
que se estende entre o indivduo (que inefvel) e o uni-
versal (que imutvel). Esse terreno especificamente his-
trico no est nem na conscincia dos indivduos nem na
abstrao da lei. constitudo pelos eventos que envolvem
os indivduos submetidos s leis da natureza, mas agitan-
do-se, como indivduos humanos, no meio especificamente
humano e especificamente sublunar que formado pelos
costumes, estilos de vida, instituies, revolues etc ...
Eis a o meio real da histria ou das histrias. A Histria
pode apenas pairar acima dele como o ideal de alguns pen-
sadores ou o ,sonho de alguns visionrios.
26
3. Em face dessa concepo veyniana, marcada pela
experincia intelectual do historiador na prtica efetiva da
pesquisa histrica,
27
e que se exprime na sentena sem ape-
lao de que a conscincia histrica no existe,
28
eleva-se
uma viso diferente da crise da conscincia histrica e do
seu desenlace, viso que tem seu fundamento numa refle-
xo filosfica de alto teor especulativo. Aqui o lugar cen-
tral ocupado pela noo de experincia (Erfahrung) e
a possibilidade de uma experincia histrica especfica cons-
titui o tema dominante da obra.
29
Qual a significao da
concepo proposta por Max Mller?
Convm inicialmente levar em conta que o ngulo sob
o qual Max Mller considera o problema da histria on-
tolgico, no epistemolgico. No a histria como cin-
cia que o interessa, mas a historicidade como modo de exis-
tir ou modo de ser (Seinsart) do homem.
80
A conhecida
25. Ver A. C. Danto, Analitical Philosophy o f History, pp. 9-12;
286, nota 2.
26. CEH, pp. 176-204; por outor lado, Veyne no poupa suas cri-
ticas teoria da explicao histrica proposta pelo empirismo lgi-
co. Ver CEH, pp. 194-198.
27. Paul Veyne professor na Universidade de Aix-en-Provence
e especialista em histria econmica e social do Imprio Romano.
28. CEH, pp. 212-250.
29. Max Mller, Erfahrung und Geschichte, Grundzge einer
Philosophie der Freiheit als transzendentale Erfahrung, Friburgo, Mu-
nique, Karl Alber, 1971 (citado daqui por diante com a sigla EG).
30 EG, p. 224.
236
distino entre histria-descrio (Historie) e
lidade ( Geschichte) utilizada para se postular a eXIsten-
cia de uma forma de experincia que tenha por objeto no
apenas os fatos histricos, mas, mais radicalmente, a his-
toricidade como forma de ser do homem que toma pos-
sveis os fatos como histricos.
8
'
A concreo da historicidade , exatamente, a Histria.
Para Max Mller ela no redutvel a uma idia-limite ou
a um a priori transcendental no sentido kantiano. Ao con-
trrio do que pretende Paul Veyne, a Histria no tem para
Mller um uso apenas regulador no processo do conheci-
mento histrico, sem que se lhe possa atribuir qualquer
contedo objetivo. Tal contedo existe e pode mesmo ser
atingido por uma genuna experincia transcendental da
historicidade. Sobre ela ser ento possvel edificar uma
ontologia da Histria.
32
Segundo entende Max Mller, uma das caractersticas da
filosofia do sculo XX a amplitude que nela alcana o con-
ceito de experincia, assinalado pelo predomnio da de
presena sobre a idia de representao. Tal predormmo tor-
na-se visvel na concepo da verdade, onde o aspecto da reta
conformidade ( orthtes) da representao com a coisa cede
lugar ao aspecto do desvelamento (a-ltheia) da sua presen-
a.
8
3 Ora toda presena que, como tal, se manifesta s pode
faz-lo mbito de uma experincia. Mas a experincia tra-
dicionalmente confinada ao mbito do sensvel. Como defi-
nir uma autntica experincia espiritual e, entre as suas
formas uma experincia da Histria que reivindicaria mes-
. mo a qualidade de forma da expe:incia espi-
ritual? Tais as questes que guiam a reflexao Max
Mller.
84
Convm preliminarmente distinguir trs tipos ou trs
nveis de presena, aos quais correspondem outras tantas
formas de experincia. Temos, em primeiro lugar, a pre-
sena 6ntica, qual corresponde a experincia sensvel. Seu
31. EG, pp. 224-225; Mller inspira-se aqui em seu mestre, M.
Heidegger. . . 'dias ui
32. Max Mller apresentou pela pnm_e1ra vez 1 aq ex-
postas nas lies da Chaire Cardinal Mere&er (Louvam) de 1957, pos-
teriormente publicadas sob o titulo Exprience et Lovaina,
Publications Universitaires, 1959, e que vieram a const1tuir o stimo
ensaio do presente volume.
33. EG, p. 224.
34. EG, p. 225.
237
lugar para a predio, mas apenas para a profecia, segundo
a conhecida distino de Karl Popper.
26
A histria o rei-
no da retrodio que tenta captar algo das seqncias alea-
trias dos eventos sublunares e move-se no terreno incerto
que se estende entre o indivduo (que inefvel) e o uni-
versal (que imutvel). Esse terreno especificamente his-
trico no est nem na conscincia dos indivduos nem na
abstrao da lei. constitudo pelos eventos que envolvem
os indivduos submetidos s leis da natureza, mas agitan-
do-se, como indivduos humanos, no meio especificamente
humano e especificamente sublunar que formado pelos
costumes, estilos de vida, instituies, revolues etc ...
Eis a o meio real da histria ou das histrias. A Histria
pode apenas pairar acima dele como o ideal de alguns pen-
sadores ou o ,sonho de alguns visionrios.
26
3. Em face dessa concepo veyniana, marcada pela
experincia intelectual do historiador na prtica efetiva da
pesquisa histrica,
27
e que se exprime na sentena sem ape-
lao de que a conscincia histrica no existe,
28
eleva-se
uma viso diferente da crise da conscincia histrica e do
seu desenlace, viso que tem seu fundamento numa refle-
xo filosfica de alto teor especulativo. Aqui o lugar cen-
tral ocupado pela noo de experincia (Erfahrung) e
a possibilidade de uma experincia histrica especfica cons-
titui o tema dominante da obra.
29
Qual a significao da
concepo proposta por Max Mller?
Convm inicialmente levar em conta que o ngulo sob
o qual Max Mller considera o problema da histria on-
tolgico, no epistemolgico. No a histria como cin-
cia que o interessa, mas a historicidade como modo de exis-
tir ou modo de ser (Seinsart) do homem.
80
A conhecida
25. Ver A. C. Danto, Analitical Philosophy o f History, pp. 9-12;
286, nota 2.
26. CEH, pp. 176-204; por outor lado, Veyne no poupa suas cri-
ticas teoria da explicao histrica proposta pelo empirismo lgi-
co. Ver CEH, pp. 194-198.
27. Paul Veyne professor na Universidade de Aix-en-Provence
e especialista em histria econmica e social do Imprio Romano.
28. CEH, pp. 212-250.
29. Max Mller, Erfahrung und Geschichte, Grundzge einer
Philosophie der Freiheit als transzendentale Erfahrung, Friburgo, Mu-
nique, Karl Alber, 1971 (citado daqui por diante com a sigla EG).
30 EG, p. 224.
236
distino entre histria-descrio (Historie) e
lidade ( Geschichte) utilizada para se postular a eXIsten-
cia de uma forma de experincia que tenha por objeto no
apenas os fatos histricos, mas, mais radicalmente, a his-
toricidade como forma de ser do homem que toma pos-
sveis os fatos como histricos.
8
'
A concreo da historicidade , exatamente, a Histria.
Para Max Mller ela no redutvel a uma idia-limite ou
a um a priori transcendental no sentido kantiano. Ao con-
trrio do que pretende Paul Veyne, a Histria no tem para
Mller um uso apenas regulador no processo do conheci-
mento histrico, sem que se lhe possa atribuir qualquer
contedo objetivo. Tal contedo existe e pode mesmo ser
atingido por uma genuna experincia transcendental da
historicidade. Sobre ela ser ento possvel edificar uma
ontologia da Histria.
32
Segundo entende Max Mller, uma das caractersticas da
filosofia do sculo XX a amplitude que nela alcana o con-
ceito de experincia, assinalado pelo predomnio da de
presena sobre a idia de representao. Tal predormmo tor-
na-se visvel na concepo da verdade, onde o aspecto da reta
conformidade ( orthtes) da representao com a coisa cede
lugar ao aspecto do desvelamento (a-ltheia) da sua presen-
a.
8
3 Ora toda presena que, como tal, se manifesta s pode
faz-lo mbito de uma experincia. Mas a experincia tra-
dicionalmente confinada ao mbito do sensvel. Como defi-
nir uma autntica experincia espiritual e, entre as suas
formas uma experincia da Histria que reivindicaria mes-
. mo a qualidade de forma da expe:incia espi-
ritual? Tais as questes que guiam a reflexao Max
Mller.
84
Convm preliminarmente distinguir trs tipos ou trs
nveis de presena, aos quais correspondem outras tantas
formas de experincia. Temos, em primeiro lugar, a pre-
sena 6ntica, qual corresponde a experincia sensvel. Seu
31. EG, pp. 224-225; Mller inspira-se aqui em seu mestre, M.
Heidegger. . . 'dias ui
32. Max Mller apresentou pela pnm_e1ra vez 1 aq ex-
postas nas lies da Chaire Cardinal Mere&er (Louvam) de 1957, pos-
teriormente publicadas sob o titulo Exprience et Lovaina,
Publications Universitaires, 1959, e que vieram a const1tuir o stimo
ensaio do presente volume.
33. EG, p. 224.
34. EG, p. 225.
237
objeto, ou o objeto onticamente presente ao homem o
ser perecvel ou em devir, o n gignmenon da terminolo-
gia filosfica grega. Descobre-se, em seguida, a presena
eidtica, qual corresponde a experincia da essncia ou
do eidos que designa para cada existente seu lugar no todo
do ser ou no universo das essncias. Em oposio pre-
sena ntica, a presena eidtica a presena do que em
cada ser permanece verdadeiramente e verdadeiramente ,
do nt6s n segundo a expresso platnica. A presena
eidtica, no entanto, no esgota os modos de presena do
ser ao conhecer. H uma forma de presena mais profunda
e propriamente fundamental que, longe de ser circunscrita
ou condicionada pela conscincia, traz em si a possibilidade
radical do ser de toda conscincia. a presena do ser
como sentido ( Sinn) expressa no axioma da convertibili-
dade lgica do ser e do inteligvel (ens et intelligibile con-
vertuntur) ou, se quisermos, presena do sentido do ser.
Denomina-se essa presena de presena ontolgica. A ela
corresponde a experincia igualmente denominada ontol-
gica e que a experincia do ser, constitutiva do esprito
como tal. ao nvel dessa presena que se manifesta a
identidade na diferena entre o ser e o esprito, que a onto-
logia clssica traduziu na converso lgica entre o ser e
suas propriedades chamadas transcendentais (em sentido
no-kantiano): unum, verum, bonum.
Em suma, a experincia ontolgica a experincia do
ser como fundamento de toda experincia. Como constitu-
tiva do esprito, ela comum a todos os homens, conquan-
to sua explicitao somente se d no interior de uma for-
ma especfica de presena do ser e de correspondente ex-
perincia, que Mller denomina transcendental. Sem avan-
ar alm da experincia ontolgica - o que impossvel
por definio -, a experincia transcendental articula-se
como forma propriamente filosfica da experincia. Ela
tem por objeto a conexo necessria que se estabelece en-
tre as trs formas de presena anteriormente enumeradas:
a presena ntica funda-se necessariamente na presena
eidtica e esta somente possvel no horizonte da presena
ontolgica. Segundo Max Mller,
35
o campo prprio da
reflexo filosfica dado pela experincia transcendental
(ainda aqui num sentido no-kantiano), ou seja, experin-
35. EG, p. 223.
238
cia da continuidade desses trs modos fundamentais de
presena, e elaborao conceptual da sua coerncia intrn-
seca.
Esses esclarecimentos preliminares sobre a noo de
experincia fazem-se necessrios para que se possa situar
corretamente no domnio da experincia o que Max Mller
se prope chamar de experincia transcendental da Hist-
ria e cuja elaborao conceptual nos daria uma autntica
filosofia da Histria. De resto, convm igualmente obser-
var a essa altura que toda experincia transcendental, pelo
fato mesmo de se referir ao horizonte ontolgico como
horizonte ltimo de toda experincia, nunca pode se deter
aqum desse horizonte. Toda filosofia , necessariamente,
uma ontologia.
H um primeiro sentido em que a experincia ontol-
gico-transcendental obviamente histrica. aquele que
est presente na histria da filosofia como histria das di-
versas concepes do ser que nela se sucedem.
36
Mas, o
que se tem em vista aqui no historicidade que afeta a
prpria experincia ontolgico-transcendental, mas sim a
experincia - que se situa nesse mesmo nvel ontolgico-
-transcendental - da historicidade constitutiva do ser.
Ora, segundo entende Max Mller, a tematizao dessa
experincia no foi objeto da reflexo filosfica pelo me-
nos at Hegel. Com efeito, essa experincia atinge o ser
atravs da mediao de um modo de ser do homem que
o modo de ser de um terceiro gnero
37
de movimento que
se desenrola entre o movimento transiente das coisas da
natureza que nascem e perecem ( motus imperfectus), e o
movimento imanente do esprito que tem o seu fim em si
mesmo e, em razo da sua essncia, perfeito e absoluto
( motus perfectus, actus). Composto de matria e esprito,
o homem o lugar de entrecruzamento desses dois movi-
mentos que nele no se somam, mas se fundem, dando
origem a um terceiro gnero de movimento, especificamen-
36. Ver o ensaio introdutrio intitulado Die Wahrheit der Me-
taphysik und die Geschichte, pp. 17-77.
37. EG, pp. 242-246. Em outro lugar da sua obra, Mller intro-
duz ainda um quarto gnero (EG, pp. 64-66; 261-282) denominado ~ o
vimento da vida no sentido evolutivo, seja dentro de uma concepao
materialista seja dentro de uma concepo espiritualista. Em rela-
o com esses gneros de movimento, Mller distingue cinco modos
transcendentais do tempo (EG, pp. 67-68).
239
objeto, ou o objeto onticamente presente ao homem o
ser perecvel ou em devir, o n gignmenon da terminolo-
gia filosfica grega. Descobre-se, em seguida, a presena
eidtica, qual corresponde a experincia da essncia ou
do eidos que designa para cada existente seu lugar no todo
do ser ou no universo das essncias. Em oposio pre-
sena ntica, a presena eidtica a presena do que em
cada ser permanece verdadeiramente e verdadeiramente ,
do nt6s n segundo a expresso platnica. A presena
eidtica, no entanto, no esgota os modos de presena do
ser ao conhecer. H uma forma de presena mais profunda
e propriamente fundamental que, longe de ser circunscrita
ou condicionada pela conscincia, traz em si a possibilidade
radical do ser de toda conscincia. a presena do ser
como sentido ( Sinn) expressa no axioma da convertibili-
dade lgica do ser e do inteligvel (ens et intelligibile con-
vertuntur) ou, se quisermos, presena do sentido do ser.
Denomina-se essa presena de presena ontolgica. A ela
corresponde a experincia igualmente denominada ontol-
gica e que a experincia do ser, constitutiva do esprito
como tal. ao nvel dessa presena que se manifesta a
identidade na diferena entre o ser e o esprito, que a onto-
logia clssica traduziu na converso lgica entre o ser e
suas propriedades chamadas transcendentais (em sentido
no-kantiano): unum, verum, bonum.
Em suma, a experincia ontolgica a experincia do
ser como fundamento de toda experincia. Como constitu-
tiva do esprito, ela comum a todos os homens, conquan-
to sua explicitao somente se d no interior de uma for-
ma especfica de presena do ser e de correspondente ex-
perincia, que Mller denomina transcendental. Sem avan-
ar alm da experincia ontolgica - o que impossvel
por definio -, a experincia transcendental articula-se
como forma propriamente filosfica da experincia. Ela
tem por objeto a conexo necessria que se estabelece en-
tre as trs formas de presena anteriormente enumeradas:
a presena ntica funda-se necessariamente na presena
eidtica e esta somente possvel no horizonte da presena
ontolgica. Segundo Max Mller,
35
o campo prprio da
reflexo filosfica dado pela experincia transcendental
(ainda aqui num sentido no-kantiano), ou seja, experin-
35. EG, p. 223.
238
cia da continuidade desses trs modos fundamentais de
presena, e elaborao conceptual da sua coerncia intrn-
seca.
Esses esclarecimentos preliminares sobre a noo de
experincia fazem-se necessrios para que se possa situar
corretamente no domnio da experincia o que Max Mller
se prope chamar de experincia transcendental da Hist-
ria e cuja elaborao conceptual nos daria uma autntica
filosofia da Histria. De resto, convm igualmente obser-
var a essa altura que toda experincia transcendental, pelo
fato mesmo de se referir ao horizonte ontolgico como
horizonte ltimo de toda experincia, nunca pode se deter
aqum desse horizonte. Toda filosofia , necessariamente,
uma ontologia.
H um primeiro sentido em que a experincia ontol-
gico-transcendental obviamente histrica. aquele que
est presente na histria da filosofia como histria das di-
versas concepes do ser que nela se sucedem.
36
Mas, o
que se tem em vista aqui no historicidade que afeta a
prpria experincia ontolgico-transcendental, mas sim a
experincia - que se situa nesse mesmo nvel ontolgico-
-transcendental - da historicidade constitutiva do ser.
Ora, segundo entende Max Mller, a tematizao dessa
experincia no foi objeto da reflexo filosfica pelo me-
nos at Hegel. Com efeito, essa experincia atinge o ser
atravs da mediao de um modo de ser do homem que
o modo de ser de um terceiro gnero
37
de movimento que
se desenrola entre o movimento transiente das coisas da
natureza que nascem e perecem ( motus imperfectus), e o
movimento imanente do esprito que tem o seu fim em si
mesmo e, em razo da sua essncia, perfeito e absoluto
( motus perfectus, actus). Composto de matria e esprito,
o homem o lugar de entrecruzamento desses dois movi-
mentos que nele no se somam, mas se fundem, dando
origem a um terceiro gnero de movimento, especificamen-
36. Ver o ensaio introdutrio intitulado Die Wahrheit der Me-
taphysik und die Geschichte, pp. 17-77.
37. EG, pp. 242-246. Em outro lugar da sua obra, Mller intro-
duz ainda um quarto gnero (EG, pp. 64-66; 261-282) denominado ~ o
vimento da vida no sentido evolutivo, seja dentro de uma concepao
materialista seja dentro de uma concepo espiritualista. Em rela-
o com esses gneros de movimento, Mller distingue cinco modos
transcendentais do tempo (EG, pp. 67-68).
239
te humano, no qual o homem une paradoxalmente sua con-
dio mortal e sua exigncia de absoluto ou sua abertura
para o sentido do ser. Movimento de natureza essencial-
mente trgica, que irredutvel seja serena eternidade
do movimento perfeito seja transitoriedade do movimento
imperfeito distendido entre o nascimento e a morte no de-
vir universal da natureza. Ora, o homem um ser hist-
rico exatamente na medida em que existe segundo este
modo de ser do terceiro gnero de movimento. A histria
, pois, o domnio da trgica condio mortal que se cons-
titui e se manifesta como exigncia de imortalidade. Toda
tentativa, pois, de pensar a histria orienta-se necessaria-
mente numa direo soteriolgica. Pensar a histria , no
fundo, pensar um caminho de salvao do homem que al-
cance superar o trgico paradoxo da sua condio. Essa
soteriologia imanente ao discurso histrico manifesta-se, na
Grcia, como arte da narrao que confia memria ( mne-
mSiyne) a nica imortalidade possvel dos atos e das obras
dos homens. A filosofia clssica, no entanto, no tematiza
a dimenso soteriolgica da histria no prprio nvel da
histria. A salvao que ela prope uma salvao que
suprime o trgico histrico por meio de uma elevao dia-
ltica que nega simplesmente a precariedade contingente
do primeiro gnero de movimento para instalar-se na pere-
nidade sempre igual a si mesma do segundo gnero, na
enrgeia imanente do pensamento. Ser necessrio esperar
por Hegel para que a reflexo filosfica se volte decidida-
mente para esse estreitamento e essa fuso de imanncia
e transincia que o existir do homem como ser hist-
rico, submetido s vicissitudes do terceiro gnero de mo-
vimento. de Hegel que parte ou, ao menos, em Hegel
que definitivamente se forma a grande corrente da filoso-
fia da Histria. Max Mller concorda, assim, com tantos
outros historiadores da filosofia, ao observar que nenhum
dos grandes sistemas de filosofia antiga fez do terceiro g-
nero de movimento um tema prprio da sua reflexo. Ne-
nhum deles pode ser caracterizado como uma filosofia da
Histria. interessante observar que, para Paul Veyne, as
a filosofia clssica no filosofou sobre a Histria simples-
mente porque a Histria no existe. Realisticamente, ela
filosofou sobre o Ser e o Devir e, quando muito, filosofou
38. CEH, p. 42.
240
sobre histrias que se desenrolam no mundo sublunar de
devir, como fez Plato ao filosofar, na Repblica, sobre a
sucesso dos regimes polticos. Para Max Mller, no entan-
to, h um campo especfico do histrico que torna possvel
e legtima uma filosofia da Histria: justamente o cam-
po onde se desenrola o terceiro gnero de movimento. Ora,
a inteno filosfica de Hegel tem como seu objeto pri-
mordial esse terceiro gnero, o paradoxo do absoluto pre-
sente na finitude que define a vida humana como vida his-
trica. Desta sorte, o caminho da reflexo hegeliana no
vai do finito ao infinito - ou do relativo ao absoluto -
pela via negationis como acontece na filosofia clssica. Ela
segue o roteiro de uma elevao que conserva (Aufhebung),
de uma negao dialtica na qual cada momento - no
caso, cada existncia histrica singular na condio trgica
da sua destinao para a morte e da sua aspirao imor-
talidade - ao mesmo tempo suprimida e mantida no
saber de si mesmo do Esprito universal, no Saber absolu-
to. Desta sorte, o objeto da experincia ontolgico-transcen-
dental do hegelianismo ou da theora (saber especulativo)
segundo Hegel, situa-se no entrecruzamento da Razo e da
Natureza onde se d o movimento do terceiro gnero pr-
prio da existncia histrica do homem, na qual se fundem
o sentido e o absurdo. A theora clssica abandonava esse
movimento atividade poitica da narrao historiogrfica.
Hegel tenta explic-lo racionalmente por meio do procedi-
mento dialtico. Coloca-se, no entanto, em face do prop-
sito hegeliano a questo sobre a possibilidade de uma theo-
ra da Histria que alcance justificar ao nvel da Razo
dialtica a totalidade dos seus momentos. Max Mller evo-
ca aqui o protesto apaixonado de Kierkegaard contra o lo-
gicismo hegeliano e em defesa da unicidade da existncia
singular. Esse protesto pode ser apontado como nascendo
do sentimento da irredutibilidade do terceiro gnero de mo-
vimento necessidade lgica que preside ao segundo g-
nero. Na verdade, embora a dialtica no elimine, mas
conserve, essa conservao tem lugar no interior de um
processo ideal no qual fica igualmente suprimido o trgico
paradoxo da existncia humana enquanto existncia hist-
rica.
Para Max Mller, portanto, o caminho para uma autn-
tica reflexo filosfica sobre a Histria deve evitar tanto
a direo tomada pela Metafsica clssica quanto a que foi
241
te humano, no qual o homem une paradoxalmente sua con-
dio mortal e sua exigncia de absoluto ou sua abertura
para o sentido do ser. Movimento de natureza essencial-
mente trgica, que irredutvel seja serena eternidade
do movimento perfeito seja transitoriedade do movimento
imperfeito distendido entre o nascimento e a morte no de-
vir universal da natureza. Ora, o homem um ser hist-
rico exatamente na medida em que existe segundo este
modo de ser do terceiro gnero de movimento. A histria
, pois, o domnio da trgica condio mortal que se cons-
titui e se manifesta como exigncia de imortalidade. Toda
tentativa, pois, de pensar a histria orienta-se necessaria-
mente numa direo soteriolgica. Pensar a histria , no
fundo, pensar um caminho de salvao do homem que al-
cance superar o trgico paradoxo da sua condio. Essa
soteriologia imanente ao discurso histrico manifesta-se, na
Grcia, como arte da narrao que confia memria ( mne-
mSiyne) a nica imortalidade possvel dos atos e das obras
dos homens. A filosofia clssica, no entanto, no tematiza
a dimenso soteriolgica da histria no prprio nvel da
histria. A salvao que ela prope uma salvao que
suprime o trgico histrico por meio de uma elevao dia-
ltica que nega simplesmente a precariedade contingente
do primeiro gnero de movimento para instalar-se na pere-
nidade sempre igual a si mesma do segundo gnero, na
enrgeia imanente do pensamento. Ser necessrio esperar
por Hegel para que a reflexo filosfica se volte decidida-
mente para esse estreitamento e essa fuso de imanncia
e transincia que o existir do homem como ser hist-
rico, submetido s vicissitudes do terceiro gnero de mo-
vimento. de Hegel que parte ou, ao menos, em Hegel
que definitivamente se forma a grande corrente da filoso-
fia da Histria. Max Mller concorda, assim, com tantos
outros historiadores da filosofia, ao observar que nenhum
dos grandes sistemas de filosofia antiga fez do terceiro g-
nero de movimento um tema prprio da sua reflexo. Ne-
nhum deles pode ser caracterizado como uma filosofia da
Histria. interessante observar que, para Paul Veyne, as
a filosofia clssica no filosofou sobre a Histria simples-
mente porque a Histria no existe. Realisticamente, ela
filosofou sobre o Ser e o Devir e, quando muito, filosofou
38. CEH, p. 42.
240
sobre histrias que se desenrolam no mundo sublunar de
devir, como fez Plato ao filosofar, na Repblica, sobre a
sucesso dos regimes polticos. Para Max Mller, no entan-
to, h um campo especfico do histrico que torna possvel
e legtima uma filosofia da Histria: justamente o cam-
po onde se desenrola o terceiro gnero de movimento. Ora,
a inteno filosfica de Hegel tem como seu objeto pri-
mordial esse terceiro gnero, o paradoxo do absoluto pre-
sente na finitude que define a vida humana como vida his-
trica. Desta sorte, o caminho da reflexo hegeliana no
vai do finito ao infinito - ou do relativo ao absoluto -
pela via negationis como acontece na filosofia clssica. Ela
segue o roteiro de uma elevao que conserva (Aufhebung),
de uma negao dialtica na qual cada momento - no
caso, cada existncia histrica singular na condio trgica
da sua destinao para a morte e da sua aspirao imor-
talidade - ao mesmo tempo suprimida e mantida no
saber de si mesmo do Esprito universal, no Saber absolu-
to. Desta sorte, o objeto da experincia ontolgico-transcen-
dental do hegelianismo ou da theora (saber especulativo)
segundo Hegel, situa-se no entrecruzamento da Razo e da
Natureza onde se d o movimento do terceiro gnero pr-
prio da existncia histrica do homem, na qual se fundem
o sentido e o absurdo. A theora clssica abandonava esse
movimento atividade poitica da narrao historiogrfica.
Hegel tenta explic-lo racionalmente por meio do procedi-
mento dialtico. Coloca-se, no entanto, em face do prop-
sito hegeliano a questo sobre a possibilidade de uma theo-
ra da Histria que alcance justificar ao nvel da Razo
dialtica a totalidade dos seus momentos. Max Mller evo-
ca aqui o protesto apaixonado de Kierkegaard contra o lo-
gicismo hegeliano e em defesa da unicidade da existncia
singular. Esse protesto pode ser apontado como nascendo
do sentimento da irredutibilidade do terceiro gnero de mo-
vimento necessidade lgica que preside ao segundo g-
nero. Na verdade, embora a dialtica no elimine, mas
conserve, essa conservao tem lugar no interior de um
processo ideal no qual fica igualmente suprimido o trgico
paradoxo da existncia humana enquanto existncia hist-
rica.
Para Max Mller, portanto, o caminho para uma autn-
tica reflexo filosfica sobre a Histria deve evitar tanto
a direo tomada pela Metafsica clssica quanto a que foi
241
seguida por Hegel. Trata-se de retomar um c3;minho cujo
primeiro traado Mller encontra em Sto. Agostmho
39
e que
foi continuado modernamente por Pascal. De acordo com
o roteiro agostiniano, a experincia ontolgico-transcenden-
tal da Histria no se descreve em termos de negao do
finito no infinito da Idia nem pela suprassuno dialtica
no finito no infinito do Esprito. Estamos aqui diante de
uma experincia cujo contedo mais profundo no se for-
mula em termos de idia, mas sim em termos de liber-
dade. Com efeito, o campo da experincia que aqui se abre
aquele em que o homem concreto experimenta a sua li-
berdade finita interpelada e como que exigida pela liber-
dade infinita e incondicionada, e cuja forma mais patente
no seno a recusa da liberdade finita a responder a
essa interpelao, o que denuncia a sua falibilidade e a sua
culpa. Embora se trate de uma experincia ir_ltimamente
ligada experincia moral, se trata
experincia moral. Na experiencm moral, a liberdade fmlta
chamada a decidir-se em face da exigncia da norma e
da lei. Nesse caso, h ainda a possibilidade de se inter-
pretar a norma ou a lei como imanentes essncia trans-
cendental da vontade, como o faz Kant na sua crtica da
Razo prtica.
40
No caso, porm, da experincia descrita
por Sto. Agostinho, tal como a interpreta Max Mller, a
singularidade da situao da liberdade finita no pode ser
referida universalidade de uma norma, mas unicamente
presena tambm singular e, de certo modo, situada (pa-
radoxo que ser o paradoxo da Encarnao) da liberdade
infinita que a interpela e reclama o seu livre consentimento.
nesse sentido que semelhante experincia deve ser dita
uma experincia rigorosamente histrica.
Segundo Max Mller, a tendncia permanente do.
samento ocidental, de Plato a Hegel e mesmo depOis ae
Hegel, foi integrar toda explicao na. da
Natureza ou na universalidade do :E:sp1nto, ou amda na
universalidade da Vida.
41
Na verdade, porm, o tempo his-
trico cadenciado pelo ritmo das liberdades rigorosamente
singuares que nele se defrontam, no pode ser universa-
39. Ver o estudo sobre Sto. Agostinho, que reproduz um artigo
do Staatslexikon in EG, pp. 461-476.
40. EG, p. 254.
41. EG, pp. 64-77.
242
lizado no mbito de um conceito totalizante. A Histria
no pode ser pensada como totalidade cclica, evolutiva ou
dialtica. Sendo um tempo no qual tem lugar a experin-
cia trgica da falibilidade e da falta da liberdade finita, o
tempo histrico no pode ser integrado numa totalidade
ideal em cujo seio alcance uma justificao imanente. A ex-
perincia do tempo histrico, por ser um evento da liber-
dade, no se situa como um momento do tempo da Natu-
reza, do Esprito ou da Vida, mas se adensa em torno
do tempo propcio (kairs) de uma deciso. O kairs
o instante da interpelao da liberdade finita por uma li-
berdade infinita que pesa insuportavelmente sobre ela e
cujo apelo ela no pode neutralizar na generalidade de um
conceito, nem mesmo na generalidade da lei ou da norma.
42
Em oposio linguagem do mito (recuperao do passa-
do no presente da narrao) ou linguagem do conceito
(anulao do tempo num sistema de essncias intemporais),
a linguagem que exprime o kairs uma linguagem do sm-
bolo (presentificao do tempo que se exprime na pos-
sibilidade de tornar contemporneo o instante da deciso
a um evento epocal que revela o seu sentido).
43
essa a
razo pela qual impossvel pensar uma totalidade inte-
gradora dos kairo. A Histria (aqui, mais do que nunca,
como H maisculo), s pode ser revelada do ponto de vista
da Liberdade infinita como Histria da salvao ou como
seqncia temporal dos gesta Dei salvficos.
H,. ento, apenas uma Teologia e no uma Filosofia
da Histria? Max Mller esfora-se por estabelecer a pos-
sibilidade da experincia ontolgico-transcendental do tem-
po histrico como experincia do kairs, do tempo da de-
ciso; ora, o prprio exerccio desse tipo de reflexo mos-
tra que essa experincia pode ser definida em termos filo-
sficos, embora seja impossvel construir, a partir dela, a
Histria como uma totalidade sistemtica no nvel de uma
inteligibilidade metafsica. Com efeito, a inteligibilidade me-
tafsica de um processo de devir, de vir-a-ser ontolgico
caracterizada por Mller segundo o esquema hegeliano do
42. EG, p. 257.
43. EG, pp. 74-75. A inspirao kierkergaardiana aqui reconhe-
cida pelo prprio Max Mller, na evocao exemplar da contempora-
neidade da deciso da f com o evento epocal da morte e Ressurrei-
o de Cristo. Sobre symbolos ver EG, pp. 555-559.
243
seguida por Hegel. Trata-se de retomar um c3;minho cujo
primeiro traado Mller encontra em Sto. Agostmho
39
e que
foi continuado modernamente por Pascal. De acordo com
o roteiro agostiniano, a experincia ontolgico-transcenden-
tal da Histria no se descreve em termos de negao do
finito no infinito da Idia nem pela suprassuno dialtica
no finito no infinito do Esprito. Estamos aqui diante de
uma experincia cujo contedo mais profundo no se for-
mula em termos de idia, mas sim em termos de liber-
dade. Com efeito, o campo da experincia que aqui se abre
aquele em que o homem concreto experimenta a sua li-
berdade finita interpelada e como que exigida pela liber-
dade infinita e incondicionada, e cuja forma mais patente
no seno a recusa da liberdade finita a responder a
essa interpelao, o que denuncia a sua falibilidade e a sua
culpa. Embora se trate de uma experincia ir_ltimamente
ligada experincia moral, se trata
experincia moral. Na experiencm moral, a liberdade fmlta
chamada a decidir-se em face da exigncia da norma e
da lei. Nesse caso, h ainda a possibilidade de se inter-
pretar a norma ou a lei como imanentes essncia trans-
cendental da vontade, como o faz Kant na sua crtica da
Razo prtica.
40
No caso, porm, da experincia descrita
por Sto. Agostinho, tal como a interpreta Max Mller, a
singularidade da situao da liberdade finita no pode ser
referida universalidade de uma norma, mas unicamente
presena tambm singular e, de certo modo, situada (pa-
radoxo que ser o paradoxo da Encarnao) da liberdade
infinita que a interpela e reclama o seu livre consentimento.
nesse sentido que semelhante experincia deve ser dita
uma experincia rigorosamente histrica.
Segundo Max Mller, a tendncia permanente do.
samento ocidental, de Plato a Hegel e mesmo depOis ae
Hegel, foi integrar toda explicao na. da
Natureza ou na universalidade do :E:sp1nto, ou amda na
universalidade da Vida.
41
Na verdade, porm, o tempo his-
trico cadenciado pelo ritmo das liberdades rigorosamente
singuares que nele se defrontam, no pode ser universa-
39. Ver o estudo sobre Sto. Agostinho, que reproduz um artigo
do Staatslexikon in EG, pp. 461-476.
40. EG, p. 254.
41. EG, pp. 64-77.
242
lizado no mbito de um conceito totalizante. A Histria
no pode ser pensada como totalidade cclica, evolutiva ou
dialtica. Sendo um tempo no qual tem lugar a experin-
cia trgica da falibilidade e da falta da liberdade finita, o
tempo histrico no pode ser integrado numa totalidade
ideal em cujo seio alcance uma justificao imanente. A ex-
perincia do tempo histrico, por ser um evento da liber-
dade, no se situa como um momento do tempo da Natu-
reza, do Esprito ou da Vida, mas se adensa em torno
do tempo propcio (kairs) de uma deciso. O kairs
o instante da interpelao da liberdade finita por uma li-
berdade infinita que pesa insuportavelmente sobre ela e
cujo apelo ela no pode neutralizar na generalidade de um
conceito, nem mesmo na generalidade da lei ou da norma.
42
Em oposio linguagem do mito (recuperao do passa-
do no presente da narrao) ou linguagem do conceito
(anulao do tempo num sistema de essncias intemporais),
a linguagem que exprime o kairs uma linguagem do sm-
bolo (presentificao do tempo que se exprime na pos-
sibilidade de tornar contemporneo o instante da deciso
a um evento epocal que revela o seu sentido).
43
essa a
razo pela qual impossvel pensar uma totalidade inte-
gradora dos kairo. A Histria (aqui, mais do que nunca,
como H maisculo), s pode ser revelada do ponto de vista
da Liberdade infinita como Histria da salvao ou como
seqncia temporal dos gesta Dei salvficos.
H,. ento, apenas uma Teologia e no uma Filosofia
da Histria? Max Mller esfora-se por estabelecer a pos-
sibilidade da experincia ontolgico-transcendental do tem-
po histrico como experincia do kairs, do tempo da de-
ciso; ora, o prprio exerccio desse tipo de reflexo mos-
tra que essa experincia pode ser definida em termos filo-
sficos, embora seja impossvel construir, a partir dela, a
Histria como uma totalidade sistemtica no nvel de uma
inteligibilidade metafsica. Com efeito, a inteligibilidade me-
tafsica de um processo de devir, de vir-a-ser ontolgico
caracterizada por Mller segundo o esquema hegeliano do
42. EG, p. 257.
43. EG, pp. 74-75. A inspirao kierkergaardiana aqui reconhe-
cida pelo prprio Max Mller, na evocao exemplar da contempora-
neidade da deciso da f com o evento epocal da morte e Ressurrei-
o de Cristo. Sobre symbolos ver EG, pp. 555-559.
243
Princpio-Fim no mbito de uma Perfeio que se cumpre
(Vollendung) e que est presente no Princpio como exign-
cia de realizao e no Fim como Plenitude alcanada. um
processo, pois, de natureza circular no sentido em que He-
gel usa a imagem do crculo para representar o movimento
da Lgica, numa passagem evocada por Max Mller. Aqui
o ltimo como fim ( tlos) tambm o primeiro como
Princpio (arqu). Embora admitindo que se possam, a
partir desse esquema, elaborar categorias intra-histricas
teis para se pensarem certas dimenses e seqncias his-
tricas, Mller recusa-o - em contraposio, segundo afir-
ma, a Hegel e inspirao fundamental da Metafsica cls-
sica na medida em que se pretenda construir, a partir dela,
uma filosofia da Histria - como esquema apto a servir
uma explicao global do devir histrico e mesmo da his-
toricidade enquanto tal ou do sentido da Histria. Com
efeito, o esquema teleolgico clssico aplicado Histria
implicaria o esvaziamento do kairs, do momento privile-
giado ou propcio da deciso. Portanto, a explicao da
Histria deve ser buscada no no desenvolvimento lgico
de um movimento nico orientado para um nico Fim,
45
mas no entrecruzamento dos dois movimentos da encarna-
o e da participao que se inscrevem no evento exemplar
da linguagem como lugar privilegiado de manifestao da li-
berdade e, por conseguinte do prprio existir histrico. A en-
carnao a linha do movimento de deciso, do kairs que
propicia uma chance histrica assumida ou rejeitada; par-
ticipao a linha do movimento que acolhe a deciso na
esfera do ser e a revela presente no lugar em que o ser
se manifesta, isto , na linguagem. Em suma, dialtica
unilinear Princpio= Fim, presidida pela idia de Perfeio,
que articula a Histria como um nico e englobante mo-
vimento da identidade na diferena, Max Mller ope uma
dialtica do meio (Mitte), na qual o sentido dos momentos
- a sua plenitude ontolgica - no arrastado na direo
de um Fim, mas se cumpre no prprio instante da deci-
so.
46
A Histria sempre meio, passagem: mas essa
44. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, ed. Lasson, I, p. 55;
cit. em EG, p. 582, nota 30.
45. EG, p. 586.
46. EG, pp. 590-599.
244
passagem tudo porque a passagem ou caminho da liber-
dade.
4
'
Mller busca exemplos dessa dialtica, o que viria
confirmar seu carter autenticamente filosfico, em diver-
sas esferas da experincia humana, em que a estrutura do
_como kairs se manifesta de maneira par-
tiCularmente mtida. Temos assim, por exemplo, a esfera
do amor, na qual se d a experincia absolutamente sin-
gular do dom de si; ou a esfera da vocao (sobretudo no
domnio histrico por excelncia que a poltica) onde se
d a experincia de um apelo ou mesmo de uma
de assumir uma certa tarefa ou uma certa responsabilida-
de, apelo ou exigncia que se apresentam e se decidem na
singularidade irrepetvel de uma ocasio nica, de um kairs.
A viso da Histria como totalidade de sentido fica
desta sorte, para alm das possibilidades de uma
da Hist!ia. Essa viso s possvel como viso teolgica.
Com efeito, ela s pensvel a partir da Liberdade infini-
como que se realiza no tempo, das suas inicia-
tivas salvficas que suprassumem e unificam num s sen-
tido, de estrutura tendrica, o curso da histria humana.
No entanto, esse sentido s pode ser conhecido atravs de
uma _revelao que , por sua vez, uma iniciativa gratuita
Liberdade e pode ser traduzida conceptualmente num
te?lgica. Permanece, porm, a legi-
timidade filosofica do discurso sobre a experincia do tem-
po da deciso do kairs, que refere essa experincia ao n-
vel da Histria como tal e no apenas aos episdios das
histrias particulares, sendo verdade que a liberdade finita
ao decidir-se, v-se, no seu ser mais profundo face a
. a e o apelo da Liberdade ( expe-
rienCia da falibilidade e da culpa), conquanto seja incapaz
de de_svelar, por suas prprias foras, os secretos desgnios
do Dieu cach (para usar a expresso pascaliana) na His-
tria. Assim pois a Histria pode ser pressentida ou nar-
rada simbolicamente como totalidade dos desgnios da Li-
berdade infinita (de fato, a revelao se faz na forma de
uma Historia salutis) e, como tal, ela se faz presente como
47. A intuio de Mller reencontra aqui o ncleo mais original
da viso crist da Histria: a centralidade do evento crstico como
passagem (Pscoa) que permanece irrepetvel e nica e de cuja uni-
cidade participa, ao longo do tempo da Igreja, a deciso da f.
245
Princpio-Fim no mbito de uma Perfeio que se cumpre
(Vollendung) e que est presente no Princpio como exign-
cia de realizao e no Fim como Plenitude alcanada. um
processo, pois, de natureza circular no sentido em que He-
gel usa a imagem do crculo para representar o movimento
da Lgica, numa passagem evocada por Max Mller. Aqui
o ltimo como fim ( tlos) tambm o primeiro como
Princpio (arqu). Embora admitindo que se possam, a
partir desse esquema, elaborar categorias intra-histricas
teis para se pensarem certas dimenses e seqncias his-
tricas, Mller recusa-o - em contraposio, segundo afir-
ma, a Hegel e inspirao fundamental da Metafsica cls-
sica na medida em que se pretenda construir, a partir dela,
uma filosofia da Histria - como esquema apto a servir
uma explicao global do devir histrico e mesmo da his-
toricidade enquanto tal ou do sentido da Histria. Com
efeito, o esquema teleolgico clssico aplicado Histria
implicaria o esvaziamento do kairs, do momento privile-
giado ou propcio da deciso. Portanto, a explicao da
Histria deve ser buscada no no desenvolvimento lgico
de um movimento nico orientado para um nico Fim,
45
mas no entrecruzamento dos dois movimentos da encarna-
o e da participao que se inscrevem no evento exemplar
da linguagem como lugar privilegiado de manifestao da li-
berdade e, por conseguinte do prprio existir histrico. A en-
carnao a linha do movimento de deciso, do kairs que
propicia uma chance histrica assumida ou rejeitada; par-
ticipao a linha do movimento que acolhe a deciso na
esfera do ser e a revela presente no lugar em que o ser
se manifesta, isto , na linguagem. Em suma, dialtica
unilinear Princpio= Fim, presidida pela idia de Perfeio,
que articula a Histria como um nico e englobante mo-
vimento da identidade na diferena, Max Mller ope uma
dialtica do meio (Mitte), na qual o sentido dos momentos
- a sua plenitude ontolgica - no arrastado na direo
de um Fim, mas se cumpre no prprio instante da deci-
so.
46
A Histria sempre meio, passagem: mas essa
44. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, ed. Lasson, I, p. 55;
cit. em EG, p. 582, nota 30.
45. EG, p. 586.
46. EG, pp. 590-599.
244
passagem tudo porque a passagem ou caminho da liber-
dade.
4
'
Mller busca exemplos dessa dialtica, o que viria
confirmar seu carter autenticamente filosfico, em diver-
sas esferas da experincia humana, em que a estrutura do
_como kairs se manifesta de maneira par-
tiCularmente mtida. Temos assim, por exemplo, a esfera
do amor, na qual se d a experincia absolutamente sin-
gular do dom de si; ou a esfera da vocao (sobretudo no
domnio histrico por excelncia que a poltica) onde se
d a experincia de um apelo ou mesmo de uma
de assumir uma certa tarefa ou uma certa responsabilida-
de, apelo ou exigncia que se apresentam e se decidem na
singularidade irrepetvel de uma ocasio nica, de um kairs.
A viso da Histria como totalidade de sentido fica
desta sorte, para alm das possibilidades de uma
da Hist!ia. Essa viso s possvel como viso teolgica.
Com efeito, ela s pensvel a partir da Liberdade infini-
como que se realiza no tempo, das suas inicia-
tivas salvficas que suprassumem e unificam num s sen-
tido, de estrutura tendrica, o curso da histria humana.
No entanto, esse sentido s pode ser conhecido atravs de
uma _revelao que , por sua vez, uma iniciativa gratuita
Liberdade e pode ser traduzida conceptualmente num
te?lgica. Permanece, porm, a legi-
timidade filosofica do discurso sobre a experincia do tem-
po da deciso do kairs, que refere essa experincia ao n-
vel da Histria como tal e no apenas aos episdios das
histrias particulares, sendo verdade que a liberdade finita
ao decidir-se, v-se, no seu ser mais profundo face a
. a e o apelo da Liberdade ( expe-
rienCia da falibilidade e da culpa), conquanto seja incapaz
de de_svelar, por suas prprias foras, os secretos desgnios
do Dieu cach (para usar a expresso pascaliana) na His-
tria. Assim pois a Histria pode ser pressentida ou nar-
rada simbolicamente como totalidade dos desgnios da Li-
berdade infinita (de fato, a revelao se faz na forma de
uma Historia salutis) e, como tal, ela se faz presente como
47. A intuio de Mller reencontra aqui o ncleo mais original
da viso crist da Histria: a centralidade do evento crstico como
passagem (Pscoa) que permanece irrepetvel e nica e de cuja uni-
cidade participa, ao longo do tempo da Igreja, a deciso da f.
245
mstncia de infinita gravidade no instante da deciso da
liberdade finita, ainda que esta perceba a sua histria como
fragmentada nos limites insuperveis da sua finitude. S
f dado transgredir esses limites.
Por um paradoxo que talvez no seja seno aparente
descobrimos uma convergncia inegvel entre as concluses
da ontologia do existir histrico de Max Mller e as teses
da epistemologia da histria de Paul Veyne. Para Veyne
intriga e jogo; para Mller o tempo das ocasies pro-
pcias, dos kairo, das chances. Afinal, jogo tambm, em-
bora um jogo infinitamente srio. Para ambos no dado
ao homem pensar uma Histria desenrolando-se na serena
majestade dos conceitos e recolhendo, para explic-la, a
sublunar e infinita complexidade das situaes humanas.
O conceito abstrai e formaliza. Ora, para a liberdade tudo
matria de intriga, de decises. Procede daqui a incom-
patibilidade entre uma estrutura conceptual formalizada e
a narrao histrica.
4. Vemos assim que o conceito de Histria tal como,
na idade historicista, foi proposto como conceito primeiro
em lugar dos conceitos primeiros da ontologia tradicional,
o Ser ou a Natureza, posto em questo a partir de pers-
pectivas diferentes, mas que apontam para o mesmo alvo.
A epistemologia do conhecimento histrico de Paul Veyne
e a ontologia da experincia transcendental da histria de
Max Mller acabam por submeter a Histria, enquanto obje-
to de cincia ou de filosofia, a um radical questionamento.
48
Rejeitada do campo da episthme, e no se contentando com
as incertezas da dxa, onde ento se acolher a Histria
que teima em existir e se oferece aos desgnios de uma
praxis que reclama para si um carter absoluto, sendo efe-
tivadora de um Sentido absoluto ou antecipadora da pre-
sena dominadora de um Fim dialeticamente necessrio?
A primeira tentao a de fazer da Histria um mito:
ela seria o mito de substituio de uma idade no-religiosa,
como se exprime Michel de Certeau.
49
Mas, a menos que
48. Com efeito, se Max Mller tenta uma filosofia da histria
como descrio da experincia transcendental do kairs, essa filosofia
exclui qualquer pretenso a uma viso abrangente da Histria no n-
vel filosfico.
49. Ver Michel de Certeau, Faire de l'Histoire, ap. Recherches
de Science Religieuse, 58 (1970): 481-520 (aqui p. 510i.
246
pretendamos dar ao termo mito uma significao exagera-
damente ampla e demasiadamente flexvel, essa designao
parece imprpria, sobretudo se levarmos em conta as pe-
culiaridades do discurso mtico e seu carter fundamental-
mente apraxeolgico. No mito no se observa essa para-
doxal unio da praxis (domnio da incerteza e da dxa) e
da theora (domnio do Sentido absoluto e do Fim neces-
srio) que est presente na Histria tal como se constituiu
como realidade primordial e conceito primeiro nas mundi-
vidncias historicistas. Resta perguntar-se se o discurso
ideolgico no o que melhor atende s caractersticas do
discurso sobre a Histria; e se a idia ou a fico da Hist-
ria no se apresentou, de fato, como a matriz fundamental do
pensamento ideolgico. O nascimento do problema ideolgico
sob o signo do historicismo parece sugerir uma resposta
afirmativa a essas questes,
50
mas a sua discusso no po-
deria caber nessas pginas.
Como quer que seja, o declnio atual do prestgio das
grandes ideologias, num clima essencialmente pragmtico
de planificao e competio, no qual a coexistncia pacfi-
ca essencial ao xito de projetos tecnocrticos de mbito
mundial,
51
arrasta consigo a viso da Histria como unit-
rio e majestoso processo onde as "astcias da Razo", para
falar como Hegel, no permitem momentneos desvios se-
no para impor, mais implacvel e dominadora, a presena
do Fim. A Histria, hoje, parece retornar s "intrigas
sublunares", e torna-se apenas histria ou histrias de ...
O instrumento epistemolgico que se apresenta como o mais
apto para a inteleco do seu aleatrio acontecer, a teo-
ria dos jogos. Um ndice que parece significativo desse de-
clnio da concepo da Histria que dominara a idade his-
toricista, a ambigidade que caracteriza a primazia atual
do tema do futuro. Oscilando entre a predio e a profe-
cia, para usar a distino de Popper, a viso do futuro v
obscurecerem-se os claros itinerrios iluminados pela cer-
teza de um Fim racional da Histria, que se afirmava co-
mo exigncia de sentido para um processo unitrio e uni-
versal, dialeticamente articulado. As grandes vises histo-
ricistas voltavam-se para o futuro a partir da elucidao
50. :1!: conhecido o historicismo radical preconizado por Karl
Marx na critica a Feuerbach que abre a Ideologia alem.
51. Essas linhas foram escritas em 1974. O advento da era Gor-
batchev veio a ser uma brilhante confirmao do que aqui foi dito.
247
mstncia de infinita gravidade no instante da deciso da
liberdade finita, ainda que esta perceba a sua histria como
fragmentada nos limites insuperveis da sua finitude. S
f dado transgredir esses limites.
Por um paradoxo que talvez no seja seno aparente
descobrimos uma convergncia inegvel entre as concluses
da ontologia do existir histrico de Max Mller e as teses
da epistemologia da histria de Paul Veyne. Para Veyne
intriga e jogo; para Mller o tempo das ocasies pro-
pcias, dos kairo, das chances. Afinal, jogo tambm, em-
bora um jogo infinitamente srio. Para ambos no dado
ao homem pensar uma Histria desenrolando-se na serena
majestade dos conceitos e recolhendo, para explic-la, a
sublunar e infinita complexidade das situaes humanas.
O conceito abstrai e formaliza. Ora, para a liberdade tudo
matria de intriga, de decises. Procede daqui a incom-
patibilidade entre uma estrutura conceptual formalizada e
a narrao histrica.
4. Vemos assim que o conceito de Histria tal como,
na idade historicista, foi proposto como conceito primeiro
em lugar dos conceitos primeiros da ontologia tradicional,
o Ser ou a Natureza, posto em questo a partir de pers-
pectivas diferentes, mas que apontam para o mesmo alvo.
A epistemologia do conhecimento histrico de Paul Veyne
e a ontologia da experincia transcendental da histria de
Max Mller acabam por submeter a Histria, enquanto obje-
to de cincia ou de filosofia, a um radical questionamento.
48
Rejeitada do campo da episthme, e no se contentando com
as incertezas da dxa, onde ento se acolher a Histria
que teima em existir e se oferece aos desgnios de uma
praxis que reclama para si um carter absoluto, sendo efe-
tivadora de um Sentido absoluto ou antecipadora da pre-
sena dominadora de um Fim dialeticamente necessrio?
A primeira tentao a de fazer da Histria um mito:
ela seria o mito de substituio de uma idade no-religiosa,
como se exprime Michel de Certeau.
49
Mas, a menos que
48. Com efeito, se Max Mller tenta uma filosofia da histria
como descrio da experincia transcendental do kairs, essa filosofia
exclui qualquer pretenso a uma viso abrangente da Histria no n-
vel filosfico.
49. Ver Michel de Certeau, Faire de l'Histoire, ap. Recherches
de Science Religieuse, 58 (1970): 481-520 (aqui p. 510i.
246
pretendamos dar ao termo mito uma significao exagera-
damente ampla e demasiadamente flexvel, essa designao
parece imprpria, sobretudo se levarmos em conta as pe-
culiaridades do discurso mtico e seu carter fundamental-
mente apraxeolgico. No mito no se observa essa para-
doxal unio da praxis (domnio da incerteza e da dxa) e
da theora (domnio do Sentido absoluto e do Fim neces-
srio) que est presente na Histria tal como se constituiu
como realidade primordial e conceito primeiro nas mundi-
vidncias historicistas. Resta perguntar-se se o discurso
ideolgico no o que melhor atende s caractersticas do
discurso sobre a Histria; e se a idia ou a fico da Hist-
ria no se apresentou, de fato, como a matriz fundamental do
pensamento ideolgico. O nascimento do problema ideolgico
sob o signo do historicismo parece sugerir uma resposta
afirmativa a essas questes,
50
mas a sua discusso no po-
deria caber nessas pginas.
Como quer que seja, o declnio atual do prestgio das
grandes ideologias, num clima essencialmente pragmtico
de planificao e competio, no qual a coexistncia pacfi-
ca essencial ao xito de projetos tecnocrticos de mbito
mundial,
51
arrasta consigo a viso da Histria como unit-
rio e majestoso processo onde as "astcias da Razo", para
falar como Hegel, no permitem momentneos desvios se-
no para impor, mais implacvel e dominadora, a presena
do Fim. A Histria, hoje, parece retornar s "intrigas
sublunares", e torna-se apenas histria ou histrias de ...
O instrumento epistemolgico que se apresenta como o mais
apto para a inteleco do seu aleatrio acontecer, a teo-
ria dos jogos. Um ndice que parece significativo desse de-
clnio da concepo da Histria que dominara a idade his-
toricista, a ambigidade que caracteriza a primazia atual
do tema do futuro. Oscilando entre a predio e a profe-
cia, para usar a distino de Popper, a viso do futuro v
obscurecerem-se os claros itinerrios iluminados pela cer-
teza de um Fim racional da Histria, que se afirmava co-
mo exigncia de sentido para um processo unitrio e uni-
versal, dialeticamente articulado. As grandes vises histo-
ricistas voltavam-se para o futuro a partir da elucidao
50. :1!: conhecido o historicismo radical preconizado por Karl
Marx na critica a Feuerbach que abre a Ideologia alem.
51. Essas linhas foram escritas em 1974. O advento da era Gor-
batchev veio a ser uma brilhante confirmao do que aqui foi dito.
247
racional do passado que dissipava, por sua vez, as obscuri-
dades do presente. Com a fragmentao do tempo histri-
co nos fios diversos de muitas intrigas, na singularidade dos
kairo ou nos lances de um jogo, a certeza quanto ao futu-
ro renuncia sua justificao racional. Ela acaba substi-
tuda pelo grito proftico acompanhado quase sempre pelo
ensurdecedor clamor contestatrio. Eles esperam parado-
xalmente da obstinada negao do presente a creatio ex ni-
hilo da cidade futura. A ideologia entrelaa-se inextricavel-
mente com a utopia. No campo teolgico, esse prestgio,
at h pouco incontestado da Histria, parece refletir-se
no visvel retraimento das teologias abrangentes da histria
da salvao e no advento das fragmentrias teologias da
esperana que exaltam o anncio proftico do futuro, ou
das teologias' polticas (da libertatio e outras) que realam
no testemunho cristo a funo da crtica social e poltica.
Como a vaga que reflui e descobre um solo de areia
e destroos, o grande otimismo historicist3r, que durante
dois sculos cobriu majestosamente as praias do pensamen-
to ocidental, desaparece no horizonte e nos deixa um solo
movedio, onde jazem os restos de antigas certezas. A ra-
cionalidade nos discursos sobre a histria refugia-se nas
pequenas ilhas das razes provveis. O grito proftico volta
a ser a voz que se ouve nas regies outrora ocupadas pela
grande Histria, mas uma voz que clama no deserto.
cedo ainda para dizer de onde viro as novas vagas e
em que direo iro inclinar a rota de uma histria que,
colocada sob o signo do Ulisses dantesco, fi
2
est sempre
pronta a largar as amarras e novamente partir. No entanto,
se aceitarmos o resultado essencial da Fenomenologia do
Esprito de Hegel, a histria ocidental, hoje histria uni-
versal, se encontra irrevogavelmente ligada ao destino da
Razo. Ora, a Razo , por essncia, universal. Se a uni-
versalidade preconizada pelas filosofias da Histria se exau-
re hoje na impossibilidade de abraar o fantstico enredo
das intrigas sublunares que esto sendo urdidas pelo nosso
confuso e inquieto presente, cabe inventar novas formas
de racionalidade, novas dimenses de universalidade nas-
cendo de uma nova articulao da inesgotvel dialtica -
matriz de toda racionalidade - da identidade e da dife-
52. Inf. XXVI, v.v. 85-142.
2'48
rena. A alternativa a essa tarefa e a esse caminho no
poderia ser seno a fuga para as regies noturnas da ideo-
logia e do mito.
possvel pensar, como sugerem algumas pginas de
Max Mller, que a leitura historicista de Hegel no tenha
conseguido arrancar a ltima palavra ao filsofo da iden-
tidade e da diferena. A Cincia da Lgica e a Enciclopdia
das Cincias Filosficas parecem continuar sugerindo que
h ainda caminhos no trilhados na busca de uma nova
racionalidade para a Histria. De qualquer maneira, '5e a
histria kairs, como quer Max Mller, permanece diante
de ns a advertncia de Pnd'aro na aurora da nossa civili-
zao: Noesai de kairs ristos.
5
~
53. "Pois ver (pensar) o tempo propcio mais excelente",
Olimp. XIII 48. Por uma das admirveis transposies metafricas
que v i ~ r a m ~ constituir a lngua filosfica grega, o verbo noein, ori-
ginariamente ver passa a significar intuir, contemplar, como ato su-
premo do conheimento. Ver Plato, Rep. VI, 511 d.
249
racional do passado que dissipava, por sua vez, as obscuri-
dades do presente. Com a fragmentao do tempo histri-
co nos fios diversos de muitas intrigas, na singularidade dos
kairo ou nos lances de um jogo, a certeza quanto ao futu-
ro renuncia sua justificao racional. Ela acaba substi-
tuda pelo grito proftico acompanhado quase sempre pelo
ensurdecedor clamor contestatrio. Eles esperam parado-
xalmente da obstinada negao do presente a creatio ex ni-
hilo da cidade futura. A ideologia entrelaa-se inextricavel-
mente com a utopia. No campo teolgico, esse prestgio,
at h pouco incontestado da Histria, parece refletir-se
no visvel retraimento das teologias abrangentes da histria
da salvao e no advento das fragmentrias teologias da
esperana que exaltam o anncio proftico do futuro, ou
das teologias' polticas (da libertatio e outras) que realam
no testemunho cristo a funo da crtica social e poltica.
Como a vaga que reflui e descobre um solo de areia
e destroos, o grande otimismo historicist3r, que durante
dois sculos cobriu majestosamente as praias do pensamen-
to ocidental, desaparece no horizonte e nos deixa um solo
movedio, onde jazem os restos de antigas certezas. A ra-
cionalidade nos discursos sobre a histria refugia-se nas
pequenas ilhas das razes provveis. O grito proftico volta
a ser a voz que se ouve nas regies outrora ocupadas pela
grande Histria, mas uma voz que clama no deserto.
cedo ainda para dizer de onde viro as novas vagas e
em que direo iro inclinar a rota de uma histria que,
colocada sob o signo do Ulisses dantesco, fi
2
est sempre
pronta a largar as amarras e novamente partir. No entanto,
se aceitarmos o resultado essencial da Fenomenologia do
Esprito de Hegel, a histria ocidental, hoje histria uni-
versal, se encontra irrevogavelmente ligada ao destino da
Razo. Ora, a Razo , por essncia, universal. Se a uni-
versalidade preconizada pelas filosofias da Histria se exau-
re hoje na impossibilidade de abraar o fantstico enredo
das intrigas sublunares que esto sendo urdidas pelo nosso
confuso e inquieto presente, cabe inventar novas formas
de racionalidade, novas dimenses de universalidade nas-
cendo de uma nova articulao da inesgotvel dialtica -
matriz de toda racionalidade - da identidade e da dife-
52. Inf. XXVI, v.v. 85-142.
2'48
rena. A alternativa a essa tarefa e a esse caminho no
poderia ser seno a fuga para as regies noturnas da ideo-
logia e do mito.
possvel pensar, como sugerem algumas pginas de
Max Mller, que a leitura historicista de Hegel no tenha
conseguido arrancar a ltima palavra ao filsofo da iden-
tidade e da diferena. A Cincia da Lgica e a Enciclopdia
das Cincias Filosficas parecem continuar sugerindo que
h ainda caminhos no trilhados na busca de uma nova
racionalidade para a Histria. De qualquer maneira, '5e a
histria kairs, como quer Max Mller, permanece diante
de ns a advertncia de Pnd'aro na aurora da nossa civili-
zao: Noesai de kairs ristos.
5
~
53. "Pois ver (pensar) o tempo propcio mais excelente",
Olimp. XIII 48. Por uma das admirveis transposies metafricas
que v i ~ r a m ~ constituir a lngua filosfica grega, o verbo noein, ori-
ginariamente ver passa a significar intuir, contemplar, como ato su-
premo do conheimento. Ver Plato, Rep. VI, 511 d.
249
TI
POLITICA E HISTORIA *
Entre os sinais mais evidentes da crise intelectual do
nosso tempo, salta vista esse fenmeno que R. Koselleck
denominou a dissoluo do tpos clssico historia, magistra
vitae e seu desaparecimento no horizonte cultural da mo-
dernidade. Transmitida na sua forma cannica por Polbio
e Ccero, repetida de gerao em gerao, a sentena cle-
bre exprime uma forma de conscincia do passado em que
este se constitui como tradio num sentido eminentemente
tico, vem a ser, como constelao exemplar de eventos,
de experincias, de aes e normas que orientam a rota do
devir histrico no fugidio presente. O magistrio da hist-
ria ainda ilustrado por Ccero com as funes de teste-
munhar, de iluminar, de dar vida ao que jaz aparentemen-
te ~ o ~ t o 1_10s arquivos da memria: testis temporum, lux
ventatts, vtta memoriae (De Oratore, li, 9, 36). Esse esva-
ziamento da funo pedaggica da histria no seno a
outra face da perda da conscincia da tradio tica. Ele
repercute sobre a prtica historiogrfica, dando origem a
uma situao de profundo paradoxo. Com aguda sensibi-
lidade, Nietzsche j experimentara no sculo XIX - o s-
culo por excelncia do triunfo da histria como cincia -
o paradoxo que acompanha o avano do conhecimento his-
trico. Na segunda das Consideraes Inatuais (1874) so-
bre a utilidade e a nocividade da histria para a vida, ao
mesmo tempo em que denuncia a seca cincia erudita do
In Sntese <NF), 39 (1987): 5-10.
250
passado como letal para a vida presente, sendo apenas um
caminhar entre coisas mortas, Nietzsche exalta o conheci-
mento dos altos feitos histricos - da histria monumen-
tal - como poderoso impulso para elevar a vida do pre-
sente acima da pequenez insignificante do cotidiano. Na
verdade, ele reconhece na tarefa historiogrfica um alto sen-
tido tico, justamente esse que parece dissipar-se quando
a histria deixa de ser magistra vitae. Mas preciso acres-
centar que tal sentido floresce apenas quando a rvore do
conhecimento histrico recebe sua vida das razes que tra-
zem do passado a seiva que Sto. Irineu de Lio designou,
numa expresso enrgica, como dynamis tes paradseos,
o que quer dizer "a fora viva da tradio".
O que temos hoje diante de ns a pesquisa historio-
grfica dispondo dos mais apurados instrumentos tcnicos
e conceptuais, estendendo o mais longe possvel o seu cam-
po de investigao, abrangendo do modo mais completo,
desde as prticas at as crenas, todas as dimenses das
culturas e civilizaes que nos precederam. Em suma, o
que temos indiscutivelmente diante de ns a histria do-
tada de todos os predicados da cincia. Conviria ento per-
guntar-se, com Nietzsche, se a cincia no seria justamente
o astro que se interpe entre a histria e a vida, lanando
na escurido a luz da histria como tradio e como lio
para a vida. Com efeito, toda essa soma de conhecimentos
parece incapaz de inspirar uma mais rica hermenutica sa-
piencial do passado, da qual possam fluir lies iluminado-
ras para o presente: historia, lux veritatis. Ao contrrio,
ela apenas alimenta um minucioso furor classificatrio que
objetiva o passado em categorias e esquemas de interpre-
tao para, aparentemente, melhor desprender-se dele. Na
verdade, assistimos hoje a uma irresistivel invaso do cam-
po do conhecimento histrico por categorias de natureza
ideolgica. A escritura da histria degrada-se em escritu-
ra ideolgica, o passado apenas um objeto cuja significa-
o se transfere para as razes dos interesses em luta no
presente.
Como se v, estamos aqui em face de uma forma extre-
ma de anacronismo. O passado capturado nas malhas
ideolgicas do presente e, com isso, o conceito de tradio
perde todo o seu sentido. Esse o resultado paradoxal da
histria-cincia: ela opera a presentificao do tempo his-
trico no horizonte ideolgico da escritura do historiador,
251
TI
POLITICA E HISTORIA *
Entre os sinais mais evidentes da crise intelectual do
nosso tempo, salta vista esse fenmeno que R. Koselleck
denominou a dissoluo do tpos clssico historia, magistra
vitae e seu desaparecimento no horizonte cultural da mo-
dernidade. Transmitida na sua forma cannica por Polbio
e Ccero, repetida de gerao em gerao, a sentena cle-
bre exprime uma forma de conscincia do passado em que
este se constitui como tradio num sentido eminentemente
tico, vem a ser, como constelao exemplar de eventos,
de experincias, de aes e normas que orientam a rota do
devir histrico no fugidio presente. O magistrio da hist-
ria ainda ilustrado por Ccero com as funes de teste-
munhar, de iluminar, de dar vida ao que jaz aparentemen-
te ~ o ~ t o 1_10s arquivos da memria: testis temporum, lux
ventatts, vtta memoriae (De Oratore, li, 9, 36). Esse esva-
ziamento da funo pedaggica da histria no seno a
outra face da perda da conscincia da tradio tica. Ele
repercute sobre a prtica historiogrfica, dando origem a
uma situao de profundo paradoxo. Com aguda sensibi-
lidade, Nietzsche j experimentara no sculo XIX - o s-
culo por excelncia do triunfo da histria como cincia -
o paradoxo que acompanha o avano do conhecimento his-
trico. Na segunda das Consideraes Inatuais (1874) so-
bre a utilidade e a nocividade da histria para a vida, ao
mesmo tempo em que denuncia a seca cincia erudita do
In Sntese <NF), 39 (1987): 5-10.
250
passado como letal para a vida presente, sendo apenas um
caminhar entre coisas mortas, Nietzsche exalta o conheci-
mento dos altos feitos histricos - da histria monumen-
tal - como poderoso impulso para elevar a vida do pre-
sente acima da pequenez insignificante do cotidiano. Na
verdade, ele reconhece na tarefa historiogrfica um alto sen-
tido tico, justamente esse que parece dissipar-se quando
a histria deixa de ser magistra vitae. Mas preciso acres-
centar que tal sentido floresce apenas quando a rvore do
conhecimento histrico recebe sua vida das razes que tra-
zem do passado a seiva que Sto. Irineu de Lio designou,
numa expresso enrgica, como dynamis tes paradseos,
o que quer dizer "a fora viva da tradio".
O que temos hoje diante de ns a pesquisa historio-
grfica dispondo dos mais apurados instrumentos tcnicos
e conceptuais, estendendo o mais longe possvel o seu cam-
po de investigao, abrangendo do modo mais completo,
desde as prticas at as crenas, todas as dimenses das
culturas e civilizaes que nos precederam. Em suma, o
que temos indiscutivelmente diante de ns a histria do-
tada de todos os predicados da cincia. Conviria ento per-
guntar-se, com Nietzsche, se a cincia no seria justamente
o astro que se interpe entre a histria e a vida, lanando
na escurido a luz da histria como tradio e como lio
para a vida. Com efeito, toda essa soma de conhecimentos
parece incapaz de inspirar uma mais rica hermenutica sa-
piencial do passado, da qual possam fluir lies iluminado-
ras para o presente: historia, lux veritatis. Ao contrrio,
ela apenas alimenta um minucioso furor classificatrio que
objetiva o passado em categorias e esquemas de interpre-
tao para, aparentemente, melhor desprender-se dele. Na
verdade, assistimos hoje a uma irresistivel invaso do cam-
po do conhecimento histrico por categorias de natureza
ideolgica. A escritura da histria degrada-se em escritu-
ra ideolgica, o passado apenas um objeto cuja significa-
o se transfere para as razes dos interesses em luta no
presente.
Como se v, estamos aqui em face de uma forma extre-
ma de anacronismo. O passado capturado nas malhas
ideolgicas do presente e, com isso, o conceito de tradio
perde todo o seu sentido. Esse o resultado paradoxal da
histria-cincia: ela opera a presentificao do tempo his-
trico no horizonte ideolgico da escritura do historiador,
251
muito diversa da "fuso de horizontes" (Horizontversch-
melzung) que, segundo H.-G. Gadamer tem lugar no traba-
lho hermenutica. Esse processo comea a delinear-se com
a das grandes vises da histria como progresso
que havmm alcanado sua expresso mais grandiosa na
filos_?fia hegeliana. Sua apario assinalada pela procla-
maao, por Marx, na Ideologia alem, de que tudo his-
trico o. significa, afinal, que nada histrico, pois
que a historm toda foi absorvida na praxis revolucionria
do presente. Essa praxis define-se necessariamente como
negao do passado e como tenso extrema para suprimir
a contingncia e incerteza do futuro: para inaugurar um
comeo que se perpetua como novidade sempre renovada
como um nunc aeternitatis que se instala no tempo
fix-lo na transparncia de um saber e de uma ao que
pro_clamam absoluto. Tal a tarefa de presen-
tecni?a de dominao do tempo a que a bis-
tona-meneia e convidada a submeter-se. Basta pensar no
uso da nos marxistas e na ideologizao
pesqmsa e do texto histrico que se difunde nas univer-
do Ocidente. Ningum sabe, aqui, onde acaba a
o mito. Uma coisa, porm, certa:
a assim praticada um ato eminentemente
de ruptura a tradio e com o tpos de inte-
definido pela regra herme-
neutiCa da .htst.ona, magtstra vitae. Ser preciso perguntar-
-se A o . do comeo absoluto que dominou a
conscienma pohtiCa dos revolucionrios do sculo XVIII e
que se exprimiu no verso virgiliano, orgulhosamente inscri-
no braso dos treze estados confederados - nCYVUs ab
tntegro saeculorum nascitur ordo - no constitui de fato
o ato inicial dessa imensa empresa de dominao do
na qual somos tentados a ver o mais constante e tenaz pro-
jeto poltico da modernidade.
No preciso ser "progressista" ou "conservador"
su.ficiente um pouco de bom senso para se verificar o
mito do comeo absoluto, sendo o mais poderosamente se-
dutor para o homem confrontado com a eterna tentao
de o criador nico do seu mundo, tambm o mais
oposto racionalidade e sensatez da ao
pohtica. Com efeito, sendo por essncia tica (ver infra
257-26.2)_, a ao poltica se refere constitutivamente
a tradtao, vem a ser, a um ethos que organiza quali-
252
l
':;_
tativamente o tempo passado numa perspectiva axiolgica
em cujo prolongamento - pela reiterao, pelo confronto
crtico ou mesmo pela transgresso - devero situar-se as
opes tico-polticas do tempo presente. O esvaecer-se do
horizonte da tradio em face do avanar dominador do
tempo quantitativo ao qual a histria-cincia parece subme-
ter-se abre largamente o espao para o advento desse niilis-
mo tico e poltico que hoje inspira as mais diversas pr-
ticas individuais e sociais. Um filsofo polons dos nossos
dias mostrou justamente como o deslocamento do "centro
de gravidade" da percepo temporal do passado para o
futuro que acompanha a evoluo das tcnicas de medida
do tempo e de previso do fluxo dos acontecimentos assi-
nala igualmente uma forma explcita de politizao das re-
laes temporais (K. Pomian, L' ordre du temps, Paris,
Gallimard, 1984, pp. 291-302). Com efeito, ele favorece uma
derivao das filosofias da histria para as ideologias e
essas, na sua forma mais agressiva, colocam-se inteiramente
a servio de um futuro cuja elaborao no presente tem
incio com a negao sem apelo do passado.
A degradao da histria-cincia em ideologia e o con-
seqente e inevitvel dissolver-se da histria-tradio com
o abandono do topos sapiencial da historia, magistra vitae,
apresentam-se com particular gravidade quando se trata da
histria de uma instituio para a qual a tradio no
apenas memria e conservao de paradigmas ticos, m1s
penetra muito mais profundamente na constituio da iden-
tidade da comunidade histrica, pois se desdobra numa di-
menso propriamente meta-histrica na qual o evento fun-
dador permanece contemporneo s obras e atos que a ele
se referem ao longo do tempo [ver Sntese, 24 (1982): 5-9].
Tal o sentido da histria-tradio na constituio da na-
tureza da Igreja e na forma que deve assumir sua cons-
cincia histrica. Convm observar, por outro lado, que
o advento da historiografia cientfica pde ser assimilado
a seu tempo sem dificuldade por parte da prtica eclesis-
tica tradicional de escritura da histria. A moderna cincia
da histria reconhece, com efeito, uma das suas origens
justamente no enorme avano que o estudo das fontes da
histria eclesistica conheceu a partir do sculo XVI e que
a obra dos bolandistas e dos beneditinos da Congregao
de So Mauro (mauristas), entre outras iria continuar nos
sculos XVII e XVIII. O lustre tradio historio-
253
muito diversa da "fuso de horizontes" (Horizontversch-
melzung) que, segundo H.-G. Gadamer tem lugar no traba-
lho hermenutica. Esse processo comea a delinear-se com
a das grandes vises da histria como progresso
que havmm alcanado sua expresso mais grandiosa na
filos_?fia hegeliana. Sua apario assinalada pela procla-
maao, por Marx, na Ideologia alem, de que tudo his-
trico o. significa, afinal, que nada histrico, pois
que a historm toda foi absorvida na praxis revolucionria
do presente. Essa praxis define-se necessariamente como
negao do passado e como tenso extrema para suprimir
a contingncia e incerteza do futuro: para inaugurar um
comeo que se perpetua como novidade sempre renovada
como um nunc aeternitatis que se instala no tempo
fix-lo na transparncia de um saber e de uma ao que
pro_clamam absoluto. Tal a tarefa de presen-
tecni?a de dominao do tempo a que a bis-
tona-meneia e convidada a submeter-se. Basta pensar no
uso da nos marxistas e na ideologizao
pesqmsa e do texto histrico que se difunde nas univer-
do Ocidente. Ningum sabe, aqui, onde acaba a
o mito. Uma coisa, porm, certa:
a assim praticada um ato eminentemente
de ruptura a tradio e com o tpos de inte-
definido pela regra herme-
neutiCa da .htst.ona, magtstra vitae. Ser preciso perguntar-
-se A o . do comeo absoluto que dominou a
conscienma pohtiCa dos revolucionrios do sculo XVIII e
que se exprimiu no verso virgiliano, orgulhosamente inscri-
no braso dos treze estados confederados - nCYVUs ab
tntegro saeculorum nascitur ordo - no constitui de fato
o ato inicial dessa imensa empresa de dominao do
na qual somos tentados a ver o mais constante e tenaz pro-
jeto poltico da modernidade.
No preciso ser "progressista" ou "conservador"
su.ficiente um pouco de bom senso para se verificar o
mito do comeo absoluto, sendo o mais poderosamente se-
dutor para o homem confrontado com a eterna tentao
de o criador nico do seu mundo, tambm o mais
oposto racionalidade e sensatez da ao
pohtica. Com efeito, sendo por essncia tica (ver infra
257-26.2)_, a ao poltica se refere constitutivamente
a tradtao, vem a ser, a um ethos que organiza quali-
252
l
':;_
tativamente o tempo passado numa perspectiva axiolgica
em cujo prolongamento - pela reiterao, pelo confronto
crtico ou mesmo pela transgresso - devero situar-se as
opes tico-polticas do tempo presente. O esvaecer-se do
horizonte da tradio em face do avanar dominador do
tempo quantitativo ao qual a histria-cincia parece subme-
ter-se abre largamente o espao para o advento desse niilis-
mo tico e poltico que hoje inspira as mais diversas pr-
ticas individuais e sociais. Um filsofo polons dos nossos
dias mostrou justamente como o deslocamento do "centro
de gravidade" da percepo temporal do passado para o
futuro que acompanha a evoluo das tcnicas de medida
do tempo e de previso do fluxo dos acontecimentos assi-
nala igualmente uma forma explcita de politizao das re-
laes temporais (K. Pomian, L' ordre du temps, Paris,
Gallimard, 1984, pp. 291-302). Com efeito, ele favorece uma
derivao das filosofias da histria para as ideologias e
essas, na sua forma mais agressiva, colocam-se inteiramente
a servio de um futuro cuja elaborao no presente tem
incio com a negao sem apelo do passado.
A degradao da histria-cincia em ideologia e o con-
seqente e inevitvel dissolver-se da histria-tradio com
o abandono do topos sapiencial da historia, magistra vitae,
apresentam-se com particular gravidade quando se trata da
histria de uma instituio para a qual a tradio no
apenas memria e conservao de paradigmas ticos, m1s
penetra muito mais profundamente na constituio da iden-
tidade da comunidade histrica, pois se desdobra numa di-
menso propriamente meta-histrica na qual o evento fun-
dador permanece contemporneo s obras e atos que a ele
se referem ao longo do tempo [ver Sntese, 24 (1982): 5-9].
Tal o sentido da histria-tradio na constituio da na-
tureza da Igreja e na forma que deve assumir sua cons-
cincia histrica. Convm observar, por outro lado, que
o advento da historiografia cientfica pde ser assimilado
a seu tempo sem dificuldade por parte da prtica eclesis-
tica tradicional de escritura da histria. A moderna cincia
da histria reconhece, com efeito, uma das suas origens
justamente no enorme avano que o estudo das fontes da
histria eclesistica conheceu a partir do sculo XVI e que
a obra dos bolandistas e dos beneditinos da Congregao
de So Mauro (mauristas), entre outras iria continuar nos
sculos XVII e XVIII. O lustre tradio historio-
253
grfica no diminui e continua a brilhar no sculo XIX
por exe:rt;lplo, com a obra de um Ludwig von Pastor e
nossos dias com a de um Hubert Jedin, de um Henri-Irene
Marrou e de tantos outros historiadores e instituies de
pesquisa histrica.
A , . por parte de alguns representantes
da na Igreja, de um modo de pen-
sar IdeologiCo que se exprime freqentemente numa fra-
seologia pseudomarxista nada tem a ver, portanto, com
0
encontro entre cincia histrica e tradio eclesial. Esse
encontro vem tendo lugar pacificamente nos ltimos s-
e tem histria da Igreja uma presena
bnlhante no ambito da historiografia cientfica. As origens
do fenmeno so outras e devem ser buscadas na profunda
mudana das relaes entre cincia teolgica e prtica ecle-
sial que nos ltimos tempos teve lugar numa larga frente
do pensan;tento Ca:ptu:ada nas linhas de fora
da Ideologia da praxzs revoluciOnaria e do seu mito de um
comeo absoluto ou de uma histria qualitativamente no-
va, a prtica eclesial dos grupos mais avanados nessa linha
um3: escrit'!-ra ideolgica da histria da Igreja que
dissolve, aqw tambem, o topos da historia, magistra vitae
( con;t a profunda signi!icao que ele adquire no tempo da
IgreJa) e, por consegumte, abandona a prpria idia de tra-
dio. A historiografia torna-se ato poltico de crtica e re-
jeio de um certo passado da Igreja e praxis instauradora
de uma Igreja qualitativamente nova.
Ningum pode ainda prever o que sero as geraes
sobem para a cena da histria e no encontram mais
diante _de si o relevo definido do horizonte de uma tradio,
mas, tao-somente, o espao vazio de um futuro para o qual
o niilismo tico aponta com a promessa sedutora de que
tudo ser permitido e possvel. No apenas a percepo
do que ir mudar para essas geraes. Mu-
dara sua propna alma. E quem poder dizer o que ser
essa nova alma? No limiar da sua Histria Polbio obser-
mais cultura e exercitao para a ao
pohtiCa e o aprendizado da histria (Hist. I, 1, 2; tr. br.
M. G. UNB, 1985, p. 41). Mas que histria ir aprender
aquele do qual se desfez o horizonte da tradio?
Parece evidente que uma correspondncia estrita se esta-
entre o do fazer tcnico, onde o tempo
e clculo e previsao, e o predomnio da poltica como tc-
254
I
j
nica, onde o tempo se distende todo na planicao e do-
mnio do futuro. A poltica como arte e sabedoria (phr-
nesis ou "prudncia" no sentido aristotlico) ser algo to-
talmente desconhecido s geraes para as quais o desapa-
recimento da histria-tradio abandonou a histria-cincia
condio de puro instrumento de uma razo poltica ho-
mloga razo tcnica, presas ambas aos desgnios da ra-
zo ideolgica.
Por outro lado, uma grave iluso acompanha a tenta-
tiva de se recuperar a tradio pelo caminho da sua perda,
ou seja, pela absolutizao ideolgica do passado que ficou
conhecida como "tradicionalismo". Do ponto de vista da
conscincia da histria, ela rigorosamente simtrica ao
niilismo tico enquanto opera igualmente uma presentifi-
cao do passado em funo dos interesses em luta no pre-
sente. Neste sentido, a percepo "tradicionalista" do tem-
po, como mostra K. Pomian, privilegia paradoxalmente o
futuro no qual projeta um passado imaginrio que se pro-
pe ressuscitar ou seja, na verdade, criar como um novum
que ao antigo ir pedir to-somente a sua consagrao ideo-
lgica.
Poltica e histria encontram-se no terreno do conceito
autntico de tradio para reunir a os fios inteligveis com
que o homem entretece no tempo a durao propriamente
humana das suas crenas e representaes e das suas obras.
A poltica chamada a exercer-se como prtica da histria
ou como arte sapiencial de recompor e aprofundar perma-
nentemente a consensualidade fundamental que permite
comunidade humana perdurar e desenvolver-s no tempo.
A Histria, por sua vez, pode ser definida como teoria da
poltica, entendida esta no sentido amplo que lhe d Aris-
tteles, abrangendo o agir tico e o agir propriamente polti-
co do homem (Et. Nic. I, 1, 1094 a 26-28), na medida em que
rememora e organiza em discurso racionalmente coerente
as aes e prticas individuais e sociais e os eventos signi-
ficativos que, ao longo do tempo, construram o ethos da
comunidade ou fizeram do seu tempo histrico o tempo de
uma tradio.
A hipertrofia sem limites do fazer tcnico de uma par-
te e, de outra, a captao da cincia histrica nas malhas
da ideologia, que faz do conhecimento passado simples ins-
trumento dos interesses e lutas do presente, minam e final-
mente destroem o terreno da tradio, deixando aberto ape-
255
grfica no diminui e continua a brilhar no sculo XIX
por exe:rt;lplo, com a obra de um Ludwig von Pastor e
nossos dias com a de um Hubert Jedin, de um Henri-Irene
Marrou e de tantos outros historiadores e instituies de
pesquisa histrica.
A , . por parte de alguns representantes
da na Igreja, de um modo de pen-
sar IdeologiCo que se exprime freqentemente numa fra-
seologia pseudomarxista nada tem a ver, portanto, com
0
encontro entre cincia histrica e tradio eclesial. Esse
encontro vem tendo lugar pacificamente nos ltimos s-
e tem histria da Igreja uma presena
bnlhante no ambito da historiografia cientfica. As origens
do fenmeno so outras e devem ser buscadas na profunda
mudana das relaes entre cincia teolgica e prtica ecle-
sial que nos ltimos tempos teve lugar numa larga frente
do pensan;tento Ca:ptu:ada nas linhas de fora
da Ideologia da praxzs revoluciOnaria e do seu mito de um
comeo absoluto ou de uma histria qualitativamente no-
va, a prtica eclesial dos grupos mais avanados nessa linha
um3: escrit'!-ra ideolgica da histria da Igreja que
dissolve, aqw tambem, o topos da historia, magistra vitae
( con;t a profunda signi!icao que ele adquire no tempo da
IgreJa) e, por consegumte, abandona a prpria idia de tra-
dio. A historiografia torna-se ato poltico de crtica e re-
jeio de um certo passado da Igreja e praxis instauradora
de uma Igreja qualitativamente nova.
Ningum pode ainda prever o que sero as geraes
sobem para a cena da histria e no encontram mais
diante _de si o relevo definido do horizonte de uma tradio,
mas, tao-somente, o espao vazio de um futuro para o qual
o niilismo tico aponta com a promessa sedutora de que
tudo ser permitido e possvel. No apenas a percepo
do que ir mudar para essas geraes. Mu-
dara sua propna alma. E quem poder dizer o que ser
essa nova alma? No limiar da sua Histria Polbio obser-
mais cultura e exercitao para a ao
pohtiCa e o aprendizado da histria (Hist. I, 1, 2; tr. br.
M. G. UNB, 1985, p. 41). Mas que histria ir aprender
aquele do qual se desfez o horizonte da tradio?
Parece evidente que uma correspondncia estrita se esta-
entre o do fazer tcnico, onde o tempo
e clculo e previsao, e o predomnio da poltica como tc-
254
I
j
nica, onde o tempo se distende todo na planicao e do-
mnio do futuro. A poltica como arte e sabedoria (phr-
nesis ou "prudncia" no sentido aristotlico) ser algo to-
talmente desconhecido s geraes para as quais o desapa-
recimento da histria-tradio abandonou a histria-cincia
condio de puro instrumento de uma razo poltica ho-
mloga razo tcnica, presas ambas aos desgnios da ra-
zo ideolgica.
Por outro lado, uma grave iluso acompanha a tenta-
tiva de se recuperar a tradio pelo caminho da sua perda,
ou seja, pela absolutizao ideolgica do passado que ficou
conhecida como "tradicionalismo". Do ponto de vista da
conscincia da histria, ela rigorosamente simtrica ao
niilismo tico enquanto opera igualmente uma presentifi-
cao do passado em funo dos interesses em luta no pre-
sente. Neste sentido, a percepo "tradicionalista" do tem-
po, como mostra K. Pomian, privilegia paradoxalmente o
futuro no qual projeta um passado imaginrio que se pro-
pe ressuscitar ou seja, na verdade, criar como um novum
que ao antigo ir pedir to-somente a sua consagrao ideo-
lgica.
Poltica e histria encontram-se no terreno do conceito
autntico de tradio para reunir a os fios inteligveis com
que o homem entretece no tempo a durao propriamente
humana das suas crenas e representaes e das suas obras.
A poltica chamada a exercer-se como prtica da histria
ou como arte sapiencial de recompor e aprofundar perma-
nentemente a consensualidade fundamental que permite
comunidade humana perdurar e desenvolver-s no tempo.
A Histria, por sua vez, pode ser definida como teoria da
poltica, entendida esta no sentido amplo que lhe d Aris-
tteles, abrangendo o agir tico e o agir propriamente polti-
co do homem (Et. Nic. I, 1, 1094 a 26-28), na medida em que
rememora e organiza em discurso racionalmente coerente
as aes e prticas individuais e sociais e os eventos signi-
ficativos que, ao longo do tempo, construram o ethos da
comunidade ou fizeram do seu tempo histrico o tempo de
uma tradio.
A hipertrofia sem limites do fazer tcnico de uma par-
te e, de outra, a captao da cincia histrica nas malhas
da ideologia, que faz do conhecimento passado simples ins-
trumento dos interesses e lutas do presente, minam e final-
mente destroem o terreno da tradio, deixando aberto ape-
255
nas o espao sem referenciais do niilismo tico, onde pol-
tica e histria se degradam em pura tcnica do poder e
em discurso da fico ideolgica. Assim, no obstante a
suspeio que pesa sobre o termo "tradio" nesses tem-
pos de desagregao e descrdito das linguagens institudas,
torna-se urgente a reflexo sobre o verdadeiro conceito de
tradio e sobre o seu contedo tico. Na verdade, esse
se apresenta como o nico caminho atravs do qual ser
possvel reencontrar o sentido da poltica como sabedoria
e o da histria como mestra da vida.
1
1. "History without political science has no fruit; political scien-
ce without history has no root." J. R. Seeley, Introduction to Po-
litical Science, p. 5, cit. por W. C. Greene, Moira: Fate. Good and Evil
in Greek Thought, p. 270, nota 270.
256
~ -
, - ~ ,
III
TICA E POLfTICA *
Na sua histrica conversao com Goethe, celebrada
entre outros por Hegel, o imperador Napoleo I manifesta
a convico de que a poltica ocupa, para o homem moder-
no, o lugar que, para o homem antigo, fora ocupado pela
tragdia. O herdeiro poltico da Revoluo Francesa, cuja
aventura imperial mudou a face da Europa, admite assim
uma analogia entre tragdia antiga e poltica moderna, que
fala mais convincentemente do que longas teorias sobre a
essncia do poltico que prevalece nos nossos tempos ps-
-maquiavlicos.
Com efeito, no corao da tragdia, est a revolta im-
potente ou a aceitao resignada do heri trgico diante
da implacvel trama do destino: o destino fora e seus
desgnios impenetrveis iro escrever a v histria dos ho-
mens sobre o brnzeo fundo da necessidade. Ao apontar
o poltico como o lugar do confronto entre o homem mo-
derno e o destino, Napoleo explcita com clarividncia genial
a idia que, como stella rectrix ou como astro fatal, est
suspensa sobre o caminho histrico do moderno Estado-
Leviat: a idia do poltico como tcnica racionalmente oti-
mizada do exerccio do poder.
A aproximao da poltica moderna com a tragdia ins-
pira-se, sem dvida, no fato de que essa tcnica obedece
In Sintese (NFJ, 29 (1983): 5-10.
257
nas o espao sem referenciais do niilismo tico, onde pol-
tica e histria se degradam em pura tcnica do poder e
em discurso da fico ideolgica. Assim, no obstante a
suspeio que pesa sobre o termo "tradio" nesses tem-
pos de desagregao e descrdito das linguagens institudas,
torna-se urgente a reflexo sobre o verdadeiro conceito de
tradio e sobre o seu contedo tico. Na verdade, esse
se apresenta como o nico caminho atravs do qual ser
possvel reencontrar o sentido da poltica como sabedoria
e o da histria como mestra da vida.
1
1. "History without political science has no fruit; political scien-
ce without history has no root." J. R. Seeley, Introduction to Po-
litical Science, p. 5, cit. por W. C. Greene, Moira: Fate. Good and Evil
in Greek Thought, p. 270, nota 270.
256
~ -
, - ~ ,
III
TICA E POLfTICA *
Na sua histrica conversao com Goethe, celebrada
entre outros por Hegel, o imperador Napoleo I manifesta
a convico de que a poltica ocupa, para o homem moder-
no, o lugar que, para o homem antigo, fora ocupado pela
tragdia. O herdeiro poltico da Revoluo Francesa, cuja
aventura imperial mudou a face da Europa, admite assim
uma analogia entre tragdia antiga e poltica moderna, que
fala mais convincentemente do que longas teorias sobre a
essncia do poltico que prevalece nos nossos tempos ps-
-maquiavlicos.
Com efeito, no corao da tragdia, est a revolta im-
potente ou a aceitao resignada do heri trgico diante
da implacvel trama do destino: o destino fora e seus
desgnios impenetrveis iro escrever a v histria dos ho-
mens sobre o brnzeo fundo da necessidade. Ao apontar
o poltico como o lugar do confronto entre o homem mo-
derno e o destino, Napoleo explcita com clarividncia genial
a idia que, como stella rectrix ou como astro fatal, est
suspensa sobre o caminho histrico do moderno Estado-
Leviat: a idia do poltico como tcnica racionalmente oti-
mizada do exerccio do poder.
A aproximao da poltica moderna com a tragdia ins-
pira-se, sem dvida, no fato de que essa tcnica obedece
In Sintese (NFJ, 29 (1983): 5-10.
257
racionalidade da causa eficiente e dos seus instrumentos,
que esgota seu fim na eficcia do seu exerccio. Ela traba-
lha com as hipteses que permitem deduzir um plano mais
rigoroso para o exerccio eficaz do poder, vem a ser, para
o domnio mais completo do espao onde as liberdades in-
dividuais podem mover-se. O destino trgico inscreve-se
num cu mtico onde impera a lei da necessidade. O des-
tino poltico est preso cadeia hipottico-dedutiva que
define as condies timas para o controle da sociedade
pelo Poder. Desta sorte, na sua significao mais genuna,
e tal como a interpretou o gnio de Napoleo, a poltica no
mundo moderno um fazer na ordem da causalidade efi-
ciente que, como o antigo Destino, age sobre as liberdades
do alto de um cu misterioso: l o capricho dos Deuses,
aqui as razes do Poder.
Essa analogia entre tragdia antiga e poltica moderna
no pode deixar de surpreender-nos se refletirmos, luz
da histria das origens do pensamento poltico ocidental,
sobre o seu profundo paradoxo. Com efeito, a formao
da plis na Grcia clssica acompanhada por uma ten-
dncia para exprimir simbolicamente a vida poltica como
uma vitria da liberdade sobre o destino. No seu belo
livro La Loi dans la pense grecque (Paris, 1971), Jacque-
line de Romilly nos faz assistir ao nascimento da idia de
lei ( nmos) que passa a ocupar na cidade o lugar do tirano
e qual se conferem atributos reais ( nmos basileus).
Assegurando aos cidados a igualdade (isonoma) e a eqi-
dade (eunoma), a lei permite ordenar a vida da cidade sob
a gide de uma constituio (politeia) que submete o agir
dos indivduos norma da justia. O final solene da Ores-
tada de squilo mostra-nos o destino cego dando lugar
razo do que melhor - mais justo - e as Ernias vin-
gadoras recolhendo-se como plcidas Eumnidas ao p da
colina de Atenas. O poeta celebrava assim, no orgulho pa-
tritico do triunfo da democracia em Atenas aps a refor-
ma de Clistenes, o ideal poltico de uma cidade justa.
A partir dessas origens, as teorias polticas clssicas,
de Plato a Ccero, se propem como teorias da melhor
constituio: no da que garante mais eficazmente o exer-
ccio do poder, mas da que define as condies melhores
para a prtica da justia. Se, como ensina Aristteles, o
homem vivente poltico (zon politikn) porque vivente
racional (zon logikn), a cincia poltica tem como objeto
258
definir a forma de racionalidade que vincula o livre agir
do cidado necessidade, intrnseca prpria liberdade e,
portanto, eminentemente tica, de conformar-se com a nor-
ma universal da justia. A racionalidade poltica na con-
ceituao clssica , pois, essencialmente teleolgica. Ela
ordenadora de uma prtica em vista de um fim, que
a justia na cidade. E foi para assegurar um fundamento
ontolgico ao justa que Plato edificou a analogia gran-
diosa, estabelecida segundo o finalismo da idia do Bem,
entre a justia na alma e a justia na cidade. O longo
priplo da metafsica do Bem, na Repblica, tem assim
como termo a ao justa na cidade da justia. esse o
alvo da paideia platnica que une indissoluvelmente, nos
vnculos de uma mesma Dialtica, a cincia do Bem e a
ao poltica. E se verdade que Aristteles introduz uma
diferena de natureza metodolgica entre cincia terica e
cincia prtica, a definio da cincia prtica fortalece o
finalismo do Bem que unifica tica e Poltica segundo a
mesma razo do melhor, ou seja do que mais justo para
o indivduo e para a cidade.
Legitimar o poder pela justia na perspectiva de uma
teleologia do Bem e fazer assim da vontade poltica uma
vontade instauradora de leis justas - uma nomottica re-
gida pela razo do melhor - e no essa vontade de poder
que o sofista Trasmaco reivindicava no prtico da Rep-
blica, foi possvel para o pensamento poltico clssico em
virtude do pressuposto ontolgico que referia a ordem da
cidade ordem divina da natureza. Quando essa ordem co-
mea a ruir, na aurora dos tempos modernos, a vontade
de poder se impe como constitutiva do poltico, sem outra
finalidade a no ser ela mesma e sem outras razes legi-
timadoras seno as que podem ser deduzidas da hiptese
inicial da sua fora soberana. O mundo da ao poltica
passa a pesar sobre o homem moderno como um destino
trgico que encontra sua primeira figura, de incomparvel
vigor, no Prncipe de Maquiavel.
A partir de ento, acentua-se, com a identificao entre
poltica e "tcnica do poder", a ciso entre tica e Poltica.
No domnio da ao essa ciso aprofundada pela lgica
implacvel da Machtpolitik que preside f!: fo.rmao dos E ; t ~
dos nacionais modernos e que se constitUI como essa logi-
ca da "razo de Estado" que F. Meinecke estudou num livro
clebre ( Die I de e der Staatsrason, 1924). Teoricamente a
259
racionalidade da causa eficiente e dos seus instrumentos,
que esgota seu fim na eficcia do seu exerccio. Ela traba-
lha com as hipteses que permitem deduzir um plano mais
rigoroso para o exerccio eficaz do poder, vem a ser, para
o domnio mais completo do espao onde as liberdades in-
dividuais podem mover-se. O destino trgico inscreve-se
num cu mtico onde impera a lei da necessidade. O des-
tino poltico est preso cadeia hipottico-dedutiva que
define as condies timas para o controle da sociedade
pelo Poder. Desta sorte, na sua significao mais genuna,
e tal como a interpretou o gnio de Napoleo, a poltica no
mundo moderno um fazer na ordem da causalidade efi-
ciente que, como o antigo Destino, age sobre as liberdades
do alto de um cu misterioso: l o capricho dos Deuses,
aqui as razes do Poder.
Essa analogia entre tragdia antiga e poltica moderna
no pode deixar de surpreender-nos se refletirmos, luz
da histria das origens do pensamento poltico ocidental,
sobre o seu profundo paradoxo. Com efeito, a formao
da plis na Grcia clssica acompanhada por uma ten-
dncia para exprimir simbolicamente a vida poltica como
uma vitria da liberdade sobre o destino. No seu belo
livro La Loi dans la pense grecque (Paris, 1971), Jacque-
line de Romilly nos faz assistir ao nascimento da idia de
lei ( nmos) que passa a ocupar na cidade o lugar do tirano
e qual se conferem atributos reais ( nmos basileus).
Assegurando aos cidados a igualdade (isonoma) e a eqi-
dade (eunoma), a lei permite ordenar a vida da cidade sob
a gide de uma constituio (politeia) que submete o agir
dos indivduos norma da justia. O final solene da Ores-
tada de squilo mostra-nos o destino cego dando lugar
razo do que melhor - mais justo - e as Ernias vin-
gadoras recolhendo-se como plcidas Eumnidas ao p da
colina de Atenas. O poeta celebrava assim, no orgulho pa-
tritico do triunfo da democracia em Atenas aps a refor-
ma de Clistenes, o ideal poltico de uma cidade justa.
A partir dessas origens, as teorias polticas clssicas,
de Plato a Ccero, se propem como teorias da melhor
constituio: no da que garante mais eficazmente o exer-
ccio do poder, mas da que define as condies melhores
para a prtica da justia. Se, como ensina Aristteles, o
homem vivente poltico (zon politikn) porque vivente
racional (zon logikn), a cincia poltica tem como objeto
258
definir a forma de racionalidade que vincula o livre agir
do cidado necessidade, intrnseca prpria liberdade e,
portanto, eminentemente tica, de conformar-se com a nor-
ma universal da justia. A racionalidade poltica na con-
ceituao clssica , pois, essencialmente teleolgica. Ela
ordenadora de uma prtica em vista de um fim, que
a justia na cidade. E foi para assegurar um fundamento
ontolgico ao justa que Plato edificou a analogia gran-
diosa, estabelecida segundo o finalismo da idia do Bem,
entre a justia na alma e a justia na cidade. O longo
priplo da metafsica do Bem, na Repblica, tem assim
como termo a ao justa na cidade da justia. esse o
alvo da paideia platnica que une indissoluvelmente, nos
vnculos de uma mesma Dialtica, a cincia do Bem e a
ao poltica. E se verdade que Aristteles introduz uma
diferena de natureza metodolgica entre cincia terica e
cincia prtica, a definio da cincia prtica fortalece o
finalismo do Bem que unifica tica e Poltica segundo a
mesma razo do melhor, ou seja do que mais justo para
o indivduo e para a cidade.
Legitimar o poder pela justia na perspectiva de uma
teleologia do Bem e fazer assim da vontade poltica uma
vontade instauradora de leis justas - uma nomottica re-
gida pela razo do melhor - e no essa vontade de poder
que o sofista Trasmaco reivindicava no prtico da Rep-
blica, foi possvel para o pensamento poltico clssico em
virtude do pressuposto ontolgico que referia a ordem da
cidade ordem divina da natureza. Quando essa ordem co-
mea a ruir, na aurora dos tempos modernos, a vontade
de poder se impe como constitutiva do poltico, sem outra
finalidade a no ser ela mesma e sem outras razes legi-
timadoras seno as que podem ser deduzidas da hiptese
inicial da sua fora soberana. O mundo da ao poltica
passa a pesar sobre o homem moderno como um destino
trgico que encontra sua primeira figura, de incomparvel
vigor, no Prncipe de Maquiavel.
A partir de ento, acentua-se, com a identificao entre
poltica e "tcnica do poder", a ciso entre tica e Poltica.
No domnio da ao essa ciso aprofundada pela lgica
implacvel da Machtpolitik que preside f!: fo.rmao dos E ; t ~
dos nacionais modernos e que se constitUI como essa logi-
ca da "razo de Estado" que F. Meinecke estudou num livro
clebre ( Die I de e der Staatsrason, 1924). Teoricamente a
259
c1sao entre tica e Poltica acaba sendo consagrada pelo
refluxo individualista da tica moderna que ir condicionar
a idia de "comunidade tica" ao postulado rigoroso da
autonomia do sujeito moral tal como o definiu Kant.
Entretanto, a idia de vida poltica no Ocidente no
pode renunciar ao princpio fundamental da herana cls-
sica: o poder s poltico na medida em que for legtimo, isto
, circunscrito e regido por leis. As origens do pensamento
poltico nos mostram como motivo terico fundamental a
oposio entre poder poltico e poder desptico. Por outro
lado, a lei que legitima o poder deve ser uma lei justa, isto
, garantidora e reguladora do direito do cidado. Mas a
justia uma virtude e, como predicado da lei, que uma
proposio abstrata, deve encontrar seu contedo concreto
na prtica virtuosa do cidado. Eis a tica introduzida
no corao da Poltica e eis definidos os termos, aparente-
mente inconciliveis, cuja sntese passa a desafiar o pen-
samento poltico moderno: como definir o Estado do poder
(ou da ordem que resulta do exerccio soberano do poder)
como Estado de direito?
O problema da soberania passa a constituir-se em pro-
blema fundamental na formao dos Estados nacionais mo-
dernos e torna-se o conceito central das teorias polticas.
Por outro lado, na tenso entre poder e direito vem con-
fluir a tradio teolgica crist que conhece uma dupla
e antittica face do poder (exousa) no ensinamento do No-
vo Testamento: a face demonaca do poder como domina-
o (Lc 4,5-8) e a face benfazeja do poder como instrumen-
to de Deus em vista do bem (Rm 13,1-7). permitido crer
que a face demonaca do poder tenha encontrado seus tra-
os definitivos quando o Estado, na figurao hobbesiana
do Leviat, torna-se a nica fonte do Direito. Como exor-
cizar essa face seno sacralizando a soberania que resulta
do pacto de sociedade, coroando-a com os predicados com
que Rousseau celebrou a volont gnrale? Com efeito, o
desaparecimento do antigo solo ontolgico que fundava a
justia na teleologia do Bem e sua substituio, no sculo
XVII, pelo racionalismo mecanicista, obriga o pensamento
poltico moderno a buscar na hiptese do pacto de socie-
dade, ou seja, no vnculo contratual que une os indivduos
na aceitao do poder soberano, o fundamento da justia
poltica. No obstante o enorme esforo especulativo re-
presentado pela tentativa hegeliana de repensar a antiga
260
unidade do ethos e do nmos, esse esquema persiste e re-
torna em novas formas, como testemunha o j clssico
A Theory of Justice de John Rawls, recentemente traduzido
entre ns pela Editora da UNB.
V-se assim que, no fundo da intuio napolenica da
ressurreio moderna da tragdia antiga na esfera do po-
ltico est a dialtica indivduo-poder que rege, como mo-
tivo terico fundamental, as teorias contratualistas da jus-
tia politica. Na verdade, seja como Leviat, seja como
"vontade geral", o poder soberano acaba elevando-se ao cu
misterioso das "razes de Estado" donde pesa sobre o ci-
dado como o Destino antigo pesava sobre o heri trgico.
A teoria e a prtica da poltica no mundo moderno mostram
que a hiptese inicial dos indivduos como partculas iso-
ladas, que s o atendimento das carncias e necessidades
ir unir no vnculo jurdico do pacto de sociedade, tem
como contrapartida a concepo e a efetivao histrica do
Estado como sistema exterior de fora cuja hipertrofia tor-
na-se diretamente proporcional multiplicao e comple-
xificao das relaes sociais que hipoteticamente tem o
contrato social como fundamento e o Estado como sistema
regulador.
Parece, assim, razovel supor que a crise das sociedades
polticas contemporneas, sacudidas pelo combate entre as
aspiraes participao democrtica e a justia social de
um lado e, de outro, a hipertrofia das estruturas do poder
do Estado (fenmeno que, sob traos diversos, pode ser
identificado aqum e alm das fronteiras ideolgicas que
dividem o mundo contemporneo) tenha uma das suas ra-
zes num projeto de existncia poltica que aceita a oposi-
o indivduo-poder como a oposio primeira e constitu-
tiva do ser-em-comum poltico. Como, por outro lado, o
indivduo pensado aqui primariamente como um ser de
carncia e necessidade, a alienao ou a restrio da liber-
dade no pacto de sociedade encontra sua significao como
condio inicial da qual se deduz o sistema da satisfao
das necessidades que, como sistema poltico, passa a ser
regido pela racionalidade instrumental do "fazer" ou da
produo dos bens. O "fazer" e o "produzir" (contradis-
tintos do "agir" no sentido aristotlico) tornam-se fins em
si, submetendo todos os meios e rejeitando os fins propria-
mente ticos na esfera das convices subjetivas do indi-
vduo.
261
c1sao entre tica e Poltica acaba sendo consagrada pelo
refluxo individualista da tica moderna que ir condicionar
a idia de "comunidade tica" ao postulado rigoroso da
autonomia do sujeito moral tal como o definiu Kant.
Entretanto, a idia de vida poltica no Ocidente no
pode renunciar ao princpio fundamental da herana cls-
sica: o poder s poltico na medida em que for legtimo, isto
, circunscrito e regido por leis. As origens do pensamento
poltico nos mostram como motivo terico fundamental a
oposio entre poder poltico e poder desptico. Por outro
lado, a lei que legitima o poder deve ser uma lei justa, isto
, garantidora e reguladora do direito do cidado. Mas a
justia uma virtude e, como predicado da lei, que uma
proposio abstrata, deve encontrar seu contedo concreto
na prtica virtuosa do cidado. Eis a tica introduzida
no corao da Poltica e eis definidos os termos, aparente-
mente inconciliveis, cuja sntese passa a desafiar o pen-
samento poltico moderno: como definir o Estado do poder
(ou da ordem que resulta do exerccio soberano do poder)
como Estado de direito?
O problema da soberania passa a constituir-se em pro-
blema fundamental na formao dos Estados nacionais mo-
dernos e torna-se o conceito central das teorias polticas.
Por outro lado, na tenso entre poder e direito vem con-
fluir a tradio teolgica crist que conhece uma dupla
e antittica face do poder (exousa) no ensinamento do No-
vo Testamento: a face demonaca do poder como domina-
o (Lc 4,5-8) e a face benfazeja do poder como instrumen-
to de Deus em vista do bem (Rm 13,1-7). permitido crer
que a face demonaca do poder tenha encontrado seus tra-
os definitivos quando o Estado, na figurao hobbesiana
do Leviat, torna-se a nica fonte do Direito. Como exor-
cizar essa face seno sacralizando a soberania que resulta
do pacto de sociedade, coroando-a com os predicados com
que Rousseau celebrou a volont gnrale? Com efeito, o
desaparecimento do antigo solo ontolgico que fundava a
justia na teleologia do Bem e sua substituio, no sculo
XVII, pelo racionalismo mecanicista, obriga o pensamento
poltico moderno a buscar na hiptese do pacto de socie-
dade, ou seja, no vnculo contratual que une os indivduos
na aceitao do poder soberano, o fundamento da justia
poltica. No obstante o enorme esforo especulativo re-
presentado pela tentativa hegeliana de repensar a antiga
260
unidade do ethos e do nmos, esse esquema persiste e re-
torna em novas formas, como testemunha o j clssico
A Theory of Justice de John Rawls, recentemente traduzido
entre ns pela Editora da UNB.
V-se assim que, no fundo da intuio napolenica da
ressurreio moderna da tragdia antiga na esfera do po-
ltico est a dialtica indivduo-poder que rege, como mo-
tivo terico fundamental, as teorias contratualistas da jus-
tia politica. Na verdade, seja como Leviat, seja como
"vontade geral", o poder soberano acaba elevando-se ao cu
misterioso das "razes de Estado" donde pesa sobre o ci-
dado como o Destino antigo pesava sobre o heri trgico.
A teoria e a prtica da poltica no mundo moderno mostram
que a hiptese inicial dos indivduos como partculas iso-
ladas, que s o atendimento das carncias e necessidades
ir unir no vnculo jurdico do pacto de sociedade, tem
como contrapartida a concepo e a efetivao histrica do
Estado como sistema exterior de fora cuja hipertrofia tor-
na-se diretamente proporcional multiplicao e comple-
xificao das relaes sociais que hipoteticamente tem o
contrato social como fundamento e o Estado como sistema
regulador.
Parece, assim, razovel supor que a crise das sociedades
polticas contemporneas, sacudidas pelo combate entre as
aspiraes participao democrtica e a justia social de
um lado e, de outro, a hipertrofia das estruturas do poder
do Estado (fenmeno que, sob traos diversos, pode ser
identificado aqum e alm das fronteiras ideolgicas que
dividem o mundo contemporneo) tenha uma das suas ra-
zes num projeto de existncia poltica que aceita a oposi-
o indivduo-poder como a oposio primeira e constitu-
tiva do ser-em-comum poltico. Como, por outro lado, o
indivduo pensado aqui primariamente como um ser de
carncia e necessidade, a alienao ou a restrio da liber-
dade no pacto de sociedade encontra sua significao como
condio inicial da qual se deduz o sistema da satisfao
das necessidades que, como sistema poltico, passa a ser
regido pela racionalidade instrumental do "fazer" ou da
produo dos bens. O "fazer" e o "produzir" (contradis-
tintos do "agir" no sentido aristotlico) tornam-se fins em
si, submetendo todos os meios e rejeitando os fins propria-
mente ticos na esfera das convices subjetivas do indi-
vduo.
261
A crise das sociedades polticas nascidas da moderni-
dade impe, por conseguinte, a busca de um outra concep-
o do ponto de partida da filosofia poltica. Esse ponto
de partida deve pressupor, em qualquer hiptese, a idia
de comunidade tica como anterior, de direito, aos proble-
mas de relao com o poder do indivduo isolado e subme-
tido ao imperativo da satisfao das suas necessidades e ca-
rncias. no terreno da idia de comundade tica que se
traa a linha de fronteira entre tica e Poltica. A partir
da possvel formular a questo fundamental que se des-
dobra entre os dois campos e estabelece entre eles uma ne-
cessria comunicao: como recompor, nas condies do
mundo atual, a comunidade humana como comunidade ti-
ca e como fundar sobre a dimenso essencialmente tica
do ser social a comunidade poltica? Convm lembrar mais
uma vez que a idia de vida poltica nasceu no contexto
histrico da crise do ethos das aristocracias guerreiras na
Grcia antiga e do advento de uma nova forma de comu-
nidade tica que ir encontrar sua expresso nas constitui-
es democrticas da plis. Queremos crer que uma nova
forma de comunidade tica na civilizao contempornea,
cujos esboos de expresso simblica tem como fundo a
emergncia histrica da conscincia dos direitos humanos
como conscincia da humanidade, esteja presente e atuante
em nosso mundo assinalando a crise e o declnio (no pr-
prio paroxismo da sua aparente onipotncia) do Estado
do poder e impondo a exigncia, a um tempo tica e polti-
ca, da edificao de um autntico Estado de direito.
j
.:l;; .
.
I
IV
DEMOCRACIA E SOCIEDADE *
o ciclo autoritrio, sob cuja gide a sociedade brasi-
leira conheceu profundas transformaes, designadas usual-
mente com o termo abrangente e ambguo de "moderniza-
o", toca aparentemente seu fim. Nesse momento, a ques-
to da democracia torna-se um tema privilegiado de refle-
xo para quem quer que se preocupe com o destino polti-
co do Brasil. Aceita-se, com efeito, como evidente, que a
exausto do ciclo autoritrio s pode ser caracterizada co-
mo "transio democrtica". Essa evidncia repousa sobre
o pressuposto inquestionvel de que a democracia designa
a forma mais alta de organizao poltica a que pode aspi-
rar uma sociedade e de que, em fora dessa dialtica dos
opostos que rege o curso dos acontecimentos histricos, a
forma autoritria s pode ceder lugar forma democr-
tica de governo.
Evidncia que se desdobra, pois, entre dois plos: de
um lado, a afirmao da democracia como ideal; de outro,
a necessidade histrica, para o Brasil de hoje, de enfrentar
mais uma vez o desafio da construo democrtica. De fato,
a reflexo sobre a questo da democracia descreve-se como
movimento de oscilao entre esses dois plos. Ele vai da
interrogao sobre a natureza da democracia anlise das
condies histricas concretas que a sociedade brasileira,
s vsperas de celebrar cinco sculos de histria, oferece
efetivao do ideal democrtico.
In Sntese (NF), 33 (1985): 5-14.
263
A crise das sociedades polticas nascidas da moderni-
dade impe, por conseguinte, a busca de um outra concep-
o do ponto de partida da filosofia poltica. Esse ponto
de partida deve pressupor, em qualquer hiptese, a idia
de comunidade tica como anterior, de direito, aos proble-
mas de relao com o poder do indivduo isolado e subme-
tido ao imperativo da satisfao das suas necessidades e ca-
rncias. no terreno da idia de comundade tica que se
traa a linha de fronteira entre tica e Poltica. A partir
da possvel formular a questo fundamental que se des-
dobra entre os dois campos e estabelece entre eles uma ne-
cessria comunicao: como recompor, nas condies do
mundo atual, a comunidade humana como comunidade ti-
ca e como fundar sobre a dimenso essencialmente tica
do ser social a comunidade poltica? Convm lembrar mais
uma vez que a idia de vida poltica nasceu no contexto
histrico da crise do ethos das aristocracias guerreiras na
Grcia antiga e do advento de uma nova forma de comu-
nidade tica que ir encontrar sua expresso nas constitui-
es democrticas da plis. Queremos crer que uma nova
forma de comunidade tica na civilizao contempornea,
cujos esboos de expresso simblica tem como fundo a
emergncia histrica da conscincia dos direitos humanos
como conscincia da humanidade, esteja presente e atuante
em nosso mundo assinalando a crise e o declnio (no pr-
prio paroxismo da sua aparente onipotncia) do Estado
do poder e impondo a exigncia, a um tempo tica e polti-
ca, da edificao de um autntico Estado de direito.
j
.:l;; .
.
I
IV
DEMOCRACIA E SOCIEDADE *
o ciclo autoritrio, sob cuja gide a sociedade brasi-
leira conheceu profundas transformaes, designadas usual-
mente com o termo abrangente e ambguo de "moderniza-
o", toca aparentemente seu fim. Nesse momento, a ques-
to da democracia torna-se um tema privilegiado de refle-
xo para quem quer que se preocupe com o destino polti-
co do Brasil. Aceita-se, com efeito, como evidente, que a
exausto do ciclo autoritrio s pode ser caracterizada co-
mo "transio democrtica". Essa evidncia repousa sobre
o pressuposto inquestionvel de que a democracia designa
a forma mais alta de organizao poltica a que pode aspi-
rar uma sociedade e de que, em fora dessa dialtica dos
opostos que rege o curso dos acontecimentos histricos, a
forma autoritria s pode ceder lugar forma democr-
tica de governo.
Evidncia que se desdobra, pois, entre dois plos: de
um lado, a afirmao da democracia como ideal; de outro,
a necessidade histrica, para o Brasil de hoje, de enfrentar
mais uma vez o desafio da construo democrtica. De fato,
a reflexo sobre a questo da democracia descreve-se como
movimento de oscilao entre esses dois plos. Ele vai da
interrogao sobre a natureza da democracia anlise das
condies histricas concretas que a sociedade brasileira,
s vsperas de celebrar cinco sculos de histria, oferece
efetivao do ideal democrtico.
In Sntese (NF), 33 (1985): 5-14.
263
Entre as contribuies a que a elucidao da questo
da democracia deu origem recentemente entre ns, convm
assinalar desde j duas de primeira importncia: a pesqui-
sa orientada por Hlio Jaguaribe no Instituto de Estudos
Polticos e Sociais do Rio de Janeiro, e que leva o ttulo
Brasil, sociedade democrtica ( col. "Documentos Brasilei-
ros", Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1985), e o pequeno
grande livro de Denis Rosenfield A questo da democra-
cia (col. "Qual", So Paulo, Brasiliense, 1984). O primei-
ro um vasto dptico histrico-terico no qual o pro-
blema da democracia brasileira situado na ampla pers-
pectiva da origem e evoluo da experincia democrti-
ca da Grcia a nossos dias, caracterizada como experin-
cia poltica tpica do ciclo civilizatrio do Ocidente; e a
retomada dessa experincia na formao poltica do Brasil
como nao ocidental perifrica estudada nas suas vicis-
situdes ao longo da nossa histria de nao independente
e nas suas perspectivas atuais. O segundo uma reflexo
filosfico-histrica conduzida com exemplar rigor e sobrie-
dade, onde os conceitos bsicos da articulao poltica de-
mocrtica so pensados dentro das caractersticas estrutu-
rais e dinmicas assumidas pelo Estado moderno; e as con-
dies de efetivao de uma democracia possvel e desej-
vel so descritas com admirvel realismo e lucidez.
Ideal democrtico e democracia real: lcito pensar
que a filosofia poltica e a poltica como arte se constitu-
ram, desde as origens gregas da nossa civilizao, submeti-
das atrao respectiva desses dois plos. Com efeito, so-
mente quando o arbtrio desptico cede lugar soberania
da lei no governo da cidade, torna-se possvel o exerccio
da razo poltica, seja como discusso sobre a melhor for-
ma de governo - tema fundamental da filosofia poltica
clssica - seja como prtica do bos politiks, da vida po-
ltica como forma mais alta de convivncia entre os ho-
mens. Vale dizer que a idia de democracia de um lado,
e as condies da prtica democrtica de outro delimitam um
espao de significao de natureza eminentemente axiol-
gica. em termos de valor que a vida poltica se descreve
e se compara, na tradio clssica, ao poder desptico. Sua
superioridade no se mede em termos do til ou do efi-
ciente, mas em termos do bem melhor e mais perfeito e,
nesse sentido, ao contrrio do que pretendem os esquemas
mecanicistas da moderna filosofia poltica, o espao poltico
no se estrutura fundamentalmente como jogo de foras,
264
r
mas como hierarquia de fins. Aqui encontra seu funda-
mento a eminente dignidade tica do poltico, e no foi
sem razo que Aristteles articulou organicamente tica e
Poltica como cincias de uma praxis que se constitui, no
seu desdobramento nico, como praxis individual ou tica
e praxis social ou poltica.
A superioridade da forma democrtica da vida poltica
s pensvel a partir da essncia tica do poltico, desde
que entendamos o tico como o domnio da auto-realizao,
da autrqueia ou da autopossesso de si do homem. Com
efeito, a partir dessa essncia, possvel definir a superio-
ridade do poltico sobre o desptico e do democrtico so-
bre o simples poltico. A essncia tica do poltico re-
conhecida explicitamente quando se afirma a igualdade dos
cidados perante a lei e a eqidade da lei na sua regulao
da vida do cidado: isonomia (igualdade da lei para todos)
e eunomia (eqidade da lei) so os predicados que permi-
tem lei ou ao conjunto fundamental de leis (politeia)
constituir-se no espao propriamente poltico, ou espao
de realizao humana dos indivduos na cidade. A demo-
cracia - como ideal e como prtica - aprofunda necessa-
riamente a essncia tica do poltico ao definir em termos
de liberdade participativa e responsvel a resposta do ci-
dado regulao da lei, definindo o corpo poltico na sua
expresso simblica fundamental como ekklesa dos ele-
theroi - assemblia dos homens livres - que nela tm
direito de participar, de falar e de decidir. O fato de a
inveno grega do espao poltico ter caminhado rapida-
mente para nele se ensaiar a experincia democrtica -
momento brilhante, mas, afinal, fugaz do ciclo da plis -
como expresso de uma democracia direta simbolizada na
soberania da ekklesa, desvendou de um lado, com fulgu-
rante evidncia, a natureza tica da ao poltica e, de outro,
manifestou na participao democrtica ou no exerccio po-
ltico da liberdade a radicalidade das suas exigncias. A
reside, como sabido, a origem da querela exemplar entre
Scrates e os Sofistas que desembocou na criao socr-
tica da tica como cincia e na criao platnico-aristot-
lica da filosofia poltica.
O ideal da democracia direta ficar permanentemente
elevado sobre a trajetria histrica da idia de democra-
cia no Ocidente (Rosenfield, op. cit. pp. 70-76). Mas a
experincia grega de democracia direta apresenta peculia-
265
Entre as contribuies a que a elucidao da questo
da democracia deu origem recentemente entre ns, convm
assinalar desde j duas de primeira importncia: a pesqui-
sa orientada por Hlio Jaguaribe no Instituto de Estudos
Polticos e Sociais do Rio de Janeiro, e que leva o ttulo
Brasil, sociedade democrtica ( col. "Documentos Brasilei-
ros", Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1985), e o pequeno
grande livro de Denis Rosenfield A questo da democra-
cia (col. "Qual", So Paulo, Brasiliense, 1984). O primei-
ro um vasto dptico histrico-terico no qual o pro-
blema da democracia brasileira situado na ampla pers-
pectiva da origem e evoluo da experincia democrti-
ca da Grcia a nossos dias, caracterizada como experin-
cia poltica tpica do ciclo civilizatrio do Ocidente; e a
retomada dessa experincia na formao poltica do Brasil
como nao ocidental perifrica estudada nas suas vicis-
situdes ao longo da nossa histria de nao independente
e nas suas perspectivas atuais. O segundo uma reflexo
filosfico-histrica conduzida com exemplar rigor e sobrie-
dade, onde os conceitos bsicos da articulao poltica de-
mocrtica so pensados dentro das caractersticas estrutu-
rais e dinmicas assumidas pelo Estado moderno; e as con-
dies de efetivao de uma democracia possvel e desej-
vel so descritas com admirvel realismo e lucidez.
Ideal democrtico e democracia real: lcito pensar
que a filosofia poltica e a poltica como arte se constitu-
ram, desde as origens gregas da nossa civilizao, submeti-
das atrao respectiva desses dois plos. Com efeito, so-
mente quando o arbtrio desptico cede lugar soberania
da lei no governo da cidade, torna-se possvel o exerccio
da razo poltica, seja como discusso sobre a melhor for-
ma de governo - tema fundamental da filosofia poltica
clssica - seja como prtica do bos politiks, da vida po-
ltica como forma mais alta de convivncia entre os ho-
mens. Vale dizer que a idia de democracia de um lado,
e as condies da prtica democrtica de outro delimitam um
espao de significao de natureza eminentemente axiol-
gica. em termos de valor que a vida poltica se descreve
e se compara, na tradio clssica, ao poder desptico. Sua
superioridade no se mede em termos do til ou do efi-
ciente, mas em termos do bem melhor e mais perfeito e,
nesse sentido, ao contrrio do que pretendem os esquemas
mecanicistas da moderna filosofia poltica, o espao poltico
no se estrutura fundamentalmente como jogo de foras,
264
r
mas como hierarquia de fins. Aqui encontra seu funda-
mento a eminente dignidade tica do poltico, e no foi
sem razo que Aristteles articulou organicamente tica e
Poltica como cincias de uma praxis que se constitui, no
seu desdobramento nico, como praxis individual ou tica
e praxis social ou poltica.
A superioridade da forma democrtica da vida poltica
s pensvel a partir da essncia tica do poltico, desde
que entendamos o tico como o domnio da auto-realizao,
da autrqueia ou da autopossesso de si do homem. Com
efeito, a partir dessa essncia, possvel definir a superio-
ridade do poltico sobre o desptico e do democrtico so-
bre o simples poltico. A essncia tica do poltico re-
conhecida explicitamente quando se afirma a igualdade dos
cidados perante a lei e a eqidade da lei na sua regulao
da vida do cidado: isonomia (igualdade da lei para todos)
e eunomia (eqidade da lei) so os predicados que permi-
tem lei ou ao conjunto fundamental de leis (politeia)
constituir-se no espao propriamente poltico, ou espao
de realizao humana dos indivduos na cidade. A demo-
cracia - como ideal e como prtica - aprofunda necessa-
riamente a essncia tica do poltico ao definir em termos
de liberdade participativa e responsvel a resposta do ci-
dado regulao da lei, definindo o corpo poltico na sua
expresso simblica fundamental como ekklesa dos ele-
theroi - assemblia dos homens livres - que nela tm
direito de participar, de falar e de decidir. O fato de a
inveno grega do espao poltico ter caminhado rapida-
mente para nele se ensaiar a experincia democrtica -
momento brilhante, mas, afinal, fugaz do ciclo da plis -
como expresso de uma democracia direta simbolizada na
soberania da ekklesa, desvendou de um lado, com fulgu-
rante evidncia, a natureza tica da ao poltica e, de outro,
manifestou na participao democrtica ou no exerccio po-
ltico da liberdade a radicalidade das suas exigncias. A
reside, como sabido, a origem da querela exemplar entre
Scrates e os Sofistas que desembocou na criao socr-
tica da tica como cincia e na criao platnico-aristot-
lica da filosofia poltica.
O ideal da democracia direta ficar permanentemente
elevado sobre a trajetria histrica da idia de democra-
cia no Ocidente (Rosenfield, op. cit. pp. 70-76). Mas a
experincia grega de democracia direta apresenta peculia-
265
ridades que a tornam singular e nica: a formao da ci-
dade-estado sua estrutura social, sua economia e nela as
caracterstias do trabalho servil, os lances da sua trajet-
ria histrica.
Outras e infinitamente mais complexas, as condies
em que a 'experincia democrtica retomada na esteira
da formao dos Estados modernos. Como mostra Rosen-
field a democracia direta acaba capturada a nas linhas de
f o r ~ do pensamento utpico, e as tentativas de efetivao
histrica que a acompanham acabam por neg-la no para-
doxo das "democracias populares" que no so nem uma
coisa nem outra, mas se apresentam caracterizadamente
como ditaduras de um Partido nico que encarna a "utopia
no poder".
O desafio democrtico com o qual a sociedade brasi-
leira se v presentemente confrontada impe uma vigilante
lucidez com respeito s relaes corretas entre os dois p-
los que estruturam o campo de uma experincia democr-
tica vivel: a idia de democracia e a efetiva prtica demo-
crtica. A relao entre esses dois plos se constitui, de
um lado, a partir da natureza reguladora e normativa da
idia de democracia e, de outro, a partir das condies
histricas concretas que acompanharam a formao do Bra-
sil como Estado-nao dentro da constelao do espao
poltico do Ocidente moderno. A pesquisa Brasil, socieda-
de democrtica aplica-se justamente. com amplitude e ri-
queza de pormenores, ao estudo dessas condies e pode
assim, nas magistrais "Consideraes finais" de Hlio Ja-
guaribe, descrever os passos e as exigncias bsicas de uma
experincia democrtica possvel no Brasil de hoje. Expe-
rincia que vai encontrar exatamente sua idia reguladora
e normativa, realisticamente aplicvel a essas condies. na
evoluo ao longo de dois milnios e meio da histria do
Ocidente: de um projeto de organizao social e poltica,
ou de democracia no sentido mais amplo. que estende pou-
co a pouco a todos os membros do corpo social - desde
as "democracias de notveis" das primeiras fases s atuais
"democracias de massa", para falar como Hlio Jaguaribe
- a igualdade jurdico-poltica, econmica e social.
Mas, se verdade que a emergncia histrica do ideal
democrtico revelou no seu nvel mais profundo, a essn-
, '
cia tica do poltico, foi justamente a partir do problema-
tico conceito de igualdade que se obscureceu a passagem
266
da idia prtica democrtica e foi no terreno dessa pas-
sagem que o caminho da democracia no mundo moderno
desviou-se pelos atalhos sombrios que desembocaram nas
trevas do totalitarismo.
Hoje uma poderosa e mesmo irresistvel aspirao
igualdade social e uma intransigente reivindicao partici-
patria arrastam os indivduos e grupos, sobretudo nas na-
es que reencontraram o destino democrtico das suas
origens histricas. esse o espetculo que nos oferece o
Brasil da chamada "transio democrtica". Convm aplau-
di-lo e dele participar, mas sem perder a lucidez crtica e
sem esquecer que a festa da igualdade pode ser apenas
o ensaio para a participao futura nos ritos totalitrios.
o sonho da ordem perfeita habita a exultao da festa re-
volucionria. Mas que ordem? (Ler Mona Ozouf, La jte
rvolutionnaire: 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, p. 20).
A primeira precauo terica, portanto, que se impe
na construo da idia de democracia, diz respeito a uma
conceituao adequada da noo de igualdade. Em primei-
ro lugar, convm contestar uma pretensa evidncia trans-
mitida por esse lugar-comum da linguagem poltica, segun-
do a qual a noo de igualdade constitutiva da idia de
democracia. Com efeito, definida na sua verdadeira acep-
o, a igualdade o pressuposto necessrio, mas no sufi-
ciente da idia de democracia. Onde, pois, seu lugar no
universo conceptual do poltico?
As modernas teorias polticas, obedecendo inspirao
daquela que Louis Dumont denominou "ideologia do indi-
vidualismo", obscureceram esse problema ao operar funda-
mentalmente com a noo de igualdade quantitativa ou arit-
mtica, resultante da comparao entre grandezas homog-
neas que seriam os prprios indivduos participantes do
corpo poltico. O pressuposto mecanicista deste tipo de pen-
samento reduz assim os indivduos a grandezas iguais, a to-
mos movendo-se num espao social isotrpico. Tal modelo
repousa sobre a hiptese insustentvel da igualdade natural
entre os homens da qual resultaria a constituio da so-
ciedade pelo pacto de associao entre iguais. Na verdade,
porm, a natureza o domnio da diferena e, enquanto
procedem da natureza, os homens se constituem em indi-
vduos pela particularidade das suas diferenas irredutveis.
A nica igualdade possvel aqui aquela que resulta da
negao da diferena qualitativa: a igualdade abstrata do
267
ridades que a tornam singular e nica: a formao da ci-
dade-estado sua estrutura social, sua economia e nela as
caracterstias do trabalho servil, os lances da sua trajet-
ria histrica.
Outras e infinitamente mais complexas, as condies
em que a 'experincia democrtica retomada na esteira
da formao dos Estados modernos. Como mostra Rosen-
field a democracia direta acaba capturada a nas linhas de
f o r ~ do pensamento utpico, e as tentativas de efetivao
histrica que a acompanham acabam por neg-la no para-
doxo das "democracias populares" que no so nem uma
coisa nem outra, mas se apresentam caracterizadamente
como ditaduras de um Partido nico que encarna a "utopia
no poder".
O desafio democrtico com o qual a sociedade brasi-
leira se v presentemente confrontada impe uma vigilante
lucidez com respeito s relaes corretas entre os dois p-
los que estruturam o campo de uma experincia democr-
tica vivel: a idia de democracia e a efetiva prtica demo-
crtica. A relao entre esses dois plos se constitui, de
um lado, a partir da natureza reguladora e normativa da
idia de democracia e, de outro, a partir das condies
histricas concretas que acompanharam a formao do Bra-
sil como Estado-nao dentro da constelao do espao
poltico do Ocidente moderno. A pesquisa Brasil, socieda-
de democrtica aplica-se justamente. com amplitude e ri-
queza de pormenores, ao estudo dessas condies e pode
assim, nas magistrais "Consideraes finais" de Hlio Ja-
guaribe, descrever os passos e as exigncias bsicas de uma
experincia democrtica possvel no Brasil de hoje. Expe-
rincia que vai encontrar exatamente sua idia reguladora
e normativa, realisticamente aplicvel a essas condies. na
evoluo ao longo de dois milnios e meio da histria do
Ocidente: de um projeto de organizao social e poltica,
ou de democracia no sentido mais amplo. que estende pou-
co a pouco a todos os membros do corpo social - desde
as "democracias de notveis" das primeiras fases s atuais
"democracias de massa", para falar como Hlio Jaguaribe
- a igualdade jurdico-poltica, econmica e social.
Mas, se verdade que a emergncia histrica do ideal
democrtico revelou no seu nvel mais profundo, a essn-
, '
cia tica do poltico, foi justamente a partir do problema-
tico conceito de igualdade que se obscureceu a passagem
266
da idia prtica democrtica e foi no terreno dessa pas-
sagem que o caminho da democracia no mundo moderno
desviou-se pelos atalhos sombrios que desembocaram nas
trevas do totalitarismo.
Hoje uma poderosa e mesmo irresistvel aspirao
igualdade social e uma intransigente reivindicao partici-
patria arrastam os indivduos e grupos, sobretudo nas na-
es que reencontraram o destino democrtico das suas
origens histricas. esse o espetculo que nos oferece o
Brasil da chamada "transio democrtica". Convm aplau-
di-lo e dele participar, mas sem perder a lucidez crtica e
sem esquecer que a festa da igualdade pode ser apenas
o ensaio para a participao futura nos ritos totalitrios.
o sonho da ordem perfeita habita a exultao da festa re-
volucionria. Mas que ordem? (Ler Mona Ozouf, La jte
rvolutionnaire: 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, p. 20).
A primeira precauo terica, portanto, que se impe
na construo da idia de democracia, diz respeito a uma
conceituao adequada da noo de igualdade. Em primei-
ro lugar, convm contestar uma pretensa evidncia trans-
mitida por esse lugar-comum da linguagem poltica, segun-
do a qual a noo de igualdade constitutiva da idia de
democracia. Com efeito, definida na sua verdadeira acep-
o, a igualdade o pressuposto necessrio, mas no sufi-
ciente da idia de democracia. Onde, pois, seu lugar no
universo conceptual do poltico?
As modernas teorias polticas, obedecendo inspirao
daquela que Louis Dumont denominou "ideologia do indi-
vidualismo", obscureceram esse problema ao operar funda-
mentalmente com a noo de igualdade quantitativa ou arit-
mtica, resultante da comparao entre grandezas homog-
neas que seriam os prprios indivduos participantes do
corpo poltico. O pressuposto mecanicista deste tipo de pen-
samento reduz assim os indivduos a grandezas iguais, a to-
mos movendo-se num espao social isotrpico. Tal modelo
repousa sobre a hiptese insustentvel da igualdade natural
entre os homens da qual resultaria a constituio da so-
ciedade pelo pacto de associao entre iguais. Na verdade,
porm, a natureza o domnio da diferena e, enquanto
procedem da natureza, os homens se constituem em indi-
vduos pela particularidade das suas diferenas irredutveis.
A nica igualdade possvel aqui aquela que resulta da
negao da diferena qualitativa: a igualdade abstrata do
267
nmero. Mas, operando-se com esse modelo, a igualdade
social s pode ser pensada como multido de indivduos
isolados e mantidos num sistema social de natureza mec-
nica pela ao de uma fora que age ab extrinseco. Basta
que essa fora se concentre nas mos de um s e estar
presente o modelo perfeito do sistema totalitrio: todos so
iguais porque todos so escravos.
Observe-se, a essa altura, que a primeira forma de re-
lao ativa do homem com a natureza aquela em que a
natureza se apresenta como fonte para satisfao das ne-
cessidades bsicas do homem. Suas diferenas qualitativas
so consideradas, sob esse respeito, como redutveis ao de-
nominador comum de "recursos naturais". Referida a esse
denominador a igualdade dos indivduos a igualdade das
carncias e da exigncia da sua satisfao. Mas, por outro
lado, sob o fundo dessa igualdade que se tece a primeira
diferena social como relao do senhorio e da servido.
Essa se funda, portanto, sobre a reduo das diferenas
qualitativas da natureza universalidade abstrata dos "re-
cursos naturais" que se supem indefinidamente renovveis
e incessantemente oferecidos ao "mau infinito" da carncia
e do desejo. Esto postas a as premissas ideolgicas para
o projeto utpico de igualizao dos indivduos pela plena
satisfao das suas necessidades.
O conceito de igualdade poltica comea a se constituir
no trnsito do social, entendido como domnio em que o
imperativo da satisfao das necessidades naturais impe a
associao dos indivduos em vista do confronto laborioso
com a natureza, para o poltico entendido como o domnio
da relao entre os homens que se tece exatamente como
relao da igualdade na diferena. Trata-se de uma igual-
dade que no elimina a diferena na relao abstratamente
homognea da dominao (presente, como vimos, na gne-
se dialtica do social), mas a suprassume na relao con-
cretamente diferenciada do reconhecimento. A inveno gre-
ga do poltico torna-se justamente o gesto instaurador do
Ocidente como idia civilizatria, na medida em que d forma
histrica dialtica da igualdade na diferena como dial-
tica prpria do ser poltico. Ela assegura ao homem ser
social, essa forma superior de igualdade que o e l e v ~ da
particularidade das diferenas individuais universalidade
concreta .do ser-reconhecido no universo tico da politeia,
ou no remo das leis.
268
r
A grande idia que preside ao advento histrico do po-
ltico como advento do domnio da igualdade reconhecida
a idia de justia. Ela permite negar o particularismo
arbitrrio do poder desptico ao se constituir como regra
universal de distribuio eqitativa do primeiro e maior
bem que o direito ao reconhecimento. A dado o gran-
de e decisivo passo pelo qual o homem penetra o domnio
da igualdade poltica pela passagem da natureza (phiysis)
lei ( nmos). O Estado no qual o exerccio do poder
regido por um sistema fundamental de leis (politeia), edi-
ficado segundo a regra da justia, um Estado de direito:
nica forma de Estado compatvel com a sociedade poltica.
A igualdade poltica, por sua vez, pertence essncia do
Estado de direito. Mas, como se v, no se trata da igual-
dade quantitativa dos indivduos nivelados pela necessidade
universal de satisfazer suas carncias naturais. Com efeito,
essa forma primeira e inferior de igualdade acaba concre-
tizando-se historicamente na diferena extrnseca imposta
pela relao de dominao. E justamente a diferena ex-
trnseca da dominao que , em princpio, negada pela
igualdade poltica. Essa suprassume dialeticamente as di-
ferenas intrnsecas que caracterizam os indivduos ou gru-
pos sociais e os constitui sujeitos de direito, ou seja, os
eleva esfera propriamente poltica do universal reconhe-
cimento.
no terreno do Estado de direito que o nascimento
da democracia torna-se possvel. A experincia grega apre-
senta-se aqui com perfeita exemplaridade. Com efeito, o
Estado de direito, ou seja, a sociedade poltica propria-.
mente dita, representa a emergncia decisiva de uma forma
superior de comunidade tica na histria das sociedades
humanas. Nele a relao de poder perde formalmente suas
caractersticas de relao de dominao ( tyranna) e assu-
me as prerrogativas de um poder cujo exerccio soberano
repousa sobre a soberania da lei (nmos basleus). No en-
tanto, o Estado de direito no se confunde com o Estado
democrtico. Todo Estado democrtico um Estado de
direito, mas a recproca no verdadeira, como mostra a
formao do poder real nos Estados de direito do Ocidente
europeu a partir dos fins da Idade Mdia. Na Grcia, a
inveno da democracia representou um passo audaz alm
das fronteiras da comunidade poltica ou da cidade-estado
dotada de uma politea. Ela teve em vista justamente pre-
269
nmero. Mas, operando-se com esse modelo, a igualdade
social s pode ser pensada como multido de indivduos
isolados e mantidos num sistema social de natureza mec-
nica pela ao de uma fora que age ab extrinseco. Basta
que essa fora se concentre nas mos de um s e estar
presente o modelo perfeito do sistema totalitrio: todos so
iguais porque todos so escravos.
Observe-se, a essa altura, que a primeira forma de re-
lao ativa do homem com a natureza aquela em que a
natureza se apresenta como fonte para satisfao das ne-
cessidades bsicas do homem. Suas diferenas qualitativas
so consideradas, sob esse respeito, como redutveis ao de-
nominador comum de "recursos naturais". Referida a esse
denominador a igualdade dos indivduos a igualdade das
carncias e da exigncia da sua satisfao. Mas, por outro
lado, sob o fundo dessa igualdade que se tece a primeira
diferena social como relao do senhorio e da servido.
Essa se funda, portanto, sobre a reduo das diferenas
qualitativas da natureza universalidade abstrata dos "re-
cursos naturais" que se supem indefinidamente renovveis
e incessantemente oferecidos ao "mau infinito" da carncia
e do desejo. Esto postas a as premissas ideolgicas para
o projeto utpico de igualizao dos indivduos pela plena
satisfao das suas necessidades.
O conceito de igualdade poltica comea a se constituir
no trnsito do social, entendido como domnio em que o
imperativo da satisfao das necessidades naturais impe a
associao dos indivduos em vista do confronto laborioso
com a natureza, para o poltico entendido como o domnio
da relao entre os homens que se tece exatamente como
relao da igualdade na diferena. Trata-se de uma igual-
dade que no elimina a diferena na relao abstratamente
homognea da dominao (presente, como vimos, na gne-
se dialtica do social), mas a suprassume na relao con-
cretamente diferenciada do reconhecimento. A inveno gre-
ga do poltico torna-se justamente o gesto instaurador do
Ocidente como idia civilizatria, na medida em que d forma
histrica dialtica da igualdade na diferena como dial-
tica prpria do ser poltico. Ela assegura ao homem ser
social, essa forma superior de igualdade que o e l e v ~ da
particularidade das diferenas individuais universalidade
concreta .do ser-reconhecido no universo tico da politeia,
ou no remo das leis.
268
r
A grande idia que preside ao advento histrico do po-
ltico como advento do domnio da igualdade reconhecida
a idia de justia. Ela permite negar o particularismo
arbitrrio do poder desptico ao se constituir como regra
universal de distribuio eqitativa do primeiro e maior
bem que o direito ao reconhecimento. A dado o gran-
de e decisivo passo pelo qual o homem penetra o domnio
da igualdade poltica pela passagem da natureza (phiysis)
lei ( nmos). O Estado no qual o exerccio do poder
regido por um sistema fundamental de leis (politeia), edi-
ficado segundo a regra da justia, um Estado de direito:
nica forma de Estado compatvel com a sociedade poltica.
A igualdade poltica, por sua vez, pertence essncia do
Estado de direito. Mas, como se v, no se trata da igual-
dade quantitativa dos indivduos nivelados pela necessidade
universal de satisfazer suas carncias naturais. Com efeito,
essa forma primeira e inferior de igualdade acaba concre-
tizando-se historicamente na diferena extrnseca imposta
pela relao de dominao. E justamente a diferena ex-
trnseca da dominao que , em princpio, negada pela
igualdade poltica. Essa suprassume dialeticamente as di-
ferenas intrnsecas que caracterizam os indivduos ou gru-
pos sociais e os constitui sujeitos de direito, ou seja, os
eleva esfera propriamente poltica do universal reconhe-
cimento.
no terreno do Estado de direito que o nascimento
da democracia torna-se possvel. A experincia grega apre-
senta-se aqui com perfeita exemplaridade. Com efeito, o
Estado de direito, ou seja, a sociedade poltica propria-.
mente dita, representa a emergncia decisiva de uma forma
superior de comunidade tica na histria das sociedades
humanas. Nele a relao de poder perde formalmente suas
caractersticas de relao de dominao ( tyranna) e assu-
me as prerrogativas de um poder cujo exerccio soberano
repousa sobre a soberania da lei (nmos basleus). No en-
tanto, o Estado de direito no se confunde com o Estado
democrtico. Todo Estado democrtico um Estado de
direito, mas a recproca no verdadeira, como mostra a
formao do poder real nos Estados de direito do Ocidente
europeu a partir dos fins da Idade Mdia. Na Grcia, a
inveno da democracia representou um passo audaz alm
das fronteiras da comunidade poltica ou da cidade-estado
dotada de uma politea. Ela teve em vista justamente pre-
269
venir a hipertrofia do poder e o retorno dominao tir-
nica. O moderno Estado de direito, por sua vez, que busca
suas origens na formao dos Estados nacionais da Euro-
pa ocidental a partir do sculo XIII s ir encontrar-se
com as aspiraes democrticas no urso das revolues
dos sculos XVII e XVIII. Mas, ento, ele ser submerso
pelas correntes da ideologia individualista de um lado, da
gnose romntica de outro, e a idia de democracia ir re-
formular-se na perspectiva da utopia igualitria que, como
mostrou Blandine Barret-Kriegel no seu belo livro L'tat
et les esclaves (Paris, Calmann-Lvy, 1979), desaguar final-
mente no do sculo XX, criador da "mqui-
na dxica" ideolgica e do Gulag.
Reinventar a democracia no contexto da tradio pol-
tica do Ocidente s pode significar, portanto, o esforo per-
severante para remontar essas correntes e reencontrar o
lugar conceptual exato onde as noes de igualdade e liber-
dade se articulam e definem a passagem da sociedade po-
ltica sociedade democrtica.
No se trata, no entanto, de retornar aos modelos gre-
gos de democracia direta. O curso da reflexo poltica de
Hegel, guiado primeiramente pela nostalgia da "bela tota-
lidade tica" da plis, ilustra de maneira exemplar a im-
possibilidade desse retorno. Com efeito, Hegel viu que, ao
contrrio do que se passava na cidade grega, no mundo
moderno a igualdade instituda que a igualdade poltica
deve assumir na sua esfera a relao do homem com a
natureza na forma do trabalho para a satisfao das ne-
cessidades. Ao tornar-se uma dimenso do poltico, o eco-
nmico adquire uma especificidade dialtica prpria nesse
nvel da construo conceptual da idia de Direito que He-
gel denominou "sociedade civil". O econmico introduz en-
to na esfera da igualdade poltica essa igualdade abstrata
que caracteriza os indivduos em face da natureza como
seres de carncia e necessidade. Igualdade econmica e
igualdade poltica passam a intercambiar conceitos que so
essencialmente diferentes e que iro fundir-se nessa confu-
sa e ambgua igualdade social sobre a qual se tenta cons-
truir a idia moderna de democracia.
As profundas transformaes da sociedade ocidental que
universalizaram o trabalho livre, criaram a economia de
mercado e isolaram o indivduo como sujeito de necessida-
des em face da natureza, deram igualmente origem pres-
270
f
I
I
'
I
1
suposio de que a igualdade poltica e o ideal democrtico
estaro assegurados desde que, em nvel econmico, a igual-
dade se implante como reino da universal satisfao capaz
de atender s necessidades de cada um. Erro funesto!
A igualdade poltica essencialmente distinta da igualdade
econmica. Um Estado dspota pode perfeitamente apas-
centar um rebanho humano plenamente satisfeito, consti-
tudo de indivduos rigorosamente iguais segundo a medi-
da dessa satisfao plena das suas necessidades. Trabalho
e satisfao seriam aqui a medida da igualdade segundo o
princpio clebre da utopia igualitria: "De cada um segun-
do as suas capacidades, a cada um segundo as suas neces-
sidades".
Mas, por outro lado, a assuno do econmico na es-
fera do poltico caracteriza de modo irreversvel a evoluo
moderna da sociedade ocidental. Ela impe, desta sorte, a
concluso que Hegel soube formular genialmente na sua
dialtica da "sociedade civil": a racionalidade imanente ao
sistema da satisfao das necessidades, que comea por
igualar os homens como seres de carncia em face da na-
tureza, passa a ser um momento essencial no sistema da
prpria racionalidade poltica. Vale dizer que, sem consti-
tuir a essncia da igualdade poltica, uma soluo razovel
ao problema da satisfao das necessidades passa a ser o
seu pressuposto e condio: o Estado de direito, repousa
sobre o "Estado da necessidade" (Hegel). A adequada re-
lao do grupo humano com a natureza como fonte de
recursos (trabalho) passa a condicionar decisivamente a
efetiva relao dos indivduos entre si como sujeitos do
direito (reconhecimento).
Por conseguinte, a idia de democracia, ao se consti-
tuir como projeto de uma forma superior de convivncia
poltica, dever exatamente pressupor que a comunidade po-
ltica se constitua formalmente em Estado de direito, ou
dever pressupor que o membro do corpo poltico se eleve
ao nvel da universalidade concreta do ser-reconhecido, al-
canando a a igualdade na diferena que o constitui ci-
dado.
S ento o passo para a democracia torna-se possvel.
Ele penetra um terreno onde dever desdobrar-se em nvel
infinitamente mais profundo a dialtica da igualdade na
diferena: o nvel em que a igualdade poltica supras-
sumida na dimenso da liberdade pessoal. Na verdade, a
271
venir a hipertrofia do poder e o retorno dominao tir-
nica. O moderno Estado de direito, por sua vez, que busca
suas origens na formao dos Estados nacionais da Euro-
pa ocidental a partir do sculo XIII s ir encontrar-se
com as aspiraes democrticas no urso das revolues
dos sculos XVII e XVIII. Mas, ento, ele ser submerso
pelas correntes da ideologia individualista de um lado, da
gnose romntica de outro, e a idia de democracia ir re-
formular-se na perspectiva da utopia igualitria que, como
mostrou Blandine Barret-Kriegel no seu belo livro L'tat
et les esclaves (Paris, Calmann-Lvy, 1979), desaguar final-
mente no do sculo XX, criador da "mqui-
na dxica" ideolgica e do Gulag.
Reinventar a democracia no contexto da tradio pol-
tica do Ocidente s pode significar, portanto, o esforo per-
severante para remontar essas correntes e reencontrar o
lugar conceptual exato onde as noes de igualdade e liber-
dade se articulam e definem a passagem da sociedade po-
ltica sociedade democrtica.
No se trata, no entanto, de retornar aos modelos gre-
gos de democracia direta. O curso da reflexo poltica de
Hegel, guiado primeiramente pela nostalgia da "bela tota-
lidade tica" da plis, ilustra de maneira exemplar a im-
possibilidade desse retorno. Com efeito, Hegel viu que, ao
contrrio do que se passava na cidade grega, no mundo
moderno a igualdade instituda que a igualdade poltica
deve assumir na sua esfera a relao do homem com a
natureza na forma do trabalho para a satisfao das ne-
cessidades. Ao tornar-se uma dimenso do poltico, o eco-
nmico adquire uma especificidade dialtica prpria nesse
nvel da construo conceptual da idia de Direito que He-
gel denominou "sociedade civil". O econmico introduz en-
to na esfera da igualdade poltica essa igualdade abstrata
que caracteriza os indivduos em face da natureza como
seres de carncia e necessidade. Igualdade econmica e
igualdade poltica passam a intercambiar conceitos que so
essencialmente diferentes e que iro fundir-se nessa confu-
sa e ambgua igualdade social sobre a qual se tenta cons-
truir a idia moderna de democracia.
As profundas transformaes da sociedade ocidental que
universalizaram o trabalho livre, criaram a economia de
mercado e isolaram o indivduo como sujeito de necessida-
des em face da natureza, deram igualmente origem pres-
270
f
I
I
'
I
1
suposio de que a igualdade poltica e o ideal democrtico
estaro assegurados desde que, em nvel econmico, a igual-
dade se implante como reino da universal satisfao capaz
de atender s necessidades de cada um. Erro funesto!
A igualdade poltica essencialmente distinta da igualdade
econmica. Um Estado dspota pode perfeitamente apas-
centar um rebanho humano plenamente satisfeito, consti-
tudo de indivduos rigorosamente iguais segundo a medi-
da dessa satisfao plena das suas necessidades. Trabalho
e satisfao seriam aqui a medida da igualdade segundo o
princpio clebre da utopia igualitria: "De cada um segun-
do as suas capacidades, a cada um segundo as suas neces-
sidades".
Mas, por outro lado, a assuno do econmico na es-
fera do poltico caracteriza de modo irreversvel a evoluo
moderna da sociedade ocidental. Ela impe, desta sorte, a
concluso que Hegel soube formular genialmente na sua
dialtica da "sociedade civil": a racionalidade imanente ao
sistema da satisfao das necessidades, que comea por
igualar os homens como seres de carncia em face da na-
tureza, passa a ser um momento essencial no sistema da
prpria racionalidade poltica. Vale dizer que, sem consti-
tuir a essncia da igualdade poltica, uma soluo razovel
ao problema da satisfao das necessidades passa a ser o
seu pressuposto e condio: o Estado de direito, repousa
sobre o "Estado da necessidade" (Hegel). A adequada re-
lao do grupo humano com a natureza como fonte de
recursos (trabalho) passa a condicionar decisivamente a
efetiva relao dos indivduos entre si como sujeitos do
direito (reconhecimento).
Por conseguinte, a idia de democracia, ao se consti-
tuir como projeto de uma forma superior de convivncia
poltica, dever exatamente pressupor que a comunidade po-
ltica se constitua formalmente em Estado de direito, ou
dever pressupor que o membro do corpo poltico se eleve
ao nvel da universalidade concreta do ser-reconhecido, al-
canando a a igualdade na diferena que o constitui ci-
dado.
S ento o passo para a democracia torna-se possvel.
Ele penetra um terreno onde dever desdobrar-se em nvel
infinitamente mais profundo a dialtica da igualdade na
diferena: o nvel em que a igualdade poltica supras-
sumida na dimenso da liberdade pessoal. Na verdade, a
271
igualdade, assegurada em nvel poltico, enfrenta aqui o ris-
co do seu mais decisivo aprofundamento tico, pois deve
ser conservada na diferena das liberdades que se fazem
presentes no espao poltico na singularidade irredutvel
da sua autonormatividade, na intransfervel carga da sua
responsabilidade pessoal.
Eis por que, na idia de comunidade democrtica, a
matriz conceptual constituda pela idia de liberdade, ao
passo que a idia de lei justa que engendra conceptual-
mente a idia de comunidade poltica. Em termos de lgica
dialtica: a universalidade da lei fundamenta a relao de
igualdade entre os membros da comunidade poltica, ao
passo que a comunidade democrtica articulada a partir
da singularidade das liberdades. Sendo assim, a liberdade
que responde ao apelo da comunidade democrtica a li-
berdade como constitutiva da conscincia moral de cada
cidado. A comunidade democrtica a forma superior de
comunidade poltica porque se constitui formalmente como
essa resposta da conscincia moral do cidado ao apelo da
sua conscincia poltica. O problema fundamental da co-
munidade poltica o problema da politea ou da consti-
tuio das leis mais justas. O problema fundamental da
comunidade democrtica o problema da aret, da justia
na alma como virtude ou disposio permanente ( hexis ou
hbito). Na crise da democracia grega, os dois problemas
aparecem indissoluvelmente ligados na profunda intuio
de Plato que o leva a tentar, sob a inspirao desse in-
comparvel mdico das almas que foi Scrates, a longa cura
filosfica ( therapeia) dos cidados de Atenas como prem-
bulo necessrio regenerao da democracia ateniense (Ver
R. E. Cushman, Therapeia: Plato's Conception of Philoso-
ph)y, Univ. of North Carolina Press, 1958, p. 295-301).
Fica, assim, patenteada a essncia moral da idia de
democracia. Uma "transio democrtica" que no seja
um simples libi para a eterna ambio do poder s pode
ser pensada como articulao das condies concretas do
exerccio das liberdades polticas s exigncias morais do
projeto democrtico. No demais repetir: na democracia,
a liberdade poltica ou constitutivamente moral ou no
autntica liberdade. Mas no se propugna aqui um mora-
lismo abstrato. A liberdade democrtica repousa sobre uma
soluo razovel do problema da satisfao das necessida-
des, que instaura uma primeira e mais elementar forma
272
de igualdade no atendimento s carncias naturais do ho-
mem. Repousa, alm disso, em nvel mais elevado, sobre
a igualdade poltica como direito ao reconhecimento no
universo da lei. A construo do projeto democrtico parte
dessas igualdades fundamentais, mas avana alm delas co-
mo empenho participativo da liberdade na sua prerrogativa
essencial de autonormatividade ou como expresso da cons-
cincia moral, nas tarefas do bem comum.
Na "transio democrtica" brasileira fica, pois, levan-
tada como questo decisiva e crucial a interrogao sobre
a capacidade e disposio da nossa sociedade para em-
preender a reforma moral do Estado e atender s exign-
cias ticas do projeto democrtico. De um lado a terrvel
herana da corrupo generalizada que constitui o mais
malfico legado do hiato autoritrio leva a alguma hesita-
o diante da resposta afirmativa. Mas, de outro, ergue-se
diante de ns uma enorme esperana, alimentada pela mul-
tiplicao das prticas populares de solidariedade, pela di-
fuso de formas mltiplas de conscincia participativa, ou
seja, por ensaios de democracia vivida na sua mais alta
exigncia tica. E por esse caminho, cremos, que dever
afinal transitar o destino da democracia entre ns e, com
ele, o destino da liberdade.
273
igualdade, assegurada em nvel poltico, enfrenta aqui o ris-
co do seu mais decisivo aprofundamento tico, pois deve
ser conservada na diferena das liberdades que se fazem
presentes no espao poltico na singularidade irredutvel
da sua autonormatividade, na intransfervel carga da sua
responsabilidade pessoal.
Eis por que, na idia de comunidade democrtica, a
matriz conceptual constituda pela idia de liberdade, ao
passo que a idia de lei justa que engendra conceptual-
mente a idia de comunidade poltica. Em termos de lgica
dialtica: a universalidade da lei fundamenta a relao de
igualdade entre os membros da comunidade poltica, ao
passo que a comunidade democrtica articulada a partir
da singularidade das liberdades. Sendo assim, a liberdade
que responde ao apelo da comunidade democrtica a li-
berdade como constitutiva da conscincia moral de cada
cidado. A comunidade democrtica a forma superior de
comunidade poltica porque se constitui formalmente como
essa resposta da conscincia moral do cidado ao apelo da
sua conscincia poltica. O problema fundamental da co-
munidade poltica o problema da politea ou da consti-
tuio das leis mais justas. O problema fundamental da
comunidade democrtica o problema da aret, da justia
na alma como virtude ou disposio permanente ( hexis ou
hbito). Na crise da democracia grega, os dois problemas
aparecem indissoluvelmente ligados na profunda intuio
de Plato que o leva a tentar, sob a inspirao desse in-
comparvel mdico das almas que foi Scrates, a longa cura
filosfica ( therapeia) dos cidados de Atenas como prem-
bulo necessrio regenerao da democracia ateniense (Ver
R. E. Cushman, Therapeia: Plato's Conception of Philoso-
ph)y, Univ. of North Carolina Press, 1958, p. 295-301).
Fica, assim, patenteada a essncia moral da idia de
democracia. Uma "transio democrtica" que no seja
um simples libi para a eterna ambio do poder s pode
ser pensada como articulao das condies concretas do
exerccio das liberdades polticas s exigncias morais do
projeto democrtico. No demais repetir: na democracia,
a liberdade poltica ou constitutivamente moral ou no
autntica liberdade. Mas no se propugna aqui um mora-
lismo abstrato. A liberdade democrtica repousa sobre uma
soluo razovel do problema da satisfao das necessida-
des, que instaura uma primeira e mais elementar forma
272
de igualdade no atendimento s carncias naturais do ho-
mem. Repousa, alm disso, em nvel mais elevado, sobre
a igualdade poltica como direito ao reconhecimento no
universo da lei. A construo do projeto democrtico parte
dessas igualdades fundamentais, mas avana alm delas co-
mo empenho participativo da liberdade na sua prerrogativa
essencial de autonormatividade ou como expresso da cons-
cincia moral, nas tarefas do bem comum.
Na "transio democrtica" brasileira fica, pois, levan-
tada como questo decisiva e crucial a interrogao sobre
a capacidade e disposio da nossa sociedade para em-
preender a reforma moral do Estado e atender s exign-
cias ticas do projeto democrtico. De um lado a terrvel
herana da corrupo generalizada que constitui o mais
malfico legado do hiato autoritrio leva a alguma hesita-
o diante da resposta afirmativa. Mas, de outro, ergue-se
diante de ns uma enorme esperana, alimentada pela mul-
tiplicao das prticas populares de solidariedade, pela di-
fuso de formas mltiplas de conscincia participativa, ou
seja, por ensaios de democracia vivida na sua mais alta
exigncia tica. E por esse caminho, cremos, que dever
afinal transitar o destino da democracia entre ns e, com
ele, o destino da liberdade.
273
v
CIENCIA E SOCIEDADE *
Nos incios da dcada de 60, o fsico americano e no-
tvel historiador da cincia, Gerald Holton, chamava a aten-
o sobre um dos aspectos mais paradoxais da c ~ l t u r a
contempornea, que se pretende uma cultura emancipada
e "ilustrada": o contraste entre, de um lado, o avano pro-
digioso das cincias e das tcnicas e, de outro, o lugar re-
lativamente diminuto que a compreenso cientfica do mun-
do ocupa na viso da realidade do homem comum do nos-
so tempo e mesmo das elites intelectuais no-cientficas
[Modern science and the intellectual tradition (1960), ap.
Thematic origins of scientijic Thought, Harvard, 1973, 445-
-459]. Holton estabelece um confronto significativo entre
a curiosidade cientfica do homem cultivado do sculo XVIII
-quando a Marquesa de Chtelet, sob as bnos de Vol-
taire traduzia os Principia de Newton - e a alarmante
incultura cientfica do intelectual contemporneo, a um
tempo desarmado e temeroso diante do Leviat cientfico.
Atravs do know-how tecnolgico e dos produtos tcnicos,
a cincia rege os processos de produo e modela a vida
dos indivduos e das sociedades. Mas tudo leva a crer que
um abismo se aprofunda e se alarga entre o manejo pro-
fissional dos aparatos de produo e o consumo dos obje-
tos tcnicos de uma parte e, de outra, a concepo da rea-
lidade qual esses instrumentos e objetos teoricamente se
articulam.
In Sntese (NF ), 26 (1982): 5-9.
274
Que pensa da cincia o homem comum e o intelectual
no-cientista? Holton enumera sete imagens difundidas na
conscincia comum, e cada uma delas acentua um dos as.
pectos do hiato que separa a cultura geral e uma correta
concepo da cincia: 1 . a cincia considerada como
pensamento puro, mas que produz instrumentos poderosos
e misteriosos de ao; 2. olhada como impiedoso af
iconoclasta das crenas mais venerveis; 3. vista como
atividade independente e neutra diante de qualquer respon-
sabilidade tica; . 4 tida como um processo incontrol-
vel que coloca o cientista na incmoda situao de apren-
diz de feiticeiro; 5. responsabilizada pelos desastres eco-
lgicos que destroem o ecossistema natural do homem e dos
outros seres vivos; 6. identificada com essa forma de
sectarismo intelectual que se convencionou denominar "cien-
tismo"; 7. finalmente, a cincia aparece aos olhos de um
grande nmero como a herdeira bem-sucedida do velho
operar mgico, capaz de extrair da realidade os mais sur-
preendentes efeitos. Holton no encontra dificuldade em
mostrar a inconsistncia de cad uma dessas imagens. Mas
elas so o indcio da perigosa incompreenso do fazer cien-
tfico que se difunde entre os homens de uma civilizao
que se caracteriza exatamente como civilizao da Razo
cientfica ou que est submetida ao inexorvel processo de
"cientifizao" (Verwissenschaftlichung) de que fala J. Ha-
bermas.
Esse um dos lados da medalha. Mas o reverso no
menos inquietante. Se, de um lado, o homem comum e as
elites intelectuais no-cientficas revelam um profundo des-
conhecimento dos procedimentos mais elementares e dos
contedos mais bsicos do pensamento cientfico, de outro
as elites cientficas parecem cada vez menos aptas a com-
preender a natureza dos problemas que ultrapassam ne-
cessariamente o mbito estrito do saber cientfico e dizem
respeito s interrogaes fundamentais sobre o homem e
a sociedade.
Cientistas geniais e pioneiros que eram, ao mesmo tem-
po, humanistas brilhantes, como Albert Einstein, Louis de
Broglie ou Werner Heisenberg, tornam-se raros. Ora,
sabido que a cincia moderna tem suas razes profundamen-
te mergulhadas no terreno do humanismo renascentista, e
ainda recentemente o fsico e filsofo Enrico Cantore es-
creveu um livro volumoso sobre a "significao humanista
275
v
CIENCIA E SOCIEDADE *
Nos incios da dcada de 60, o fsico americano e no-
tvel historiador da cincia, Gerald Holton, chamava a aten-
o sobre um dos aspectos mais paradoxais da c ~ l t u r a
contempornea, que se pretende uma cultura emancipada
e "ilustrada": o contraste entre, de um lado, o avano pro-
digioso das cincias e das tcnicas e, de outro, o lugar re-
lativamente diminuto que a compreenso cientfica do mun-
do ocupa na viso da realidade do homem comum do nos-
so tempo e mesmo das elites intelectuais no-cientficas
[Modern science and the intellectual tradition (1960), ap.
Thematic origins of scientijic Thought, Harvard, 1973, 445-
-459]. Holton estabelece um confronto significativo entre
a curiosidade cientfica do homem cultivado do sculo XVIII
-quando a Marquesa de Chtelet, sob as bnos de Vol-
taire traduzia os Principia de Newton - e a alarmante
incultura cientfica do intelectual contemporneo, a um
tempo desarmado e temeroso diante do Leviat cientfico.
Atravs do know-how tecnolgico e dos produtos tcnicos,
a cincia rege os processos de produo e modela a vida
dos indivduos e das sociedades. Mas tudo leva a crer que
um abismo se aprofunda e se alarga entre o manejo pro-
fissional dos aparatos de produo e o consumo dos obje-
tos tcnicos de uma parte e, de outra, a concepo da rea-
lidade qual esses instrumentos e objetos teoricamente se
articulam.
In Sntese (NF ), 26 (1982): 5-9.
274
Que pensa da cincia o homem comum e o intelectual
no-cientista? Holton enumera sete imagens difundidas na
conscincia comum, e cada uma delas acentua um dos as.
pectos do hiato que separa a cultura geral e uma correta
concepo da cincia: 1 . a cincia considerada como
pensamento puro, mas que produz instrumentos poderosos
e misteriosos de ao; 2. olhada como impiedoso af
iconoclasta das crenas mais venerveis; 3. vista como
atividade independente e neutra diante de qualquer respon-
sabilidade tica; . 4 tida como um processo incontrol-
vel que coloca o cientista na incmoda situao de apren-
diz de feiticeiro; 5. responsabilizada pelos desastres eco-
lgicos que destroem o ecossistema natural do homem e dos
outros seres vivos; 6. identificada com essa forma de
sectarismo intelectual que se convencionou denominar "cien-
tismo"; 7. finalmente, a cincia aparece aos olhos de um
grande nmero como a herdeira bem-sucedida do velho
operar mgico, capaz de extrair da realidade os mais sur-
preendentes efeitos. Holton no encontra dificuldade em
mostrar a inconsistncia de cad uma dessas imagens. Mas
elas so o indcio da perigosa incompreenso do fazer cien-
tfico que se difunde entre os homens de uma civilizao
que se caracteriza exatamente como civilizao da Razo
cientfica ou que est submetida ao inexorvel processo de
"cientifizao" (Verwissenschaftlichung) de que fala J. Ha-
bermas.
Esse um dos lados da medalha. Mas o reverso no
menos inquietante. Se, de um lado, o homem comum e as
elites intelectuais no-cientficas revelam um profundo des-
conhecimento dos procedimentos mais elementares e dos
contedos mais bsicos do pensamento cientfico, de outro
as elites cientficas parecem cada vez menos aptas a com-
preender a natureza dos problemas que ultrapassam ne-
cessariamente o mbito estrito do saber cientfico e dizem
respeito s interrogaes fundamentais sobre o homem e
a sociedade.
Cientistas geniais e pioneiros que eram, ao mesmo tem-
po, humanistas brilhantes, como Albert Einstein, Louis de
Broglie ou Werner Heisenberg, tornam-se raros. Ora,
sabido que a cincia moderna tem suas razes profundamen-
te mergulhadas no terreno do humanismo renascentista, e
ainda recentemente o fsico e filsofo Enrico Cantore es-
creveu um livro volumoso sobre a "significao humanista
275
da Cincia" (ver Sntese, 16 [1979]: 158-159). A incultura
humanista do homem de cincia aparece to grave e cheia
de riscos quanto a ignorncia da natureza do pensamento
cientfico pelo homem cultivado.
Eis a um problema que envolve, na sua abrangncia
e profundidade, todos os aspectos e os prprios fundamen-
tos da sociedade contempornea. Trata-se de um problema
de cultura. , portanto, um problema que se formula no
terreno das significaes que devem ser socialmente com-
preendidas e aceitas e devem encontrar seu lugar nos uni-
versos simblicos nos quais a sociedade se mira e busca
exprimir suas razes de ser. Ora, se a imensa maioria dos
objetos que circulam no cotidiano da vida dos homens e
das prticas que se integram na rotina dos gestos mais fa-
miliares permanece, na sua verdadeira significao, envolta
no vu de um enigma que somente alguns iniciados con-
seguem levantar, o equilbrio cultural da sociedade encon-
tra-se seriamente ameaado.
H aqui um eloqente contraste entre as sociedades
primitivas e mesmo as sociedades tradicionais e a socie-
dade dita "avanada" dos nossos dias. Naquelas a signifi-
cao de cada objeto e de cada gesto referia-se sem equ-
voco aos sistemas simblicos fundados sobre os mitos pri-
mordiais. Nesta, qualquer significao que v alm do uso
dos objetos e da repetio das prticas e, corresponden-
temente, da satisfao ou dos efeitos imediatamente alcan-
ados, mostra-se obscura e, finalmente, impenetrvel.
No h como desconhecer os riscos que essa situao
representa para a nossa sociedade. O homem primitivo ou
tradicional no conhecia as leis fsicas, qumicas ou biol-
gicas, mas possua uma explicao, para ele perfeitamente
aceitvel, do trovo, do fogo e do ciclo da vegetao. Que
explicao o homem de hoje pode oferecer dos objetos tc-
nicos que acabaram por oeupar todos os espaos do seu
universo cotidiano? No lhe resta seno recorrer a uma
das imagens deformadas da cincia de que fala Holton.
Muito mais fundamentais, embora aparentemente no
to dramticos quanto os problemas de produo, circula-
o e distribuio de bens e satisfao das necessidades,
so os problemas levantados, na sociedade contempornea,
pela produo, distribuio e assimilao do saber, por essa
"economia poltica da cincia" a que se refere Robert S.
Cohen (La ciencia y la tecnologa en una perspectiva global,
276
r
I
ap. Rev. Intern. de Ciencias Sociales, Unesco, 34 [1982]:
67-87). Esse fsico americano, que organizou h tempos o
simpsio da UNESCO sobre "as implicaes sociais da cin-
cia e da tecnologia", vem confirmar com seu diagnstico
as reflexes de G. Holton, mostrando a permanncia e, tal-
vez, o agravamento do problema das relaes entre huma-
nismo e cincia.
Entre as deficincias da civilizao cientfico-tecnolgi-
ca, Robert Cohen assinala o insucesso da educao em es-
cala mundial, particularmente diante de uma s e constru-
tiva compreenso da cincia e da sua tecnologia como parte
da educao humanista (p. 72). Segundo Cohen, o elitismo
tecnolgico, desvinculado da viso dos problemas funda-
mentais do homem, constitui uma ameaa grave no plano
poltico, social e ideolgico, que nenhum responsvel por
polticas culturais e educacionais ou estudioso desses pro-
blemas pode desconhecer.
No faltam vozes pessimistas dentre alguns dos mais
conhecidos estudiosos do fenmeno da tcnica como Lewis
Mumford e Jacques ~ l l u l , para quem aparentemente no
h soluo para o problema das relaes entre tcnica e
humanismo, dadas as caractersticas de onipotncia e oni-
presena do chamado "sistema tcnico". Dever o homo
technicus renunciar prerrogativa essencial da sua huma-
nidade, que a compreenso do seu mundo e das razes
do seu existir e do seu agir? Os apologistas da sociedade
tecnolgica fazem valer a infinita diversidade das opes de
trabalho, de cultura e de lazer que podero ser oferecidas
a todos, uma vez superados os entraves poltico-srJciais no
caminho do ideal definido com a frase clebre: "De cada
um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua
necessidade". Como no opor essa prodigiosa expanso aos
estreitssimos limites dentro dos quais se movia o homem
das sociedades primitivas ou tradicionais? Mas poder a
qualidade de vida ser definida apenas em termos de obje-
tos, uso, necessidades, satisfao, consumo? Eis a questo
decisiva. Ningum verdadeiramente livre se no capaz
de dar razo da sua liberdade. E a sociedade que se estru-
tura em tomo da forma mais audaciosa, universal e eficaz
das razes, a razo cientfica, parece impotente para ofe-
recer ao homem razes compreensveis e convincentes para
o seu livre ser e o seu livre agir. A cincia, atravs da tc-
nica, oferece ao homem da sociedade contempornea mil
277
da Cincia" (ver Sntese, 16 [1979]: 158-159). A incultura
humanista do homem de cincia aparece to grave e cheia
de riscos quanto a ignorncia da natureza do pensamento
cientfico pelo homem cultivado.
Eis a um problema que envolve, na sua abrangncia
e profundidade, todos os aspectos e os prprios fundamen-
tos da sociedade contempornea. Trata-se de um problema
de cultura. , portanto, um problema que se formula no
terreno das significaes que devem ser socialmente com-
preendidas e aceitas e devem encontrar seu lugar nos uni-
versos simblicos nos quais a sociedade se mira e busca
exprimir suas razes de ser. Ora, se a imensa maioria dos
objetos que circulam no cotidiano da vida dos homens e
das prticas que se integram na rotina dos gestos mais fa-
miliares permanece, na sua verdadeira significao, envolta
no vu de um enigma que somente alguns iniciados con-
seguem levantar, o equilbrio cultural da sociedade encon-
tra-se seriamente ameaado.
H aqui um eloqente contraste entre as sociedades
primitivas e mesmo as sociedades tradicionais e a socie-
dade dita "avanada" dos nossos dias. Naquelas a signifi-
cao de cada objeto e de cada gesto referia-se sem equ-
voco aos sistemas simblicos fundados sobre os mitos pri-
mordiais. Nesta, qualquer significao que v alm do uso
dos objetos e da repetio das prticas e, corresponden-
temente, da satisfao ou dos efeitos imediatamente alcan-
ados, mostra-se obscura e, finalmente, impenetrvel.
No h como desconhecer os riscos que essa situao
representa para a nossa sociedade. O homem primitivo ou
tradicional no conhecia as leis fsicas, qumicas ou biol-
gicas, mas possua uma explicao, para ele perfeitamente
aceitvel, do trovo, do fogo e do ciclo da vegetao. Que
explicao o homem de hoje pode oferecer dos objetos tc-
nicos que acabaram por oeupar todos os espaos do seu
universo cotidiano? No lhe resta seno recorrer a uma
das imagens deformadas da cincia de que fala Holton.
Muito mais fundamentais, embora aparentemente no
to dramticos quanto os problemas de produo, circula-
o e distribuio de bens e satisfao das necessidades,
so os problemas levantados, na sociedade contempornea,
pela produo, distribuio e assimilao do saber, por essa
"economia poltica da cincia" a que se refere Robert S.
Cohen (La ciencia y la tecnologa en una perspectiva global,
276
r
I
ap. Rev. Intern. de Ciencias Sociales, Unesco, 34 [1982]:
67-87). Esse fsico americano, que organizou h tempos o
simpsio da UNESCO sobre "as implicaes sociais da cin-
cia e da tecnologia", vem confirmar com seu diagnstico
as reflexes de G. Holton, mostrando a permanncia e, tal-
vez, o agravamento do problema das relaes entre huma-
nismo e cincia.
Entre as deficincias da civilizao cientfico-tecnolgi-
ca, Robert Cohen assinala o insucesso da educao em es-
cala mundial, particularmente diante de uma s e constru-
tiva compreenso da cincia e da sua tecnologia como parte
da educao humanista (p. 72). Segundo Cohen, o elitismo
tecnolgico, desvinculado da viso dos problemas funda-
mentais do homem, constitui uma ameaa grave no plano
poltico, social e ideolgico, que nenhum responsvel por
polticas culturais e educacionais ou estudioso desses pro-
blemas pode desconhecer.
No faltam vozes pessimistas dentre alguns dos mais
conhecidos estudiosos do fenmeno da tcnica como Lewis
Mumford e Jacques ~ l l u l , para quem aparentemente no
h soluo para o problema das relaes entre tcnica e
humanismo, dadas as caractersticas de onipotncia e oni-
presena do chamado "sistema tcnico". Dever o homo
technicus renunciar prerrogativa essencial da sua huma-
nidade, que a compreenso do seu mundo e das razes
do seu existir e do seu agir? Os apologistas da sociedade
tecnolgica fazem valer a infinita diversidade das opes de
trabalho, de cultura e de lazer que podero ser oferecidas
a todos, uma vez superados os entraves poltico-srJciais no
caminho do ideal definido com a frase clebre: "De cada
um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua
necessidade". Como no opor essa prodigiosa expanso aos
estreitssimos limites dentro dos quais se movia o homem
das sociedades primitivas ou tradicionais? Mas poder a
qualidade de vida ser definida apenas em termos de obje-
tos, uso, necessidades, satisfao, consumo? Eis a questo
decisiva. Ningum verdadeiramente livre se no capaz
de dar razo da sua liberdade. E a sociedade que se estru-
tura em tomo da forma mais audaciosa, universal e eficaz
das razes, a razo cientfica, parece impotente para ofe-
recer ao homem razes compreensveis e convincentes para
o seu livre ser e o seu livre agir. A cincia, atravs da tc-
nica, oferece ao homem da sociedade contempornea mil
277
opes possveis entre mil objetos. Mas a escolha s ser
verdadeiramente livre se o homem puder encontrar as ra-
zes que justifiquem e legitimem a presena de tais obje-
tos no horizonte do desejo e das necessidades. Para tanto,
ser necessrio que o homem comum compreenda, ao me-
nos na sua inspirao fundamental, a natureza do prprio
projeto de explicao cientfica e de transformao tcnica
do mundo. Voltamos, assim, questo do lugar da cincia
na cultura geral, ao problema da "significao humanista
da cincia" tal como o caracterizou E. Cantore.
As grandes revolues cientficas do nosso sculo, ao
mesmo tempo que impelem vertiginosamente o progresso
tcnico, tornam mais enigmtica aos olhos do homem co-
mum, usurio dos objetos que a tcnica oferece ao seu con-
sumo e satisfao, a compreenso das articulaes tericas
profundas entre o pensamento cientfico e o fazer tcnico.
A pesquisa bsica parece ter atingido as estruturas elemen-
tares da matria e da vida. A partir dos anos 60, segundo
o diagnstico de Pedro M. Guimares Ferreira, PhD em
Teoria dos Sistemas, pesquisador e professor na PUC-RJ,
a grande revoluo se d no campo das Cincias da Enge-
nharia: no se trata mais, fundamentalmente, da descober-
ta de novos fenmenos (pesquisa bsica), mas da constru-
o de novos seres (Cincias da Engenharia). Da micro-
eletrnica bioengenharia estende-se o campo imenso, in-
quietante e fascinante, da nova cincia. Ela consagra o
triunfo do ideal cartesiano de matematizao do universo.
Com efeito, segundo a anlise de Guimares Ferreira, o
processo de produo de conhecimentos nas Cincias da
Engenharia obedece a trs fases logicamente distintas: 1.
o estudo em software das condies necessrias e suficien-
tes que permitem indicar a soluo matematicamente pos-
svel para um projeto; 2. a realizao do projeto do ponto
de vista do hardware onde diversas solues se oferecem,
de acordo com a natureza "fsica" do projeto a ser exe-
cutado: mecnica, termoqumica, eletrnica etc. . . 3. a es-
colha da soluo que constituir o projeto de engenharia
propriamente dito.
V-se que a razo matemtica rege totalmente a estru-
tura profunda dos objetos que passam a povoar o espao
familiar dos homens. inevitvel que se coloque como
questo vital (ou questo que diz respeito s prprias con-
dies de possibilidade de uma vida plenamente humana)
278
.
I
I
I.
a interrogao sobre o sentido matem.atizao do mun-
do dos objetos, dessa dimensao matematicamente progra-
mada do seu "valor de uso".
com o desenvolvimento espetacular
Engenharia, o problema da entre e socie-
dade e em particular, entre Ciencia e humamsmo alcana
um nv'el de radicalidade que a cincia clssica no
cera. So questes de um futuro j e quaiS
comea a surgir, a partir de um plano mmto mais prc;
fundo do que aquele no qual os eventos se verti-
ginosamente, a imagem do mundo de amanha.
279
opes possveis entre mil objetos. Mas a escolha s ser
verdadeiramente livre se o homem puder encontrar as ra-
zes que justifiquem e legitimem a presena de tais obje-
tos no horizonte do desejo e das necessidades. Para tanto,
ser necessrio que o homem comum compreenda, ao me-
nos na sua inspirao fundamental, a natureza do prprio
projeto de explicao cientfica e de transformao tcnica
do mundo. Voltamos, assim, questo do lugar da cincia
na cultura geral, ao problema da "significao humanista
da cincia" tal como o caracterizou E. Cantore.
As grandes revolues cientficas do nosso sculo, ao
mesmo tempo que impelem vertiginosamente o progresso
tcnico, tornam mais enigmtica aos olhos do homem co-
mum, usurio dos objetos que a tcnica oferece ao seu con-
sumo e satisfao, a compreenso das articulaes tericas
profundas entre o pensamento cientfico e o fazer tcnico.
A pesquisa bsica parece ter atingido as estruturas elemen-
tares da matria e da vida. A partir dos anos 60, segundo
o diagnstico de Pedro M. Guimares Ferreira, PhD em
Teoria dos Sistemas, pesquisador e professor na PUC-RJ,
a grande revoluo se d no campo das Cincias da Enge-
nharia: no se trata mais, fundamentalmente, da descober-
ta de novos fenmenos (pesquisa bsica), mas da constru-
o de novos seres (Cincias da Engenharia). Da micro-
eletrnica bioengenharia estende-se o campo imenso, in-
quietante e fascinante, da nova cincia. Ela consagra o
triunfo do ideal cartesiano de matematizao do universo.
Com efeito, segundo a anlise de Guimares Ferreira, o
processo de produo de conhecimentos nas Cincias da
Engenharia obedece a trs fases logicamente distintas: 1.
o estudo em software das condies necessrias e suficien-
tes que permitem indicar a soluo matematicamente pos-
svel para um projeto; 2. a realizao do projeto do ponto
de vista do hardware onde diversas solues se oferecem,
de acordo com a natureza "fsica" do projeto a ser exe-
cutado: mecnica, termoqumica, eletrnica etc. . . 3. a es-
colha da soluo que constituir o projeto de engenharia
propriamente dito.
V-se que a razo matemtica rege totalmente a estru-
tura profunda dos objetos que passam a povoar o espao
familiar dos homens. inevitvel que se coloque como
questo vital (ou questo que diz respeito s prprias con-
dies de possibilidade de uma vida plenamente humana)
278
.
I
I
I.
a interrogao sobre o sentido matem.atizao do mun-
do dos objetos, dessa dimensao matematicamente progra-
mada do seu "valor de uso".
com o desenvolvimento espetacular
Engenharia, o problema da entre e socie-
dade e em particular, entre Ciencia e humamsmo alcana
um nv'el de radicalidade que a cincia clssica no
cera. So questes de um futuro j e quaiS
comea a surgir, a partir de um plano mmto mais prc;
fundo do que aquele no qual os eventos se verti-
ginosamente, a imagem do mundo de amanha.
279
VI
CULTURA E RELIGIAO *
Na revista Sntese, 35 0985): 13-39, Xavier Herrero
estuda a crise da f na cultura ocidental contempornea a
partir do ponto de vista da filosofia da religio, o que o
leva a explicitar as caractersticas originais da dialtica do
sagrado cristo e as linhas de resposta nela contidas crise
da f nas sociedades de antiga tradio crist, uma crise
que se tece no plano mais profundo da identidade cultural
dessas sociedades. Coloca-se, assim, no centro do proble-
ma da religio nas sociedades contemporneas o conceito
de cultura na sua acepo mais ampla, esse conceito para
o qual parecem convergir atualmente as tendncias mais
significativas do pensamento econmico, social, poltico e
filosfico - e, sem dvida, tambm do pensamento teol-
gico - confrontadas com os imensos desafios desse nosso
fim de milnio.
Ao definir a necessidade da "identidade cultural" como
a mais importante das necessidades no-materiais que esti-
mulam e impelem as sociedades contemporneas, o Clube
de Roma apenas exprimiu o resultado mais patente da cri-
se mundial dos anos 70, quando a primazia do econmico
na conceituao da idia de desenvolvimento mostrou seus
limites e sua incapacidade para abranger os aspectos glo-
bais da crise, e o centro de gravidade do sistema social
das necessidades deslocou-se rapidamente da esfera mate-
In Sntese (NFJ, 35 (1985): 5-12 <verso ligeiramente modi-
ficada).
280
r
I .
rlal para a esfera simblica. A proclamao do prinClpio
do desenvolvimento cultural como parte integral do desen-
volvimento (UNESCO, Helsinki, 1972) ou a proposio de
"fins culturais" do desenvolvimento (Conferncia Europia,
Berlim 1984) assinalam as direes desse poderoso movi-
mento 'de fundo que desloca para o campo do sentido ou
da racionalidade teleolgica os problemas que se julgava
poder equacionar e resolver no campo da produo ou da
racionalidade instrumental. Na verdade, a dimenso tica
nunca esteve ausente das reflexes sobre o desenvolvimento,
na medida em que este se conceituou, desde o incio, como
um projeto poltico global no qual as economias nacionais
so integradas num conjunto de planos e decises que as
orientam para a obteno de determinado nvel de qualidade
de vida dos indivduos agentes e beneficirios do desenvolvi-
mento. Assim, o desenvolvimento pensado necessariamen-
te na perspectiva do valor ou do dever-ser. Ele se apre-
senta como uma dimenso fundamental desse valor primei-
ro que a prpria sociedade p_oltica, e passa a integrar
o contedo tico da ao poltica regida pelo imperativo
do "bem viver" (Aristteles).
Mas a emergncia do conceito de cultura no centro da
crise contempornea das sociedades que experimentaram
a estreiteza e insuficincia da idia clssica de desenvol-
vimento como matriz conceptual da sua auto-reflexo e da
definio do seu destino histrico, mostra que a interroga-
o tica dos fins desce muito mais fundo no corao do
corpo social do que o permitiria a noo de "qualidade de
vida", modelada pela satisfao das necessidades materiais
como necessidades primrias. O "bem viver" aristotlico,
conceito-chave da reflexo poltica , antes de mais nada,
o poder dar-se as razes de viver, e essas constituem o pr-
prio ncleo em torno do qual se estrutura a identidade
cultural dos indivduos e dos grupos. Ora, essas razes no
se deixam deduzir simplesmente de uma suposta premissa
que seria a soluo, ao menos em princpio, do problema
da satisfao coletiva das necessidades materiais, ou seja,
definidas no interior da esfera da produo, distribuio,
uso e consumo de bens materiais. O "bem viver" no
uma conseqncia necessria do "bem-estar". Primeiramen-
te, porque no h possibilidade de se traar um limite ao
sistema dessas necessidades e de se caracterizar, portanto,
a sua plena satisfao. Em segundo lugar, porque as "ra-
281
VI
CULTURA E RELIGIAO *
Na revista Sntese, 35 0985): 13-39, Xavier Herrero
estuda a crise da f na cultura ocidental contempornea a
partir do ponto de vista da filosofia da religio, o que o
leva a explicitar as caractersticas originais da dialtica do
sagrado cristo e as linhas de resposta nela contidas crise
da f nas sociedades de antiga tradio crist, uma crise
que se tece no plano mais profundo da identidade cultural
dessas sociedades. Coloca-se, assim, no centro do proble-
ma da religio nas sociedades contemporneas o conceito
de cultura na sua acepo mais ampla, esse conceito para
o qual parecem convergir atualmente as tendncias mais
significativas do pensamento econmico, social, poltico e
filosfico - e, sem dvida, tambm do pensamento teol-
gico - confrontadas com os imensos desafios desse nosso
fim de milnio.
Ao definir a necessidade da "identidade cultural" como
a mais importante das necessidades no-materiais que esti-
mulam e impelem as sociedades contemporneas, o Clube
de Roma apenas exprimiu o resultado mais patente da cri-
se mundial dos anos 70, quando a primazia do econmico
na conceituao da idia de desenvolvimento mostrou seus
limites e sua incapacidade para abranger os aspectos glo-
bais da crise, e o centro de gravidade do sistema social
das necessidades deslocou-se rapidamente da esfera mate-
In Sntese (NFJ, 35 (1985): 5-12 <verso ligeiramente modi-
ficada).
280
r
I .
rlal para a esfera simblica. A proclamao do prinClpio
do desenvolvimento cultural como parte integral do desen-
volvimento (UNESCO, Helsinki, 1972) ou a proposio de
"fins culturais" do desenvolvimento (Conferncia Europia,
Berlim 1984) assinalam as direes desse poderoso movi-
mento 'de fundo que desloca para o campo do sentido ou
da racionalidade teleolgica os problemas que se julgava
poder equacionar e resolver no campo da produo ou da
racionalidade instrumental. Na verdade, a dimenso tica
nunca esteve ausente das reflexes sobre o desenvolvimento,
na medida em que este se conceituou, desde o incio, como
um projeto poltico global no qual as economias nacionais
so integradas num conjunto de planos e decises que as
orientam para a obteno de determinado nvel de qualidade
de vida dos indivduos agentes e beneficirios do desenvolvi-
mento. Assim, o desenvolvimento pensado necessariamen-
te na perspectiva do valor ou do dever-ser. Ele se apre-
senta como uma dimenso fundamental desse valor primei-
ro que a prpria sociedade p_oltica, e passa a integrar
o contedo tico da ao poltica regida pelo imperativo
do "bem viver" (Aristteles).
Mas a emergncia do conceito de cultura no centro da
crise contempornea das sociedades que experimentaram
a estreiteza e insuficincia da idia clssica de desenvol-
vimento como matriz conceptual da sua auto-reflexo e da
definio do seu destino histrico, mostra que a interroga-
o tica dos fins desce muito mais fundo no corao do
corpo social do que o permitiria a noo de "qualidade de
vida", modelada pela satisfao das necessidades materiais
como necessidades primrias. O "bem viver" aristotlico,
conceito-chave da reflexo poltica , antes de mais nada,
o poder dar-se as razes de viver, e essas constituem o pr-
prio ncleo em torno do qual se estrutura a identidade
cultural dos indivduos e dos grupos. Ora, essas razes no
se deixam deduzir simplesmente de uma suposta premissa
que seria a soluo, ao menos em princpio, do problema
da satisfao coletiva das necessidades materiais, ou seja,
definidas no interior da esfera da produo, distribuio,
uso e consumo de bens materiais. O "bem viver" no
uma conseqncia necessria do "bem-estar". Primeiramen-
te, porque no h possibilidade de se traar um limite ao
sistema dessas necessidades e de se caracterizar, portanto,
a sua plena satisfao. Em segundo lugar, porque as "ra-
281
zes" de viver se inscrevem exatamente no espao de trans-
crio simblica da vida num sistema de interpretaes que
no dado ao homem como o sistema das coisas ou dos
objetos, mas por ele recebido e recriado no ato que o
constitui exatamente como sujeito de cultura. Na medida em
que o sistema das interpretaes ou o universo dos signi-
ficados foi atrelado rigidamente ao sistema da produo
material - e essa a premissa ideolgica da sociedade
industrial seja na sua verso capitalista seja na sua verso
socialista -, o ato de cultura passou a ser regido pelas
regras e mecanismos desse processo originariamente natu-
ral que o processo de consumo. A famosa "naturalizao
do homem" preconizada por Marx no teve nenhuma con-
trapartida humanizante. Ao contrrio, como mostram as
contundentes anlises da sociedade de consumo por Jean
Baudrillard, a lgica naturalista do processo de consumo,
na forma tcnico-cientfica que lhe confere a moderna ~ o
ciedade de produo, impe a identificao do indivduo
com o objeto - sua coisijicao - nos antpodas de uma
autntica identidade cultural que se define pela possibili-
dade de acolher vitalmente, vem a ser, criativamente -
todo o contrrio da identificao compulsria e mecnica
com os objetos- as significaes nas quais uma sociedade
inscreve suas razes de viver.
Ora, na moderna sociedade de produo esto presen-
tes e ativos vrios fatores que tornam extremamente pro-
blemtica a possibilidade desse ato de acolhimento e re-
criao das significaes que define a identidade cultural
fundamental. Entre eles a prpria captao da cultura na
lgica do consumo, com o conseqente desmesurado cres-
cimento do que se convencionou chamar "cultura de mas-
sa". Como mostrou Edgar Morin, essa forma de cultura
rene paradoxalmente no mesmo processo uma imensa
acumulao de informaes e a quase imediata dissipao
dessas informaes sob os imperativos da "indstria da co-
municao". Entre a acumulao e a dissipao, o perfil
do ato cultural se desenha segundo linhas padronizadas que
traam para a indstria da comunicao as reaes previ-
sveis do consumidor da "cultura de massa".
O fenmeno da "cultura de massa", tornado possvel
pela submisso do universo da comunicao s regras da
produo tcnica e lgica do consumo, assinala por sua
vez a crise e o declnio das "vises do mundo", ou da pos-
282
I
1
sibilidade de integrao dos conjuntos de significados que
configuram a face objetiva da cultura, no campo explicativo
de um Sentido primeiro e fundamental. A pluralidade de
sentidos, entre si irredutveis, se introduz no interior d?
sujeito da cultura que se multiplica por outros tantos um-
versos culturais, entre os quais circulam apenas esses sig-
nificados deliberadamente esvaziados de qualquer contedo
mais empenhativo e profundo que alimentam justamente a
comunicao de massa. Depois da moda da science jiction,
a projeo da vulgarizao teolgica no cenrio dos m e ~ i a
talvez o ndice mais significativo dessa crise do Sentido
ou desse desfazer-se da "viso do mundo" na nossa socie
dade do consumo, assinalados pela incapacidade e pelo de-
sinteresse do indivduo em construir sua identidade cultu-
ral pela articulao da sua vida pessoal a um sistema obje-
tivo e socialmente reconhecido de razes de viver. Com
efeito, a prpria sociedade se mostra incapaz de propor
essas razes e ao indivduo no resta seno inserir-se re-
signadamente na lgica parcelar e fragmentria da vida co-
tidiana, cujo cdigo de significaes dominado pelas exi-
gncias da comunicao de massa.
Ao contrrio do que vai repetindo o lugar-comum vul-
garizado pela Ilustrao do sculo XVIII e manejado como
arma ideolgica por algumas correntes revolucionrias do
sculo XIX, a forma mais poderosa e eficaz conhecida at
hoje pelas sociedades humanas para assegurar a identida-
de cultural do indivduo e operar a integrao das signifi-
caes numa "viso do mundo" socialmente reconhecida
a crena religiosa. No h contra-senso mais flagrantemen-
te desmentido pela cincia das religies e pela antropologia
cultural do que a aplicao da categoria de "alienao",
arrancada do contexto bem-determinado no qual Hegel a
situou na Fenomenologia do Esprito, ao fato religioso em
geral. Longe de "alienar" o indivduo, a religio opera da
maneira mais radical a sua integrao na realidade, e essa
talvez a explicao mais adequada da universalidade an-
tropolgico-cultural do fenmeno religioso. Com efeito o
homem se integra tanto mais plenamente na realidade quan-
to mais essa se lhe apresenta dotada de sentido e quanto
mais os sentidos parciais se ordenam na unidade de um
Sentido primeiro e fundamental. Se definirmos a realidade
como o plo objetivo que faz face s necessidades subjeti-
vas do homem, veremos que a realidade dada ou natural
283
zes" de viver se inscrevem exatamente no espao de trans-
crio simblica da vida num sistema de interpretaes que
no dado ao homem como o sistema das coisas ou dos
objetos, mas por ele recebido e recriado no ato que o
constitui exatamente como sujeito de cultura. Na medida em
que o sistema das interpretaes ou o universo dos signi-
ficados foi atrelado rigidamente ao sistema da produo
material - e essa a premissa ideolgica da sociedade
industrial seja na sua verso capitalista seja na sua verso
socialista -, o ato de cultura passou a ser regido pelas
regras e mecanismos desse processo originariamente natu-
ral que o processo de consumo. A famosa "naturalizao
do homem" preconizada por Marx no teve nenhuma con-
trapartida humanizante. Ao contrrio, como mostram as
contundentes anlises da sociedade de consumo por Jean
Baudrillard, a lgica naturalista do processo de consumo,
na forma tcnico-cientfica que lhe confere a moderna ~ o
ciedade de produo, impe a identificao do indivduo
com o objeto - sua coisijicao - nos antpodas de uma
autntica identidade cultural que se define pela possibili-
dade de acolher vitalmente, vem a ser, criativamente -
todo o contrrio da identificao compulsria e mecnica
com os objetos- as significaes nas quais uma sociedade
inscreve suas razes de viver.
Ora, na moderna sociedade de produo esto presen-
tes e ativos vrios fatores que tornam extremamente pro-
blemtica a possibilidade desse ato de acolhimento e re-
criao das significaes que define a identidade cultural
fundamental. Entre eles a prpria captao da cultura na
lgica do consumo, com o conseqente desmesurado cres-
cimento do que se convencionou chamar "cultura de mas-
sa". Como mostrou Edgar Morin, essa forma de cultura
rene paradoxalmente no mesmo processo uma imensa
acumulao de informaes e a quase imediata dissipao
dessas informaes sob os imperativos da "indstria da co-
municao". Entre a acumulao e a dissipao, o perfil
do ato cultural se desenha segundo linhas padronizadas que
traam para a indstria da comunicao as reaes previ-
sveis do consumidor da "cultura de massa".
O fenmeno da "cultura de massa", tornado possvel
pela submisso do universo da comunicao s regras da
produo tcnica e lgica do consumo, assinala por sua
vez a crise e o declnio das "vises do mundo", ou da pos-
282
I
1
sibilidade de integrao dos conjuntos de significados que
configuram a face objetiva da cultura, no campo explicativo
de um Sentido primeiro e fundamental. A pluralidade de
sentidos, entre si irredutveis, se introduz no interior d?
sujeito da cultura que se multiplica por outros tantos um-
versos culturais, entre os quais circulam apenas esses sig-
nificados deliberadamente esvaziados de qualquer contedo
mais empenhativo e profundo que alimentam justamente a
comunicao de massa. Depois da moda da science jiction,
a projeo da vulgarizao teolgica no cenrio dos m e ~ i a
talvez o ndice mais significativo dessa crise do Sentido
ou desse desfazer-se da "viso do mundo" na nossa socie
dade do consumo, assinalados pela incapacidade e pelo de-
sinteresse do indivduo em construir sua identidade cultu-
ral pela articulao da sua vida pessoal a um sistema obje-
tivo e socialmente reconhecido de razes de viver. Com
efeito, a prpria sociedade se mostra incapaz de propor
essas razes e ao indivduo no resta seno inserir-se re-
signadamente na lgica parcelar e fragmentria da vida co-
tidiana, cujo cdigo de significaes dominado pelas exi-
gncias da comunicao de massa.
Ao contrrio do que vai repetindo o lugar-comum vul-
garizado pela Ilustrao do sculo XVIII e manejado como
arma ideolgica por algumas correntes revolucionrias do
sculo XIX, a forma mais poderosa e eficaz conhecida at
hoje pelas sociedades humanas para assegurar a identida-
de cultural do indivduo e operar a integrao das signifi-
caes numa "viso do mundo" socialmente reconhecida
a crena religiosa. No h contra-senso mais flagrantemen-
te desmentido pela cincia das religies e pela antropologia
cultural do que a aplicao da categoria de "alienao",
arrancada do contexto bem-determinado no qual Hegel a
situou na Fenomenologia do Esprito, ao fato religioso em
geral. Longe de "alienar" o indivduo, a religio opera da
maneira mais radical a sua integrao na realidade, e essa
talvez a explicao mais adequada da universalidade an-
tropolgico-cultural do fenmeno religioso. Com efeito o
homem se integra tanto mais plenamente na realidade quan-
to mais essa se lhe apresenta dotada de sentido e quanto
mais os sentidos parciais se ordenam na unidade de um
Sentido primeiro e fundamental. Se definirmos a realidade
como o plo objetivo que faz face s necessidades subjeti-
vas do homem, veremos que a realidade dada ou natural
283
apenas o suporte da realidade propriamente humana que
a realidade signijicada ou cultural. Ora, o sistema das
representaes religiosas se mostra, desde as origens da
cultura, como o horizonte mais amplo e mais profundo
de abertura do homem realidade ou, o que o mesmo,
ao universo do sentido. No momento em que a expresso
do Sentido assume a forma da Razo demonstrativa e passa
a ser a entelqueia ou o princpio organizador de todo um
arco civilizatrio cujas pontas tocam as cidades da Jnia
no sculo VI a.C. e as grandes naes industriais desse fim
do sculo XX d.C., a transposio do horizonte da Religio
em horizonte da Razo demonstrativa torna-se o mais for-
midvel problema de civilizao jamais vivido pelo homem,
problema que determina a estrutura irremediavelmente teo-
lgica dos arqutipos mentais do Ocidente (ver Sntese, 17
[1979]: 3-17) e que Hegel tematizou como passagem da
representao ao conceito na esfera do Esprito absoluto.
nesse problema que mergulha, sem dvida, a raiz mais
profunda da crise de cultura da nossa civilizao.
Dois aspectos dessa crise atingem mais diretamente a
natureza da relao intrnseca e constitutiva entre cultura
e religio, e mostram com dramtica evidncia que a ori-
ginalidade dessa relao resiste s tentativas reducionistas
da Razo demonstrativa - hoje poderosamente codifica-
da em Razo cientfica e tecnolgica - e repe com gra-
vidade at ento desconhecida o problema da identidade
cultural sob o ngulo do acolhimento de um Sentido pri-
meiro e fundamental, capaz de unificar numa viso coe-
rente do mundo a multiplicidade proliferante dos signifi-
cados.
O primeiro aspecto se descobre justamente no terreno
das repetidas tentativas de explicao do fato religioso pe-
las redues sociologizantes. Desde a forma mais primria
desse tipo de explicao, que a teoria da religio como
"alienao", passando por essa outra forma ligeiramente
mais pretensiosa que a teoria da religio como "ideolo-
gia", at as formas mais elaboradas da moderna sociologia
da religio que Xavier Herrero enumera no seu artigo, a
absoro do religioso no social - e sua conseqente dis-
soluo - se inscreve no projeto histrico que C. Casto-
~ a d i s denominou a "sociedade autnoma", e cuja face mais
VIsvel at agora, do ponto de vista do problema da cultura,
exatamente a fragmentao irremedivel dos significados
284
1
e a perda da identidade cultural dos indivduos na "cultura
de massa".
Com efeito, ao abrir para o indivduo a possibilidade
de se integrar na realidade pela referncia da multiplicida-
de dos significados dos seus universos culturais unidade
de um Sentido primeiro, a religio abre igualmente para
ele o campo de uma experincia original na qual se afirma
do modo mais radical como sujeito. A experincia religio-
sa, que pode atingir suas formas mais elevadas na expe-
rincia mstica, anterior e superior, em termos de ho-
rizonte de intencionalidade, a toda outra forma de expe-
rincia que se traduzir finalmente em fonte de satisfao
de uma necessidade social: experincia do trabalho, do sa-
ber, da convivncia, do conflito, e outras. Embora prova-
velmente condio de possibilidade dessas experincias que
se articulam satisfao de uma necessidade social (o que
pressuporia a essencialidade do homo religiosus) a religio
, primeiramente, instituidora do sujeito na sua unicidade,
ou seja, na sua identidade mais profunda, abrindo-lhe o
horizonte do Sentido transcendente, unificador dos sentidos
mltiplos dispersos na natureza e na sociedade. E se a
sociedade humana no apenas uma sociedade animal nem
pretende ser uma sociedade autnoma de autmatos (os
dois extremos pensveis da desumanizao), convm con-
cluir que no a sociedade que explica a religio, mas a
religio que explica a sociedade. Em outras palavras, a
hermenutica das sociedades histricas passa necessaria-
mente pela hermenutica do Sagrado, que se apresenta, pa-
ra determinada sociedade, como a face histrico-cultural do
Sentido primeiro, e diante do qual os indivduos dessa so-
ciedade asseguram a sua identidade cultural e a sua condi-
o de sujeitos pelo ato fundamental da crena. Nesse sen-
tido esplendidamente elucidativa das idias que aqui de-
senvolvemos a magistral interpretao da sociedade antiga
na chamada Antiguidade tardia apresentada por Peter Brown
no seu livro The making of late AntiquitJy (Harvard Univ.
Press, 1978; tr. fr. com importantes Prefcios do A. e de
P. Veyne, Genese de l'Antiquit tardive, Paris, Gallimard,
1983). Mais do que longas disquisies tericas, esse livro
mostra como um certo estilo de relao com o Sagrado
assegura a fisionomia original de uma civilizao, e como
nas regies profundas da instituio social onde se tece
essa relao, l onde os indivduos se interrogam sobre as
285
apenas o suporte da realidade propriamente humana que
a realidade signijicada ou cultural. Ora, o sistema das
representaes religiosas se mostra, desde as origens da
cultura, como o horizonte mais amplo e mais profundo
de abertura do homem realidade ou, o que o mesmo,
ao universo do sentido. No momento em que a expresso
do Sentido assume a forma da Razo demonstrativa e passa
a ser a entelqueia ou o princpio organizador de todo um
arco civilizatrio cujas pontas tocam as cidades da Jnia
no sculo VI a.C. e as grandes naes industriais desse fim
do sculo XX d.C., a transposio do horizonte da Religio
em horizonte da Razo demonstrativa torna-se o mais for-
midvel problema de civilizao jamais vivido pelo homem,
problema que determina a estrutura irremediavelmente teo-
lgica dos arqutipos mentais do Ocidente (ver Sntese, 17
[1979]: 3-17) e que Hegel tematizou como passagem da
representao ao conceito na esfera do Esprito absoluto.
nesse problema que mergulha, sem dvida, a raiz mais
profunda da crise de cultura da nossa civilizao.
Dois aspectos dessa crise atingem mais diretamente a
natureza da relao intrnseca e constitutiva entre cultura
e religio, e mostram com dramtica evidncia que a ori-
ginalidade dessa relao resiste s tentativas reducionistas
da Razo demonstrativa - hoje poderosamente codifica-
da em Razo cientfica e tecnolgica - e repe com gra-
vidade at ento desconhecida o problema da identidade
cultural sob o ngulo do acolhimento de um Sentido pri-
meiro e fundamental, capaz de unificar numa viso coe-
rente do mundo a multiplicidade proliferante dos signifi-
cados.
O primeiro aspecto se descobre justamente no terreno
das repetidas tentativas de explicao do fato religioso pe-
las redues sociologizantes. Desde a forma mais primria
desse tipo de explicao, que a teoria da religio como
"alienao", passando por essa outra forma ligeiramente
mais pretensiosa que a teoria da religio como "ideolo-
gia", at as formas mais elaboradas da moderna sociologia
da religio que Xavier Herrero enumera no seu artigo, a
absoro do religioso no social - e sua conseqente dis-
soluo - se inscreve no projeto histrico que C. Casto-
~ a d i s denominou a "sociedade autnoma", e cuja face mais
VIsvel at agora, do ponto de vista do problema da cultura,
exatamente a fragmentao irremedivel dos significados
284
1
e a perda da identidade cultural dos indivduos na "cultura
de massa".
Com efeito, ao abrir para o indivduo a possibilidade
de se integrar na realidade pela referncia da multiplicida-
de dos significados dos seus universos culturais unidade
de um Sentido primeiro, a religio abre igualmente para
ele o campo de uma experincia original na qual se afirma
do modo mais radical como sujeito. A experincia religio-
sa, que pode atingir suas formas mais elevadas na expe-
rincia mstica, anterior e superior, em termos de ho-
rizonte de intencionalidade, a toda outra forma de expe-
rincia que se traduzir finalmente em fonte de satisfao
de uma necessidade social: experincia do trabalho, do sa-
ber, da convivncia, do conflito, e outras. Embora prova-
velmente condio de possibilidade dessas experincias que
se articulam satisfao de uma necessidade social (o que
pressuporia a essencialidade do homo religiosus) a religio
, primeiramente, instituidora do sujeito na sua unicidade,
ou seja, na sua identidade mais profunda, abrindo-lhe o
horizonte do Sentido transcendente, unificador dos sentidos
mltiplos dispersos na natureza e na sociedade. E se a
sociedade humana no apenas uma sociedade animal nem
pretende ser uma sociedade autnoma de autmatos (os
dois extremos pensveis da desumanizao), convm con-
cluir que no a sociedade que explica a religio, mas a
religio que explica a sociedade. Em outras palavras, a
hermenutica das sociedades histricas passa necessaria-
mente pela hermenutica do Sagrado, que se apresenta, pa-
ra determinada sociedade, como a face histrico-cultural do
Sentido primeiro, e diante do qual os indivduos dessa so-
ciedade asseguram a sua identidade cultural e a sua condi-
o de sujeitos pelo ato fundamental da crena. Nesse sen-
tido esplendidamente elucidativa das idias que aqui de-
senvolvemos a magistral interpretao da sociedade antiga
na chamada Antiguidade tardia apresentada por Peter Brown
no seu livro The making of late AntiquitJy (Harvard Univ.
Press, 1978; tr. fr. com importantes Prefcios do A. e de
P. Veyne, Genese de l'Antiquit tardive, Paris, Gallimard,
1983). Mais do que longas disquisies tericas, esse livro
mostra como um certo estilo de relao com o Sagrado
assegura a fisionomia original de uma civilizao, e como
nas regies profundas da instituio social onde se tece
essa relao, l onde os indivduos se interrogam sobre as
285
r a z ~ e s de viver, que as sociedades mudam. Brown nos
convida a reformular a noo ambgua de "crise" e, seja
dito de passagem, vindas de um dos maiores historiadores
do nosso tempo, suas explicaes ajudam-nos a nos desfa-
zer do mito de uma "Igreja constantiniana" oposta a uma
"Igreja dos mrtires", cultivado por uma certa Ilustrao
catlica recente.
Crise de civilizao, verdadeiramente, s se configura
como crise do Sagrado. E sob esses traos que se nos
apresenta o segundo aspecto da crise de cultura da nossa
civilizao. Com efeito, ela assinala talvez os atos extre-
mos do imenso processo crtico iniCiado nos albores da
Grcia clssica, e que se apresenta como a empresa inau-
dita de transcrever, por meio da Filosofia e da Cincia, a
simblica do Sagrado das civilizaes que se sucedem no
ciclo cultural do Ocidente, no espao da Razo demonstra-
tiva. A primeira forma dessa transcrio deu-nos a longa
sucesso das teologias, dos milesianos teologia crist. Mas
foram justamente a originalidade do Sagrado cristo e a
radical reestruturao do ato religioso da crena em ato de
f, como mostra Xavier Herrero, que conduziram a um
ponto extremo de tenso a resistncia do Sagrado sua
reinterpretao final no cdigo da Razo demonstrativa. Em
outras palavras, a racionalizao da religio paga com o
sacrifcio da sua essncia. Essa a dramtica experincia
cultural que marca inconfundivelmente o caminho civiliza-
trio do Ocidente e cujos ltimos passos - os nossos -
avanam sob o signo desse processo que se convencionou
denominar de "secularizao" e que, pela primeira vez na
Histria, nos mostra uma civilizao que perdeu suas re-
ferncias constitutivas ao Sagrado e que mergulha assim
na mais profunda crise do Sentido que a humanidade haja
experimentado. Algum penetrou as profundidades abissais
dessa crise e tentou um ltimo e titnico esforo de trans-
posio do Sagrado na Razo que instaurasse para o ho-
mem moderno, no plano mesmo do saber racional, a sub-
jetividade infinita do ato religioso e sua compreenso da
realidade como abertura ao absoluto de um Sentido pri-
meiro. Foi Hegel, cuja Filosofia da Religio passa a ser
assim uma espcie de Juzo final da civilizao racionalista
do Ocidente. Nenhum drama atinge sequer de longe a gran-
diosidade do drama especulativo da cristologia hegeliana,
tal como a reconstituiu recentemente Emilio Brito (ver
286
Sntese, 30, [1984]: 93-97). A desolao lancinante do seu
desfecho, na dilacerao da herana hegeliana pelo atesmo
de um Feuerbach, de um F. Strauss o de um Marx, ates-
ta-nos a impotncia final da Razo em capturar o Sagrado
na imanncia dos seus processos demonstrativos. Por ou-
tro lado, ao tentar operar a imanentizao racional do Sa-
grado sob essa forma original de um Sagrado constitu-
tivamente historicizante - instaurador do Sentido como
Sentido da histria absoluto e universal - e que ele mes-
mo denominou "religio absoluta", qual o Sagrado cristo
e seu acolhimento na f, e tendo trazido a prova ex con-
trario da impossibilidade de tal operao supremamente
ambiciosa da Razo, Hegel antecipou genialmente o destino
do mundo cristo "secularizado": o destino de uma hist-
ria condenada ao absurdo. O absurdo do atesmo, como
mostrou Henri de Lubac, a sentena condenatria que
conclui o Juzo final da Filosofia da Religio de Hegel.
A dialtica do Sagrado cristo, para citar ainda uma vez
Xavier Herrero, acaba por fazer convergir todas as linhas
da esfera do Sagrado para a subjetividade infinita do Deus
feito homem no mistrio tendrico, no qual se d a mais
radical suprassuno (para usar um termo hegeliano) da
Histria no Sagrado e em face do qual a Razo, por sua
vez, radicalmente suprassumida na F. O Sagrado se
despe de todo o revestimento simblico da mitologia cs-
mico-biolgica ou simplesmente antropomrfica e sujei-
to: homem histrico como ns. "O Sentido - o Logos -
proclama Joo, se fez carne e morou entre ns" (Jo 1,14).
Aqui emerge a lgica transracional desse Sagrado feito His-
tria e que se poderia denominar mistrica - lgica do
mistrio iluminante da F - que se apresenta necessaria-
mente como uma lgica da Ressurreio e da Vida, pois
s o Sentido absoluto pode igualmente suprassumir o no-
-ser da morte. justamente impelidos por esse aguilho
cravado no dorso da vida (lCor 15,55) que os indivduos
e as civilizaes lanam ao Sagrado as questes ltimas e
definitivas sobre as razes de viver. A reduo racionalista
do Sagrado tentou abraar a morte como "inefetividade"
absorvida pelo "poder prodigioso" do negativo conceptual
(Hegel) ou, em nvel mais rasteiramente materialista, como
"dura vitria da espcie sobre o indivduo" (Marx).
Porm, a "lgica da morte moderna" justamente a
exausto de todas as lgicas da Razo nas proximidades
287
r a z ~ e s de viver, que as sociedades mudam. Brown nos
convida a reformular a noo ambgua de "crise" e, seja
dito de passagem, vindas de um dos maiores historiadores
do nosso tempo, suas explicaes ajudam-nos a nos desfa-
zer do mito de uma "Igreja constantiniana" oposta a uma
"Igreja dos mrtires", cultivado por uma certa Ilustrao
catlica recente.
Crise de civilizao, verdadeiramente, s se configura
como crise do Sagrado. E sob esses traos que se nos
apresenta o segundo aspecto da crise de cultura da nossa
civilizao. Com efeito, ela assinala talvez os atos extre-
mos do imenso processo crtico iniCiado nos albores da
Grcia clssica, e que se apresenta como a empresa inau-
dita de transcrever, por meio da Filosofia e da Cincia, a
simblica do Sagrado das civilizaes que se sucedem no
ciclo cultural do Ocidente, no espao da Razo demonstra-
tiva. A primeira forma dessa transcrio deu-nos a longa
sucesso das teologias, dos milesianos teologia crist. Mas
foram justamente a originalidade do Sagrado cristo e a
radical reestruturao do ato religioso da crena em ato de
f, como mostra Xavier Herrero, que conduziram a um
ponto extremo de tenso a resistncia do Sagrado sua
reinterpretao final no cdigo da Razo demonstrativa. Em
outras palavras, a racionalizao da religio paga com o
sacrifcio da sua essncia. Essa a dramtica experincia
cultural que marca inconfundivelmente o caminho civiliza-
trio do Ocidente e cujos ltimos passos - os nossos -
avanam sob o signo desse processo que se convencionou
denominar de "secularizao" e que, pela primeira vez na
Histria, nos mostra uma civilizao que perdeu suas re-
ferncias constitutivas ao Sagrado e que mergulha assim
na mais profunda crise do Sentido que a humanidade haja
experimentado. Algum penetrou as profundidades abissais
dessa crise e tentou um ltimo e titnico esforo de trans-
posio do Sagrado na Razo que instaurasse para o ho-
mem moderno, no plano mesmo do saber racional, a sub-
jetividade infinita do ato religioso e sua compreenso da
realidade como abertura ao absoluto de um Sentido pri-
meiro. Foi Hegel, cuja Filosofia da Religio passa a ser
assim uma espcie de Juzo final da civilizao racionalista
do Ocidente. Nenhum drama atinge sequer de longe a gran-
diosidade do drama especulativo da cristologia hegeliana,
tal como a reconstituiu recentemente Emilio Brito (ver
286
Sntese, 30, [1984]: 93-97). A desolao lancinante do seu
desfecho, na dilacerao da herana hegeliana pelo atesmo
de um Feuerbach, de um F. Strauss o de um Marx, ates-
ta-nos a impotncia final da Razo em capturar o Sagrado
na imanncia dos seus processos demonstrativos. Por ou-
tro lado, ao tentar operar a imanentizao racional do Sa-
grado sob essa forma original de um Sagrado constitu-
tivamente historicizante - instaurador do Sentido como
Sentido da histria absoluto e universal - e que ele mes-
mo denominou "religio absoluta", qual o Sagrado cristo
e seu acolhimento na f, e tendo trazido a prova ex con-
trario da impossibilidade de tal operao supremamente
ambiciosa da Razo, Hegel antecipou genialmente o destino
do mundo cristo "secularizado": o destino de uma hist-
ria condenada ao absurdo. O absurdo do atesmo, como
mostrou Henri de Lubac, a sentena condenatria que
conclui o Juzo final da Filosofia da Religio de Hegel.
A dialtica do Sagrado cristo, para citar ainda uma vez
Xavier Herrero, acaba por fazer convergir todas as linhas
da esfera do Sagrado para a subjetividade infinita do Deus
feito homem no mistrio tendrico, no qual se d a mais
radical suprassuno (para usar um termo hegeliano) da
Histria no Sagrado e em face do qual a Razo, por sua
vez, radicalmente suprassumida na F. O Sagrado se
despe de todo o revestimento simblico da mitologia cs-
mico-biolgica ou simplesmente antropomrfica e sujei-
to: homem histrico como ns. "O Sentido - o Logos -
proclama Joo, se fez carne e morou entre ns" (Jo 1,14).
Aqui emerge a lgica transracional desse Sagrado feito His-
tria e que se poderia denominar mistrica - lgica do
mistrio iluminante da F - que se apresenta necessaria-
mente como uma lgica da Ressurreio e da Vida, pois
s o Sentido absoluto pode igualmente suprassumir o no-
-ser da morte. justamente impelidos por esse aguilho
cravado no dorso da vida (lCor 15,55) que os indivduos
e as civilizaes lanam ao Sagrado as questes ltimas e
definitivas sobre as razes de viver. A reduo racionalista
do Sagrado tentou abraar a morte como "inefetividade"
absorvida pelo "poder prodigioso" do negativo conceptual
(Hegel) ou, em nvel mais rasteiramente materialista, como
"dura vitria da espcie sobre o indivduo" (Marx).
Porm, a "lgica da morte moderna" justamente a
exausto de todas as lgicas da Razo nas proximidades
287
da fronteira que separa a histria do seu absurdo final.
Desta sorte, nesse terreno-limite onde o discurso do Sa-
grado cristo celebra a epifania do Sentido absoluto da
histria como dialtica da Morte e da Ressurreio que
se desenrola o discurso mais secreto da modernidade se-
cularizada como lgica da identidade definitivamente sela-
da do mundo dos vivos com o mundo dos mortos (ver
Sntese, 34 [1985]: 117-122).
No momento em que as questes mais urgentes e em-
penhativas da sociedade contempornea passam a girar em
torno do conceito de cultura, e a necessidade da identida-
de cultural impe-se como a mais profunda das necessida-
des ao homem do nosso tempo, podemos estar certos de
que o problema da religio, como j diagnosticara L. Ko-
lakowski no incio da dcada de 70, retorna ao centro dos
nossos problemas maiores de civilizao. A organizao da
experincia de uma cultura sem religio - o que vem a
ser, em toda a terrvel e contraditria fora da expresso,
a cultura de uma religio do nada - est exigindo do ho-
mem desse fim do segundo milnio da era crist um preo
literalmente mortal. A recusa desse preo com a afirmao
da vida e das razes de viver a alternativa infinitamente
grave que se apresenta hoje ao homem da cultura contem-
pornea errante em meio multido prodigiosa de signifi-
cados que cruzam o seu mundo, e, mais uma vez, posto dian-
te da simplicidade essencial da busca do Sentido - da bus-
ca de Deus.
288
l
J
"i '
'
INDICE ONOMASTICO
ADORNO, T., 81
Agostinho (Sto.), 54, 58, 179, 242
Allan, D. J., 122, 123, 125
Alqui, F., 198
Anaxgoras, 60, 63, 126
Anaximandro, 44, 45, 150, 173
Antifonte, 47, 186
Apel, K.-0., 71, 72, 176, 221
Aranguren, J. L., 16
Arbousse-Bastide, P ., 214
Aron, R., 232
Arendt, H., 161, 162, 197, 198
Ario Ddimo, 129
Aristfanes, 47
Aristteles, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 36, 37, 39, 45, 46, 54, 58, 64,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76,
80, 81, 8 5 ~ 86, 92 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 136, 138, 141,
142, 143, 144, 147, 148, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 159, 160,
161, 163, 166, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 204, 216, 220, 232, 255,
258, 259, 265, 281
Amou, R., 67
Aubenque, P., 36, 101, 117, 127
Axelos, K., 112
BALTHASAR, H.-U. von, 178
Barnes, J., 45, 47
Barret-Kriegel, B., 270
Barthlmy-Madaule, M., 201, 220
Bastide, G., 187
Baudrillard, J ., 282
Baumann, P., 82
Bergson, H., 31, 32, 201
Berti, E., 100
Betbeder, P., 94
Bien, G., 86, 88, 96, 99, 128, 129, 132
Bignone, E., 102
Blondel, M., 31, 37
Bodes, R., 64, 99, 129
Bonitz, H., 12, 156
Bon, E., 206
Bourgeois, B., 173
Bourke, V. F., 133, 198, 200
Brague, R., 57, 90
Braudel, F., 21, 22, 24, 25
Brelich, A., 18
Breton, S., 81, 184
Brito, E., 286
Broglie, L. de, 275
Brown, P., 285
Bruaire, C., 69, 138
Bubner, R., 38, 71, 82, 125, 216, 217,
231
Buda, 31
Bunge, M., 207
Burnet, J ., 59
Butterfield, H., 195, 230
Bywater, I., 102
CALICLES, 33, 49, 186, 188
Cantore, E., 198, 203, 207, 212, 215,
220, 275, 278
Carroll, L., 234
Cassirer, E., 37
Castoriadis, C., 284
Certeau, M. de, 246
Chantraine, P., 12, 14, 16, 86
Chtelet, Marquesa de, 274
Cherniss, H., 93
Chiereghin, F., 169
Ccero, 5, 12, 28, 55, 58, 104, 137,
160, 189, 250, 258
Clavelin, M., 195, 196
Clistenes, 258
Cohen, R. S., 276, 277
Collingwood, R. G., 231
Comte, A., 214
Cornehl, P ., 166
Cortina, A., 176
Coulanges, F. de, 137
Cousineau, R. H., 48
Crisipo, 137
CUShman, R. C., 46, 272
DABEZIES, A., 212
Danto, A. C., 231, 236
Dardel, E., 234
Demcrito, 63
Descartes, R., 70, 197, 198
289
da fronteira que separa a histria do seu absurdo final.
Desta sorte, nesse terreno-limite onde o discurso do Sa-
grado cristo celebra a epifania do Sentido absoluto da
histria como dialtica da Morte e da Ressurreio que
se desenrola o discurso mais secreto da modernidade se-
cularizada como lgica da identidade definitivamente sela-
da do mundo dos vivos com o mundo dos mortos (ver
Sntese, 34 [1985]: 117-122).
No momento em que as questes mais urgentes e em-
penhativas da sociedade contempornea passam a girar em
torno do conceito de cultura, e a necessidade da identida-
de cultural impe-se como a mais profunda das necessida-
des ao homem do nosso tempo, podemos estar certos de
que o problema da religio, como j diagnosticara L. Ko-
lakowski no incio da dcada de 70, retorna ao centro dos
nossos problemas maiores de civilizao. A organizao da
experincia de uma cultura sem religio - o que vem a
ser, em toda a terrvel e contraditria fora da expresso,
a cultura de uma religio do nada - est exigindo do ho-
mem desse fim do segundo milnio da era crist um preo
literalmente mortal. A recusa desse preo com a afirmao
da vida e das razes de viver a alternativa infinitamente
grave que se apresenta hoje ao homem da cultura contem-
pornea errante em meio multido prodigiosa de signifi-
cados que cruzam o seu mundo, e, mais uma vez, posto dian-
te da simplicidade essencial da busca do Sentido - da bus-
ca de Deus.
288
l
J
"i '
'
INDICE ONOMASTICO
ADORNO, T., 81
Agostinho (Sto.), 54, 58, 179, 242
Allan, D. J., 122, 123, 125
Alqui, F., 198
Anaxgoras, 60, 63, 126
Anaximandro, 44, 45, 150, 173
Antifonte, 47, 186
Apel, K.-0., 71, 72, 176, 221
Aranguren, J. L., 16
Arbousse-Bastide, P ., 214
Aron, R., 232
Arendt, H., 161, 162, 197, 198
Ario Ddimo, 129
Aristfanes, 47
Aristteles, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 36, 37, 39, 45, 46, 54, 58, 64,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76,
80, 81, 8 5 ~ 86, 92 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 136, 138, 141,
142, 143, 144, 147, 148, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 159, 160,
161, 163, 166, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 204, 216, 220, 232, 255,
258, 259, 265, 281
Amou, R., 67
Aubenque, P., 36, 101, 117, 127
Axelos, K., 112
BALTHASAR, H.-U. von, 178
Barnes, J., 45, 47
Barret-Kriegel, B., 270
Barthlmy-Madaule, M., 201, 220
Bastide, G., 187
Baudrillard, J ., 282
Baumann, P., 82
Bergson, H., 31, 32, 201
Berti, E., 100
Betbeder, P., 94
Bien, G., 86, 88, 96, 99, 128, 129, 132
Bignone, E., 102
Blondel, M., 31, 37
Bodes, R., 64, 99, 129
Bonitz, H., 12, 156
Bon, E., 206
Bourgeois, B., 173
Bourke, V. F., 133, 198, 200
Brague, R., 57, 90
Braudel, F., 21, 22, 24, 25
Brelich, A., 18
Breton, S., 81, 184
Brito, E., 286
Broglie, L. de, 275
Brown, P., 285
Bruaire, C., 69, 138
Bubner, R., 38, 71, 82, 125, 216, 217,
231
Buda, 31
Bunge, M., 207
Burnet, J ., 59
Butterfield, H., 195, 230
Bywater, I., 102
CALICLES, 33, 49, 186, 188
Cantore, E., 198, 203, 207, 212, 215,
220, 275, 278
Carroll, L., 234
Cassirer, E., 37
Castoriadis, C., 284
Certeau, M. de, 246
Chantraine, P., 12, 14, 16, 86
Chtelet, Marquesa de, 274
Cherniss, H., 93
Chiereghin, F., 169
Ccero, 5, 12, 28, 55, 58, 104, 137,
160, 189, 250, 258
Clavelin, M., 195, 196
Clistenes, 258
Cohen, R. S., 276, 277
Collingwood, R. G., 231
Comte, A., 214
Cornehl, P ., 166
Cortina, A., 176
Coulanges, F. de, 137
Cousineau, R. H., 48
Crisipo, 137
CUShman, R. C., 46, 272
DABEZIES, A., 212
Danto, A. C., 231, 236
Dardel, E., 234
Demcrito, 63
Descartes, R., 70, 197, 198
289
Des Places E., 50, 59
Desmoulin, B., 102
Dtienne, M., 44
Dis, A., 87, 88
Dietrich, E. L., 41
Dijkterhuis, E. 195
Dilthey, W., 2io, 230, 231, 235
Digenes de Apolnia, 63
Digenes Larcio 50
Dion Crisstomo: 137
Dirlmeier, F., 122
Dittrich, 0., 133
Donini, P., 125
Dray, W. A., 231
Dubarle, D., 197, 200, 206, 212, 217
Dumont, L., 112, 162, 267
Dring, 1., 12, 81, 99, 102, 103, 108,
121
Durkheim, E., 73
EINSTEIN, A., 275
Ellul, J.
1
33, 34, 210, 277
Empdocles, 45
Engelhardt, P., 89, 94
Espinoza, B., 199
squilo, 50, 150, 258
Estobeu, 129
Eurpedes, 150
G ., 125
FESTUGI:ERE, A. J., 39, 46, 51, 56,
65, 67, 88, 90, 107, 126, 130
Fetscher, I., 32
Feuerbach, L., 247, 287
Fichte, J. G., 164
Finance, J. de, 81, 223
Fohrer, G., 41
Fourez, G., 27, 32
Frere, J., 46, 60, 123
Freud, S., 199
P., 154
FntzJ_ K. von, 74, 75, 185
Funke, G., 12
GADAMER, H.-G., 60 66 71, 112,
120, 252 ' '
Gaiser, K., 98, 108, 152 190 196
Galileu, 196 ' '
Ganter, M., 12, 108, 119, 122, 123
125, 127 '
Gauchet, M., 162
Gauthier, R. A. 55 59 67 95 97
98, 99, 101, 102, 13 i04 io5 '106'
107, 108, 109, 110
1
121 '122' 123'
' ' ' '
290
124, 127, 128, 129, 130, 157, 158,
190, 191
Geertz, C., 25
Gendron, L., 201
Genghini, N., 223
Georges, A., 214
Gide, A., 31
Gilson, E., 70, 179
Goethe, W., 257
Goldschmidt V. 52 164
Gooch, J. P.', 230 '
Gorbatchev, M., 247
Grgias, 186
Goult, J ., 86
Goyard Fabre, S., 167
G. G., 213, 233
Grasse, P. P., 206, 207
Greene, W. C., 47, 54, 63 93, 151,
256 '
Grenet, P ., 64, 190
.arotti, C., 215
Guilherme de Saint Thierry, 43
Guimares Ferreira, P. M., 278
Gusdorf, G., 162, 195
Guthrie, W. K. C., 13, 39, 50, 59, 63,
81, 94, 100, 104, 108, 125, 128, 129,
151, 187, 189
HABERMAS, J., 71, 72, 140, 161, 165,
176, 275
Hadot, P ., 36
Hring, B., 41
Harkness, G., 41
Hartmann, N., 31, 40, 192, 201
Hegel, G. W. F., 7, 8, 14, 15, 16, 24,
26, 34, 61, 72, 75, 77, 78, 82, 88,
113, 114, 115, 116, 117, 131, 136,
138, 139, 140, 143, 145, 146, 154,
158, 162, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 175, 178, 179,
180, 183, 184, 199, 239, 240, 241,
242, 244, 247, 248, 257, 270, 271,
283, 284, 286, 287
Heidegger, M., 7, 48, 61, 112, 201,
202
Heinimann, F., 186
Heisenberg, W., 275
Henning, L. von, 26
Hennis, W., 159
Henrich, D., 75
Henry, M., 172
Hentschke, A. B., 153, 157
Held, K., 224
l
Herclito, 13, 16, 45, 63, 93, 149,
150, 151, 224
Herdoto, 149, 186
Herrero, X., 71, 176 280 284 286,
287 ' ' '
Hesodo, 43, 150
Hobbes, T., 151, 164 166, 221
Hffe, 0., 20, 21, 84', 175
Holte, R., 179
Holton, G., 274, 275, 276, 277
Homero, 18, 43
Horstmann, R. P., 75, 169, 171
Hsle, V., 82, 88
Hudson, W. D., 84, 85, 203
Huizinga, J., 215, 230
Hume, D., 208
Hurley, N. P., 214
Husserl, E., 201
Huxley, J., 200, 201
ILTING, K.-H., 171
Inciarte, F., 94
Irineu de Lio, (Sto.) 251
Irwin, T., 46, 56, 58, 6S, 92
Isnardi Parente, M., 92, 100, 101,
102, 152
Iscrates, 100, 101
JAEGER, W., 27, 32, 43, 44, 46, 48,
49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 67, 94,
99, 101, 102, 106, 108, 128, 148 154
185, 190 ' '
Jagu, A., 92
Jaguaribe, H., 264, 266
Jmblico, 102
Janicaud, D., 117
Jedin, H., 254
Jolif, J. Y., 55, 59, 97, 98, 99, 101,
103, 105, 108, 121, 122, 123, 124,
125, 127, 128, 129, 130, 157, 158
Joly, H., 65, 153, 154
Jonas, H., 20, 25, 111, 149, 163, 201,
211, 222
KALINOWSKI, G., 216
Kant, 1., 41, 70, 71, 113, 167, 192,
199, 221, 234, 235, 242, 260
Kierkegaard S., 41, 241
Kluxen, W., 14, 218
Kolakowski, L., 288
Korner, S., 231 -
Koselleck, R., 250
Koyr, A., 195, 196
Krader, L., 167
Krmer, H. J., 57, 58, 98, 101, 108,
190
Kranz, W., 151
Kreibich, R., 210
Krger, G., 199
Kuhlmann, W., 70, 73
Kuhn, H., 89
Kuhn, T. S., 195, 196, 205
Kmmel, W. G., 41
LABARRI:ERE, P.-J., 114, 174
Lachance, L., 159
Lachieze-Rey, P., 65, 89, 92
Ladriere, J., 69, 77, 140, 141, 202,
204, 205, 206, 208, 210
Lagarde, G. de, 160, 161
Lakebrink, B., 75, 177
Lamprecht, K., 230
Landgrebe, L., 158
Landmann, M., 150, 186
Le Roy, E., 214
Le Senne, R., 32
Lefvre, C., 95, 105, 128, 131
Lenk, H., 84, 231
Lenoble, R., 162, 195
Lessa, P., 230
Lvy-Bruhl, L., 200
Lima Vaz, H. C., 36, 54, 137, 160,
171, 179, 181, 189, 190, 197, 19R
Lloyd, G. E. R., 95
Lorite Mena, J., 13, 16 43 44 185
Lottin, 0., 160 ' ' '
Lotz, J. B., 37
Lutero, M., 177
Lubac, H. de, 287
Luyten, N., 206, 216, 217
MAGRIS, A., 13, 55, 82, 93, 185 186
Maier, A., 194 '
Mainberger, G., 42
J.-F., 201, 202, 206, 209,
Mansi_on, M., 102, 190
Maqwavel, N., 259
Maravall, J. A., 230, 232
R., 138, 150, 158, 159
Manon, J. L., 78
Marrou, H. I., 56, 96, 100, 235, 254
Marx, K., 7, 23, 74, 84, 111, 115, 172,
176, 199, 200, 247, 252, 282, 287
Maurer, R., 52, 86, 87, 89, 92, 132,
140
Meinecke, F., 259
291
Des Places E., 50, 59
Desmoulin, B., 102
Dtienne, M., 44
Dis, A., 87, 88
Dietrich, E. L., 41
Dijkterhuis, E. 195
Dilthey, W., 2io, 230, 231, 235
Digenes de Apolnia, 63
Digenes Larcio 50
Dion Crisstomo: 137
Dirlmeier, F., 122
Dittrich, 0., 133
Donini, P., 125
Dray, W. A., 231
Dubarle, D., 197, 200, 206, 212, 217
Dumont, L., 112, 162, 267
Dring, 1., 12, 81, 99, 102, 103, 108,
121
Durkheim, E., 73
EINSTEIN, A., 275
Ellul, J.
1
33, 34, 210, 277
Empdocles, 45
Engelhardt, P., 89, 94
Espinoza, B., 199
squilo, 50, 150, 258
Estobeu, 129
Eurpedes, 150
G ., 125
FESTUGI:ERE, A. J., 39, 46, 51, 56,
65, 67, 88, 90, 107, 126, 130
Fetscher, I., 32
Feuerbach, L., 247, 287
Fichte, J. G., 164
Finance, J. de, 81, 223
Fohrer, G., 41
Fourez, G., 27, 32
Frere, J., 46, 60, 123
Freud, S., 199
P., 154
FntzJ_ K. von, 74, 75, 185
Funke, G., 12
GADAMER, H.-G., 60 66 71, 112,
120, 252 ' '
Gaiser, K., 98, 108, 152 190 196
Galileu, 196 ' '
Ganter, M., 12, 108, 119, 122, 123
125, 127 '
Gauchet, M., 162
Gauthier, R. A. 55 59 67 95 97
98, 99, 101, 102, 13 i04 io5 '106'
107, 108, 109, 110
1
121 '122' 123'
' ' ' '
290
124, 127, 128, 129, 130, 157, 158,
190, 191
Geertz, C., 25
Gendron, L., 201
Genghini, N., 223
Georges, A., 214
Gide, A., 31
Gilson, E., 70, 179
Goethe, W., 257
Goldschmidt V. 52 164
Gooch, J. P.', 230 '
Gorbatchev, M., 247
Grgias, 186
Goult, J ., 86
Goyard Fabre, S., 167
G. G., 213, 233
Grasse, P. P., 206, 207
Greene, W. C., 47, 54, 63 93, 151,
256 '
Grenet, P ., 64, 190
.arotti, C., 215
Guilherme de Saint Thierry, 43
Guimares Ferreira, P. M., 278
Gusdorf, G., 162, 195
Guthrie, W. K. C., 13, 39, 50, 59, 63,
81, 94, 100, 104, 108, 125, 128, 129,
151, 187, 189
HABERMAS, J., 71, 72, 140, 161, 165,
176, 275
Hadot, P ., 36
Hring, B., 41
Harkness, G., 41
Hartmann, N., 31, 40, 192, 201
Hegel, G. W. F., 7, 8, 14, 15, 16, 24,
26, 34, 61, 72, 75, 77, 78, 82, 88,
113, 114, 115, 116, 117, 131, 136,
138, 139, 140, 143, 145, 146, 154,
158, 162, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 175, 178, 179,
180, 183, 184, 199, 239, 240, 241,
242, 244, 247, 248, 257, 270, 271,
283, 284, 286, 287
Heidegger, M., 7, 48, 61, 112, 201,
202
Heinimann, F., 186
Heisenberg, W., 275
Henning, L. von, 26
Hennis, W., 159
Henrich, D., 75
Henry, M., 172
Hentschke, A. B., 153, 157
Held, K., 224
l
Herclito, 13, 16, 45, 63, 93, 149,
150, 151, 224
Herdoto, 149, 186
Herrero, X., 71, 176 280 284 286,
287 ' ' '
Hesodo, 43, 150
Hobbes, T., 151, 164 166, 221
Hffe, 0., 20, 21, 84', 175
Holte, R., 179
Holton, G., 274, 275, 276, 277
Homero, 18, 43
Horstmann, R. P., 75, 169, 171
Hsle, V., 82, 88
Hudson, W. D., 84, 85, 203
Huizinga, J., 215, 230
Hume, D., 208
Hurley, N. P., 214
Husserl, E., 201
Huxley, J., 200, 201
ILTING, K.-H., 171
Inciarte, F., 94
Irineu de Lio, (Sto.) 251
Irwin, T., 46, 56, 58, 6S, 92
Isnardi Parente, M., 92, 100, 101,
102, 152
Iscrates, 100, 101
JAEGER, W., 27, 32, 43, 44, 46, 48,
49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 67, 94,
99, 101, 102, 106, 108, 128, 148 154
185, 190 ' '
Jagu, A., 92
Jaguaribe, H., 264, 266
Jmblico, 102
Janicaud, D., 117
Jedin, H., 254
Jolif, J. Y., 55, 59, 97, 98, 99, 101,
103, 105, 108, 121, 122, 123, 124,
125, 127, 128, 129, 130, 157, 158
Joly, H., 65, 153, 154
Jonas, H., 20, 25, 111, 149, 163, 201,
211, 222
KALINOWSKI, G., 216
Kant, 1., 41, 70, 71, 113, 167, 192,
199, 221, 234, 235, 242, 260
Kierkegaard S., 41, 241
Kluxen, W., 14, 218
Kolakowski, L., 288
Korner, S., 231 -
Koselleck, R., 250
Koyr, A., 195, 196
Krader, L., 167
Krmer, H. J., 57, 58, 98, 101, 108,
190
Kranz, W., 151
Kreibich, R., 210
Krger, G., 199
Kuhlmann, W., 70, 73
Kuhn, H., 89
Kuhn, T. S., 195, 196, 205
Kmmel, W. G., 41
LABARRI:ERE, P.-J., 114, 174
Lachance, L., 159
Lachieze-Rey, P., 65, 89, 92
Ladriere, J., 69, 77, 140, 141, 202,
204, 205, 206, 208, 210
Lagarde, G. de, 160, 161
Lakebrink, B., 75, 177
Lamprecht, K., 230
Landgrebe, L., 158
Landmann, M., 150, 186
Le Roy, E., 214
Le Senne, R., 32
Lefvre, C., 95, 105, 128, 131
Lenk, H., 84, 231
Lenoble, R., 162, 195
Lessa, P., 230
Lvy-Bruhl, L., 200
Lima Vaz, H. C., 36, 54, 137, 160,
171, 179, 181, 189, 190, 197, 19R
Lloyd, G. E. R., 95
Lorite Mena, J., 13, 16 43 44 185
Lottin, 0., 160 ' ' '
Lotz, J. B., 37
Lutero, M., 177
Lubac, H. de, 287
Luyten, N., 206, 216, 217
MAGRIS, A., 13, 55, 82, 93, 185 186
Maier, A., 194 '
Mainberger, G., 42
J.-F., 201, 202, 206, 209,
Mansi_on, M., 102, 190
Maqwavel, N., 259
Maravall, J. A., 230, 232
R., 138, 150, 158, 159
Manon, J. L., 78
Marrou, H. I., 56, 96, 100, 235, 254
Marx, K., 7, 23, 74, 84, 111, 115, 172,
176, 199, 200, 247, 252, 282, 287
Maurer, R., 52, 86, 87, 89, 92, 132,
140
Meinecke, F., 259
291
Mensching, G., 18
Merki, H., 68
Mron, E., 57
Messner, J., 17, 19, 40
Moles, A., 215
Molinaro, A., 21
Mller, J., 12, 188
Momigliano, A., 186
Mondolfo, R., 59, 92, 100, 152, 157
Monod, J., 205, 207, 219, 220
Montesquieu, 16
Moraux, P., 94
Moreau, J., 65, 87, 89, 96, 109, 120,
125
Morin, E., 221, 282
Mucchielli, R., 212
Mller, M., 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245,_ 246, 248,
249
Mumford, L., 277
Muray, P., 111
NAPOLEAO, I, 257, 258
Nestle, W., 148, 185
Newton, I., 274
Nielsen, K., 73, 84
'Uetzsche, F., 20, 21, 27, 61, 84, 182,
188, 189, 250, 251
Nuyens, F., 95
OLIVEIRA, M. A. de, 211
Olivetti, M., 18,19
Oll-Laprune, L., 107, 109, 119, 133,
192
Oppermann, H., 155
Ortega y Gasset, J., 42
Ottmann, H., 171
Otto, R., 41
Ozouf, M., 267
PANCIO DE RODES, 137
Pascal, B., 242
Passet, R., 25
Pastor, L. von, 254
Patocka, J ., 60
Peperzak, A., 75, 114, 115, 116, 117
Prez de Laborda, A., 20
Pricles, 50, 90, 126
Perine, M., 9, 118
Petry, M. J., 152, 199
Pndaro, 43, 50, 149, 249
Plato, 9, 12, 13, 16, 33, 38, 39, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59,
61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 85, 86,
292
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107,
108, 124, 127, 129, 130, 144, 151,
152, 153, 154, 155, 157, 159, 161,
164, 182, 189, 190, 193, 194, 200,
212. 216, 220, 241, 242, 249, 258,
259, 272
Plebe, A., 157
Plotino, 54, 111
Pggeler, O., 116
Pohlenz, M., 18, 43, 44, 52, 90, 91,
92
Polanyi, K., 168
Poli, E" 207
Polbio, 250, 254
Pomian, K., 20, 253, 255
Popper, K., 200, 236, 247
Poser, H., 84
Protgoras, 38, 39, 50, 53
Puech, H. C., 54
QUELQUEJEU, B., 114, 115
RAHNER, K., 206
Rameil, U., 114
Rawls, J., 175, 261
Reale, G., 15, 29, 33, 59, 69, 184
Reiner, H., 14
Rescher, N., 216
Rey, A., 187
Rickert, H., 220
Riedel, M., 14, 84, 115, 157, 160,
166, 167, 217
Riondato, E., 12, 14, 15, 27, 40, 159
Ritter, J., 14, 96, 130, 149, 157, 158,
159, 192, 231
Robin, L., 46, 47, 52, 53, 58, 91, 92,
188, 194
Rocha Pereira, M. H., 55
Rd, W., 164
Rodis-Lewis, G., 70, 197
Romeyer Dherbey, G., 36, 90, 109
Romilly, J. de, 16, 17, 50, 51, 144,
149, 258
Rosenfield, D., 170, 264, 265, 266
Ross, W. D., 11, 100
Roszak, T., 211
Rothacker, E., 40
Rousseau, J.-J., 138, 147, 164, 167,
260
Rcken, F., 84
Russo, F., 218
SAINT-SIMON, 112
Saisset, E., 9
Salman, D., 196
Snchez Vsquez, A., 32
Santos Camacho, M., 84
Sartre, J. P., 61
Sauter, J., 164
Scannone, J. C., 18
Scarpelli, U ., 84
Schii.fer, P. W., 150
Scheier, c. A., 114
Scheler, M., 28, 29, 33, 66, 111, 179,
201
Schleiermacher, F., 41
Schnii.delbach, H., 70 _
Schrey, H. H., 30, 41, 42, 43
Schuhl, P. M., 185
Schulz, W., 37, 223
Schwann, A., 158
Schwartz, E., 14, 43, 52, 54, 55, 59,
129
Schweizer, H., 70, 97, 104, 112, 121
Sebba, G., 150
Seeley, J. R., 256
Selvaggi, F., 203
Sesto Emprico, 38, 47
Siep, L., 113
Scrates, 17, 29, 31, 33, 38, 45, 48,
56, 59, 60, 61, 64, 66, 81, 92, 126,
131, 152, 153, 155, 185, 187, 188,
189, 191, 193, 196, 198, 202, 204,
205, 265, 272
Soder, J., 173
Sfocles, 17, 50, 150, 186
Solon, 49
Stark, R., 18
Staudinger, H., 216
Stegmller, W., 230
Steinbchel, T., 41
Stenzel, J., 87, 88, 90, 93
Strauss, F., 287
Strycker, E. de, 93
TAINE, H., 230
Tales, 126
Teichmller, G., 99
Teilhard de Chardin, P., 200, 201,
207, 214, 227
Temsio, 101
Teognis de Megara, 43
Theiler, W., 63
Thill, G., 206
Thrillhaas, W., 38
Tillich, P ., 34
Tirteu, 55
Toms de Aquino (Sto.J, 14, 25, 39
54, 70, 75, 76, 85, 88, 104, 137, 149,
160, 161, 202
Tnnies, F., 43
Tovar, A., 187, 188
Trasimaco, 89, 186, 188, 259
Trogo, S., 61
Trotignon, P., 201
Tucdides, 50, 52, 56, 90
Tugendhat, E., 116, 223, 229
ULMER, K., 12, 188, 190
Untersteiner, M., 12, 39
V ALADIER, P ., 41
Van der Meulen, J., 108
Vanier, J., 119
Vernant, J.-P., 148, 151, 185
Veyne, P ., 221, 232, 233, 234, 236,
237, 240, 246, 285
Viegas Andrade, S. M., 70, 198
Viller, M., 67
Villey, M., 175
Vives, J., 45, 46, 50, 51, 56, 63, 64,
66
voegelin, E., 49, 51, 52, 55, 56, 65,
92, 106, 138, 148, 149, 151, 154, 158,
161, 179
XENCRATES, 12, 100, 105
Xenfanes, 55, 185
Xenofonte, 33, 63
WALLERSTEIN, 1., 24
Walter, J., 98, 126, 127
Wandschneider, D., 199
Warnach, V., 90, 92
Weber, M., 220
Weil, E., 30, 62, 66, 73, 78, 95, 118,
139, 144, 156, 166, 200
Weizscker C. F. von, 224
Wimmer, R., 176
Winter, C., 12
Wittgenstein, L., 84, 201, 203
Wolf, c., 115
Wolf, E., 44, 48, 49, 93, 149, 150,
185
ZELLER, E., 92, 100, 152, 157
293
Mensching, G., 18
Merki, H., 68
Mron, E., 57
Messner, J., 17, 19, 40
Moles, A., 215
Molinaro, A., 21
Mller, J., 12, 188
Momigliano, A., 186
Mondolfo, R., 59, 92, 100, 152, 157
Monod, J., 205, 207, 219, 220
Montesquieu, 16
Moraux, P., 94
Moreau, J., 65, 87, 89, 96, 109, 120,
125
Morin, E., 221, 282
Mucchielli, R., 212
Mller, M., 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245,_ 246, 248,
249
Mumford, L., 277
Muray, P., 111
NAPOLEAO, I, 257, 258
Nestle, W., 148, 185
Newton, I., 274
Nielsen, K., 73, 84
'Uetzsche, F., 20, 21, 27, 61, 84, 182,
188, 189, 250, 251
Nuyens, F., 95
OLIVEIRA, M. A. de, 211
Olivetti, M., 18,19
Oll-Laprune, L., 107, 109, 119, 133,
192
Oppermann, H., 155
Ortega y Gasset, J., 42
Ottmann, H., 171
Otto, R., 41
Ozouf, M., 267
PANCIO DE RODES, 137
Pascal, B., 242
Passet, R., 25
Pastor, L. von, 254
Patocka, J ., 60
Peperzak, A., 75, 114, 115, 116, 117
Prez de Laborda, A., 20
Pricles, 50, 90, 126
Perine, M., 9, 118
Petry, M. J., 152, 199
Pndaro, 43, 50, 149, 249
Plato, 9, 12, 13, 16, 33, 38, 39, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59,
61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 85, 86,
292
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107,
108, 124, 127, 129, 130, 144, 151,
152, 153, 154, 155, 157, 159, 161,
164, 182, 189, 190, 193, 194, 200,
212. 216, 220, 241, 242, 249, 258,
259, 272
Plebe, A., 157
Plotino, 54, 111
Pggeler, O., 116
Pohlenz, M., 18, 43, 44, 52, 90, 91,
92
Polanyi, K., 168
Poli, E" 207
Polbio, 250, 254
Pomian, K., 20, 253, 255
Popper, K., 200, 236, 247
Poser, H., 84
Protgoras, 38, 39, 50, 53
Puech, H. C., 54
QUELQUEJEU, B., 114, 115
RAHNER, K., 206
Rameil, U., 114
Rawls, J., 175, 261
Reale, G., 15, 29, 33, 59, 69, 184
Reiner, H., 14
Rescher, N., 216
Rey, A., 187
Rickert, H., 220
Riedel, M., 14, 84, 115, 157, 160,
166, 167, 217
Riondato, E., 12, 14, 15, 27, 40, 159
Ritter, J., 14, 96, 130, 149, 157, 158,
159, 192, 231
Robin, L., 46, 47, 52, 53, 58, 91, 92,
188, 194
Rocha Pereira, M. H., 55
Rd, W., 164
Rodis-Lewis, G., 70, 197
Romeyer Dherbey, G., 36, 90, 109
Romilly, J. de, 16, 17, 50, 51, 144,
149, 258
Rosenfield, D., 170, 264, 265, 266
Ross, W. D., 11, 100
Roszak, T., 211
Rothacker, E., 40
Rousseau, J.-J., 138, 147, 164, 167,
260
Rcken, F., 84
Russo, F., 218
SAINT-SIMON, 112
Saisset, E., 9
Salman, D., 196
Snchez Vsquez, A., 32
Santos Camacho, M., 84
Sartre, J. P., 61
Sauter, J., 164
Scannone, J. C., 18
Scarpelli, U ., 84
Schii.fer, P. W., 150
Scheier, c. A., 114
Scheler, M., 28, 29, 33, 66, 111, 179,
201
Schleiermacher, F., 41
Schnii.delbach, H., 70 _
Schrey, H. H., 30, 41, 42, 43
Schuhl, P. M., 185
Schulz, W., 37, 223
Schwann, A., 158
Schwartz, E., 14, 43, 52, 54, 55, 59,
129
Schweizer, H., 70, 97, 104, 112, 121
Sebba, G., 150
Seeley, J. R., 256
Selvaggi, F., 203
Sesto Emprico, 38, 47
Siep, L., 113
Scrates, 17, 29, 31, 33, 38, 45, 48,
56, 59, 60, 61, 64, 66, 81, 92, 126,
131, 152, 153, 155, 185, 187, 188,
189, 191, 193, 196, 198, 202, 204,
205, 265, 272
Soder, J., 173
Sfocles, 17, 50, 150, 186
Solon, 49
Stark, R., 18
Staudinger, H., 216
Stegmller, W., 230
Steinbchel, T., 41
Stenzel, J., 87, 88, 90, 93
Strauss, F., 287
Strycker, E. de, 93
TAINE, H., 230
Tales, 126
Teichmller, G., 99
Teilhard de Chardin, P., 200, 201,
207, 214, 227
Temsio, 101
Teognis de Megara, 43
Theiler, W., 63
Thill, G., 206
Thrillhaas, W., 38
Tillich, P ., 34
Tirteu, 55
Toms de Aquino (Sto.J, 14, 25, 39
54, 70, 75, 76, 85, 88, 104, 137, 149,
160, 161, 202
Tnnies, F., 43
Tovar, A., 187, 188
Trasimaco, 89, 186, 188, 259
Trogo, S., 61
Trotignon, P., 201
Tucdides, 50, 52, 56, 90
Tugendhat, E., 116, 223, 229
ULMER, K., 12, 188, 190
Untersteiner, M., 12, 39
V ALADIER, P ., 41
Van der Meulen, J., 108
Vanier, J., 119
Vernant, J.-P., 148, 151, 185
Veyne, P ., 221, 232, 233, 234, 236,
237, 240, 246, 285
Viegas Andrade, S. M., 70, 198
Viller, M., 67
Villey, M., 175
Vives, J., 45, 46, 50, 51, 56, 63, 64,
66
voegelin, E., 49, 51, 52, 55, 56, 65,
92, 106, 138, 148, 149, 151, 154, 158,
161, 179
XENCRATES, 12, 100, 105
Xenfanes, 55, 185
Xenofonte, 33, 63
WALLERSTEIN, 1., 24
Walter, J., 98, 126, 127
Wandschneider, D., 199
Warnach, V., 90, 92
Weber, M., 220
Weil, E., 30, 62, 66, 73, 78, 95, 118,
139, 144, 156, 166, 200
Weizscker C. F. von, 224
Wimmer, R., 176
Winter, C., 12
Wittgenstein, L., 84, 201, 203
Wolf, c., 115
Wolf, E., 44, 48, 49, 93, 149, 150,
185
ZELLER, E., 92, 100, 152, 157
293
Escritos de Filosofia 11: tica e Cultura comparvel a uma
composio polifnica em contraponto, na qual um nico tema e
suas imitaes sucessivas formam um conjunto cujas partes parecem
fugir e se perseguir. Como numa fuga, todos os captulos e anexos
do livro giram em torno do eixo tica e cultura. O conjunto se
apresenta como uma harmoniosa pea filosfica, traduzindo uma
meditao rememorativa e compreensiva do nosso tempo, captada
nas linhas de um discurso coerente. O destino da civilizao est ligado
tica, e o ni il ismo tico da modernidade s compreensvel luz
da tradio na qual surgiu.
O livro compe-se de trs captulos inspirados na introduo
de um curso de tica Geral, de outros dois que retomam, refundem e
ampliam artigos publicados na REB em 1974 e 1977 e de seis anexos
que reproduzem textos publicados de 1974 a 1987 na revista Sntese.
Os textos esto ordenados em torno de um mesmo tema central:
o problema das relaes entre tica e Cultura, ou da origem e
do destino da tica na Cultura ocidental.
Descrito o labor filosfico de transpor os costumes e as crenas
nos cdigos discursivos do Jogos epistmico e detectado o af de
demolio dos alicerces do edifcio ontoteolgico erigido pela
civilizao do Ocidente, o autor se pergunta: "Uma civilizao que
celebra a Razo, mas abandona a Metafsica e a tica semelhante,
para lembrar uma comparao de Hegel, a um templo sem altar. Que
outro destino lhe resta seno o de tornar-se uma spelunca latronum
(Mt 21,13)?"
ISBN: 85-15-00794-0
11 11 1111111 111111 1111111 ~
9 78 8515 007943 u
Вам также может понравиться
- As Virtudes Cardeais em Tomás de Aquino - ProntoДокумент37 страницAs Virtudes Cardeais em Tomás de Aquino - Prontowilliam99ooo100% (1)
- O Homem Quem É Ele - Batista MondinДокумент329 страницO Homem Quem É Ele - Batista MondinEliasBarbosa100% (3)
- GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaДокумент484 страницыGILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaProfFaria1100% (10)
- Sócrates - O Nascimento Da Razão Dialética PDFДокумент146 страницSócrates - O Nascimento Da Razão Dialética PDFRodrigo Truyllio100% (4)
- PORFÍRIO. Isagoge. Introdução Às Categorias de Aristóteles.Документ53 страницыPORFÍRIO. Isagoge. Introdução Às Categorias de Aristóteles.Michael Floro100% (12)
- BORNHEIM, Gerd A. Os Filósofos Pré-SocráticosДокумент64 страницыBORNHEIM, Gerd A. Os Filósofos Pré-Socráticosleoluizp88% (8)
- LIMA VAZ, Henrique Claudio Raizes-Da-Modernidade PDFДокумент292 страницыLIMA VAZ, Henrique Claudio Raizes-Da-Modernidade PDFTúlio Henrique93% (15)
- E. Gilson, DEUS E A FILOSOFIA PDFДокумент108 страницE. Gilson, DEUS E A FILOSOFIA PDFJuaciОценок пока нет
- DUHOT, Jean-Joël Duhot - Sócrates Ou o Despertar Da Consciência-Loyola (2004)Документ199 страницDUHOT, Jean-Joël Duhot - Sócrates Ou o Despertar Da Consciência-Loyola (2004)Ingrid SouzaОценок пока нет
- Thoma Nagel - Uma Breve Introdução A Filosofia PDFДокумент106 страницThoma Nagel - Uma Breve Introdução A Filosofia PDFVandson PaivaОценок пока нет
- S - João Duns Escoto (C. 1265-1308) Subsídios Bibl PDFДокумент88 страницS - João Duns Escoto (C. 1265-1308) Subsídios Bibl PDFJosé Aldenor Pereira Júnior100% (3)
- VAZ, Henrique. Introdução À Ética Filosófica II PDFДокумент248 страницVAZ, Henrique. Introdução À Ética Filosófica II PDFDaniel Borges50% (2)
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaОт EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Gilson, Etienne - A Existencia Na Filosofia de S. Tomás PDFДокумент129 страницGilson, Etienne - A Existencia Na Filosofia de S. Tomás PDFblavskaОценок пока нет
- Escritos de Filosofia VII - Raízes Da Modernidade - Lima VazДокумент292 страницыEscritos de Filosofia VII - Raízes Da Modernidade - Lima VazClaudioSehnemОценок пока нет
- Script de VendasДокумент8 страницScript de VendascrepaldiiОценок пока нет
- A Tragédia Dos Romanov - Marcia SarcinelliДокумент328 страницA Tragédia Dos Romanov - Marcia SarcinelliSonia Junqueira100% (1)
- Escritos de Filosofia - Vol. 2 - Ética e Cultura - Henrique C. de Lima VazДокумент294 страницыEscritos de Filosofia - Vol. 2 - Ética e Cultura - Henrique C. de Lima VazHugcosОценок пока нет
- Como ler a filosofia clínica, ou melhor, a orientação filosófica: Prática da autonomia do pensamentoОт EverandComo ler a filosofia clínica, ou melhor, a orientação filosófica: Prática da autonomia do pensamentoОценок пока нет
- Trabattoni, F. Platão PDFДокумент347 страницTrabattoni, F. Platão PDFOttavio RodriguesОценок пока нет
- Elementos de Antropologia Filosófica-O Homem, Quem É Ele-Battista Mondin PDFДокумент72 страницыElementos de Antropologia Filosófica-O Homem, Quem É Ele-Battista Mondin PDFCarlos Portugal87% (15)
- Vidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)От EverandVidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)Оценок пока нет
- Tugendhat - Lições Introdutórias À Filosofia Analítica Da LinguagemДокумент341 страницаTugendhat - Lições Introdutórias À Filosofia Analítica Da LinguagemThiago Etc100% (2)
- As Razoes de Aristoteles - Enrico Berti EditДокумент208 страницAs Razoes de Aristoteles - Enrico Berti EditMoisés MotaОценок пока нет
- Aristóteles e o Método Científico - ApostilaДокумент10 страницAristóteles e o Método Científico - ApostilaAlexandre Nardelli100% (1)
- O Problema Da Indução em David Hume PDFДокумент84 страницыO Problema Da Indução em David Hume PDFTiago LouroОценок пока нет
- Edoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFДокумент183 страницыEdoc - Pub - Regis Jolivet As Doutrinas Existencialistas PDFRenato DeákОценок пока нет
- Da Psicose Paranóica em Suas Relações Com A PersonalidadeДокумент2 страницыDa Psicose Paranóica em Suas Relações Com A PersonalidadeFelipe PaivaОценок пока нет
- Estudos de epistemologia aristotélica I: phantasia e aisthêsis no De Anima de AristótelesОт EverandEstudos de epistemologia aristotélica I: phantasia e aisthêsis no De Anima de AristótelesОценок пока нет
- BERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFДокумент203 страницыBERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFMárcio RubenОценок пока нет
- Ensino de filosofia: experiências, problematizações e perspectivasОт EverandEnsino de filosofia: experiências, problematizações e perspectivasОценок пока нет
- MARX Democrito e EpicuroДокумент51 страницаMARX Democrito e Epicuroarturscavone100% (1)
- Escola Da Cidade PDFДокумент69 страницEscola Da Cidade PDFPedroRetzOliveiraОценок пока нет
- Apostila Comercio ExteriorДокумент150 страницApostila Comercio Exteriorrafaeldesconsi100% (2)
- SOKOLOWSKI, Robert. Introducao À FenomenologiaДокумент126 страницSOKOLOWSKI, Robert. Introducao À FenomenologiaErcilia SobralОценок пока нет
- Mendo Henriques Lonergan Filosofo para o Seculo Xxi PDFДокумент15 страницMendo Henriques Lonergan Filosofo para o Seculo Xxi PDFmaiaramonОценок пока нет
- Renaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq DigДокумент321 страницаRenaut (Ed) His - Filos.politica 1 2 Pesq Digamartins124Оценок пока нет
- Carta A Marcus HerzДокумент11 страницCarta A Marcus HerzantoniocarlosprОценок пока нет
- Descartes - Meditações Sobre Filosofia PrimeiraДокумент117 страницDescartes - Meditações Sobre Filosofia PrimeiraGabizinha_tap33% (3)
- Goldschimidt, Victor - A Religião de Platão PDFДокумент79 страницGoldschimidt, Victor - A Religião de Platão PDFWilliam Chinaski83% (6)
- O Sentido Da Vida - Desidério MurchoДокумент24 страницыO Sentido Da Vida - Desidério MurchoYuri Romanelli Santos100% (1)
- Filosofia Na Escola - Diferentes AbordagensДокумент119 страницFilosofia Na Escola - Diferentes AbordagensMichelle Cabral100% (1)
- KANT - Kant e o A PrioriДокумент350 страницKANT - Kant e o A Priorijacqueline t100% (1)
- Uma Breve Introdução À Filosofia - Nagel - Parte 1Документ20 страницUma Breve Introdução À Filosofia - Nagel - Parte 1feppoutlook100% (4)
- MacIntyre - Depois Da VirtudeДокумент63 страницыMacIntyre - Depois Da VirtudeAndré MagnelliОценок пока нет
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyОт EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyОценок пока нет
- Ética e Direitos Humanos DESIDERIO MURCHOДокумент21 страницаÉtica e Direitos Humanos DESIDERIO MURCHOisabelle bertacoОценок пока нет
- Filosofia e realidade em Eric WeilОт EverandFilosofia e realidade em Eric WeilMarcelo PerineОценок пока нет
- Descartes - Meditações Sobre Filosofia PrimeiraДокумент117 страницDescartes - Meditações Sobre Filosofia PrimeiraCecilia100% (1)
- SCHELER M Da Reviravolta Dos ValoresДокумент95 страницSCHELER M Da Reviravolta Dos ValoresMarcelo Lopes67% (3)
- MONDOLFO, Rodolfo. História Do Pensamento Antigo (Aristóteles)Документ33 страницыMONDOLFO, Rodolfo. História Do Pensamento Antigo (Aristóteles)Rodrigo AlvesОценок пока нет
- Classificação Definitiva - Ampla ConcorrênciaДокумент29 страницClassificação Definitiva - Ampla ConcorrênciaYuri Carvalho100% (1)
- Teoria Do Conhecimento - Johannes HessenДокумент133 страницыTeoria Do Conhecimento - Johannes HessenGabriel Garcia100% (2)
- AD2 Gestão Financeira 2013 1 GABARITOДокумент4 страницыAD2 Gestão Financeira 2013 1 GABARITOPedro Braga0% (2)
- James Rachels - Elementos de Filosofia MoralДокумент192 страницыJames Rachels - Elementos de Filosofia MoralandresousaramosОценок пока нет
- A Tradição Cética - Danilo MarcondesДокумент14 страницA Tradição Cética - Danilo MarcondesLeandro FernandesОценок пока нет
- Energisa 2viaДокумент2 страницыEnergisa 2viaFelipe PaivaОценок пока нет
- Irpf D 2023 0211 31 08 2023 08 04Документ1 страницаIrpf D 2023 0211 31 08 2023 08 04Felipe Paiva0% (1)
- Diario Oficial 09 03 2023Документ60 страницDiario Oficial 09 03 2023Felipe PaivaОценок пока нет
- OFÍCIO N. 00273/2023/NGA/PFUFCG/PGF/AGUДокумент1 страницаOFÍCIO N. 00273/2023/NGA/PFUFCG/PGF/AGUFelipe PaivaОценок пока нет
- Gmail XIV Congresso Da SBPH Trabalho Aprovado Como PosterДокумент2 страницыGmail XIV Congresso Da SBPH Trabalho Aprovado Como PosterFelipe PaivaОценок пока нет
- Diario Oficial 11 03 2023Документ52 страницыDiario Oficial 11 03 2023Felipe PaivaОценок пока нет
- Diário Oficial 03-03-2023Документ44 страницыDiário Oficial 03-03-2023Felipe PaivaОценок пока нет
- Enviando Por Email AtestadoConclusaoDisciplinasДокумент2 страницыEnviando Por Email AtestadoConclusaoDisciplinasFelipe PaivaОценок пока нет
- Enviando Por Email Certificado - Publicado - Submissão - 211104989-1Документ1 страницаEnviando Por Email Certificado - Publicado - Submissão - 211104989-1Felipe PaivaОценок пока нет
- Enviando Por Email FichaDoAlunoДокумент3 страницыEnviando Por Email FichaDoAlunoFelipe PaivaОценок пока нет
- Lima DoДокумент666 страницLima DoFelipe PaivaОценок пока нет
- Diario Oficial 08 03 2023Документ76 страницDiario Oficial 08 03 2023Felipe PaivaОценок пока нет
- Arco 2 3 RДокумент29 страницArco 2 3 RFelipe PaivaОценок пока нет
- Avaliação JoyceДокумент1 страницаAvaliação JoyceFelipe PaivaОценок пока нет
- Enviando Por Email DeclaraçãodematrículaДокумент1 страницаEnviando Por Email DeclaraçãodematrículaFelipe PaivaОценок пока нет
- Artigo 14Документ4 страницыArtigo 14Felipe PaivaОценок пока нет
- RFC4 Artigo9Документ5 страницRFC4 Artigo9Felipe PaivaОценок пока нет
- Introducao e Cap IДокумент86 страницIntroducao e Cap IFelipe PaivaОценок пока нет
- ARTIGOДокумент22 страницыARTIGOFelipe PaivaОценок пока нет
- Diário Oficial 08-11-2022Документ80 страницDiário Oficial 08-11-2022Felipe PaivaОценок пока нет
- Processo Seletivo 2021 2022 Edital Retificado1Документ15 страницProcesso Seletivo 2021 2022 Edital Retificado1Felipe PaivaОценок пока нет
- Pixaeminario 22Документ1 страницаPixaeminario 22Felipe PaivaОценок пока нет
- 40662-Texto Do Artigo-187879-3-10-20220204Документ10 страниц40662-Texto Do Artigo-187879-3-10-20220204Felipe PaivaОценок пока нет
- Comunicado Férias 2023Документ2 страницыComunicado Férias 2023Felipe PaivaОценок пока нет
- Portaria 2915130 Portaria 9.763 2022Документ1 страницаPortaria 2915130 Portaria 9.763 2022Felipe PaivaОценок пока нет
- Psicanálise Menor 1Документ155 страницPsicanálise Menor 1Felipe PaivaОценок пока нет
- Paep Neonatos 2022Документ4 страницыPaep Neonatos 2022Felipe PaivaОценок пока нет
- Diário Oficial 07-05-2022Документ52 страницыDiário Oficial 07-05-2022Felipe PaivaОценок пока нет
- Inveja e GratidãoДокумент3 страницыInveja e GratidãoFelipe PaivaОценок пока нет
- Área Do Conhecimento No Ensino FundamentalДокумент22 страницыÁrea Do Conhecimento No Ensino FundamentalMaria Lourdes Dos santosОценок пока нет
- Currículo Laís Freitas BritoДокумент2 страницыCurrículo Laís Freitas Britolais freitasОценок пока нет
- Prova Dissertativa Do Concurso de PedagogiaДокумент5 страницProva Dissertativa Do Concurso de PedagogiaFranciane Oliveira PinhoОценок пока нет
- Ésquilo, Oresteia (Ed. Bilingue) - Estudo e Tradução de Jaa Torrano PDFДокумент4 страницыÉsquilo, Oresteia (Ed. Bilingue) - Estudo e Tradução de Jaa Torrano PDFwiliamiaОценок пока нет
- Lamina Norte ConectadoДокумент3 страницыLamina Norte ConectadoFilipe AlvesОценок пока нет
- Prova - Caprinos e OvinosДокумент2 страницыProva - Caprinos e OvinosMarconi Bomfim SantanaОценок пока нет
- BG Revista Matemática PDFДокумент48 страницBG Revista Matemática PDFEducProFRMОценок пока нет
- C054 - Infraestrutura (Construcao Civil) - Perfil 05 - Caderno CompletoДокумент16 страницC054 - Infraestrutura (Construcao Civil) - Perfil 05 - Caderno CompletoEvelyne Emanuelle ManuОценок пока нет
- Questões Étnicas Na Diversidade Escolar - o Indígena e A EducaçãoДокумент49 страницQuestões Étnicas Na Diversidade Escolar - o Indígena e A EducaçãoMateus AugustoОценок пока нет
- Design Industrial Panorama-Seculo XXДокумент102 страницыDesign Industrial Panorama-Seculo XXRobson De Souza PereiraОценок пока нет
- A Máquina de Festejar Seus Usos e Configurações Nas Escolas Primárias Brasileiras e Portuguesas (1890-1930)Документ309 страницA Máquina de Festejar Seus Usos e Configurações Nas Escolas Primárias Brasileiras e Portuguesas (1890-1930)Jose Avilez Vereador - EMEBОценок пока нет
- Disciplina 3 - Módulo 3 Teste Da Leitura Controle de Estímulos, Modelagem Do Comportamento Verbal e Correspondência No OteloДокумент1 страницаDisciplina 3 - Módulo 3 Teste Da Leitura Controle de Estímulos, Modelagem Do Comportamento Verbal e Correspondência No OteloRaquel LimaОценок пока нет
- Ensino FundamentalДокумент16 страницEnsino FundamentalMason KatonОценок пока нет
- Pré-Projeto TCC II - Serviço SocialДокумент31 страницаPré-Projeto TCC II - Serviço SocialJenifer SilvaОценок пока нет
- Classificação Provisória - Análise Curricular PDFДокумент59 страницClassificação Provisória - Análise Curricular PDFRebecaОценок пока нет
- 4e6b201b6ea24b7b0982b1abdbc1f714Документ77 страниц4e6b201b6ea24b7b0982b1abdbc1f714Rafael XimenesОценок пока нет
- Jogos - e - Brinquedos - Tradicionais JPRДокумент60 страницJogos - e - Brinquedos - Tradicionais JPRJosca BaroukhОценок пока нет
- Atividade Menina Bonita Do Laco de FitaДокумент4 страницыAtividade Menina Bonita Do Laco de FitaDilmara67% (3)
- IdamДокумент64 страницыIdamFilipe MachadoОценок пока нет
- Dissertação - Eliane Ferreira Dos SantosДокумент76 страницDissertação - Eliane Ferreira Dos SantosMARIANA MACENA DA SILVAОценок пока нет
- Maktub - Paulo CoelhoДокумент189 страницMaktub - Paulo CoelhoRocha João VitorОценок пока нет
- Apostila de Metodologia Da Pesquisa CientificaДокумент128 страницApostila de Metodologia Da Pesquisa CientificaHenrique Veras de Melo100% (1)
- 01 - EnsaioДокумент10 страниц01 - EnsaioIgor MarquezОценок пока нет