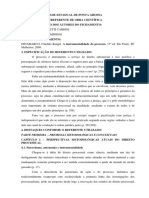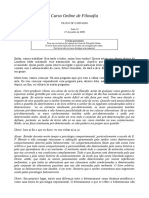Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
A Linguagem Cinematografica-Modelos Sociais e Os Mitos Futuristas
Загружено:
Tibério VasconcelosОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
A Linguagem Cinematografica-Modelos Sociais e Os Mitos Futuristas
Загружено:
Tibério VasconcelosАвторское право:
Доступные форматы
VANESSA CAVALLI
A LINGUAGEM CINEMATOGRFICA:
MODELOS SOCIAIS E OS MITOS FUTURISTAS
Dissertao apresentada ao Curso de Mestrado
em Cincias da Linguagem como requisito
parcial obteno do grau de Mestre em Cin-
cias da Linguagem.
Universidade do Sul de Santa Catarina.
Orientador: Prof. Dr. Aldo Litaiff.
FLORIANPOLIS, 2006
2
VANESSA CAVALLI
A LINGUAGEM CINEMATOGRFICA:
MODELOS SOCIAIS E OS MITOS FUTURISTAS
Esta dissertao foi julgada adequada obteno do grau de Mestre em Cincias
da Linguagem e aprovada em sua forma final pelo Curso de Mestrado em Cincias da Lin-
guagem da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Florianpolis SC, 08 de Dezembro de 2006.
______________________________________________________
Prof. Dr. Aldo Litaiff
Universidade do Sul de Santa Catarina
______________________________________________________
Prof. Dr. Acir Dias da Silva
Universidade de Campinas
______________________________________________________
Prof. Dr. Fernando Simo Vugman
Universidade do Sul de Santa Catarina
______________________________________________________
Prof. Dr. Antonio Carlos Gonalves dos Santos
Universidade do Sul de Santa Catarina
3
A minha famlia...
Moacir Joo Cavalli, Ivanora Simor Cavalli.
Andressa Cavalli e Anderson Cavalli.
O porto mais seguro do mundo.
A calmaria plena, do meu quintal.
4
AGRADECIMENTOS
De novo e sempre, a vocs do porto seguro. Obrigada aos
parentes que me deram tranqilidade, moradia e muitas
risadas. Ao pssaro que voou tantas vezes comigo, por
mim e por ns... Joo. Aos professores e colegas do Mes-
trado. Em especial a Aldo Litaiff: orientador que, ao com-
partilhar seu conhecimento, no deve ter idia de quanta
calma trouxe ao meu caminho. Sou e sempre serei sua f,
muito obrigada. Aos amigos e colegas de trabalho, em es-
pecial ao colega Acir Dias da Silva, por aceitar o convite
e por dividir as tarefas cotidianas. A Gabriel, Thiago e
Gisa: a ausncia presena! s minhas escolhas... sem-
pre minhas.
5
No te afastes de mim, temendo a minha sanha
E o meu veneno... Escuta a minha triste histria:
Aracne foi meu nome e na trama ilusria
Das rendas florescia a minha graa estranha.
Um dia desafiei Minerva. De tamanha
Ousadia hoje expio a incomparvel glria...
Venci a deusa. Ento, ciumenta da vitria,
Ela no ma perdoou: vingou-se e fez-me aranha!
Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura.
Inspiro horror... tu que espias a urdidura
Da minha teia, atenta ao que o meu palpo fia:
Pensa que fui mulher e tive dedos geis,
Sob os quais incessante e vria a fantasia
Criava a pala sutil para os teus ombros frgeis...
(A Aranha, Manuel Bandeira, 1908)
6
RESUMO
O objetivo deste trabalho verificar a forma pela qual a linguagem cinematogrfi-
ca apropria-se de paradigmas sociais, reforando-os e naturalizando-os, transformando-se
em veculo propagador de mitos. Objetiva-se, tambm, verificar pontos de difuso do pensa-
mento filosfico dualista, fundamentado pelo corte epistemolgico, em trs obras flmi-
cas: Metropolis (Fritz Lang, 1927), Blade Runner (Ridley Scott, 1982) e Matrix (Andy e Lar-
ry Wachowski, 1999) e a naturalizao dos mitos futuristas. Para tanto, o trabalho traz a revi-
so do pensamento de autores como Thomas Kuhn, Charles Sanders Peirce, Pierre Bourdieu,
William James e Richard Rorty. Claude Lvi-Strauss e Roland Barthes esclarecem questes
quanto ao pensamento mtico. Robert Stam, seguido de Gilles Deleuze, delineiam o quadro
terico quanto ao estudo da linguagem cinematogrfica.
Palavras-chave: Linguagem Cinematogrfica, Hbitos de Ao, Mito.
7
ABSTRACT
The objective of this work is to verify it forms by which the cinematographic lan-
guage appropriates-itself of social "paradigms", reinforcing and naturalizing them, trans-
forming itself in a vehicle of myths. Objective itself, also, demonstrate points of diffusion of
"dualistic" philosophical thought, substantiated by the "cut epistemological", in three filmic
works: Metropolis (Fritz Lang, 1927), Blade Runner (Ridley Scott, 1982) and Matrix (Andy
and Larry Wachowski, 1999) and its naturalization of the futuristic myths. Intending to ac-
complish these goals, the work brings the revision of authors such as: Thomas Kuhn, Charles
Sanders Peirce, Pierre Bourdieu, William James and Richard Rorty. Claude Lvi-Strauss and
Roland Barthes clear questions regarding the mythic thought. Robert Stam, followed by Gilles
Deleuze, delineated the theoretical chart as regards the study of the cinematographic lan-
guage.
Keywords: Cinematographic Language, Habits of Action, Myth.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 A Marcha dos Operrios. ........................................................................................ 77
Figura 2 Os Jardins do Eterno. .............................................................................................. 78
Figura 3 O Monstro Moloch. ................................................................................................. 80
Figura 4 A Clonagem de Maria pelo cientista Rotwang. ...................................................... 84
Figura 5 Origami ave. ........................................................................................................ 92
Figura 6 Origami homem. .................................................................................................. 93
Figura 7 O sonho de Deckard................................................................................................ 95
Figura 8 Origami unicrnio. .............................................................................................. 97
Figura 9 As plulas: livre-arbtrio?. ..................................................................................... 101
Figura 10 Neo transcende as aparncias e enxerga a realidade dos cdigos numricos . ... 103
Figura 11 O Arquiteto: revelao de que Neo a sexta anomalia. .................................. 104
Figura 12 O equilbrio depende do acordo entre os homens e as mquinas........................ 107
9
SUMRIO
APRESENTAO.............................................................................................................................................. 10
INTRODUO................................................................................................................................................... 13
1 PARADIGMAS CIENTFICOS E CRENAS SOCIAIS...................................................................... 18
1.1 DO CORTE EPISTEMOLGICO AOS HBITOS DE AO............................................... 26
2 OS SIGNOS DA LINGUAGEM CINEMATOGRFICA E A EXTENCIONALIDADE PARA
MODELOS SOCIAIS........................................................................................................................................ 33
2.1 A CONTINUIDADE ENTRE MUNDOS QUE NUNCA FORAM SEPARADOS ......................... 35
2.2 O MITO ENQUANTO FONTE DE CRENAS.................................................................... 44
3 CINEMA: O CONTADOR DE MITOS ................................................................................................. 56
3.1 METODOLOGIA.......................................................................................................... 67
4 ERA UMA VEZ... NOSSO FUTURO...................................................................................................... 74
4.1 METROPOLIS E A CLONAGEM HUMANA...................................................................... 76
4.2 BLADE RUNNER E O HOMEM-MQUINA....................................................................... 87
4.3 MATRIX E A ESQUIZOFRENIA CONTEMPORNEA ............................................................ 98
CONSIDERAES FINAIS........................................................................................................................ 11509
REFERNCIAS ................................................................................................................................................ 115
ANEXO A MARIA: OLHE, ESTES SO SEUS IRMOS A PORTA QUE DIVIDE OS MUNDOS
DE METROPOLIS......................................................................................................................................... 11818
ANEXO B A NOVA TORRE DE BABEL .............................................................................................. 11819
ANEXO C BLADE RUNNER: CENRIO EXTERNO.......................................................................... 11820
ANEXO D ROY: TODOS ESSES MOMENTOS SE PERDERO NO TEMPO COMO LGRIMAS NA
CHUVA. HORA DE MORRER ................................................................................................................... 11821
ANEXO E NEO ACORDA DO SONHO.................................................................................................. 11822
ANEXO F O ACORDO COM A MQUINA E O SACRIFCIO DO HERI .................................... 11823
10
APRESENTAO
Vanessa: O que me define, me representa, me apresenta?
Sr. Word.doc: As letrinhas da tela. Simples, preto no branco.
Vanessa: Impossvel! Tem que haver outra forma. J fiz tanta coisa, pensei em tanta coisa,
falei mais coisa ainda e, agora, no sei como me apresentar aqui! Impossvel...
Sr. Word.doc: a vida... deseja traduo para o francs? Fica mais bonito.
Vanessa: Sou formada em Publicidade e Propaganda, na UPF/RS, apesar de no ter sido
uma aluna nota 10!, aproveitei muito aquele perodo!
Sr. Word.doc: ... :]
Vanessa: Viajei para o exterior, o que foi a realizao e amadurecimento para as muitas
minhocas na cabea. Em que crem os que no crem?. A insustentvel Leveza do Ser.
Depois disso, foi muito mais fcil encarar a mudana e a adaptao.
Sr. Word.doc: Ok, se vc for tc comigo, seja objetiva.
Vanessa: No consigo. J cortei um bom pedao da minha histria. Deixa eu ver...
Sr. Word.doc: Posso colocar a proteo de tela? [Yes] [No]
Vanessa: ...fui tratar de trabalhar: So Jos do Ouro, Passo Fundo, So Paulo, Porto Ale-
gre, Palmas... no Tocantins!? O que foi essa fase? Queria encontrar algo de que gostasse e
seguir carreira em algo. Mas nada satisfazia.
Sr. Word.doc: Sim, vc escreveu muita coisa. Poemas escondidos, relatos desconexos, dese-
nhos sem forma... tudo arquivado.
Vanessa: No gosto de guardar lixos, mas sempre arquivei certos pensamentos. Como
quando era criana e guardava caixas de tesouros, desenhava o mapa e duas horas depois as
descobria espanando a terra com os pincis de pintura da me. Ok, isso no interessa
muito aqui.
Sr. Word.doc: No mesmo.
Vanessa: Vida profissional: criao publicitria no Departamento de Marketing de uma
Rede de Supermercados. Produtora de Vdeo. timas experincias, mas que me fizeram
questionar as escolhas quanto ao mundo publicitrio: suas prticas, as relaes de traba-
11
lho, o prprio contexto onde esse mundo se encaixa. Bem, foi aps terminar a faculdade que
me interessei pelo estudo da comunicao... entrei com 16 anos, claro que no uma boa
justificativa mas, como escolher uma profisso com essa idade? Aos 20 estava formada! Cla-
ro que no estaria tranqila e segura pra escolher o que fazer da vida...
Sr. Word.doc: Realmente, vcs so estranhos. Acho que nunca vo saber o que fazer da
vida. E quando pensam que sabem, questionam-se incessantemente sobre isso.
Vanessa: Pois , hoje acho isso maravilhoso! Acredito que no so as escolhas que nos mo-
vem, mas sim as incessantes perguntas. E um dia, num dos encontros do Mestrado, um amigo
disse: o que interessa o caminho.
Sr. Word.doc: Isto est parecendo dilogo de um mentor budista a Luc-Skywalker. Continue,
por favor.
Vanessa: . Em meados de 2002, ingressei no Mestrado em Florianpolis. Tinha
tempo de sobra pra no me estressar com as novas descobertas, pois me dediquei somente a
isso, conheci pessoas interessantes (cada uma a seu modo, claro), pensamentos diferentes, de
diferentes contextos... enfim, s alegria!
Sr. Word.doc: Poderia ser mais clara? :[
Vanessa: ...estabeleci novas relaes com o mundo, com o meu contexto, redefini objetivos e,
principalmente, acreditei ainda mais na minha maneira de viver a vida. Certos conceitos j
faziam parte da minha conduta e, durante o curso, comecei a me dedicar a entend-los me-
lhor. Tranqilidade existencial... muito pesado?
Sr. Word.doc: No sei... no entendo disso. Quer algum site de busca? [Ok] [Cancel]
Vanessa: Foi durante as aulas do Mestrado, em 2003, que fui convidada a lecionar para o
Curso de Comunicao Social, em Cascavel/PR. Puxa vida! Seis meses de viagens, 36 horas
dentro de nibus, se-ma-nal-men-te. O tempo apertou, a imunidade baixou, o corpo cansou.
Terminados os crditos, decidi agarrar a oportunidade e mudei para a divisa com o Para-
guai. Pelo menos, uma das incessantes perguntas parecia estar temporariamente respondida:
esse caminho est me satisfazendo... Temporariamente, porque a idia de para sempre, d
arrepios!
Sr. Word.doc: Acidente.
Vanessa: [longa pausa]
Sr. Word.doc: [Proteo de tela]
12
Vanessa: Sim... uma tela preta, como um insert no vdeo: rpido, sem informao, sem me-
mria... sem imagem. Ao menos, funcionou como transio de cenas! Mas aquele perodo de
tempo (segundos ou horas)...
Vanessa: [longa pausa]
Sr. Word.doc: [Proteo de tela]
Vanessa: ... estranho. desconhecido.
Sr. Word.doc: Acho que o que acontece quando me desligam.
Vanessa: A diferena que voc sabe que vo te desligar. Voc se refaz nesse perodo.
Para mim, nada...
Sr. Word.doc: Ok, tambm no vamos nos comparar.
Vanessa: Mas penso que no sofri existencialmente com a situao, pois no penso muito
nisso no meu dia-a-dia. Fisicamente, foi um inferno! Porm, esta tela preta, de certa forma,
ajudou a reforar ainda mais minha crena de que quando acaba... acabou.
Sr. Word.doc: Quer dizer que eu acabo toda vez que desligo? Quem vem depois de mim?
Vanessa: Por favor, seja mais objetivo ; )
Sr. Word.doc: Ctrl + B
Vanessa: Continuando. Teorias da Comunicao, Semitica, Esttica e Cultura de Massa,
Roteiro para Tv e Cinema, Criao e Produo em Tv e Cinema, Direo de Arte para Tv e
Cinema, Tcnicas Integradas em Comunicao, Coordenao de Agncia Experimental...
Monografias e Projetos Experimentais. Em 2005, auxiliar da Coordenao do Curso. Est
sendo a experincia onde posso questionar, negar e assumir novas posturas... Reformular
novas perguntas, incessantemente! No entanto, ultimamente, a burocracia, o cerceamento de
projetos, a busca por mensalidades... revelaram a face autoritria do nosso sistema educaci-
onal. Outra tomada de conscincia, outra reformulao de dvidas, e isso no me faz desa-
nimar como anteriormente. Ainda acredito neste caminho...
Sr. Word.doc: Quem vem depois de mim? Hoje tarde no era eu?
Vanessa: ...meu objetivo no ser medocre... Ser que me apresentei bem? O que mais pos-
so contar? Acredito ser suficiente, alis, o que me define, me representa, me apresenta?
Sr. Word.doc: Ctrl+Alt+Del
Sr. Word.doc: RESTART
13
INTRODUO
O objetivo proposto nesta Dissertao abordar questes quanto construo e
estrutura da narrativa mtica na linguagem cinematogrfica. A partir deste objetivo geral,
pretende-se demonstrar como a linguagem cinematogrfica se apropria de paradigmas soci-
ais, reforando-os e naturalizando-os, servindo como veculo de propagao de mitos. Quanto
ao que aqui se denomina por narrativa mtica, ou seja, o conjunto de crenas projetadas pelo
dispositivo cinematogrfico utilizando-se de imagens e sons, objetiva-se verificar pontos de
difuso do pensamento filosfico dualista, fundamentado pelo corte epistemolgico.
O quadro terico utilizado neste trabalho traz a necessidade de uma breve reviso
do pensamento de Thomas Kuhn acerca da noo de paradigma enquanto modelos para a
atividade efetiva do ser humano. Abordam-se as questes sobre crena enquanto hbito de
ao, apontadas pelo Pragmatismo de C. S Peirce. Para auxiliar na re-leitura deste paradigma
epistemolgico, busca-se alicerce na construo terica de Pierre Bourdieu e autores como
William James e Richard Rorty. Os conceitos de crena e de hbitos de ao norteiam este
estudo servindo como princpios metodolgicos para a anlise da construo cinematogrfica
enquanto linguagem propagadora do pensamento mitolgico.
Questes acerca do dualismo estabelecido por Plato, das noes de real e imagi-
nrio, tambm constituem o foco desta abordagem. Delineiam-se, aqui, as propostas peircia-
nas para desvendar e entender este pensamento dualista a fim de que, posteriormente, seja
possvel vislumbrar sua crtica e, propor seu abandono.
14
A construo do pensamento mitolgico enquanto fonte de conhecimento dos fe-
nmenos reais e imaginrios ser abordada, considerando os estudos de Claude Lvi-Strauss,
na Antropologia, e de Roland Barthes, na Semiologia ambos seguindo e atualizando o para-
digma saussuriano. Por fim, almejando a aplicao de tais conceitos no estudo da linguagem
cinematogrfica, mais especificamente do gnero de fico cientfica, enquanto meio criador,
disseminador e naturalizador de mitos, alguns pressupostos de Gilles Deleuze servem de
embasamento para a anlise de produes cinematogrficas contemporneas, bem como para
a crtica aos modelos dualistas de pensamento.
Especificamente, o que se pretende neste trabalho unir o modelo pragmatista
peirciano com o auxlio de seus contemporneos, anlise de cunho culturalista do cinema
moderno. A estrutura dos mitos - conforme a viso de Lvi-Strauss - enquanto mediador para
a soluo de problemas entre o real e o imaginrio no pensamento humano - utilizada
nesta anlise do gnero cinematogrfico de fico cientfica. Numa dimenso socialmente
crtica, o estruturalismo de Roland Barthes, em sua Mitologias, oferece a contestao da
ideologia burguesa demonstrando de que modos os meios de comunicao de massa exibem
como natural o que construdo culturalmente. A escolha deste gnero deve-se ao fato de
que, enquanto produo e veiculao de crenas mticas, traz consigo especificidades lgi-
cas, servindo como criador e disseminador de objetos imaginrios no mundo real, ou seja,
formando um conjunto de significantes irreais os quais, por conseqncia, mantm a estru-
tura e os conceitos desse pensamento em mitos.
Inicialmente, no Captulo Paradigmas cientficos e crenas sociais, coloca-se
em discusso o prprio conceito de modelos sociais. Percebe-se a interface da noo de pa-
radigma cientfico de Thomas Kuhn, em sua obra A Estrutura das Revolues Cientficas,
com as noes de crena de C. S. Peirce, em seu Pragmatismo. Ambas as noes, seja no
15
mbito cientfico ou das experincias individuais e sociais cotidianas, trazem o abandono das
verdades universais, aliceradas pela idia de que atravs dos tempos o ser humano vem
transformando, reformulando seus conceitos seja atravs das descobertas em laboratrios
que disseminam novas tecnologias ou daquelas experimentadas individualmente pelo homem
comum. Para Peirce, crena hbito de ao implementada por diferentes meios.
Ainda no Captulo inicial, Pierre Bourdieu traz auxlio a estas definies, atravs
do seu conceito de habitus, ou seja, atitude classificatria de carter convencional que objeti-
va estabelecer padres para o comportamento social. E finalmente, debate-se o desenvolvi-
mento das concepes Pragmatistas de William James e Richard Rorty, identificando em que
pontos especficos ambos do continuidade ao pensamento peirciano e a sua crtica ao racio-
nalismo cartesiano. A partir de James, enfatiza-se a correlao de suas noes sobre verda-
des e crenas individuais com as noes de crenas sociais de Peirce. Rorty reformula o
pensamento peirciano, enfatizando que as questes humanas so meras fabricaes e que,
neste sentido, no h problema que no seja passvel de dissoluo, visto que esta tambm
se constitui como hbito de ao, portanto, crena estabelecida socialmente.
O segundo Captulo, Os Signos da Linguagem Cinematogrfica e a Extenciona-
lidade para Modelos Sociais, prope a relao entre as noes de hbito de ao e de lin-
guagem cinematogrfica. Partindo do pressuposto de que o espectador no absorve passiva-
mente as projees da tela grande, estabelece-se a discusso acerca da dicotomia realidade-
fico nesta interao constante entre obra e espectador. Desta forma, o ponto de vista peirci-
ano sobre a diferenciao entre realidade e fico auxilia na apresentao de sua Feno-
menologia. Trazendo as definies de objetos reais e objetos ficcionais bem como sua
relao com a conscincia humana, Peirce procura soluo para o dualismo filosfico na no-
o de signo enquanto mediao entre o mundo interno e o mundo externo, a partir das ca-
16
tegorias fundamentais do conhecimento Primeiridade, Secundidade, Terceiridade. Em O
Mito enquanto fonte de crenas traz-se luz o debate entre Lvi-Strauss e Roland Barthes
referente s suas concepes de Mito. A dicotomia cultura-natureza abordada a fim de
esclarecer o sentido social e prtico proporcionado pelo pensamento mtico, bem como sua
incluso nos estudos sobre a linguagem cinematogrfica, abrindo caminho para a discusso no
Terceiro Captulo.
No captulo intitulado Cinema: O Contador de Mitos, a construo da narrativa
cinematogrfica abordada a partir dos estudos de Robert Stam, o qual disserta sobre o dispo-
sitivo cinematogrfico e seus recursos que reforam a relao ilusionista entre os signos apre-
sentados na tela e uma suposta realidade da conscincia do espectador em sua experincia
interpretativa, bem como aos emprstimos que o cinema buscou em linguagens antecessoras a
fim de legitimar-se enquanto tal. Para finalizar, retomando os conceitos anteriores, traz-se os
pressupostos de Gilles Deleuze sobre o princpio de indeterminabilidade, ou seja, a no dis-
tino entre o imaginrio e o real na situao cinematogrfica.
Por fim, o quarto captulo, Era Uma Vez... Nosso Futuro aponta os principais
conceitos utilizados em trs obras cinematogrficas do gnero fico cientfica, a saber, Me-
tropolis (Fritz Lang, 1927), onde se procura demonstrar aspectos da narrativa que tratem do
paradigma tico e social acerca da clonagem humana. Em seguida, a dicotomia homem-
mquina ser identificada em Blade Runner O Caador de Andrides (Ridley Scott, 1982
verso do diretor). Em Matrix (Andy e Larry Wachowski, 1999), pretende-se abrir cami-
nho para a identificao do mesmo modelo dualista, porm que trata de questes acerca da
realidade e iluso vividas pelo homem ps-moderno, sua identidade fragmentada e a evi-
dncia da separao entre os mundos interno e externo. Com este passeio pelas obras preten-
de-se identificar aspectos, cenas em que se verifica o papel da cinematografia enquanto meio
17
de comunicao propagador de mitos, estabelecendo crenas sociais que se refletem na expe-
rincia prtica e cotidiana da sociedade.
18
1 PARADIGMAS CIENTFICOS E CRENAS SOCIAIS
Na tentativa de verificar como modelos sociais so aplicados na prtica cinemato-
grfica, preciso examinar o prprio conceito de modelo. Na obra A Estrutura das Revolu-
es Cientficas (1991:44), Thomas Kuhn afirma:
No seu uso estabelecido, um paradigma um modelo ou padro aceitos. Este as-
pecto de seu significado permitiu-me, na falta de termo melhor, servir-me dele aqui.
Mas dentro em pouco ficar claro que o sentido de modelo ou padro no o
mesmo que o habitualmente empregado na definio de paradigma. Por exemplo,
na Gramtica, amo, amas, amat um paradigma porque apresenta um padro a
ser usado na conjugao de um grande nmero de outros verbos latinos para pro-
duzir, entre outros, laudo, laudas, laudat. Nesta aplicao costumeira, o para-
digma funciona ao permitir a reproduo de exemplos, cada um dos quais poderia,
em princpio, substituir aquele. Por outro lado, na cincia, um paradigma raramente
suscetvel de reproduo. Tal como uma deciso judicial aceita no direito costu-
meiro, o paradigma um objeto a ser melhor articulado e precisado em condies
novas ou mais rigorosas.
Para ser aceito como novo modelo, o paradigma deve ser considerado melhor que
seus antecessores e, desta forma, atrair praticantes de modelos antigos, bem como de geraes
seguintes. O novo paradigma implica uma definio nova e mais rgida do campo de estu-
dos. Aqueles que no desejam ou no so capazes de acomodar seu trabalho a ele tm que
proceder isoladamente ou unir-se a algum grupo (KUHN, 1991:39). Ainda assim, adverte o
autor, um paradigma pode ser muito limitado tanto em sua preciso, quanto do momento de
sua primeira apario em um campo social. Seu status concebido por se tratar de um modelo
mais bem sucedido que seus competidores, ou seja, os outros candidatos a paradigmas, na
resoluo de certos problemas considerados recorrentes. Porm, seu sucesso est mais na atu-
19
alizao, ou seja, na projeo de uma promessa atravs das crenas de uma gerao, do que na
resoluo factual dos problemas propostos.
Desta definio, segue que as crenas sociais atualizam as promessas de sucesso
dos paradigmas propostos pelo campo social. A motivao para a mudana de paradigma est
na tentativa de forar a natureza a encaixar-se dentro dos limites preestabelecidos e relati-
vamente inflexveis fornecidos pelo paradigma (1991:44-45). Assim, ao adquirir uma nova
concepo, adquirem-se critrios para a escolha de quais problemas necessitam ser soluciona-
dos, pois na escolha de um paradigma est implcito um modelo de soluo possvel, em ou-
tras palavras, est implcita a promessa de soluo. Ainda acerca das motivaes da substitui-
o de um modo de pensar por outro, Kuhn disserta sobre as vrias razes implicadas na
atrao do ser humano pela busca e formulao de modelos cientficos, que aqui so tomados
como modelos sociais:
(...) um homem pode sentir-se atrado pela cincia por todo tipo de razes. Entre es-
sas esto o desejo de ser til, a excitao advinda da explorao de um novo territ-
rio, a esperana de encontrar ordem e o impulso para testar o conhecimento estabe-
lecido. (...) Alm disso, existem boas razes para que motivos dessa natureza o
atraiam e passem a gui-lo, embora ocasionalmente possam lev-lo a uma frustra-
o. O empreendimento cientfico, no seu conjunto, revela sua utilidade de tempos
em tempos, abre novos territrios, instaura ordem e testa crenas estabelecidas h
muito tempo. No obstante isso, o indivduo empenhado num problema de pesquisa
normal quase nunca est fazendo qualquer dessas coisas. Uma vez engajado em seu
trabalho, sua motivao passa a ser bastante diversa. O que o incita ao trabalho a
convico de que, se for suficientemente habilidoso, conseguir solucionar um que-
bra-cabea que ningum at ento resolveu ou, pelo menos, no resolveu to bem.
(1991:60-61)
1
Pode-se afirmar que, enquanto os modelos estejam seguros dentro da prtica soci-
al, estes funcionam sem que haja racionalizao sobre o seu emprego. A deteco do que
Kuhn categoriza como anomalias o reconhecimento de que, de alguma maneira, a natu-
reza violou as expectativas paradigmticas que governam a cincia normal. Segue-se ento
1
Para ser classificado como quebra-cabea, no basta a um problema possuir uma soluo assegurada. Ele deve
obedecer a regras que limitam tanto a natureza das solues aceitveis como os passos necessrios para obt-las.
(...) Essas so algumas das regras que governam a soluo de jogos de quebra-cabea. Restries similares con-
cernentes s solues admissveis para palavras cruzadas, charadas, problemas de xadrez, etc... podem ser des-
cobertas facilmente. (1991:62)
20
uma explorao mais ou menos ampla da rea onde ocorreu a anomalia. Esse trabalho so-
mente se encerra quando a teoria do paradigma for ajustada, de tal forma que o anmalo se
tenha convertido no esperado. (1991:78)
A afirmao de que um modelo no serve mais como guia de comportamento, ini-
cia-se, ento, pelo reconhecimento gradual e simultneo da crise tanto no plano conceitual
como no plano emprico e a conseqente alterao dos procedimentos at ento vigentes. Mas
tal mudana sempre acompanhada por resistncia, pois o que se considera habitual e pre-
visto gera o que Peirce chama de estado de tranqilidade, ou estado de crena - um lugar
conceitual de onde no se quer sair e que garante a permanncia dos conhecimentos j esta-
belecidos. Quanto mais enraizado for o paradigma, maior sua preciso ao detectar e prever
possveis anomalias, rearranjando-as ao novo modelo conceitual.
Paradigma, modelo, padro... todas estas definies implicam conceitos impostos e
preestabelecidos, portanto, poder-se-ia afirmar que o campo conceitual do termo paradigma
implica a noo de signos arbitrrios, de convenes sociais, da a dificuldade em determinar
sua(s) origem(ns). Contudo, tal determinao perde importncia visto que, devido a sua natu-
reza arbitrria e mutante, o problema desloca-se justamente para a questo de suas substitui-
es e permanncia no espao e no tempo, dentro do campo da comunicao social no qual
est inserido.
Parte-se da hiptese de que o hbito de ao propaga paradigmas sociais de toda
ordem, atravs das narrativas mticas, tendo elas suportes variados, como a produo cine-
matogrfica, por exemplo. De Thomas Kuhn a Roland Barthes, percebe-se que os modelos
estabelecidos para a interpretao do mundo emprico possuem origens histricas: esses ins-
trumentos intelectuais so, desde o incio, encontrados numa unidade histrica e pedagogi-
camente anterior, onde so apresentados juntamente com suas aplicaes e atravs delas.
(KUHN,1991:71)
21
A partir do que j foi visto, pode-se verificar o pensamento mtico enquanto fonte
de regras, identificando em sua estrutura e em seu discurso as formas pelas quais ele fornece
modelos, tornando-se referncia sobre o que fazer no mbito do comportamento humano
efetivo. Parte-se, assim, para uma reflexo sobre conceitos, como crena, realidade e
fico, a partir do modelo filosfico peirciano, o Pragmatismo.
Para Peirce, a realidade do cosmos inteligvel e cognoscvel ao homem, portanto,
seu mtodo de anlise considera a mente humana como um caso particular da Mente da Na-
tureza, em outras palavras, a natureza parte da mente ou da razo cristalizada, propon-
do, inclusive, que as caractersticas da mente humana devero indicar tambm as caractersti-
cas da natureza desta mente do universo. Trata-se de um tipo de antropomorfismo fun-
damentando a compreenso do universo a partir do entendimento do que o autor chama de
estado de crena:
Quisessem os cticos alguma resposta, deveriam questionar a origem das crenas,
porque elas que contm todo um oceano de histria csmica impressa no esprito,
que constitui nossa experincia diante do mundo e da vida. Esta postura garante que
sejamos levados tipgrafa Natureza e descubramos a gnese desta sua criao: o
homem. Evidenciar-se- a origem evolucionria da mente humana, cuja mestra tem
sido a Natureza, seus processos, sua alteridade, sua beleza. (PEIRCE apud
IBRI,1992: 42)
Ao passo que a obra cinematogrfica pode lanar ao pblico espectador signos
2
jamais vistos em sua concretude, tais signos comeam a fazer parte da linguagem e da socie-
dade em geral no uso da comunicao. Este movimento semitico que faz surgir novas forma-
es de sentidos se d pela substituio de uma crena por uma nova. A consolidao destes
novos signos no cotidiano social se d atravs do hbito de ao; este d aos signos convenci-
2
Um signo, ou representamen, aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para algum. Dirige-
se a algum, isto , cria na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao
signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto.
Representa esse objeto no em todos os seus aspectos, mas com referncia a um tipo de idia. (PEIRCE, 1977:
46)
22
onais o status de signos naturais, ou seja, a noo de que as coisas sempre foram assim: a
noiva de branco, a raa negra inferior, um futuro assombroso, etc.
O conceito de crena como hbito de ao, norteia este aprofundamento terico,
pois desempenha o papel de prolongador entre o real e o imaginrio, entre a natureza e a cul-
tura, entre o espectador e a obra. Pierre Bourdieu procura responder questes concernentes
aos vrios campos do conhecimento humano atravs de sua noo de habitus:
A cada classe de posies corresponde uma classe de habitus (ou de gostos) produ-
zidos pelos condicionamentos sociais associados condio correspondente e, pela
intermediao desses habitus e de suas capacidades geradoras, um conjunto siste-
mtico de bens e de propriedades, vinculadas entre si por uma afinidade de estilos.
(BOURDIEU, 1996:21)
O conceito de habitus, de Bourdieu, enquanto gerador de classificaes de estilos e
esquemas dentro de um campo social, refora outra hiptese: essas construes convencionais
de que a cinematografia se utiliza podem ser identificadas no que se pode chamar clichs ou
esteretipos constituintes de sua linguagem. Percebe-se, nesta definio de habitus, a relao
com o conceito de crena apontada por Peirce (1977: 288-289), como segue:
Todas as coisas com que voc tem quaisquer negcios so suas dvidas e crenas,
com o curso da vida que lhe impe novas crenas e lhe d o poder de duvidar de
velhas crenas. Os problemas seriam muito simplificados se, em vez de dizer que
deseja conhecer a Verdade, voc dissesse simplesmente que deseja alcanar um
estado de crena inatacvel pela dvida. A crena no um modo momentneo da
conscincia; um hbito da mente que, essencialmente, dura por algum tempo e que
em grande parte (pelo menos) inconsciente; e tal como outros hbitos (at que se
depare com alguma surpresa que principia sua dissoluo) auto-satisfatrio. A dvi-
da de um gnero totalmente contrrio. No um hbito, mas privao de um h-
bito. Ora, a privao de um hbito, a fim de ser alguma coisa, deve ser uma condio
de atividade errtica que de alguma forma precisa ser superada por um hbito.
certo que aquilo em que o leitor no se pode impedir de acreditar hoje poder ama-
nh ser inteiramente desacreditado pelo prprio leitor.
Assim, a crena corresponde a um hbito de ao, motivador do questionamento e
re-elaborao de novos signos dentro da comunicao social. Estes signos convencionais s
sero substitudos quando no forem mais eficazes no uso prtico e tal ineficincia surge atra-
23
vs da dvida ou descrena coletiva para com estes mesmos signos, ou seja, segundo Peirce,
os conceitos so substitudos ou aperfeioados na experincia prtica:
Uma das funes da noo de habitus a de dar conta da unidade de estilo que vin-
cula as prticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes. (...). O
habitus esse princpio gerador e unificador que re-traduz as caractersticas intrnse-
cas e relacionais de uma posio em um estilo de vida unvoco, isto , em um con-
junto unvoco de escolhas de pessoas, de bens, de prticas.
Ainda:
Os habitus so princpios geradores de prticas distintas e distintivas (...); mas so
tambm esquemas classificatrios, princpios de classificao, princpios de viso e
de diviso e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenas entre o que bom e
mau, entre o bem e o mal, entre o que distinto e o que vulgar, etc, mas elas no
so as mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem
pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatrio para outro e vulgar para
um terceiro. Mas o essencial que, ao serem percebidas por meio dessas categorias
de percepo, desses princpios de viso e de diviso, as diferenas nas prticas, nos
bens possudos, nas opinies expressas tornam-se diferenas simblicas e constitu-
em uma verdadeira linguagem. (BOURDIEU, 1996: 22)
Se habitus um gerador de prticas classificatrias em diferentes estilos, toda esta
classificao advm de convenes sociais, de leis que possibilitam a convivncia em socie-
dade, e estas so caractersticas dos signos simblicos e dos legi-signos.
3
O sentimento de crena uma indicao mais ou menos certa, que se enraza em
ns, um hbito de conhecimento que determinar nossas aes. A dvida, jamais
tem tal efeito (...) A dvida um estado de inquietao e de descontentamento em
que se esfora para sair para atingir o estado de crena. Isso um estado de calma e
de satisfao que no se quer abandonar nem mudar para adotar uma outra crena.
Ao contrrio, prende-se com tenacidade no somente a crer, mas a crer precisamente
no que se acredita. (PEIRCE, 1878: 06)
3
Um Smbolo um Representamen cujo carter representativo consiste exatamente em ser uma regra que
determinar seu Interpretante. Todas as palavras, frases, livros e outros signos convencionais so Smbolos. (...)
Qualquer palavra comum, como "dar", "pssaro", "casamento", exemplo de smbolo. Este signo aplicvel a
tudo o que possa concretizar a idia ligada palavra e, em si mesmo, no identifica essas coisas, no mostra
um pssaro, nem realiza uma doao ou um casamento, mas supe a capacidade de imaginar essas coisas e a
elas associar a palavra (PEIRCE, 1977: 52-73). Conceitos como Legi-signo, Sin-signo e Quali-signo,
bem como o aprofundamento das 10 classes de signos propostas por Peirce, sero explanados no sub-captulo 3.1
Metodologia.
24
Bourdieu desconstri aquilo que se convencionou denominar por classes sociais,
enfatizando a heterogeneidade constitutiva inerente a cada classe. O que se chama de classe
social , para o autor, espao social, composto por diferenas e ser diferente ser signifi-
cativo. Portanto, o que constitui esse espao social? Indivduos diferentes, identificados com
algum habitus, porm, ainda assim no centro de qualquer espao social existe o conflito
(Bourdieu, 1996: 26-27):
Essa idia de diferena, de separao, est no fundamento da prpria noo de espa-
o, conjunto de posies distintas e coexistentes, exteriores umas s outras, definidas
umas em relao s outras por sua exterioridade mtua e por relaes de proximida-
de, de vizinhana ou de distanciamento e, tambm, por relaes de ordem, como
acima, abaixo e entre; por exemplo, vrias caractersticas dos membros da pequena-
burguesia podem ser deduzidas do fato de que eles ocupam uma posio intermedi-
ria entre duas posies extremas, sem serem objetivamente identificveis e subjeti-
vamente identificados com uma ou com outra. (BOURDIEU, 1996: 18)
Segundo Bourdieu, o espao social construdo de tal forma que os agentes ou
grupos so distribudos em funo de sua posio de acordo com o que ele denomina de
princpios de diferenciao, que seriam o capital econmico e o capital cultural. Desta
forma, quanto mais prximos estiverem os agentes/grupos nestas duas dimenses, maior sua
identificao em um determinado espao social. Usa-se aqui o mesmo exemplo dado pelo
autor: empresrios, profissionais liberais e professores universitrios, opem-se aos menos
providos de capital econmico e capital cultural, como os operrios no-qualificados. Da
mesma forma, os professores mais providos de capital cultural e menos ricos em capital
econmico diferenciam-se dos empresrios. Porm, acrescenta o autor, estas diferenciaes
so simblicas:
Mas o essencial que, ao serem percebidas por meio dessas categorias sociais de
percepo, desses princpios de viso e de diviso, as diferenas nas prticas, nos
bens possudos, nas opinies expressas tornam-se diferenas simblicas e constitu-
em uma verdadeira linguagem. As diferenas associadas a posies diferentes, isto
, os bens, as prticas e sobretudo as maneiras, funcionam, em cada sociedade,
como as diferenas constitutivas de sistemas simblicos, como o conjunto de fone-
mas de uma lngua ou o conjunto de traos distintivos e separaes diferenciais
constitutivas de um sistema mtico, isto , como signos distintivos. (BOURDIEU,
1996: 22)
25
Portanto, a aproximao em um determinado espao social implica a aproximao
dos indivduos inscritos neste espao, atravs de suas disposies, seus gostos. Diante disso,
no se trata da mesma distino marxista de classes sociais, onde um grupo mobiliza-se
conforme objetivos comuns e contra outras classes; mas sim o aspecto simblico que, ao
mesmo tempo, individualiza e socializa o sujeito dentro de um campo social. Os chamados
signos distintivos de Bourdieu funcionam como tais, a partir da existncia de indivduos
que identificam em seu espao social as diferenas de hbitos, conforme as propriedades dos
capitais econmico e cultural
4
, no como classificaes tericas, como sexo e etnia, por
exemplo; ao contrrio, como estados de crena, como motivaes simblicas e, mais precisa-
mente, nas palavras de Kuhn, como identificao a partir de certos paradigmas.
A partir do que se poderia identificar como uma re-leitura do paradigma marxista,
Bourdieu inclui a noo de contexto em seu estudo, atravs do que identifica como poder
simblico e signos distintivos internamente constitudos num determinado espao social.
Pode-se, ento, definir o habitus como uma estrutura incorporada que determina uma estrutu-
ra objetiva, ou seja, os campos sociais (artstico, poltico, econmico, cultural, etc.), onde os
modelos funcionam como estrutura estruturante destes campos, quando se acredita que es-
tes sejam modelos anteriores ao seres humanos. Desta forma, a leitura de Bourdieu indica a
aquisio de crenas de forma praxiolgica, onde todo processo de conhecimento inicia-se na
ao efetiva do homem.
4
Na busca por uma Interpretao da Cultura, Clifford Geertz (1989) define cultura como um conceito
intrinsecamente ligado ao contexto e que, por isso, segundo ele, a cultura pblica porque o significado o .
Atravs de uma definio semitica, o autor v a cultura como sistema entrelaado de signos interpretveis, ou
seja, como uma rede de signos. Sob este ngulo, cultura no se constitui como um poder, ou seja, algo que
pode ser atribudo casualmente aos acontecimentos sociais, aos comportamentos efetivos, s instituies ou
processos sociais; cultura um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligvel
isto , descritos com densidade. (GEERTZ, 1989: 22-24)
26
1.1 DO CORTE EPISTEMOLGICO AOS HBITOS DE AO
O poder simblico como poder de constituir o dado pela enunciao, de fazer ver e
fazer crer, de confirmar ou de transformar a viso do mundo e, deste modo, a ao
sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mgico que permite obter o equiva-
lente daquilo que obtido pela fora (fsica ou econmica), graas ao efeito espec-
fico de mobilizao, s se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como ar-
bitrrio. Isto significa que o poder simblico no reside nos sistemas simblicos
em forma de uma illocutionary force, mas que se define numa relao determinada
e por meio desta entre os que exercem o poder e os que lhe esto sujeitos, quer
dizer, isto , na prpria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crena.
(BOURDIEU, 2004: 14)
Durante toda a histria do pensamento humano, os filsofos buscaram fundamen-
tos para o Conhecimento. Nesta trajetria de especulaes e teorias, as vrias correntes filos-
ficas tomaram como princpio o estabelecimento do dualismo mente-corpo, ou seja, o chama-
do corte epistemolgico
5
. O objetivo dos pragmatistas contemporneos tornou-se a negao
dessa necessidade pela formulao de uma teoria do conhecimento, ou seja, pelo paradigma
que constitui a linguagem enquanto liame entre os mundos interno e externo, e da mente hu-
mana como um espelho que reflete a realidade exterior. Os modelos pr-pragmatistas afirmam
as noes de crena e verdade enquanto concepes nicas e imutveis, submetendo o ho-
mem vontade de algo superior, inatingvel e anterior a ele. Para William James (1906), no-
vas experincias modificam e amadurecem as crenas do indivduo, transformando constan-
temente a sua noo de verdade, conforme as mudanas em seu contexto ou a partir de
5
Paradigma que busca o entendimento acerca do conhecimento humano a partir da separao entre o mundo
objetivo e o mundo mental. Viso dualista no tratamento das relaes entre sujeito e objeto. Ver A Repblica,
Plato. O Discurso do Mtodo, Descartes. Crtica da Razo Pura, Kant.
27
transformaes pessoais em sua experincia cotidiana. Richard Rorty (1994) afirma que o
conhecimento humano no se d atravs de representaes da realidade exterior, e sim atra-
vs da interao com o ambiente em que vive, afirmando ser a linguagem um instrumento
humano como qualquer outro e no uma ponte entre o mundo mental e o mundo fsico, que
sempre foram unidos. Para Donald Davidson (1994), o conhecimento se d pela triangula-
o
6
, ou seja: pela troca de proposies entre os homens e pela sua interao com o meio em
que vivem, tendo como validao sua capacidade e sua inteno em entender e justificar as
inferncias do outro.
Estes autores do chamado neo-pragmatismo, partem do paradigma peirciano que
inicia sua crtica ao racionalismo cartesiano, que afirma que a concepo escolstica de racio-
cnio na Idade Mdia era mais um obstculo para a verdade e que o homem s pode aprender
algo atravs da experincia e, principalmente, atravs de intuies, isto , atravs de uma luz
ntima que ilumina o conhecimento sobre a natureza algo que os sentidos jamais poderiam
descobrir. Assim, para Peirce, a validade de um raciocnio uma questo de fato e no de
idias, quimeras ou palavras. Ainda segundo Peirce
7
, todo conhecimento baseia-se em juzos
perceptivos. A noo de verdade seria o conjunto destes juzos perceptivos, sendo que ne-
nhum deles pode ser tomado como totalmente verdico isolados de juzos anteriores e ulterio-
res que confirmem tal veracidade. Em outras palavras, a verdade sobre algo s pode ser esta-
belecida atravs de experincias, que demonstrem que uma concluso est em conformidade
com as premissas que constituem um raciocnio.
O Pragmatismo, enquanto modelo para a investigao do pensamento humano,
busca as conseqncias prticas que certas aes possam gerar, quais sensaes esperar e
quais reaes preparar. Para obter clareza de idias em relao a um objeto, deve-se conside-
6
DAVIDSON, Donald. A Medida do Mental, 1994.
7
PEIRCE, C. S. A Lgica da Cincia. 1878.
28
rar os efeitos de natureza prtica que este objeto possa envolver
8
. Peirce afirma ser possvel
dissolver vrios mal-entendidos e disputas filosficas que considera sem sentido, quando sim-
plesmente busca-se deduzir que conseqncias concretas delas poderiam ocorrer (1878: 10).
James entra em acordo com esta viso, ao afirmar que toda a funo da filosofia deve ser a
de achar que diferena definitiva far para mim e voc, em instantes definidos de nossa vida,
se essa frmula do mundo ou aquela outra for verdadeira. (1906: 19)
Enfim, permitido relacionar os conceitos utilizados at este momento da seguinte
maneira: paradigmas constituem-se como crenas que levam a um hbito de ao, ou seja, a
um comportamento determinado por elas; ligando signos infinitamente dentro de um contexto
social.
(...) ao nos familiarizarmos com a nova idia, aps ela se tornar parte do nosso su-
primento geral de conceitos tericos, nossas expectativas so levadas a um maior
equilbrio quanto s suas reais utilizaes, e termina a sua popularidade excessiva.
Alguns fanticos persistem em sua opinio anterior sobre ela, a chave para o uni-
verso, mas pensadores menos bitolados, depois de algum tempo, fixam-se nos pro-
blemas que a idia gerou efetivamente. Tentam aplic-la e ampli-la onde ela real-
mente se aplica e onde possvel expand-la, desistindo quando ela no pode ser
aplicada ou ampliada. Se foi na verdade uma idia seminal, ela se torna, em primeiro
lugar, parte permanente e duradoura do nosso arsenal intelectual. Mas no tem mais
o escopo grandioso, promissor, a versatilidade infinita de aplicao aparente que um
dia teve. (GEERTZ, 1989: 13)
O conceito de verdade peirciana social, emprica, como um conjunto de juzos
perceptivos; no que concerne a James, o caminho inverso: as verdades so individuais, so
verdades no momento em que o indivduo define seus efeitos prticos, ou seja, as verdades
novas agregam-se s velhas e cabe ao sujeito a escolha, dentro de suas convices, em agreg-
las e construir outras verdades que o satisfaam. Para ambos, a noo de verdico torna-se
uma classificao para todos os tipos de valores, voltando seus olhares aos fatos concretos do
cotidiano. James procura estabelecer seu Pragmatismo como um mtodo tolerante e concilia-
8
PEIRCE, C. S. Como tornar claras nossas idias, 1878.
29
dor, colocando no sujeito a escolha de suas prprias verdades e crenas. Ambos os autores
contrariam o esprito racionalista ortodoxo-radical, onde a verdade pura abstrao:
O pragmatismo, por mais devotado que seja aos fatos, no tem essa pretenso mate-
rialista sob a qual o empirismo ordinrio opera. Mais ainda, no faz qualquer obje-
o ao sistema de abstraes, na medida em que se possa percorrer os particulares
com sua ajuda. Interessado no em concluses, mas naquilo que nossos espritos e
nossas experincias elaboraram juntos, no tem preconceitos a priori contra a teolo-
gia. Se as idias teolgicas provam que tm valor para a vida concreta, so verdadei-
ras, pois o pragmatismo as aceita, no sentido de serem boas para tanto. O quanto se-
ro verdadeiras depender inteiramente de suas relaes com as demais verdades,
que tm, tambm, de ser reconhecidas. (JAMES, 1906: 27)
Crena hbito de ao, que guia os desejos humanos e regra seus atos, consistin-
do na indicao mais ou menos certa que faz com que o homem siga determinado caminho. J
a dvida um estado de inquietao e desconforto do qual se pretende sair para atingir o esta-
do de crena, de calma uma satisfao que no se quer abandonar, ou seja, quando em esta-
do de crena, no se age imediatamente, ao contrrio da dvida, que estimula uma ao ime-
diata.
Pela fora do hbito, indivduos permanecem ligados a velhas crenas mesmo per-
cebendo que estas no possuem fundamento algum. Para Peirce (1878), a nica funo do
pensamento a produo de crenas, estimulando ao pela irritao criada pelo estado de
dvida. Observa-se que o autor emprega tais conceitos (crena e dvida) no do modo usual-
mente empregado quando se trata de religio ou outros assuntos; emprega-as para posicionar
todas as questes e sua soluo. Peirce (1878: 5) define como o pensamento atinge o estado
de crena:
Qualquer que seja sua origem, a dvida estimula a razo a uma atividade fraca ou
enrgica, calma ou violenta. A conscincia v passar idias que fundem incessante-
mente uma na outra isto pode durar uma frao de segundo, uma hora ou anos -,
at que enfim tudo estando terminado decidimos como agiremos em circunstncias
parecidas com as que causaram em ns a hesitao, a dvida. Em outros termos,
atingimos o estado de crena.
Trs propriedades podem ser assinaladas da concepo de crena peirciana: 1)
algo que os homens tm conhecimento; 2) tem a funo de acalmar a irritao causada pela
dvida; e 3) estabelece na razo humana uma regra de conduta, um hbito de ao. As novas
30
crenas devem ser agregadas porque, segundo o autor, o pensamento uma ao, assim,
quando uma crena fixada gerando o repouso ao pensamento, ela serve como ponto de
partida para uma nova dvida, uma nova reflexo e, por conseguinte, para a necessidade da
fixao de uma nova crena, um efeito produzido no pensamento que influenciar um pensa-
mento futuro.
Para desenvolver o sentido de um pensamento, preciso ento simplesmente deter-
minar quais hbitos ele produz, pois o sentido de uma coisa consiste simplesmente
nos hbitos que ele implica. O carter de um hbito depende do modo com que ele
pode nos fazer agir no somente em tal circunstncia provvel, mas em toda cir-
cunstncia possvel, to improvvel quanto ela possa ser. O que um hbito depende
desses dois pontos: quando e como ele faz agir. Para o primeiro ponto: quando?
Todo estimulante ao deriva de uma percepo; para o segundo ponto: como? O
objetivo de toda ao levar ao resultado sensvel. (PEIRCE, 1878: 9)
A noo de realidade abordada por Peirce como sendo de importncia particular
ao objetivo da lgica e, por conseguinte, ao estabelecimento de sua teoria do hbito. O real
definido como aquilo de que os carteres no dependem da idia que se pode ter deles
(1878: 17). O autor argumenta que o nico efeito das coisas reais a produo de crenas,
pois todas as sensaes que estimulam surgem na conscincia sob a forma de crenas. Com
isto, acredita ter condies de distingui-las em crenas verdadeiras e em falsas (realidade e
fico), pois estas so de domnio exclusivo da fixao de crenas. Enfim, Peirce aponta o
Pragmatismo como um mtodo prtico em busca de resolues de problemas, que geram cer-
tas conseqncias:
Por que vincular tanta importncia a essas percepes distantes, sobretudo quando
voc tem por princpio que, somente as distines prticas significam alguma coi-
sa?... Parece-me que aplicando nossa regra, chegamos a assimilar to claramente o
que entendemos por realidade, e o fato que a base desta idia, que isso seria talvez
aceitvel para todos os que praticam o mtodo cientfico de fixar crena. (PEIRCE,
1878: 19)
Para James (1906: 25), as verdades unificam as opinies e servem de base para
novos conhecimentos, pois emergem da realidade, do contexto e das crenas humanas. Ao
receber informaes novas, o conhecimento antigo fica adormecido e, no decorrer das experi-
31
ncias vividas, essa quantidade nova de informaes une-se gradualmente ao conhecimento
anterior, modificando-o e amadurecendo-o. Experincia para James, experincia de vida,
cotidiana e individual, ao contrrio da experincia em laboratrio de Peirce:
Remendamos e consertamos mais do que renovamos. A novidade se infiltra; tinge a
massa antiga; mas tambm tingida pelo que a absorve. Nosso passado percebe e
coopera, e no novo equilbrio em que termina cada passo dado adiante no processo
de aprendizagem, acontece relativamente raro que o novo fato seja acrescido como
que cru... novas verdades, assim, resultam de novas experincias e de velhas verda-
des combinadas, e que se modificam entre si. visto que esse o caso nas mudan-
as de opinio que ocorrem hoje em dia, no h razo para supor que no tenha sido
assim por todas as pocas. (JAMES, 1906: 60)
Possuir a verdade no um fim, mas um meio para alcanar outras satisfaes vi-
tais, o homem estoca verdades em sua memria para que, em casos de emergncia, uma delas
se torne relevante e o faa agir, de forma til obteno de um fim. Para James, todas as ver-
dades so estruturadas verbalmente, armazenam-se e tornam-se disponveis sociedade atra-
vs da troca de idias, de proposies, enfim, atravs da comunicao social. Assim, o autor
acredita no falar apropriadamente e no pensar apropriadamente, pois sendo os nomes ar-
bitrrios, quando compreendidos, devem ser conservados a fim de evitar o afastamento de
qualquer verdade j estabelecida.
Contrrio tambm noo racionalista de verdade absoluta, sem esperar por qual-
quer processo de verificao e independente de experincias, James confere noo de ver-
dade um nome coletivo para os processos de verificao, anloga sade, fora, rique-
za pois so nomes ligados vida e que so perseguidos porque compensa persegui-los.
(JAMES, 1906: 78). Desta forma, a verdade construda no curso dos acontecimentos.
Rorty, partindo desta viso, faz uma crtica denominao relativista atribuda
aos pragmatistas, onde critica o racionalismo e suas normas universais argumentando a favor
da idia de que os homens fabricam seus problemas bem como suas solues, e no os en-
32
contram, como se fossem algo que estivessem no mundo independentemente dos seres huma-
nos; como afirmam os empiristas:
Os pragmatistas no perguntam se nossas crenas lidam com a realidade ou com a
aparncia, mas simplesmente se so os melhores hbitos de ao para realizarmos
nossos desejos... dizer que uma crena verdadeira significa dizer que ela um h-
bito de ao melhor que qualquer outro... No podemos considerar a verdade a meta
de uma investigao. O propsito da investigao chegar a um acordo entre os se-
res humanos sobre o que fazer, criar um consenso sobre os fins a serem atingidos e
os meios a serem usados para isso. A investigao que no consegue coordenar o
comportamento no uma investigao, mas um mero jogo de palavras. (RORTY,
1995: 125)
33
2 OS SIGNOS DA LINGUAGEM CINEMATOGRFICA E A EXTENCIONALIDA-
DE PARA MODELOS SOCIAIS
Na busca pelo aprofundamento da discusso acerca do processo de incorporao
de novos signos pela mente humana, parte-se do princpio de que a apreenso e interpretao
de obras ficcionais no se do de forma passiva pelo receptor. Ou seja, no se trata de um
fazer-de-conta que o futuro em Metropolis prev a tecnologia de clonagem humana, que o
futuro em Blade Runner projeta o paradigma da capacidade tecnolgica na criao de andri-
des, quase que inconfundveis aos seres humanos, que o futuro em Matrix totalmente pro-
gramado por cdigos numricos.
O receptor cinematogrfico adquire um estado de crena, um hbito de ao que,
mesmo momentneo, possibilita sua identificao com os personagens ou situaes da narra-
tiva, projetando-se enquanto sujeito para um futuro construdo no caso do gnero convenci-
onado por fico cientfica. Desta forma, o espectador, por vontade prpria, deixa-se envol-
ver pela fico atravs da ateno prestada aos personagens, aos objetos e acontecimentos
desse mundo ficcional, simplesmente porque est disposto a faz-lo. Este hbito de ao fun-
da-se em convenes tanto do prprio dispositivo da indstria cinematogrfica quanto do h-
bito j adquirido pela prtica receptiva dessa linguagem - que por sua vez j foi construda
pelas linguagens anteriores ao cinema, por exemplo, as verbais (narrativas orais ou escritas) e
as no-verbais (pintura, fotografia).
34
O cinema se apresenta, atravs de seu prprio aparato, como o herdeiro da Renas-
cena. Como mostram Marcelin Pleynet e Jean-Louis Baudry, a cmera incorpora o
cdigo da perspectiva descoberto pelos pintores da Renascena italiana. Os pintores
do Quattrocento observaram que o tamanho dos objetos, conforme percebidos na
natureza, varia proporcionalmente ao quadrado da distncia existente entre eles e o
olho humano. Essa lei, que caracteriza a retina, foi incorporada em suas pinturas, e
assim plantaram-se as sementes do ilusionismo pictrico. Delas resultaram a impres-
so de profundidade e, em ltima anlise, os efeitos impressionistas trompe doeil. E
o que o cinema fez foi simplesmente incorporar esse cdigo ao aparato reprodutivo
da cmera. (STAM, 1981: 47)
A narrativa ficcional vale-se da capacidade imaginativa, ou seja, da habilidade
humana de construir representaes de objetos que no existem no mundo real ou que no se
fazem presentes materialmente. Neste sentido, os hbitos de ao consistem na continuidade
entre os signos ficcionais e os signos da realidade, oportunizando ao espectador - inserido
num contexto propcio
9
- o seu envolvimento na narrativa, a absoro de experincias no
familiares ao seu contexto um futuro longnquo, como o caso das trs obras aqui analisa-
das. Trata-se de um simples acordo tcito entre o espectador e o contador de histrias, como
se este ltimo dissesse: imaginemos juntos, o mundo desta forma.
Pode-se encarar a narrativa ficcional como uma re-apresentao da realidade que
desloca a ateno de um mundo experimentado-real, para um mundo construdo-irreal. Esse
deslocamento da percepo possibilita ao ser humano a aquisio de novas idias, novos valo-
res, novos conceitos, portanto, novos signos. Favorece a projeo de um modo diferente de
estar-no-mundo. Stam aborda a dialtica de arte e realidade, afirmando que a crtica ao ilu-
sionismo no cinema , na verdade, a crtica ao nosso "desejo de satisfaes arcaicas", em trs
dimenses:
No plano psicolgico, ela critica nossas tendncias regressivas, nosso desejo de re-
cuarmos aos modelos e prazeres infantis. Os filmes, tal como sonhos, sugere-nos Je-
an-Louis Baudry, favorecem a regresso do eu ao estado de narcisismo primitivo, o
9
A sala de cinema, a disposio dos lugares e sua relao com a grande tela. Este contexto propcio tambm se
refere disponibilidade em que o espectador se encontra e que, por vontade prpria, se sujeita identificao e
ao envolvimento com a obra cinematogrfica.
35
retorno a um ponto da via psquica em que a percepo e a representao no so
ainda diferenciadas. No plano histrico, ela critica a nostalgia longnqua das forma-
es sociais do passado que julgamos serem formas mais simples e mais humanas de
vida. E, no plano artstico, ela critica o gosto que temos pelas histrias que ouvimos
em criana e nosso desejo de retornar ao "era uma vez" de nossa infncia, ao tempo
em que os heris eram sempre heris, os viles sempre viles e, no final, tudo saa
bem. (STAM, 1981: 29)
2.1 A CONTINUIDADE ENTRE MUNDOS QUE NUNCA FORAM SEPARADOS
O Pragmatismo peirciano prope a categorizao dos fenmenos da experincia
atravs das categorias de Primeiridade, Secundidade e Terceiridade
10
. Para o filsofo estrutu-
ralista, a Lgica que valida os argumentos fenomenolgicos, dando o estatuto de cincia
especial Metafsica tendo em mente que a fenomenologia no pretende verdadeiramente
nada, a no ser que certas aparncias so dadas. (IBRI, 1992: 21)
A Lgica, ou Semitica, no apenas uma atitude reguladora frente ao pensa-
mento, mas enquanto condutora do raciocnio, configura-se na unificao da variedade obser-
vada nos mltiplos individuais. Em outras palavras, Peirce parte do modelo aristotlico con-
ceituando o conhecimento como empreendimento generalizador. A Lgica pretende escru-
tinar as leis que regem o pensamento humano e deste em sua interface com os objetos reais e
os ficcionais. Do escrutnio fenomenolgico retira-se a definio peirciana de realidade:
(...) aquele modo de ser em virtude do qual a coisa real como ela , sem conside-
rao do que qualquer mente ou qualquer coleo definida de mentes possa repre-
sent-la ser. (...) O real aquilo que no o que eventualmente dele pensamos, mas
que permanece no afetado pelo que possamos dele pensar. (IBRI, 1992: 25)
10
Conceitos que sero definidos no decorrer deste trabalho.
36
Desta definio realista, depreende-se um elemento de alteridade, de fora bruta,
que caracteriza os objetos reais. Estes exercem sua influncia sobre a conscincia e a partir
da o indivduo reconhece o objeto como existente, afinal, ele reage sobre a conscincia e esta
reage sob sua reao. A partir deste elemento de alteridade, o autor assinala que a realidade
no se fecha absolutamente somente nessa categoria e que atravs do pensamento lgico,
que leva a inferir a existncia dos objetos - conscincia de existncia e onde se d a afirma-
o do ego, atravs da negao de um outro. Quem existe o ego, e durante sua experincia
fenomenolgica de secundidade, lcito afirmar que h uma transferncia da experincia do
ser para uma experincia do objeto. Segundo Peirce:
Quando dizemos que uma coisa existe queremos dizer que ela reage sobre outras
coisas. Evidencia-se que estamos transferindo para ela nossa experincia direta de
reao, ao dizermos que uma coisa age sobre a outra. (...) E esta noo de ser tal
qual as outras coisas nos moldam, algo de tal modo proeminente em nossas vidas
que concebemos que as outras coisas tambm existem em virtude de suas reaes
umas com as outras. (IBRI, 1992: 27)
As categorias de Primeiridade, Secundidade e Terceiridade, classificam os signos
do mundo sensvel a fim de analisar uma determinada variedade de objetos sejam reais ou
imaginrios continuando os esforos filosficos em delimitar os fenmenos que surgem
mente humana.
Peirce prope, como forma de se chegar s caractersticas da mente humana, uma
categorizao dos fenmenos, uma categorizao da experincia, das faculdades da
mente. Trata-se de uma abordagem exclusivamente fenomenolgica. (...) As catego-
rias que Peirce se prope a classificar so dessa forma uma taxonomia de formas de
manifestao do fenmeno; pode mesmo ser considerada uma categorizao das
'aes da mente'. (GODOY, 2001: 81)
Para se chegar a essa categorizao no preciso ir alm da experincia ordinria
do ser humano, pois esta percebe fenmenos para os quais est preparada a perceber, novos
signos, novas regras, novos paradigmas, por exemplo. O estar preparada a internalizar novos
signos depende da utilidade que estes possuiro na vida cotidiana, suas conseqncias prti-
cas. Esta afirmao ilustra as bases do Pragmatismo peirciano, para o qual, os elementos de
37
todo conceito entram no pensamento lgico atravs dos portes da percepo e dele saem
pelos portes da ao utilitria; e tudo aquilo que no puder exibir seu passaporte em ambos
esses portes deve ser apreendido pela razo como elemento no autorizado (PEIRCE,
1977:239).
Se o homem pensa atravs de signos, isto significa afirmar sua capacidade de in-
terpretao do mundo sensvel atravs dos signos com os quais est em contato, bem como
capaz de inventar novos signos para objetos que ainda no conhece. Uma vez que os signos
do mundo fazem parte da grande enciclopdia, a comunicao social torna-se possvel e,
para o Pragmatismo peirciano, o que determina a fixao de signos na linguagem o hbito
de ao.
O autor prope que a Fenomenologia enquanto mtodo para o olhar observacio-
nal, se desenha como a cincia que prope efetuar o inventrio das caractersticas do fen-
meno
11
. Desta forma, e pretendendo o estatuto de cincia, as descobertas da Fenomenologia
podem ser verificadas pelo homem comum, j que o universo da experincia fenomnica
identifica-se com a experincia cotidiana de cada ser humano destituindo a Fenomenologia
peirciana de quaisquer bases dogmticas ou de postulao geral de verdades.
Assim, tal como conceituada, a experincia constitui-se como fator corretivo do
pensamento, sob esse ponto de vista, a Fenomenologia no pretende ser uma cincia da reali-
dade, mas apenas busca escrutinar as classes que permeiam toda experincia comum, ficando
restrita s suas aparncias. Desta forma, o mundo fenomenolgico caracteriza-se como interi-
or e exterior, exigindo um olhar despido de qualquer aparato terico:
11
Por faneron, eu entendo o total coletivo de tudo aquilo que est de qualquer modo presente na mente, sem
qualquer considerao se isto corresponde a qualquer coisa real ou no. (PEIRCE apud IBRI, 1992: 04)
38
As faculdades que devemos nos esforar por reunir para este trabalho so trs. A
primeira e principal aquela rara faculdade, a faculdade de ver o que est diante dos
olhos, tal como se apresenta sem qualquer interpretao... Esta a faculdade do ar-
tista que v, por exemplo, as cores aparentes da natureza como elas se apresentam
(...). A segunda faculdade de que devemos nos munir uma discriminao resoluta
que se fixa como um bulldog sobre um aspecto especfico que estejamos estudando,
seguindo-o onde quer que ele possa se esconder e detectando-o sob todos os seus
disfarces. A terceira faculdade de que necessitamos o poder generalizador do ma-
temtico, que produz a frmula abstrata que compreende a essncia mesma da ca-
racterstica sob exame, purificada de todos os acessrios estranhos e irrelevantes.
(IBRI, 1992: 5-6)
Logo, as trs faculdades que o observador deveria desenvolver seriam: ver, atentar
para, generalizar. Reduzindo os modos de ser da experincia em trs categorias universais,
Peirce demonstra sua irredutibilidade e suficincia. Sobre a Secundidade: parece ser evidente
que, desde a mais precoce experincia de estar no mundo, o homem percebe que o transcurso
deste no se sujeita sua vontade e, muitas vezes, contraria a idia que faz dele: o ego, o pen-
samento humano, est em constante coliso com os fatos da realidade.
H nestes elementos da experincia uma conscincia de dualidade: uma que age e
outra que reage ao modo da binaridade de foras. assim que no fenmeno surge a idia do
outro (de alter, de alteridade), e com ela aparece a idia de negao, a partir da noo ele-
mentar de que as coisas no so o que se quer que sejam, muito menos so estatudas por
concepes prprias. A binaridade presente neste se opor a traz consigo a idia de segundo
em relao a um primeiro, constituindo uma experincia direta, no mediatizada.
Algo reage sobre o ser humano, fazendo-o experimentar uma dualidade bruta, um
elemento de conflito que consiste na ao mtua entre duas coisas sem considerar qualquer
tipo de terceiro ou meio e, em particular, sem considerar qualquer lei de ao. Esta experin-
cia de reao envolvendo negao adjetivada de bruta por Peirce, pois traz de modo direto a
fora de um segundo, caracterizado por ser esta coisa e no aquela.
39
A experincia direta com isto que no aquilo se d num recorte do espao e
do tempo. O mundo como exterioridade assume, na experincia da segunda categoria, o car-
ter de no-ego pelo seu trao de alteridade revelado de modo no mediato. A partir destas
afirmaes que Peirce se afasta radicalmente do cartesianismo, uma vez que a existncia do
ego dada pela negao numa experincia imediata e no atravs de uma dvida formulada
conceitualmente, solucionvel pela mediao do cogito.
No podemos comear pela dvida completa. Devemos comear com todos os pre-
conceitos que realmente temos quando encetamos o estudo da filosofia. Estes pre-
conceitos no devem ser afastados por uma mxima, pois so coisas a respeito das
quais no nos ocorre que possam ser questionadas. Por conseguinte, este ceticismo
inicial ser mero auto-engano e no dvida real; e ningum que siga o mtodo carte-
siano jamais ficar satisfeito enquanto no recuperar formalmente todas aquelas
crenas que, formalmente, abandonou. (...) No decorrer de seus estudos, verdade,
uma pessoa pode achar razes para duvidar daquilo em que comeou acreditando;
mas neste caso ela duvida porque tem uma razo positiva para tanto, e no em virtu-
de da mxima cartesiana. No pretendemos duvidar, filosoficamente, daquilo de que
no duvidamos em nossos coraes. (PEIRCE, 2000: 260)
O homem torna-se consciente do eu ao tornar-se consciente do no eu. Sob esta
segunda faculdade est toda experincia pretrita sobre a qual no se tem qualquer poder mo-
dificador, ou seja, o vivido, como tal, uma pluralidade de ocorrncias. O passado age sobre a
conscincia precisamente como um objeto inexistente o faz. Assim, a experincia pretrita
tem estatuto de alteridade para a conscincia, pois ao identificar em seu tempo presente a
existncia de um tempo pretrito, o homem torna-se consciente de algo que conflita em sua
mente (um pretrito que no seu presente) e, desta forma, a segunda categoria assume seu
papel de alteridade.
Tal delimitao do espao e do tempo no ocorre na Primeiridade. na Secundi-
dade que se toma conscincia do aqui e do agora, do estar em algum lugar e no em outro, de
ser isto e no aquilo. Segundo o realismo de Peirce, os objetos reais so alter e permanecem
independentes do pensamento que os representa, em outras palavras, dizer que algo real
significa que este algo reage, insiste fisicamente em oposio a outro, provocando efeitos
40
imediatos nos sentidos. A afirmao vejo uma cadeira implica tal reao, pois o que se v
reage contra a conscincia, reage contra outros objetos que no fazem parte da classe cadei-
ras.
A noo de Primeiro predominante nas idias de novidade, vida, liberdade. Livre
aquilo que no tem outro atrs de si determinando suas aes, portanto, as idias de compul-
so e fora so banidas desta categoria. Simples em si mesmo, esse estado primeiro da consci-
ncia tinge-se no pelo passado com alteridade nem pelo futuro por meio da intencionalidade
de um plano, que da natureza do pensamento. A Primeiridade a faculdade da conscincia
imediata que, por ser o que sem referncia a mais nada, est absolutamente no presente, na
sua ruptura com o passado e com o futuro. A fim de exemplificar esse instante atemporal em
Primeiridade, traz-se o conceito de Aura de Walter Benjamin e, a seguir, um trecho de Fer-
nando Pessoa:
Poder-se-ia defini-la como a nica apario de uma realidade longnqua, por mais
prxima que ela possa estar. Em uma tarde de vero, num momento de repouso, se
algum segue no horizonte, com o olhar, uma linha de montanhas, ou um galho cuja
sombra protege seu descanso, ele sente a aura dessas montanhas, desse galho.
(BENJAMIN, 1994)
Eu devia v-las, apenas v-las;/ V-las at no poder pensar nelas,/ V-las sem tem-
po, nem espao,/ Ver podendo dispensar tudo menos o que se v/ esta a cincia de
ver, que no nenhuma.
12
bastante simples o princpio de que tudo o que est imediatamente presente para
um homem o que est em sua mente no instante presente. Toda a sua vida est no presente,
mas quando ele pergunta o que o contedo desse instante imediato, sua questo sempre vem
muito tarde, ou seja, o presente se foi e o que dele permanece j est transformado. Racio-
nalizar sobre o presente mental a fim de mediar conceitualmente o contedo do sentimen-
12
Fernando Pessoa O Guardador de Rebanhos, XXIV, Lisboa, Edies tica, 1979. (apud IBRI, 1992: 06)
41
to perd-lo na sua presentidade, considerando que tal anlise envolve uma comparao
com o pretrito, ou seja, j se estaria em outra categoria: a Terceiridade.
Na medida em que o ser humano compelido a pr em relao a idia de ruptura
de um tempo interno conscincia com a possibilidade desta ruptura ocorrer, tambm, ao
nvel de um tempo objetivo, ele est promovendo a mediao entre duas idias, por lig-las
em um conceito geral, a saber, a chamada Terceiridade. A continuidade entre a experincia e
o pensamento, a mediao entre a conscincia e um fato bruto o papel desta terceira catego-
ria.
A experincia da mediao entre duas coisas traduz-se numa experincia de snte-
se, numa conscincia sintetizadora. Para Peirce, parece haver na mente uma tendncia gene-
ralizao, que busca subsumir ao conceito um nmero maior de fenmenos, tornando-o mais
geral. Como elemento de mediao, o pensamento no poder ser desvinculado do passado e
destitudo de intencionalidade para um futuro, ou seja, a cognio deve ter vnculo com o fu-
turo como moldadora da conduta, da ao, reduzindo o fato bruto inteligibilidade. A Feno-
menologia de Peirce evidencia que a Terceiridade parece ter uma extencionalidade no tempo,
traada pela sua natureza de instncia mediadora entre passado vivido e ao futura.
De que maneira se d a relao entre objetos reais e imaginrios na construo dos
mitos? Viu-se que, para Peirce, os objetos do mundo so divididos em fices, sonhos, de um
lado, e realidades, de outro. Os objetos ficcionais so aqueles que existem apenas porque uma
mente ou conjunto de mentes os imagina; por outro lado, os objetos reais so aqueles que
existem independentemente de qualquer mente, ou seja, no alterado ou modificado pela
vontade da mente. Assim, o real aquilo que no o que eventualmente pode-se pensar dele,
mas que permanece no afetado pelo que se possa pensar dele.
42
J os objetos que se apresentam como onricos e fictcios, constroem o objeto na
conscincia e, portanto, ao desfazer a representao desses objetos imaginrios, desfaz-se
tambm o prprio objeto. Para Peirce (1977:269):
(...) sempre que pensamos, temos presente na conscincia algum sentimento, ima-
gem, concepo ou outra representao que serve como signo. Mas segue-se de nos-
sa prpria existncia que tudo o que est presente a ns uma manifestao feno-
menal de ns mesmos. Isto no impede que haja um fenmeno sem ns, tal como
um arco-ris simultaneamente uma manifestao tanto do sol quanto da chuva.
Portanto, quando pensamos, ns mesmos, tal como somos naquele momento, surgi-
mos como um signo. Ora, um signo tem, como tal, trs referncias: primeiro, um
signo para algum pensamento que o interpreta; um signo de algum objeto ao qual,
naquele pensamento, equivalente. Terceiro, um signo em algum aspecto ou qua-
lidade, que o pe em conexo com seu objeto. (...). Se, depois de um pensamento
qualquer, a corrente de idias flui livremente, esse fluir segue as leis da associao
mental. Nesse caso, cada um dos pensamentos anteriores sugere algo ao pensamento
que se segue, i.e., o signo de algo para este ltimo.
Esta diviso entre objetos reais e ficcionais parece, primeira vista, insinuar uma
contradio metodolgica do pensamento peirciano em sua tentativa de abolir o dualismo
filosfico. Porm, a incluso da terceira categoria expe o prprio sentido do que Peirce cha-
ma de extencionalidade entre estes objetos, em outras palavras, percebe-se que atravs deste
elemento de Terceiridade, que se constitui a continuidade entre interior e exterior.
Justifica-se assim, o uso do termo continuidade ao abordar a relao entre ativida-
des mentais e experincias efetivas, em detrimento do uso do termo mediao. Continuar
estender, ou seja, manter o carter de extenso entre os ditos mundos externos e internos a
fim de esclarecer cada vez mais o pensamento mitolgico como gerador de hbitos de ao,
de crenas e suas respectivas significaes atravs de signos sociais. Ao apreender-se tal con-
ceito no como ligao entre dois termos, mas como continuao entre o objetivo e o sub-
jetivo os mundos que nunca foram separados, segundo Rorty (1994) procura-se o distan-
ciamento do dualismo nas anlises aqui propostas.
As produes cinematogrficas aqui escolhidas como objetos de anlise justifi-
cam-se por se tratarem de invenes pertencentes a um meio de comunicao global, que
43
contam histrias utilizando-se das linguagens de seus antecessores (pintura, teatro, fotografia,
reproduo sonora) e abarcando as linguagens de seus contemporneos (televiso, internet) - e
que procura at hoje diversificar a sua prpria. Como um meio de comunicao global, o ci-
nema tambm se destaca por ser um formador de opinio e influenciador de comportamentos.
Tudo se adapta perfeitamente ao filme e ao romance, pois sua prpria natureza tende
a transform-los em sumas. O romance, em seu incio, valeu-se dos materiais mais
diversos: fices da corte, literatura de viagem, alegoria, livros de piadas. Prosseguiu
invadindo o territrio de outras artes para criar os romances poticos, dramticos,
cinematogrficos e jornalsticos. E o que verdade com relao ao romance, mais
verdadeiro ainda com relao ao cinema, pois, enquanto as palavras, e apenas elas,
so matria de expresso do romance, o cinema uma linguagem composta. Devido,
precisamente, virtude de suas diversas matrias de expresso a fotografia se-
qencial, a msica, o som fontico, o rudo. Alm disso, o cinema "herda" todas as
formas de arte a elas associadas. O cinema uma linguagem rica e sensorialmente
composta caracterizada pelo que Metz chama de "heterogeneidade cdiga", aberta a
todos os tipos de simbolismo literrio ou pictrico, a todas as representaes coleti-
vas, a todas as ideologias, a toda esttica e ao jogo infinito das influncias dentro do
cinema, dentro de outras artes e, de modo geral, dentro da cultura. O cinema pode
incluir literalmente a pintura, a poesia e a msica, ou evoc-los por metforas atra-
vs da imitao de seus procedimentos. (STAM, 1981: 56)
Ao projetar suas imagens aos milhares de espectadores, estes absorvem tais signos
incorporando-os no seu prprio imaginrio, tornando-os coletivos, ou seja, transportando es-
ses signos para a linguagem cotidiana. Suas imagens em movimento podem no refletir a rea-
lidade tal e qual em que se vive, mas so os reflexos das transformaes e substituies que
alimentam a prtica social:
Da proposio de que todo pensamento um signo, segue-se que todo pensamento
deve enderear-se a algum outro pensamento, deve determinar algum outro pensa-
mento, uma vez que essa a essncia do signo. (...) O fato de que a partir de um
pensamento deve ter havido um outro pensamento tem um anlogo no fato de que a
partir de um momento passado qualquer, deve ter havido uma srie infinita de mo-
mentos. Portanto, dizer que o pensamento no pode acontecer num instante, mas que
requer um tempo, no seno outra maneira de dizer que todo pensamento deve ser
interpretado em outro, ou que todo pensamento est em signos. (PEIRCE, 1977:253)
Portanto, parte-se da afirmao de que o pensamento mtico, enquanto construo
simblica propagadora de paradigmas de comportamento social, ou enquanto forma de pen-
samento para abordar e construir relaes entre os fenmenos reais e imaginrios; naturaliza
44
signos simblicos atravs da linguagem cinematogrfica e esta, enquanto propagadora de mi-
tos, transporta esses mesmos signos para a experincia vivida, atravs dos hbitos de ao.
2.2 O MITO ENQUANTO FONTE DE CRENAS
Para Lvi-Strauss (2003), o mito tem a funo de traduzir simbolicamente uma
contradio existente na vida social futuro/presente; homem/mquina, por exemplo. Na
tentativa de que tais contradies sejam sanadas, da narrativa mtica emerge um elemento
mediador, como a caa para a oposio guerra/agricultura, para utilizar um exemplo do au-
tor. Assim, parte-se do princpio de que estes dualismos, enquanto estrutura estruturante do
pensamento humano, servem linguagem cinematogrfica.
Sob a gide de autores como Umberto Eco, Claude Lvi-Strauss, Joseph Campbell
e Roland Barthes, pretende-se iniciar e, de certa forma unificar, a conceituao do chamado
pensamento mtico. De incio, invoca-se a definio de mitificao como:
(...) simbolizao incnscia, identificao do objeto com uma soma de finalidades
nem sempre racionalizveis, projeo na imagem de tendncias, aspiraes e temo-
res particularmente emergentes num indivduo, numa comunidade, em toda uma
poca histrica. (ECO, 2001: 239)
Em Lvi-Strauss (1993: 237), o mito definido por um sistema temporal e diz res-
peito a acontecimentos passados, assim, mito linguagem e parte integrante da lngua, pois
pelo discurso que ele se d a conhecer. O autor acrescenta que o valor intrnseco atribudo
ao mito provm justamente desses acontecimentos, os quais decorrem em um momento do
tempo, e que, por isso, formam uma estrutura permanente. Esta permanncia estrutural se
relaciona ao passado, ao presente e ao futuro, constituindo uma estrutura tridica do mito:
45
histrica, no-histrica e de natureza lingstica. Em outras palavras, no nvel da lngua
onde o mito formulado; no nvel da palavra onde ele pode ser analisado como tal; no nvel
do objeto onde ele se d a entender daquilo que fala. O antroplogo afirma que, nas socie-
dades contemporneas, a ideologia poltica se limitou a substituir o pensamento mtico:
(...) um mito percebido como mito por qualquer leitor, no mundo inteiro. A subs-
tncia do mito no se encontra nem no estilo, nem no modo de narrao, nem na
sintaxe, mas na histria que relatada. O mito linguagem; mas uma linguagem que
tem lugar em um nvel muito elevado, e onde o sentido chega, se licito dizer, a de-
colar do fundamento lingstico sobre o qual comeou rolando. (LVI-STRAUSS,
1993: 237)
Na tentativa de entender o sentido do mito, o mitlogo no pode se ater aos ele-
mentos isolados que o compem, mas sim maneira pela qual estes elementos esto combi-
nados. Se mito linguagem e constitui-se como parte integrante dela, a prpria linguagem
utilizada no mito manifesta propriedades especficas e s podem ser pesquisadas acima do
nvel habitual da expresso lingstica, ou seja, so propriedades mais complexas do que as
encontradas em qualquer expresso lingstica.
Em sua obra Mitologias, Barthes procura relacionar o dualismo Natureza-Histria
expressado nos mais variados produtos sociais da atualidade. O autor considera o mito como
um sistema de comunicao, uma mensagem, uma forma de significao, e no um objeto,
um conceito ou uma idia. Na viso do autor, tudo pode constituir um mito desde que seja
suscetvel de ser julgado por um discurso (2001: 131), pois ele no se define pelo seu objeto
(sobre o que aborda), mas sim pela forma pela qual o aborda, dito isto, o mito possui limites
formais, mas no substanciais. Quanto ao conceito de mito ambos os autores o afirmam
como linguagem suscetvel de anlise a partir de seu discurso:
O ponto de partida desta reflexo era, as mais das vezes, um sentimento de impaci-
ncia frente ao natural com que a imprensa, a arte, o senso comum, mascaram
continuamente uma realidade que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, no dei-
xa de ser por isso perfeitamente histrica: resumindo, sofria por ver a todo momento
confundidas, nos relatos da nossa atualidade, Natureza e Histria, e queria recuperar
na exposio decorativa do-que--bvio, o abuso ideolgico que, na minha opinio,
se dissimula. (BARTHES, 2001:07)
46
O autor nega a existncia de mitos eternos, acentuando que o real transformado
em discurso pela histria, comandando, assim, a vida e a morte da linguagem mtica. A mi-
tologia s pode ter um fundamento histrico, visto que o mito uma fala escolhida pela hist-
ria: no poderia de modo algum surgir da natureza das coisas (132).
13
Cada objeto do mundo pode passar de uma existncia fechada, muda, a um estado
oral, aberto apropriao da sociedade, pois nenhuma lei, natural ou no, pode im-
pedir-nos de falar das coisas. Uma rvore uma rvore. Sim, sem dvida. Mas uma
rvore, dita por Minou Drouet, j no exatamente uma rvore, uma rvore deco-
rada, adaptada a um certo consumo, investida de complacncias literrias, de revol-
tas, de imagens, em suma, de um uso social que acrescenta pura matria. (BAR-
THES, 2001: 131-132)
O mitlogo Joseph Campbell (1988)
14
aborda a questo do mito como agente re-
velador de verdades que no podem ser captadas de outra forma. O mito a conexo entre o
que pode ser conhecido e o que nunca poder ser conhecido, pois se trata de um mistrio que
transcende a pesquisa humana: qual a fonte da vida? Ningum sabe. Por isso, a importncia
do mito est em conhecer um pouco do mistrio da vida e da sua prpria vida, isso d a exis-
tncia uma outra dinmica, um novo equilbrio, uma nova harmonia. Pensar em termos mito-
lgicos ajuda o ser humano a observar a vida bem como suas provas, tirando a ansiedade,
tornando-se mais ajustado aos aspectos inevitveis a morte, por exemplo -, ajudando a res-
ponder sim ou no aventura de estar vivo com todas as suas vicissitudes.
Lvi-Strauss objeta o mtodo sociolgico que colocou a questo das relaes entre
a mentalidade dita primitiva e o pensamento cientfico e, assim, buscaram resolv-la in-
vocando diferenas qualitativas no modo pelo qual o esprito humano trabalha. Entretanto,
no puseram em dvida que, em ambos os casos, o esprito se aplicava sempre aos mesmos
13
Sartre polemizaria a afirmativa de que o homem reflexo da realidade objetiva dizendo que o sujeito
aquilo que faz com o que fazem dele, em outras palavras, o homem aquilo que faz com o que o mito lhe faz.
Em sua famosa frase: o homem condenado a ser livre, livre para tomar decises e escolher a partir das expe-
rincias objetivas, porm, condenado a sempre faz-lo, pois conscincia liberdade. Observa-se que a
questo da escolha encontra-se tambm em William James. (O Ser e o Nada, 2005)
14
CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. Log On Ed. Multimdia, 1988.
47
objetos (morte, para usar o mesmo exemplo). A lgica do pensamento mtico, para o autor,
pareceu to exigente quanto aquela na qual repousa o pensamento positivo e, no fundo, pouco
diferente, pois a diferena se deve menos qualidade das operaes que natureza das coisas
sobre as quais se dirigem essas operaes.
Talvez, descobriremos um dia que a mesma lgica se produz no pensamento mtico
e no pensamento cientfico, e que o homem pensou sempre do mesmo modo. O pro-
gresso no teria tido a conscincia por palco, mas o mundo, onde uma humanidade
dotada de faculdades constantes ter-se-ia encontrado, no decorrer de sua longa hist-
ria, continuamente s voltas com novos objetos. (LVI-STRAUSS, 2003:265)
procura de uma estrutura mitolgica, Lvi-Strauss denomina mitemas s uni-
dades constitutivas do mito que implicam a presena de outras unidades, que intervm na
estrutura da lngua, a saber, os fonemas, os morfemas, o semantemas, apontando que cada
unidade difere das que as precedem por um mais alto grau de complexidade. Segundo o autor,
para reconhecer e isolar essas grandes unidades constitutivas necessrio procur-las no nvel
da orao, supondo que os verdadeiros mitemas no so as relaes isoladas, mas feixes de
relaes, e que somente sob a forma de combinaes de tais feixes que os mitemas adqui-
rem uma funo significante. Segundo o Estruturalismo de Lvi-Strauss (2003:264-265):
(...) perguntou-se muitas vezes porque o mito, e mais geralmente a literatura oral,
usam to frequentemente a duplicao, a triplicao ou quadruplicao de uma
mesma seqncia. Se nossas hipteses so aceitas, a resposta fcil. A repetio tem
uma funo prpria, que de tornar manifesta a estrutura do mito. Mostramos, com
efeito, que a estrutura sincro-diacrnica que caracteriza o mito permite ordenar seus
elementos em seqncias diacrnicas (as linhas de nossos quadros), que devem ser
lidas sincronicamente (as colunas). Todo mito possui, pois, uma estrutura folheada
que transparece na superfcie, se lcito dizer, no e pelo processo de repetio. (...)
Contudo, as camadas no so jamais rigorosamente idnticas. Se verdade que o
objeto do mito fornecer um modelo lgico para resolver uma contradio (tarefa ir-
realizvel, quando a contradio real), um nmero teoricamente infinito de cama-
das ser criado, cada qual ligeiramente diferente da que a precedeu. O mito se des-
envolver como em espiral, at que o impulso intelectual que o produziu seja esgo-
tado. O crescimento do mito , pois, contnuo, em oposio a sua estrutura, que
permanece descontnua.
Para a semiologia de Barthes, o mito, por se tratar de uma fala, uma mensagem,
podendo no somente exprimir-se oralmente, mas tambm atravs de outras representaes: o
48
discurso escrito, assim como a fotografia, o cinema, a reportagem, o esporte, os espetculos, a
publicidade, todas estas representaes podem servir de suportes fala mtica.
Entender-se-, portanto, daqui para diante, por linguagem, discurso, fala, etc., toda a
unidade ou toda a sntese significativa, quer seja verbal ou visual: uma fotografia
ser, por ns, considerada fala exatamente como um artigo de jornal; os prprios
objetos podero transformar-se em fala se significarem alguma coisa. Esta maneira
genrica de conceber a linguagem justifica-se, alis, pela prpria histria das escritu-
ras: muito antes da inveno do nosso alfabeto, objetos como o kipu inca, ou dese-
nhos como os pictogramas, eram falas normais. Isto no quer dizer que se deva tratar
a fala mtica como a lngua: na verdade, o mito depende de uma cincia geral exten-
siva lingstica, que a semiologia. (BARTHES, 2001: 133)
Enquanto estudo de um tipo de discurso, a mitologia apenas um fragmento da ci-
ncia postulada por Saussure.
15
A Semiologia uma cincia da forma, visto que estuda as
significaes independentemente do seu contedo.
Menos aterrorizada pelo espectro de um formalismo, a crtica histrica teria sido,
talvez, menos estril; teria compreendido que o estudo especfico das formas no
contradiz em nada os princpios necessrios da totalidade da Histria. Antes pelo
contrrio: quanto mais um sistema especificamente definido em suas formas, tanto
mais dcil crtica histrica. (...) O importante, perceber que a unidade de uma
explicao no pode provir da amputao de tal ou tal das suas abordagens, mas, de
acordo com a frase de Engels, da coordenao dialtica das cincias particulares que
nela esto engajadas. o que se passa com a mitologia: faz parte simultaneamente
da semiologia, como cincia formal, e da ideologia, como cincia histrica: ela estu-
da idias-em-forma
16
. (BARTHES, 2001: 134)
Todo estudo semiolgico postula uma relao entre dois termos: um significante e
um significado, relacionando os objetos de ordens diferentes e constituindo-os no de forma
igualitria, mas equivalente. Contrariamente ao que sucede na linguagem comum, que diz
simplesmente que o significante exprime o significado, deve-se considerar em todo o sistema
semiolgico no apenas dois, mas trs termos diferentes, pois o que se apreende no abso-
15
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingstica Geral, 1969.
16
Nota do autor: O desenvolvimento da publicidade, da grande imprensa, da rdio, da ilustrao, no menci-
onando sequer a sobrevivncia de uma infinidade de ritos comunicativos (ritos do parecer social), tornam
mais urgente do que nunca a constituio de uma cincia semiolgica. Num s dia, quantos campos verdadei-
ramente insignificantes percorremos ns? Poucos certamente e, por vezes nenhum. Eis-me perante o mar:
sem dvida, ele no transmite nenhuma mensagem. Mas na praia, quanto material semiolgico! Bandeiras,
slogans, tabuletas, roupas e mesmo um bronzeado constituem uma infinidade de mensagens.
49
lutamente um termo, um aps o outro, mas a correlao que os une, assim, tem-se, segundo
Barthes: o significante, o significado e o signo (totalidade associativa dos dois primeiros ter-
mos).
Naturalmente, estes trs termos so puramente formais, e pode-se-lhes atribuir
contedos diferentes. Eis alguns exemplos: para Saussure, que trabalhou com um
sistema semiolgico especfico, mas metodologicamente exemplar a lngua o
significado o conceito, o significante a imagem acstica (de ordem psquica), e a
relao entre o conceito e a imagem o signo (a palavra, por exemplo), entidade
concreta. Para Freud, como se sabe, o psiquismo uma espessura de equivalncias,
de valores de equivalncia. Um termo constitudo pelo sentido manifesto do
comportamento, um outro pelo sentido latente ou sentido prprio (por exemplo, o
substrato de um sonho); quanto ao terceiro termo, , tambm, neste caso, uma cor-
relao dos dois primeiros: o prprio sonho, na sua totalidade, o ato falho ou a
neurose, concebidos como compromissos, economias realizadas graas juno de
uma forma (primeiro termo) e de uma funo intencional (segundo termo). Aqui se
v como necessria a distino entre signo e significante: o sonho, para Freud,
no nem o seu contedo manifesto, nem o seu contedo latente, mas sim a ligao
funcional dos dois termos. (BARTHES, 2001: 135-136)
O mito um sistema particular, pois construdo a partir de uma cadeia semiol-
gica que existe j antes dele, um sistema semiolgico segundo: o que signo (totalidade
associativa de um conceito e de uma imagem) no primeiro sistema, transforma-se em simples
significante no segundo. As matrias-primas da fala mtica (lngua propriamente dita, fotogra-
fia, pintura, cartaz, ritual, objeto, etc.), por mais diferentes que sejam inicialmente, desde o
momento em que so captadas pelo mito, reduzem-se a uma pura funo significante: o mito
v nelas apenas uma mesma matria-prima; a sua unidade provm do fato de serem todas re-
duzidas ao simples estatuto de linguagem. Assim, o mito considera apenas uma totalidade de
signos, um signo global, o termo final de uma primeira cadeia semiolgica.
No mito existem dois sistemas semiolgicos deslocados: um sistema lingstico, a
lngua (ou outros modos de representao), a que Barthes chama de linguagem-objeto, refe-
rente linguagem da qual o mito se serve para construir o seu prprio sistema; e o prprio
mito, o que Barthes chama de metalinguagem, referente a uma segunda lngua, na qual se fala
da primeira.
Refletindo sobre uma metalinguagem, o semilogo no deve mais interrogar-se so-
bre a composio da linguagem-objeto, no deve mais ocupar-se com o detalhe do
50
esquema lingstico: dele s ter de considerar o termo global ou signo global, e
apenas na medida em que esse termo se presta ao mito. (BARTHES, 2001:137)
Tanto a escrita quanto a imagem so dotadas da mesma funo significante e
constituem, cada uma, uma linguagem-objeto (matria-prima, ou significante do mito).
Sabemos agora que o significante pode ser encarado, no mito, sob dois pontos de
vista: como termo final do sistema lingstico, ou como termo inicial do sistema m-
tico: precisamos, portanto de dois nomes: no plano da lngua, isto , como termo fi-
nal do primeiro sistema, chamarei ao significante: sentido (chamo-me leo, um ne-
gro faz a saudao militar francesa); no plano do mito, chamar-lhe-ei: forma.
Quanto ao significado, no h ambigidade possvel: continuaremos a chamar-lhe
conceito. O terceiro termo a correlao dos dois primeiros: no sistema da lngua,
o signo; mas no se pode retomar essa palavra sem ambigidade, visto que, no mito
(e isto constitui a sua particularidade principal), o significante j formado pelos
signos da lngua. Chamarei ao terceiro termo do mito, significao: e a palavra
tanto mais apropriada aqui, porque o mito tem efetivamente uma dupla funo: desi-
gna e notifica, faz compreender e impe. (BARTHES, 2001: 138-139)
Ento, enquanto sistema lingstico, o significante seu termo inicial, renomeado
de sentido; no sistema mtico, este a prpria forma. O significado que, para o autor, no
formula ambigidades, continua sendo chamado de conceito. Mas o terceiro termo, o signo
que fornece a relao entre o primeiro e o segundo no sistema lingstico, renomeado de
significao no sistema mtico. Desta nomenclatura semiolgica de Barthes, procura de um
mtodo mais eficaz para desvendar os mitos de uma sociedade, revelam-se as crticas feitas
por Lvi-Strauss (1993: 137) ao pensamento formalista - a partir das anlises de Vladimir
Propp. Segundo o antroplogo, o que falta ao pensamento formal no a histria, o passado,
mas sim o contexto: A dicotomia formalista, que ope forma e contedo, e que os define por
caracteres antitticos, no lhe foi imposta pela natureza das coisas, mas pela escolha aci-
dental que fez de um domnio onde somente a forma sobrevive, enquanto que o contedo
abolido.
A literatura oral, que consiste na matria-prima para a anlise mitolgica, dividi-
da por Propp em duas partes: a forma, que constitui o aspecto essencial, pois se destina ao
estudo morfolgico; e o contedo que, por ser considerado arbitrrio, ocupa importncia aces-
51
sria. Esta a grande diferena entre o Formalismo e o Estruturalismo, segundo Lvi-Strauss
(1993: 137-138):
Para o primeiro, os dois domnios devem ser absolutamente separados, pois somente
a forma inteligvel, e o contedo no seno um resduo desprovido de valor si-
gnificante. Para o Estruturalismo, esta oposio no existe: no h, de um lado, o
abstrato e, de outro, o concreto. Forma e contedo so de mesma natureza, sujeitos
mesma anlise. O contedo tira sua realidade da estrutura, e o que se chama forma
a estruturao das estruturas locais que constituem o contedo.
Mais adiante:
O formalismo aniquila seu objeto. Em Propp, leva descoberta da existncia de um
conto nico. Desde ento, o problema da explicao est somente deslocado. Sabe-
mos o que o conto, mas como a observao nos coloca em presena, no de um
conto arqutipo, mas de uma infinidade de contos particulares, no sabemos mais
como classific-los. Antes do formalismo, ignorvamos, talvez, o que estes contos
possuam em comum. Depois dele, estamos privados de meios para compreender em
qu eles diferem. Passou-se do concreto ao abstrato, mas no se pode mais voltar do
abstrato ao concreto.
Para Robert Stam, o estruturalismo consistia mais em um mtodo que uma doutri-
na, focando-se nas relaes imanentes constitutivas da linguagem e dos sistemas discursi-
vos. Tendo Saussure como figura fundadora do estruturalismo europeu e, logo, de boa parte
da semitica cinematogrfica, s em meados dos anos 60 que seu paradigma tornou-se am-
plamente disseminado.
O avano cientfico representado pela formulao de Saussure foi inicialmente trans-
ferido aos estudos literrios pelos formalistas russos e, mais tarde, pelo Crculo Lin-
gstico de Praga. (...) Os fonlogos da Escola de Praga, em particular Troubetskoy
e Jakobson, demonstraram a fecundidade concreta da investigao da linguagem de
uma perspectiva saussuriana e forneceram, assim, o paradigma para ascenso do es-
truturalismo nas cincias sociais e nas humanidades. Lvi-Strauss ento utilizou o
mtodo saussuriano com enorme audcia intelectual na antropologia, fundando o
estruturalismo como movimento. (STAM, 2003: 125)
Barthes (2001: 139) sublinha como o significante do mito se expe de forma am-
bgua, ou seja, sobre como ele se constitui, simultaneamente, como sentido e forma. Enquanto
sentido, o significante postula uma leitura e apreendido com os olhos, isto , possui uma
realidade sensorial (ao contrrio do significante lingstico, que de ordem psquica: a ima-
gem acstica de Saussure). Como total de signos lingsticos, o sentido do mito tem um va-
52
lor prprio, faz parte de uma histria, nele j est constituda uma significao, que poderia
bastar-se a si mesma, se o mito no a tomasse por sua conta e no a transformasse subita-
mente numa forma vazia, parasita. O sentido j est completo, postula um saber, um passado,
uma memria, uma ordem comparativa de fatos, de idias, de decises.
Para o autor, a forma no suprime o sentido do mito, apenas o empobrece, o afasta.
O sentido passa a ser para a forma como uma reserva instantnea de histria, como uma
riqueza submissa, que possvel aproximar e afastar numa espcie de alternncia rpida;
necessrio que a cada momento a forma possa reencontrar razes no sentido, e a se alimen-
tar; e, sobretudo, necessrio que ela se possa esconder nele (BARTHES, 2001: 140).
essa alternncia rpida, ou, nas palavras do autor, esse esconde-esconde entre o sentido e a
forma, que definem o mito.
J o conceito - a histria que advm da forma e que a absorve - simultaneamente
histrico e intencional, portanto, determinado. Ao contrrio da forma, o conceito no abso-
lutamente abstrato, mas repleto de uma situao, pois atravs do conceito que uma histria
nova implantada no mito.
Para dizer a verdade, o que se investe no conceito menos o real do que um certo
conhecimento do real, passando do sentido forma, a imagem perde parte do seu
saber: torna-se disponvel para o saber do conceito. De fato, o saber contido no con-
ceito mtico um saber confuso, constitudo por associaes moles, ilimitadas.
preciso insistir sobre este carter aberto do conceito; no absolutamente uma es-
sncia abstrata, purificada, mas sim uma condensao informal, instvel, nebulosa,
cuja unidade e coerncia provm, sobretudo da sua funo. (BARTHES, 2001: 141)
A caracterstica fundamental do conceito mtico a de ser apropriado, ou seja, o
conceito corresponde a uma funo precisa, define-se como uma tendncia, deve atingir uma
parcela de um grupo social e no outro, por exemplo. Um significado pode possuir vrios si-
gnificantes, como o caso do conceito mtico, pois este tem sua disposio uma massa ili-
mitada de significantes. Para Barthes, isso significa dizer que o conceito muito mais pobre
que o significante, pois se limita apenas a re-apresentar-se.
53
Na forma e no conceito, pobreza e riqueza esto em propores inversas: pobreza
qualitativa da forma depositria de um sentido rarefeito corresponde uma riqueza do
conceito, aberto a toda a Histria; e abundncia quantitativa das formas, corres-
ponde um pequeno nmero de conceitos. Essa repetio do conceito atravs de for-
mas diferentes preciosa para o mitlogo, permite-lhe decifrar o mito: e a insistn-
cia num comportamento que revela a sua inteno. (2001:141)
A Significao o prprio mito, pois sendo a associao de dois termos, se apre-
senta de maneira plena e suficiente, a fim de ser o nico aspecto a ser efetivamente consumi-
do. O autor reflete sobre os modos de constituio da significao, ou seja, os modos de cor-
relao do conceito e da forma mticas:
...no mito, os dois primeiros termos so perfeitamente manifestos: um no se escon-
de atrs do outro, esto ambos presentes aqui (e no um aqui e o outro l). Por mais
paradoxal que isso possa parecer, o mito no esconde nada: tem como funo de-
formar, no fazer desaparecer. No h nenhuma latncia do conceito em relao
forma: no absolutamente necessrio um inconsciente para explicar o mito. Esta-
mos evidentemente em presena de dois tipos diferentes de manifestaes: a presen-
a da forma literal, imediata: alm disso, ela estende-se. Isto provm da natureza j
lingstica do significante mtico: visto que ele formado por um sentido j consti-
tudo, s pode oferecer-se atravs de uma matria (enquanto que, na lngua, o signi-
ficante permanece psquico). (BARTHES, 2001: 143)
Os elementos da forma mantm entre si relaes de lugar, de proximidade, seu
modo de presena espacial. J o conceito apresenta-se globalmente, uma condensao flui-
da de um saber. O mito, assim, um valor, no tem a verdade como sano, ou seja, nada o
impede de ser um perptuo libi, para isto basta que seu significante tenha duas faces para
dispor sempre de um outro lado: o sentido existe sempre para apresentar a forma; a for-
ma existe sempre para distanciar o sentido. Mais adiante, que o mito uma fala roubada
e restituda. Simplesmente, a fala que se restitui no exatamente a mesma que foi roubada:
trazida de volta, no foi colocada no seu lugar exato. esse breve roubo, esse momento furti-
vo de falsificao, que constitui o aspecto transido da fala mtica. (BARTHES, 2001: 145-
147)
Referente estrutura e mensagem do mito, Campbell (1988) aponta a religio
como uma fala mtica que serve essencialmente para elevar o nvel da conscincia humana:
54
mostrando o caminho a seguir em termos do que fazer e no de como fazer. Trazendo o con-
ceito etimolgico do termo religio, donde sua funo est em religar a conexo entre o
mundo sensvel e a origem da vida, afirmando, assim, a existncia de vrios nveis de cons-
cincia onde a escolha humana, em sair de um nvel para outro, depende do que se est dis-
posto a pensar. Novamente, depara-se aqui com os conceitos de crena e de hbitos de ao
peirceanos. Em sua resposta questo: podemos prever o que ser o prximo mito para a
sociedade contempornea?, Campbell nega a possibilidade de uma previso: (...) no se
pode prever o que ser um mito assim como no podemos prever o que sonharemos esta noi-
te. Mitos e sonhos vm do mesmo lugar, de certas percepes que precisam ser expressas de
forma simblica.
Para o autor, o nico mito que vale a pena ser previsto neste contexto contempor-
neo o que fale sobre o ambiente, sobre o planeta, no sobre esta cidade, sobre este povo,
mas sobre o mundo e os que vivem nele. E seu tema ser o mesmo de todos os mitos: a matu-
rao do indivduo, o caminho gradual e pedaggico a seguir desde a dependncia, para a
vida adulta at a sada, e de como faz-lo para se relacionar com esta sociedade, e de
como relacionar esta sociedade com o mundo da natureza e do cosmos.
Mais adiante, Campbell indica que a confuso social noticiada diariamente nos
veculos de comunicao - acontece quando os mitos perdem fora, pois junto com eles, so
perdidos os modelos que devem ser adequados s possibilidades de uma determinada poca.
Em outras palavras, enquanto linguagem complexa, o mito constitui-se como o agente propul-
sor de paradigmas sociais. Na viso do autor, nota-se a preocupao com o contexto cultu-
ral no que tange o trabalho de anlise mtica, desta forma, ele afirma:
(...) pregar a volta de certos mitos antigos no resolve o problema, pois o contexto
j est transformado. A ordem moral tem que se adequar s necessidades morais da
poca, da vida real aqui e agora. Ficar preso s metforas e no enxergar sua refe-
rncia a causa da estagnao de um mito o qual no acompanha as mudanas de
valores durante as pocas, e acaba se chocando com outros judasmo, islamismo,
cristianismo. O que se deve fazer para no estagnar substituir as metforas, adap-
55
tando-as conforme o contexto, estas religies conservam as mesmas metforas para
as mais diferentes pocas. (CAMPBELL, 1988)
56
3 CINEMA: O CONTADOR DE MITOS
Como respeitar o instinto de fbula? Como comemorar a alegria de contar histria?
E como usufruir dos prazeres do ilusionismo e manter, ao mesmo tempo, uma dis-
tncia racional em relao prpria histria? (...) Afinal, as pessoas so animais
contadores de histrias. Em nossos sonhos, as contamos a ns mesmos. Em nossas
conversas, as contamos uns aos outros. E, por sua estrutura sintagmtica, nossas
frases so mini-narrativas. Sem mitos, j dizia Propp, a tribo morre. (STAM, 1981:
30)
Segundo Stam (2003:99), na Frana ps-Segunda Guerra, os estudos em cinema
comearam sua trajetria com vistas aos desenvolvimentos da fenomenologia. Sob influncia
do filsofo alemo Edmund Husserl, os filsofos retornaram s coisas em si mesmas e sua
relao com a conscincia personificada, intencional. Stam cita o fenomenlogo de maior
destaque na poca, Merleau-Ponty, que identificou a unio entre cinema e filosofia, anteci-
pando os escritos de Deleuze ao afirmar que o cinema particularmente adequado para
expressar a unio entre mente e corpo, entre mente e mundo, e a expresso de cada um deles
no outro... o filsofo e o cineasta compartem uma certa maneira de ser, uma certa viso de
mundo prpria de uma gerao.
No escopo de legitimar os estudos em cinema, a obra considerada de maior influ-
ncia nos estudos da linguagem cinematogrfica foi A Significao do Cinema, de Christian
Metz (1972), onde procurou definir o papel conceitual desempenhado pela lngua dentro do
esquema saussuriano.
Portanto, Metz delimita o objeto da semitica como o estudo dos discursos, dos
textos, e no do cinema no sentido institucional mais amplo entidade por demais
multifacetada para constituir o objeto prprio da cincia filmolingstica, da mesma
maneira como a fala (parole) fora para Saussure um objeto excessivamente multi-
forme para constituir o objeto prprio da cincia lingstica. O trabalho inicial de
57
Metz orientou-se pela questo de se o cinema era uma lngua (langue) ou uma lin-
guagem (langage). (...) Nesse contexto, explora a comparao, habitual desde os
primrdios da teoria do cinema, entre plano e palavra ou entre seqncia e orao.
(STAM, 2003: 130)
Para Metz, os planos so numericamente infinitos, ao passo que as palavras cons-
tituem o lxico, a princpio, finito; porm, de forma semelhante s frases, que podem ser
construdas infinitamente utilizando-se um nmero limitado de palavras. Em seguida, os pla-
nos so criaes do cineasta, as palavras so preexistentes no lxico da mesma forma que as
frases. Assim, o plano oferece maior quantidade de informao e de riqueza semitica:
O plano uma unidade tangvel, ao contrrio da palavra, que uma unidade lexical
puramente virtual para ser usada conforme o desejo de quem fala. A palavra ca-
chorro pode designar qualquer tipo de cachorro, ao passo que um plano cinemato-
grfico de um cachorro nos diz, ao menos, que estamos vendo um determinado tipo
de cachorro com um determinado tamanho e aparncia, filmado de um ngulo es-
pecfico com um tipo especfico de lente. Mesmo que os cineastas possam virtua-
lizar a imagem de um cachorro por meio de uma contraluz, um foco difuso ou uma
descontextualizao, o que Metz argumenta, de modo geral, que o plano cinema-
togrfico se assemelha mais a um enunciado ou frase (eis aqui a imagem de uma
silhueta em contraluz do que parece ser um enorme cachorro) que a uma palavra.
(STAM, 2003: 131)
s discrepncias gerais identificadas entre plano cinematogrfico e palavra,
Metz acrescenta que o cinema no constitui uma linguagem amplamente disponvel como um
cdigo. Por exemplo, todos os falantes de ingls a partir da uma certa idade aprenderam a
dominar o cdigo ingls so capazes, portanto, de produzir oraes mas a capacidade
para produzir enunciados flmicos depende de talento, formao e acesso. Em outras pala-
vras, para falar uma lngua, basta us-la, ao passo que falar a linguagem cinematogrfica
sempre, em certa medida, invent-la. (STAM, 2003: 131)
Metz conclui que o cinema no uma lngua, mas uma linguagem, embora no
seja constitudo por um sistema lexical ou sinttico a priori, ou seja, falta-lhe o signo arbitr-
rio, as unidades mnimas e a dupla articulao. O autor denomina por linguagem qualquer
unidade definida em termos de seu material de expresso, em outras palavras, o material
58
pelo qual se manifesta a significao. Tais elementos ou unidades mnimas de expresso so
exemplificados por Stam, como segue:
A linguagem literria, por exemplo, o conjunto das mensagens cujo material de
expresso a escrita; a linguagem cinematogrfica o conjunto das mensagens
cujo material de expresso compe-se de cinco pistas ou canais: a imagem fotogr-
fica em movimento, os sons fonticos gravados, os rudos gravados, o som musical
gravado e a escrita (crditos, interttulos, materiais escritos no interior do plano). O
cinema uma linguagem, em resumo, no apenas em um sentido metafrico mais
amplo, mas tambm como um conjunto de mensagens formuladas com base em um
determinado material de expresso, e ainda como uma linguagem artstica, um dis-
curso ou prtica significante caracterizado por codificaes e procedimentos orde-
natrios especficos. (STAM, 2003: 132)
Segundo o autor, ao herdar a dicotomia lngua/linguagem de Saussure bem como a
questo formalista acerca da especificidade cinematogrfica, Metz acabou por herdar as lacu-
nas da lingstica saussuriana que coloca em parnteses o referente e, por isso, segrega o
texto da histria. Ao tratar dos problemas desta forma, deixa-se de lado a vinculao entre o
especfico e o no-especfico, entre o social e o cinematogrfico, entre o texto e o contexto.
Sua perspiccia e influncia nos estudos em teoria do cinema, esto no empenho em distinguir
o cinema de outros meios conforme seu material de expresso.
Assim, diferencia o cinema e o teatro, por exemplo, pela presena do ator no teatro
em oposio ausncia diferida do ator no cinema, um desencontro que, parado-
xalmente, torna mais provvel a crena dos espectadores cinematogrficos na
imagem. Em textos posteriores, Metz enfatizou que justamente a natureza ima-
ginria do significante flmico que faz dele um catalisador to poderoso de proje-
es e emoes. (STAM, 2003: 142)
A aproximao entre a psicanlise e a lingstica, em meados do sculo XX, defi-
niu a matriz conceitual para uma nova fase da semitica cinematogrfica, dando luz s ques-
tes concernentes ao prprio dispositivo cinematogrfico e atraindo discusses quanto ao pa-
pel de seu espectador.
17
Os estudos em cinema voltam-se tanto para Freud quanto Lacan, a
partir de seus postulados acerca do inconsciente humano inserido na chamada situao cine-
17
Para Jean-Louis Baudry, o cinema constitui a realizao material de um objetivo inconsciente inerente psi-
que humana, a saber, o desejo de regresso a um estgio anterior ao desenvolvimento, um estado relativo de
narcisismo onde o desejo poderia ser satisfeito atravs de uma realidade simulada em que a separao entre cor-
po e mundo exterior, entre ego e no-ego, no estariam claramente separadas. (STAM, 2003: 186)
59
matogrfica: aspectos como identificao e projeo do espectador na e pela narrativa
flmica so aliados ao novo conceito da impresso de realidade fornecida pelo dispositivo.
Deste vis psicanaltico, emerge a viso de Hollywood enquanto fbrica de sonhos
e, por decorrncia, uma crtica ainda mais acirrada a um meio de comunicao de massa ins-
titucionalizado e promotor da fantasia escapista e alienante, atravs da utilizao de conceitos
como voyeurismo e escopofilia.
Mas, embora a teoria estivesse correta em denunciar as alienaes provocadas pelo
cinema dominante, tambm importante reconhecer o desejo que traz os especta-
dores sala de cinema. A eterna comparao entre cinema e sonho aponta no ape-
nas para o potencial alienatrio do cinema, como tambm para o seu impulso utpi-
co fundamental. Os sonhos no so meramente regressivos; so vitais para o bem-
estar humano. Tal como enfatizaram os surrealistas, so um santurio para o desejo,
um indcio da possvel transcendncia das dicotomias, a fonte de tipos de conheci-
mento negados pela racionalidade cerebral. (STAM, 2003: 190)
Em meados dos anos 60, o modelo saussuriano e a semitica estruturalista foram
alvos de ataques, especialmente pela noo desconstrutivista de Jacques Derrida. D-se incio
ao ps-estruturalismo: a crtica ao modelo estruturalista baseada na obra de Nietzsche e na
fenomenologia de Heidegger, percebendo que a busca pela sistematizao deveria ser con-
frontada com tudo o que o antigo modelo havia reprimido. Tal confronto identificado nos
princpios do ps-estruturalismo, a saber, a negao do sentido unvoco, a infinita espiral da
interpretao, a negao da presena originria no discurso, a identidade instvel do signo, o
posicionamento do sujeito pelo discurso, a natureza insustentvel das oposies entre interior
e exterior, e a onipresena da intertextualidade.
A desconstruo marcou presena na teoria do cinema e na anlise flmica princi-
palmente como um mtodo de leitura. A nfase na leitura ctica, assinalando as re-
presses, contradies e aporias dos textos flmicos (ou textos sobre cinema), a
pressuposio de que texto algum toma uma posio que ele prprio, a um s tem-
po, no concorra para sabotar, e a idia de que todos os textos so contraditrios
por definio desde ento permeiam os estudos de cinema. O ps-estruturalismo
promoveu a desestabilizao do sentido textual, abalando a f cientificista anterior
da semiologia de que a anlise seria capaz de capturar, em definitivo, a totalidade
do sentido de um filme ao evidenciar os seus cdigos. (STAM, 2003: 203)
60
Esta afirmao traz a reflexo de Stam sobre o que chama de o mal-estar da in-
terpretao, e constitui o ttulo de sua obra de 2003. Para ele, a anlise flmica uma prtica
em aberto, historicamente conformada, orientada por objetivos os mais distintos. As anli-
ses tendem a encontrar o que se lanaram a buscar
18
. O autor afirma que tal prtica mais
mtodo que ideologia, um gnero de escrita sobre o cinema suscetvel a diversas influncias
(Barthes, Deleuze e outros), a diversas matrizes tericas (psicanlise, marxismo, feminis-
mo...), a diversos esquemas (reflexividade, excesso, carnaval...) e a princpios de pertinn-
cia, sejam eles cinematogrficos (movimentos de cmera, montagem), ou extra-
cinematogrficos (representao da mulher, do negro, de gays e de lsbicas ou seja, de mi-
norias no sentido antropolgico).
Um filme como Janela Indiscreta, por exemplo, pode ser atacado dos mais varia-
dos ngulos: a questo autoral (sua relao com o conjunto da obra de Hitchcock);
as marcas da enunciao (a auto-inscrio ditica de Hitchcock pelo estilo e pe-
las cameo appearances); a msica (a trilha de Franz Waxman); a mise-em-scne (a
contrio espacial do cenrio do conjunto de apartamentos); a reflexividade (as re-
ferncias alegricas espectatorialidade); o olhar (o jogo de olhares e os raccords
de olhar entre Jeffries, Lisa, Stella e Thorwald); a psicanlise (uma leitura sintom-
tica do voyeurismo do protagonista); o gnero (a poltica sexual do olhar); a classe
(as tenses entre o fotojornalista que trabalha pesado e a modelo de classe alta); as
ressonncias histricas (as aluses ao macarthismo), para citar apenas alguns dos
esquemas (Bordwell); cdigos (Metz) e discursos scio-ideolgicos
(Bakhtin) relevantes no filme. (STAM, 2003: 218)
Enquanto linguagem e sendo parte integrante da lngua, a maneira como o mito
fala, a narrativa sobre os objetos, que constitui o ponto de partida para extrair sua estrutura,
visto que, segundo os autores utilizados, ela pode ser verificada em seu prprio discurso, sua
metalinguagem. Tendo em vista o propsito deste trabalho, identificar a produo cinemato-
grfica como linguagem propagadora de paradigmas, e estes enquanto mitos geradores de
crenas - vistas aqui como hbitos de ao - abre-se espao para os conceitos de Gilles Deleu-
18
Segundo Eco, toda obra de arte aberta porque no comporta apenas uma interpretao. Tal conceito con-
siste num modelo terico servindo tentativa de explicar a arte contempornea. Afirma tambm que qualquer
referencial terico usado para analisar tais produes no revela suas caractersticas estticas, mas apenas um
modo de ser, segundo seus prprios pressupostos.
61
ze (2005) sobre as imagens-movimento e para alm delas, as chamadas imagens-tempo. Obje-
tivando introduzir a questo acerca da indiscernibilidade entre as atividades mentais e as ati-
vidades efetivas do espectador cinematogrfico (real versus imaginrio), Deleuze traz um
panorama de conceitos acerca da percepo de tais imagens, partindo da diferenciao entre
dois estilos cinematogrficos, a saber, o realismo tradicional e o neo-realismo:
As situaes ticas e sonoras do neo-realismo se opem s situaes sensrio-
motoras fortes do realismo tradicional. A situao sensrio-motora tem por espao
um meio bem qualificado, e supe uma ao que a desvele, ou suscita uma reao
que se adapte a ela ou a modifique. Mas uma situao puramente tica ou sonora se
estabelece no que chamvamos de espao qualquer, seja desconectado, seja esva-
ziado. No neo-realismo, as ligaes sensrio-motoras s vo valer pelas perturba-
es que as afetam, soltam, desequilibram ou distraem: crise da imagem-ao. No
sendo mais induzida por uma ao, como tambm no se prolonga em ao, a situa-
o tica e motora no , portanto um ndice, nem um synsigno. Falaremos de uma
nova raa de signos, os opsignos e os sonsignos. E sem dvida estes novos signos
remetem a imagens bem diversas. Ora a banalidade cotidiana, ora so circunstn-
cias excepcionais ou limites. Mas, acima de tudo, ora so imagens subjetivas, lem-
branas de infncia, sonhos ou fantasmas auditivos e visuais, onde a personagem
no age sem se ver agir, espectadora complacente do papel que ela prpria repre-
senta. (2005: 14-15)
Deleuze afirma que a distino entre o subjetivo e o objetivo irrelevante devido
substituio da ao motora por uma situao tica e por uma descrio visual. Esta substitui-
o gera o princpio de indeterminabilidade, ou indiscernibilidade, ou seja, no mais se
distingue o que imaginrio ou real, fsico ou mental, o que no quer dizer que estes sejam
confundidos, mas pelo fato dessa distino perder sua importncia. Para Deleuze (2005: 16),
como se o real e o imaginrio corressem um atrs do outro, se refletissem um no outro, em
torno de um ponto de indiscernibilidade. Tal afirmao desvenda o propsito do mito, bem
como a utilizao corrente do termo continuidade entre um mesmo mundo at ento dividido
pelo corte epistemolgico.
Todo artista tem a opo de obscurecer ou revelar os cdigos que permitem criar ilu-
ses. Usado "de maneira transparente", o cdigo da perspectiva produz a iluso de
sua prpria ausncia. Parece natural e inocente, ofuscado pelo que Barthes chama de
"efeito do real". Embora o cdigo seja "natural", pois caracteriza as operaes da re-
tina humana, no h nada de necessrio ou natural na sua incorporao pintura ou
ao cinema, nem na sua utilizao "transparente" por qualquer um dos dois. Da mes-
ma forma, as histrias so um elemento constitutivo fundamental da vida humana.
Portanto, so, de alguma maneira, "naturais". O que no natural que alguns tipos
62
de histrias sejam contadas, ou que sejam contadas sem nos chamar a ateno para
os meios pelos quais so contadas. Para Christian Metz, o que diferencia a maior
parte dos filmes de fico no a ausncia do trabalho do significante, e sim sua
presena no modo de denegao. No filme de fico, os significantes no trabalham
para si prprios. Ao contrrio, esto sempre ocupados em apagar suas prprias pistas
para fazer, em seguida, uma abertura para a transparncia da histria por eles produ-
zida. O filme, entretanto, pretende apenas ilustr-los. (STAM, 1981: 48)
Segundo Barthes, o mito no se prope a esconder nem ostentar nada, no afirma
e, muito menos, mente. O mito uma inflexo, ou seja, frente s alternativas de ou aniquilar
ou revelar um conceito, ele encontra sua sada naturalizando-o. E este o princpio do mito:
transformar a histria em natureza. Para o leitor do mito, tudo se passa como se a imagem
provocasse naturalmente o conceito, como se o significante criasse o significado (...) o mito
uma fala excessivamente justificada. (2001: 150-151). Esta fala justificada vivida inocen-
temente pelo leitor do mito, no porque as intenes do prprio mito estejam escondidas, pois
assim no seriam eficazes e no serviriam como falas de controle social, por exemplo; so
vividas inocentemente porque so naturalizadas ou, como afirma Deleuze, porque a questo
no possui importncia.
Na realidade, aquilo que permite ao leitor consumir o mito inocentemente o fato de
ele no ver no mito um sistema semiolgico, mas sim um sistema indutivo: onde
existe apenas uma equivalncia, ele v uma espcie de processo causal: o signifi-
cante e o significado mantm, para ele, relaes naturais. Pode exprimir-se esta con-
fuso de um outro modo: todo o sistema semiolgico um sistema de valores; ora, o
consumidor do mito considera a significao como um sistema de fatos: o mito
lido como um sistema factual, quando apenas um sistema semiolgico. (BAR-
THES, 2001:152)
Segundo Lvi-Strauss (1993:150):
Atravs dos contos e dos mitos, o vocabulrio se apreende como natureza naturali-
zada: um dado, ele tem suas leis que impem uma certa diviso ao real e prpria
viso mtica. Para esta, a liberdade no nada mais do que procurar saber que com-
posies coerentes so possveis, entre as peas de um mosaico cujo nmero, sentido
e contornos foram prefixados.
Se a apreenso do mito se d como natureza naturalizante, ou na viso de Barthes,
como naturalizao da histria, aponta-se a questo levantada por Lvi-Strauss: at que
ponto e em que medida o espelho do mito reflete a imagem da cultura? Sabe-se que alguma
63
coisa da cultura passa aos mitos, mas isso no significa que cada vez que um mito mencione
um aspecto da vida social, este deva corresponder estritamente realidade vivida:
Uma correspondncia deve existir, e existe de fato, entre a mensagem inconsciente
de um mito - o problema que ele procura resolver - e o contedo consciente, em ou-
tras palavras, a intriga que ele elabora para chegar a este resultado. Mas esta corres-
pondncia no necessariamente da natureza de uma reproduo literal, ela pode
tambm tomar o aspecto de uma transformao lgica. Se um mito coloca seu pro-
blema de forma direta, isto , nos termos em que a sociedade de onde ele provm o
percebe e procura resolv-lo, a intriga, contedo patente do mito, pode tomar em-
prestado seus motivos diretamente prpria vida social. Mas se o mito formula o
problema ao inverso e procura resolv-lo pelo absurdo, pode-se esperar em conse-
qncia, que o contedo patente seja modificado, e oferea a imagem invertida da
realidade social empiricamente dada, tal como ela se apresenta conscincia dos
membros da sociedade. (LVI-STRAUSS, 1993: 211-212)
Desta forma, retomam-se as consideraes de Deleuze sobre a indeterminao en-
tre imaginrio e real dada atravs da ordem misturada com que as sries do mundo se fazem
apreender:
A filosofia de Leibniz mostrou que o mundo feito de sries que se compem e
convergem de maneira muito regular, obedecendo a leis ordinrias. As sries e se-
qncias, porm s nos aparecem em pequenas partes, e numa ordem remexida e
misturada, de modo que acreditamos em rupturas, disparidades e discordncias
como coisas extraordinrias. (2005: 25)
19
Como tornar as rupturas e as disparidades em sries regulares a fim de entender o
mundo? Segundo Peirce, a insistncia da reao, exigindo uma conscincia no tempo que
a reconhea regular e, por assim faz-lo, reconhece comparativamente as reaes individuais
numa relao de semelhana, (esse) parece ser o fundamento de todo o pensamento mediati-
vo, na sua positividade lgica. O autor se distancia de Kant afirmando no ser o intelecto o
elemento organizador dos particulares, pois a mente signo, ou seja, os conceitos gerais
compem a mente na forma de legi-signos, atravs de suas rplicas sin-signos. Conceituar o
intelecto como organizador das partes, seria o mesmo que destituir esses particulares de sua
alteridade enquanto fenmenos. (IBRI, 1992: 31)
19
Ver: FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. Ed. Martins Fontes, 2002.
64
Simplesmente, seria preciso dizer que, em virtude dos encadeamentos naturalmente
fracos dos termos da srie, estas so constantemente remexidas e no aparecem na
ordem. Um termo ordinrio sai de sua seqncia, surge no meio de outra seqncia
de ordinrios em relao aos quais ele assume a aparncia de um momento forte, de
um ponto relevante e complexo. So os homens que fazem a confuso na regulari-
dade das sries, na continuidade do universo. H um tempo para a vida, um tempo
para a morte, um tempo para a me, um tempo para a filha, mas os homens os mistu-
ram, fazem com que surjam em desordem, os erigem em conflitos. (DELEUZE,
2005: 25)
Ivo Assad Ibri (1992:24) utiliza-se da metfora platnica: que estranha msica
das esferas sempre estamos ouvindo e, por esta razo, deixamo-la de ouvir?, para explicar
que, na concepo peirciana, a conduta humana diante do mundo que satura a experincia a
ponto do sujeito no render-se conta desta mistura indiscernvel entre realidade e fico, entre
mito e natureza, entre universais e particulares. essa conduta diante do mundo que reflete
uma tendncia generalizadora da mente humana:
Se as leis da natureza so resultados da evoluo, esta evoluo deve proceder de
acordo com algum princpio; e este princpio ser, em si mesmo, da natureza de
uma lei. Porm, ele deve ser uma lei que pode evoluir ou se desenvolver por si
mesma... Evidentemente ela deve ser uma tendncia generalizao uma tendn-
cia generalizadora... Contudo, a tendncia generalizadora a grande lei da mente, a
lei de associao, a lei de aquisio de hbitos... Assim, sou levado hiptese de
que as leis do universo tm sido formadas sob uma tendncia universal de todas as
coisas generalizao e aquisio de hbitos. (PEIRCE apud IBRI, 1992: 50)
A partir destas idias e, se para Lvi-Strauss o mito no precisa, necessariamente,
refletir a realidade social, se para Barthes o mito no constitui uma linguagem secreta, no
esconde nada, apenas naturaliza a histria, se para Deleuze a experincia cinematogrfica leva
indiscernibilidade entre realidade-fico atravs de sua constituio em imagem-tempo, se-
gue que o pensamento mtico veicula crenas que so hbitos de ao, ou seja, constitui o
prprio pensamento generalizador que, enquanto linguagem, se apresenta como a extenciona-
lidade entre a realidade e a fico, entre a cultura e a natureza, por vezes organizando-os e,
por outras, desorganizando-os.
Voltando construo mtica pela obra cinematogrfica, transcreve-se a viso de
C. Geertz (1989: 25-26) quanto semelhana, no aspecto ficcional, tanto da narrativa oral
65
(matria-prima do estudo antropolgico), quanto da narrativa literria e cinematogrfica de
qualquer espao social:
Resumindo, os textos antropolgicos so eles mesmos interpretaes e, na verdade,
de segunda e terceira mo. (Por definio, somente um nativo faz a interpretao
em primeira mo: a sua cultura). Trata-se, portanto, de fices; fices no sentido
de que so algo construdo, algo modelado o sentido original de fictio no
que sejam falsas, no-factuais ou apenas experimentos de pensamento. Construir
descries orientadas pelo ator dos envolvimentos de um chefe berbere, um merca-
dor judeu e um soldado francs uns com os outros no Marrocos de 1912 clara-
mente um ato de imaginao, no muito diferente da construo de descries se-
melhantes de, digamos, os envolvimentos uns com os outros de um mdico francs
de provncia, com a mulher frvola e adltera e seu amante incapaz, na Frana do
sculo XIX. Neste ltimo caso, os atores so representados como hipotticos e os
acontecimentos como se no tivessem ocorrido, enquanto no primeiro caso eles so
representados como verdadeiros, ou pelo menos como aparentemente verdadeiros.
Essa no uma diferena de pequena importncia: precisamente a que Madame
Bovary teve dificuldade em apreender. Mas a importncia no reside no fato da
histria dela ter sido inventada enquanto a de Cohen foi apenas anotada. As condi-
es de sua criao e o seu enfoque que (para no falar da maneira e da qualidade)
diferem, todavia uma tanto uma fictio uma fabricao quanto a outra. (GE-
ERTZ, 1989: 26)
Segundo Campbell (1988), a funo bsica do mito abrir o mundo para a dimen-
so do mistrio e identificar tal funo a partir de trs aspectos predominantes do mito: 1) o
cosmolgico: ver o mistrio tal como se manifesta atravs de todas as coisas; 2) o sociolgico:
validar e manter a estrutura de uma determinada sociedade; e 3) o pedaggico: demonstrar ao
ser humano a possibilidade de adquirir novas crenas, novos hbitos, em termos do que fazer,
mostrando modelos a seguir. O autor afirma que o segundo aspecto passou a predominar as
narrativas mticas do mundo contemporneo: as leis ticas, as leis da vida em sociedade, as
leis sobre que roupa usar e como se comportar com o prximo, conforme os valores de uma
determinada sociedade.
Todavia, Campbell objeta tal predominncia afirmando que a funo pedaggica
do mito a que se deveria estar seguindo: como viver a vida humana sob quaisquer cir-
cunstncias? e o mito pode ensinar isto atravs da utilizao da figura do heri mtico. A
partir disso, arrisca prever a edificao de uma nova mitologia para o mundo contemporneo,
onde a mquina seria a nova metfora do Estado, trazendo reflexo humana o seguinte pro-
66
blema: ser que a mquina vai esmagar a humanidade ou seremos capazes de usar a m-
quina para servir a humanidade?. Argumenta que a mquina ferramenta tecnolgica -
existe desde que o homem lascou a pedra para desenvolver a lana, mas chegou ao estgio em
que ela comea a ditar o que o homem deve fazer e como fazer atravs da personificao da
mquina: o computador, por exemplo, responde perguntas, diz o que deve ser feito, ajuda a
resolver problemas, e este pode ser o incio de uma nova mitologia.
Segundo Felluga (2003), nossa percepo da realidade depende da linguagem e da
ideologia
20
. Deste ponto de vista, afirma no existir um modo de se libertar da ideologia, ou
ao menos um modo que se possa expressar por meio da linguagem, pois a linguagem que
estrutura as percepes e qualquer representao da realidade sempre ideolgica, intencio-
nal.
Dessa perspectiva, a humanidade no pode fazer outra coisa que no ver a realidade
atravs do prisma ideolgico. A idia de verdade ou de realidade objetiva, portanto,
no tem sentido. No entender de alguns ps-modernistas, isso sempre ocorreu; no
entender de outros tericos ps-modernistas, o perodo aproximadamente posterior
Segunda Guerra Mundial representa uma ruptura radical, no qual vrios fatores
contriburam ainda mais para ampliar a nossa distncia da realidade (FELLUGA
appud YEFFETH, 2003: 84)
Estes fatores seriam: a cultura dos meios de comunicao; o valor de troca; a in-
dustrializao; a urbanizao; a globalizao e as grandes redes mundiais de comunicao
(internet). Fatores que favorecem o rompimento com a realidade e que, por isso, so elemen-
tos explorados no gnero da fico cientfica, como se pretende identificar nas trs obras:
Metropolis (1927), Blade Runner O Caador de Andrides (1982), e Matrix (1999).
20
Ideologia, neste caso, refere-se ao sistema de idias e modelos de uma determinada sociedade, ou cultura; no
no sentido restrito marxista de ideologia da classe dominante.
67
3.1 METODOLOGIA
O que se procura, portanto, um mtodo que determine o significado real de qual-
quer conceito, doutrina, proposio, palavra ou outro signo. O Objeto de um signo
uma coisa; seu significado, outra. Seu objeto a coisa ou ocasio, ainda que indefi-
nida, qual ele deve aplicar-se. Seu significado a idia que ele atribui quele ob-
jeto, quer atravs de mera suposio, ou como uma ordem, ou como uma assero.
(PEIRCE, 1977: 193)
Para Peirce, o Pragmatismo no se prope a dizer em que consistem todos os signi-
ficados de todos os signos, prope a busca por um mtodo que consiga determinar os signifi-
cados dos conceitos intelectuais, a partir dos quais se possa estabelecer raciocnios. Portanto,
acredita que, para determinar o significado de uma concepo intelectual, devam ser conside-
radas as possveis conseqncias prticas resultantes desta concepo, sendo que a soma des-
tas conseqncias constituiria todo o seu significado.
Ora, toda idia simples, compe-se de uma dentre trs classes; e uma idia composta
predominantemente, na maioria dos casos, uma dessas classes. A saber, em primei-
ro lugar, ela pode ser uma qualidade de sentimento, que positivamente tal como ,
e indescritvel; que se aplica a um objeto independentemente de qualquer outro; e
que sui generis e incapaz, em seu prprio ser, de sofrer uma comparao com
qualquer outro sentimento, porque nas comparaes o que se compara so represen-
taes dos sentimentos e no os prprios sentimentos. Ou, em segundo lugar, a idia
pode ser a de um evento singular ou fato, que atribudo ao mesmo tempo a dois
objetos, tal como uma experincia, por exemplo, atribuda quele que experimenta
e ao objeto experimentado. Ou, em terceiro lugar, a idia de um signo ou comuni-
cao veiculada por uma pessoa para outra pessoa (ou para si mesma num momento
posterior) com relao a um certo objeto bem conhecido por ambas... (PEIRCE,
1977: 194)
Desta forma, o Pragmatismo fornece as bases para aliar seu modelo experincia
cotidiana, a partir da extencionalidade entre sujeito-objeto. Tendo como ponto de partida as
categorias universais do conhecimento descritas anteriormente, as trs obras aqui referidas,
68
so analisadas seguindo a Teoria Geral dos Signos de Peirce. Para tanto, necessrio ter como
fio condutor uma das suas principais caractersticas, a saber, o seu holismo.
As obras so tomadas como exerccios interpretativos, partindo de seu contexto
histrico, suas representaes em trs ambientes distintos, ou seja, levando-se em conta as
situaes histricas em que foram produzidas. Procura-se identificar os modelos de pensa-
mento vigentes em trs dcadas do sculo XX e, principalmente, as semelhanas entre eles
atravs de suas projees futursticas para a humanidade. Do seu significado geral, iniciam-
se as anlises especficas, ou seja, a deteco de seqncias exemplares que transmitam os
paradigmas sociais representados por elas.
Assim, os conceitos da Semitica de Peirce tornaro possveis as classificaes
dos signos nas seqncias escolhidas. Classificadas as representaes futursticas, busca-se as
possveis relaes entre as obras, utilizando-se do conceito norteador deste trabalho: hbitos
de ao. Considerando as trs categorias peircianas, faz-se necessria a breve conceituao
de suas noes tridicas para a classificao das dez classes de signos, propostas pelo autor e
utilizadas neste exerccio analtico.
O que Peirce denomina como sendo a Primeira Tricotomia, ou primeira diviso
tridica, consiste nas relaes entre o Signo e seu Representamen (veculo do signo), as quais
se definem como segue. Tomando o signo em si mesmo, este pode ser classificado como
um Quali-signo, onde o signo uma qualidade, mas que ainda no atua como signo at que
se corporifique em algum dispositivo material. Baseado na categoria da Primeiridade, o quali-
signo uma possibilidade, um quase-signo, uma sensao. Quando materializado, o quali-
signo denominado de Sin-signo, e pertence a categoria de Secundidade. a existncia
concreta, ... uma coisa ou evento existente e real que um signo. E s pode ser atravs de
suas qualidades, de tal modo que envolve um qualissigno ou, melhor, vrios qualissignos.
69
Mas estes qualissignos so de um tipo particular e s constituem um signo quando realmente
se corporificam (PEIRCE, 1977: 52).
Pertencendo categoria da Terceiridade, o Legi-signo consiste numa lei, numa
conveno estabelecida pelos homens, que um signo. Todo legi-signo significa atravs de
um caso de sua aplicao denominada Rplica, que um sin-signo.
Assim, a palavra 'o' normalmente aparecer de quinze a vinte e cinco vezes numa
pgina. Em todas essas ocorrncias uma e a mesma palavra, o mesmo legissigno.
Cada uma de suas ocorrncias singulares uma Rplica (...) Assim, todo legissigno
requer sinsignos. Mas estes no so sinsignos comuns, como so ocorrncias peculi-
ares que so encaradas como significantes. Tampouco, a Rplica seria significante se
no fosse pela lei que a transforma em significante. (PEIRCE, 1977: 52)
A Segunda Tricotomia classifica os signos sob o ponto de vista das relaes en-
tre o Signo e o seu Objeto. O cone relaciona-se a um objeto por possuir uma qualidade
similar com o mesmo. Pertence a Primeiridade e refere-se ao objeto que denota apenas em
virtude de seus caracteres prprios, caracteres que ele igualmente possui, quer tal objeto real-
mente exista ou no. Winfried Nth (1995: 79) percebe que Peirce fala de um signo que
semelhante ao seu objeto, mas tambm se refere a um signo que participa do carter do ob-
jeto e, ainda de um signo cujas qualidades so semelhantes s do objeto e excitam sensaes
anlogas na mente para a qual uma semelhana. Segundo Peirce (1977: 64), uma simples
possibilidade um cone, puramente por fora de sua qualidade e seu objeto s pode ser um
Primeiro. Mas, um signo pode ser icnico, isto , pode representar seu objeto principalmente
atravs de sua similaridade, no importa qual seja seu modo de ser.
O ndice refere-se ao objeto em virtude de ser realmente afetado por esse Obje-
to. Portanto, no pode ser um Qualissigno, uma vez que as qualidades so o que so indepen-
dentemente de qualquer outra coisa. Na medida em que o ndice afetado pelo Objeto, tem
ele, necessariamente, alguma qualidade em comum com o Objeto. Em outras palavras, entre
signo e objeto, estabelece-se uma relao de contigidade, de causalidade.
70
Uma batida na porta um ndice. Tudo o que atrai a ateno ndice. Tudo o que
nos surpreende ndice, na medida em que assinala a juno entre duas pores de
experincia. Assim, um violento relmpago indica que algo considervel ocorreu,
embora no saibamos exatamente qual foi o evento. Espera-se, no entanto, que ele se
ligue com alguma outra experincia. (PEIRCE, 1977: 67)
Este "ligar-se com alguma outra experincia" a possibilidade de que a indicao
fornecida pelo ndice possa ser classificada em alguma lei geral, portanto legi-signo, j arma-
zenada na mente. Quanto ao Smbolo, trata-se do signo que no possui relao necessria
com o objeto que denota, tal relao estabelecida arbitrariamente, construda pelo hbito.
o signo na categoria de Terceiridade e de maior semioticidade, pois depende exclusivamente
da ao do Interpretante
21
, o qual atribui ao signo e seu objeto uma relao convencional.
Um Smbolo um Representamen cujo carter representativo consiste exatamente
em ser uma regra que determinar seu Interpretante. Todas as palavras, frases, livros
e outros signos convencionais so Smbolos. (...) Qualquer palavra comum, como
"dar", "pssaro", "casamento", exemplo de smbolo. O smbolo aplicvel a tudo o
que possa concretizar a idia ligada palavra; em si mesmo, no identifica essas coi-
sas. No nos mostra um pssaro, nem realiza, diante de nossos olhos, uma doao ou
um casamento, mas supe que somos capazes de imaginar essas coisas, e a elas as-
sociar a palavra. (PEIRCE, 1977: 71-73)
Resumindo, o cone um signo que possui o carter que o torna significante,
mesmo que seu objeto no esteja presente no ato comunicativo. O ndice um signo que per-
deria seu carter significante se seu objeto no estivesse presente, porm no o perderia se no
houvesse Interpretante, o exemplo de Peirce seria o ... molde com um buraco de bala como
signo de um tiro, pois sem o tiro no teria havido buraco; porm, nele existe um buraco, quer
tenha algum ou no a capacidade de atribu-lo a um tiro. J o smbolo perderia seu carter
significante caso no houvesse um Interpretante pois este a razo de ser deste signo.
Partindo para a Terceira Tricotomia, referente relao entre o Signo e o Inter-
pretante, um signo pode ser classificado como sendo um Rema, um Dicente ou um Ar-
21
O Interpretante refere-se ao processo relacional que se cria na mente do intrprete, a partir da relao de re-
presentao que o signo mantm com seu objeto, produz-se na mente interpretadora um outro signo que traduz o
significado do primeiro ( o interpretante do primeiro). Portanto, o significado de um signo outro signo.
(SANTAELLA, 1983: 58-59)
71
gumento. O Rema, ou termo, deriva do grego que significa simplesmente uma "palavra". A
palavra enunciada isoladamente, no certifica uma informao enquanto verdadeira ou fal-
sa, mas apenas representa uma ou outra espcie de objeto possvel. O signo Dicente, ou uma
proposio, o signo de existncia real para seu Interpretante, e que veicula informao sobre
o objeto. Nas palavras de Nth (1995: 88), na lgica, a proposio a unidade mnima para
exprimir idias que podem ser ou verdadeiras ou falsas. Consiste de uma combinao de ao
menos um sujeito e um predicado, por exemplo, do tipo A B. A informao pode ser ver-
dadeira ou falsa, porm, este signo no clarifica as razes desta ser ou no verdadeira. Tais
razes so fornecidas pelo Argumento: quando um signo passa do carter de proposio (di-
cente) e faz parte de um discurso racional, o qual pode ser entendido como verdadeiro ou
falso, bem como suas razes para tanto. Segundo Peirce (1977: 53-54):
Um Argumento um Signo que, para seu Interpretante, Signo de lei. (...) O Inter-
pretante do Argumento representa-o como um caso de uma classe geral dos argu-
mentos, classe esta que, no conjunto, sempre tender para a verdade. esta lei que,
de alguma forma, o argumento sublinha, e este "sublinhar" o modo prprio de re-
presentao dos Argumentos. Portanto, o Argumento deve ser um Smbolo, ou um
Signo cujo Objeto uma Lei ou Tipo Geral. Deve envolver um Smbolo Dicente, ou
Proposio, que denominado sua Premissa, pois o Argumento s pode sublinhar a
lei sublinhando-a num caso em particular.
Classificadas as trs Tricotomias, Peirce (1977: 55-57) divide os signos em dez
classes. Desta forma, tem-se o Quali-signo, sempre icnico e remtico, que consiste de uma
qualidade qualquer. a nica classe com signo simples, no entrando em relao alguma por
ser uma qualidade, o que Peirce denomina de quase-signo. icnico por ser uma qualidade
em si mesmo e que s denota um objeto por meio de similaridade; remtico porque uma
qualidade mera possibilidade lgica, e s pode ser interpretada como um signo de essncia,
ou seja, tal qualidade gera um termo isolado, sem memria racional. Enfim, s pode ser sim-
ples por estar totalmente em Primeiridade e com isso, no pode possuir as outras duas classes.
72
O Sin-signo Icnico Remtico todo objeto de experincia, particular e real, na
medida em que suas qualidades determinam a idia de um objeto. um signo por semelhana
(cone) que s pode ser interpretado como um signo de essncia (rema) e que, por isso, en-
volve um quali-signo. O Sin-signo Indicial Remtico representa um ndice o qual seu
objeto por uma relao real e necessria, sendo interpretado tambm na forma de um termo.
todo objeto da experincia direta na medida em que dirige a ateno para um objeto pelo
qual sua presena determinada. Totalmente em Secundidade, o Sin-signo Indicial Dicente
todo objeto da experincia direta na medida em que dirige a ateno para um objeto pelo
qual sua presena determinada, porm interpretado como uma proposio, uma frase, ca-
paz de fornecer informaes concretas sobre o objeto.
O Legi-signo Icnico Remtico traz mente, atravs de uma qualidade, uma re-
lao de semelhana com o objeto, sendo interpretado na forma de um termo. uma lei geral
na medida em que exige que cada um de seus casos corporifique uma qualidade definida, o
que o torna adequado para trazer mente a idia de um objeto semelhante. Sendo um Legi-
signo, deve governar Rplicas singulares as quais devem ser sin-signos icnicos de um tipo
especial. O Legi-signo Indicial Remtico todo tipo de lei geral que cada um de seus casos
seja afetado pelo objeto, de tal modo que simplesmente atrai a ateno para o objeto. Sua R-
plica um sin-signo indicial remtico especial. Sendo interpretado atravs de um termo.
O Legi-signo Indicial Dicente tambm todo tipo de lei geral, onde cada um de
seus casos afetado pelo objeto, sendo interpretado atravs de uma proposio. Sua Rplica
um sin-signo indicial dicente especial. O Legi-signo Simblico Remtico um signo liga-
do ao seu objeto por meio de associao de idias gerais de tal maneira que sua Rplica, um
sin-signo indicial remtico de tipo especial, traz mente uma imagem a qual, devido ao
hbito, tende a produzir um conceito geral. Por exemplo, todas as palavras. O Legi-signo
73
Simblico Dicente ou proposio ordinria um signo ligado ao objeto por meio da associ-
ao de idias gerais e que atua como um smbolo remtico, exceto pelo fato de seu Inter-
pretante o representar de tal forma que a existncia ou lei que ele traz mente deve ser real-
mente ligada com o objeto indicado. Desta forma, o Interpretante do smbolo dicente o en-
cara como um legi-signo indicial dicente. Sua Rplica um sin-signo dicente de tipo es-
pecial. O signo totalmente em Terceiridade o Legi-signo Simblico (Argumento), cujo
Interpretante representa seu objeto como sendo um signo ulterior atravs de uma lei segun-
do a qual a passagem das premissas para as concluses tende a ser verdadeira. Sua Rplica
um sin-signo dicente. Trata-se do silogismo, unidade mnima na construo do raciocnio.
74
4 ERA UMA VEZ... NOSSO FUTURO
Queremos cantar o amor do perigo, o hbito da energia e da temeridade. A cora-
gem, a audcia, a rebelio, sero elementos essenciais da nossa poesia. (...) Ns
queremos exaltar o movimento agressivo, a insnia febril, o passo de corrida, o
salto mortal, a bofetada e o sopapo. Declaramos que a magnificncia do mundo se
enriqueceu de uma beleza nova: a beleza da velocidade. Estamos no promontrio
extremo dos sculos! Porque deveremos olhar para detrs das costas se queremos
arrombar as misteriosas portas do impossvel? O Tempo e o Espao morreram on-
tem. Ns vivemos j no absoluto, pois j criamos a eterna velocidade. Cantaremos
as grandes multides agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta; cantaremos
o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas lu-
as eltricas; as gulosas estaes de caminho-de-ferro engolindo serpentes fume-
gantes; as fbricas suspensas das nuvens pelas fitas do seu fumo; as pontes que sal-
tam como atletas por sobre a diablica cutelaria dos rios ensolarados; os aventurei-
ros navios a vapor que farejam o horizonte; as locomotivas de vasto peito, galgando
os carris como grandes cavalos de ferro curvados por longos tubos e o deslizante
vo dos avies cujos motores drapejam ao vento como o aplauso de uma multido
entusistica. (Trecho do Manifesto Futurista, por Fillippo Marinetti, 1909)
Era uma vez, nosso futuro, um tempo e um lugar no to distantes daqui, mas que
nos fizeram acreditar que seria assombroso!.... Refletir sobre o futuro da prpria espcie,
estipular projetos em todos os setores da vida e perguntar-se sobre a imagem do futuro, so
atividades constantes na vida do homem, talvez to constantes por se tratar do lugar onde
esto contidos seus desejos e medos mais primitivos e mais inalcanveis.
A noo de morte pode ser considerada um medo primitivo no sentido de que des-
de as suas origens, o homem experimentou a sensao do que veio mais tarde a definir como
morte. Tal percepo, sentimentos e sensaes indescritveis na ntegra por nenhum sistema
de signos, nenhuma forma de linguagem, move a humanidade a fim de tentar responder sim-
ples perguntas: Por qu? Quando? Como ? Como ser? Haver um depois? Esta idia traz
consigo o tal desejo inalcanvel, e este fato se deve ao modelo da prpria lgica da lingua-
75
gem, ou seja, modelo dos antagonismos da lngua onde todo termo implica sua negao, onde
todo traz sempre um no . Desta forma, quando no se tem nenhuma resposta concreta e
comprovada do que viria a ser a morte e construindo a vida a partir desta verdade estabele-
cida, o homem acaba por pensar concomitantemente a respeito do seu termo antagnico: a
imortalidade. O desejo de uma idia que transcenda sua morte para que a estadia em vida
nunca seja esquecida, constri o conceito de que essa imortalidade trata-se de uma retribui-
o, um consolo frente ao acontecimento concreto e indiscriminado da morte.
Num passado remoto, o homem deve ter ouvido com assombro o som de batidas
regulares que vinham do fundo de seu peito, sem conseguir saber o que seria aquilo.
No podia identificar-se com um corpo, essa coisa to estranha e desconhecida. O
corpo era uma gaiola, e dentro dela, dissimulada, estava uma coisa qualquer que
olhava, escutava, tinha medo, pensava e espantava-se; essa sombra que subsistia,
deduzido o corpo, era a alma. Depois que o homem aprendeu a dar nome a todas as
partes de seu corpo (...) a dualidade da alma e do corpo estava dissimulada por ter-
mos cientficos (...) Mas basta amar loucamente e ouvir os rudos dos intestinos
para que a unidade da alma e do corpo, iluso lrica da era cientfica, imediatamente
se desfaa. (Trecho de A Insustentvel Leveza do Ser, Milan Kundera, 1982)
Diante disto, resta ao ser humano contar histrias. Todas as suas produes podem
ser consideradas reflexos, projees, extenses do que tais conceitos significam em sua vivn-
cia prtica. Nos seguintes captulos, encontram-se as reflexes acerca de trs produes cine-
matogrficas e das crenas estabelecidas do que seria a experincia de um lugar chamado
futuro.
76
4.1 METROPOLIS E A CLONAGEM HUMANA
(...) devem-se colacionar, nesse momento, as indagaes s pessoas sobre qual a di-
ferena entre um clone e gmeos univitelinos. A escravido de vincular-se o patri-
mnio gentico escolha pr-determinada de outra pessoa constitui, filosofica-
mente, a principal diferena. O problema da clonagem no a semelhana das par-
tes provenientes de uma mesma clula; essa semelhana inclusive poder deixar de
existir com a diferena j mencionada entre gentipo e fentipo. O ponto crucial ju-
rdico-filosfico prende-se subjugao do patrimnio gentico de uma pessoa a
outra. (FARIAS, 2006)
22
Metropolis projeta o futuro para o ano de 2026. Nas cartelas iniciais surge a su-
gestiva epgrafe: o mediador entre a cabea e as mos deve ser o corao!. A trilha sonora
em ritmo alucinante acompanha as imagens numa representao da engenhosidade tecnolgi-
ca: as mquinas com suas engrenagens a todo vapor, o transcorrer do tempo nos ponteiros dos
segundos indicando a troca de turno dos trabalhadores que entram e saem das profundezas da
Terra, caminhando em passos lentos e cabisbaixos, demonstrando seu sentimento de confor-
mismo, como gados frente ao abate inevitvel. Percebe-se, j nas cenas iniciais da obra, a
metfora do trabalho exaustivo e escravo na fbrica, o que em termos semiticos poderia ser
classificado como um legi-signo indicial dicente. Tal classificao implica uma lei de tipo
geral, onde cada um de seus casos afetado pelo objeto, o conjunto de tomadas (takes) da
seqncia inicial traz signos indiciais a partir da relao entre a caminhada dos operrios (em
ordem e cabisbaixos), juntamente com os signos icnicos do cenrio das mquinas (cuspindo
vapor). Torna-se uma lei geral, portanto simblica, quando se encara a seqncia como um
todo: a montagem enfatiza aos olhos do espectador somente os aspectos miservel e escravo-
crata em que vivem os trabalhadores daquela sociedade.
22
FARIAS, Paulo Jos Leite. Clonagem Humana e a Escravido Gentica: o dever de ser bem sucedido por
determinao de outrem. Promotor de Justia em Braslia (DF), diretor da Escola Superior do Ministrio Pbli-
co do Distrito Federal, professor da Universidade Catlica de Braslia, mestre em Direito e Estado pela UnB.
(http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4366 visitado em 16 setembro de 2006)
77
Figura 1 A Marcha dos Operrios.
A superfcie da cidade, to acima quanto s profundezas, abarca o chamado
Club of the Sons onde os filhos dos detentores do capital econmico convivem com os pra-
78
zeres do esporte e so entretidos por lindas mulheres nos Jardins do Eterno. Lugar ldico,
construdo por seus pais, onde escapa ao olhar toda misria da cidade dos trabalhadores, to
eterno quanto crena ilusria de que a ignorncia acerca da existncia de outros contextos
menos favorecidos seria a nica viso do mundo que valeria a pena ser contemplada, hbito
adquirido de que se as coisas esto funcionando no precisam, portanto, ser modificadas.
Neste sonho aparentemente eterno, vive o protagonista Freder. Os Jardins do Eterno fun-
cionam como sin-signo indicial dicente, a partir dos objetos materializados na tela, os quais
indicam o bem-estar, a proteo, e ao mesmo tempo, a iluso em que vive o heri da narrati-
va.
Figura 2 Os Jardins do Eterno.
A realidade cinza e maltrapilha, personificada pela personagem Maria, bate porta
do sonmbulo Freder, fazendo-o acordar deste sonho atravs das no menos sugestivas pala-
vras: Olhe, estes so seus irmos! (vide Anexo A: 118). O heri, movido pela curiosidade
79
atravessa a grande porta que divide os jardins e a cidade dos trabalhadores, porta esta que su-
gere a metfora de dois mundos divididos: o mundo imaginrio e o mundo real. Esta metfora
pode ser classificada como sendo um Legi-signo icnico remtico, ou seja, uma lei geral
que exige que cada um de seus casos corporifique uma qualidade especfica. Portanto, sua
Rplica, seu caso particular materializado pelo suporte imagtico (a porta), trata-se de um
sin-signo icnico remtico, pois traz mente, atravs das qualidades semelhantes ao objeto
porta, uma interpretao remtica: o termo porta. A narrativa mtica inicia aqui, com a
jornada do heri por uma nova tomada de conscincia, para um mundo desconhecido e aterro-
rizante onde acorda para vivenciar sua aventura e decidir qual caminho seguir. Freder en-
frenta a viso de um ambiente escuro, determinado pelo ao e pelo vapor, pela explorao
exaustiva do ser humano, onde os trabalhadores danam de maneira automtica, formando
as pequenas partes da grande engrenagem. Esta cena personificada pelo recurso da prosopo-
pia imagtica referindo-se ao monstro Moloch
23
que literalmente engole os funcionrios!
signo da crtica s transformaes sociais decorrentes do fortalecimento crescente das conse-
qncias da Revoluo Industrial (de meados do sculo XIX). O monstro Moloch consiste
numa idia geral, signo arbitrrio representando o aspecto negativo do ser industrial apre-
sentado ao espectador atravs dos inserts de legendas. Enquanto lei, trata-se de um legi-signo,
onde sua Rplica corporificada pelo conjunto das engrenagens da fbrica, sua semelhana
monstruosa enfatizada atravs do recurso da fuso de imagens sin-signo icnico remti-
co.
23
Demnio fencio e canaanita. Na tradio bblica, o nome do deus que sacrificava seus recm-nascidos, jo-
gando-os na fogueira. (Referncia: www.wikipedia.org visitado em 20/09/2006)
80
Figuras 3 O Monstro Moloch.
O devaneio da personagem ilustra sua substituio de crenas, em outras palavras,
Freder visualiza que o sentido e a existncia de sua vida at aquele momento dependiam do
sacrifcio cruel imposto aos seus semelhantes. Estado de dvida representado pelo signo da
curiosidade, que acabou por gerar a ao do heri sada de seu mundo comum - em busca de
81
uma resposta. Por um raciocnio lgico e dedutivo o heri parte em busca de seu pai, Joh Fre-
dersen, na Nova Torre de Babel (vide Anexo B: 119). Vale aqui a tentativa de desvendar uma
possvel interpretao do termo Nova Torre de Babel: segundo o livro bblico do Gnesis
(10:10; 11:1-9), a Torre de Babel caracterizada como uma enorme torre erigida pelos des-
cendentes de No que supostamente sobreviveram ao grande Diluvio. A Torre teria como
finalidade alcanar os cus, estar mais prxima de Deus. No entanto, irado com a ousadia
humana, Deus teria feito com que todos os trabalhadores da obra comeassem a falar em idi-
omas diferentes, de modo que no pudessem se entender, e assim, acabaram por abandonar a
sua construo metfora mitolgica que tenta explicar a origem dos idiomas na humanidade.
Detentor de todos os meios para o funcionamento dessa sociedade, a personagem
Joh Fredersen representa um sistema controlador, um deus-humano responsvel pela re-
construo de Babel. Encabeando a hierarquia social, ou seja, a lngua falada nesta Nova
Torre a representao da crena imposta de maneira autoritria por este deus-humano. Sua
funo preservar o paradigma tecnolgico, atravs da manuteno sistmica de dois mun-
dos: o estgio externo que corporifica as idias de crescimento industrial, de praticidade
social, atravs de sua magnfica arquitetura ilustrando que o poder capital fornece a constru-
o dos sonhos humanos; e no estgio interno, a cidade das mquinas ambientada no sub-
solo, onde os operrios seguem as leis programadas do trabalho braal a despeito de toda tec-
nologia. Portanto, percebe-se que as duas metforas mitolgicas, a saber, o Monstro Moloch e
a Nova Torre de Babel, ressaltam as oposies da narrativa: trabalho-capital econmico, pro-
fundeza-superfcie, operrios-burguesia... - to acima quanto s profundezas.
No estgio externo, encontra-se o filho protegido pelas atividades ldicas e erti-
cas desempenhadas pelos seus acompanhantes, a fim de mant-lo distante do mundo real,
acreditando que o modelo imposto pelo pai traz, como conseqncia, a proteo, o mundo
82
confortvel que lhe apresentado. Freder representa a plutocracia burguesa diante das maze-
las sociais, despreocupada, ludibriada e inconsciente de que tambm controlada por um sis-
tema centralizador, afinal este sistema que lhe garante o bem-estar. Como heri mtico, Fre-
der enfrenta sua aventura rompendo sua alienao ao se fazer passar por um trabalhador, desta
forma, ultrapassa a barreira que o separava da maturidade humana provando da brutalidade
autmata por que passam os que agora considera como sendo seus irmos. Nota-se neste
ato, outra metfora importante: Freder pode significar o que Bourdieu explica como o con-
flito dentro de um espao social, ou seja, dentro do que se instituiu em termos marxistas
como classe burguesa conjunto de pessoas e instituies que incorporam uma mesma ide-
ologia, uma mesma crena -, percebida a existncia de um de seus membros que corre o
risco de abrir os olhos para a sua prpria condio e para as condies da classe antagnica
a operria - e questionar os conceitos impostos arbitrariamente. Pode-se, tambm, trazer de
volta o conceito de Kuhn sobre a percepo da anomalia, corporificada no signo de Freder
representando os indivduos enquanto seres capazes de escolha a partir da percepo de
outros modelos que possam ser seguidos ou transformados.
H dois tipos de proeza herica, uma a ao fsica, onde o personagem salva a
vida de algum, se d ou sacrifica-se por outra pessoa. O outro tipo o heri espi-
ritual, que aprende ou encontra uma forma de experimentar um nvel supranormal
da vida espiritual humana e depois volta e comunica aos outros. sempre um ciclo
de ida e volta na trajetria do heri. Pode-se perceber isto no simples ritual de inici-
ao, quando a criana deve abandonar sua infncia e tornar-se adulta. Ela deve
morrer, ou seja, deixar sua personalidade infantil morrer e voltar como um adulto
responsvel. uma experincia comum que todos ns devemos passar: vivemos na
infncia durante 14 anos e devemos sair desta postura de dependncia psicolgica
para assumir uma atitude de responsabilidade e autonomia e isto requer uma morte
e uma ressurreio. Este o tema principal da jornada do heri; abandonar uma
condio, encontrar a fonte da vida e chegar a uma condio diferente, mais rica ou
mais madura. (CAMPBELL: 1988)
Freder o signo do primeiro tipo de heri mtico. Da mesma forma, e percebe-se
isto na antropologia de Lvi-Strauss, assim como a maioria dos mitos ocidentais, a mulher o
signo do desequilbrio entre o dualismo humano. Em Metropolis, a personagem Maria corpo-
rifica o signo da dissidncia operria, da liderana travestida em uma aura religiosa que faz a
83
ligao entre a classe escravizada e a idia de esperana revolucionria, a partir de um discur-
so cristo que prev o surgimento de um messias libertador. Burguesia e operrios, ambos
controlados pelo pensamento abstrato, pelos signos invisveis do ser salvador e da tecnologia
idiotizante. Maria representa o agente anmalo que faz o heri acordar para seu dever social e
que, por isso, supe que novos modelos podem substituir o paradigma tecnicista vigente na-
quele contexto.
Como representante da ameaa iminente ao sistema controlador, a herona vtima
de um cientista que a sujeita tcnica da clonagem humana. O mito de Frankenstein citado
em Metropolis sob nova roupagem, disseminando o paradigma ps-humano vigente nas
sociedades contemporneas.
O que realmente encontramos na fico cientfica e em outros mbitos culturais
contemporneos sobre a realidade virtual so metforas e fantasias, projees dos
nossos medos e esperanas a respeito da vida dentro de uma mquina ou da vida
ampliada pela mquina na era ciberntica. Vivemos uma nova era, no simples-
mente a ps-moderna, mas a ps-humana, na qual temos de redefinir o significado
de ser humano. (GORDON apud YEFFETH, 2003: 98)
84
Figura 4 A clonagem de Maria pelo cientista Rotwang.
A narrativa da dcada de 20 apresenta a tentativa de re-significao do papel do
ser humano inserido num espao social adverso e, no entanto, criado por ele. Maria e Freder
85
unem-se na luta contra a explorao humana pela mquina, invocando princpios cristos de
compaixo ao prximo a fim de re-criar uma sociedade igualitria. O que se espera dessa luta,
conforme o pensamento marxista da poca, uma revoluo poltica e trabalhista, porm
esta insurreio realizada pela prpria burguesia. Como detm os capitais intelectuais e fi-
nanceiros, essa classe utiliza o que h de mais revolucionrio: a clonagem humana. A fim de
destruir uma possvel revoluo no mundo dos trabalhadores, o clone de Maria criado para
incitar junto classe uma revoluo que justificaria a destruio de todo o mundo subterrneo
(o estgio interno), por Joh Fredersen. Tal destruio motivada pela crena do deus-humano
em poder reconstruir pela terceira vez o paradigma at ento imposto: a lngua tecnicista,
exploradora, de hierarquias definidas, que todos so obrigados a falar, a Nova Torre de Babel.
Assim como qualquer forma tecnolgica inventada pelo homem, a clonagem hu-
mana serve aqui como propulsora da discrdia social, servindo somente em beneficio daque-
les que detm sua tcnica. Qual a mensagem do mito propagada por Metropolis? O pensa-
mento dualista de um mundo que pode ser unido pela fora conjunta, o desejo de unificao e
satisfao coletivas liderados por personagens messinicas, de esprito livre e comprometidas
com o bem comum, sujeitos altrustas que conscientemente se oferecem ao sacrifcio em prol
de algo maior do que eles mesmos: a estruturao de uma sociedade igualitria e justa.
Por outro lado, verifica-se que o signo da massa trabalhadora desvela o seu carter
ingnuo e no-contestador perante a aceitao da forma autoritria de aquisio e substituio
de crenas, tanto em seu papel, enquanto peas de uma mquina controladora, quanto como
seguidores do discurso de dois messias revolucionrios. Em outras palavras, a grande popula-
o proletria se encontra merc de algum tipo de controle superior a ela prpria: de um
lado o controle do Estado e, de outro, o religioso, ambas sendo formas autoritrias de controle
social, suprimindo o carter humano das massas a fim de impor seus modelos de comporta-
86
mento. A classe proletria simplesmente substitui um modelo por outro, sua atitude revela o
carter paternalista da sociedade de massa, sob o contexto daquela poca.
Simbolicamente, a obra funciona como veculo ideolgico do Estado, adquirindo
status de verdade ou, pelo menos, motivo de reflexo para o espectador que o assiste. O
futuro idealizado em Metropolis adianta a questo mais controversa e polmica do sculo
XXI: o homem conseguiria, a partir de uma parte de si, multiplicar-se sem perder suas carac-
tersticas fsicas e, quem sabe, intelectuais? E caso a resposta fosse afirmativa, isto seria per-
mitido diante dos termos morais e ticos da civilizao contempornea? A clonagem humana
poderia ser considerada o triunfo da humanidade ao driblar a morte, a partir da transcendncia
do corpo fsico? Tais questes alimentam os estados de dvida com objetivo de estabelecer
uma verdade satisfatria, um hbito de ao uma crena em que tipo de futuro se deseja.
Por fim, de forma jocosa, afirme-se que o mximo do narcisismo a clonagem de si
prprio. Aqueles que almejam que o seu programa gentico seja duplicado, agem
com vaidade de julgarem-se perfeitos, a tal ponto que estariam ajudando a Natureza
a duplicar essa criatura incomparvel! (FARIAS, 2006)
O incio do filme adianta a moral da histria, a mensagem do mito, ao afirmar
que o mediador entre a cabea e as mos deve ser o corao!, ou seja, as mos, a partir do
pensamento racionalista (a cabea) seguindo ordens estabelecidas (que falam a mesma ln-
gua), so os signos da habilidade humana em construir e transformar os mais variados cas-
telos conceituais, as Torres de Babel. Seguindo tal mxima, os sentidos deveriam ser os gui-
as do comportamento humano, enfim, neste futuro mtico, semeada a idia da possibilidade
imortal do homem proveniente do fortalecimento tecnolgico, abarcando a experincia gen-
tica, tanto para o bem, quanto para o mal. Porm, ao instituir o corao como guia do com-
portamento humano, institui-se tambm a queda da mitolgica Torre de Babel ou seja, ao
reprimir a racionalidade com todas as suas leis e guiar-se somente atravs de seus sentidos (o
87
corao), todas as formas de comportamento seriam justificveis fazendo com que os mem-
bros desta sociedade no falassem mais o mesmo idioma.
4.2 BLADE RUNNER E O HOMEM-MQUINA
O filme baseou-se no romance Do Androids Dream of Eletric Sheep?, de Philip K.
Dick (1968), em que os animais de verdade se tornaram to raros que qualquer ser
vivo tem um valor exorbitante e se criam animais autmatos e humanides para
preencher a lacuna (e expiar a culpa). Enquanto isso, o protagonista, cujo trabalho
matar andrides contrabandeados (chamados replicantes no filme), luta para en-
tender a decadncia do mundo. O filme e o romance seguem linhas diferentes, mas
ambos tm qualidades e defensores. (...) Na fico cientfica, o maior explorador do
desconhecido foi Philip K. Dick. Sua vida pessoal desregrada refletiu na sua obra,
que s teve reconhecimento do pblico aps a sua morte e o sucesso do primeiro
filme adaptado de uma obra sua, Blade Runner (1982). (...) a sua obra sempre teve
timas idias e grande estilo, marcada pela busca de uma realidade ilusria.
(GUNN apud YEFFETH, 2003: 75-76)
Em Blade Runner O Caador de Andrides, na segunda verso do diretor Ridley
Scott, o desenvolvimento tecnolgico trouxe certas facilidades aos humanos em 2019, porm,
no so percebidas modificaes na organizao social. O filme tem como personagem cen-
tral o policial Deckard, que possui a misso de capturar e matar um grupo de andrides que
escapou das Colnias Interplanetrias e infiltrou-se na Terra com o propsito de encontrar
seu criador, Dr. Tyrell detentor do capital econmico e tecnolgico na cidade de Los Ange-
les, no ano de 2019.
Enquanto o espectador atrado pela caada aos andrides (aspecto que define a
obra enquanto romance policial de fico cientfica), alguns signos so inseridos no desen-
rolar da narrativa a fim de desviar a ateno do espectador do que seria a mensagem principal
do filme (a natureza artificial ou humana de Deckard). Assim, duas histrias so contadas,
88
porm, esta anlise procura atentar para os aspectos que evidenciam o conflito de identidade
do protagonista. Para tanto, faz-se necessria a contextualizao do que a narrativa procura
propagar enquanto hbitos de ao veiculados atravs dos legi-signos, para enfim, sujeitar
quatro cenas especficas classificao peirciana dos signos.
O desvio da ateno do espectador se d, principalmente, atravs de quatro cenas
nas quais se percebe os signos que se desenvolvem e que, no desfecho da obra, desvendam a
identidade do protagonista. Para a anlise, essas quatro cenas foram tomadas isoladamente,
seguindo o desenvolvimento da narrativa, para que no final, possam ser tomadas como uma
totalidade, devido evoluo interpretativa dos signos na obra. Duas espcies de signos
sero analisadas seguindo o mtodo semitico de classificao: trs origamis feitos pelo poli-
cial Gaff, bem como o sonho de Deckard com um unicrnio.
Primeiramente, verifica-se o carter passivo do personagem J. F. Sebastian, indi-
vduo conformado com a discriminao pela sua doena degenerativa, impedido de habitar as
Colnias Interplanetrias, obrigado a viver sozinho num edifcio em runas. Ora, se um em-
pregado um gnio em engenharia gentica, capaz de construir substitutos humanos (andri-
des) para o servio escravo, por que sua conformao em viver em ambiente to hostil? Tal-
vez o indivduo "ps-moderno" tenha se acostumado solido, ao individualismo, deixando
no passado suas antigas reivindicaes, suas antigas lutas modernas por melhor qualidade
de vida.
O domnio econmico de grandes corporaes, que agora produzem em srie pro-
ttipos de seres humanos, a mistura de lnguas faladas nas ruas de Los Angeles, servem como
ndices da globalizao avanada. A poluio sonora e visual dos grandes letreiros de Coca-
Cola e fast food japons, que convidam os habitantes a sarem do planeta em busca de uma
vida nova, onde possam respirar facilmente: "Uma nova vida te espera nas Colnias Inter-
89
planetrias. A chance de comear de novo, numa terra dourada de oportunidade e aventura.
O cenrio grotesco uma projeo dos medos atuais: protecionismo econmico num mundo
global, a iminncia de um colapso ambiental, indicando a ruptura com um pensamento huma-
nista positivo e a diviso entre realidade e fico. (Vide Anexo C: 120)
Este "indivduo ps-moderno" de Ridley Scott conserva signos similares do tra-
balhador braal de Metropolis. Se em meados do sculo XIX as lutas proletrias aspiravam a
diminuio da carga horria de trabalho, a destituio do poder centralizador da classe bur-
guesa e, principalmente, a sua organizao e legitimao enquanto "classe" (MARX E EN-
GELS, 1847); no futuro ficcional de 2019, as lutas perderam seu carter militante, porm,
empregados sero sempre empregados, sem muitos direitos a usufrurem no novo projeto de
vida: a chance de comear de novo. Percebe-se que as mazelas sociais so similares, tanto
na fico quanto na realidade: o alcoolismo do policial Deckard, a depresso e solido de J. F.
Sebastian. O desenfreado e desordenado crescimento da produo e do consumo decorrentes
do sistema tecnocrata, j haviam sido reconhecidos como um grande perigo sociedade mo-
derna por autores como Marx (apud FROMM, 1975: 42), que acreditava que uma sociedade
altamente industrializada poderia ser transformada numa sociedade humana na qual o ho-
mem, e no os bens materiais, seria a meta de todos os esforos sociais.
O paradoxo entre seres humanos e andrides alicera o conflito narrativo na obra.
Enquanto os homens vivem em total passividade, sem qualquer tipo de organizao social, os
andrides tomam para si as antigas lutas da modernidade, organizam-se em grupos e voltam
a Terra, clandestinamente, correndo o perigo de serem caados e mortos antes do tempo pre-
visto. Sua luta no reivindica a diminuio da carga horria de trabalho, ou a sada da escravi-
do trabalhista em que se encontra; sua luta pela vida, por mais tempo de vida pois sua
90
existncia foi previamente determinada pelos geneticistas da indstria Tyrell ou seja, a vida
dos homens-mquina escravizada pelo tempo.
A personagem lder dos replicantes, Roy Batty, ao encontrar finalmente seu criador
e constatando que em sua busca no h soluo, a no ser o conformismo diante da lei maior
que rege sua existncia: a iminente mortalidade; acaba por matar seu deus, Dr. Tyrell. A bus-
ca de toda a sua existncia acaba de maneira frustrante: h um deus, um criador, mas que no
pode fornecer respostas ou mais tempo de vida. H aqui outro signo que reflete os medos atu-
ais: por mais que o homem tenha condies de criar novos seres, no pode fornecer uma res-
posta h tempos especulada: quem seria esse deus? Qual a fonte da vida? Como escapar da
morte iminente? Esta conscincia da mortalidade fundamenta o dualismo humano: de um
lado, o ser mortal, de outro, a utpica imortalidade.
A crena no signo deus possui a funo de equilibrar o sistema vigente, as hierar-
quias, o funcionamento de uma prtica social. Aqui, este signo refere-se simplesmente a um
homem dotado de inteligncia e poder, homem onipotente capaz de criar mais homens sua
imagem e semelhana atravs da tecnologia. Sobre esta incessante busca humana fonte de
vida e que se reflete nas narrativas mticas, retorna-se a J. Campbell (1988):
O mito no procura ser uma pista para o significado da vida, mas a busca pela pr-
pria experincia da vida. Estamos to preocupados com objetivos a serem atingidos
no plano exterior, que esquecemos que a grande procura experimentar a vida em
todos os seus sentidos e dores. Queremos pensar em termos de um Deus, quando
Deus um pensamento, uma palavra, uma idia, um conceito que se refere a algo
que transcende qualquer pensamento, qualquer palavra. O mito est no nvel onde
as metforas se referem s coisas absolutamente transcendentais: o que no pode
ser conhecido, o que no pode ser nomeado exceto na nossa frgil tentativa de re-
vesti-lo com a linguagem. E na nossa linguagem, a palavra para designar o que h
de mais transcendental deus.
Neste futuro, os humanos so caracterizados por uma existncia conformista, os
novos modelos de andrides com memrias implantadas, so incnscios de sua verdadeira
natureza. O personagem Roy (verso ultrapassada) faz a mediao entre essas duas conscin-
91
cias, servindo como lembrana daquilo que os homens foram no passado: buscando seu deus,
sua origem, tentando retardar sua mortalidade atravs do tempo. As identidades de Deckard e
Roy podem ser anlogas s definies de Stuart Hall (2002: 10-13):
O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepo da pessoa humana como
um indivduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razo, de
conscincia e de ao, cujo centro consistia num ncleo interior, que emergia pela
primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permane-
cendo essencialmente o mesmo ao longo da existncia do individuo. (...) A noo de
sujeito sociolgico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consci-
ncia de que este ncleo interior do sujeito no era autnomo e auto-suficiente, mas
era formado na relao com outras pessoas importante para ele, que mediavam a
cultura dos mundos que ele/ela habitava. (...) A identidade (do sujeito ps-moderno)
torna-se uma celebrao mvel; formada e transformada continuamente em relao
s formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais
que nos rodeiam. definida historicamente, e no biologicamente.
Enquanto Deckard, sobre o qual cai a dvida quanto a sua origem, assume o papel
do "sujeito ps-moderno", apresentando identidades diferentes em diferentes momentos, as
quais no so unificadas num "eu coerente", Roy corporifica a retomada ao "sujeito sociolgi-
co" moderno, com o seu "eu" definido artificialmente, porm, dotado de razo e crente de que
poderia encontrar as respostas que tanto procura, em outras palavras: sair de seu estado de
dvida para estabelecer um hbito de ao, se unido a outros de sua classe ou espcie.
A primeira cena analisada trata da discusso entre o chefe de polcia, capito
Bryant, e o blade runner aposentado, Deckard. O policial Gaff que o acompanhar na caada,
deixa um origami na forma de um animal, na mesa de seu escritrio.
24
Devido percepo
das formas que vm deste objeto, conclui-se que este "se parece" com um animal, mais preci-
samente com uma ave. A dobradura possui existncia concreta, o que Peirce define por
sin-signo. Levando-se em conta sua semelhana com um objeto da experincia semelhan-
a percebida atravs da comparao entre sua forma e qualidades (asas, bico, patas) -, esse
sin-signo passa a dar a idia de um objeto existente; portanto, um signo icnico de uma
24
Tipo de dobradura de papis, pela qual possvel representar diversos objetos.
92
ave. O Interpretante signo mental advindo do origami o interpreta com uma palavra:
"ave"; portando: um rema o qual no traz informao alguma sobre o objeto que possa ser
confirmada. Assim, na classificao peirciana, a dobradura que traz a forma de uma ave, con-
siste num sin-signo icnico remtico.
Figura 5 Origami ave
Atravs do recurso cinematogrfico do Plano Detalhe, a obra evidencia, chama a
ateno, tanto do espectador, quanto do protagonista, para este signo deixado por Gaff. Este
recurso de enquadramento da imagem demonstra o que Peirce chama de evoluo sgnica,
ou seja, o espectador atento a todas as imagens da obra pode se questionar sobre o motivo
pelo qual tal evidncia neste objeto em particular foi escolhida pelo diretor: quer dizer algo
sobre a origem oriental de Gaff? O que a dobradura de uma ave poderia significar para a
trama?. Em termos classificatrios, h o descolamento de um sin-signo icnico remtico
(semelhana com uma ave) para um sin-signo indicial dicente (identificao por parte do
espectador quanto a possvel importncia deste mesmo signo para o desenvolvimento da nar-
rativa).
93
Enquanto Deckard procura pistas (sin-signos indiciais) no apartamento do andri-
de Leon, Gaff produz outro origami. Desta vez, um objeto diferente do primeiro e que, devido
s suas qualidades (duas pernas, cabea, tronco, dois braos), similar a um "homem"; por-
tanto de novo: um sin-signo icnico remtico. Esta comparao entre dois objetos, entre
dois sin-signos icnicos (os origamis da ave e do homem) s pode ser feita atravs dos
legi-signos, das leis gerais, ou seja, dos hbitos de ao j pertencentes mente, com as
quais se pode comparar as qualidades gerais de um e de outro e, assim, classific-los como
uma ave e um homem.
Figura 6 Origami homem
Deckard presencia a ao de Gaff e o faz com um olhar questionador. J no lhe
interessa que seja o sin-signo icnico de um animal ou de um homem, mas sim saber o motivo
desta atitude de Gaff em deixar um objeto estranho, uma pista de sua presena no apartamento
de um andride. Por indagar-se sobre os possveis significados destes signos, os origamis tor-
nam-se sin-signos indiciais dicentes. A exemplo de Deckard, o espectador do filme nova-
94
mente se depara com uma nova estrada para o entendimento do filme; e novamente devido ao
posicionamento da cmera. Nesta cena, o close up no objeto mais longo, cerca de 5 segun-
dos; assim, torna-se claro ao espectador que esta evidncia nos origamis de Gaff intencional
e funciona como ndice aos futuros acontecimentos do filme.
Tanto o origami quanto o policial Gaff, bem como o recurso de enquadramento em
close dos objetos, so peas importantes que, em cenas especficas, chegam e chamam o es-
pectador a prestar mais ateno nos acontecimentos da trama; desta forma, podem ser inter-
pretados, todos estes elementos, como sin-signos indiciais dicentes. Quem assiste a obra
pode se perguntar: por que Gaff deixa esses origamis, e por que o deixou em "terreno inimi-
go"? Um origami era o sin-signo icnico de uma "ave", o outro era um sin-signo icnico de
um "homem", o que eles querem dizer a mim e a Deckard? Gaff estaria ao lado dos andrides
ao deixar pistas de sua presena no apartamento de Leon? Talvez, Gaff saiba de algo que
tanto o protagonista quanto o espectador, no sabem ainda.
Deckard descobre e conta a Rachel que ela uma espcie de andride mais desen-
volvido, que as memrias de sua vida so implantadas e que, por isso, no sabe de sua nature-
za artificial. Na cena em que o policial est em casa, olhando vrias fotos, percebe-se sua re-
flexo quanto autenticidade das suas prprias memrias, ento, Deckard sonha: um unicr-
nio branco galopa na floresta. Esta a principal cena do filme, inserida pelo diretor, somente
em sua segunda verso.
95
Figura 7 O sonho de Deckard
Um "unicrnio" um objeto inexistente no mundo objetivo; o intrprete deste
signo o classifica atravs da sua semelhana com outro objeto existente: o cavalo. O cavalo
est armazenado na mente como uma lei geral (legi-signo), para que ela possa identificar um
unicrnio atravs de suas qualidades (uma espcie de cavalo com um chifre na cabea). Sendo
um objeto inexistente, o unicrnio uma conveno humana, portanto um legi-signo simb-
lico remtico, o qual constitudo de um cone remtico uma imagem mental de um
cavalo e que s classificado na mente interpretante atravs de sua caracterstica distintiva
de um cavalo, a saber, o chifre:
... uma lei necessariamente governa, ou est corporificada em individuais, e pres-
creve algumas de suas qualidades. Conseqentemente, um constituinte de um Sm-
bolo pode ser um ndice, e um outro pode ser um cone. (...) Um smbolo genuno
um smbolo que tem um significado geral. H duas espcies de smbolos degenera-
dos, o Smbolo Singular, cujo Objeto um existente individual, e que significa ape-
nas aqueles caracteres que aquele individual pode conceber; e o Smbolo Abstrato,
cujo Objeto nico um carter. (PEIRCE, 1977: 71)
96
Para Deckard, que havia dormido com o pensamento voltado sobre a origem e as
memrias implantadas de Rachel, o unicrnio e a floresta so sin-signos indiciais dicentes,
ou seja, um objeto mental que nunca existiu, originado a partir de um objeto existente. Para o
espectador sensvel aos desvios sgnicos, o sonho pode ser classificado tambm como um
sin-signo indicial dicente, ele pode ter em mente que os sonhos servem como um vislum-
bre do futuro, um indicativo das memrias de Deckard que, assim como os objetos de seu
sonho, podem nunca ter existido.
Aps a luta com o lder dos andrides (Roy), e ter sua vida salva por ele, Deckard
volta para sua casa procura de Rachel, com receio de que Gaff ou Bryant tenham o propsito
de elimin-la. Deckard a encontra dormindo e decide fugir com ela, mas ao sair de seu apar-
tamento, encontra outro origami no cho: sin-signo icnico remtico de um "unicrnio".
Para Deckard a prova de sua origem, este sin-signo icnico serve como Rplica para essa
constatao: "Gaff sabia de meu sonho"/ "Logo sou um andride", ou seja, formulao de
uma concluso atravs dos signos passados, portanto: um signo totalmente em Terceiridade,
um legi-signo simblico (argumento).
97
Figura 8 Origami unicrnio
A constatao do protagonista a mesma para o espectador, que atravs dos signos
inseridos durante o filme, tem agora condies de desvendar a verdadeira origem da persona-
gem "sim, ele um andride!". Essa constatao acontece atravs de um flashback na mente
interpretante, que repensa e busca os signos que antes indicavam para alguma coisa ainda des-
conhecida e que agora unem-se para concluir a trama.
Os smbolos crescem. Retiram seu ser do desenvolvimento de outros signos, especi-
almente os cones, ou de signos misturados que compartilham da natureza dos cones
e smbolos. S pensamos com signos. Estes signos mentais so de natureza mista;
denominam-se conceitos suas partes-smbolo. Se algum cria um novo smbolo, ele
o faz por meio de pensamentos que envolvem conceitos. Assim, apenas a partir de
outros smbolos que um novo smbolo pode surgir. Um smbolo, uma vez existindo,
espalha-se entre as pessoas. No uso e na prtica, seu significado cresce. (PEIRCE,
1977: 73)
98
No desfecho da histria, Deckard est pendurado num prdio prestes a cair, o an-
dride Roy, que segura uma pomba branca nas mos, diz ao blade runner aterrorizado diante
da morte: "Uma experincia e tanto viver com medo, no ? Ser um escravo assim". Roy
salva Deckard, sentam-se no terrao, molhados pela forte chuva e diz suas ltimas palavras:
"Eu vi coisas que vocs nunca acreditariam. Naves de ataque em chamas perto da borda de
Orion. Vi a luz cintilar no escuro, na Comporta de Tannheuser. Todos esses momentos se
perdero no tempo como lgrimas na chuva. Hora de morrer (Vide Anexo D: 121). So as
frases mais humanas proferidas durante todo o filme, a condio dos andrides influencia a
vida, at ento ordinria e decadente, de Deckard, que parte para o questionamento de sua
prpria condio humana. De um conformismo primeiro, a personagem questiona sua ori-
gem, chegando concluso de que sua nica verdade, talvez a ltima que lhe havia restado,
tambm poderia desaparecer na chuva. Como ser fragmentado que , assume sua nova
condio de andride e foge com Rachel, sua namorada, tambm um andride, para o incio
de uma nova vida:
Parece, ento, que a msica das esferas nunca ouvida aplica-se, mais apropriada-
mente, como metfora, modernidade. De fato, toda a cincia ps-renascentista
afirmou-se mecanicista, no sentido de uma f na causalidade estrita. Um mundo su-
posto como uma grande mquina cartesiana, regido pelas leis da mecnica, perma-
neceu como modelo at o incio deste sculo. (IBRI, 1992: 44)
4.3 MATRIX E A ESQUIZOFRENIA CONTEMPORNEA
A idia de um mundo mecanicista se materializa na trilogia de Matrix, trazendo
tambm a idia de dois mundos: 1) o das mquinas que dominam e controlam o equilbrio de
leis causais; 2) o dos humanos, ambientado nas profundezas da Terra, mantenedor do signo da
esperana, de forma similar a dos operrios de Metropolis e dos andrides de Blade Runner.
99
O engodo criado pelo sistema controlador a formao do que seria um terceiro mundo ide-
al e totalmente construdo pela mquina, a Matrix. A obra reflete o pensamento cartesiano,
justamente por construir trs mundos coexistentes e dependentes um do outro.
Em 2199, a superfcie da Terra foi destruda numa guerra com mquinas dotadas de
inteligncia artificial. Muito abaixo da superfcie, seres humanos so criados como
fonte de energia das mquinas e mantidos em estado embrionrio, sonhando que
vivem numa cidade americana em 1999. Esse mundo de sonho, chamado Matrix,
uma simulao de computador que visa manter as massas dceis. Poucos humanos
permanecem no mundo real e combatem as mquinas. Morpheus, o lder dos rebel-
des, atravessa o mundo subterrneo num hovercraft, como o Capito Nemo de Jlio
Verne. Da Matrix, Morpheus e a sua tripulao resgatam Thomas Anderson de
dia, programador de computador de uma grande companhia; de noite, hacker fora-
da-lei conhecido como Neo. Morpheus est convencido de que Anderson deve ser o
Predestinado previsto pelo Orculo: o homem que pode derrotar os agentes. Neo,
cujo nome um anagrama de One, no tem conscincia de que vive numa reali-
dade simulada. Primeiro, ele precisa ser retirado da Matrix, renascer no mundo real,
ser reeducado e treinado. (GORDON apud YEFFETH, 2003: 101)
Segundo Gunn, a obra de fico cientfica encarna a antiga tradio em questionar
a natureza fundamental da realidade. Em Matrix esta pergunta recorrente, trazendo outra
ainda mais inquietante: como ter certeza da natureza desta realidade?.
A Encyclopedia of Science Fiction explica no verbete percepo: As maneiras
pelas quais nos conscientizamos e recebemos informaes do mundo exterior, prin-
cipalmente por meio dos sentidos, so denominadas percepo. Os filsofos diver-
gem profundamente na questo de saber se a nossa percepo do mundo externo cor-
responde a uma realidade verdadeira, ou se ela constitui simplesmente hipteses,
construes intelectuais, que podem proporcionar uma imagem incerta ou parcial da
realidade externa, ou se, ainda, a realidade externa , de fato, ela mesma uma cons-
truo mental. A percepo e sempre foi tema primordial da fico cientfica.
(GUNN apud YEFFETH, 2003: 69)
Matrix inaugura na cinematografia um novo problema relativo percepo da rea-
lidade. Em obras anteriores, a questo estava baseada num modelo preocupado essencial-
mente com o impacto da cincia na sociedade e na existncia humana, mas a trilogia explora
questes relativas realidade e iluso, refletindo no mais o paradigma ps-humano, mas
sim o ps-real.
Como no computador, cada religio como um software, que tem seu prprio
conjunto de sinais e que funciona. Caso se escolha por uma determinada religio e
construa sua vida em torno de seus princpios, melhor no larg-la, pois a mistura
de sinais de softwares diferentes pode gerar a desordem em termos do que fazer. As
mquinas no fazem os mitos, os mitos incorporam elementos de sua poca, os sis-
temas de poder envolvidos numa cultura. (CAMPBELL, 1988)
100
Segundo Gunn (apud YEFFETH, 2003: 74), os mundos paranicos pressupem
que, por trs da realidade superficial que conhecemos, existe uma realidade subjacente com-
posta de pessoas ou organizaes que exercem o poder verdadeiro, como vemos em Matrix.
Dentro deste gnero, o autor afirma que tais pressupostos advm de uma crena social nas
chamadas teorias da conspirao, ou seja, a crena de que o controle social est nas mos de
organizaes secretas como os maons, os iluminados, os banqueiros judeus, os mdicos, os
ciganos, os helicpteros pretos das Naes Unidas, os aliengenas cinzentos, etc.
A histria herica contada em Matrix traz o personagem Neo como a representa-
o de um heri do Real, ou um deus messinico, com a funo de dominar seus sentidos e
a percepo de uma realidade construda a fim de salvar, ou des-plugar, grande parte da hu-
manidade diante da narcotizao da conscincia, do mundo dos sonhos a que esto submeti-
dos. Neo o heri mtico que enfrenta sua aventura de forma consciente desde o incio, pois
se encontra em estado de dvida quanto realidade em que vive. A ao gerada por essa
intranqilidade a busca em seu computador pelo personagem que vir a ser o seu mentor
durante a aventura, o hacker Morpheus. Sua primeira prova est na escolha entre a plula
vermelha - responsvel por inseri-lo no mundo real, o mundo desconhecido e a plula
azul, signo da continuidade de seu sonho programado pelas mquinas. Neo enfrenta a hora
de decidir entre dois mundos, no entanto, estes no lhe so apresentados, mas sim representa-
dos pelas plulas que por si prprias no trazem o conhecimento das conseqncias prti-
cas decorrentes dessa escolha. O heri acredita em Morpheus, e acredita tambm j conhecer
as conseqncias possveis ao escolher a plula azul, porm, como um ser que no acredita
em destino na possibilidade de no ser dono de sua vida no percebe que, nesta situa-
o, lhe apresentada somente uma escolha: a plula vermelha.
101
Figura 9 As plulas: livre-arbtrio?
O heri est pronto para escolher um dos dispositivos tecnolgicos que lhe foram
oferecidos e aceita aventurar-se desconhecendo as conseqentes provas no caminho, porm,
ainda no acredita que possa ser o Predestinado, como acredita Morpheus. Campbell (1988)
afirma que o heri no sai de seu mundo pelo simples prazer de aventurar-se, mas sim porque
ele est pronto para tal aventura e todo o ambiente da narrativa mtica combina com sua pron-
tido, ou seja, a aventura para a qual ele est preparado, a aventura que ele tem.
Tanto a plula azul quanto a plula vermelha possuem papis simblicos na
narrativa, ou seja, ambas funcionam como Rplicas (sin-signos) que materializam os concei-
tos de mundo-comum (a plula azul), lugar onde o protagonista vivia at ento; e de mun-
do desconhecido (a plula vermelha), sinnimo de aventura e de mudana de crenas pelas
quais o protagonista aspira. Tais rplicas podem ser classificadas como sin-signos icnicos
dicentes, ou seja, sustentam os conceitos gerais, legi-signos simblicos dicentes: tratam-se
de indicaes, a partir da iconicidade com o objeto plula, que representam os conceitos de
escolha entre dois caminhos - permanecer no mundo dos sonhos da Matrix, ou partir em
busca da realidade.
102
Em sua trajetria, a personagem encontra-se diante do chamado Orculo, signo
feminino do desequilbrio criado pela mquina, mas que, devido ao seu carter sensitivo,
visto como um ser evoludo pelos humanos revolucionrios. Em outras palavras, um progra-
ma como qualquer outro inserido na Matrix e que, portanto, consegue prever as atitudes dos
seres humanos. Ao demonstrar compreenso quanto luta desses seres desplugados, este ser
numrico traz uma ligao mstica, fundamentada pela crena fervorosa de Morpheus. Trata-
se aqui, de um legi-signo simblico dicente: uma lei geral que simboliza um auxlio divi-
no, a esperana de que, talvez, o mundo das mquinas ainda carregue consigo alguma seme-
lhana em termos humansticos.
O Orculo prev que o heri no o Escolhido, talvez em outra vida, afirma.
Neo duvida de sua natureza e toma decises cada vez mais inusitadas diante dos obstculos
que lhe aparecem, e tais aes o levam morte. Morte e ressurreio, temas recorrentes no
pensamento mtico
25
, e na narrativa flmica indicam que a personagem ultrapassou sua nature-
za humana alcanando um nvel de conscincia desconhecido pelo restante dos mortais.
Neo possui agora o poder mental de mover os objetos, controlar suas aes e os
acontecimentos do mundo da Matrix com sua fora sobrenatural. Aqui, o mito sugere que a
transformao do ser humano deve se dar pela conscincia de seu poder mental, pela razo, a
noo de que o ser humano deve estar acordado para a percepo de seus sentidos, a fim de
se tornar maior que si prprio, autnomo e no mais controlado pela mente artificial de uma
realidade virtual construda. Percebe-se aqui, a propagao do paradigma platnico: o ser
deve buscar o conhecimento para alm das aparncias, alm dos signos com os quais est em
contato e decodificar suas mensagens para entender o mundo fora de si.
25
LVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o Cozido (Mitologias I), 2004.
103
Figura 10 Neo transcende as aparncias e enxerga a realidade dos cdigos numricos.
Porm, o fortalecimento do mito futurista, baseado no paradigma cartesiano, en-
contra-se no desfecho da segunda obra da trilogia (Matrix Reloaded), onde o protagonista
descobre que ele tambm um personagem previsto pela mquina, que o que ele acabou por
definir como sendo o mundo real (a cidade de Zion, sua existncia fora da Matrix) , em
ltima instncia, parte do mecanismo de controle das mquinas. Isso significa que tal dese-
quilbrio entre o mundo das mquinas e o mundo de Matrix previsto e controlado pelos c-
digos numricos, o verdadeiro deus em meados de 2199. Logo, no h diferena entre o
mundo das aparncias e o mundo real, pois ambos seguem os ditames numricos, suge-
rindo ao heri que as conseqncias prticas vividas at ento, no decorreram de suas esco-
lhas, mas que estas tambm j foram previstas e calculadas como escolhas possveis. A pro-
eza do heri est em no aceitar tal verdade e enfrentar a fonte da vida, o que no filme seria o
mainframe da mquina, a fim de realizar um pacto de paz.
104
Arquiteto: sua vida o resultado de uma equao irregular inerente programao
da Matrix. Voc a eventualidade da anomalia que, por mais que eu me esforce,
no consigo eliminar da restante harmonia de preciso matemtica. Embora tal far-
do seja assiduamente evitado, no inesperado e, portanto, no est livre de um
certo controle e isso levou voc inexoravelmente at aqui. (Matrix: trecho do dilo-
go do personagem Arquiteto)
Figura 11 O Arquiteto: revelao de que Neo a sexta anomalia.
Neo o exemplo de quebra-cabea proposto pela mquina, a anomalia de Tho-
mas Kuhn, que serve ao teste dela prpria. Sua motivao pode ser comparada do pesquisa-
dor seguidor de um paradigma estabelecido, o mundo das mquinas, portanto, o projeto de
vida considera o confronto entre os dois mundos a fim de retirar o conhecimento humano das
rdeas das aparncias. Na verdade, assim como com as baterias conectadas Matrix, a
realizao dos desejos da platia que permite a sobrevivncia da grande mquina capitalista
internacional. Afinal de contas, o filme quer expor o modo pelo qual cada espectador , em
si, uma bateria, cujas fantasias so manipuladas pelo capital e, assim, o alimentam (FE-
LLUGA appud YEFFETH, 2003: 94). Essa afirmao traz as noes apocalpticas de Adorno
e Horkheimer em seu conceito de Indstria Cultural, em meados dos anos 40: a prtica social
alimenta uma engrenagem da qual tenta, por outro lado, escapar e a negao desta engrena-
gem o que determina a fora cada vez maior dos meios de comunicao e suas prticas,
105
atravs da simultnea tentativa de abrir-fechar os olhos do espectador-leitor comum.
26
O
modelo aqui propagado segue a noo que determina os efeitos da comunicao sobre a mas-
sa, e desta enquanto agente amorfo e conformado com tudo o que lhe transmitido, acredi-
tando que a sociedade sonha um sonho programado pela mdia. (vide Anexo E: 122)
De acordo com Lacan, a psique humana v-se, na verdade, num jogo entre o de-
sejo e um real impossvel, que garante que nossos desejos nunca sero realizados comple-
tamente e, portanto, permite que eles persistam. Por esta razo, o Agente Smith afirma tal
paradigma declarando que a primeira verso da Matrix teria sido um fracasso, pois propiciava
um mundo perfeito, onde todos seriam felizes, um mundo utpico de desejos realizados. O
Agente conclui que a essncia humana est em sua natureza do sofrimento, da imperfeio, e
esta natureza que proporciona o conceito de esperana, pois que o homem sempre deseja uma
realidade impossvel.
A Matrix anloga ideologia no sentido ps-moderno; para estruturar o mundo,
cria a prpria realidade que nos rodeia em razo da nossa dependncia no s de
regras, mas tambm de linguagem. (...) De acordo com os ps-modernistas, essa
farpa do real existe para todos, fazendo-nos questionar as nossas ideologias, mas
ela deve, por definio, permanecer fora da linguagem. Frederic Jameson refere-se
a essa viso ps-modernista como a priso da linguagem, que uma das formas
de interpretar a priso da mente de Morpheus. (FELLUGA appud YEFFETH,
2003: 90)
O protagonista acredita em sua luta pela realidade, sacrifica-se e transcende a
morte no mundo das aparncias, traz a esperana aos seus seguidores atravs da crena em
suas escolhas. Acredita ser capaz de realizar duas faanhas praticamente impossveis: salvar a
vida de sua namorada (Trinity) e, ao mesmo tempo, a cidade de Zion. Para isso, enfrenta os
perigos e chega cidade das mquinas na tentativa de fazer um acordo com a Inteligncia
Artificial. Porm, no final do filme, percebe-se que tal acordo foi firmado somente entre os
programas Orculo e Arquiteto, me e pai da Matrix, dualidade mxima na existncia dos
26
ADORNO & HORKHEIMER, Theodor & Max. Dialtica do Esclarecimento, 1985.
106
dois mundos que na narrativa mostram-se unidos: sonho-realidade, mquina-homem, sentido-
razo.
Atravs deste acordo, os habitantes da comunidade de Zion podero perpetuar o
mito de Neo como o ser Escolhido, a fim de estabelecer a crena na histria do heri e suas
aventuras contra o determinismo artificial imposto pelos programas de computador, mantendo
a esperana desta comunidade para as lutas futuras. Desta forma, o mito se naturaliza no espa-
o social, servindo de exemplo comportamental para uma eventual emergncia, ou seja, at
que a harmonia entre os mundos seja novamente ameaada. (vide Anexo F: 123)
As metforas de Matrix trazem condio humana a impossibilidade do acesso di-
reto realidade. Levanta a questo materialista de que o corpo necessita mais que aminoci-
dos, vitaminas e minerais sintticos para sobreviver, necessita tambm do espao de fantasia,
do desejo, da imaginao. Segundo a viso ps-moderna de simulacro, o acesso direto ao real
irmo da loucura. De acordo com muitos ps-modernistas, ficar diante da pura materialidade
da existncia fora da linguagem um acontecimento extremamente traumtico, um trauma
que o ser humano vive comumente quando obrigado a admitir a prpria morte e, para evitar o
curto-circuito de loucura, o corpo necessita e exige as mais variadas fantasias.
27
no mnimo estranho afirmar que para no enlouquecer, o ser humano necessita
da iluso. Porm, a narrativa afirma o paradigma materialista, subjugando as atividades ficci-
onais ao contato com a realidade. Esquizofrenia contempornea a metfora aqui utilizada a
fim de ds-construir tal modelo, pois parte-se da hiptese de que os mundos (interno e exter-
no) no esto separados na experincia humana e que, portanto, o conhecimento se d atravs
desta continuidade entre mente-mundo. Esquizofrenia, no sentido de que esta distino no
27
Ver BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulaes. 1991.
107
tem relevncia, dependendo do contexto em que o ser est inserido. O aprisionamento da
mente atravs das aparncias a metfora em Matrix.
Figura 12 O equilbrio depende do acordo entre os homens e as mquinas.
Assim como rejeitamos a distino entre encontrado e fabricado, rejeitamos tam-
bm essa distino entre aparncia e real, que pretendemos substituir pela distin-
o entre mais til e menos til. (...) Na tentativa de romper com o cenrio que, nas
palavras de Wittgenstein, nos mantm cativos a imagem cartesiana-lockiana de
uma mente tentando entrar em contato com a realidade exterior a si -, os pragma-
tistas comeam com uma abordagem darwiniana dos seres humanos: animais que
tentam ao mximo desenvolver ferramentas que lhes proporcionem mais prazer e
menos sofrimento. Entre as ferramentas desenvolvidas por esses animais inteli-
gentes, esto as palavras. Ferramenta alguma consegue romper nosso contato com
a realidade. No importa qual seja ela um martelo, uma pistola, uma crena, uma
afirmao -, seu uso faz parte da interao do organismo com seu meio ambiente.
(RORTY, 1995: 122-123)
Partindo desta afirmao de Richard Rorty, pode-se fazer um ltimo paralelo entre as
obras aqui analisadas. Os heris mticos das trs narrativas so legi-signos simblicos (ar-
108
gumento), constituem-se de leis gerais materializados por casos especiais: Freder, Deckard e
Neo so sin-signos icnicos remticos, ou seja, so as Rplicas que sustentam o conceito
mtico do sacrifcio humano, da responsabilidade das escolhas realizadas. Os trs personagens
sustentam tambm a naturalizao destas leis gerais, servindo de modelos para a experincia
cotidiana. Pois, ao contextualizar os personagens, a narrativa flmica demonstra como tais
indivduos, a princpio seres comuns e semelhantes aos espectadores, podem, atravs de suas
dvidas e crenas, modificar o ambiente em que vivem em beneficio do bem-comum.
As trs narrativas propagam os mesmos modelos dualistas: os operrios e a bur-
guesia; os humanos e os andrides; o real e fico. A diviso entre os ambientes sustenta os
espaos cnicos: a profundeza escravizada e a superfcie ldica de Metropolis; o cenrio ex-
terno e decadente contraposto ao cenrio interno com referncias estticas do passado, em
Blade Runner; o espao real e utilitrio de Zion e o espao construdo pelos signos contempo-
rneos da Matrix. A utilidade e a dependncia perante as ferramentas tecnolgicas versus a
complexidade dos sentidos humanos. A pergunta: os andrides sonham com ovelhas eltri-
cas? parece perder importncia, visto que a imaginao humana implanta suas prprias
caractersticas em se tratando da linguagem cinematogrfica, na tentativa de humanizar as
experincias com uma realidade que lhe parece estar separada de seu ser. Assim, e talvez
por isso, o significado geral destes mitos traz a proposta de equilbrio entre tais dicotomias,
atravs da mediao dos signos de nobreza do ser humano: a compaixo e a esperana. De
1927 a 1999, o signo mediador que naturaliza as crenas do sujeito refere-se ao corao.
109
CONSIDERAES FINAIS
A partir do objetivo proposto neste trabalho, a saber, dissertar quanto formao
de sentido na narrativa mtica e a apropriao de sua estrutura naturalizadora na construo da
mensagem cinematogrfica; buscou-se evidenciar o papel do cinema enquanto meio de comu-
nicao disseminador de paradigmas sociais. A fundamentao terica englobou os conceitos
de Thomas Kuhn quanto elaborao de modelos tericos, assim, partindo do pressuposto de
que tais modos de pensar so construdos culturalmente, retomou-se o Pragmatismo peirci-
ano como guia para a explanao dos conceitos de hbitos de ao enquanto noo crtica, a
fim de vislumbrar o possvel abandono do dualismo sustentado pelo corte epistemolgi-
co.
Mito linguagem, complexa em si mesma devido aos emprstimos de aspectos
tanto da realidade quanto da fico, em determinada sociedade. O pensamento mtico fornece
auxlio resoluo temporria de problemas como a diviso entre imaginrio-realidade e
tambm, quanto a problemas ticos existentes no espao social. A partir dos conceitos de
crena, percebe-se que mito hbito de ao, propagado por meio da corrente infinita de sig-
nos e que, finalmente, os mundos at ento separados pelo corte epistemolgico no garantem
a resoluo de tais problemas.
Simbolizar convencionar o sentido de algum objeto-sentimento em suas infi-
nitas re-apresentaes, a fim de que este mesmo signo seja incorporado na linguagem cotidia-
na dos espaos sociais. Assim, atravs da comunicao social, dos diversos meios de ex-
presso, que as narrativas mitolgicas so naturalizadas socialmente. Porm, pode-se objetar
110
tal afirmao dizendo que nem todas as mensagens propagadas pelos meios de comunicao
consistem na verdade e, assim, retorna-se questo acerca de verdades enquanto hbitos
de ao, enquanto crenas. Em sua trajetria, a filosofia buscou respostas atravs de um mo-
delo dualista de pensamento, partindo do princpio de que existem dois mundos separados: o
mundo interno (da mente) e o mundo externo (dos objetos reais, aqueles que existem inde-
pendentes do mundo interno) e que o conhecimento deve se dar pela relao entre estes mun-
dos: o ser humano seria composto por um corpo material contendo uma alma (esprito, essn-
cia, etc.). A fim de abandonar todas as conseqentes dicotomias advindas deste modelo secu-
lar, um novo mtodo filosfico origina-se nos escritos de Charles Sanders Peirce, que procu-
rou trazer as noes de hbitos de ao para a filosofia e por conseqncia, para a sua
Teoria Semitica -, afirmando que o conhecimento humano se d atravs da mediao dos
signos, mas que o conhecimento tem sua origem nos objetos do mundo, e que esta mediao
traz consigo o hbito de ao, a crena, o costume.
O pensamento peirciano abre as portas para o abandono do pensamento dualista,
que ser desenvolvido mais tarde pelos chamados neo-pragmatistas, como Richard Rorty, por
exemplo. Rorty (1995) afirma que tal separao entre mental e real no existe, muito menos
poderia sustentar uma teoria do conhecimento. O autor sublinha que todos estes problemas
so fabricados pelo prprio indivduo e que a linguagem consiste numa ferramenta huma-
na como qualquer outra. Desta forma, partiu-se da hiptese de que realidade e iluso so
palavras como qualquer outra e que as experincias prticas do ser humano no se do de
formas separadas, por isso, a escolha de outra palavra para esclarecer esta mediao: conti-
nuidade.
Neste sentido, os mitos auxiliam no convvio social, ajudam a disfarar e justificar
a separao do que natural e do que constitudo culturalmente, ou vice-versa. Como qual-
quer outro meio de comunicao, o cinema serve como propagador de mitos, os quais sero
111
incorporados conforme as crenas dos espectadores no comportamento efetivo, alimen-
tando o que se pode chamar de feedback. Assim, desconstruda a idia de que o espectador
deve ser visto como um rob fazendo downloads das informaes projetadas na tela e as ab-
sorvendo sem contestao. Adquire-se sim um hbito de ao momentneo, atravs das esco-
lhas e que depende tambm do contexto da situao-cinema, onde tal situao pode amparar
o entendimento dessa tal continuidade entre mundos nunca separados. Enquanto seres ativos
na interpretao da obra e, portanto, cientes de que as imagens no so verdadeiras, estabe-
lecem o costume do envolvimento com elas (o espectador chora, amedronta-se, enfim, ao
apreender as imagens, constri a histria juntamente com elas com essas mesmas imagens
que no so verdadeiras!).
O aspecto que refora o pensamento mtico a utilizao de signos arqutipos.
A estrutura narrativa do filme traz consigo o encaixotamento das personagens em tipos bem
definidos estrutura emprestada das tradies oral e literria a fim de estabelecer idias,
conceitos acerca da constituio humana: quanto mais universais e mais agirem conforme as
crenas j estabelecidas, mais propenso o sujeito est a identificar-se com os tais tipos.
Quanto maior esta identificao se apresentar, mais reforada est a mensagem do mito. Mas
por que o ser humano identifica-se, se tais imagens no so verdadeiras, e ele est ciente
disso? Pelo hbito de ao, pela crena momentnea, e pensar nestes termos ajuda-o no ques-
tionamento dos seus prprios conceitos para que seja possvel a sua substituio caso no es-
tejam mais satisfazendo suas necessidades, ou estejam concorrendo com seu comportamento
efetivo. E esta a mxima do Pragmatismo: que conseqncias prticas advm das crenas
que adquiro?.
Partindo desta pergunta, que traz a responsabilidade das escolhas para o indivduo
e no para algo desconhecido, pode-se afirmar que assim como nas religies, alguns paradig-
mas cientficos so hbitos de ao. As religies procuram fabricar respostas explicando-as
112
atravs de metforas universais, as Cincias buscam nos fatos materiais as respostas para o
desconhecido, ou seja, utilizam-se de outra crena, porm no esto imunes futura contesta-
o e a substituio de algumas delas (Pluto no mais um planeta!).
Real e imaginrio no so distinguidos porque isso no constitui um problema. O
espectador no distingue a iluso cinematogrfica ao projetar seus medos e desejos naquelas
imagens simplesmente porque naquele momento, est disposto a faz-lo. Para Deleuze
(2005), esta substituio gera o princpio de indeterminabilidade, ou indiscernibilidade, ou
seja, a no distino entre imaginrio e realidade, fsico e mental. Isso no quer dizer que es-
tes ltimos sejam confundidos, mas sim que essa distino perde importncia, pois a situao
cinematogrfica constitui um evento social, onde todos esto dispostos a ocupar parte de seu
tempo imaginando. Tal afirmao desvenda o propsito do mito, a relao obra-espectador,
bem como a utilizao corrente do termo extencionalidade.
As imagens cinematogrficas auxiliam na visualizao do passado que no se vi-
veu, construindo a memria deste (as grandes guerras, a Idade Mdia, o descobrimento do
Brasil!...), bem como o futuro que o homem acredita construir (a guerra biolgica, o derreti-
mento das camadas glaciais, a clonagem humana, a Inteligncia Artificial subjugando a hu-
manidade, porm inventada por ela!)... Se os mitos, a linguagem em geral, reforam essa es-
pcie de esquizofrenia, por que no abandona-los? Simplesmente porque se trata de mais uma
ferramenta necessria na tentativa de solucionar problemas prticos e responder perguntas
sem respostas concretas, pois que estabelecem modos de comportamentos, conceitos, leis
ticas para o convvio em sociedade.
O problema no est na aquisio de crenas, mas sim em d-las o status de ver-
dade nica, se o sentido de crena como hbito de ao fosse observado, seria mais fcil e
possvel a tolerncia entre as diferentes vises de mundo e, por conseqncia, o aprendizado a
partir delas. As crenas estabelecidas proporcionam a racionalizao, a articulao das ati-
113
vidades mentais para que seja possvel o entendimento interpessoal. Por que Bakthin (1929)
traz a idia de dialogismo, a saber, em poucas palavras, que o sujeito se constitui discursi-
vamente com a constituio discursiva do outro? Porque se est em constante extencionalida-
de em termos realistas e imaginrios ambos os conceitos esto no ser.
Entende-se, portanto, que diante da fragmentao do sujeito ps-moderno, evi-
denciada a idia de reconstruo dos castelos conceituais fortemente erigidos pelos modelos
platnico e cartesiano de pensamento, ou seja, percebida a conscincia crescente na possibi-
lidade de se repensar e substituir velhos hbitos de ao. O indivduo sente isso porque enten-
de que certos hbitos no suprem mais suas necessidades a identificao da anomalia,
definida por Thomas Kuhn -, ou porque simplesmente os identificou como hbitos de ao -
portanto, passveis de objees.
Ora, quando ao sair da sala de cinema, o espectador sente-se como se tivesse vi-
venciado as cenas que foram projetadas, segue suas experincias cotidianas tentando trazer
para essa vida real os exemplos que lhe marcaram no mundo da iluso (frases feitas, ati-
tudes), ou desconfia desta mesma realidade em que vive, assim como o heri Neo de Ma-
trix, antes de ser desplugado. Ou, ainda, quando ocupa parte de seu tempo tentando encontrar
a frase, o trecho da msica, a poesia... que o possa definir aos que visitarem seu perfil no
Orkut
28
, quando manipula digitalmente suas fotografias (cortando pessoas, modificando o
fundo, criando iluminaes e efeitos) e ainda, escolhendo legendas para elas (os seus slo-
gans!). enfim, este o sentido do termo esquizofrenia utilizado no ltimo filme analisado.
Quanto estrutura mtica, verificou-se que as trs obras analisadas trazem em sua
narrativa os temas recorrentes do pensamento mtico, os quais constituem a mediao entre
dois conceitos, a saber, os sentidos humanos (o corao, em Metropolis). Em Blade Runner,
28
Site de relacionamento que possibilita ao usurio configurar um espao virtual onde possa definir seus interes-
ses, seus lbuns de fotografias e sua lista de amigos ou conhecidos para trocar mensagens de texto.
(www.orkut.com)
114
os paradigmas estabelecidos secularmente projetam-se na crena social do que seria o futuro,
levantando questes ticas atuais. Matrix levanta as antigas questes sobre o poder da mdia
em detrimento da massa sem forma e sem conscincia crtica, dos seus efeitos diretos na in-
terpretao dos indivduos. Com o auxlio do conceito de crena enquanto hbito de ao, as
relaes dicotmicas tratadas aqui se tornam meros jogos de palavras, elementos puramente
lingsticos e que, portanto, so passveis de revises conceituais. Espera-se que, a partir des-
tas consideraes iniciais, as questes levantadas neste trabalho sejam mais desenvolvidas e
aprofundadas em estudos futuros.
115
REFERNCIAS
ADORNO & HORKHEIMER, Theodor & Max. Dialtica do Esclarecimento: fragmentos
filosficos. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Jorge Zahar, 1985.
AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas, SP: Ed. Papirus, 1993.
BAKTHIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. Campinas, SP: Ed. da UNI-
CAMP, 1998.
BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Bertrand Brasil, 2001.
________________. Elementos de Semiologia. So Paulo, SP: Ed. Cultrix, 1964.
________________. A Cmara Clara. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Nova Fronteira, 1984.
BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulaes. So Paulo, SP: Relgio d gua, 1991.
BENJAMIN, Walter. Magia e Tcnica, Arte e Poltica - Obras Escolhidas - Vol. I. So
Paulo, SP: Ed. Brasiliense, 1994.
BENSE, Max. Pequena Esttica. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva, 1975.
BOURDIEU, Pierre. Razes Prticas. Sobre a teoria da ao. Campinas, SP: Ed. Papirus,
1996.
________________. O Poder Simblico. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Bertrand Brasil, 2004.
CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. So Paulo, SP: Log On Ed. Multimdia, 1988.
CANDIDO, Antonio & outros. A Personagem de Fico. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva,
2004.
DAVIDSON, Donald. La Mesure du Mental in ENGELS, Pascal. Lire Davidson, interpre-
tation et holism. Paris: ditions de Lclat, 1994.
DELEUZE, Gilles. Cinema I: A Imagem-Movimento. So Paulo, SP: Ed. Brasiliense, 1985.
_______________. Cinema II: A Imagem-Tempo. So Paulo, SP: Brasiliense, 2005.
_______________. Lgica do Sentido. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva, 2003.
116
DESCARTES, Ren. O Discurso do Mtodo. So Paulo, SP: Ed. Abril S/A, 1973.
DESCOMBES, V. Le Sujet ds Relations Triadiques in Les Istituitions du Sens. Paris: Les
ditions de Minuit, 1996.
ECO, Umberto. Apocalpticos e Integrados. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva, 2001.
____________. A Obra Aberta. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva, 1991.
FARIAS, Paulo Jos Leite. Clonagem humana e escravido gentica: o dever de ser bem
sucedido por determinao de outrem. Disponvel em
<http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto> - visitado em 16 set. 2006.
FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. So Paulo, SP: Ed. Martins Fontes, 2002.
FROMM, Erich. A Revoluo da Esperana. So Paulo, SP: Kahar Editores, 1975.
GIDDENS, Anthony. As Conseqncias da Modernidade. So Paulo, SP: Ed. UNESP,
1991.
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro, RJ: Ed. LTC, 1989.
GODOY, Hlio. Documentrio, Realidade e Semiose: os sistemas audiovisuais como fon-
tes de conhecimento. So Paulo, SP: Ed. Annablume: Fapesp, 2001.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Ps-Modernidade. Rio de Janeiro, RJ: DP&A
Editora, 2002.
IBRI, Ivo Assad. Ksmos Nots: a arquitetura de Charles S. Peirce. So Paulo, SP: Ed.
Perspectiva, 1992.
JAKOBSON, Roman. Lingstica e Comunicao. So Paulo, SP: Ed. Cultrix, 1962.
JAMES, William. Pragmatismo. So Paulo, SP: Ed. Nova Cultural, 1989.
KANT, Immanuel. Crtica da Razo Pura. So Paulo, SP: Ed. Abril S/A, 1974.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revolues Cientficas. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva,
1991.
KUNDERA, Milan. A Insustentvel Leveza do Ser. So Paulo, SP: Ed. Companhia das Le-
tras, 1982.
LVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural Dois. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Tempo
Brasileiro, 1993.
_____________________. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Tempo Brasi-
leiro, 2003.
117
_____________________. O Cru e o Cozido. Mitolgicas I. So Paulo, SP: Ed. Cosac &
Naify, 2004.
MARINETTI, Fillippo. Manifesto Futurista. Itlia: 1909.
METZ, Christian. A Significao no cinema. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva, 1972.
NOTH, Winfried. Panorama da Semitica: de Plato a Peirce. So Paulo, SP: Ed. Anna-
blume, 1995.
NOTH, Winfried & SANTAELLA, Lcia. Imagem: cognio, semitica, mdia. So Paulo,
SP: Ed. Iluminuras, 1997.
PEIRCE, Charles Sanders. Semitica. The Collected Papers. So Paulo, SP: Ed. Perspectiva,
1977.
______________________. La Logique de la Science in Revue Philosophique. Paris:
1878-79.
PLATO. A Repblica. So Paulo, SP: Ed. Martin Claret, 2002.
RAMOS, Ferno Pessoa (org.). Teoria Contempornea do Cinema. So Paulo, SP: Ed.
Senac, 2005.
RORTY, Richard. A Filosofia e o Espelho da Natureza. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Relume-
Dumar, 1994.
______________. Relativismo: encontrar e fabricar in O Relativismo enquanto viso de
mundo. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Francisco Alves, 1995.
SANTAELLA, Lcia. O Que Semitica. So Paulo, SP: Ed. Brasiliense: Coleo Primei-
ros Passos, 1983.
SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada. Petrpolis, RJ: Ed. Vozes, 2005.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingstica Geral. So Paulo, SP: Ed. Cultrix/ USP,
1969.
STAM, Robert. O Espetculo Interrompido: literatura e cinema de desmistificao. Rio
de Janeiro, RJ: Ed. Paz e Terra, 1981.
___________. Introduo Teoria do Cinema. Campinas, SP: Ed. Papirus, 2003.
YEFFETH, Glenn (org.). A Plula Vermelha: questes de cincia, filosofia e religio em
Matrix. So Paulo, SP: PubliFolha, 2003.
118
ANEXO A MARIA: OLHE, ESTES SO SEUS IRMOS - A PORTA QUE DIVIDE
OS MUNDOS DE METROPOLIS
119
ANEXO B A NOVA TORRE DE BABEL
120
ANEXO C BLADE RUNNER : CENRIO EXTERNO
121
ANEXO D ROY: TODOS ESSES MOMENTOS SE PERDERO NO TEMPO COMO
LGRIMAS NA CHUVA...
... HORA DE MORRER.
122
ANEXO E NEO ACORDA DO SONHO
123
ANEXO F O ACORDO COM A MQUINA E O SACRIFCIO DO HERI
Вам также может понравиться
- Avaliação - Ti Ii - Estudos Disciplinares IiДокумент5 страницAvaliação - Ti Ii - Estudos Disciplinares Iikevin eduardo87% (15)
- Pesquisa de Avatar EliteДокумент16 страницPesquisa de Avatar EliteTibério Vasconcelos100% (1)
- Marcelo Souza - TerritórioДокумент20 страницMarcelo Souza - Territóriocarolina soaresОценок пока нет
- Cap9 45e631c7Документ34 страницыCap9 45e631c7Tibério VasconcelosОценок пока нет
- Cap7 85ff3ef1Документ33 страницыCap7 85ff3ef1Tibério VasconcelosОценок пока нет
- Avaliação Da Hidratação, Oleosidade e PH Da Pele de Pacientes Diabéticos Da Cidade de Caruaru, PernambucoДокумент24 страницыAvaliação Da Hidratação, Oleosidade e PH Da Pele de Pacientes Diabéticos Da Cidade de Caruaru, PernambucoTibério VasconcelosОценок пока нет
- Exercícios de Níveis de Atenção e Vigilância SanitáriaДокумент1 страницаExercícios de Níveis de Atenção e Vigilância SanitáriaTibério VasconcelosОценок пока нет
- Plano de Aula - GenéticaДокумент2 страницыPlano de Aula - GenéticaTibério VasconcelosОценок пока нет
- Aula 5 - Microrganismos em Alimentos. Fatores Intrínsecos e Extrínsecos.Документ49 страницAula 5 - Microrganismos em Alimentos. Fatores Intrínsecos e Extrínsecos.Tibério Vasconcelos100% (1)
- Plano de Aula - GenéticaДокумент2 страницыPlano de Aula - GenéticaTibério VasconcelosОценок пока нет
- QuitosanaДокумент5 страницQuitosanaAnderson CostaОценок пока нет
- A Gaiola de Ferro RevisitadaДокумент16 страницA Gaiola de Ferro RevisitadaBettinaD'AlessandroОценок пока нет
- Revista Avivamento 2020 FinalДокумент88 страницRevista Avivamento 2020 FinalKelvin AdrianoОценок пока нет
- Nosso Inimigo O EstadoДокумент286 страницNosso Inimigo O EstadoNathalia OmenaОценок пока нет
- Apostila 1009 PDFДокумент609 страницApostila 1009 PDFDavid Tanamura Tanamura100% (1)
- Fichamento - A Instrumentalidade Do ProcessoДокумент27 страницFichamento - A Instrumentalidade Do ProcessoGuilherme CabriniОценок пока нет
- Foucault:As Formações HistóricasДокумент40 страницFoucault:As Formações HistóricasJoão Vianna100% (3)
- Aula 02Документ35 страницAula 02Licenciatura FilosofiaОценок пока нет
- Mulemba 416Документ23 страницыMulemba 416yurifixe fixeОценок пока нет
- Discursos Sobre A Masculinidade PDFДокумент23 страницыDiscursos Sobre A Masculinidade PDFJu AmanhãОценок пока нет
- O Que É Golpe de Estado - Alvaro BianchiДокумент5 страницO Que É Golpe de Estado - Alvaro BianchiLucas TadeuОценок пока нет
- PortefolioДокумент57 страницPortefoliomeca 69Оценок пока нет
- A Analítica Do Poder em Michel FoucaultДокумент15 страницA Analítica Do Poder em Michel FoucaultWaldecira SampaioОценок пока нет
- Prova DissertaçãoДокумент2 страницыProva DissertaçãoVerônica MatosОценок пока нет
- Rene Remond o Seculo XixДокумент161 страницаRene Remond o Seculo XixAdemar NettoОценок пока нет
- Pai Rico, Pai Pobre Cap 3 para Que Alfabetizacao Financeira - NOVAДокумент27 страницPai Rico, Pai Pobre Cap 3 para Que Alfabetizacao Financeira - NOVAKcuryОценок пока нет
- COSTA, Wanderley. Geografia Política e GeopolíticaДокумент355 страницCOSTA, Wanderley. Geografia Política e GeopolíticaIead Ouro Preto100% (1)
- Formas de GovernoДокумент5 страницFormas de GovernoAndré RestierОценок пока нет
- CamilaCarolinaHGaletti - Direito A Cidade e As Experiências Das Mulheres No Espaço UrbanoДокумент20 страницCamilaCarolinaHGaletti - Direito A Cidade e As Experiências Das Mulheres No Espaço UrbanoDébora MachadoОценок пока нет
- NAYARAДокумент18 страницNAYARAPedro BrandãoОценок пока нет
- Souza LR Cartografia Das Controv Rsias Entre A o Direta e Luta Institucional Na Produ o de Uma Ocupa o Informal em Pal 1Документ257 страницSouza LR Cartografia Das Controv Rsias Entre A o Direta e Luta Institucional Na Produ o de Uma Ocupa o Informal em Pal 1teste scaleОценок пока нет
- Provas de Administração Estrategica UNIP - Passei Direto - Passei DiretoДокумент6 страницProvas de Administração Estrategica UNIP - Passei Direto - Passei Diretomerlojessica518Оценок пока нет
- Karina Assunção - A DECENTRALIZAÇÃO DO SUJEITO "CIPRIANO ALGOR" EM A CAVERNA, DE JOSÉ SARAMAGOДокумент17 страницKarina Assunção - A DECENTRALIZAÇÃO DO SUJEITO "CIPRIANO ALGOR" EM A CAVERNA, DE JOSÉ SARAMAGOPrometheozОценок пока нет
- Walsh - Cap - 2010 - Interculturalidade Crítica e Educação Intercultural - Tradução Herlon (Recuperado) - Documentos Do Google PDFДокумент15 страницWalsh - Cap - 2010 - Interculturalidade Crítica e Educação Intercultural - Tradução Herlon (Recuperado) - Documentos Do Google PDFCristhiane BarreirosОценок пока нет
- AQUINO, Julio Groppa. A Violência Escolar PDFДокумент13 страницAQUINO, Julio Groppa. A Violência Escolar PDFVictor S. S. do NascimentoОценок пока нет
- Material de Apoio de CPDC IiДокумент60 страницMaterial de Apoio de CPDC IiLaércia CorreiaОценок пока нет
- Madianne Clemildes Souza NunesДокумент275 страницMadianne Clemildes Souza NunesVirgínia CaetanoОценок пока нет
- A Lei Da Sombra e A Sombra Da LeiДокумент6 страницA Lei Da Sombra e A Sombra Da LeiTali KailashОценок пока нет