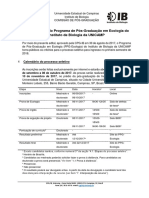Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Textos Do Professor Tércio S. Ferraz Jr.
Загружено:
Marcelo SalesОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Textos Do Professor Tércio S. Ferraz Jr.
Загружено:
Marcelo SalesАвторское право:
Доступные форматы
Constituinte - Regras para a Eficcia Constitucional TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. Professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de S.
Paulo No se fala obviamente da eficcia global da constituio, mas da eficcia das normas constitucionais. Tomamos eficcia como uma expresso que, dentro da tcnica jurdica, permite um controle sobre a produo de efeitos jurdicos. Este controle diz respeito a condies de oportunidade, convenincia, necessidade na produo de efeitos. Nesse sentido, a eficcia pode ser suspensa, ser imediata, ser postergada. O carter extremamente conciso desta exposio exige, contudo, uma definio estipulativa, ainda que rapidamente. A eficcia tratada aqui, primeiramente, em dois sentidos distintos que se referem, de um lado, chamada eficcia sociolgica e, de outro, eficcia jurdica. No primeiro caso, diz-se eficaz a norma que encontra na realidade social as condies de obedincia (relao semntica entre a norma e a realidade). No segundo caso, diz-se eficaz a norma que, tecnicamente, tem condies de aplicabilidade, podendo produzir efeitos (relao sinttica entre a norma e outras normas do sistema). Englobando estes dois sentidos num s diramos que, pragmaticamente, eficcia um conceito que diz respeito ao sucesso da disposio normativa (eficcia como instrumento de controle). Este sucesso medido pela possibilidade de se alcanarem os objetivos da edio da norma, sendo que estes objetivos podem estar numa concreo efetiva (obedincia), num apaziguamento da conscincia poltica (encobrimento ideolgico), na transposio de efeitos para momentos oportunos (instrumentalidade do direito) etc. Assim, em termos pragmticos, uma norma pode objetivar, por exemplo, no o seu cumprimento imediato, mas apenas assegurar um ponto de vista ideolgico. Nesse sentido, conquanto pudessem existir as exigveis condies sociais de obedincia da parte do destinatrio da norma, no convm, ao interesse do editor, que a concreo ocorra. Nesse caso, em nome do sucesso da comunicao normativa implementa-se uma limitao da eficcia que, em termos de controle jurdico, fica proposta. No que se refere constituio, a eficcia obviamente uma noo primordial. Graas eficcia, no plano constitucional, possvel atender-se, s vezes, a presses polticas diversas, estatuindo-se certas normas que postergam, contudo, a produo de efeitos para o futuro. Com isso a eficcia se torna um regulador ideolgico importante para as constituies, pois autoriza a concomitncia de princpios, finalidades, obrigaes, permisses, sem que esta concomitncia resulte numa simultaneidade real. No obstante, h momentos polticos em que a postergao permanente da concreta produo de efeitos pode gerar insatisfaes sociais muito fortes. A doutrina, mas nem sempre as prprias constituies que, neste ponto, no encontraram dispositivos definitivos, tem chamado a ateno para estes problemas, sobretudo na discusso das chamadas normas programticas. nossa ideia que o assunto, porm, no deva circunscrever-se doutrina ou limitar-se s regras hermenuticas, devendo, ao contrrio, receber um tratamento constitucional positivo. Nossa inteno, nestes termos, propor que a futura constituio tenha, nas suas disposies gerais, algumas normas que tomem por objetivo regular algumas das funes eficaciais das normas constitucionais. O problema diz respeito a dispositivos, como o da atual Constituio portuguesa de 1976, cujo art. 18 dispe: "Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias so diretamente aplicveis e vinculam as entidades pblicas e privadas". A nosso ver, um dispositivo desta ordem, conquanto politicamente saudvel, traz complicaes jurdicas de no pequena monta. E ademais, h outros casos que merecem tambm a nossa ateno. Distinguimos, nesse sentido, entre trs funes eficaciais: a funo de bloqueio, a funo de programa e a funo de resguardo. De um modo geral, os preceitos constitucionais que estatuam princpios e finalidades, ainda que no sejam positivamente consagrados na legislao ou nas normas de administrao ou nas decises judiciais, impedem que tanto legislao quanto administrao ou justia, disponham de forma
contrria ao que eles propem. Esta funo eficacial negativa resulta numa espcie de bloqueio para a atividade do poder pblico que, no podendo ser obrigado a expedir normas que tornem efetivos os princpios e as finalidades, no pode, ao menos, contrari-los. Para esta funo de bloqueio nossa proposta de que, nas disposies gerais conste um dispositivo que estabelea claramente esta funo, conferndo-se a eventuais prejudicados o direito de exigir, perante o Judicirio, a declarao de inconstitucionalidade de quaisquer atos normativos soberanos que venham a contrariar os princpios e finalidades acolhidos pelos preceitos constitucionais. Alm deste caso (funo de bloqueio), que abarca inclusive as normas fundamentais de modo geral, h outro que se refere s normas que traam esquemas gerais de estruturao e quelas que instituem programas de ao visando realizao dos fins sociais do Estado mas dependendo de integrao legislativa. Neste caso (funo de programa) parece-nos que a constituio deva conter um mecanismo capaz de, com certo equilbrio e prudente procedimentalizao, permitir que estas normas possam vir a adquirir eficcia em face de alteraes scio-polticas e econmicas. Nossa sugesto, nesse sentido, que para essas normas se reconhea a possibilidade de integrao legislativa atravs de iniciativa popular. Esta iniciativa poderia ser conferida a um certo nmero de cidados e ser exercitada por associaes, atribuindo-se ao Poder Judicirio a funo de controlar-lhes a competncia bem como de verificar a qualificao eleitoral dos proponentes. Ademais, a lei aprovada poderia ainda ser submetida a um referendo. Com isto, a funo de programa teria, por assim dizer, uma vlvula capaz de controlar a presso social em favor de uma real e positiva produo de efeitos quanto a normas cuja eficcia demanda integrao legislativa. Por ltimo, naqueles casos em que a prpria constituio estabelece a possibilidade de a eficcia de uma norma vir a ser futuramente limitada por uma norma de escalo inferior, cremos que se deva pensar num mecanismo capaz de resguardar os direitos ali em jogo (funo de resguardo), criando-se, por exemplo, uma regra segundo a qual sempre que qualquer direito agasalhado pela constituio pudesse, em conformidade com o permitido pela mesma constituio, ser limitado por lei, esta deveria ter validade geral e nunca para casos particulares, devendo, alem disso, mencionar expressamente o direito (de ordem constitucional) por ela limitado. Um dispositivo dessa espcie encontramos, por exemplo, no art. 19 da Lei Fundamental da Repblica Federal da Alemanha. Em suma, e apenas como sugesto para debate, propomos os seguintes textos normativos, conforme os casos antes enumerados. 1. Funo de bloqueio: Art. As normas desta Constituio que instituam programas e estabeleam princpios e finalidades so vinculantes para o poder pblico, constituindo limites para a expedio de atos normativos soberanos, conferindo aos prejudicados o direito de exigir a absteno da prtica dos atos que as contravenham. 2. Funo de programa: Art. As normas desta Constituio que instituam programas visando realizao dos fins sociais do Estado e que demandem integrao legislativa, podero ser objeto de iniciativa direta do povo, desde que seja subscrita por no mnimo 50.000 (cinquenta mil) eleitores, promovida por associaes privadas constitudas legalmente h mais de dois anos e que tenham includa em suas finalidades institucionais a defesa de interesses compatveis com o contedo da propositura. 1. Caber Justia Eleitoral fazer a verificao prvia da autenticidade e da qualificao eleitoral dos subscritores. 2. Caber ao STF examinar e decidir previamente da legitimidade do interesse da associao promotora. 3 O projeto de lei, se aprovado pelo Poder Legislativo, dever ser submetido a referendo popular antes de ir sano presidencial.
3. Funo de resguardo: Art. Sempre que um direito, estabelecido por esta Constituio, puder ser, em conformidade com ela, limitado por lei, dever esta lei ter validade geral e nunca para casos particulares, devendo alm disso mencionar expressamente o direito por ela limitado. So estas as sugestes que gostaramos de trazer considerao a fim de estimular a discusso em torno deste tema crucial que o da eficcia das normas constitucionais. Dezembro 1985. Fonte: Revista de Direito Pblico, n. 76, So Paulo: 1985, pp. 67-69. Convocao da Constituinte como problema de Controle Comunicacional TERCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo H algum tempo atrs, o Jornal da Tarde (15.2.86) publicou uma resenha crtica de um livro de minha autoria Constituinte Assemblia, Processo, Poder (Ed. RT, 1985) em que o Prof. Paulo Bonavides, alm de referncias que muito me honraram, levanta algumas dvidas significativas sobre pontos que tocam de perto a questo do poder constituinte originrio e derivado. Uma das observaes do ilustre Professor se referia minha afirmao de que a ordem constitucional norteamericana no conhece a idia de poder constituinte derivado. Reconheo que o texto, como est, passvel de objeo. irrefutvel que a Constituio dos Estados Unidos da Amrica dispe no seu art. V sobre a forma como se devero processar as emendas constitucionais. Ao afirmar, porm, que a ordem constitucional daquele Pas s admite o poder constituinte originrio, referia-me a um dos aspectos da noo de poder constituinte derivado: ao fato de que este poder se exerce sob limites estabelecidos pelo poder originrio. Nesse sentido esclareo em meu texto que o constituinte (americano) uma instituio corporificada no Congresso certamente num processo que inclui a participao dos Estados-membros a qual exerce funes constituintes sem limitaes. Ao faz-lo, respaldei-me, em parte, em observaes de Karl Loewenstein (Direito Constitucional e Praxis Constitucional dos Estados Unidos, em alemo, 1959, p. 38) segundo o qual a idia de limites materiais a uma mudana constitucional no existe no pensamento jurdico americano. Perguntar-se-ia, obviamente, no obstante, se no existiriam limites formais (o processo de emenda). O jurista Alf Ross (La Nocn de Validez y Otros Ensayos) discute este ponto, ao indagar se seria possvel, atravs dos dispositivos processuais do art. V da Constituio, uma emenda que viesse a alterar os prprios dispositivos do mesmo art. V. Quer-me parecer, sobre essa complicada questo, que, de fato, nada obsta que o processo de emenda seja alterado, permitindo a concluso de que um poder que pode alterar as condies de seu prprio exerccio no conhece limitaes. Reconheo, no entanto, que o problema complexo e envolve dois sentidos que fazem da expresso "poder constituinte" um conceito ambguo, posto que contm, de um lado, a idia de poder-fora e, de outro, a idia de competncia jurdica. Ora, do ponto de vista da competncia h um limite: mesmo a alterao do art. V teria de ser feita com respeito ao prprio art. V. Mas do ponto de vista da fora (poltica), este limite no existe. O assunto merece uma reflexo mais detida, pois tem uma repercusso curiosa sobre a forma como foi feita a convocao da constituinte no Brasil. De fato, a EC 26, de 27.11.85, votada, aprovada e promulgada conforme a atual Constituio, confere aos membros da Cmara e do Senado, a partir de 10.2.87, o poder de se reunirem unicameralmente em Assemblia Nacional Constituinte livre e soberana. Pelo art. 2. dessa Emenda, a Assemblia ser instalada pelo presidente do STF e, pelo art. 3, a Constituio ser promulgada aps a aprovao do seu texto em dois turnos de discusso e votao, pela maioria absoluta dos membros unicamente reunidos, parece-me claro que, com base nos atuais arts. 47, 48, 49 cria-se, por emenda, uma
competncia que os revoga com eficcia a partir de 10.2.87, quando o Congresso Nacional, eleito conforme a atual Constituio, passa a ter um poder diferente do de emendar. O curioso que temos, em tese, o exerccio de um poder derivado para atribuir um poder originrio. A questo que se vislumbra no caso da Constituio americana toma aqui uma configurao bem explcita: um poder derivado, como reconhecido no caso brasileiro, pela nossa doutrina, pode, sem perder seu carter de derivado, instituir um poder originrio? Se a resposta for afirmativa, pcrgunta-se: teria ento havido uma espcie de renncia competncia derivada? Isto , estaramos, na verdade, diante de um poder aparentemente derivado, mas realmente originrio? Ou estaramos, ao contrrio, diante de dois poderes realmente derivados, de tal modo que a futura Constituio estaria legitimando o poder revolucionrio de 64? Comecemos por examinar o problema do seu ngulo formal. O citado Alf Ross, em seu Sobre el Derecho y la Justicia (trad. de Carri, B. Aires 1963, p. 78) sustenta que as normas que outorgam competncia jurdica para estabelecer outras normas formam uma srie que no pode ser infinita regressivamente: h que se chegar a uma autoridade suprema. Embora esta tese lembre a norma fundamental de Kelsen. Ross a discute de um modo original, indagando se possvel que uma norma que preveja o procedimento de reforma constitucional possa se aplicar a si mesma, limitando, juridicamente, a autoridade suprema. Para negar essa possibilidade, o autor escandinavo invoca a carncia de significado das proposies ou normas autoreferentes (por exemplo, no teria sentido uma norma que dissesse: obrigatria esta obrigatoriedade). Invoca ademais que se uma norma de procedimento de reforma alterada, a validade da nova norma teria de derivar sua validade da anterior, o que no seria possvel, pois essa no seria mais vlida, pois com ela incompatvel: estaramos diante de um raciocnio em que as concluses contradizem as premissas (derivaramos a validade de uma norma de uma norma que no tem mais validade). Pode-se contra-argumentar, como faz Bulygin ("La Paradoja de la Reforma Constitucional", in Alf Ross Estudios en su Homenaje, Valparaiso 1984, t. I. p. 329 e ss.) que as duas normas, a antiga e a nova, no coexistem no tempo, sendo, pois, possvel que a antiga fosse vlida no momento em que se realiza o ato de promulgar a nova. Nesse caso estaramos diante de dois sistemas sucessivos, entre si contraditrios, o que no impediria que a validade da nova constituio pudesse efetivamente derivar da antiga, que fica revogada. Esclarece, contudo, que a aplicabilidade da nova Constituio deveria derivar de um critrio pertencente ao sistema vigente. Talvez se pudesse explicar isto de uma outra forma, como o faz Santiago Nino ("Ross y la reforma del procedimiento de reforma constitucional", in Alf Ross Estudios en su Homenaje, t. II, p. 361), ao dizer que a posio de Ross infundada desde que admita um juzo normativo inicial do raciocnio do tipo: "deve observar-se toda norma editada por um procedimento estabelecido por uma norma que deve observar-se no momento de editar a primeira". No me sinto vontade, nem o desejo, para entrar na complexa questo lgica e semntica sobre proposies significativas que sejam genuinamente auto-referentes. No obstante, a admitir-se o raciocnio de Bulygin e de Nino, teramos de reconhecer que, no caso brasileiro, a futura Constituio estaria derivando a sua validade da anterior. Mas como ficariam, nesse caso, as noes de poder originrio e poder derivado? A noo de poder originrio , sabidamente, controvertida. De um ngulo estritamente normativista, h quem sustente que o conceito extrajurdico. Juridicamente s podemos encarar o poder constituinte como competncia. A fora (social, poltica) que produz normas primeiras e fundantes da ordem sistematicamente encarada, sendo um momento pr-normativo, no pode ser juridicamente conceituada (assim Vunoss, Teoria Constitucional. I, 336; Carri, Sobre los Limites del Lenguage Normativo, pp. 48-58). Na verdade, esta concepo toma a palavra "poder" na sua ambiguidade e distingue entre poder-fora e podercompetncia, no encontrando um meio de trat-las na sua convergncia. Ao contrrio, como diz Carri, quando se tenta atribuir ao conceito de poder originrio a qualidade de "natureza hbrida" (Burdeau), ocorre uma impropriedade por desconhecimento da ambiguidade vocabular. Na verdade, as teorias sobre o poder constituinte, p. ex., as democrticas, sustentam que o poder originrio tem um titular imediato que o povo. Elaborada a constituio pelo povo (em realidade pela assemblia que congrega os representantes constituintes) e estabelecido o procedimento de reforma, alteraes subsequentes
so executadas, aparentemente, por outro tipo de representantes (os que compem, digamos, o Congresso Nacional), os quais, porm continuam sendo representantes do menino titular: o povo. Ora, pergunta-se, por que, no primeiro caso, os representantes constituintes ho de ter uma uma qualidade potestativa diferente dos representantes constitudos? A resposta s poderia ser: porque o titular de ambos os poderes (afinal, todo poder emana do povo...) no caso de poder originrio age ilimitadamente e, no segundo caso poder derivado age conforme limites que ele prprio estabelece: autolimitao. Esta autolimitao comporia, porm, um problema semelhante ao das normas auto-referentes. Autolimitar-se significa conferir normativamente restries ao prprio exerccio do poder. Ora uma norma que tem por emissor um agente que o prprio emissor fere o princpio da alteridade: no norma jurdica, quando muito norma moral. Assim ou estamos diante de uma ambiguidade vocabular e preciso abandonar a noo de poder originrio (que carente de significado jurdico numa forma anloga carncia de significado das normas auto-referentes) ou reconhecemos que so dois poderes distintos um fora, outro competncia devendo-se aceitar que, em certas circunstncias, o poder-competncia engendra um poder-fora, ao alterar as limitaes estabelecidas para o exerccio da prpria competncia. Embora no tenha a pretenso de resolver a questo, parece-me que uma alternativa ao problema est no modo mesmo como se concebe a norma jurdica. Do ngulo lingustico, podemos falar em "norma sentido", "norma-prescrio" e "norma-comunicao". Assim como uma proposio, norma-sentido uma prescrio (exigncia, proibio, permisso) possvel de um estado de coisas. Assim como uma assero, normaprescrio o prescrito num ato de prescrever, realizado por um sujeito em uma ocasio determinada. norma-comunicao, como uma comunicao, um ato complexo no qual esto envolvidos pelo menos um emissor e um receptor, bem como as mensagens trocadas por ambos. Ora, a discusso doutrinria jurdica trata as normas em questo (constitucionais) como normas gerais concebidas ora como norma-prescrio ora como norma-sentido, visto que elas prescindem da identificao de endereados: valem erga omnes (Alchouorn-Bulygin, Sobre l'a Existencia de las Normas Jurdicas, Valncia. 1979, pp. 29-31). Pois bem: a meu ver isto que conduz aos paradoxos mencionados. Assim, se prescindimos da dimenso comunicacional, no caso de norma-sentido coloca-se o problema das normas auto-referentes e, no caso de norma-prescrio, aparece a questo da autolimitao do poder. Sem aprofundar esta crtica, vejamos como o problema se pe se supomos uma concepo da norma jurdica como norma-comunicao. O princpio bsico deste enfoque o da interao. O sistema normativo visto como um conjunto de partes em comunicao que trocam mensagens prescritivas. Essas partes so seres humanos que, estando em contato, assumem posies uns perante os outros. Distingam-se dois nveis da interao: a) as partes fornecem uma informao sobre um estado do coisas aspecto relato ou contedo da comunicao; b) as partes, concomitantemente, fornecem uma informao sobre a sua relao, isto , determinam como o relato deve ser recebido, qual a posio de um e de outro na interao aspecto cometimento ou relao da comunicao a saber, se devem ser consideradas como iguais, diferentes, coordenadas, subordinadas etc. O sistema normativo concebido ento como um sistema de controle, primariamente no nvel cometimento mas tambm, secundariamente, no nvel relato (posto que uma norma, pelo seu relato, pode metacomunicar sobre o cometimento de outra: relao de validade). Este controle, em situaes normativas, pode ocorrer, socialmente, de vrios modos: tabus, tradies, relaes naturais de dependncia (me e criana) etc. Nos sistemas jurdicos burocratizados, o sistema normativo se torna um sistema diferenciado e autnomo (mas no autrquico), em que o emissor assume uma posio de terceiro em face das relaes sociais, isto , de um outro, no partcipe, mas institucionalizado nesse papel de terceiro comunicador (dependendo da situao temos, o juiz, o policial, o administrador, as prprias partes enquanto vontades autnomas na elaborao de contratos, o legislador etc,). O cometimento jurdico, sendo institucionalizado, toma assim o carler de uma relao de domnio relao autoridade/sujeito e de estratgias de dominao altamente reflexivas em que normas se tornam objetos de outras normas, o poder incide sobre o prprio poder. Com isso se explica a possibilidade de formao de sries normativas e de relaes de delegao, que culminam em normas primeiras, denominadas normas-origem. Sistemas normativos possuem vrias sries normativas, nas quais encontramos normas-origem e normas derivadas. As relaes entre estas so relaes de validade: uma norma valida a outra na medida em que lhe
garante o cometimento (autoridade/sujeito), imunizando o emissor contra posicionamentos de indiferena, descrdito, numa palavra, de desconfirmao por parte do sujeito. Por exemplo, uma norma, pelo seu relato, confere competncia a um emissor que, ento, perante um sujeito, aparece como autoridade. Repressivamente, a norma imunizante , por sua vez, imunizada por outra (ambas so vlidas) e assim sucessivamente at uma norma-origem que s imunizante. Normas-origem no so, pois, vlidas. So apenas efetivas, isto , h uma adequao entre seu cometimento e seu relato de modo que elas tm sucesso: firmam- se. Como os sistemas normativos, porm, possuem vrias normas-origem, deve-se dizer que o seu carter de conjunto no dado por uma nica e primeira norma-origem, uma espcie de norma fundamental. Os sistemas normativos so equifinalistas: um mesmo ponto pode ser atingido a partir de vrias origens. Como explicar, ento, a coeso do sistema? Admitimos que os sistemas normativos, enquanto sistemas comunicacionais, possuem padres de funcionamento. O seu estar-em-funcionamento e a manuteno global da relao autoridade/sujeito. Estes padres dependem de dispositivos calibradores (como o cmbio do automvel, ou o termostato da geladeira) que regulam o funcionamento e permitem identificar uma norma-origem, isto , dizer se uma norma, mesmo em desacordo com outras sries de validade, passa ou no a fazer parte do sistema, adquirindo o carter de norma-origem. Esta regulagem dada por regras de calibrao que no chegam a formar um conjunto coerente, esto dispersas no sistema e so produzidas de diferentes modos. So, p. ex., regras de calibrao o princpio da equidade, a determinao de que, na aplicao do direito, deve-se ter em conta o bem comum, que no Direito Pblico deve ser reconhecida a supremacia do interesse pblico. Estas regras so construdas pela Jurisprudncia, pela doutrina, pelos costumes etc. Em suma, graas s regras de calibrao podemos falar em coeso do sistema e, em consequncia, de flexibilidade, rigidez, estabilidade, transformao e, sobretudo, de ruptura do sistema normativo. Isto posto, consideremos o problema constitucional que propusemos de incio. O cometimento das normas (relao autoridade/sujeito) admite duas formas bsicas: a relao de sujeio-obrigao ou proibio e a relao de sujeio-permisso ou autorizao. A primeira uma relao assimtrica, complementar. A segunda envolve uma pseudo simetria. Isto , na permisso jurdica ocorre uma espcie de libertas concessa. Ou seja, a relao autoridade/sujeito toma a forma de uma liberao, s vezes escondida sob o modo de um reconhecimento da liberdade. Pois bem, o problema que estamos examinando refere-se a normas cujo relato expressa a competncia e o modo como deve ser modificada uma norma-origem: a constituio. Constituies so normas-origem no sentido exposto: no so vlidas, por que so a primeira de uma srie, mas so efetivas. Sua preeminncia garantida dentro de um padro de funcionamento dos sistemas normativos modernos, o padro da legalidade. Este padro depende de regras de calibrao. Estas regras de calibrao podem ser encontradas, por exemplo, no princpio da soberania. Assim, o conceito de soberania tem um carter explicativo que, na verdade, esconde um carter normativo, que traa as linhas do que deve ser, na medida em que se apresenta como compreenso e explicao do que acontece, mas superpondo-se realidade, forando-a, simplificando-a para reduz-la a um sistema composto, unitrio e coerente. Ora, o poder que faz de um soberano um soberano, que faz o Estado enquanto unidade de domnio surgir da sociedade composta de partes em mutveis e efmeras relaes entre si, o poder supremo de legislar. Isto, porm, conto diz Bobbio (O Futuro da Democracia, S. Paulo, 1986, pp. 132-133) uma "figurao", posto que a vida poltica real bem diferente. Pelo que proponho, a noo de soberania funciona exatamente como uma das regras calibradoras que garante constituio o seu carter de norma-origem dentro de um padro de funcionamento em que o sistema toma a estrutura de uma hierarquia normativa na forma de uma pirmide. Dentro deste padro-legalidade, a distino entre poder constituinte originrio e derivado funciona igualmente como regra de calibrao. A idia de um poder autnomo, inicial e incondicionado contraposto a um poder-direito derivado tem tambm um carler cripto-normativo. uma "figurao" que est na base, que regula, que calibra o sistema, permitindo reconhecer de um lado uma fonte principal do Direito que, uma vez exaurida a sua funo fundante, deixa norma posta a instaurao das relaes de subordinao. Graas a esta distino possvel uma regulagem do sistema que, mantendo-se em funcionamento, troca de padro: padro-efetividade para padro-legalidade.
Ora. examinando a estrutura da norma-comunicao que determina os procedimentos de modificao da constituio, h de se encar-la em toda a sua complexidade (relato e cometimento, mensagens e comunicadores). Tomemos o exemplo concreto: Art. 48 "Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta ser discutida e votada em sesso conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votaes, dois teros dos votos dos membros de cada uma das Casas. O relato da norma em tela composto de uma descrio da ao (que na doutrina costuma chamar-se hiptese, hiptese-normativa) no caso o modo da discusso, o quorum e a forma de sua verificao e uma descrio das condies da ao a proposta conforme o "artigo anterior". O cometimento se localiza nas formas verbais "ser", "considerando-se" que caracterizam uma obrigao que limita a competncia do artigo anterior. Tomando-se, para simplificar, o conjunto, temos de identificar a tambm o emissor e o receptor que compem a norma-comunicao. Dentro do padro-legalidade, o emissor da norma que autoriza emendar um papel institucionalizado denominado constituinte. Seu receptor e tambm um papel institucionalizado denominado poder constitudo. Assim, se o receptor emendar a constituio conforme o relato da norma que autoriza emendar, temos uma nova norma uma emenda constitucional na qual o receptor da anterior agora emissor, sendo receptores os emissores das normas de hierarquia inferior. Que acontece, porm, quando o receptor promulga uma emenda que altera o relato da norma que lhe confere competncia? Aparentemente ele cumpre a norma e engendra um paradoxo. Na verdade, porm, isto no ocorre. Por qu? Porque ao promulgar emenda alterando o relato da norma que autoriza os procedimentos para emendar, o receptor (poder constitudo) se pe como emissor (poder constituinte). Isto , j no a norma que autoriza os procedimentos de emenda que est sendo acionada, mas uma outra, com o mesmo relato, mas com outro emissor e outro receptor. uma norma nova, uma norma-origem. Uma norma que prev procedimentos modificadores de um sistema normativo, enquanto um conjunto de normas-atores-comportamentos, , sabidamente uma denominada norma constitutiva. Isto , trata-se de uma norma que constitui ela prpria o comportamento que ela prev: regras, atores e movimentos so solidrios, pois o ator s ator e o movimento s movimento na regra. Sua alterao, ou porque se altere o movimento prescrito ou porque se altere o emissor que prescreve ou o receptor da prescrio, implica nova norma. Assim, vamos denominar de norma 1 (N1) aquela que tem por emissor a autoridade Al e por receptor o sujeito S1 e por cometimento uma facultao (Fl) (A1 faculta S1); o relato dessa norma a descrio de procedimentos para emendar a constituio (P1). Graficamente: N1: Al cometimento (Fl) S1 (emissor) relato (P1) (receptor) Ora, quando o sujeito S1 cumpre o relato (P1) para alterar a norma N1 na verdade ele passa a ocupar o lugar de Al, sendo que o seu lugar passa a ser ocupado por outros receptores (digamos, S2). Assim, quando se cria um procedimento novo (P2) com base no procedimento antigo (P1) obtendo-se a norma N3, a derivao no entre N1 para N3, mas de N2 para N3, sendo N2: S1 cometimento Fl S2 relato P1 No caso concreto: quando o Congresso Nacional promulga uma emenda (n. 26) conforme os arts. 47 e 48 da Constituio de 69, emenda que altera os prprios artigos, no a norma dos arts. 47 e 48 que est sendo utilizada, mas uma outra, pois o poder constitudo j assumiu o papel de constituinte. V-se, assim, que no ocorre a auto-referncia. A iluso da auto-referncia est em que, formalmente, so os arts. 47 e 48 que esto sendo aplicados quando, na verdade, j estamos diante de uma outra norma (com a mesma numerao, o
mesmo relato, a mesma relao de cometimento, mas com outro emissor e outro receptor, os quais integram a norma-comunicao: emissor passa a ser o Congresso Nacional e receptor a futura Assemblia Nacional Constituinte). Sabemos, no entanto, que nem toda norma-origem integra o sistema na sua coeso. Se, por hiptese, uma "frente partidria extraparlamentar" a tivesse estabelecido, teramos dificuldade de integr-la no sistema, pois no haveria como calibr-la: o ato de fora seria patente. No caso, porm, invoca-se uma regra de calibrao: o Congresso Nacional, bem ou mal, representa o povo (abstrao feita dos detalhes polticos: a presena dos senadores "binicos"). Esta regra de calibrao que permite integrar a norma-origem no sistema, o qual, assim, se mantm em funcionamento, trocando, porm, o seu padro: do padro-legalidade para o padro-efetividade. O padro-efetividade est em uso no momento em que aparece a nova normaorigem. Da para a frente, volta o padro-legalidade. Por ltimo, preciso realar que, obviamente, a noo de sistema normativo, que estamos usando bem distinta da noo tradicional da doutrina. Esta o entende como ordem hierrquica, que introduz uma racionalidade nada emprica no na teoria mas nas prprias leis. Contra Kelsen, para quem "uma norma no forma parte da ordem jurdica seno porque foi editada conforme as disposies de outra norma dessa ordem" (Reine Rechtslehre, Viena 1960, p. 239), admitimos que sries hierrquicas constituem apenas aspectos parciais do ordenamento. O sistema normativo tem a estrutura de uma rede ou malha autoreguladora de normas-comunicao, com enfoque especial para o seu dispositivo calibrador, cuja ruptura ocorre apenas quando h uma sobrecarga de informaes, isto , entrada de novas normas-orgem que no conseguem ser calibradas no interior do prprio sistema. Dentro desta noo teramos finalmente que reconhecer que o sistema normativo brasileiro, com a convocao da constituinte, no se rompe. Na verdade, o sistema apenas troca, por um momento, o seu padro de funcionamento. Ou, como disse argutamente o ento candidato Tancredo Neves "Uma Assemblia Nacional Constituinte mais interessante quando h um vazio de representao popular. Quando no existe um Congresso funcionando, convoca-se uma Constituinte. Mas, com um Congresso em funcionamento e seria a primeira vez que isto aconteceria em nossa histria delega-se poderes ao Congresso. E no h divergncia em substncia" (cf. Jornal da Tarde de 22.9.84). FONTE: Tercio Sampaio Ferraz Jr, Convocao da Constituinte como problema de controle comunicacional, Revista de Direito Pblico , n 81 Janeiro- Maro de 1987 Ano XX, pp. 134/139. (Digitalizado e conferido por Gabriela Faggin Mastro Andra) teoria da norma jurdica em Rudolf Von Jhering Tercio Sampaio Ferraz Jr. Prof. da Universidade de So Paulo Sumrio: Introduo. 1. A teoria da norma. 2. A norma jurdica como imperativo. 3. Jhering e o sculo depois. Introduo. Quando eu estudava na Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo, comecei a ter aulas de direito
romano logo nos primeiros meses. Lembro que o professor de direito romano costumava opor, de um lado, o pensamento de Jhering e, de outro lado, o pensamento de Savigny; os dois eram sempre contrapostos. De fato se opem em muito da teoria jurdica e da teoria sobre o direito romano em especial. Mas por algum tempo, embora depois tenha aprendido que no era bem assim, pensvamos meus colegas e eu, certamente pelos nomes dos autores, que Jhering era o alemo que se contrapunha ao francs Savigny. Na verdade ambos so alemes, Savigny um alemo de origem francesa, obviamente huguenote, de uma famlia emigrada por ocasio da Guerra dos 30 anos. Era, portanto, um alemo j de longas datas. Talvez pelo nome, ento, Jhering soa como uma personalidade tipicamente alem; nos lugares onde lecionou, teve oportunidade de exercitar essa personalidade meticulosa do analista, por vezes atribuda cultura alem, do homem preocupado com a teoria do direito, grande pesquisador que foi da histria do direito, particularmente do direito romano. No pretendo comentar aqui a obra de Jhering de um modo geral. Gostaria de cuidar de um dos temas de sua vasta obra, qual seja, a teoria da norma jurdica. Um tema tpico da teoria do direito, via-de-regra abordado nos livros de introduo ao estudo do direito. Mais propriamente, uma tema filosfico dentro da teoria jurdica. 1. A Teoria da Norma. A teoria da norma se tomou tema central na cincia do direito, sobretudo, a partir do sculo XIX, embora j encontremos referncias ao assunto muito antes. no sculo XIX que a norma jurdica se torna um tema importante, principalmente com o advento do positivismo na Europa. A questo se torna crucial porque a cincia do direito comea a ser entendida como uma cincia que cuida das normas jurdicos, o prprio direito passa a ser reconhecido como um conjunto normativo, o que se firma definitivamente em nosso sculo. Embora seja a norma aceita como noo central da cincia jurdica, podemos discutir se o direito composto apenas de normas, se o direito no envolve tambm outras situaes, se no um complexo social, reunindo instituies, comportamentos etc., mesmo sem esquecer que a norma jurdica , pelo menos para o jurista prtico, o ponto inicial de pesquisa. Quando um advogado tem um caso para resolver, a primeira coisa a fazer localizar a norma adequada, em que lei ou cdigo ela se encontra, se uma questo de costumes, de jurisprudncia etc. Quer dizer: do ponto de vista prtico a norma jurdica uma preocupao central inclusive do jurista contemporneo e, no sculo XIX, a noo aparecia como algo a ser decifrado e analisado. Decifrado porque era necessrio fornecer um conceito de norma jurdica, era preciso isol-la como ponto de partida para identificao do direito positivo. Analisado porque, diante da noo de norma jurdica, passa a ser possvel traar diferenciaes, estritamente falando, dentro do prprio direito, e tambm frente a outros campos de atividades correlatas, sobretudo em relao moral. Esta preocupao bem claramente encontrada em um autor tpico do sculo XIX como Jhering. Ainda que a noo de norma seja crucial para o trabalho terico e para o trabalho prtico do jurista, existem inmeras controvrsias a respeito, no s em Jhering como em muitos outros autores que trataram do assunto. A noo de norma no uma noo tranqila: muito difcil dizer o que uma norma e mais difcil ainda dizer o que uma norma jurdica. H mesmo quem diga que a noo de norma jurdica um produto da teoria, o que significa afirmar que ela produto de uma abstrao, que na realidade no existe. Encontramos prescries legais, costumeiras, prescries contratuais, mas normas jurdicas, no. A norma certamente um gnero abstrato e por isso mesmo h muita divergncia em torno do termo. 2. A Norma Jurdica como Imperativo Em um de seus tratados, talvez o mais importantes na rea da teoria geral do direito, chamado A Finalidade no Direito, Jhering trata da norma jurdica e comea definindo o conceito de direito, dizendo o seguinte: "A definio usual do direito afirma: direito o conjunto das normas (note-se a ideia tpica do sculo XIX, o direito corno conjunto de normas) coativas, vlidas em um Estado; esta definio, ao meu ver (diz Jhering), atingiu perfeitamente o correto". Os dois fatores que esta definio enfeixa em si so a norma (pois o direito
um conjunto de normas)e sua realizao por meio da coao. Por conseguinte, o direito tem a ver com normas e tem a ver com coaro. Essas duas noes so centrais na anlise da prpria norma jurdica: embora a coao esteja ligada norma, na teoria de Jhering ela no compe propriamente a norma jurdica. Assim, continua ele definindo agora no mais a norma, mas sim o contedo dela aquilo de que ela trata: "O contedo da norma um pensamento. A vemos a velha idia de que o legislador transmite alguma coisa que ele pensa; quando determina que se cumpra esta ou aquela ao, ele est transmitindo um pensamento. Esta teoria ficou conhecida como a teoria da mens legislatoris, o pensamento do legislador. O contedo da norma um pensamento que, obviamente, se exprime, no fica pensado internamente, expressa-se atravs de uma proposio (entre parnteses Jhering escreve proposio jurdica). A ideia de proposio jurdica alia o pensamento a uma forma pela qual ele se enuncia, a forma de proposies lingusticas. O contedo da norma expressa-se por uma proposio jurdica, uma proposio de natureza prtica. Jhering reconhece que existem proposies de natureza terica, pois as teorias so construdas por meio de enunciados tericos que so tambm proposies. J a proposio de natureza prtica uma orientao para o agir humano: a norma , pois, uma regra. Aqui j temos uma definio. Primeiro, Jhering d iz, que o contedo da norma um pensamento expresso por uma proposio. Agora d uma definio de sua natureza. A palavra regra vem de regula, passando por rgua, aquilo que faz medir. Quando diz que a norma regra, Jhering est pensando que a norma , portanto, medida, ela d a medida. Medida do que? Regra pela qual nos devemos orientar, regra que nos d uma medida, um modelo, um paradigma de orientao. Neste ultimo conceito, continua ele, esto tambm as regras da gramtica, pois a gramtica tambm tem regras, medidas, uma palavra certa em oposio a uma palavra errada; distinguem-se das normas, porm, por no dizerem respeito ao agir. Jhering considerava o falar humano no propriamente como uma ao, mas como um produto do pensamento, da razo humana, para o qual a gramtica daria as regras; isto significa que o falar correto e o pensar correto nada tinham a ver com o agir. Hoje diferente, a teoria contempornea ampliou o conceito de ao e passou a incluir o falar e o pensar entre as aes humanas. Jhering tenta ento uma segunda distino. A norma jurdica regra que no se confunde com as regras da gramtica por estas no se referirem propriamente ao humana. Mas as normas jurdicas tm a ver, sim, com as regras da moral, as mximas, cabendo distinguir os dois conceitos. A diferena est em que as mximas so instrues para o agir livre: cumpri-las algo que fica discricionariedade prpria do agente; em outras palavras, as mximas so tambm regras, mas o problema de moral um problema do indivduo, cada um tem o seu juzo moral. Ora, o cumprimento da norma jurdica imposto, diz ele, ela determina vontade alheia uma direo que esta deve introjetar, colocar para dentro. Assim, a norma uma regra que vem de fora e que a vontade individual tem que incorporar, ou seja, cada norma um imperativo: no sentido positivo, uma obrigao, no sentido negativo, uma proibio. E aqui vem uma das teorias clssicas da teoria geral do direito, da qual Jhering um dos principais defensores, a teoria da norma como um imperativo. No a nica teoria existente, h outras para as quais a norma nada tem a ver com o imperativo; h mesmo quem diga que a norma um enunciado descritivo, ela descreve uma ao, no impera coisa nenhuma, portanto no envolve nenhuma obrigao e nenhuma proibio. De todo modo, Jhering afirma que o imperativo s tem sentido quando emana daquele que tem o poder de estabelecer essa limitao a uma vontade alheia, a vontade mais forte que determina mais fraca o correto direcionamento do agir. Para Jhering, ento, o imperativo pressupe uma dupla vontade, ele corre de pessoa a pessoa, da constituindo fenmeno especificamente humano, a natureza no conhece qualquer imperativo. Na natureza podemos at encontrar leis, o que, em algum sentido, semelhante ao imperativo; mas as leis da natureza e os imperativos so essencialmente diferentes. Dependendo de se o imperativo determina a orientao para o agir em um nico caso ou todos os casos, distinguimos imperativos concretos e imperativos abstratos. Esses ltimos coincidem com a norma, a norma um imperativo abstrato. Em consequncia, diz ele, norma h de se definir como um imperativo abstrato para o agir humano.
Para definir a norma jurdica, assim, Jhering parte daquela definio de direito enquanto conjunto de normas coativas. Note-se a uma concepo do direito como imprio. Na idia de imprio vem embutida a idia de comando, imposio de alguma coisa a algum. Ento a norma jurdica no exclui, ao contrrio, exige tambm, num segundo momento, aps a imposio, a coao. E a idia da coao leva Jhering a discorrer sobre a noo de poder. Note-se que a norma no se define pela noo de coao, mas a norma jurdica, sim, ou seja, a norma jurdica dotada de coao; da ser impossvel separar os dois conceitos. Isto importante na obra de um homem do sculo XIX: no se pode separar completamente o estudo do direito do estudo do poder. A norma, para Jhering. porm, no se confunde com a coao: a norma dotada de coao, mas ela mesma no chega a ser uma coao, a norma um imperativo, apenas o comando, a coao vem depois, pelo descumprimento. No obstante, a coao um elemento fundamental do direito e da concepo jurdica da norma. Kelsen, j no sculo XX, vai dizer que a norma um imperativo sobre a coao. Enquanto Jhering dizia que o contedo da norma um pensamento expresso em uma proposio, Kelsen vai dizer que a norma tem por contedo a coao, ela diz algo sobre a coao: puna-se quem matar com 30 anos de recluso, isto a norma. Jhering um dos grandes imperativistas. Hans Kelsen, talvez o mais importante dentre os imperativistas do sculo XX, j supera essas questes da individualidade, da generalidade, da abstratividade e da concretude da norma, que tanto preocuparam Jhering, muito embora continue falando, principalmente na fase depois de 1960, que a norma produto de uma vontade, s que de uma vontade abstrata. Mesmo assim, ele com certeza vai bem alm de Jhering. O imperativo pressupe uma dupla vontade, corre de pessoa a pessoa. Com isso Jhering quer dizer que o modelo por ele usado para definir a norma como imperativo o modelo do comando, do comando singular, o mesmo que um militar exara para seu subordinado. a idia de comando como ordem, comando de algum para algum: fulano de tal retire-se, fulano de tal bata continncia, fulano de tal cumpra esta conduta. Ora, a estrutura do comando interessante, foi noo fecunda durante o sculo XIX, mas parecenos hoje excessivamente simplificada. O comando configura situao concreta e, por isso mesmo, fica muito difcil utiliz-lo para embasar uma teoria da norma. Isto porque, sendo o comando interindividual, no se presta a fundamentar teoricamente a tese de que as normas so imperativos abstratos. Se h uma vontade imperando sobre outra, surge o problema de determinar quem so os titulares dessas vontades: a passagem do modelo do comando, que interindividual, para a noo de norma, como Jhering prope isto , imperativo abstrato, a norma como uma regra que se dirige a todos indiscriminadamente, a todas as vontades , complica-se por no ser a norma produto de uma vontade especfica, por resultar de uma vontade abstrata. O modelo do comando ento um modelo frgil para quem pretende definir a norma como imperativo abstrato. Matar algum, como est no Cdigo Penal, no um comando dirigido a uma determinada vontade, nem um comando proveniente de uma determinada vontade, ele simplesmente est no Cdigo como imperativo abstrato. Jhering no deixa de reconlurn isso, percebe as dificuldades de transposio do modelo Paia solucion-las lana mo de uma forma de gencrali/ao que leve curso no sculo XIX, a partir de certas proposies tericas do final do sculo XVIII, mormente na obra de Rousseau: ;i ieoii;i da vontade geral. Esta teoria usada para determinar um lado da relao de comando, isto , explicar como possvel <|iie. ao mesmo tempo em que uma vontade se dirige a outra voniade. isso no se reduz a uma relao interindividual, mas uma relao coletiva. Acontece que a noo de vontade geral uma noo complicada e o prprio Rousseau teve dificuldades em defini-la A noo de vontade geral em Rousseau, como ns sabemos, no se confunde com a noo de vontade de todos, nem vontade da maioria, os conceitos so separveis: a vontade geral seria a vontade racional dentro de uma sociedade politicamente organizada. Note-se que quando Jhering recorre vontade geral para fundamentar o emissor das normas, o legislador, no fica muito claro se ele est pensando realmente na vontade geral do Rousseau ou se no estaria se referindo vontade de todos, ou seja, a uma espcie de vontade coletiva, do legislador enquanto ente coletivo, que trabalha em parlamentos e emite sua vontade numericamente (princpio da maioria, da representatividade ele.). Provavelmente tivesse mais em mente uma vontade coletiva do que a vontade geral
de Rousseau, que c. estritamente iaiando, uniu abstrao. uma vontade que a razo determina para a organizao da sociedade. Jhering estava mais preocupado com a vontade coletiva, atravs da qual ele, de certa maneira, resolve um dos lados do problema do modelo de comando. tambm a partir de Jhering que se levanta o problema dos endereados da norma, justamente quando ele coloca a questo da vontade que predomina sobre outra vontade, mesmo que no tenha cogitado expressamente sobre isso. Para ele, a norma era o imperativo dirigido a todos, da ser abstrato e genrico, o que coloca a questo. Uma das teorias que se desenvolveram no sculo XX afirma que o problema do endereado da norma um falso problema. Existem autores para quem o problema surge na medida em que se separam a norma enquanto imperativo e o momento da sano. da que comea a especulao, o imperativo dirige-se a todos, a sano uma ordem dada autoridade. Mesmo para esses autores, no entanto, a questo aparece tambm de um outro lado, do ponto de vista da crtica ideolgica. A a indagao no mais pertence teoria jurdica, mas sim sociologia do direito, na medida em que, no fundo, a regra abstrata acaba escondendo sempre interesses que no so abstratos mas sim concretos e extremamente complexos. o problema do ocultamento ideolgico, presente at nas normas mais simples, como a que probe a entrada na sala depois de iniciada uma aula. Existem interesses, portanto, que no so to abstratos como se possa supor. Mas este j o enfoque sociolgico e de crtica ideolgica, que no queremos adentrar, sobre a questo do endereado da norma. E a coao, que a parte a cargo do Estado, dirigida s autoridades estatais, ela faz parte da norma ou no? Para Jhering, o imperativo dirigido a todos, o no matar vale para todos os cidados. A coao. o momento da sano, esta sim, especfica para a autoridade. A coao no faz parte da estrutura da norma. A norma dotada da sano, mas ela em si um imperativo, ela regra, como vimos. E a a diferena bem clara em relao a Kelsen, para quem a norma exprime o dever ser da sano. Jhering, ao contrrio, considera que a proibio de matar norma, o que vem depois, a pena de tantos anos, isto sim um complemento dirigido ao juiz para aplicar; o que caracteriza a norma, contudo, esse imperativo dirigido a todos. A esta norma se acopla a coao enquanto presena indispensvel do poder. Em outras palavras, Jhering separa os conceitos que, em Kelsen, aparecem interligados. A isto se associa outra diferena importante entre os dois autores, qual seja, a unio kelseniana entre direito e Estado, conceitos distintos em Jhering. Do outro lado da relao de comando, ento, quando se diz que a norma imperativo abstrato, vontade coletiva, coloca-se o problema de a quem se endeream as normas jurdicas. Na histria da teoria da norma h pelo menos duas posies marcantes, alm das intermedirias. Existem aqueles autores que afirmam que a norma tem por endereo a vontade de todos os cidados, de todos aqueles que vivem dentro do Estado. E h a teoria que se desenvolve paralelamente, um pouco mais restrita, defendendo a ideia de que a norma no se enderea ao cidado, mas sim ao aplicador da regra: a norma que probe matar algum no est dirigida ao cidado, ela est dirigida ao juiz, ao delegado, ao policial, a norma se dirige genericamente ao aplicador. A idia de que a norma um imperativo abstrato e genrico e a idia de que a norma tem a ver com o modelo do comando interindividual levam Jhering, e outros tambm, a concluir que o comando individual no propriamente a norma jurdica, ele apenas um ponto l no fim do encadeamento dedutivo, cujo extremo oposto est na norma abstrata e genrica. Ora, se a norma tem essas caractersticas, no faz muito sentido estabelecer comandos para a generalidade das pessoas. Portam o esses comandos so, por a&sim dizer, indicaes para que a autoridade possa, ela sim, estabelecer o comando concreto. Esta teoria surgiu margem da outra que dizia que a norma, enquanto comando, tinha por endereado todo cidado. Jhering no chega a desenvolver a questo, mas tem claramente como destinatrio da norma o cidado de um modo geral, sua vontade, isto , ele no vai no caminho da autoridade aplicadora, mesmo com todas as dificuldades que isso traz, s quais j nos referimos, concernentes a uma conceituao precisa da vontade. O conceito, desenvolvido durante o sculo XIX pela psicologia individual, referia-se vontade de cada um; muito mais complicado definir em que consiste uma vontade coletiva, assim como precisar o que uma vontade de todos, mormente quando ela se diferencia da vontade coletiva. Repare-se que, se de um lado possvel, ainda que foradamente, dizer que a norma um imperativo emanado da vontade coletiva dos legisladores, para o cidado, o pressuposto que esta vontade coletiva unitria, atua numa nica direo. Apurados os votos, a vontade esta e o princpio da maioria vai estabelecer a norma jurdica. S que no h
propriamente uma vontade coletiva, do outro lado, mas sim a vontade individual: um pode cometer crime e o outro, no. A teoria de Jhering, uma das primeiras que se formulavam sobre o tema, passa um pouco como gato sobre brasas a respeito dessas questes. Alm do mais, Jhering usa uma metfora complicada de ser trazida a um disciplinamento terico quando diz que a norma tem a ver com a vontade mais forte se impondo sobre a vontade mais fiaca. A o problema complexo, discutido na teoria moderna, de definir essa noo de vontade mais forte, como avali-la e situla diante de uma vontade mais fraca. Isso uma metfora e as metforas tm uso didtico, relaes didaticamente elucidativas, mas que, do ponto de vista terico, podem trazer dificuldades. Numa tentativa moderna de definir a vontade mais fraca sob a mais forte, pode-se lembrar aqui o experimento feito por psiclogos sociais americanos na dcada de 50 posteriormente esse experimento se vulgarizou e no pde mais ser realizado por se ter tornado conhecido de todos. Mas na poca, exatamente para tentar medir o que uma vontade coletiva mais forte preponderando sobre a vontade de cada um, o experimento foi ilustrativo e serve teoria da norma, embora no de Jhering. Dez pessoas so colocadas em uma sala dianlc de iiinn tela onde se projetam trs linhas, das quais duas apresentam dimenses ostensivamente parecidas e a terceira bem menor. Os entrevistadores comeam ento a perguntar s pessoas quais as lnhas iguais e qual a diferente. A primeira pessoa responde, com a maior tranquilidade, que uma das linhas visivelmente semelhantes a linha diferente; a segunda pessoa responde, sem pestanejar, da mesma maneira; e todos tambm, sucessivamente. A ltima pessoa a ser perguntada a nica que no est previamente instruda, a cobaia da experincia. O infeliz fica duvidando do que est acontecendo e o observador fica examinando o que acontece. O interessante da pesquisa que o sujeito fica nervoso, comea a se mexer, alguns se levantam e vo mais perto da tela, os que usam culos tiram os culos, pem os culos, enfim, movimentos que demonstram que no se conformam com aquilo. Mas o mais trgico que 70% das pessoas concordam com a maioria, isto , embora ostensivamente as duas linhas sejam desiguais, a cobaia acaba afirmando que elas so iguais, apenas pela presso psicolgica do meio. Posteriormente as cobaias so informadas do experimento e de que as linhas iguais so realmente aquelas duas, os outros todos estavam combinados. O entrevistador quer ento saber o que o sujeito pensou, suas reaes internas etc. Alguns irritam-se com o entrevistador, outros, curiosamente, continuam sustentando sua afirmao anterior e uma porcentagem razovel, a sim, acaba reconhecendo que de fato se sentiu pressionada pela maioria. Isto uma tentativa de explicar empiricamente o que significaria essa presso de uma vontade grupal, se que podemos chamar este fenmeno de vontade, a presso do ambiente coletivo sobre a conformao da vontade, da opinio do outro. Percebe-se que a noo de vontade, mesmo nesse exemplo emprico, no teoricamente definvel. possvel tentar definir o comportamento de algum se subordinando ao comportamento do outro, definir a capacidade de auto-determinao de algum; difcil a vontade do grupo. Quando Jhering fala da vontade mais forte predominando sobre a vontade mais fraca est tratando de problemas desta natureza, embora usando metforas e no amostragens e critrios empricos. O que ele tem em mente que uma coletividade acaba se impondo sobre cada uma das vontades individuais e que essa presso impositiva o interesse. A vontade que se impe produz a norma jurdica, norma que no se confunde com as mximas da moral, e a diferena fundamental que a norma jurdica o imperativo de uma vontade sobre a outra, enquanto que as normas da moral so regras internas que cada um elege para si. O direito, nesse sentido, separa-se da moral, pois tem a ver com medida, mas uma medida externa para ser introjetada. E aqui surge um problema de que Jhering tambm trata de maneira no muito clara, qual seja o problema da regra como direcionaraento correto do comportamento. A introduo da noo de regra correta fora a reconhecer que a norma no apenas um imperativo, mas exige tambm parmetros de avaliao, de valor, problema tipicamente moral, inclusive para Jhering. Percebe-se de repente que a moral, posta analiticamente para fora pela porta, entra pela janela. Afinal de contas, se a norma contm uma regra, e a regra contm o direcionamento correto do comportamento, a idia do correto acaba envolvendo um problema de avaliao e
de valor. Jhering no chega a entrar nesse detalhe ao separar o direito da moral. Finalmente, como vimos ao discutir a questo da norma e ao definir o direito, Jhering fala da coao. Quando ele diz que o direito tem a ver com coao, est pensando imediatamente na figura do Estado, tanto que se refere s normas coativas vlidas em um Estado. Ora, ao pensar a figura do Estado e a figura do poder em termos de coao, ao mesmo tempo definindo a norma jurdica como imperativo, Jhering filho tpico da teoria do Estado do sculo XIX, ao privilegiar quase que exclusivamente o aspecto proibio ou o aspecto obrigao no direito. Isto dito com todas as letras: a norma um imperativo impositivo, obrigao, ou negativo, proibio, vale dizer, a norma constitui sempre um proibir ou obrigar, ficando de fora um terreno imenso das normas jurdicas, o da permisso, das chamadas normas dispositivas ou permissivas. Como um bom autor do sculo XIX, a permisso, para Jhering, no faz parte da norma, a permisso a ausncia de norma, ou seja, o direito um conjunto de normas, portanto imperativos, e a permisso surge quando no h nenhuma norma, justamente a ausncia de normas que vai formar a permisso. verdade que essa teoria foi ultrapassada no comeo do sculo XX, na medida em que apareceram as normas permissivas com contedo prprio, normas inegavelmente jurdicas e extremamente importantes como, por exemplo, as chamadas normas de organizao. A norma de organizao no necessariamente um imperativo, ela pode simplesmente definir certas situaes e conceitos jurdicos, tal como a definio de tributo que est no Cdigo Tributrio Nacional ou a norma constitucional que afirma ser o Brasil uma Repblica Federativa, normas sem qualquer sentido imperativo. 3.Jhering e o Sculo Depois. Isto significa que a teoria do direito, j no sculo XX, foi reconhecendo que as normas jurdicas no so apenas imperativos, isto , no so obrigaes e proibies, so tambm permisses. Mas Jhering s via permisso na forma omissiva e, com isto, ele estava de acordo com a teoria do Estado do sculo XIX, uma teoria do Estado de natureza liberal, aquela idia do Estado mnimo. Embora o Estado prussiano no fosse propriamente o que se poderia chamar de um Estado liberal, na teoria da poca se imaginava um Estado coativo mas que coage minimamente e que, quando coage, f-lo apenas para impedir que as pessoas interfiram negativamente umas sobre as aes das outras, para no permitir que a liberdade de um interfira sobre e diminua a liberdade do outro. Esta idia do Estado mnimo uma idia tpica do sculo XIX que o sculo XX vem ento a recusar. A concepo do Estado, no apenas fiscalizador do comportamento humano, enquanto comportamento do cidado, mas do Estado que age como um deles, o Estado-empresrio, por exemplo, est fora da concepo que Jhering faz do Estado e, por consequncia, da concepo de norma que tem. Isto se observa quando Jhering define a norma jurdica como imperativo abstraio para o agir humano, tese tpica da ideologia liberal do sculo XIX, estreitamente ligada idia de que as normas jurdicas se confundem com normas legais. A ideologia a que a norma nunca poderia ter contedo concreto, o que ensejaria os odiosos privilgios que a teoria jurdica do sculo passado queria combater. Ou as leis so gerais ou so eticamente ilegtimas, no so leis, no constituem o direito. Para ns, hoje em dia, a distino entre lei e norma muito importante. Enquanto a tendncia do sculo XIX identificar as duas coisas, no sculo XX a lei passa a ser vista como um conjunto de normas e esse conjunto de normas pode conter normas abstratas e gerais, mas tambm normas individuais e concretas. A norma emanada de uma autoridade de trnsito, ordenando parar, no seria considerada uma norma jurdica, no sculo XIX, no mximo seria o produto de uma deduo na cabea do guarda, era um trabalho da razo. Essa ideologia foi abandonada no sculo XX. Em primeiro lugar, porque se reconhece hoje que as normas jurdicas no so apenas abstratas, existem normas concretas: obviamente, a sentena do juiz uma norma concreta, e jurdica. Segundo, porque a prpria noo de lei como norma necessariamente geral e abstrata foi superada, h muitos exemplos de leis que tm s vezes um nico endereado, ou leis que tm um contedo extremamente particular, no so genricas, no so portanto imperativos abstratos do jeito que Jhering quer. A lei da cmara municipal, por exemplo, conferindo o ttulo de cidado honorrio da cidade do Recife, dirige-se ao fulano de tal, lei e no tem contedo geral, s aquele cidado honorrio tem este direito concedido por esta lei.
Finalmente: a teoria de Jhering, afinal um grande pensador, est de fato totalmente ultrapassada? Para que estudar Jhering, pelo menos no captulo referente teoria da norma, de que nos ocupamos aqui, nesse final do sculo XX, exatamente um sculo depois de sua morte? Por que fizemos uma comemorao em relao a este homem? Bem. A figura de Jhering muito importante na teoria jurdica. uma figura histrica, em alguns aspectos. Nesse sentido, como dissemos, ele um dos autores mais importantes na chamada teoria imperativista da norma: tem ainda uma concepo simplificada da teoria imperativista, teoria que se sofisticou a partir das crticas posteriores. Mas foi Jhering quem a formulou de maneira clara pela primeira vez, da sua importncia na histria da teoria. Mais do que isso, porm, Jhering tem um papel importante na prpria teoria da norma, no tanto pelas solues que apresenta, mas muito mais pelos problemas que sua teoria levantou e levanta at hoje. Vimos que perfeitamente possvel partir de uma definio de Jhering a respeito da norma jurdica e da perceber a atualidade dos problemas tericos que ali esto imbricados. Nesse sentido, ele um autor que ainda hoje pode ser lido, desde que possamos faz-lo com esprito crtico, dirigido aos problemas. A contribuio do terico no est tanto na produo da teoria pronta, da soluo, a genialidade est muito mais, s vezes, em ter percebido os problemas. E isso ele faz com bastante arte, um homem que levanta as questes e depois vai discorrer sobre as definies, tentando contornar os problemas que ele prprio vai apresentando. Nesse sentido a teoria de Jhering uma teoria ainda atual. Os problemas que ela enfrenta so ainda os problemas de nossos dias. Fonte: Jhering e o Direito no Brasil Seminrio Nacional em Comemorao ao Centenrio de seu Falecimento, Universitria, Recife, 1996, pp. 211- 226. 10 anos de Constituio uma anlise TERCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. Ao tratarmos dos aspectos polmicos da atuao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica - CADE devemos, obrigatoriamente, pensar em questes que atingem de perto a Constituio Brasileira. Na aplicao da lei de defesa da concorrncia (para no cham-la de lei antitruste) devemos separar dois aspectos: a) a lei antitruste autoriza a disciplina da concorrncia em termos de represso do abuso do poder econmico, portanto, caracteriza infraes contra a ordem econmica e especificamente contra a concorrncia c b) no seu artigo 54 pode ser encontrado textualmente outro aspecto que envolve o "controle prvio de atos e contratos". Este controle prvio tem como objetivo primeiro antecipar-se a possveis anomalias que possam ocorrer, por meio de atos ou de contratos, na concorrncia. Assim, direciona-se, na forma de uma aprovao ou de uma reprovao, a atividade privada. Abordaremos este aspecto da lei, qual seja, o que disciplina o controle prvio de atos e contratos e que possui, de certo modo, um sentido de interveno do Estado no domnio econmico, isto , trata-se de uma forma autorizada de interveno no domnio econmico. Da afirmar-se que este fato suscita um problema delicado de carter constitucional. No exerccio desse controle por parte da administrao, o CADE uma autarquia cujo papel apreciar as questes ligadas perspectiva econmica lanada por esses atos e contratos, tendo em vista o interesse coletivo. Um exemplo prtico e bastante sugestivo deste controle foi a proibio pelo CADE, num primeiro momento, de um ato de concentrao entre uma grande cervejaria estrangeira e uma cervejaria brasileira. Nessa proibio, alegou-se que a vinda da maior cervejaria mundial americana para o Brasil, por meio de uma joint venture, com a segunda grande cervejaria brasileira, a Antrtica, constituiria uma barreira para o desenvolvimento do mercado cervejeiro nacional e fortaleceria exageradamente o participante nacional sem que o participante estrangeiro viesse aqui para concorrer. Na verdade, ele viria para aliar-se a um possvel concorrente. Este fato gerou uma enorme discusso havendo, inclusive, um pedido de reconsiderao dessa proibio e a final o CADE aprovou a joint venture, porm, exigiu que fosse feita uma modificao no contrato entre as duas empresas. Modificao esta que possibilitava empresa americana fazer, at determinado prazo, um grande investimento de U$ 450.000.000. Mas o que ocorreu, na verdade, foi a transformao desta possibilidade de investir em obrigao de investir. Portanto, temos aqui um exemplo de interveno direta do CADE em uma relao contratual e este tipo de interveno direta na relao
contratual que colocamos em questo. Quando pensamos em limites constitucionais, h uma interveno do Estado no domnio econmico. No exemplo aventado, as empresas foram obrigadas a alterar o seu contrato, caso contrrio este estaria reprovado e os americanos voltariam para o seu pas; os brasileiros, por sua vez, ficariam sem qualquer investimento. Desta forma pergunta-se: qual o limite desta interveno? Na apreciao deste limite encontramos consideraes que podem ser colocadas sob os temas "polticas de Estado" e "polticas de governo". dizer, na apreciao dos limites desta interveno ns costumamos invocar, de um lado, aquilo que denominamos poltica de Estado e, de outro, aquilo que chamamos de poltica de Governo. A primeira denominao, qual seja, poltica de Estado constituiu um elemento fundamental para este tipo de interveno. Refere-se, aqui, quelas polticas as quais a autoridade administrativa deve levar em considerao e que esto delineadas como polticas permanentes na prpria Constituio Federal. Temos como exemplo desta poltica o artigo 218 ou 219 da CF/88. Desta forma, no caso das cervejas, levou-se em considerao a contribuio ao desenvolvimento tecnolgico na produo da cerveja brasileira que seria trazida pela maior produtora mundial de cervejas. Este elemento tpico da poltica de Estado porque inscrita na Constituio sendo, ento, no exemplo estudado, elemento favorvel aprovao daquela joint venture. Por outro lado, ao aplicar a lei, o CADE leva em considerao as polticas de governo. Estas dizem respeito ao programa de governo, portanto, caracterizam-se por uma certa provisoriedade que fica, um pouco, ao sabor da modificao da prpria situao em que o pas vive. As polticas de governo no esto necessariamente ou, pelo menos, ostensivamente inscritas no perfil constitucional. A sua utilizao como argumento para impedir ou para evitar, por exemplo, que se consume ou que se leve a cabo um determinado contrato pode causar problemas. Assim, em princpio poderamos dizer que, se estamos falando em interveno do Estado no domnio econmico e no setor privado, certamente causaria preocupao imaginar que a poltica de governo, dotada dessa provisoriedade, pudesse ser, por exemplo, argumento para a interveno. As polticas de Estado que possuem perfil constitucional so mais fceis de ser justificadas. Os problemas de interpretao que estas podem suscitar so fceis de solucionar justamente pelo fato de se poder encontr-las ostensivamente na Constituio. Entretanto, como resolver as questes oriundas das polticas de governo? A lei estabelece, no entanto, que, quando houver interesse para a economia nacional, determinado ato ou contrato poder ser aprovado pelo CADE, ainda que desta aprovao advenham problemas para a concorrncia. Neste sentido, quando invocamos necessi-dades prioritrias do mercado interno brasileiro para enfrentar os mercados externos, encaminhando argumentos voltados para a questo da globalizao que , por sua vez, um fenmeno conjuntural de nossos dias e dizemos que a leitura, por exemplo, de relatrios do BNDES apontam que determinado setor empresarial est fortemente afetado pela concorrncia internacional sendo atingido de frente pela globalizao, pergunta-se: em que medida estaremos trabalhando com polticas de governo que alteraro positiva ou negativamente um contrato preestabelecido entre empresas? Exemplificando: no caso da aquisio de uma grande siderurgia por uma outra grande siderurgia, como aplicar a poltica de governo? dizer, neste caso, estaro em jogo interesses comerciais e de produo entre pases que influenciaro este tipo de aprovao. A invocao, neste caso, do princpio da soberania frgil e insuficiente, pois, na verdade, est-se usando realmente polticas de governo com vistas conjuntura a fim de propiciar uma interveno de controle de atos e contratos por meio da autoridade administrativa. As polticas de governo aparecem basicamente naquilo que poder-se-ia chamar de "coliso de interesses". Assim, o Governo se volta para um certo desenvolvimento tecnolgico, tentando estimul-lo, mas no enquadra neste estmulo certos aspectos do desenvolvimento tecnolgico do pas por no ach-los condizentes. A fabricao de mquinas de jogos, por exemplo. Temos ainda uma disciplina dos jogos. Mas imaginemos que um produtor de mquinas de jogos j esteja em franca atividade. Podemos desestimular a fabricao de determinado tipo de mquinas, ainda que se trate de um jogo permitido? Isso fere o fomento da poltica de governo, ou seja, algo circunstancial. Neste caso possvel brecar um contrato? Estas questes so cruciais para a compreenso da lei antitruste. Assim, no h uma fronteira definida e este no um problema exclusivamente brasileiro, pois o encontraremos, por exemplo, na Comunidade Europeia guardadas, entretanto, as devidas peculiaridades que podem ser identificadas em dimenses diferentes do
mesmo problema. O rgo de controle da concorrncia e de controle de atos e contratos da concorrncia na Comunidade Europeia enfrenta estas questes estabelecendo regras, algumas delas, inclusive, tm fundamento no prprio regime estatutrio da Comunidade. Portanto, adota-se, em parte, uma poltica de Estado com uma Constituio da Comunidade ao lado de outras regras que se referem s colises de interesses entre os prprios Estados, isto , entre o interesse nacional de determinado Estado contra o interesse nacional de outro Estado. Neste sentido, a lei alem, por exemplo, prev que, em alguns casos, o Ministro de Estado da Economia pode intervir em uma deciso do CADE alemo, tendo em vista o interesse de uma poltica de governo contra, at mesmo, certos fundamentos de uma deciso do CADE alemo em termos de poltica de Estado. Mas parece que, neste caso, tem-se mais um problema do que uma soluo. O CADE, no Brasil, com pouco tempo de vida, ainda est encaminhando estas questes que, em uma segunda fase, seguramente, atribularo os nossos constitucionalistas ainda por muito tempo. QUESTO: Tendo em vista o incremento das relaes comerciais entre os pases do MERCOSUL indagase: j se faz presente a necessidade de um Tribunal Superior do MERCOSUL para dirimir possveis conflitos entre as empresas e at mesmo entre as pessoas internacionais ou seria prematura esta idia consistindo uma ameaa soberania nacional dos pases envolvidos no MERCOSUL? RESPOSTA: A resposta ser fornecida sob o ponto de vista da legislao antitruste. Em relao ao MERCOSUL existe inicialmente um problema complicado que diz respeito criao de um Tribunal Supranacional, embora este seja algo previsvel e at mesmo necessrio. A Argentina, o Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma legislao antitruste, porm o Paraguai no tem esta legislao o que j representa uma pequena dificuldade. Ainda temos, neste tocante, dois aspectos a considerar, quais sejam, de um lado a punio e a represso a infraes e, de outro lado, o controle prvio de atos e contratos. No que diz respeito s infraes, justamente pelo fato de no existir, por exemplo, no Paraguai uma legislao antitruste ou, at mesmo, pelo fato das legislaes do Brasil, da Argentina e do Uruguai serem diferentes, pressupe-se antes de mais nada a harmonizao legislativa para que depois se possa falar em um Tribunal ou, pelo menos, em um rgo capaz de gerir as questes de concorrncia no MERCOSUL. A soluo para esta problemtica talvez esteja no estabelecimento de regras de reenvio de tal maneira que se possa atribuir a cada rgo a discusso dessas questes, levando-se em considerao o lugar onde a infrao haja sido cometida a fim de que cada rgo de cada pas possa dirimi-las. Quanto questo do controle de atos e contratos, o problema mais complicado. Com respeito ao controle prvio, por exemplo, ainda recentemente, um conselheiro do CADE em uma apreciao de uma joint venture ou, se quiser, de um contrato, admoestava uma empresa estrangeira que estava vindo para o Brasil por meio de aquisio de uma empresa nacional atravs de uma possvel insinuao de que, caso o contrato no fosse aprovado, a empresa iria para o Paraguai e l iria se dar o mesmo, ou seja, seriam enviados novamente para o Brasil. Ento, como que se controlaria esse tipo de afronta concorrncia no Brasil vinda do Paraguai? Haveria alguma possibilidade de controle? Aqui, portanto, a coisa um pouco mais complicada, mas os estudos na rea do MERCOSUL esto avanando neste particular, no sentido de se criar um rgo superior onde os problemas desta extenso possam ser apreciados. O CADE e a Argentina j possuem um convnio a respeito, de tal maneira que, quando trata de concorrncia na Argentina ou no Brasil, o MERCOSUL, como mercado relevante, sempre considerado. Este fato, na verdade, representa um passo para a compreenso desta integrao. E a evoluo da integrao, a ponto de se chegar a um rgo comum para dirimir estas questes, talvez seja um novo passo que, no entanto, ainda bastante complicado. Fonte: 10 anos de Constituio, uma anlise, Celso Bastos, So Paulo: 1998, pp. 176-180. Constituio Brasileira e modelo de Estado Hibridismo ideolgico e condicionantes histricas Tercio Sampaio Ferraz Jr. Professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo
O tema do modelo de Estado, no interior de uma discusso constitucional, exige uma reflexo que conduza, por meio da rede normativa do texto da Constituio, a uma percepo de sua realidade, tanto no sentido de suas condicionantes histricas quanto do prognstico normativo que ela autoriza. A experincia constitucional proporcionada pela Constituio brasileira de 1988 nesses anos bastante significativa, no que diz respeito instalao e realizao de um modelo de Estado. A proposta normativa, constante do prembulo , fala em Estado Democrtico. Induz, obviamente, a que se pense, de um lado, nos tradicionais princpios do Estado de Direito (exerccio de direitos sociais e individuais, liberdade, segurana, igualdade etc.), mas, de outro, nas exigncias das necessidades de democratizao da prpria sociedade (que h de ser fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, etc.). Este reconhecimento da necessidade de democratizao da prpria sociedade, vista como um ente distinto do prprio Estado, mas ao mesmo tempo integrado no Estado, aponta para uma complicada sntese entre o Estado de Direito e o Estado Social ou Wellfare State. Na verdade, este reconhecimento tem uma repercusso especial na forma constitucional do Estado. Deve-se ter em conta, nesses termos, a passagem marcadamente peculiar, na vida constitucional brasileira, de um Estado liberal burgus e sua expresso tradicional no Estado de Direito, para o chamado Estado Social. A propsito seria conveniente assinalar, no Estado de Direito, para identific-lo, a postura individualista abstraia, o primado da liberdade no sentido negativo de no impedimento, a presena da segurana formal e da propriedade privada. Portanto, um Estado concebido, como dizia Carl Schmitt, como servo estritamente controlado da sociedade. J no Estado Social, dever-se-ia perceber uma espcie de extenso do catlogo dos direitos individuais na direo dos chamados direitos de segunda gerao, direitos econmicos e sociais, portanto a considerao do homem concretamente situado, o reconhecimento de um contedo positivo da liberdade como participao a que corresponde uma complexidade de processos e tcnicas de atuao do poder pblico, o problema da interveno do Estado no domnio econmico, donde uma transformao consequente nos prprios sistemas de controle da constitucionalidade e da legalidade. Sem qualquer inteno de definir modelos, interessam estas consideraes apenas na medida em que servem ao esclarecimento de como, no Brasil, ocorre a passagem constitucional do Estado de Direito para o Estado Social. Pode-se dizer que o Brasil nasceu sob a gide de uma constituio formal. Isto , desde o incio de sua existncia independente, o Estado brasileiro foi um Estado constitucional, cujo processo constituinte surgiu como um desdobramento da Revoluo Liberal de O Porto, de 1820 que, por sua vez, era uma consequncia da Revoluo Francesa. Quando se fala em Estado constitucional entenda-se um Estado cujo poder limitado e organizado por uma constituio escrita nos moldes do constitucionalismo do final do sculo XVIII, enquanto um movimento de fundo liberal, expresso dos movimentos polticos da sociedade burguesa de ento. Independente em 1822, Imprio constitucional em 1824, a relao entre Estado e sociedade civil no Brasil foi, contudo, desde o princpio, uma relao sui generis. Isso porque, ao contrrio do que sucedeu no processo constitucionalista na Europa, nos Estados Unidos da Amrica e, at mesmo, num certo sentido, ao contrrio do que aconteceu nos demais pases da Amrica Latina, o Brasil teve uma formao poltica diferente, em que o Estado, enquanto organizao administrativa, com competncias e funes discriminadas e delimitadas, enquanto, pois, aparelho burocrtico, teve uma formao extremamente precoce. H uma observao de Alceu de Amoroso Lima, de que o Brasil teve Estado antes de ter sociedade. Esta observao espelha com propriedade a realidade brasileira que se procura explicitar. Praticamente 50 anos depois da descoberta, o Brasil j tinha, nos rudimentos, um aparelho de Estado, uma organizao de governo, logo trazida e implantada pelos portugueses na nova terra. Apesar dessa formao precoce de um aparelho de Estado, a capacidade de mobilizao poltica da sociedade desenvolveu-se de forma mais lenta e mais restrita. Ou seja, o Estado que nasce constitucionalmente em 1824 internalizou e consolidou as estruturas monrquicas oriundas do proclamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1815, favorecendo sua centralizao precoce. Assim, dotado de um aparato administrativo colonial relativamente complexo e que se transmitiu de forma pacfica e intacto para o Estado imperial, a unificao poltica brasileira e sua expresso
constitucional ocorrem rapidamente entre os anos de 1822 e 1825. Mas a mobilizao poltica da sociedade s ganhou intensidade e penetrao um sculo depois. Na verdade, a penetrao ampla do Estado associada a fatores como partidos polticos regionais e oligrquicos, forte clientelismo rural, ausncia de camadas mdias organizadas politicamente acabaram por inviabilizar a institucionalizao de formas de participao poltica e social oriundas da sociedade civil. Em consequncia, enquanto nos pases europeus em geral e nos Estados Unidos da Amrica, em particular, o Estado sempre foi visto como uma projeo da sociedade civil - e isto fazia parte da ideologia liberal -, pois atuava como uma espcie de rbitro nos confrontos da cidadania burguesa, no Brasil sucedeu o inverso. Pode-se dizer at mesmo que, entre ns, a sociedade civil que foi uma projeo do Estado. Como diz Hlgio Trindade (Bases da Democracia Brasileira: lgica liberal e prxis autoritria, in Como Renascem as Democracias, 1985, p. 49) o Estado, que nasceu antes da sociedade, que foi o agente que propiciou a configurao e o aparecimento de elites sociais no Pas e no ao contrrio. Entende-se deste modo que , por esta formao diferente do que sucedeu no restante da Amrica, o Brasil tenha sido o nico Estado que se instaurou como uma monarquia. Ora, a repercusso desse fato na elaborao constitucional brasileira foi marcante. Como as elites sempre foram constitudas por meio do Estado, no foram elas que constituram o Estado, a sua formao ideolgica se deu s avessas. Ao invs dela vir da sociedade civil para a sociedade poltica, ela veio desta para aquela. Da aquilo que, no Brasil, costuma ser denominado de importao de ideologias. Por exemplo, o movimento constitucionalista brasileiro de 1823 ocorreu por emulao de um movimento portugus de 1820, cujas ideias vinham do Iluminismo francs. Isto tambm aconteceu, verdade, com os Estados Unidos da Amrica, mas de uma forma diferente. Ali a incorporao de ideias iluministas veio ao encontro de uma experincia histrica vivida pelos imigrantes puritanos numa terra em que, no havendo nenhum poder institudo, principiou-se a desenvolver uma organizao baseada no princpio da igualdade e do consenso mtuo, cujo instrumento escrito foi o famoso Compact celebrado pelos lderes do navio Mayflower em 1620. Com base nele, um tpico instrumento social de estruturao da convivncia, que se configuram, depois, as Fundamental Orders of Connecticut de 1639. No Brasil, ao contrrio, preciso reconhecer que, o ideal Constituinte se implantou como um movimento no interior do aparelho de Estado. Se a Assembleia Constituinte convocada em 1823 no chegou a produzir uma constituio, porque foi dissolvida, a Constituio que se produziu por fora de uma determinao de D. Pedro I, continha no obstante os sopros de todo o constitucionalismo europeu. Da a tendncia que se consagrou depois, em meados do sculo, para o parlamentarismo. A Constituio do Imprio no era uma Constituio parlamentarista, mas a vida poltica brasileira, por contingncias histricas prprias mas tambm por inspirao europia, foi se transformando numa experincia parlamentarista, at o ato que na prtica estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. Essa Constituio europeizada, que estabelecia formalmente uma monarquia constitucional, concedia ao imperador, como se sabe, por meio do chamado poder moderador, um dispositivo que lhe conferia um poder de veto como de um rbitro de ltima instncia para todas as questes que pudessem surgir nas relaes entre os demais poderes. Esse poder moderador foi inclusive o ponto de discrdia de D. Pedro I com os polticos da poca e que o conduziu afinal abdicao. No Segundo Reinado (1841), com D. Pedro II, este poder foi parcialmente atenuado, produzindo a diviso da elite poltica em dois partidos (conservador e liberal) e viabilizando o funcionamento da monarquia parlamentar, na qual o poder moderador era instrumento de arbitragem poltica. Entre suas principais atribuies, conforme a Constituio imperial, estavam a de nomear os senadores, escolhidos de um lista trplice de nomes eleitos nas provncias, a de sancionar leis, a de dissolver a Cmara dos Deputados e nomear Ministros de Estado. Pelo lado da participao eleitoral no processo poltico, as eleies eram indiretas para a escolha dos membros do Parlamento, distinguindo a Constituio os votantes (que incluam os analfabetos) dos eleitores, reconhecendo como qualificados para votar os homens maiores de 25 anos (salvo se bacharis ou oficiais, que podiam votar com idade inferior) e dispondo renda lquida anual de 100 mil ris. Para ser eleito os requisitos eram os mesmos, salvo o da renda, que devia ser o dobro. Ao final do sculo, em 1881, a idade diminuda para 21 anos e a eleio direta adotada, embora isso no chegasse a significar nenhum alargamento significativo do nvel de participao poltica. Em sntese, pode-se dizer que a primeira experincia constitucional brasileira, por meio da manuteno da
monarquia pela elite poltica, facilitou a obteno de um consenso bsico entre os governantes, garantindo um nvel razovel de legitimidade e estabilidade, importante para a preservao da unidade territorial. Ou seja, quando, no Brasil, o sistema poltico comea a se defrontar com as contradies mais complexas do regionalismo (com alguma manifestao, na poca do Imprio, no perodo da Regncia) as questes da unidade nacional e a construo de um aparelho de Estado complexo e estvel j tinham sido superadas. Ao final do sculo XIX tivemos a proclamao da Repblica, que, embora preservasse a dominao oligrquica preponderantemente rural, acabaria beneficiando-se dos efeitos modernizadores decorrentes da abolio da escravatura (1888) sobre a economia cafeeira, que se dinamiza com a introduo do trabalho livre e de imigrantes europeus. O movimento republicano vinha crescendo desde o Manifesto Republicano de 1870 e o aparecimento do jornal A Repblica. As idias empolgaram sobretudo o exrcito e a Repblica acabou proclamada por Deodoro da Fonseca, ministro do Imprio, em 15 de novembro de 1889. Dezoito dias depois, em 3 de dezembro, um decreto nomeou uma comisso de cinco membros para elaborar o projeto de Constituio. E, em 21 de dezembro, convocou-se a Assembleia Constituinte. Apareceram trs anteprojetos, que foram transformados num nico, redigido por Rangel Pestana. Sua discusso foi rpida, iniciando-se em 4 de novembro de 1890 e limitando-se a alguns pontos principais: a organizao federativa, a discriminao de rendas, a unidade do direito, a dualidade da magistratura, o sistema de eleio presidencial, a liberdade religiosa, a organizao dos Estados. A relativa facilidade com que foram obtidos os consensos mostra, na composio da Assemblia, uma forte identidade ideolgica que unia republicanos a antigos ministros de Estado da monarquia. Na verdade, a introduo do regime federativo veio ao encontro das oligarquias polticas regionais, cujo poder se confirmou e se fortaleceu. Houve assim mais uma coincidncia de propsitos: importava-se um modelo externo, desta feita do constitucionalismo norte-americano, para respaldo de uma situao local que, por seu intermdio, se justificava. A Repblica e as elites republicanas que estiveram presentes Constituinte de 1890 emergiram de dentro do aparelho de Estado e ali se impuseram. O novo regime presidencialista, sob o signo do federalismo republicano, implantou um regime poltico descentralizado, sob controle de partidos regionais, representativos de oligarquias estaduais dominantes e coordenados nacionalmente pelo Presidente da Repblica. Com o novo regime constitucional extingue-se o sistema eleitoral censitrio, com base em renda mnima, mas os analfabetos, os praas de pr do exrcito nacional e os religiosos de claustros ficavam excludos. Com isso, a classe dirigente, mesmo ampliando parcialmente o regime representativo, consegue manter a eficincia e a legitimidade de sua posio perante a coletividade. Tratava-se, na prxis constitucional, de um republicanismo fortemente autoritrio que iria sofrer as primeiras presses liberalizantes apenas na dcada de 20. Nesse sentido deve-se reconhecer que o retardamento de demandas populares entre ns se explica por essa revitalizao da dominao oligrquica com a implantao do federalismo republicano, que reforou a hegemonia das elites regionais, bastante eficaz no plano nacional. Acrescente-se a isto a reconverso das funes militares e cvicas da antiga Guarda Nacional da poca da Guerra do Paraguai em cargos honorficos de natureza poltica, os "coronis", que serviram para uma eficiente mediao entre o centro e a periferia e deram ensejo ao chamado "coronelismo poltico". A Revoluo de 1930 no deixou de ser um movimento contra a Constituio de 1891. Mas na sua esteira no vinha um projeto constituinte, conseguido a cobro dos constitucionalistas paulistas da Revoluo de 1932. A Constituinte de 1934 desvencilhou-se, em parte, das oraes brilhantes, entremeadas de citaes inglesas e norte-americanas do sculo XIX. Mas dentre os 214 deputados, eleitos por voto popular e os 40, eleitos por classes profissionais, o choque do liberalismo autoritrio anterior com os eflvios do fascismo italiano foram inevitveis. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada em novembro de 1933 e passou oito meses discutindo o texto de um anteprojeto para uma nova Constituio, elaborado previamente pela chamada Comisso do Itamaraty, dirigida por Afranio de Melo Franco. As polticas regionalistas estavam fortemente representadas por meio das bancadas dos grandes Estados. Mas Getlio Vargas neutralizava habilmente a sua importncia por intermdio dos deputados das classes profissionais. Mais uma vez de dentro do aparelho de Estado era projetada uma vanguarda de elite poltica que teve por mrito, afinal, a aprovao de uma Constituio avanada para o campo social, introduzindo-se os direitos trabalhistas, dispositivos de carter nacionalista, em que, no obstante, a inspirao externa, de novo, se fazia presente.
Com a Revoluo de 1930 o sufrgio se torna secreto e quase universal, com a introduo do voto feminino, mantendo-se a excluso dos analfabetos. Porm, a radicalizao poltico-ideolgica entre 1934 e 1937, provocada em grande parte pela mobilizao de massa oriunda do Integralismo, e da Aliana Nacional Libertadora, de 1935, sob controle do Partido Comunista, solapou o consenso revolucionrio de 1930, esvaziando-lhe o iderio liberal e reforando as tendncias autoritrias. Legitimou-se, assim, o golpe militar e frustraram-se as expectativas de alternncia na sucesso de Getlio Vargas em 1938. Em 10 de novembro de 1937, um golpe de Estado dissolveu o Congresso e extinguiu a Constituio de 34. Foi preparada uma nova Carta, que ficou conhecida como "Polaca", por sua inspirao: a Constituio da ditadura polonesa. Elaborada por Francisco Campos, foi outorgada ao Pas por Getlio Vargas. Desta feita, no houve Constituinte. Com a Carta Constitucional de 1937 ocorre um refluxo autoritrio, sob o controle de uma estrutura de poder centralizada, desmobilizadora de uma ao poltica partidria e basicamente paternalista, com o que se estabeleceu a matriz burocrtica e corporativista do Estado. Com isso, o padro brasileiro da interao Estado/Sociedade Civil adquiriu dois componentes bloqueadores fundamentais: a expanso de mecanismos estatais de controle tendendo a reduzir o espao de estruturao autnoma da sociedade civil e a atitude persistente das elites polticas, independentemente dos regimes polticos, de dissuadir formas de participao de tipo liberal-democrtico (Trindade, p. 61). Assim, embora a Constituio de 1937 reconhecesse uma Cmara dos Deputados, com representantes do povo, estes eram eleitos por sufrgio indireto, cujos eleitores eram os vereadores municipais e mais dez cidados por municpio, eleitos para compor o colgio eleitoral (art. 47). De outro lado, previa a Constituio uma segunda Cmara chamada Conselho Federal, composto de um representante por Estado, escolhido pela respectiva Assembleia Legislativa mas sujeito a veto do Governador. Contudo, toda a matria de administrao econmica, a includas as relaes de trabalho, eram submetidas a um Conselho de Economia Nacional, composto de representantes sindicais e associaes profissionais reconhecidos em lei, com paridade de representao entre empregados e empregadores. Este Conselho era dividido em sees e nelas havia trs membros designados diretamente pelo Presidente da Repblica. Na verdade, porm, este, por meio de decreto-lei de sua exclusiva competncia, praticamente monopolizava o processo legislativo. O fim do Estado Novo, institudo em 37, ocorreu em 45. O ditador foi deposto pelas Foras Armadas e o Governo Provisrio convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que, instalada em fevereiro de 1946, tomou a Constituio de 34 como base de suas discusses. No impulso da queda do nazi-fascismo em todo o mundo, o forte componente liberal da Constituinte de 46 deu-lhe a necessria base consensual. Apesar disso, o tipo de poltica conciliadora, que acima de tudo manteve as estruturas do aparelho de Estado herdados do Estado Novo da Constituio de 1937, acabou por fazer da Constituio de 46 um corpo de enunciados programticos em questes fundamentais. O que permitiu que nem sempre fosse concretizada, ou por razes de incompatibilidade com a realidade para a qual tinha sido feita, ou por fora de acomodaes polticas. De fato, o influxo liberal da Constituio de 1946, marcado por um presidencialismo forte e com tendncias desenvolvimentistas cujo equilbrio era dado por um Congresso mais conservador, teve antes o sentido de uma liberao da ordem fascista e de uma ordenao formal do poder nacional. Lembrava mais um liberalismo moda de Locke, deste modo menos propenso ao liberalismo moda francesa, considerado como ameaa sociedade civil e tendente anarquia. Nessas condies, permanecia o reconhecimento da funo do Estado para exercer o papel de protetor da sociedade. Com isso, a experincia constitucional de 1946 assinalava um persistente hibridismo ideolgico e institucional, combinando estruturas liberais com uma prtica conservadora seno autoritria. Isto culminava no que Jaguaribe chamou de "democracia eleitoral" e que culminaria no que Schmitter, mais atrevidamente, denominou "democratura". Em 1964, nova revoluo, politicamente manifestada no desequilbrio provocado pela possibilidade de um Congresso menos conservador aliado a um presidencialismo reformista, e, em 67, uma outra Constituio. No houve convocao de Constituinte. Por meio de um ato institucional, o Poder revolucionrio outorgou competncia ao Congresso Nacional devidamente expurgado para elaborar o novo texto. Foi criada uma comisso para a apresentao de um anteprojeto. A comisso, contudo, por incompatibilidade com o Poder revolucionrio, acabou por se dissolver. E o anteprojeto foi o produto da lavra de tcnico afinado com o novo regime. A Constituio de 1967 no foi preservada de alteraes revolucionrias. Destinada a consagrar os ideais
desenvolvimentistas mas constitucionalmente balisados de 1964, ela teve curta durao, posto que em 13 de dezembro de 1968 reapareceu o Poder revolucionrio, com a edio do famigerado Ato Institucional N 5. Aquele Poder, transitrio por definio, havia esgotado sua misso com a edio do AI-4, que convocou o Congresso, extraordinariamente, para discusso, votao e promulgao do projeto que viria a ser a Constituio de 1967. Ao reaparecer, reabriu o processo revolucionrio. Apareceu, depois, a Emenda n 1 de 1969, que, praticamente, reformulou a Constituio de 1967 por inteiro, mantendo, ademais, no seu corpo, o AI-5 e os poderes revolucionrios que dele decorriam. Esta convivncia de Constituio com atos revolucionrios persiste at 13 de outubro de 1978 quando, por fora das injunes polticas, o chamado processo de distenso iniciado pelo ento presidente Geisel conduz o Brasil Emenda Constitucional n 11, que revoga os atos institucionais. Da para frente o Pas viveu um regime institucional caracterizado por uma espcie de hibridismo constitucional, posto que a Constituio que restou vigente, embora expurgada dos atos institucionais, continuou a albergar dispositivos coerentes com o esprito autoritrio do regime de 1964, ao lado de outros, em que se podia entender uma vocao mais democrtica. Disto resultou um texto tecnicamente pouco sistemtico em muitos aspectos, impossvel de receber um tratamento unitrio em termos de princpios bsicos. De um lado, por exemplo, iniciativa privada era garantida uma preeminncia; de outro, diversas normas permitiam uma interveno do Estado no domnio econmico sem os correspondentes freios. O mesmo acontecia com o regime federativo, proclamado expressamente, mas emasculado por outros dispositivos que, em matria tributria, garantiam a supremacia da Unio sobre os Estados e Municpios. A Constituio brasileira do regime autoritrio de 1964, em termos da Emenda n. 1 de 1969, acabou por enfatizar ao extremo aquela impotncia poltica genrica da sociedade civil perante uma tecnocracia estatal bem montada e estruturada. Nela ficava claro o menosprezo do voto como moeda bsica de barganha poltica ou o reconhecimento da superioridade dos tcnicos da racionalidade econmica sobre qualquer forma de representao popular - a desproporo de foras entre Executivo e Legislativo era, nesse sentido, ostensiva - ou a eficincia da represso militar. Isto no impediu, verdade, um desprendimento de foras econmicas, capazes de assegurar auspiciosas taxas de desenvolvimento na dcada de 70. Contudo, esse modelo constitucional desenvolvimentista do ponto de vista econmico, se, no comeo, mostrava uma predisposio para deixar a sociedade civil suficiente e aparentemente livre no seu isolamento poltico, ao correr do tempo essa liberdade foi adquirindo sua face real de concesso do Estado, em que a cidadania, como finalidade, era antes um objetivo a realizar-se no futuro (desenvolvimento econmico como condio de posterior desenvolvimento poltico). Pode-se, nesta linha de observao, entender o sentido poltico adquirido pelo movimento que culminou na Constituio de 1988. Ao contrrio do que sucedera sempre no passado, o novo processo constituinte no veio empolgado por nenhum princpio eminente, como a independncia, em 1822, a repblica, em 1889, a luta contra as oligarquias regionais e as conquistas sociais na Europa da entre-guerra, em 1930/34, o fascismo, em 1937, a restaurao da democracia liberal, em 1945. Ele apenas se postava contra o regime autoritrio de 1964, mas no buscava explicitamente nenhum modelo externo, embora, posteriormente, alguns traos da constituio portuguesa viessem a ser percebidos. Esta ausncia de um modelo externo explcito marca uma peculiaridade da Constituio vigente em face das anteriores. Talvez por isso se possa, no caso dela, buscar na sua controvertida sistemtica um elo prprio, capaz de ligar tendncias aparentemente divergentes que a fazem ora um presidencialismo com traos parlamentaristas, ora uma social-democracia com traos corporativistas, ora um neo-liberalismo com traos intervencionistas, ora um capitalismo com traos estatistas, ora um desenvolvimentismo com traos assistencialistas etc. Esta sistemtica controvertida no foi, ademais, fruto de uma tendncia consciente e de uma proposta explcita, mas resultou do prprio processo constituinte de 1987, que no partiu de nenhum projeto, mas distribuiu as diferentes temticas por inmeras comisses, cujos resultados foram encaminhados depois a uma comisso central, onde se deu ento a convergncia formalmente dispersiva das vrias presses sociais. Nesta convergncia e luz de seu passado constitucional que se torna significativo o modelo de estado proposto como Estado Democrtico de Direito. O que se props na Constituinte de 87 foi um processo de transformao do Estado. E com essa noo no se exprime apenas a sujeio do Estado a processos jurdicos e a realizao no importa de que idia de direito, mas a sua subordinao a critrios materiais que o transcendem, principalmente a interao de dois
princpios substantivos. O princpio da soberania do povo e dos direitos fundamentais, que est no Artigo 1. pargrafo nico, incisos I, II e III, conjugado com o da realizao da chamada democracia econmica, social e cultural como objetivo da democracia poltica, que est tambm no Artigo 1, nos incisos IV e V, e no Artigo 3a, incisos I, II, III e IV. O que vem sendo percebido, no entanto, na experincia recente da Constituio brasileira vigente, que uma compatibilizao do Estado de Direito com o Estado Social traz algumas dificuldades significativas. Seria preciso, de um lado, garantir em cada caso uma situao de compromisso entre os grupos sociais que assegurasse um mnimo de critrios comuns de valores que fossem admitidos por todos. De outro lado, um quadro constitucional rigoroso sem o qual a atuao do Estado, inevitavelmente sujeito a grupos de presso e a interesses estamentais e corporativistas da burocracia, pode se tornar facilmente uma espcie de exerccio de arbitrariedade camuflado por supostos ditames de princpios pblicos relevantes. As dificuldades dessa compatibilizao, em face das exigncias mencionadas, repousam afinal no inevitvel reconhecimento de que elas tm carter distinto. A exigncia de um compromisso um problema tipicamente poltico nos seus meios e nos seus fins, enquanto a exigncia de um quadro constitucional rigoroso um problema tipicamente jurdico formal. Essa dualidade de carter vem sendo percebida, na verdade, no fato de que o Estado de Direito um conceito formalmente jurdico, jurdico formal, o mesmo no sucedendo como conceito de Estado Social (Ernst Forsthoff: Rechtsstaats im Wandel, 1976, p.89). As garantias proporcionadas pelo contorno constitucional do Estado de Direito so assim acima de tudo delimitaes com sentido eminentemente tcnico normativo. Pressupem portanto um modelo de Estado que em relao liberdade dos cidados deixa valer o status quo. J as garantias exigidas do Estado Social pressupem um Estado politicamente ativo que desempenha funes distributivas, que em ltima anlise desconhece o dualismo entre Estado e sociedade. Em consequncia, enquanto para o Estado de Direito o fenmeno do poder por definio circunscrito e delimitado no seu contorno constitucional, o Estado Social extravasa essas limitaes porque nele as possibilidades de extenso das formas de domnio so imensas, podendo atingir intensidades sutis e num certo sentido at fora de controle do ponto de vista do Estado de Direito. Afinal, se ao indivduo para sobreviver no basta mais, como acontecia, no Brasil, desde o sculo XIX, um relacionamento direto e concreto com as fontes naturais, na medida, pois, em que a grande massa est urbanizada e metida nas malhas da envolvente industrializao, isso tudo exige providncias organizacionais que nenhuma corporao isolada pode fornecer. Ento esse indivduo se percebe no mais como algum que vive num Estado, nem como algum que depende do Estado, mas como uma espcie de ativista poltico potencial. Nos ltimos anos, pode-se dizer que, de certo modo, o impeachment do Presidente, aliado a uma expressiva falncia cio assistencialismo social herdado do corporativismo fascista de 1937, cria novas bases para a compreenso da relao Estado/sociedade. E esse processo de transformao que agora com a Constituio de 88 nos atinge talvez de uma forma mais aguda como nunca em nossa Histria pregressa. O fato de que a nossa estrutura institucional das leis bsicas, enquanto constitutivas do Estado de Direito, provm de uma experincia marcada pelo hibridismo liberalismo conservador/ prxis autoritria se aplica a uma realidade que no mais permite ater-nos a certas frmulas de rigor formalista sem que nos obriguemos a abrir inmeras excees, acabou mudando o carter geral dessas normas. Este contraste se espelha, hoje, no detalhismo da Constituio, capaz de albergar exigncias ora tendentes a reclamar os benefcios de uma democracia social extensiva ora pedindo as cautelas prprias de um industrialismo neoliberal emergente. Mesmo as normas que consagram os direitos fundamentais no fogem a essa caracterstica e isso obviamente afeta a lgica interna do Estado de Direito, e deve ser considerado como um dado relevante quando se discute o modelo constitucional de Estado brasileiro. Para compreender essas transformaes teremos que partir do carter positivado das normas das constituies modernas. A positivao foi uma das idias que corporificam o movimento constitucionalista a partir do sculo XIX principalmente. E um dos traos centrais do Estado de Direito foi assim a fixao de uma ordem estatal livre na forma de normas positivas, sujeitas s formalidades garantidoras da certeza e da
segurana. Dessa forma protegia-se a liberdade conforme a lei e as declaraes expressas de direitos individuais, antes presentes de uma forma difusa na teoria do direito natural racional, so um exemplo tpico. Isso exigiu uma espcie de formalidade constitucional que, no Brasil, foi se alimentando e se desenvolvendo desde o sculo XIX. Essa formalidade conferia Constituio uma transparncia e uma estabilidade indispensveis. Graas a essa formalidade, as constituies ento puderam submeter-se s chamadas regras usuais de interpretao. Por seu intermdio, no entanto, conseguimos chegar ao sentido e ao controle da eficcia da constituio, que acabavam por minimizar a prxis constitucional correspondente. A sua estabilidade decorria do formalismo, no obstante as prticas autoritrias da realidade poltica e social. Para efeito de um modelo constitucional para o Estado de Direito concebido como um Estado mnimo, reduzido em suas funes, essa formalidade tinha uma orientao especfica que eu chamaria de orientao de bloqueio ou funo de bloqueio, conforme o princpio da legalidade e da constitucionalidade que formalmente limitava a atuao do Estado. Isto funcionou bem, no Brasil, at 1930. No podemos desconhecer nesse passo que as normas constitucionais, seja na Constituio imperial seja na Constituio republicana de 1891, continham obviamente elementos jurdicos que a diferenciavam das demais normas, do que um normativismo ideologicamente formalista, supostamente neutro e acrlico, chegava a dar conta. A partir de 1930, contudo, entrou em cena uma ordem poltica global do Estado constitucional que obrigou a certas correes e especificaes. No limiar dessas transformaes que caracterizariam a complicada convivncia do Estado de Direito com o Estado do Bem-Estar Social ou Estado Social, Ruy Barbosa fazia observar o seguinte: "A concepo individualista dos direitos humanos tem evoludo rapidamente, com os tremendos sucessos deste sculo, para uma noo incomensurvel nas noes jurdicas do individualismo restringidas agora por uma extenso cada vez maior dos direitos sociais. J no se v na sociedade um mero agregado, uma justaposio de unidades individuais acasteladas cada qual no seu direito intratvel, mas uma unidade orgnica em que a esfera do indivduo tem por limites inevitveis de todos os lados a coletividade. O direito vai cedendo moral, o indivduo associao, o egosmo solidariedade humana". Isso foi dito no comeo deste sculo (A Questo Social e Poltica no Brasil in Revista do Brasil, abril, 1919, p.39/s.). Essas palavras cie Rui, se ns as entendemos bem, apontavam j para uma espcie de desformalizao da constituio e da interpretao da constituio, o que ele certamente no encampava nestes termos, em toda a sua extenso. Mas mostravam uma preocupao que iria se tornar aguda nos dias de hoje. Mais ou menos na mesma poca, Max Weber (Wirtschaft und Gesellschaft, 1976, p. 505 ss.) j apontava para tendncias que iriam, como dizia ele, favorecer uma dissoluo desse formalismo jurdico que nasceu junto com o modelo do Estado de Direito. Ele previa uma certa disparidade entre as legalidades lgicas prprias do pensamento formal jurdico e os efeitos econmicos visados, bem como as respectivas expectativas em relao a esses efeitos. Surgiam, dizia ele, exigncias materiais dos modernos problemas de classes, de um lado, acompanhadas, de outro, de propostas de ideologias jurdicas que se guiavam por critrios valorativos contidos na expresso social do direito. Estas mudanas, que se tornaram expressivas na Europa desde os anos 20, no foram capazes, porm, no Brasil, de quebrar o hibridismo da prxis constitucional que o acompanhou at agora. Portanto o que est ocorrendo na experincia constitucional brasileira atual, certamente j vivenciada na Europa desde os anos 20, talvez pudesse ser assinalado em termos de uma tomada de conscincia social e poltica da distino entre um modelo constitucional de Estado com a funo de bloqueio, que cabe para as Constituies de 1824 e 1891, e um modelo constitucional de Estado com a funo de legitimao das aspiraes sociais, que foi, formalmente, prprio das Constituies de 1934, 1937, 1946 e 1967/69. Esse segundo significaria que certas aspiraes se tornariam metas privilegiadas, no caso da Constituio fascista de 1937 e da autoritria de 1967/69, at mesmo acima ou alm de uma conformidade constitucional estritamente formal. Elas fariam parte por assim dizer de uma pretenso inerente a prpria Constituio. Isso quebraria o Estado de Direito como ele foi pensado no passado, isto , com a exclusiva funo de bloqueio. Na verdade, a idia subjacente ao modelo de Estado com funo de legitimao, em que constituies instauram uma pretenso de se verem atendidas expectativas de realizao e concreo, traz para a nossa
experincia constitucional uma considerao de ordem valorativa que a experincia alem percebera na dcada de 20. Ou seja, pressupondo-se que uma constituio apresente no seu corpo normativo um sistema de valores, o modelo de Estado que ela institui se torna uma realizao de valores e exige essa realizao. Na verdade, ela no estabelece um Estado, mas prope a realizao de um Estado. No est se falando da oposio entre uma concepo formalista e uma prxis autoritria, nem ignorando que o Estado Constitucional com funo de bloqueio tambm pudesse buscar uma "ratio" imanente por meio dos tradicionais mtodos teleolgicos, sociolgicos, axiolgicos que ressaltassem, por exemplo, o valor da liberdade individual. O problema ao qual se refere aqui outro. Quando se ope um modulo de Estado com a funo de bloqueio ao Estado com funo de legitimao de aspiraes sociais, o que entra em pauta o problema de como captar o sentido das constituies no momento em que, concebidas estas como sistemas de valores, o modelo de Estado que elas instituem se transforma num instrumento de realizao poltica, com base na qual a atividade legislativa e judicial ser forada, pela presso social, a concretizar princpios e programas implicitamente agasalhados no texto constitucional. Ou seja, a questo deixa de ser um problema de correto delineamento do Estado com a sua carga lgica, histrica, sistemtica, teleolgica e at valorativa, para tornar-se um problema de conformao poltica dos fatos ao modelo, isto , de sua transformao conforme um projeto social ideolgico. Essa mudana corresponde, no Brasil de hoje, a uma transformao do Estado constitucional enquanto Estado de Direito formal, que, no Imprio e na Primeira Repblica, ostensivamente, e nas demais, at 1988, de forma ideologicamente encoberta, pressupunha uma distino entre Estado e Sociedade como entidades autnomas. Na Constituio de 1988, as tarefas que so postas ao Estado, o que no s leva multiplicao das normas, mas tambm sua modificao estrutural, pem a descoberto as suas limitaes. Exige-se cio Estado a responsabilidade pela transformao social adequada da sociedade, ou seja, colocam-se para ele outras funes que no se casam plenamente com a funo de bloqueio dos velhos modelos constitucionais. Mas o resultado , no momento, um sentimento de impotncia do Estado que, na verdade, pe em cheque a distino entre Estado e Sociedade e a arraigada concepo do Estado como protetor da sociedade civil. A estrutura constitucional do Estado protetor, no Brasil, sempre foi condicional e retrospectiva. Os fins s interessam na medida em que as condies sociais eram dadas e obedecidas. Se os meios no fossem dados, esses fins deveriam ser apenas formalmente considerados e, na prtica, ignorados. Quando, porm, a presso social crescia e a relao de poder se sentia abalada, a relao meio-fim se invertia na forma de uma ruptura constitucional. Assim, os diversos discursos revolucionrios, no Brasil, sempre pressupunham que os fins pusessem uma tal exigncia que, se as condies no existissem, deveriam ser encontradas por meio de uma ruptura. Uma vez alterada a Constituio, porm, voltava a funo de bloqueio que pressupunha que os preceitos constitucionais estatuem princpios e finalidades fundamentais, em relaes aos quais o intrprete no entanto no pode articular sentidos e objetivos, seno aqueles que j estejam reconhecidos desde ento, "ex tunc", na prpria estrutura de poder. O regulador poltico das rupturas constitucionais brasileiras era, assim, uma espcie de princpio de proibio de excessos, isto , proibio de articulao de interesses da prpria sociedade salvo se protegidos , sob a alegao de favorecer-lhes o exerccio. Da a imagem oficial do homem cordial brasileiro apesar das crueldades de fato que viessem a ocorrer. A questo muda de figura no momento atual, em face de uma experincia constitucional que parece desafiar as velhas formas de pensar as exigncias postas ao Estado Social. A estrutura programaticamente exigida pela realidade social cria uma tenso entre o Legislativo e o Executivo a qual, por conta de uma funo de legitimao atribuda ao texto constitucional, pressupe que o intrprete esteja autorizado a articular e a qualificar o interesse pblico, o interesse pblico coletivo, o interesse individual posto como um objetivo pelo preceito constitucional. Esta exigncia se reflete, hoje, num sentimento de discricionariedade hermenutica na relao entre os trs poderes constitucionais, o que conduz, de um lado, a uma exacerbao no uso de medidas provisrias por parte do Executivo em face do Legislativo e a cobrana de uma verdadeira politizao das decises judiciais. A experincia constitucional atual parece pressupor ento que os preceitos constitucionais esto submetidos a certas finalidades que exigem realizao no na forma de um Estado protetor, mas de uma sociedade que deseja prescindir da tutela estatal. Algumas dessas finalidades so de ordem normativa estrutural. Assim, os preceitos dirigidos participao e prestao positiva do Estado Social so leis imperfeitas, "leges imperfectae", isto , no so imediatamente realizveis sem uma
atuao do prprio Estado, mas que, por sua vez, no se esgotam nessa atuao. Da a exigncia de que a prpria sociedade deve ento prover uma identificao dos meios sociais a fim de que a norma possa ser efetiva. Na recente eleio brasileira esta questo foi ostensivamente posta na forma de um debate at mesmo sobre eventuais mudanas reclamadas pelo texto constitucional no para alterar-lhe o sentido social, mas para viabiliz-lo como estrutura social. Outras condies so de ordem jurdico-funcionais. Como se supe que a fixao constitucional de objetivos traduz valores, que no entanto por si ss no permitem a percepo de diretrizes vinculantes, exige-se do intrprete institucional que ele se direcione para a configurao da ordem social desejada, a partir da qual se ter o controle da constitucionalidade. Os reguladores dogmticos desta funo, no entanto, criam uma espcie de insegurana formal, mormente na atuao do poder judicirio, pois parecem perigosamente abertos, flexveis. Os fins articulados e qualificados elevem estar na dependncia dos meios disponveis e identificveis, mas cabe ao intrprete consider-los sob o ponto de vista da sua viabilidade. O grande momento vivido pela experincia constitucional brasileira atual na instaurao do Estado Democrtico de Direito est, assim, no modo como as exigncias do Estado Social se jurisfaam, no sentido formal da palavra, nos contornos do Estado de Direito, quebrando, porm, o velho hibridismo da lgica liberal conjugada cora uma prxis autoritria. Parece-me que o princpio legitimador, ainda que muito abstrato e genrico, dessa compatibilizao deveria ser impedir que as chamadas funes sociais do Estado se transformem em funes de dominao. Esse o risco. Seria preciso portanto ver no reconhecimento do Estado Democrtico de Direito uma espcie de repdio utilizao desvirtuada das necessrias funes sociais como instrumento de poder, porque isso destruiria o Estado de Direito e com isso se perverteria a base do Estado Social que estaria ento desnaturado. Em consequncia, o Estado Democrtico de Direito perderia o seu contorno constitucional. Mas a recproca tambm verdadeira. Tambm no se pode levar interpretao da constituio todos aqueles formalismos tpicos da interpretao da lei. A lei constitucional chama-se lei apenas por metfora, ela no lei igual s outras leis. A constituio tem que ser entendida como a instaurao do Estado e da comunidade. Ento ela no deve se submeter quele puro formalismo sob a pena de fazermos o inverso, isto , tiranizarmos um grupo contra outro e impedirmos a realizao do Estado Social. O difcil fazer essa composio sem apelar para as rupturas que se pervertem no seu prprio curso. E esta dificuldade , afinal, o grande desafio que vive, hoje, a experincia constitucional brasileira. Fonte: Revista da Procuradoria-Geral do Estado de So Paulo, Edio Especial em comemorao dos 10 anos da Constituio Federal, So Paulo, pp. 125-147. igidez ideolgica e flexibilidade valorativa - para uma anlise da dimenso axiolgica do Direito TERCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. Da Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo 1. INTRODUO: DIREITO E VALOR No se pode negar, como nos diz Miguel Reale (O Direito como Experincia, So Paulo, 1968, p. 140), que o trabalho do jurista deve ser qualificado como dogmtico, o que significa que a Cincia do Direito no pode prescindir de "modelos normativos" postos heteronomamente, podendo a sua validez ser contestada, em virtude de um vcio de forma. O dogma implica, de fato, a sua posio em termos de uma "interferncia decisria do Poder". Esta deciso, porm, se de um lado manifesta um momento de estabilidade e de certeza do direito, implica, por outro, uma "opo axiolgica" que "lateja no bojo da regra jurdica positivada" (Reale). Uma conseqncia desta estabilidade instvel pode ser observada, por exemplo, na prpria argumentao jurdica. Sua estrutura, como assinala Viehweg, revela caracteres peculiares, na medida em que os conceitos e proposies que compem o seu discursa tomam significao na sua referncia a aporias fundamentais,
como o caso do valor justia (Topik und Jurisprudenz, Mnchen, 1965, p. 69). A argumentao chamada dogmtica pode ser descrita como um pensamento com base em opinies, no sentido de que ela se atm a uma opinio fixa (dogma), colocando-a fora de discusso, ao mesmo tempo, porm, que a articula de modo variado. Juridicamente isto se d com o fito de garantir, para um grupo social determinado, um comportamento o mais possvel livre de perturbaes. Esta "funo social" (Viehweg) da argumentao dogmtica exige, de um lado, um cerne fixo e estvel, que no pode ser discutido (dogma fundamental), de outro, uma flexibilidade de pensamento em torno deste cerne (interpretabilldade). Existe aqui um dualismo patente. De um lado, reconhecemos que o direito expressa um processo de estabilizao de expectativas que no podem ser instveis, que tm, ao contrrio, de ser pressupostas como invariantes. Afirmar um direito instvel to absurdo como construir com pedras fluidas. Por outro lado, sabemos tambm, que desde o momento em que, por uma razo ou outra, haja desacordo quanto soluo normativa de um conflito, surge o problema da regra justa. A questo da justia introduz na estrutura do direito um momento de flexibilidade. luz do que vimos dizendo, temos de reconhecer que se o direito posto prevalecentemente como norma, esta no pode deixar de ser considerada como uma soluo ou composio tensional que, no mbito de certa conjuntura histrico-social, possvel atingir-se entre "exigncias axiolgicas" e um ''dado complexo de fatos" (Reale, op. cit. p. 201). Todo direito implica, neste sentido, um momento de estimativa, uma opo de natureza axiolgica, uma referncia constitutiva de sua estrutura a uma ordem de valor. Em que consiste, porm, esta dimenso valorativa? Ou ainda, qual a estrutura da chamada dimenso axiolgica do direito? 2. VALOR: PROGRAMA VALOR ATIVO E CAMPO VALORATIVO Valores, por exemplo, segurana, liberdade, riqueza, patriotismo, so smbolos de preferncia para aes indeterminadamente permanentes. A este nvel de abstrao, eles podem ser entendidos, e, de fato, afirmados sem inibies, como frmulas integradoras e sintticas para a representao de consenso social. Neste sentido, compreendemos que as normas jurdicas constituam "modelos operacionais" (Reale), isto , modelos que no so meros esquemas ideais pois a normatividade que eles expressam abstratamente se articula em "fatos" e "valores", resultando de um trabalho de aferio dos dados da experincia, tendo em vista a determinao de um tipo de comportamento possvel e tambm necessrio sobrevivncia do sistema social. Por outro lado, preciso, porm, assinalar que, justamente quando ocorre a necessidade de estabelecer-se uma ao ou projeto de ao, devemos decidir sobre um conflito de valores: para isso, entretanto, no h, ao mesmo nvel de abstrao supra mencionado, nenhuma regra de validade genrica. Isto significa que se podemos abstrair pontos de vista valorativos, o mesmo no possvel quanto s relaes, hierrquicas ou circulares, entre os valores. Neste sentido, os valores inerentes norma jurdica no so dados (Gegebenheiten), nem mesmo tarefas (Aufgegebenheiten), absolutos, mas postulados. A palavra "postulado" no significa, desde logo, relativismo axiolgico, mas quer dizer que os valores no so entidades independentes, que permitem uma expresso unvoca, mas fatores que se determinam instavelmente num processo global. Neste processo, valores primariamente postulados podem sofrer mutaes, j pela modificao nas suas condies de "realizabilidade", j pelo aparecimento de novos valores. Isto implica, como se pode imaginar, a possibilidade de proliferao dos valores e o conseqente aparecimento de contradies e conflitos em larga escala. O momento valorativo representa, portanto, de incio, para o direito, um fator de instabilidade ou de indeterminabilidade. O valor bsico da vida jurdica, conforme se reitera, a justia. Ora, a questo da justia introduz na estrutura da norma uma dupla relatividade. A idia de uma regra justa implica, de um lado, um problema de ajustamento a um estado de coisas aceito, a instituies fundamentais que constituem a base da vida social cotidiana. De outro, porm, pode significar a nsia de superao de um estado de coisas, fundada em critrios que transcendem aquelas instituies. Estes dois aspectos, que A. Brecht (Teoria Poltica Rio de Janeiro, 1965, vol. I, p. 197) refere como "idia tradicional e transtradicional de justia", nos permitem distinguir, no prprio conceito de valor, dois momentos funcionais diversos que desejamos denominar programa valorativo e campo valorativo.
Programa e campo valorativo constituem, a nosso ver, componentes bsicos da estrutura da dimenso axiolgica do direito. O Programa valorativo deve ser entendido como uma delimitao da realidade (dimenso ftica), atravs de um projeto de sentido estimativo, de tal modo que se estabelea um recorte no volume dos dados reais, para os quais a norma jurdica determinante e que, deste modo, se tornam determinantes tambm para ela. O campo valorativo, por sua vez, no se confunde com a dimenso ftica do direito entendida como os dados do mundo circundante aos quais se refere um conjunto de qualificaes. Consiste ao contrario, apenas no mbito do real possvel que constitui o contedo material da norma. Assim, quando falamos em norma justa, ou estamos pensando no programa valorativo, enquanto projeto modificativo e demarcatrio da realidade visada, ou no campo valorativo, enquanto ajustamento realidade visada. Se nos permitida uma comparao, tomando como exemplo o modelo ciberntico de informao, diramos que a dimenso axiolgica do direito tem um canal de entrada (input) campo valorativo e um de sada (output) programa valorativo. Assim, quando falamos que o valor, no direito, constitui prisma, critrio de apreciao da dimenso ftica, sobre a qual ele incide e na qual se realiza, devemos distinguir a dois movimentos distintos. Enquanto realizao, o valor sofre um processo seletivo externo na "recepo de informaes". Enquanto apreciao, corresponde ele a um processo seletivo interno de "elaborao de informaes". Pois bem: o processo seletivo externo constitui o campo valorativo, o processo seletivo interno constitui o programa valorativo. Por ltimo, estes processos seletivos equivalem ao chamado processo de concretizao dos valores. 3. MODOS DE CONCRETIZAO DO VALOR: CONCRETIZAO PINALSTICA E CONDICIONAL Toda concretizao de valor, nossa tese, consiste num processo seletivo. Valores, como dissemos, so frmulas integradoras e sintticas que no constituem um mundo abstraio e vlido em si mundo dos valores . mas so necessariamente dependentes: valores "valem-para" no sentido de que se dirigem para alguma coisa (cf. o neokantiano Emil Lask e sua "Hingeltungstheorie" em nossa tese "Die Zweidimensionalitt ds Rechts ais Voraussetzung fr den Methodendualismus von Emil Lask", Meisenheim/Glan, 1970, p. 137 ss.). Os valores jurdicos "valem-para" os comportamentos sociais em termos desse processo de seleo que chamamos de concretizao. A moderna teoria dos sistemas (cf. Luriimmn: Soziologie ds politischen Systems em "Soziologische Aulklrung", Opladen 1971. p. 162 ss.) concebe o sistema social como uma estrutura complexa. "Complexidade" entendida como o conjunto dos comportamentos possveis, como a existncia de alternativas, possibilidades de variao, conflitos, ausncia de consenso, donde se segue que a estrutura social "institucionaliza", em certos limites, contradies, mudanas e a possibilidade de sua ocorrncia. A "complexidade" no pode, entretanto, em princpio, ser mais ampla que a prpria capacidade do sistema em reduzi-la. Esta capacidade de reduzir o mbito das possibilidades, mas no de acabar com elas, denomina-se "seletividade". Neste quadro, valores so frmulas selectivas que organizam um campo de possibilidades. Quando a partir delas, uma escolhida pela participao decisria do Poder, entendido como "seletividade fortalecida do sistema" (Luhmann), e esta seleo aceita por outros como premissa de suas prprias decises, temos uma concretizao jurdica do valor. Embora a concretizao repouse apenas numa deciso, ela permanece visvel na sua "seletividade". Exatamente este permanecer visvel de outras possibilidades que funciona como motivao: a aceitao por parte de outros ocorre vista de alternativas permanentemente estabilizadas, que constituem, para todos, uma situao incmoda. As possibilidades de concretizao no sistema jurdico, onde a conexo de "complexidade" e "seletividade" bastante aguda, dependem, assim, de como as alternativas, que devem ser evitadas, se deixam combinar umas com as outras ou umas contra as outras, mantendo-se a sobrevivncia do sistema como condio da deciso. Com isto. a extenso e os modos de concretizao variam conforme a "complexidade" da totalidade do sistema, isto , o nmero das suas possibilidades. Ora, conforme o modelo "programa-campo valorativo" atravs do qual pretendemos representar a estrutura da dimenso axiolgica do direito, existem para a concretizao dos valores duas possibilidades limite: ou ela se d a partir do campo valorativo (input) ou do programa valorativo (output). Neste caso (output). o
valor posto como invariante e utilizado como critrio para a seleo dos diferentes comportamentos. O valor, ento, estabelecido como fim e o modo de concretizao pode ser denominado finalstico. No outro caso (input), um comportamento ou um conjunto deles estabelecido como invariante de tal medo que, sempre que ele ocorra, um valor determinado ou determinvel aparece para justific-lo. Temos aqui um modo de concretizao que denominamos condicional. (Num sentido semelhante, referindo-se ao problema da "programao", Luhmann, op. cit., p. 191, nos fala em "Zweckprogramm" e "konditionales Programm"). Concretizao finalstica e condicional constituem modos, "tipos" fundamentais que delimitam nos seus extremos as possibilidades de concretizao. Ambas, entretanto, combinam-se, na verdade, de maneira mltipla, o que torna a concretizao um processo bastante complexo. De fato, estes dois modos tpicos nunca se do de maneira "pura". Um sistema jurdico dado no pode jamais prescindir de um deles em favor do outro. Contudo, possvel constatar-se a predominncia deste ou daquele. No direito moderno, das democracias ocidentais, nota-se, por exemplo, a ocorrncia mais freqente de concretizaes condicionais, que articulam determinadas ou determinveis conseqncias jurdicas a situaes de fato definidas: isto , sempre uma situao possa ser verificada, uma deciso ou ao correspondente deve ocorrer. Esta predominncia, que no deve ser entendida como caracterstica essencial do fenmeno jurdico, explica-se pelo processo de "positivao" (normas jurdicas valem por fora de deciso) que sofre o direito em nossos dias e pela sobrecarga das responsablidades burocrticas, o que exige tcnicas de planejamento da atividade jurdica que possibilitem o estabelecimento relativamente centralizado e relativamente preciso da correlao "se... ento" e a delegao de sua execuo, no sentido de que quem pode demonstrar o "se", pode provocar o "ento". Observa-se, neste caso, uma subordinao da concretizao finalstica condicional, de modo que, atravs dela, a massa dos conflitos axiolgicos pode ser mais eficientemente reduzida. Esta predominncia, entretanto, no pode dar-se de maneira absoluta, sob pena de o sistema perder sua prpria autonomia. Na verdade, a estrutura da dimenso axiolgica do direito revela, em princpio, uma certa ausncia de coordenao e simetria nos modos de concretizao, o que, alis, condio da vida jurdica. Se a concretizao condicional refora a estabilidade do sistema, ocorrendo, sobretudo, nos chamados "estados de direito", onde o valor exerce mais uma funo justificadora, o que permite, a organizao da vida jurdica num esquema mais ou menos estvel de regras e excees, a sua predominncia pode, contudo, desencadear processos no controlveis de concretizao finalstica, que bem expressam as insatisfaes dos movimentos estudantis e, grosso modo, das novas geraes em todo o mundo. Por outro lado, a concretizao finalstica, prpria dos "estados policiais", dos sociallsmos planificados ou de estados em que o desenvolvimento industrial se tornou exigncia forada, pode provocar, se predominante, uma srie de dificuldades, desde que a mera fixao de fins para a ao nunca ocorre de modo unvoco, mas funciona, ao contrrio, apenas como orientao necessariamente elstica para a comparao e opo entre meios apropriados, no podendo a prescrio ou proibio de certos fins constituir um juzo merecedor de confiana para a ao. Da nossa exposio decorre, como se v, que a dimenso axiolgica do direito tem, em principio, uma estrutura caracteristicamente instvel, j pela flexibilidade significativa dos valores, j pela ocorrncia no coordenada e assimtrica dos modos de concretizao, o que quer dizer: a concretizao dos valores pressupe, de um lado, a flexibilidade significativa, de outro, , ela prpria, enquanto momento de determinao daquela significao, flexvel e instvel. Segue-se da uma dupla flexibilidade e instabilidade, o que caracteriza a relao ambivalente da dimenso axiolgica do direito em face da dimenso ftica. Esta ambivalncia condiciona, por sua vez, a participao decisria do Poder, enquanto "seletividade fortalecida", refletindo-se de modo peculiar, na dimenso normativa. Dissemos, porm, anteriormente, que todo direito expressa um processo de estabilizao de expectativa que no podem ser instveis. Ora, os elementos constitutivos da dimenso axiolgica do direito at agora aventados no parecem suficientes para esclarecer como isto se d. Devemos reconhecer, portanto, a existncia de outros recursos no interior mesmo da estrutura axiolgica que expliquem aquela ocorrncia. Quais so eles? 4. O PAPEL DA IDEOLOGIA NA ESTRUTURA DA DIMENSO AXIOLGICA DO DIREITO.
Sabemos que um sistema jurdico, numa situao concreta de deciso, tem de simplific-la, referindo as relaes conflitivas a determinadas possibilidades. Isto exige, para alm dos dois modos de concretizao, um processo de neutralizao das relevncias valorativas possveis, o que se torna concretamente necessrio na medida em que a confiana ingnua na validez dos fins tradicionais desaparece e a mobilizao e diferenciao da ordem social abalam os fundamentos seguros do consenso. Este processo de neutralizao se efetiva atravs de pontos de vista Ideolgicos. "Ideologia" , sem dvida, um termo equvoco. No sculo 19 e na primeira metade do sculo 20, a reflexo sobre o pensamento ideolgico nos conduziu problemtica do conhecimento transparente a si prprio. Mannheim empreendeu, neste sentido, uma anlise da ideologia em termos de relao entre valor e ao como um conjunto de variaes possveis num sistema terico, as quais se limitam mutuamente. Esta concepo, contudo, contm um princpio do qual ningum se safa e que acaba por tornar toda a investigao inconseqente. A questo tem sido. por isso, retomada por alguns pensadores (cf. Cari Priedrich: Man and his Government. An empirical theory of politics New York. San Francisco, London, 1963, p. 83 ss.; N. Luhmann: Wahrhet und Ideologie, em Soziologische Aufklarung, ed. ct. p. 54 ss.), os quais procuram propor uma interpretao manifestamente funcional da ideologia. Nela se baseiam as consideraes seguintes. Ideologia , a nosso ver, um conceito de natureza axiolgica. Ou seja, o ponto de vista ideolgico envolve tambm uma atitude valorativa. S que. enquanto os valores em geral constituem prisma, critrio de avaliao de aes, nas quais eles se realizam, a valorao ideolgica tem por objeto imediato os prprios valores. No desconhecemos, ao fazer esta assero, que os prprios valores se julgam, na medida em que sempre possvel submeter um valor a outro e, a partir dai, num processo reflexivo, constituir ordens valorativas hierrquicas. Esta valorao, porm, dada a reflexividade regressiva e circular dos valores valores julgam-se uns aos outros ad infinitum necessariamente flexvel e instvel. A valorao ideolgica, ao contrrio, uma atitude rgida e limitada. Ela atua no sentido de que a funo seletiva do valor na orientao da ao se torna consciente e , ento, utilizada para valorar outros valores. Em outras palavras, a valorao ideolgica cria a possibilidade de se estimar as prprias estimativas, selecionar as selees, em ltima anlise, valorar os valores. Nesta medida, a valorao, de certo modo, se desacredita como tal, pois a ideologia estabelece condies para que os valores variem conforme as necessidades e possibilidades da ao, ao garantir o consenso daqueles que precisam manifestar os seus valores, assegurando-lhes a possibilidade de expresso, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma instncia que neutraliza a valorao, na medida em que ela perverte o valor, retirando-lhe a reflexividade infinitamente regressiva e circular. Um exemplo deste papel da ideologia pode ser visto nos sistemas polticos multipartidrios. Muitos deles desenvolvem esta espcie de perverso dos valores dominantes, atravs da inverso de fins e meios na poltica (o exemplo de Luhmann). A ao poltica, diz-se, deve visar a objetivos concretos. O Poder, nestes termos, dado aos polticos na forma de competncias decisrias que devem realizar aqueles objetivos. Por outro lado, o objetivo dos partidos obter e manter aquele Poder, de tal modo que os programas partidrios so elaborados a fim de alcanar este objetivo. Os programas, assim, enquanto meios passam a subordinar-se a este fim. Esta perverso, de natureza ideolgica, neutraliza, deste modo, os valores na medida em que os instrumentaliza. O mesmo processo pode ser observado em sistemas de partido nico ou de hipertrofia do Executivo. Isto posto, podemos entender agora em que sentido a ideologia atua, no interior da dimenso axiolgica do direito, como um fator estabilizador. Isto pode ser observado nos dois modos de concretizao mencionados. Atravs da ideologia, no s cada um deles, de per si, se torna mais compreensvel, mas sobretudo a sua combinao nos sistemas se faz mais transparente. De fato, a valorao ideolgica constitui um elemento importante da concretizao. Os valores, estabelecidos, na concretizao finalstica, como invariantes, tm de ser concebidos abstratamente, para deixar em aberto as diversas possibilidades de ao. Ora, isto s pode ser alcanado quando sua "seletivdade" interna dirigida aos comportamentos visados, que, de modo variado, podem ser cumpridos, de tal maneira que eles prprios venham a funcionar como prisma para a seleo dos meios apropriados. V-
se, por a, que a concretizao finalstica pode, em virtude de sua flexibilidade abstraa, ocasionar dificuldades. A idia de que o direito aos fins d tambm direito aos meios perde sua fora, na medida em que o estabelecimento do valor, de per si, no constitui orientao segura para a ao. Nesta medida, a valorao ideolgica atua no sentido de neutralizar os programas valorativos, ao determinar quais fins, em certas circunstncias e condies, possibilitam a indicao dos meios e sua justificao. Ela torna, assim, a concretizao finalstica numa concretizao-finalstica CONDICIONAL. O mesmo pode ser dito para a concretizao condicional. A tambm, a fixao de certos comportamentos, aos quais correspondem certos valores justificado rs s pode ser alcanada na medida em que a "seletividade" externa dirigida aos valores que devem justificar os comportamentos de modo a constituir argumentos objetivos para a deciso. Isto exige uma reduo formal dos valores que garanta quais as possibilidades de deciso, para alm dos casos concretos, que devem ser abertas ou bloqueadas. Tambm aqui a valorao ideolgica atua no sentido de neutralizar o campo valo-rativo, atravs da criao de expresses simblicas como regras de hermenutica, fices, distines formais, que, de certa maneira, de instrumentos que so. passam a constituir verdadeiros objetivos da atividade jurdica. Com isso. a concretizao condicional se faz concretizao-condicional FINALSTICA. O efeito da valorao ideolgica , portanto, o de tornar rgida a flexibilidade do momento valorativo. Ela explica, a nosso ver, ao nvel axiolgico, o momento da dogmaticidade no direito, o seu carter de estabilidade. A ideologia fixa a regra positivada, dando-lhe um cerne axiolgico indisputvel, de tal modo que ela, em princpio, no possa ser questionada, permitindo-se apenas a sua discusso tcnico-instrumental, pois a ideologia manifesta uma superioridade valoradora, ao eliminar, artificialmente, outras possibilidades. A inevitabilidade de mltiplas ideologias, por sua vez, mesmo quando em confronto, no esconde o seu relacionamento mutuamente indiferente, de tal modo que, mesmo quando elas se contrapem e se criticam, um verdadeiro dilogo entre elas nunca chega a realizar-se. Evidentemente, o perigo de processo de ideologizao est numa perda eventual de contato com a prpria complexidade do sistema que pode, no limite, tornar-se totalmente incontrolvel. Este perigo contornvel, na medida em que a neutralizao ideolgica permanea formal, isto , no impea, ao contrrio, propicie o oportunismo do cmbio de valores. Um direito totalmente ideologizado perverte o sentido da justia, ao torn-la rgida e inflexvel. Isto . a instrumentalizao neutralizante e total da vida jurdica constitui uma utopia suicida que j levou morte muitos sistemas polticos. Fonte: Anais do VIII Congresso Interamericano de Filosofia e V da Sociedade Interamericana de Filosofia, Instituto Brasileiro de Filosofia, So Paulo: 1974, pp.471-478. Teoria da norma jurdica: um modelo pragmtico TERCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. SUMARIO: 1. Dificuldades preliminares na colocao do problema - 2. A teoria da norma como teoria (pragm-tica) da deciso 3. O direito como sistema de controle do comportamento 4. Dimenso pragmtica da norma jurdica 5. Os operadores pragmticos, contedo e condies de aplicao da informao normativa 6. Relao entre norma e sano 7. A validade das nor-mas do ngulo pragmtico 8. A efetividade das normas jurdicas 9. A imperatividade das normas jurdicas 10. A ordem normativa como sistema. 1. DIFICULDADES PRELIMINARES NA COLOCAO DO PROBLEMA Embora o positivismo jurdico radical no corresponda con-cepo mais aceita pela doutrina, a compreenso dominante da norma continua a v-la como um imperativo acabado e dado antes do caso concreto ao qual ela se aplica. Neste esquema usual de captao da norma pela teoria jur-dica ocorre uma espcie de vcuo significativo, em que a norma no nem a realidade, nem j situao qual ela se aplica, mas uma entidade independente
que faz, s vezes, da teoria da norma uma espcie de discurso vazio ou, pelo menos, equivocadamente abstrato. Sabemos de que estamos falando quando perguntamos a propsito de uma lei promulgada ontem, ou de uma sentena prolatada no tribunal, ou de um contrato firmado em nossa pre-sena etc. Mas a busca da norma jurdica em todos estes fen-menos jurdicos parece uma empresa demasiadamente abstrata que acaba por construir seu objeto antes mesmo de comear a discorrer sobre ele. Produto de um ato de vontade? Manifestao da superioridade de uma vontade sobre outra? Tipificao homognea e geral para uma realidade singular e heterognea? Entidade a se, que no se confunde com a realidade a que se aplica nem com a situao normada? Um esquema doador de sentido, como sugere Kelsen? A questo, assim colocada, abre um leque de possibilidades. Para organiz-lo e no para esgot-lo vamos propor um mo-delo de anlise. Modelo entende-se aqui como padro esquemtico, esquema simblico que seleciona traos comuns de fenmenos individuais, ostensivamente diferentes, agrupando-os em classes. Neste sentido, modelos constituem objetos de teorias. Estas teorias so, por sua vez, modelos num segundo sentido, isto , esquemas simblicos que se referem aos anteriores, consistindo em sistemas de enun-ciados logicamente concatenados, sempre aproximativos, num grau de abstrao superior. Chamemos o primeiro de modeloobjeto. Os segundos de modelos tericos. Admitamos, sem maiores especificaes, que nosso modelo-objeto a norma jurdica. Veja-mos tipos de modelos tericos que a ela se referem. O primeiro deles aquele que, diante da complexidade do fe-nmeno, procura domin-lo atravs de recursos sistemticos, dis-tinguindo o objeto de outros, classificando-o, descobrindo-lhe as estruturas imanentes, acentuando-lhe o carter distintivo para poder revel-lo na sua pureza. Denominemo-lo de modelo-analtico. O segundo, diante da mesma complexidade, se serve de instrumen-tos descritivos, subordinando a estes os recursos sistematizadores, procurando captar o objeto na sua pertinncia inseparvel ao con-texto dentro do qual e s dentro do qual capaz de possuir um sentido. Por esta preocupao com o sentido contextual vamos cham-lo de modelo hermenutico. O terceiro, posto diante da mesma questo, vale-se de recursos funcionais, subordinando a estes os sistemticos e os descritivos, procurando captar o objeto pela funo que ele desempenha no contexto. Por acentuar este aspecto funcional, vamos cham-lo de modelo emprico. No por-que constitua uma descrio emprica de fatos, mas porque se preocupa com o papel desempenhado pelo objeto numa situao dada, procurando dar-lhe as condies de uma atuao melhor ou pior. Em linhas gerais, o primeiro modelo v a norma como um objeto logicizado. O segundo a v como o plo de uma relao. O terceiro a encara como um processo decisrio. O leitor pode objetar que, nas diferentes teorias da norma jurdica de que j ouviu falar, estes caracteres no esto separados, mas combinados. verdade. Mas no vamos nos preocupar com as teorias realizadas, pois ou ficaramos numa mera classificao de posies estabelecidas ou numa enumerao infindvel de uma srie heterclita. Nossa inteno assumir um dos trs modelos e propor uma teoria geral da norma jurdica. Optamos pelo terceiro modelo. Nossa abordagem no se coloca num prisma ontolgico, ou seja, no aspiramos a uma de-terminao essencial da norma jurdica. Desejamos apenas exa-min-la num dos seus aspectos de manifestao. Ao assumirmos o modelo emprico, que encara a norma como um processo comuni-cativo, somos conduzidos aos fenmenos lingusticos, do ponto de vista pragmtico. Preliminarmente, desejamos, pois, situar teori-camente a anlise, fornecer do o quadro conceitual com que tra-balhamos. 2. A TEORIA DA NORMA COMO TEORIA (PRAGMTICA) DA DECISO Antes de mais nada, bom que se esclarea em que sentido estamos usando o que chamamos de modelo emprico. Por este modelo entendemos um sistema explicativo do comportamento hu-mano enquanto regulado por normas. Embora a primeira impres-so, provocada pelo uso de termos como "emprico", "explicativo", "comportamento humano", seja a de que o jurista, neste caso, passa a encarar o direito como um fenmeno social a ser descrito, donde uma eventual reduo da Cincia do Direito a Sociologia Jurdica,
no este o sentido que propomos para modelo emprico. Reconhecemos, verdade, que correntes h e houve que praticaram uma espcie de sociologismo jurdico, com a expressa inteno de fazer da cincia jurdica uma cincia social, emprica nos moldes das cincias do comportamento (sociologia, psicologia). Mas no a elas que nos reportamos. Nestes termos, o modelo emprico deve ser entendido no como descrio do direito como realidade social, mas como investigao dos instrumentos jurdicos de controle de comportamento. No se trata de saber se o direito um sistema de controle, mas, assumindo-se que ele o seja, como devemos fazer para exercer este controle. A grande dificuldade de expor a questo nos moldes propostos est em que uma teoria da deciso jurdica est ainda para ser feita. O fenmeno da deciso quase sempre analisado parcial-mente, disperso nos quadros da dogmtica jurdica da teoria do mtodo e do progresso, da administrao etc. Deste modo, curiosamente, embora a produo de decises vinculantes e obrigat-rias seja um tema incontornvel para o jurista, a sua discusso em termos de cincia jurdica ou restrita discusso filosfica da legitimidade do direito ou se perde em indicaes esparsas e no aprofundadasde tcnicas decisrias (legislativas, administrativas, jurdicas). Nossa tarefa desdobra-se, nestes termos, primeiramente em encontrar, ao menos como hipteses de trabalho, um sentido nuclear para o que se possa chamar de deciso. Na mais antiga tradio, o termo deciso est ligado aos processos deliberativos. Assumindo-se que estes, do ngulo do indivduo, constituem estados psicolgicos de suspenso de juzo diante de opes possveis, a deciso aparece como um ato final, em que uma possibilidade escolhida, rejeitando-se outras. Modernamente, o conceito de deciso tem sido visto como o ato culminante de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de aprendizagem. Em que pese divergncias teorticas importantes, costuma-se dizer que ao processo de aprendizagem pertencem impulso, motivao, reao e recompensa. Impulso pode ser entendido como uma questo conflitiva, isto , um conjunto de proposies incompatveis numa situao e que exigem uma resposta. A motivao corresponde ao conjunto de expectativas que nos foram a encarar as incompatibilidades com um conflito, isto , como exigindo uma resposta. A reao propriamente a resposta exigida. A recompensa o objetivo, a situao final na qual se alcana uma relao definitiva em funo do ponto de partida. Nesse quadro, a deciso procedimento cujo momento culminante um ato de resposta. Com ela, podemos pretender uma satisfao imediata para o conflito, no sentido de que propostas incompatveis so acomodadas ou superadas. Esta resposta uma forma de subordinao, que pode receber o nome de compromisso, conciliao ou tolerncia, conforme as possibilidades incompatveis paream a) equivalentemente convin-centes, b) no equivalentemente convincentes, mas sem que se veja qual a recompensa vivel se tomada uma deciso, c) no equi-valentemente convincentes, mas obrigando a uma composio para evitar conflitos maiores. Com a deciso podemos tambm buscar satisfao mediata, quando somos obrigados a responder s incompatibilidades relativas s condies das prprias "satisfaes imediatas" (conflito sobre as possibilidades de conflito), caso em que a deciso se refere a expectativas grupais que devem ser le-vadas em conta para a soluo de certos conflitos, expectativas sociopolticas que se referem s condies de garantia dos objetivos grupais, e a expectativas jurdicas, referidas s condies institucionalizadoras da possibilidade mesma de determinao dos obje-tivos sociopolticos. Esta viso alargada da deciso faz-nos ver que se trata de um processo dentro de outro processo, muito mais amplo que a estrita deliberao individual. O ato decisrio visto aqui como um com-ponente de uma situao de comunicao entendida como um sis-tema interativo, pois decidir ato de comportamento que, como tal, sempre referido a outrem, em diferentes nveis recorrentes. Deciso termo correlato de conflito. Este entendido como con-junto de alternativas que surgem da diversidade de interesses, da diversidade no enfoque dos interesses, da diversidade das condies e de avaliao etc. e que no prevem, em princpio, parmetros qualificados de soluo, exigindo, por isso mesmo, deciso. A deciso no , necessariamente, estabelecimento de uma repartio equita-tiva entre as alternativas de melhores chances, pois isso pressupe a situao ideal de um sujeito que delibera apenas depois de ter todos os dados relevantes, podendo enumerar e avaliar as alter-nativas de antemo. A deciso, neste sentido, no um mero ato de escolha, possvel em situaes simples, mas no constituindo a regra nas situaes complexas, onde as avaliaes no so ntidas nem as alternativas so to claras. Sua finalidade imediata a absoro da insegurana
(Simon/March) no sentido de que, a partir de alternativas incomparveis (que, pela sua prpria complexidade, constituem, cada uma de per si, novas alternativas: pagar ou sujeitar-se a um processo, sendo pagar entendvel como pagar vista, a prazo, com promissrias, com ou sem garantias etc.), obtemos outras premissas para uma deciso subsequente, sem ter de retornar continuamente s incompatibilidades primrias. Deci-dir, assim, um ato de uma srie que visa a transformar incom-patibilidades indecidveis em alternativas decidveis, mas que, num momento seguinte, podem gerar novas situaes at mais com-plexas que as anteriores. Na verdade, o conceito moderno de de-ciso a liberta do tradicional conceito de harmonia e consenso, como se em toda deciso estivesse em jogo a possibilidade mesma de safar-se de vez de uma relao de conflito. Ao contrrio, se o conflito condio de possibilidade da deciso, na medida em que a exige, a partir dela ele no eliminado, mas apenas transformado. Por essas observaes podemos perceber que a concepo do que poderamos chamar de deciso jurdica correlata de uma concepo de conflito jurdico. Assumindo-se que conflitos ocorrem, socialmente, entre partes que se comunicam e que, ao mesmo tempo, so capazes de transmitir e receber informaes, conflitos correspondem a uma interrupo na comunicao ou porque quem transmite se recusa a transmitir o que dela se espera ou quem recebe se recusa a receber criando-se expectativas desiludidas. Ora, h casos em que aos comunicadores sociais atribuda a possibi-lidade de exigir a comunicao recusada. Esta possibilidade de exigncia muda a situao, pois as alternativas que surgem da interrupo da comunicao deixam de ser a mera expresso subjetiva dos comunicadores sociais, para submeter-se a uma coordenao-objetiva (Reale: Filosofia do Direito, pgs. 607 e segs.) que liga os comunicadores entre si, conferindo-lhes esferas aut-nomas de ao, obriga-os e ao mesmo tempo lhes confere poderes. Conflito jurdico, ento, uma questo incompatvel no sen-tido de um conflito institucionalizado. Toda questo conflitiva pressupe uma situao comunicativa estruturada, isto , dotada de certas regras. Segue-se da que h uma relao entre a estru-tura da situao e o modo do conflito. Uma situao pouco diferenciada, em que a soluo de conflitos se funde na capacidade individual das partes, o papel do que decide bastante limitado e quase no se diferencia em relao s partes conflitantes. o que ocorre, por exemplo, com o comportamento da autodefesa, em sociedades pouco complexas. O aumento da complexidade estrutural da situao comunicativa implica, porm, uma diferenciao crescente do decididor. Esta diferenciao faz com que o conflito passe a referir-se tambm ao procedimento decisrio, e, pois, participao do decididor, atribuindo-lhe um comportamento pe-culiar, no que se refere capacidade de decidir conflitos. Esta peculiaridade, em oposio a outros meios de soluo de conflitos (sociais, polticos, religiosos etc.) revela-se na sua capa-cidade de termin-los e no apenas de solucion-los. Vimos, porm, que decises no eliminam conflitos. Que significa, pois, a afir-mao de que as decises jurdicas terminam conflitos? Isto signi-fica, simplesmente, que a deciso jurdica (a lei, a norma consuetudinria, a deciso do juiz etc.) impede a continuao de um conflito: ela no o termina atravs de uma soluo, mas o solu-ciona pondo-lhe um fim. Pr-lhe um fim no quer dizer eliminar a incompatibilidade primitiva, mas traz-la para uma situao, onde ela no pode mais ser retomada ou levada adiante (coisa julgada). 3. O DIREITO COMO SISTEMA DE CONTROLE DO COMPORTAMENTO O desenvolvimento de um quadro terico capaz de captar o direito, ligando a noo de deciso noo de controle, est ainda no seu princpio: verdade, autores h que empreendem uma tarefa deste gnero, mas os trabalhos publicados so antes mono-grafias sobre assuntos especficos, uma teoria da deciso jurdica como um problema de controle do comportamento estando ainda por ser feita. Desejamos, contudo, fazer uma especial referncia a obra re-centemente publicada entre ns (cf. Fbio Konder Comparato: O Poder de Controle na Sociedade Annima), onde o tema abor-dado j dentro de um esprito novo e que nos mostra os caminhos de uma concepo renovada da cincia jurdica nos quadros do modelo emprico. Comparato nota que, em dois sentidos com que a lei usa em portugus, o neologismo controle sentido forte de dominao e acepo mais atenuada de disciplina ou regulao o primeiro que merecia especial ateno do jurista, sobretudo tendo em vista a necessidade de incorporar o fenmeno do poder como elemento fundamental da teorizao do direito. A doutrina costuma enca-r-lo, porm, como simples fato
extrajurdico, o que ocorre sobre-tudo no direito privado, mas tambm no direito pblico, onde a noo de poder esvaziada pelas limitadas e restritivas concepes vigentes nos currculos jurdicos em termos de Teoria Geral do Estado. Tradicionalmente, a noo de poder costuma ser assina-lada nos processos de formao do direito, na verdade como um elemento importante, mas, que esgota sua funo quando o direito surge, passando, da por diante, a contrapor-se a ele nos termos da dicotomia do poder e direito, como se, nascido o direito, o poder se mantivesse um fenmeno isolado (em termos de arbtrio, fora) ou ento um fenmeno esvaziado (poder do Estado, juridicamente limitado). Como fenmeno isolado ele aparece, assim, como algo que pe em risco o prprio direito; como fenmeno esvaziado surge como um arbtrio castrado, cujo exerccio se confunde com a obe-dincia e a conformidade s leis. Nessa dicotomia aflora uma concepo limitada do prprio poder, tido como uma constante transmissvel, como algo que se tem, que se ganha, que se perde, que se divide, que se usa, perdendo-se, com isto, uma dimenso importante do problema, loca-lizado na relao complexidade social e s exigncias de formas de organizao a ela compatveis. Esta dificuldade pode ser sen-tida na utilizao, pela teoria jurdica, de conceitos como o de vontade (do povo, da lei, do governo, da parte contratante), que tem operacionalidade limitada s aes individuais e se transporta com muito custo para situaes complexas, onde a "vontade" se torna mais perceptvel (qual a "vontade" que estabelece o cos-tume como norma obrigatria?). Teorias modernas, sobretudo no campo da Cincia Poltica, tm, por isso, reinterpretado o con-ceito de vontade em termos de privilgio das informaes internas de um sistema sobre as externas, desaparecendo, com isso, a von-tade como suporte do poder e surgindo, no seu lugar, a noo de sistema de informaes e seu controle. A possibilidade de uma teoria jurdica do direito enquanto sistema de controle de comportamento nos obriga a reinterpretar a prpria noo de sistema jurdico, visto, ento, no como con-junto de normas ou conjunto de instituies, mas como um fenmeno de partes em comunicao. Admitimos que todo comporta-mento humano (falar, correr, comer, comprar, vender etc.) ao dirigida a algum. O princpio bsico que domina este tipo de en-foque o da interao. As partes referidas so seres humanos que se relacionam trocando mensagens. Interao , justamente, uma srie de mensagens trocadas pelas partes. Nesta troca, ao transmitir uma mensagem, uma parte no fornece apenas uma infor-mao, mas fornece, conjuntamente, uma informao sobre a in-formao que diz ao receptor como este deve se comportar perante o emissor. Por exemplo, quem diz: "por este documento o sujeito A obriga-se a pagar a B a quantia X pela prestao de servio", alm da informao sobre a obrigao de pagar e da contrapartida do servio diz tambm como as partes devem encarar-se mutua-mente (elas se encaram como subordinadas, ao servio correspon-dendo o pagamento e a prestao do servio subordinando uma outra). Denominando-se a informao contida na mensagem do relato e a informao sobre o modo de encar-la de cometimento, podemos dizer que o direito pode ser concebido como um modo de comunicar-se pelo qual uma parte tem condies de estabelecer um cometimento especfico em relao outra, controlando-lhe as possveis reaes. Este controle, socialmente, pode ocorrer de diferentes modos: pelo uso da fora, por uma superioridade culturalmente definida (relao entre mdico e paciente), por uma caracterstica scio-cultural (relao entre pais e filhos). O controle jurdico se vale de uma referncia bsica das relaes comunicativas entre as partes a um terceiro comunicador: o juiz, o rbitro, o legislador, numa palavra, o sujeito normativo, ou ainda, a norma. 4. DIMENSO PRAGMTICA DA NORMA JURDICA Partamos, como exemplo, do seguinte texto: "ningum ser preso seno em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente. A lei dispor sobre a prestao de fiana. A priso ou deteno de qualquer pessoa ser imediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxar, se no for legal". Neste texto, uma informao transmitida. Concomitanteniente, porm, h uma determinao da posio do emissor, em face do receptor. Em-bora a o emissor no seja mencionado e haja uma multiplicidade de receptores, exercendo papis diversos, faamos abstrao deste dado e analisemos o texto, enquanto mensagem. O objeto da mensagem normativa, do ngulo pragmtico, aquilo que se diz que, em razo do modelo comunicativo, se apre-senta como questo. Distinguimos, no que se refere ao objeto, entre relato e
cometimento, como nveis separveis. A idia bsica aqui expressada a de que o ato de falar, dado o seu carter internacional, sempre implica uma ordem, isto , quem fala (ou decide), no s transmite uma informao (apela ao entendimento de al-gum), mas, ao mesmo tempo, impe um comportamento. Por exemplo, quem diz: "voc um tolo", diz tambm: "este o modo como eu quero que voc perceba como eu o vejo". Respectivamente, temos o relato e o cometimento. O relato a informao trans-mitida. O cometimento uma informao sobre a informao, que diz como a informao transmitida deve ser entendida. Nas interaes, em geral, o aspecto cometimento raramente deliberado e consciente, o que pode ser fonte de equvocos. Para torn-lo,s ine-quvocos, ao menos numa certa medida, a convivncia imps regras, de cortesia, de boa educao. Assim, quando algum diz: "voc est engordando", pode corrigir a m impresso metacomunicando atravs de frmulas como: "desculpe, no tive a inteno de ofend-lo" ou "digo isto para o seu bem" etc. Aqui, o cometi-mento, isto , a ordem para o outro, no sentido de como a infor-mao devia ser entendida, torna-se patente, atravs de novo ato de falar que, por sua vez, tambm ter, de novo, um aspecto relato e um aspecto cometimento, o que, ento, poderia, eventualmente, gerar novo equvoco, levando as partes a se desentenderem pro-gressivamente. Em geral, os cometimentos so expressos de modo analgico, portanto, de modo no verbal, por exemplo, atravs do tom da voz, a mmica do rosto ou, em interaes mais complexas, atravs de comportamentos simblicos, como a organizao de uma parada militar, um movimento de tropas que podem insinuar que uma troca de mensagens diplomticas deva ser entendida como "ns somos poderosos, bom que vocs nos tenham por amigos". Ora, a aplicao desta distino s normas jurdicas pode tra-zer curiosos esclarecimentos. Se verdade que todo discurso tem um aspecto cometimento e outro relato, tambm verdade que, embora, em geral, comuniquemo-nos tanto analgica quanto digitalmente, h discursos capazes de minimizar os aspectos analgicos, criando condies para uma metacomunicao adequada. Por exemplo, o discurso matemtico. Este no o caso, porm, do discurso normativo. Em cada norma, podemos perceber o aspecto cometimento e o aspecto relato, bem como a utilizao tanto de linguagem analgica quanto digital. Embora o discurso normativo apresente uma tendncia a digitalizar o seu aspecto cometimento, o uso mesmo da chamada linguagem natural j institui limite digitao. Normas jurdicas so decises. Atravs delas, garantimos que certas decises sero tomadas. Elas estabelecem assim controles, isto , pr-decises, cuja funo determinar outras decises. Em-bora isto no signifique, como veremos, uma reduo da norma norma processual, o ponto de vista pragmtico no deixa de res-saltar este aspecto procedimental do discurso normativo. No exem-plo que estamos analisando, podemos levantar uma srie de alter-nativas conflitivas que envolvem decises a tomar: ser preso ou no ser preso, legalmente ou ilegalmente, por autoridades ou por qualquer um, tendo cometido um delito ou no tendo cometido um delito, em flagrante ou no, pagando fiana ou no pagando, admi-tindo-se fiana ou no se admitindo etc. Estas alternativas so do tipo incompatvel, portanto, conflitivas. A norma cumpre a tarefa de determinar quais as decises, ou seja, quais alternativas deci-srias devem ser escolhidas. O objeto do discurso normativo, ou seja, o objeto da situao comunicativa olhado do ngulo do comu-nicador normativo, no propriamente o conjunto das alternativas, mas a deciso que, diante delas, deve ser tomada. Ou seja, no exemplo, so as decises: s prender em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade, comunicar ao juiz a priso ou de-teno, relaxar a priso ilegal. Temos, pois, dois ngulos distintos: as alternativas conflitivas (ser preso ou no, legalmente ou no), objeto do discurso dos comunicadores sociais, e o objeto do dis-curso do comunicador normativo, que tambm constitui um con-flito, diferente do outro, na medida em que considera um conflito sobre o conflito, que requer deciso sobre a deciso. Assim, o objeto da norma, sua questo conflitiva, no apenas "ser preso ou no ser preso", "legalmente ou ilegalmente", mas tambm "s prender em flagrante ou por ordem escrita: deciso obrigatria/ou proibida/ou permitida/ou indiferente/ou facultativa/etc.". Na ter-minologia pragmtica, o comunicador normativo no apenas diz qual a deciso a ser tomada pr-deciso mas tambm como essa pr-deciso deve ser entendida pelo endereado informao sobre a informao. Respectivamente, temos o relato, e o cometimento do discurso normativo, que, no seu conjunto, formam o objeto do discurso. 5. OS OPERADORES PRAGMTICOS, CONTEDO E CONDIES DE APLICAO DA INFORMAO NORMATIVA Normas jurdicas so entendidas aqui como discursos; por-tanto, do ngulo pragmtico, interaes em que
algum d a en-tender a outrem alguma coisa, estebelecendo-se, concomitantemente, que tipo de relao h entre quem fala e quem ouve. Ou seja, o discurso normativo no apenas constitudo por uma mensagem, mas, tambm, por uma definio das posies de orador e ouvinte. A lgica dentica costuma definir as "proposies nor-mativas" como prescries, isto , proposies construdas mediante os operadores ou funtores obrigatrio, proibido e permitido, apli-cados a aes. Naturalmente, no s "aes mesmas" (plano em-prico), mas sua expresso lingustica. As aes, diz-nos von Wright, so interferncias humanas no curso da Natureza. Se esta interferncia positiva por exemplo, derrubar uma rvore , trata-se de um ato. Se negativa por exemplo, no construir uma casa , temos uma omisso. O con-ceito de omisso mais complicado. Na linguagem cotidiana no significa simplesmente no fazer, mas no fazer algo. S omitimos aquilo que devemos ou estamos habituados a fazer. Por exemplo, num dia de cu lmpido, se algum no abrir o guarda-chuva, no diramos que houve uma omisso, que, claro, s ocorreria se algum se esquecesse de abrir o guardachuva, estando chovendo. No se trata, alm disso, de uma questo de agir consciente ou inconscientemente, mas de exprimir a relao entre algo que foi e como poderia ter sido. Por isso, o que uma pessoa descreve como um ato pode ser descrito por outra como uma omisso e vice-versa. Isto quer dizer que atos tambm exprimem uma relao de que foi, em funo de como poderia ter sido. Assim, por exemplo, se algum entra num quarto escuro e acende a luz, h um ato do ponto de vista do agente, mas uma omisso do ponto de vista do fotgrafo, que revelava chapas fotogrficas. Isto nos permite dizer que aes no so apenas interferncias no curso da Natureza, mas interferncias em relao a como poderia ou deveria ter ocor-rido. Toda ao, nestes termos, traz uma nota de tipicidade cor-respondente relao entre a interferncia no curso da Natureza e o conjunto das articulaes que circundam. Esta concepo de ao implica, alm disso, que partimos de um estado de coisas que muda para um outro estado de coisas (a luz est apagada muda para a luz est acesa). Para que a ao se realize, preciso que os estados de coisas se apresentem, d certo modo compatvel com a ao (por exemplo, que a luz esteja apagada para passar a estar acesa). Fala-se, assim, em condies (l-gicas) da ao e seu resultado. Dada uma condio de ao, possvel tanto realizar um ato como uma omisso, sendo diferente o resultado, num e noutro caso. Von Wright fala, em suma, que as normas so compostas de um operador normativo (permitir, obrigar), de uma descrio de ao e de uma descrio da condio de ao. O primeiro d o carter da norma (norma permissiva de obrigao), o segundo, o seu contedo (atos e omisses), o terceiro, a sua condio de aplicao. Sob o ponto de vista da pragmtica, a descrio da condio da ao constitui o aspecto-relato da mensagem normativa. Nisto, porm, no se esgota a sua anlise, pois dela fazem parte o editor e o sujeito mais a relao metacomplementar que entre ambos se estabelece. A metacomplementaridade se determina ao nvel ou aspecto-cometimento do discurso e prevista, a nosso ver, pelos operadores normativos. Em outras palavras, os operadores norma-tivos tm uma dimenso pragmtica alm da dimenso sinttica, pelas quais, no s dado um carter prescritivo ao discurso ao qualificar-se uma ao qualquer, mas tambm lhe dado um carter metacomplementar no qualificar a relao entre emissor e receptor. Estabelecida uma norma, o editor, ao transmitir uma mensa-gem, define as posies de tal modo que o endereado assuma uma relao complementar (metacomplementaridade). Para faz-lo, ele pode simplesmente transmitir a mensagem ou pode, alm disso, fazer um comentrio sobre ela. Por exemplo: "efetuada a priso, a autoridade comunicar ao juiz..." ou "efetuada a priso, a autoridade obrigada a comunicar ao juiz" ou "efetuada a priso, a autoridade poder comunicar ao juiz" etc. Expresses como " obrigado", "est proibido", "est permitido", sob o ponto de vista da pragmtica, so metacomunicacionais, correspondendo a "co-mentrio" sobre a mensagem transmitida, no sentido de definir as relaes entre as partes. Como a relao no apenas complementar, mas imposio de complementaridade, as expresses obri-gar, permitir, proibir so frmulas digitais, pelas quais a autoridade controla as possveis reaes do endereado definio das res-pectivas posies. Existem inmeras frmulas deste gnero na lin-guagem comum e o direito se utiliza de todas elas. Assim como se faz no plano sinttico, vamos nos referir basicamente a estas trs: obrigar, proibir, permitir, admitindo que outras, como facultar, delegar, autorizar etc. sejam redutveis a elas.
A lgica dentica trata estas frmulas como funtores ou ope-radores denticos. Atravs deles, os comportamentos expressos na norma adquirem um status dentico, qualificam-se deonticamente. Por exemplo, se a norma diz: proibido pisar na grama, a ao "pisar na grama" adquire o status dentico "proibido". Sob o ponto de vista da pragmtica, porm, interessa-nos o modo como, atravs dos operadores, a autoridade determina a relao entre ela e o endereado como complementar (imposio de complementaridade ou metacomplementaridade). muito importante que se entenda que a relao definida, no discurso normativo, metacomplementar, pois isto indica que o orador normativo procura fazer com que o endereado assuma a posio complementar, e, para isso, usa de recursos com o fito de evitar reaes incompat-veis. Ora, as reaes possveis do ouvinte a uma definio pelo orador da relao entre ele e o ouvinte so trs: ou confirmar, ou rejeitar, ou desconfirmar. Confirmao uma resposta pela qual o ouvinte aceita a definio (compreende e concorda); rejeio uma resposta pela qual o ouvinte nega a definio (compreende e discorda); desconfirmao uma resposta pela qual o ouvinte des-qualifica (no compreende ou ignora) a definio. A diferena entre rejeio e desconfirmao est em que, na primeira, o ouvinte, de certo modo, reconhece o orador como autoridade, para depois re-cusar a definio, enquanto, na segunda, ele age como se o orador no existisse. Uma relao definida como metacomplementar no pode suportar este terceiro tipo de reao, pois a desconfirmao equivale ao aniquilamento da autoridade enquanto tal. Os sistemas normativos costumam estabelecer, por isso, ou de modo explcito, atravs de uma norma cujo relato o diga, ou implicitamente, na forma de um cometimento analgico, que no se reconhece a ale-gao da ignorncia da lei como justificativa para a licitude do prprio comportamento. Ao nvel do cometimento, portanto, en-tendemos que o discurso normativo s reconhea (e procure esta-belecer como possveis) duas reaes: confirmao ou rejeio, ex-cluda a possibilidade de desconfirmao. Por outro lado, as reaes de confirmao e rejeio tm o efeito de dar a autoridade, visto que nas relaes complementares uma definio do prprio emissor s pode ser mantida pela do parceiro que tem que desempenhar um papel especfico. Se no houver confirmao, no h autori-dade, mas se no houver rejeio, a autoridade no se percebe, agin-do como tal, e no tem condies de se afirmar. Neste sentido, ao estabelecer uma norma, o editor, definindo a relao metacomple-mentar, j predetermina as suas prprias reaes s eventuais reaes do endereado, em termos de confirmar uma eventual con-firmao, rejeitar uma eventual rejeio e desconfirmar uma even-tual desconfirmao. Ao faz-lo, ele est mostrando ao endereado que a sua posio perante ele, editor, de sujeito, sendo ele editor, autoridade, ignorando-se qualquer tentativa de comportamento parte ou alheio relao normativa. Ao determinar um comportamento qualquer ou a sua omisso como proibido ou obrigatrio, o editor estabelece a metacomple-mentaridade, que uma definio das relaes do tipo quaestio certa, pois, de antemo, abre duas opes de reao e j dispe qual delas deve ser escolhida: o ouvinte jungido a cooperar, ou, de outro modo, sua reao ser rejeitada. A anlise snttica da norma costume levantar aqui o problema de se saber se possvel colocar os funtores proibir e obrigar como operando de maneira similar. Isto porque a intuio parece mostrar que as normas " proibido pisar na grama" e " obrigatrio omitir pisar na grama" no tm exatamente o mesmo sentido. Apesar disso, se reconhece a possibilidade de se mostrar a interdefinibilidade dos dois operadores (desde que se admita que a linguagem normativa contenha descrio de aes e no nomes). Podemos indagar se problema semelhante surge ao nvel pragmtico. A resposta nos parece negativa. Proibir e obrigar so frmulas digitais, que esta-belecem uma relao complementar, ou seja, atravs delas im-posta a relao autoridade/sujeito como um cometimento explcito, que obedece o esquema confirmao da confirmao, rejeio da rejeio e desconfirmao da desconfirmao. Uma questo mais complicada, porm, est referida possibilidade de existirem ou no normas permissivas, ou seja, a questo de se a permissividade no resulta antes da ausncia de proibio e obrigao. Ao nvel sinttico da anlise, a idia mais comum de que as normas permissivas no existem como normas independentes, isto , no so um tipo parte das normas de obrigao/proibio. Assim, quando o editor normativo usa a expresso "permitir" o faz apenas para descrever o fato de que uma ao no est nem proibida nem obrigatria, portanto, que no h norma sobre aquela ao. Esta tese se funda na pressuposio de todo sistema normativo admitir a chamada "norma de clausura, segundo a qual tudo o que no esteja judicialmente proibido ou no seja obriga-trio, estaria automaticamente permitido. No vamos discuti-la. Se verdade, portanto, que o silncio do comunicador norma-tivo apenas uma indicao, ao nvel do
cometimento, de que a relao indefinida ou inqualificada, no podemos deixar de rever a hiptese de uma afetiva qualificao normativa da relao como no complementar. Para que isto ocorra, preciso uma manifes-tao do comunicador normativo atravs de discurso normativo (e no de um silncio) que defina a relao entre editor e endereado, de tal modo que s possveis reaes do endereado (confirmao, rejeio, desconfirmao) correspondam contra-reaes do editor, cuja combinao garanta a relao definitiva. Assumimos que a frmula digital deste tipo de cometimento seja exatamente " permitido que", no sentido de que o editor, ao permitir determi-nada ao, estabelece um cometimento do tipo: eu ignoro qualquer reao de confirmar ou de rejeitar minha definio da relao, s confirmando uma eventual desconfirmao (ou seja: desconfirma-o de uma eventual desconfirmao). Trata-se de uma situao comunicativa curiosa, tanto da parte do editor quanto do ende-reado. Ao permitir uma ao qualquer, o comunicador normativo qualifica normativamente a ao como indiferente. Para que esta qualificao seja normativa e no apenas de sentido moral (autocompromisso de no interferncia), preciso reconhecer-lhe um certo carter paradoxal, ao nvel pragmtico. De fato, o editor, ao qualificar a ao como indiferente, metacomunica ao endereado que este no deve consider-lo, no caso, como autoridade e a si prprio como sujeito, portanto que a relao entre ambos sim-trica. Mas ao faz-lo, diz mais, porque impe esta definio de relao simtrica, isto , no deixa ao endereado outra opo seno a de ignor-lo como autoridade. Trata-se, pois, no de uma simetria, mas de uma pseudo-simetria, caso em que o editor impe ao endereado a relao simtrica. Da parte do editor, a situao paradoxal, pois ao impor a simetria, o editor ao mesmo tempo que se desqualifica como autoridade (somos simtricos), de novo se qualifica como tal (devemos ser simtricos). Do lado do endereado, a situao igualmente paradoxal, pois diante da norma permissiva, ele tem de sujeitar-se na medida em que rompe (desconfrma) a relao de sujeio. Nestes termos, somos levados concluso de que a norma permissiva norma paradoxal. Ela difere do silncio do editor normativo pelo fato de que a relao definida ou qualificada e no inqualificada, e difere da norma de obrigao/proibio porque esta impe uma relao de comple-mentaridade, enquanto a norma permissiva impe uma relao de simetria. Como, porm, a simetria imposta ou pseudo-simetria redunda numa metacomplementaridade implcita, a diferena entre ambas est mesmo nas combinatrias de reaes e contra-reaes, com as quais o comunicador normativo controla o com-portamento do endereado. Ou seja, a diferena est no modo de controle e no no resultado. Distinguimos, assim, a norma per-missiva do mero silncio do editor normativo, como manifestao expressa da autoridade. O silncio do editor no permite, mas in-determina. J a permisso determina de modo especfico. E aqui preciso de novo distinguir os casos em que a permisso usada para abrir exceo em norma anterior de proibio ou obrigao e os casos de permisso com contedo prprio. No primeiro caso se incluem normas como a que abre exceo de legtima defesa, tendo em vista proibio geral a respeito, ou normas que estabe-lecem isenes de impostos, tendo em vista obrigaes gerais. No segundo caso, inclumos, de modo geral, as chamadas normas programticas de uma Constituio, que no so exceo a proi-bio ou obrigaes gerais, mas normas de contedo prprio, que impem simetria aos seus sujeitos (pseudo-simetria) no sentido de que eles no podem eximir-se do vnculo estabelecido e pelo cometimento que lhes assegura uma faculdade. Para as permisses que abrem exceo, propomos que o funtor seja " permitido, po-rm, que", indicando-se pelo "porm" a exceo aberta no con-tedo da norma geral de obrigao. Em resumo, reconhecemos as seguintes possibilidades: a) normas de obrigao/proibio: atravs dos operadores " proibido" e " obrigatrio" uma determinada ao ou omisso qualificada juridicamente como obrigatria ou proibida: com isso d-se igualmente uma determinao jurdica da relao entre emissor e receptor como relao complementar imposta; b) normas permissivas que constituem exceo a uma norma geral de obrigao/proibio: atravs do operador " permitido, porm, que" determinada ao ou omisso qualificada juridica-mente como facultativa ou permitida, tendo em vista uma proi-bio ou obrigao geral; a determinao jurdica da relao como simtrica depende de uma imposio de complementaridade geral, da qual constitui uma exceo; c) normas permissivas independentes: atravs do operador " permitido" uma determinada ao ou omisso qualificada como facultativa ou permitida, sem que haja, sobre o mesmo con-tedo, norma geral de obrigao/proibio; a relao entre emissor e receptor determinada, juridicamente, como relao simtrica
imposta ou pseudo-simtrica; d) a ausncia de norma: o silncio do editor torna uma ao ou omisso nem obrigatria, nem proibida, nem permitida ou fa-cultada, mas juridicamente, indecidvel; a relao entre emissor e receptor pode ser, ento, indiferente simtrica ou complementar, no ocorrendo, em nenhum dos casos, nem imposio de complementaridade, nem pseudo-simtrica. 6. RELAO ENTRE NORMA E SANO Dissemos at agora que normas so discursos decisrios es-truturalmente ambguos em que o editor controla as reaes pos-sveis dos endereados ao garantir expectativas sobre as expecta-tivas de reao, determinando as relaes entre comunicadores na forma de uma metacomplementaridade caracterizada como impo-sio de complementaridade e imposio de simetria. Atravs dos operadores, no apenas qualificamos juridica-mente os comportamentos, mas tambm determinamos as relaes entre os comunicadores, atravs dos quais se exprime a dade au-toridade/sujeito nas suas diferentes modalidades (obrigao, proi-bio, permisso). Isto significa que a relao de autoridade se define pela garantia estabilizada de que certas expectativas devem prevalecer, independentemente de o comportamento exigido ocor-rer ou no. O importante para o cometimento normativo no o cumprimento efetivo do relato (uma norma pode ser desobedecida e, apesar disso, a relao de autoridade permanece), mas a ga-rantia de que reaes que desqualificam a autoridade, como tal, esto excludas da situao comunicativa. Isto quer dizer que a metacomplementaridade no se confunde com a imponibilidade dos comportamentos expressos no relato. No entanto, embora a relao de autoridade deva manter-se de modo contraftico, isto , subsiste ainda que o endereado no possa adaptar-se, esta posio no pode manter-se de modo obsti-nado, no sentido de que o editor veja apenas e sempre o seu lado da relao. A autoridade tem, assim, de ser implementada, tanto no sentido de que possa ser compreendida, o que implica argumentao e discusso, como tambm fortalecida, o que implica argumentos reforados. A expectativa da autoridade subsiste em cada caso, mas no nos permite esperar genericamente de modo contraftico. Isto nos levaria a um rompimento da comunicao. Por isso tem de haver, na comunicao normativa, instrumentos discursivos capazes de tornar o comportamento desiludidor que, como fato, incontestvel, em algo compreensvel e integrado na situao. O discurso normativo, assim, sem abdicar da relao de autoridade, tem de canalizar e encaminhar as desiluses e infraes, estabelecendo para isso procedimentos especiais, em que a autoridade , ao mesmo tempo mantida, mas temporariamente suspensa, evitando o rompimento da comunicao, ou seja, procedimentos em que o editor possa aparecer como parte argumentante e o endereado como intrprete. Para isso, a determinao das expectativas possveis de reao do endereado deve ser acompanhada de previses de comportamentos possveis do editor, no caso de reao desiludidora. Esta colocao, que decorre da prpria ambiguidade estrutural do discurso normativo, exige, entretanto, tratamento mais detalhado. Esta ambiguidade abre caminho, a nosso ver, para esclarecer, do ngulo pragmtico, a questo da relao entre norma e sano Inicialmente, podemos dizer que sano designa um fato em-prico, socialmente desagradvel, que pode ser imputado ao com-portamento de um sujeito. A determinao do que este fato em-prico no de natureza nem lingustica nem jurdica, mas psi-cossociolgica. Trata-se de uma reao negativa contra um determinado comportamento, portanto, avaliada como um mal para quem a recebe. Alm de psicossociolgica, sua determinao , pois, tambm axiolgica. Sob o ponto de vista lingustico, o fato emprico-social da sano interessa menos. Isto porque as sanes no entram nas normas, do ngulo discursivo, como uma constatao de um estado de coisas exemplo: "para o crime de morte prevista uma sano de priso" nem mesmo como a realizao de uma ao atravs de uma assero por exemplo, a ao de ameaar ao dizer "est ameaado de priso, quem matar", mas, sim, como a consecuo de uma ao ao falar: ao dizer "quem matar, ser preso" desperta-se no endereado uma expectativa, a de estar sendo ameaado. Neste
sentido, normas no so discursos indicativos que prevem uma ocorrncia futura condicionada dado tal comportamento ocorrer uma sano mas sim discursos que constituem de per si uma ao: imposio de compor-tamentos como jurdicos (qualificao de um comportamento e estabelecimento da relao metacomplementar). A sano, do n-gulo lingustico, , assim, ameaa de sano; trata-se de um fato lingustico e no de um fato emprico. As normas, ao estabelece-rem uma sano, so, pois, atos de ameaar e no representao de uma ameaa. A ameaa de sano no deve ser confundida com frmulas permiais, atravs das quais o editor normativo pode motivar um comportamento qualificado como indiferente por uma norma per-missiva. Este tipo de "sano" no constitui o que entendemos por ameaa, incluindo-se, pois, apenas reaes do editor que possam constituir para o endereado algo que coaja e no apenas o motive. Aqui se incluem, pois, ameaas com penalidades, como a perda de liberdade, execuo forada, multas, anulao (mas no nulidade, pois a nulidade uma situao que pode ser reconhecida, mas no pode ser exercida, isto , possvel dizer se um ato nulo, mas no possvel estabelecer, impor nulidade, mas apenas anular). A noo de ameaa de sano exclui tambm a crtica de que aqui se deveria incluir a imposio de tributos, crtica que se faz definio de sano como uma reao desagradvel para o ende-reado, pois a aplicao de impostos ou de direitos alfandegrios, ainda que pudessem ser uma reao desagradvel, no so esta-belecidas na forma de ameaa. Por outro lado, o problema de se saber quando uma frmula lingustica constitui uma ameaa, este problema de natureza emprica, que variar de comunidade lin-gustica para comunidade lingustica. O segundo problema se refere relao entre a norma e a sano. Constitui toda norma uma ameaa da sano? Em pri-meiro lugar, preciso reconhecer, invertendo-se a questo, que o carter jurdico da ameaa de sano est em que ela regulada normativamente. Isto , possvel executar a ameaa de sano, sem que haja discurso normativo no sentido exposto anterior-mente, sem que haja, pois, qualificao de comportamentos e es-tabelecimento de relao de autoridade. Duas pessoas brigando podem fazer-se ameaas e, nem por isso, temos sano no sentido jurdico. Mas o problema saber se toda norma ameaa de sano. Ora, h normas que prescrevem comportamentos e estabelecem a metacomplementaridade autoridade-sujeito, sem fazer ameaa. Assim, a ameaa pode ou no estar presente, admitindo-se, ento, que ela esteja em outra norma. Esta a questo da conexo entre normas. Podemos, assim, reconhecer que uma das caractersticas da norma jurdica est em que nelas a sano sempre prevista ou por ela mesma ou por outra norma, sem que isto nos obrigue a afirmar que na sano esteja a causalidade gentica do direito. Como explicar isto na perspectiva pragmtica? Esta a nossa terceira questo. A ameaa de sano aparece na norma ao nvel do relato. Assim, uma norma prescreve: " obrigatrio cumprir o contrato", o contedo do relato "cumprir o contrato", cuja negao interna "no cumprir o contrato", que seria condio de aplicao de uma prescrio de sano: " obrigatrio pagar a multa". Notese que, na prescrio da sano, "pagar multa" o contedo do relato da norma sancionadora. Assim, tanto a norma que manda cum-prir o contrato como a que manda pagar a multa definem relaes metacomplementares de autoridade e sujeito, o que se determina atravs dos operadores ou funtores, mas no pelo contedo do relato. Em outras palavras, a relao metacomplementar no constituda pela sano, mesmo numa norma que se esgote em prescrev-la. Neste sentido, ela argumento de persuaso, consistindo para o endereado o sujeito normativo uma indicao do comportamento do editor a autoridade em determinadas circunstncias. Trata-se, pois, de elemento de ligao para o con-trole de um discurso superveniente: dado um comportamento do sujeito, seguir-se- uma reao do editor, que pode ser aplicao da sano, ou novo procedimento discursivo, que levar quela aplicao ou ainda edio de nova norma, este ltimo caso ocor-rendo com frequncia nas transgresses do direito internacional. 7. A VALIDADE DAS NORMAS DO NGULO PRAGMTICO No item anterior, procuramos situar o discurso normativo como um elo dentro de uma interao especfica. Isto nos permitiu revelar algumas caractersticas nucleares da norma do ngulo pragmtico. No que se segue, estas caractersticas devero ser re-finadas, com o fito de nos fornecer uma viso aperfeioada da situao comunicativa, em que a norma o elemento central. O problema genrico, que nos preocupa agora, saber como se in-terligam os comunicadores normativos, em cadeias normativas. Esta a questo da validade.
Do ngulo pragmtico, a noo de validade est ligada a uma qualidade central do discurso normativo enquanto deciso, qual seja, a sua capacidade de terminar conflitos, pondo-lhes um fim. Da exposio anterior, podemos perceber que a validade no (apenas) uma propriedade sinttica dos discursos normativos, em respeito ao aspecto-relato, mas se revela peculiarmente como pro-priedade pragmtica. Atravs da expresso norma vlida, queremos referir-nos relao entre discursos normativos, tanto no aspecto-relato, quanto no aspecto-cometimento. Esta relao precisa de melhor esclarecimento. Neste sentido, referimo-nos funo de terminar conflitos, pondo-lhes um fim (institucionalizando-os), entendendo que a validade exprime uma relao de competncias decisrias e no uma relao dedutiva de contedos gerais, para contedo individualizado ou menos gerais. Como, entretanto, o princpio que guia a anlise pragmtica o da interao, a relao da validade inclui tambm a provvel reao do endereado, e, desta forma, tanto o aspecto-relato como o aspecto-cometimento. Para precisar nosso pensamento, vamos chamar esta conexo pragmtica entre os discursos normativos, de imunizao. Deste modo, precisamos nossa concepo para: "validade uma propriedade do discurso normativo que exprime uma conexo de imuni-zao". Imunizao significa, basicamente, um processo racional (fundamentante) que capacita o editor a controlar as reaes do endereado, eximindo-se de crtica, portanto capacidade de garan-tir a sustentabilidade (no sentido pragmtico de prontido para apresentar razes e fundamentos do agir) da sua ao lingustica. A imunizao do discurso normativo jurdico se caracteriza por ser conquistada a partir de outro discurso normativo, o que faz da validade uma relao pragmtica entre normas, em que uma imuniza a outra contra as reaes do endereado, garantindo-lhe o aspecto-cometimento metacomplementar. Isto , se, como vimos, cada norma, atravs dos funtores, define a relao entre orador e ouvinte, consideramos vlida a norma, cujo aspecto-cometimento no apenas est definido como metacomplementar, mas est imu-nizado contra crticas atravs de outra norma. Se um ladro, numa rua escura, exige de algum o seu dinheiro, dizendo: "passe-me a carteira", o funtor no caso voc est obrigado a passar-me a carteira define a relao como complementar (o ladro, nas condies, se determina como superior ao endereado, podendo amea-lo, inclusive com sano). Mas a esta norma falta a re-lao de imunizao que no se funda na capacidade do ladro de ameaar com sano, mas no carter atribudo ao editor de autoridade. O ladro superior (pois pode usar de violncia), mas no autoridade, posio que, inclusive, exclui o uso da violncia e no admite argumentao. Esta posio s conseguida pelo editor normativo atravs da imunizao, que um recurso racional do discurso normativo, anlogo ao estabelecimento de presuno, postulados, axiomas, na discusso cientfica. Se isto explica o pro-blema anteriormente posto, de se saber como se d a gnese da metacomplementaridade (que no produzida pela ameaa de sano), coloca, por sua vez, outro problema, qual seja, o de saber, primeiro, como uma norma imuniza outra e, segundo, qual o fundamento do prprio processo de imunizao. A primeira questo est referida aos modos de imunizao, sendo uma questo tcnica. A segunda mais complexa, e se refere prpria legitimidade dos ordenamentos. Importante, nas duas questes, lembrar que imunizao uma relao entre o aspectorelato de uma norma e o aspecto-cometimento de outra, ou seja, se uma norma, digamos, atravs do funtor proibido estabelece entre as partes uma relao metacomplementar, esta definio da relao que imunizada contra crtica por outra norma. Que a relao metacomplementar imunizada significa que o editor que, atravs do funtor, se definiu como superior, no precisa apresentar razes desta definio, pois ela j est fundamentada de antemo. Ou seja, pela definio atravs dos funtores, o editor joga o nus da prova da recusa de um comportamento para o endereado. Pela imunizao, ele se exime, inclusive, de ter de provar esta possibilidade mesma de transferir o nus da prova. Exime-se, no porque no capaz, mas porque est dispensado da apresentao das razes do seu agir. Uma norma imuniza a outra: a) disciplinando-lhe a edio; b) delimitando-lhe o relato. Trata-se de dois modos de imunizao ou de duas tcnicas, permanecendo a noo de validade a mesma nos dois casos (norma vlida norma imunizada). Para entender as duas tcnicas, recorremos distino da ciberntica, entre pro-gramao condicional e programao finalista. Podemos programar uma deciso na medida em que estabelecemos as condies em que ela deve ocorrer, de modo que, dadas as condies, segue-se a deciso. Tambm se pode program-la, estabelecendo os fins que devem ser atingidos, liberando-se a escolha dos meios, de tal modo que, seja qual for o meio escolhido, o fim deve ser atingido. No primeiro caso, temos uma programao condicional. No segundo, finalista. A primeira mais elstica no que tange aos efeitos pro-curados. O decididor responsvel pelo correto emprego dos meios, aos quais est ligado, mas no pelo
efeito a atingir ou atingido. As segundas so mais elsticas quanto escolha dos meios, es-tando vinculadas aos fins procurados. O decididor responsvel pelo efeito a atingir, sendo da sua escolha a seleo de bons meios, sejam quais forem, pois o importante o resultado. Por exemplo, uma deciso programada condicionalmente na seguinte regra: em caso de perigo, as luzes devem ser apagadas. A, a deciso de apagar as luzes est presa ocorrncia de perigo. O decididor responsvel pela constatao do perigo, no pela relao entre pe-rigo e apagar as luzes, e se, por causa disso, a casa assaltada, isto no lhe ser imputado. Por sua vez, uma deciso programada finalisticamente na seguinte regra: o ndice inflacionrio no de-ver ultrapassar os 42%. A escolha dos meios para assegurar o ndice livre, no h vinculao a meios determinados, mas o decididor responsvel pelo fim. Caso no seja o fim proposto para eximir-se de crtica, o decididor pode usar de tcnicas de transferncias, descarregando o insucesso em razes estranhas ao processo, que teriam modificado a situao (por exemplo, as crises internacionais como de fato novo a influenciar os fins estabele-cidos de controle da inflao). Tendo em vista as tcnicas da imunizao, vamos distinguir, pois, entre imunizao condicional e finalista. Nos dois casos, po-de-se falar em norma vlida. A imunizao condicional ocorre com a disciplina de edio das normas por outra norma. Como a vali-dade relao entre normas, vamos chamar uma de norma imunizante e a outra de norma imunizada. Tomemos um exemplo: a norma (x) norma imunizante estabelece que a criao, aumento ou iseno de tributos de competncia exclusiva do legislador; a norma (y) norma imunizada estabelece o tributo a, a ser recolhido pelo sujeito b. A posio metacornplernentar do editor de y garantida pelo aspecto-relato da norma x. A imunizao condicional, pois a norma imunizante fixa o '''an-tecedente" (no caso de tributos, ser legislador), a partir do qual o "consequente" possvel, conforme o esquema: quem pode o "se. .....", pode o "ento...." (vide a frmula condicional "se... ento. . ."). Como a responsabilidade (centro de eventual crtica) do editor est condicionalmente imunizada pelas consequncias (por exemplo, pela inflao, pela m distribuio de renda, por bancarrota etc., ele no responsvel) a metacomplementaridade do aspecto-cometimento da norma y no atingida, seja qual for a consequncia para o endereado. A norma vlida. Esta tcnica de imunizao bastante apropriada para os procedimen-tos de delegao de poderes e o controle da validade se resolve com a constituio de sistemas hierrquicos, donde o estabelecimento de conjuntos normativos que guardam entre si uma coordenao vertical de superioridade e inferioridade. Neste sentido podemos dizer que a norma inferior tem seu fundamento de validade em norma superior. A imunizao finalista ocorre com a delimitao do relato. A validade continua aqui a ser a relao entre o aspecto-relato da norma imunizante e o aspecto-cometimento da norma imunizada. Mas a tcnica outra. A norma imunizante no se importa com a edio da norma imunizada, mas fixa-lhe um determinado re-lato. Por exemplo, a norma imunizante (a) estabelece: todo tra-balhador tem direito a uma remunerao que garanta a ele e sua famlia condies mnimas de subsistncia: a norma imunizada (b) estabelece: o salriominmo regional ser X. A metacomplementaridade da posio do editor da norma (b) imunizada con-tra a crtica do endereado pela garantia do relato, posto como um fim a ser atingido. Enquanto na imunizao condicional so fixadas condies para o aparecimento da deciso normativa, na imunizao finalista fixados so os efeitos a atingir, deixando-se em aberto as condies necessrias. Esta tcnica menos apropriada constituio de sistemas hierrquicos, pois o mero estabelecimento de fins no justifica os meios utilizados. Da a neces-sidade de um controle constante, avesso mera delegao, por meio de instituies paralelas capazes de decidir, a todo momento, sobre os fins estabelecidos. Neste caso, os conjuntos normativos tendem a apresentar uma Gestalt diferente, de relaes entrecruzadas de coordenao vertical e horizontal da validade da norma "inferior" em uma "superior", pois a norma imunizada pode estar fundada em outras normas da mesma hierarquia (em termos de validade condicional) e, at mesmo, de hierarquia inferior (sentenas, regulamentos, portarias em relaes a leis). A distribuio entre as duas tcnicas de validao est refe-rida posio do editor da norma no sentido da sua imunizao. Da nossa exposio, parece decorrer que elas so empregadas se-paradamente, quando, na verdade, elas so utilizadas concomitantemente. Pode ocorrer, entretanto, que uma norma obedea s tcnicas de validade condicional, mas no a de validade finalista. o caso de uma norma, editada por rgo competente, mas que fere preceito superior. Ora, para que uma norma seja vlida, isto , para que haja imunizao, exige-se a concorrncia das duas tcnicas, caso contrrio, a norma ser invlida.
8. A EFETIVIDADE DAS NORMAS JURDICAS Na teoria jurdica, tradicionalmente, encontramos dois con-ceitos diferentes relacionados efetividade das normas, que nem sempre so usadas com a devida especificao. Do ngulo lingus-tico, podemos dizer que h concepes meramente sintticas da efetividade, caso em que a doutrina usa, embora com certa indeciso, o termo eficcia, no sentido de aptido para produzir efeitos jurdicos por parte da norma, independentemente da sua efetiva produo. Chamemos esta noo de sinttica, no sentido de que a efetividade (ou eficcia no sentido tcnico) est ligada capa-cidade de o relato de uma norma dar-lhe condies de atuao ou depender de outras normas para tanto. Por outro lado h concepes meramente semnticas da efetividade (correspondendo ao termo alemo Wirksamkeit), como encontramos, por exemplo, em Kelsen, segundo as quais a norma efetiva a cumprida e aplicada concretamente em certo grau. Chamemos esta noo de semntica, no sentido de que se estabelece como critrio a relao entre o relato da norma com o que sucede na realidade referida. Do ngulo pragmtico, h uma combinao dos sentidos an-teriores. Efetiva a norma cuja adequao do relato e do come-timento garante a possibilidade de se produzir uma heterologia equilibrada entre editor e endereado. Este equilbrio significa que o cometimento tranquilo, permanecendo, em segundo plano, de tal modo, que os efeitos podem ser produzidos. Ao contrrio, se pelo relato se exprime mal o cometimento ou se o faz de modo limitado (a norma faz referncia a sujeitos ou a condies de aplicao que ela no especifica), o cometimento fica intrinseca-mente afetado em diversos graus. Isto, evidentemente, pode ocor-rer por uma falha, mas, tambm, por motivos de controle, de modo intencional. Uma norma pode, assim, ser plenamente eficaz, se a possibilidade de produzir os efeitos previstos decorrem dela ime-diatamente (por exemplo, uma norma revoga outra: o efeito extintivo imediato), contidamente eficaz, se a possibilidade imediata, mas sujeita a restries por ela mesma previstas ( por exem-plo, normas que prevem regulamentao delimitadora), limita-damente eficaz, se a possibilidade de produzir os efeitos mediata, de normao ulterior (por exemplo, as normas pragmticas). No primeiro caso, o relato da norma adequado ao cometi-mento: a metacomplementaridade no sofre restries. No segundo caso, a adequao parcial, a relao de autoridade no sofre res-tries seno as por ela mesma previstas, mas que ainda no ocor-reram. No terceiro caso, a adequao est no limiar da inadequao, exercendo-se a relao de autoridade apenas num sentido negativo: possvel reconhecer que o sujeito no deve fazer, mas no o que ele deve fazer. Note-se que a efetividade no sentido pragmtico no se con-funde com o sentido meramente semntico ou sinttico. O sentido sinttico prescinde do nvel cometimento e v a efetividade como mera relao entre o relato de uma norma e as condies que ela mesma estabelece (que podem estar em outra norma) para a produo dos efeitos. Prescinde tambm da relao para com os comportamentos de fato ocorridos e no v nenhuma influncia entre a obedincia efetiva da norma e a possibilidade de produo dos efeitos. O sentido semntico liga diretamente efetividade e obedincia de fato, no prevendo, por conseguinte, os casos de desobedincia de normas eficazes (no sentido tcnico). Podemos, dizer, em consequncia, que, no nvel semntico da anlise, uma norma ser tanto mais efetiva quanto mais as aes ou omisses exigidas ocorram. O sentido jurdico da efetividade, contudo, atende mais ao plano pragmtico, podendo dar-se, como dissemos, uma norma eficaz (possibilidade de produzir efeitos) que no seja de fato obedecida e aplicada. Por exemplo, uma norma revoga outra, produzindo imediatamente seus efeitos, pois manifesta adequa-damente a relao metacomplementar de autoridade, mas cum-prida socialmente continua a ser norma revogada. A distino importante. A adequao meramente semntica nos obriga a considerar a questo sociolgica dos motivos pelos quais a norma ou no cumprida. A adequao pragmtica evita o problema de se saber se a regularidade (ou irregularidade) da conduta tem por motivo a norma, pois importante a qualificao dos efeitos jurdicos. Um sujeito pode cumprir regularmente um comporta-mento movido por vrios motivos (hbito, medo, esperteza, razes econmicas, polticas etc.). Para a adequao semntica, o impor-tante o fato da obedincia regular. Para a pragmtica, impor-tante a relao metacomplementar e, em consequncia, as con-dies de aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, ainda que ela seja ou esteja sendo regularmente desobedecida. Apesar disso, h uma conexo com o aspecto semntico e com o sinttico. Pragmaticamente, a efetividade relao de adequao entre o relato e o cometimento de uma norma, num sentido in-clusivo, abarcando o nvel sinttico e semntico. Uma norma efetiva deve atender a condies que o seu prprio relato estabelece, ligando-as, tambm, ao relato de outras
normas, mas tem de levar em conta a relao metacomplementar estabelecida, a qual pode ser afetada pelo fato da obedincia ou desobedincia. Assim, em-bora os trs nveis (pragmtico, semntico e sinttico) no s O papel, da Dialtica em Aristteles, Kant e Hegel TERCIO SAMPAIO FERRAZ Jr. (cio IBF de So Paulo) Introduo: limites desta investigao No espere o leitor uma investigao exaustiva do problema. O tema que nos propomos elucidar composto, evidentemente, de uma srie de sub-temas que ferem, no seu conjunto, o prprio cerne dos sistemas filosficos em tela. No nos preocupa, entretanto, uma abordagem quantitativa da temtica, em todas as suas ramificaes, nem um entendimento cabal da prpria dialtica em cada um dos autores, mas apenas a sua funo nos respectivos sistemas filosficos. Partimos do pressuposto de que inerente a toda filosofia uma ambio arquitetnica. elaborando-se ela como um discurso rigoroso, onde se vinculam mtodo e contedo, posto que a verdade da filosofia se instaura no seu prprio mtodo. nestes termos que se coloca o problema da funo da dialtica. isto , da dialtica dentro da arquitetnica. restringindo-nos, em nossa anlise, ao nvel da histria da filosofia. Dialtica em Aristteles "So dialticos os argumentos que concluem a partir de premissas provveis, pela contraditria da tese dada" (Ref. Sof. 165b3). Isto significa que atravs do raciocnio dialtico podemos provar, persuasivamente, teses contraditrias. Quereria, com isto. Aristteles demonstrar que todas as teses so boas e, por meio de sofismas, provar uma contradio inerente ao real? Evidentemente no. O raciocnio sobre contradies no significa para ele a contradio do prprio real. O que sucede que, para ns, a linguagem, meio necessrio para a comunicao humana, no absolutamente idntica ao real que ela simboliza. A linguagem definida por Aristteles como smbolo: ela "smbolo dos estados da alma" (De Interpr. 16a3). A relao entre a linguagem e o ser , pois, mediata, havendo entre ambos as imagens. Da a distino entre smbolos (linguagem) e signos (estados da alma), sendo os primeiro arbitrrios, no significativos por si e em si, enquanto os segundos so naturais, semelhantes por si s coisas a que correspondem. Donde se seguem dois tipos de relao: a) de semelhana: imagens e coisas; b) de significao: linguagem e imagens. Na verdade, admitindo-se que os "estados da alma", so cpias da realidade, o signo, na problemtica da linguagem (mas no sob o ngulo psicolgico), pode ser esquecido. A questo, para Aristteles, passa a girar em torno da relao mediata e equvoca entre o "logos" e a realidade. O "logos" definido como "som vocal que tem uma significao convencional" (De Interpr. 16b28). Convencional, porque nada se torna por natureza um nome.. A utilizao de algo como smbolo implica numa certa arbitrariedade: a constituio de uma relao simblica pressupe a interveno do esprito sob a forma de imposio de sentido. A linguagem, portanto, no imitao do ser, mas smbolo do ser; ela no o manifesta, mas o significa. A relao smbolo-ser no tem, por isso. um sentido existencial, isto , o "logos" significante, sem que isto implique que ele seja verdadeiro ou falso. Em outras palavras: a significao faz abstrao da existncia
podendo um smbolo significar coisas fictcias. Por exemplo: um unicrnio, uma quimera (De Interpr. 16a16). Da se segue que todo enunciado significativo (phsis) no necessariamente nem uma afirmao (katphasis) nem uma negao (apphasis) (De Interpr. 16b27). Para que haja afirmao ou negao preciso outra coisa: a composio ou diviso dos termos isoladamente significativos, isto , uma proposio. Isto quer dizer que, se no podemos imitar ou manifestar as coisas mesmas na relao simblica, podemos ao menos manifestar a relao (de juno ou separao) entre elas: a proposio aparece, pois, como o lugar privilegiado onde o "logos" sai de si mesmo, isto , deixa de referir-se s coisas, para capit-las nas suas relaes e na sua existncia. O "logos" no verdadeiro ou falso enquanto significativo, mas o enquanto propositivo. A essncia da proposio no est, propriamente, nos termos a compor, mas no ato da composio: no juzo. O juzo um "estado de alma" e no um smbolo, no sendo, pois, funo da linguagem, mas do espirito. Por isso, pode-se dizer que, no juzo o "logos" tenta suprimir a distncia que o separa das coisas, deixando de ser discurso para ser pensamento das coisas. Com efeito, a funo bvia da linguagem significar, no sentido de designar as coisas, no havendo necessidade de que o "logos" exprima as coisas, isto , nos d um conhecimento claro das coisas, da sua essncia. Entretanto, a linguagem, do plano do juzo, manifesta, revela, "deixa ver" aquilo a que ela se refere. A linguagem traduz, nestes termos, uma certa impotncia: de um lado, ela tenta manifestar, mas, por natureza, ela s pode designar; assim, quando ela toma uma funo judicativa e tenta exprimir, ela no chega a revelar as coisas, mas torna-se um .substituto delas Isto , j que no possvel trazer as coisas mesmas para o discurso, usamos os seus substitutos, os smbolos, supondo que o que se passa com as coisas, passa-se tambm com eles. Na verdade, porm, esta suposio relativa, na medida em que "os nomes so em numero limitado, bem como a pluralidade das definies, enquanto as coisas so infinitas em nmero" (Ref. Sof. 165a7-l.3). Isto , achando-se o "logos" distante da realidade, existe sempre a possibilidade de que a linguagem se desvincule do que ela simboliza por causa da sua limitao, induzindo-nos ao erro. Em outras palavras, o problema, para Arislteles, deve ser equacionado nos seguintes termos: a verdade nos dada de modo ante-predicativo a verdade est nas coisas (Mel. 1051a34) mas s pode ser formulada ao nvel do discurso a verdade est no pensamento (.Mel. 1028h16); o discurso, entretanto, por causa da distncia que o separa da realidade, naturalmente equvoco, isto , a equivocidade um vcio essencial da linguagem. O prprio "logos" pode assim, constituir uma barreira obteno da verdade. Como solucionar a questo? Aristteles reconhece a existncia de certos discursos dialticos, isto , somente verbais, suficientes para fundar um dilogo coerente o discurso comum entre os homens e que preenchem bem a funo designativa. Ao nvel destes discursos, diz-se que a linguagem abre uma via, aponta as coisas que devem ser investigadas, ainda que no se chegue at elas. Com efeito, a dialtica, arte das contradies, tem por utilidade o exerccio quase escolar da palavra, oferecendo um mtodo eficiente de argumentao. Ela nos ensina a discutir, representando a possibilidade de se chegar aos primeiros princpios da cincia; partindo de premissas provveis, que representam a opinio da maioria dos sbios, atravs de contradies sucessivas, ela chega aos princpios, cuja fundamento , porm, inevitavelmente, precrio. Este carter da dialtica, que a faz confrontar as opinies, discutir com elas, instaurar com elas um dilogo, corresponde a um procedimento critico. Realmente. a critica uma espcie da dialtica e uma de suas formas mais importantes (Ref. Sof. 172a21 - 171b4). A crtica no bem uma cincia, com objeto prprio, mas uma arte geral, cuja posse atribuvel a qualquer pessoa, mesmo as ignorantes. A importncia da critica, da crtica feita atravs da prova da tese contrria, est no fortalecimento das opinies, pela erradicao progressiva das equivocidades. Desde que, na construo da cincia, enquanto conhecimento verdadeiro, s podemos partir daquilo que aceito como principio, a critica do verossimilhante nos conduz
ao discurso cientifico. A crtica dos grandes sistemas, dos grandes filsofos, da opinio dos grupos, resulta, assim, numa atividade fundamental da dialtica. O problema da dialtica, em Aristteles, , portanto, colocado ao nvel da obteno da verdade. Estando esta nas coisas, mas podendo exprimir-se apenas atravs da linguagem, a dialtica tem uma clara funo instrumental -rganon. Identifica-se, assim, o rganon, na prtica, com a noo de dialtica, conforme a vemos nos Tpicos (105a21; a33 ss.) um meio para resolver as aporias, a ambigidade natural da linguagem, para buscar a alteridade e a identidade, levantar as premissas e as opinies e, afinal, confront-las. Nesta atividade, a dialtica aparece como a lgica da verdade procurada. Sua funo perfurar a barreira do "logos", na busca dos princpios e da verdade (Cf. Aubenque: Le problme de ltre chez Aristote Paris. 1962, p. 251 ss.) No lhe cabe, porm, a estrutura e a sistematizao da verdade possuda: a lgica da cincia atribuda analtica. Aristteles tem um conceito bastante estrito de cincia. A cientificidade apenas Atribuda ao conhecimento da coisa como ela (An. Posl. l, 2, 71b). Vale dizer, ao conhecimento da causalidade, da relao e da necessidade da coisa. Aristteles nos fala, nestes lermos, em conhecimento universal. O universal no como que uma soma ou resumo dos dados da experincia, mas um "limite", em cuja estabilidade ou determinabilidade repousa a estabilidade da prpria experincia. O conhecimento universal o conhecimento da essncia. Por outro lado, porque as coisas mesmas tm uma essncia que as palavras podem ter uma significao unvoca, isto , a unidade nominal, em Aristtelcs, dada pelo real, ao nvel da linguagem. Ora, sendo o real uno e idntico, na estrutura do conhecimento verdadeiro, a analtica tem o primado. A dialtica, ao seu lado, que parte das contradies, torna-se uma arte subsidiria: ela c apenas um iter. Dialtica em Kant. Para Kant, a lgica transcendental tem por funo determinar a origem, a extenso e o valor objetivo dos conhecimentos a priori. A lgica, nestes termos, no para ele apenas uma cincia da forma da razo, mas uma cincia da razo por sua matria. No se limita, assim, a uma determinao subjetiva da razo, apontando meramente o modo pelo qual o entendimento pensa, mas destaca, atravs dos princpios a priori, como deve o esprito pensar. A lgica transcendental constitui-se, pois, para Kant, nas condies obrigatrias do pensamento, condies determinantes da veracidade e da prpria existncia do nosso pensamento. Essa dissecao da razo compreende a descoberta dos elementos do entendimento puro, sua decomposio. Esta decomposio cabe analtica transcendental. Ela versa sobre o entendimento puro, lido como uma unidade subsistente por si, independente de qualquer elemento emprico e de toda sensibilidade. Tratando dos elementos do conhecimento puro do entendimento e dos princpios sem os quais nenhum objeto pode ser absolutamente pensado, a analtica vem a se constituir na prpria lgica da verdade. A analtica transcendental quer demonstrar que o entendimento limitado e no permite atingir as coisas em si. A deduo transcendental parece, neste sentido, ser suficiente para determinar nas categorias no um conhecimento completo e acabado, mas simples modos que supem uma matria: as instituies sensveis. Diante disto, a interpretao tradicional de Kant, atribuindo dialtica transcendental a demonstrao do vazio representado pelos elementos transcendentais assinalados pela analtica, relega a primeira, subsidiariamente, a um segundo plano, transformando-a em mera contra-prova da analtica. Entretanto, isto no se d absolutamente. Com efeito, diz-nos Kant. "a razo humana , por sua natureza, arquitetnica, isto , ela considera todos os conhecimentos como pertencentes a um sistema possvel" (K.r.V. B-329). Se alentarmos os nossos conhecimentos do entendimento", continua ele, "na sua extenso total, veremos que aquilo sobre o que a razo dispe de modo absolutamente peculiar e que ela procura realizar (zustande bringen) a unidade do sistema" (K.r.V. B-148). Esta exigncia da razo de uma unidade sistemtica significa, em primeiro lugar e num sentido negativo, que os nossos conhecimentos no devem
representar um mero agregado, sem unidade e sem sentido (K.r.V. B-538 ss.), fundado simplesmente, por exemplo, na semelhana dos diversos, pois, neste caso, teramos apenas uma unidade tcnica e no arquitetnica (K.r.V. B-539). Em segundo lugar e num sentido positivo, significa ela que todos os conhecimentos devem constituir uma totalidade comum, articulada nos seus elementos. Esta articulao deve proceder da afinidade e da conexo intima dos prprios fatores, devendo igualmente determinar "a priori a extenso (Umfang) da diversidade, bem como o lugar das partes entre si" (K.r.V. B-538). de tal modo que no possa ocorrer nem a retirada nem o acrscimo de membro, sem a destruio da unidade orgnica. Essa totalidade sistemtica no pode sei atingida pela experincia. Toda unidade que as categorias do entendimento possam produzir em ateno sntese das diversas imagens em uma intuio, constitui, comparada com a exigncia arquitetnica da razo, apenas uma tentativa de "soletrar os fenmenos segundo uma unidade sinttica, para poder l-los como experincia", permanecendo, destarte, sempre parcial (K.r.V. A-200; B-216). Ou seja. a razo exige uma unidade sistemtica para a qual toda unidade do entendimento uni elemento e, em virtude da qual, esta ltima se torna possvel: nos quadros do conhecimento emprico no h unidade arquitetnica, que surge, outrossim, de "proposies sintticas" (synlhetische Stze) as idias, das quais o entendimento no tem cincia (K.r.V. A-197; B-243). Os princpios sistematizadores, as idias, contm, deste modo, uma certa "completude" (Vollstndigkeit), "para a qual no basta nenhum conhecimento emprico possvel, a razo tendo em vista ai apenas uma unidade sistemtica, da qual ela procura aproximar a unidade empiricamente possvel, sem alcan-la de modo cabal" (K.r.V. B-383). Por outro lado, sabemos que as leis do entendimento so, a priori, de validez objetiva, pois s por seu intermdio a experincia se torna possvel. O entendimento , assim, o legislador do mundo objetivo. Ele no s a condio de possibilidade da experincia, mas tambm do prprio objeto da experincia. A razo, ao contrrio, no absolutamente necessria para nenhuma espcie de conhecimento. Apesar disso, ela tambm tem uma funo legiferante, no, porm, para os objetos, mas para ns, para o sujeito. "Eu denomino", diz Kant, "todos os princpios (Grundstze) subjetivos, que derivam no da propriedade do objeto, mas do interesse da razo referente a uma certa perfeio possvel do conhecimento deste objeto, mximas da razo. H, assim, mximas da razo especulativa, que repousam meramente no interesse especulativo da mesma, podendo at parecer serem elas princpios objetivos" (K.r.V. B-110). As mximas no prescrevem realidade que ela deva constituir-se sistematicamente na totalidade unitria da finalidade da razo, mas sim que o .sujeito deva encarar o conjunto da realidade, como se ela constitusse um sistema total, sem preocupar-se com a possibilidade de que a realidade j constitua ou no uma ordem sistemtica. O interesse arquitetnico postula e "projeta" a conexo, mas no pode estabelec-la". A unidade sistemtica "apenas unidade projetada, que deve ser vista no como dada, mas to somente como problema" (K.r.V. R-129). Isto significa que o absoluto, que regula todo o sistema racional (vernnftig) no nos jamais "dado" (gegeben), mas nos "assinalado como finalidade" (aufgegeben). As idias, sobre as quais a unidade sistemtica repousa, so apenas conceitos projetados": eles constrem o geral, o qual aceito apenas como problemtico, enquanto tarefa posta. A razo, neste sentido, no constitui nenhum objeto, ela no constitutiva de nada, consistindo to somente em assinalar pontos fictcios que servem de orientao ao entendimento, na medida em que lhe mostram como ele deve investigar a natureza, a fim de encontrar nela uma conexo e uma unidade. O pensamento sistemtico, em Kant, aparece, pois, como um procedimento espontneo da prpria razo, sem fundamento objetivo. V-se, por a, a funo altamente positiva da dialtica na filosofia kantiana. As idias transcendentais no so apenas contra-prova aspecto negativo da possibilidade limitada do conhecimento, mas atuam como fices eursticas, isto , elas nos permitem realizar a unidade que no lemos no curso de nossas investigaes. Por exemplo, a idia de alma pode representar, como uma s unidade, o conjunto dos fenmenos psquicos. Esta funo da dialtica, possibilitando a sistematizao da realidade, tem, na verdade, ligao muito mais direta com a obra posterior de Kant. com a Critica da Razo Prtica e a Critica do Juzo, do que com a
analtica transcendental. Com efeito, a impossibilidade da metafsica tradicional, a constatao da antittica da razo pura no poderiam conduzir Kant a um ceticismo. Ao contrrio, sua atividade dialtica, positivamente encarada, realiza, por um novo caminho crtico aquela aspirao ltima de uma sistematizao de todo o real. A situao da dialtica, portanto, se inverte, em relao Aristteles. Para este, a inverso nunca seria admissvel, desde que o real dado no contraditrio, mas uno, sendo contraditria a linguagem, Em Kant o problema assim posto no existe. No h compromisso com uma realidade una. Ao contrrio, o mundo se apresenta como um caos que razo cabe ordenar. Assim, para Aristleles, o erro surge da possibilidade de uma desvinculao entre linguagem e realidade. Para Kant, a verdade ante-predicativa. O erro resulta de uma atividade indevida da prpria razo. Assim, com ele, a dialtica deixa de ser iter, abandona o nvel lgico-formal e, ascendendo ao nvel transcendental, participa da natureza da prpria razo, possibilitandolhe sua aspirao arquitetnica Dialtica em Hegel. A Hegel no passou despercebido o sentido mais profundo da dialtica kantiana. "Kant ps a dialtica bem no alvo e este um dos seus maiores mritos" (Wiss. d. Logik trad. A. Moni 1925, p 10). Reconhecendo que Kant operou uma transformao total no conceito e no uso da dialtica, continua Hegel, dizendo que "a idia geral que Kant ps como base e fez valer, a objetividade da aparncia e a necessidade da contradio pertencendo natureza da determinao do pensamento", (op. cit. p. 10). Em que pese, entretanto, a transformao total representada pela concepo kantiana, esta ainda est longe da revoluo que Hegel pretende operar no pensamento filosfico. Na verdade, o criticismo transcendental de Kant separa o conhecimento nos seus elementos a priori e a posteriori. Atravs do mtodo critico, o significado dos fafores apriorsticos individuais e sua relao com os empricos so, certamente, esclarecidos. O mesmo no ,se pode dizer, porm, do conjunto das funes a priori da razo, se captadas como pertencentes a uma unidade. Pois, segundo o prprio Kant, em relao a todos os elementos da esfera apriorstica, dever-se-ia dizer que eles so a priori antecipados. Surge a, porm, a necessidade de um critrio unitrio que permita determinar efetivamente o campo do a priori. Este critrio, como vimos, no pode localizar-se no material emprico, razo pela qual o prprio Kant tentou um ordenamento sistemtico das formas puras da razo, cujo principio se encontra na lgica pura e nas leis imanentes da atividade pura do entendimento. Dai se segue, contudo, uma contraposio logicamente estranha entre forma e matria, que tem como conseqncia a "Skepsis" critica de Maimon, que duvida da possibilidade de uma delimitao no confliliva dos elementos absolutamente a priori em face dos a posteriori. "O destino observado no criticismo de Maimon", comenta o neo-Kantiano E. Lask (Gesammelle Schriften, Tbingen. 1923,. I-81), "mostra, assim, aonde o procedimento meramente indutivo e "rapsdico" ao qual tambm Kant permanece jungido, necessariamente nos deveria conduzir". Ele nos ensina que s se pode crer na necessidade da razo, no podendo ela ser fundada. A questo, porm, saber se a um tal ceticismo deveria, realmente, caber a ltima palavra. Vista deste ngulo, a dialtica em Hegel vai assumir uma funo absorvente e decisiva dentro da sistemtica filosfica. A possibilidade de uma sistemtica universal no , evidentemente, uma questo quantitativa, isto , no se refere quantidade das coisas sabidas em um tempo dado. O principio construtivo do sistema universal antes de natureza qualitativa e se relaciona a tudo o que filosoficamente sabido (Landgrebe: "Hegels Systembegriff" in Phno-menologie und Geschichte - Darmstadt, 1968 p. 65 ss.). Saber filosoficamente alguma coisa significa saber algo em seu ser (Sein), ou seja, em sua verdade e realidade. Neste sentido, a filosofia, diferena das diversas cincias, busca explicitar um saber que devemos j possuir para poder tornar um determinado campo dos entes tema de uma cincia qualquer. Vale dizer, saber filosoficamente saber o princpio em virtude do qual algo realmente. Assim, quando dizemos que algo isto e aquilo, o sentido mais profundo deste "" j nos deve ser de algum modo conhecido. Quer dizer, h uma totalidade do ser (das Ganze des Seins) dentro da qual ns estamos de antemo, ainda que no
se tenha tornado consciente aquilo que ela (v. Obras completas, 1. ed., VII ( pg. 7, 30). A palavra "totalidade" no tomada aqui num sentido somatrio, mas refere-se ao conceito de sistema orgnico (Enzyklopdie 336) enquanto desdobramento da totalidade j de algum modo entendida, desdobramento do ser (Sein) como principio a partir do qual lodo singular se determina. A tarefa de uma sistemtica universal esclarece-se, deste modo, com um tornar expressamente consciente o saber em torno do principio, isto , do ser (Sein), em virtude do qual a multiplicidade pode ser unificada, permitindo-nos dizer que realizamos experincias de uma multiplicidade de coisas cognoscveis. O ser (Sein) principio em dois sentidos: principio responsvel pela essncia (Wesen) das coisas, isto , por aquilo que o mundo (Welt) , como conexo de acontecimentos e devir em seus fatores; e principio responsvel pela existncia (I)asein) desta mesma conexo, isto , responsvel pelo fato de que ela exista. O principio, nestes lermos, absoluto, na medida em que no se funda em nenhuma outra coisa. A questo do ser (Sein) revela-se, assim, como a questo do absoluto, que Hegel refere idia (Idee) : "a idia o verdadeiro em e por si, a unidade absoluta do conceito e da objetividade" (Enzykl. 213)3. A idia , pois. o que constitui a realidade dos objetos e, ao mesmo tempo, possibilita que tenhamos representaes corretas desta realidade, ou seja, "unidade do conceito e da objetividade. O absoluto , portanto, "a idia geral e una, que se especifica, pelo juzo (urteilend), no sistema das idias determinadas, que o so apenas para retornar idia una, sua verdade". Estas idias so "especificaes" (Besonderungen), isto , "momentos" (no sentido de fatores) da idia absoluta, nela apenas subsistentes. Hegel afirma que a idia se especifica pelo juzo num sistema de idias especficas. Assim escreve ele: "a partir deste juizo que a idia , primeiramente, apenas a substncia nica e geral, mas (a partir dele) sua realidade desenvolvida e verdadeira que ela seja como sujeito e, assim, como espirito" (Enzykl. 214). E noutro passo: "A idia pode ser captada como a razo (Vernunft), alm disso, como sujeito-objelo, como unidade do real e do ideal, do finito e do infinito, da alma e do corpo, como a possibilidade que tem em si mesma sua realidade, como aquilo cuja natureza s pode-se concebida como existente, ele, porque nela esto contidas todas as relaes (Verhltnisse) do entendimento, infinito retorno e identidade em si" (Id. Ib.). A idia absoluta portanto, a unidade dos opostos e seu princpio de emanao e anulao. Isto , ela a "fora" (Krafl) que permite a emanao de todo ente em suas oposies. Qual , ento, a atividade desta "fora"? A idia foi determinada como "espirito" (Geist), "razo" (Vernunft), "sujeito" (Subjekt). A atividade especifica do "espirito" : "pensar" (Denken) e o "pensar" se realiza no "julgar" (Urteilen). que se expressa em "proposies" (Stze). "Pensar" "refletir", "alo de reflexo". Na "reflexo" bipartimo-nos e permanecemos num nico e mesmo eu: na conscincia que j lemos e na conscincia que faz disto um objeto (Gegenstand). Temos a o modelo originrio da "unidade dos opostos". Assim, quando Hegel fala de juizo (Urteil) como pensar (denken), est a implcito o sentido etimolgico da palavra alem Urteilung Ur-teilung isto , uma "partio originria" do absolutamente nico. Tudo o que e do qual se diz que realmente deve ser concebido como resultado da atividade (Tligkeit) da idia enquanto um "Urteilen". Com isto no se est, evidentemente, afirmando um processo dedutivo dos singulares factuais, a partir do esprito absoluto. Trata-se, antes, da compreenso da essencialidade (Wesenhaftes) em todos os singulares factuais. Cada juizo, como Ur-teil, contm, em si, o principio de uma dualizao. Ele desdobra o sujeito em seus predicados, volta-se refletidamente sobre o julgado, reflete sobre aquilo que ele j tem no julgado: o sujeito desdobra-se nele e , a, apesar disso, um nico e mesmo sujeito pensante. Todo juzo, assim, no uma concluso (Schluss), mas uma deciso (Entschluss): a idia decide-se por isl dualizao (Entzweiung) consigo mesma. So as decises do espirito, nas quais o ente e criado. A idia , pois, principio do movimento. Com isto Hegel pode dizer que a lgica (dialtica), com a qual o sistema principia, a apresentao (Darstellung) do esprito absoluto, isto , o modo no qual o espirito, pensando, se torna consciente. Esta relao originria (dialtica) do ser uno (Einssein) no ser separado (Getrenntsein) a prpria estrutura
do pensar. Observa-se aqui a diferena entre Hegel e Kant. Para este, o ser (Sein) predicado da posio do ser no juzo, resultante da espontaneidade do entendimento. Desde que o entendimento, na posio das coisas sobre as quais ele julga, no as pode produzir, mas est prisioneiro do dado, isto , de uma receptividade, o ser posto em toda atividade do entendimento apenas ser-para-ns: fenmeno. Ou seja, mesmo as mais altas atividades do pensar, as inferncias sistematizantes da razo (Vernunft) do condicionado ao incondicionado, do finito ao infinito, tem poder apenas sobre o ser-para-ns, isto , sobre o conjunto conexo dos fenmenos, na medida em que estes constituem limite de cognoscibilidade dos dados. Elas no atingem, portanto, o ser tal como ele . Isto porque, a possibilidade, defendida por Kant, de se sustentar, ao mesmo tempo, tese e anttese. pois os opostos parecem no se excluir mutuamente significa que temos de renunciar ao absoluto. Ora. Hegel estabelece um enunciado sobre o prprio ser. Nestes lermos, como ele mesmo o diz, (Wiss. d. l.og. p. 39). a dialtica, anteriormente dada como uma parle separada da lgica, como um procedimento extrnseco e negativo, surge agora como um procedimento pertencente ao prprio ser. Em outras palavras, as limitaes do entendimento devem, no ser recusadas, mas remetidas ao absoluto. Sua relao com o absoluto o movimento no qual cada determinao mostrar que ela transgrediu seus limites, que no se pode pensar mais em lermos de limitude. Vimos assim as vicissitudes por que passa a dialtica. Em Arislteles, a realidade una fundamento do discurso verdadeiro. A dialtica, a este nvel, secundria. A sistematizao do real cabe analtica. Com Kant, a dialtica abandona o nvel lingustico e, atingindo o plano transcendental, participa da natureza da razo, possibilitando, embora numa dimenso limitada, a nica sistematizao possvel da totalidade, onde as idias transcendentais se constituem em princpios eursticos Finalmente, com Hegel, a superao do problema da sntese e da unidade sinttica, no campo do conhecimento, leva a questo para o campo da prpria conscincia individual nas suas relaes com a totalidade das manifestaes existentes. O movimento de negao dos conceitos e sua superao passa a ser no o movimento do aparente, mas da prpria essncia da conscincia. Com isto, a dialtica despreza a lgica analtica formal e se constitui na nica capaz de fornecer a sistematizao universal. Fonte: Revista Brasileira de Filosofia, v. XX, So Paulo: 1970: pp. 474-486. A noo de Norma Jurdica na obra de Miguel Reale Fazer download do texto Explicao do conceito da norma jurdica na obra do Filsofo do Direito Miguel Reale TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. l. TEXTO DA NORMA, NORMA E SITUAO NORMADA Embora o positivismo jurdico radical no corresponda concepo mais aceita pela doutrina, a compreenso dominante da norma continua a v-la como um imperativo acabado e dado antes do caso concreto ao qual ela se aplica. Da a tendncia em confundir o texto da norma com a prpria norma, ou, pelo menos, a tendncia em admitir que a palavra da norma exprime, basicamente, de modo suficiente e adequado, a sua validez. Um sintoma disto podemos observar na constante atribuio norma do carter de generalidade, mesmo quando esta no entendida num sentido estritamente lgico-formal. Alpio Silveira, por exemplo, afirma que a norma , por natureza, geral, procedendo por abstrao, por fixao de tipos, e esclarece: ela se refere a uma classe inteira ou srie de casos, em nmero indefinido, e no a pessoas determinadas, nem a relaes individualmente consideradas, nem a casos concretos 1. A partir da fcil inferir uma oposio entre norma e realidade, em que esta captada como um conglomerado concreto de elementos heterogneos ou singularmente homogneos, juridicamente no ordenado. Esta oposio no radical, pois a realidade participa da norma, na medida em que a lgica jurdica dominante (que no estritamente formal) a concebe no propriamente como texto, mas como contexto, onde os elementos fticos esto abstratamente representados em termos de mdia uniforme, despojada de caracteres especficos.2
Assim, a aplicao da norma realidade concreta vista, na maior parte das vezes, no como processo silogstico, mas como um processo de adaptao, entendido como uma "operao valorativa e prudencial".3 Embora no radical, a oposio estabelecida insiste, contudo, em ver na norma algo distinto da realidade, onde a situao normada aparece como um terceiro obtido em funo do ato interpretativo. Este , esquematicamente, o quadro em que se desenvolve a anlise crtica de Miguel Reale. Nele esto includas as contribuies da jurisprudncia sociolgica de Ehrlich, Duguit, Roscoe Pound, os princpios exegticos da escola da livre investigao de Gny e do Direito livre, da jurisprudncia axiolgica de Westermann e Reinhardt que se prope um reexame da antiga jurisprudncia dos interesses de Heck, sem falar do realismo americano, assim como da lgica do humano e do razovel de Recasns Siches. Sua crtica no se volta, pois, contra o formalismo conceptual vigente ainda nos primeiros anos deste sculo, mas sim contra uma certa indeciso existente ainda na doutrina atual, que permite que a combatida concepo da normatividade jurdica abstrata, expulsa pela porta da frente, entre, sorrateira, pela porta dos fundos. A ns nos interessa, pois, menos a sua oposio ao normativismo formalista de Kelsen, presente nas suas primeiras obras e, em parte, tambm nas ltimas, muito mais a sua viso crtica do normativismo concreto, porque nela no apenas se evidencia a complexidade das estruturas normativas e que j encontramos, por exemplo, em Lask mas sobretudo prope a superao de uma concepo dispersiva e incapaz de fazer frente chamada crise do direito, entendida principalmente como perda de confiana nas solues normativas, que provoca um inegvel desajuste ou conflito entre as condies existenciais e as normas jurdicas vigentes.4 O reexame da estrutura da norma jurdica em Miguel Reale tem um dos seus pontos bsicos na reinterpretao da prpria realidade, qual o direito se refere. O neokantismo, como sabemos, para evitar as tendncias reducionistas do sociologismo e do psicologismo jurdicos, considera esta realidade como produto de um processo de transformao, cujas condies esto na estrutura do pensamento. Conforme a forma categorial da sntese, um mesmo dado material, onde o processo de transformao se inicia, aparece-lhe, no resultado do processo, ou como natureza, ou como cultura, isto , ou como fenmeno social condicionado por leis de causalidade ou como situao juridicamente significativa. Para muitos juristas esta frmula revela-se bastante apropriada, pois a situao juridicamente relevante, em face da totalidade dos acontecimentos, parece efetivamente o resultado de uma transformao que se produz atravs de juzos guiados por critrios de direito. Nesta concepo, portanto, o material dado, ou seja. um acontecimento qualquer, algo no diferenciado e sem forma, o qual adquire o sentido de uma ao humana apenas na medida em que o referimos a um sentido transcendental, por exemplo, a norma jurdica. As prprias normas, portanto, ao contrrio do que se d no sociologismo ou no psicologismo, no so meros reflexos daquilo que j se contm no material, mas envolvem uma posio constitutiva por parte de quem as emana ou positiva. Se isto, de um lado, garante para a norma um estatuto prprio e particular, de outro esvazia o mundo dos fatos e, em consequncia, a prpria relao entre estes e a norma, concebida abstratamente no seu aspecto puramente lgico-transcendental. Ora, no pensamento de Miguel Reale, o fato no jamais tomado como um pretenso fato puro originrio, como um dado bruto recebido ab extra, mas significa aquilo que j existe num dado contexto histrico; o fato, de um modo geral, , para ele, uma poro do real qual se refere um conjunto de qualificaes, ou, expresso numa linguagem fenomenolgica, a base de um complexo convergente de significaes, que pressupem um eidos, isto , uma essncia, inconfundvel com o fato, como tal.5 Nestes termos, sob o prisma da norma (em elaborao), fato quer dizer tanto o dado de natureza ou um acontecimento independente da vontade humana, como os eventos e realizaes resultantes dela (os objetos histrico-culturais) inclusive os modelos jurdicos enquanto j positivados, isto , j feitos pelo homem.6 H no conceito de fato uma nota de tipicidade, embrionria e de natureza axiolgica, no sendo, portanto, algo que, em dado momento, passa a fazer parte do mundo jurdico, mas sim algo j dotado de sentido.7 Esta concepo de fato permite, assim, a Miguel Reale, uma reinterpretao da estrutura da norma na sua referncia realidade. A norma deixa de ser a um a priori, dado antes do caso concreto, um esquema ou medida de validez da realidade,8 para sem um modelo funcional que contm em si mesmo o fato, em outras palavras, que envolve em si, como componente integrante, intrnseco e necessrio, o momento
situacional. Deste modo, enquanto no normativismo abstrato, a norma se contrape ao caso concreto em termos de ajuste ou desajuste, isto , a norma, confundida com o seu texto, um tipo geral oposto individualidade concreta, qual ela tem de ser adaptada, no normativismo concreto de Reale, a norma se conexiona intimamente com a sua realizabilidade.9 Por conseguinte, se possvel afirmar-se que a norma jurdica, enquanto texto, um juzo lgico ou proposio normativa onde este visto como simples suporte ideal, graas ao qual uma dada poro da experincia humana qualificada especificamente como experincia jurdica, preciso, por outro lado, dizer-se que a norma alberga, na sua estrutura, um campo que lhe prprio e um programa que constituiu o seu sentido (prospectivo). Em outras palavras, sua concepo de norma coloca dentro dela mesma a problemtica da relao direito e realidade. Com isto se elimina a oposio que se observa mesmo em certas concepes do normativismo concreto, entre o direito como norma e o direito como conduta. O direito , para Reale, a norma e mais a situao normada, isto , a situao normada no um terceiro, em relao prpria norma e realidade concreta, mas constitui, com a norma, in concreto, uma totalidade significativa.10 Com esta compreenso da norma, o campo de seu repertrio o complexo ftico no pode ser analisado separadamente por uma sociologia cega para um momento normativo, nem o programa que lhe imanente e que lhe confirma e lhe garante o sentido o complexo axiolgico pode ser objeto de uma considerao desligada do prprio repertrio, nem, finalmente, a prpria norma, enquanto texto, pode ser entendida, se reduzida a um mero suporte ideal, sob pena de incorrermos num formalismo abstrato. No basta, entretanto, mostrar, topologicamente, que a norma constitui, por si, uma estrutura complexa, onde diferentes elementos se contrapem e se implicam numa totalidade. preciso uma demonstrao de qualidade hermenutica desta estrutura, para que no se incorra nos defeitos que apresenta, por exemplo, a concepo dialtica de Schindler ou a teoria do "valer-para" de Lask, que se revelam impotentes, quando examinadas nas suas bases ontolgicas, para superar o problema que a prpria complexidade estrutural do Direito coloca e que redunda na desorganizao do pluralismo jurdico e na desintegrao do seu sistema. Isto nos conduz, pois, anlise, que Reale denomina fenomenolgica do ato interpretativo. 2. DIMENSO HERMENUTICA DA ESTRUTURA NORMATIVA A interpretao, diz Reale, sempre um momento de inter-subjetividade: o meu ato imerpretativo procurando captar e trazer a mim o ato de outrem, no para que eu mesmo signifique, mas para que eu me apodere de um significado objetivamente vlido.11 O ato de interpretao, portanto, implica uma duplicidade inicial, onde dois elementos polares sujeito e objeto esto postos um diante do outro. Esta polaridade, entretanto, no significa um abismo irredutvel, donde a constatao de uma unidade precria, de natureza meramente lgica, mas sim uma integrao aberta, em que os elementos constituem uma sntese: para o intrprete, aquilo que se interpreta consiste em algo objetivo, mas aquele no se limita a reproduzilo, mas contribui, de certa maneira, para constitu-lo em seus valores expressivos.12 Num segundo momento, contudo, esta duplicidade inicial se esclarece como "inter-subjetividade", na medida em que o algo objetivado a que se dirige o ato interpretativo no uma coisa mas um outro ato: as intencionalidades objetivadas constituem o domnio prprio da interpretao.13 Inter-subjetividade significa, pois, uma vinculao entre dois elementos que se pem distintamente, mas ao mesmo tempo se interpenetram e se limitam. A consequncia disto, para a hermenutica, a correlao assinalada por Reale entre o ato interpretativo e o ato normativo, no se podendo, seno por abstrao e como linha de orientao da pesquisa, separar a regra e a situao regrada.14 O instante de encontro de ambos se d propriamente na norma jurdica, entendida no como atualizao de um valor prvio e absoluto, mas como momento de uma experincia estimativa especfica, em que o complexo ftico e o complexo axiolgico se sintetizam, graas interferncia decisria do Poder.15 Ora, dada a natureza peculiar da participao do Poder na normognese jurdica, a imperatividade da norma passa a distinguir-se tanto do querer psicolgico do legislador quanto de uma validez absoluta que se especifica, resultando, ao contrrio, do processo de objetivao de valores, que se realiza, por sua vez, atravs de manifestaes concretas da vontade. A norma no , assim, um co mando de ordem volitiva, mas uma prescrio de carter axiolgico. que no obriga em virtude do puro querer de quem emana a norma, mas sim em virtude da presso objetiva que os valores exercem no meio social. 16 Desta concepo do ato normativo, segue-se a impossibilidade, para o intrprete, de fazer abstrao da nota
de prescritividade valorativa nsita na estrutura da frmula objetivada.17 Ou seja, o intrprete, ao compreender a norma, refaz o caminho da frmula normativa ao ato normativo: tendo presentes os fatos e os valores dos quais a norma promana, bem como os fatos e os valores supervenientes, ele a compreende, a fim de aplicar em sua plenitude o significado nela objetivado.18 A dimenso hermenutica da estrutura da norma torna-se, pois, evidente. De um lado, a realidade, ou melhor, o complexo ftico, inseparvel da norma nos quadros da sua normatividade, revela-se hermeneuticamente como componente constitutivo da prpria norma. De outro, o complexo axiolgico evidencia, igualmente, a sua qualidade constitutiva no plano hermenutico. A dimenso hermenutica da norma , na verdade, um aspecto particular da correlao sujeito-objeto, toda interpretao implicando uma compreenso da estrutura da norma e vice-versa. Isto , no s o ato interpretativo se correlaciona a uma tomada de posio perante o ser mesmo do direito, mas tambm a anlise estrutural da norma exige a dimenso hermenutica: toda norma, por ser sempre representao de um valor e objeto de volio, jamais pode deixar de ser interpretada, no podendo haver norma que dispense interpretao (essencialidade do ato interpretativo).19 A norma se clarifica, neste sentido, como modelo jurdico enquanto estruturao volitiva do sentido normativo dos fatos sociais, referido a modelos dogmticos, enquanto estruturas teorticas que procuram captar e atualizar o valor da norma na sua plenitude.20 Os modelos jurdicos no so puras abstraes, ou seja, no so meros esquemas ideais, pois a normatividade que eles expressam abstratamente se articula necessariamente com fatos e valores, configurando-lhes o carter de modelos operacionais. Eles resultam de um trabalho de aferio de dados da experincia", tendo em vista a determinao de um tipo de comportamento possvel e tambm necessrio convivncia humana.21 Do mesmo modo, os modelos dogmticos tambm no so nem puras abstraes nem meros esquemas de aplicao, mas envolvem uma certa opo ou preferncia, resultante da aferio objetiva dos elementos analisados, correspondendo a uma intencionalidade tericocompreensiva, cuja natureza tambm operacional. Na concepo de modelo de Reale, pois, existe uma articulao dos pressupostos teorticos com a atualizao da experincia, em termos operacionais. Com isto possvel e mesmo necessrio correlacionar o momento abstrativo do estabelecimento volitivo da regra com o momento dogmtico da sua compreenso, o que implica, em ltima anlise, a superao do entendimento da Dogmtica Jurdica no sentido de mera aplicao prtica.22 Este correlacionamento, ademais, no se d na forma de um recorte isolado no fluxo da experincia jurdica. Ele no esttico, o que o tornaria abstrato, em que pese o carter concreto-operacional dos elementos postos em relao. Ao contrrio, o prprio movimento entre ambos, submetidos ao que Reale denomina de dialtica de implicao-polaridade, dinmico. Esta dinamicidade peculiar localiza-se na sua natureza essencialmente axiolgica. Os valores, para ele, no podem ser concebidos sem a sua permanente referibilidade histrica, na medida em que transcendem cada forma de objetivao normativa, no ato mesmo em que a tornam possvel.23 Assim, se de um lado, a norma jurdica assinala um momento conclusivo, mas no isolado e abstrato, visto achar-se inserida num processus sempre aberto supervenincia de novos fatos e novas valoraes,24 isto exige, por outro, por parte do intrprete, uma atitude histricocultural que vai, por assim dizer, para alm de uma semntica ingnua, no sentido de que as palavras da norma podem assumir um significado no previsto pelo legislador. A temporalidade prpria do direito, afirma Reale, no , pois, necessariamente sucessiva e linear, podendo comportar tanto a interpenetrao como a simultaneidade das formas e fases.25 O prprio ato interpretativo, por isso, significa, ao mesmo tempo, a sobrevivncia de formas temporais passadas e a projeo das significaes passadas no futuro, no sentido da sua atualizao prospectiva.26 A dimenso hermenutica da estrutura da norma revela, deste modo, para a pesquisa cientfica do direito, a integrao do momento de abstrao conceitual e o momento tcnico ou operacional, no havendo interpretao e aplicao da norma que no implique o sentido da totalidade do ordenamento, nem apreciao de um fato que juridicamente no se resolva em sua qualificao, em funo da tipicidade normativa que lhe corresponde.27A concepo de Reale da estrutura da norma, acolhendo no seu interior as exigncias axiolgicas e as condicionalidades existenciais que nela se transformam nas razes imanentes da normatividade, diramos, hermenutica, permite, pois, uma viso organizada dos fenmenos de positivao e de aplicao do direito. No ponto intermedirio de convergncia, a norma no vista como
condio a priori de uma deciso, condio cuja certeza garante a certeza da deciso, mas , ela prpria, o produto de um processo decisrio multidimensional. Isto abre caminho para um reexame do direito como uma constelao de fatores em comunicao. 3. ESTRUTURA DA NORMA E PROCESSO DE COMUNICAO No seu O direito como experincia, que nos parece sua obra mais importante e que nos serve de base para exame do seu pensamento, Miguel Reale, ao encerrar sua anlise sobre o tempo no direito, afirma-lhe o carter no necessariamente sucessivo ou linear. Segue-se da, continua ele, a possibilidade de que a Ciberntica venha abrir novas perspectivas para a compreenso do tempo social e histrico, pois, de acordo com McLuhan a sincronizao instantnea de numerosas operaes, prpria da automao, tornam sem sentido o modelo mecnico das operaes em sequncia linear.28 Nestes termos, conclui Reale, os modelos jurdicos obedecem a uma temporalidade concreta, caracterizada por um permanente renovarse ou refazer-se das solues normativas.29 Este entendimento do modelo jurdico, que implica a sua operacionalidade, no exclui a linguagem ciberntica, embora a ela no se reduza.30 A palavra ciberntica, originalmente, no se referia aos problemas lingsticos. O seu modelo inicial o da retro-alimentao. O princpio da retro-alimentao permite a conservao da situao de estabilidade em sistemas fechados. Dado o fato de que inmeros fenmenos biolgicos, ou melhor, fisiolgicos podiam ser esclarecidos atravs dele por exemplo a temperatura do corpo a ciberntica passou a ocupar-se cada vez mais com o homem, sobretudo no terreno da teoria da informao, cuja aplicabilidade aos problemas lingusticos patente.31 Para Wiener, a informao no nem matria nem energia, mas um terceiro. O modelo lingustico a subjacente o modelo ontolgico tradicional, na medida em que palavra (sinal grfico ou fontico) atribui-se a qualidade especial: informao. Isto se revela com clareza no campo jurdico. Wiener esclarece que, para que os cidados possam ter uma estimativa prvia segura dos seus direitos e deveres, exigida a possibilidade de previso das decises judiciais em cada caso dado. Isto pressupe que as normas, mais especificamente, as leis sejam claras. Segue-se, da, a obrigao, para o legislador, de produzir enunciados claros e unvocos, de tal modo que no apenas o jurista, mas qualquer pessoa pudesse interpret-los de um nico modo. O prprio Wiener reconhece o carter ideal desta concepo, afirmando mesmo que, na verdade, qualquer conceito jurdico novo s se torna inteligvel e toma um sentido determinado depois de passar por um processo de preciso, atravs da jurisprudncia.32 A aplicao da ciberntica ao direito vista, por isso, pelos prprios juristas com alta dose de ceticismo. A doutrina tradicional concebe o papel do juiz, no processo comunicativo, em termos de mero receptor passivo, em que pesem as teorias sobre a participao ativa da jurisprudncia na produo do direito. Por parte do legislador estabelece-se a exigncia supramencionada de clareza e preciso. evidente que esta exigncia, nos quadros tradicionais, no pode ser mantida. Mesmo um legislador dotado de uma fantstica imaginao no pode prever todas as situaes futuras. Por isso, o juiz, que no pode furtar-se a uma deciso, ou se v obrigado a recusar relevncia jurdica a um fato no previsto ou a criar, ele prprio, um modelo novo, capaz de resolver o problema, mas, de algum modo, sem deixar de prender-se aos modelos normativos vigentes. Este dilema se funda numa concepo da linguagem, onde a relao norma-realidade tem de ser abstratamente colocada, e que culmina no problema da lacuna. Na doutrina tradicional, cada expresso conceitual de um comportamento refere-se a um comportamento real. Isto pressupe que esta referncia seja clara e conhecida por todos. Sabemos, entretanto, que na prpria literatura jurdica, isto no se d. H uma tendncia generalizada, sobretudo na civilstica, em admitir que a lei se serve, necessariamente, de expresses genricas, o que exige do aplicador da lei um trabalho de interpretao e de concretizao do preceito abstrato. Do ngulo da teoria da cincia, esta exigncia, entretanto, no vista como uma limitao, mas, ao contrrio, como uma conquista do progresso cientfico: 33 o processo de abstrao, numa comunidade lingustica, indica o caminho do progresso, assinalando o uso de expresses abstratas um alto grau de desenvolvimento. A abstrao torna-se, neste sentido, um instrumento de preciso da comunicao. No plano jurdico, a utilizao de conceitos abstratos est unida possibilidade de cobrirse a desproporo entre o logos limitado e o ilimitado das situaes concretas, ou pelo menos, possibilidade conferida ao juiz de cobrir, por meio da analogia, o vcuo normativo. A utilizao da analogia, entretanto, como vimos, revela-se, ao contrrio, como um fator de insegurana, na medida em que no h nem pode haver uma delimitao precisa do princpio da semelhana. Isto coloca o juiz ou o advogado ou o
promotor, enquanto receptores no processo comunicativo, na difcil situao de procurar, atravs de comparaes aproximadas, a relao entre casos concretos, referidos a padres abstratos, dificuldade que qualquer jurista pode perceber j no compendiar as revistas especializadas e que reproduzem catlogos de decises, remetidas a ndices de termos-chave, necessariamente incompletos e imperfeitos. A este modelo lingustico e epistemolgico aqui esboado vincula-se, pois, a Dogmtica Jurdica tradicional, prendendo-se ao princpio de diviso dos poderes, que, em termos comunicolgicos, implica uma concepo abstrata do sistema jurdico enquanto sistema de comunicao. Prevalecendo a o aspecto tcnico-formal de vigncia da norma, cujo sistema se ordena, basicamente, segundo uma escala linear e hierrquica, a doutrina tradicional torna-se cega para a exigncia de operabilidade e comunicao do discurso jurdico.34 Uma superao deste ponto de vista s se produz por uma recolocao do problema da linguagem jurdica em termos comunicolgicos, em cuja base est uma concepo concreta da norma, tal como a encontramos em Miguel Reale. Esta recolocao pressupe uma perspectiva semitica, onde as funes pragmticas, semnticas e sintticas da linguagem so vistas de um ngulo integrador, que encontramos esboado na concepo de norma de Miguel Reale, vista como um modelo volitivo tridimensional concreto e dinmico. Esta concepo permite, desde logo, um relacionamento novo dos componentes do processo de comunicao do direito, na medida, por exemplo, em que se supera a viso abstrata da dogmtica jurdica como mero receptor passivo que simplesmente aplica a norma emitida pelo legislador lato sensu. Mas, sobretudo, a idia de que regra jurdica inerente a informao da exigncia de uma opo axiolgica havida como essencial a uma conduta tpica,35 nos remete necessariamente ao sentido operacional do direito. Este sentido operacional implica que as regras de comportamento e seus objetivos no so fixados a priori (isto , o Direito no um a priori formal da vida social, maneira neokantiana) mas so resultado de um processo. A palavra resultado no nos deve confundir. Ela deve ser entendida no sentido de opo axiolgica, pois para Reale, todo valor, inerente norma, escolhido, no pertencendo a ela por natureza. Assim, valores, uma vez escolhidos na positivao normativa, podem mudar, ou porque os fatos que eles iluminavam so outros ou porque os objetivos que eles prescreviam se transformaram. Ora, isto explica a possibilidade de proliferao de objetivos e o consequente aparecimento de conflitos em larga escala. Ora, o sentido operacional do modelo jurdico est justamente na inverso desta possibilidade, na medida em que, na soluo normativa, o nmero de objetivos se reduz, tornando-se possvel o controle dos conflitos. Este sentido operacional no se localiza, pois, nem nas proposies valorativas no se deve matar nem nas proposies fticas h homens que matam outros homens mas algo peculiar norma quem matar ser punido. Fonte: Textos Clssicos de Filosofia do Direito - Publicao em Homenagem ao Professor Miguel Reale, RT, So Paulo: 1981, pp. 150-161. A teoria tridimensional do direito de Miguel Reale Foi nos quadros de uma mentalidade fortemente positivista, evolucionista e naturalista que, em 1940, Miguel Reale publicou o seu Funda-mentos do Direito, provocando uma grande mudana no panorama jusfilosfico brasileiro que se faria sentir sobretudo aps a Segunda Guerra. Esta mudana ntida na passagem da obra de 1940 para a primeira edio, treze anos mais tarde, de sua Filosofia, do Direito, cujas edies sucessivas comeam a esboar, talvez pela primeira vez no Brasil, um imenso esforo de sntese e superao, na direo de um sistema jusfilosfico elaborado a partir de premissas universais, das quais se extraem conse-quncias prprias. Em sua obra inicial, j h, sem dvida, um esforo de articulao de idias que remontam a Kant, Hegel, Marx, nos quadros de um histori-cismo e de um culturismo jurdicos. Nota-se, contudo, ainda um neokantismo acentuado, permeado mais largamente pela Escola de Baden, mas que, a partir de 1950, vai sendo substitudo por um dilogo fecundo com as reflexes de Nicolai Hartmann, Max Scheler, Husserl, que culminaria no estabelecimento da experincia como um centro nuclear de toda uma jusfilosofia.
possvel descobrir aqui razes de sua Teoria Tridimensional do Di-reito. Isto porque, na relao entre o normativo e o ftico, ao contrrio do neokantismo, o "fato" no chega jamais tomado, por Miguel Reale, como "um pretenso fato puro originrio", como um dado bruto ab extra, mas significa "aquilo que j existe num dado contexto histrico; o "fato", de um modo geral, "uma poro do real qual se refere um conjunto de qualificaes", ou, expresso numa linguagem fenomenolgica, "a base de um complexo convergente de significaes, que pressupem um eidos, isto , uma "essncia", inconfundvel com o fato, como tal. Nestes termos, escreveria ele mais tarde, sob o prisma da norma (em elaborao), fato quer dizer tanto um "dado de natureza ou um acontecimento independente da vontade humana, como os eventos e realizaes resultantes dela (os objetos histrico-culturais) inclusive os modelos jurdicos enquanto j positivados, isto , j feitos pelo homem. Se verdade que as normas jurdicas se dirigem aos fatos, ao disciplin-los, Reale deixa entrever, no conceito de "fato", uma "nota de tipicidade", embrionria e de natureza axiolgica, no sendo, portanto, algo que, em dado momento, passa a fazer parte do mundo jurdico, mas sim algo "j dotado de sentido". Ou seja, o fato, ao qual se dirige a norma, no ganha "forma" apenas porque se torna contedo normativo (como em Kelsen, por exemplo), mas contm j alguma forma, que no se reduz inteira-mente norma: a percepo do valor. Esta concepo de fato permite, assim, a Miguel Reale, uma reinter-pretao da estrutura da norma na sua referncia "realidade". A norma deixa de ser a um a priori, dado antes do caso concreto, um "esquema" ou 'medida" de validez da "realidade", para ser um "modelo funcional" que contm em si mesmo o "fato", em outras palavras, que envolve em si, como componente integrante, intrnseco e necessrio, o momento situacional e sua carga valorativa. Est a o esquema central do tridimensionalismo. Desse modos, enquanto no normativismo abstrato, prprio de uma teoria da aplicao do direito ingnua e no reflexiva, a norma se contra-pe ao caso concreto em termos de ajuste ou desajuste, isto , a norma, confundida com o seu texto, vista como um tipo geral oposto individualidade concreta, qual ela tem de ser adaptada, no tridimensionalismo de Reale, a norma se conexiona intimamente com a sua "realizabilidade". Por conseguinte, se possvel afirmar que a norma jurdica, como texto, um "juzo lgico" ou "posio normativa" onde este visto como sim-ples "suporte ideal", graas ao qual "uma dada poro da experincia hu-mana qualificada especificamente como experincia jurdica", preciso, por outro lado, dizer-se que a norma alberga na sua estrutura, um campo que lhe prprio (fato) e um programa que constitui o seu sentido prospectivo (valor). Mas a mera justaposio, numa s estrutura, de norma, fato, valor, ainda no suficiente para entender o fenmeno jurdico. A relao de trs dimenses j era conhecida como o resultado de uma atividade cognoscente, perspectivista. A isto Reale denominou tridimensionalismo abstrato. Como se a realidade jurdica conhecesse ordens, em si indepen-dentes, que a subjetividade punha em contato. Ao contrrio, a concepo de Reale coloca dentro da norma mesma a problemtica da relao "direi-to" e "realidade". Com isto se elimina no s a oposio que se observava entre o "direito" como "norma" e o "direito" como "conduta", mas a estru-tura abstrata qual se acresce a dimenso valorativa. O direito , ento, para Reale, "a norma e mais a situao normada" como tipicidade axiolgica, isto , a "situao normada" no um terceiro (plano dos fa-tos), em relao ao valor e prpria norma, pois a realidade jurdica, na sua concretude, constitui, com a norma e a situao valorada, in concreto, uma totalidade significativa. Com essa compreenso da realidade jurdica, o campo do repertrio das normas o "complexo ftico" no pode ser analisado separadamen-te, por uma sociologia cega para um momento normativo, nem o progra-ma que lhe imanente e que lhe confirma e lhe garante o sentido o "complexo axiolgico" pode ser objeto de uma considerao desligada do prprio repertrio, nem, finalmente, a prpria norma, como texto, pode ser entendida, se reduzida a um mero "suporte ideal", sob pena de incorrermos num formalismo abstrato, prprio do trialismo abstrato. Entende-se, assim, o que Reale chama de tridimensionalismo con-creto. A norma se clarifica, nesse sentido, como o que Reale chamar de "modelo jurdico" como "estruturao volitiva do sentido normativo dos fatos sociais", referido a "modelos dogmticos", como "estruturas teorticas" que procuram captar e atualizar
o valor da norma na sua plenitude. Este correlacionamento, ademais, no se d na forma de um recorte isolado no fluxo da experincia jurdica. Ele no esttico, o que tornaria de novo abstrato, em que pese o carter concreto e operacional dos elementos postos em relao. Ao contrrio, o prprio movimento entre ambos, submetidos ao que Reale denomina de "dialtica de implicao-polaridade", dinmico. Esta dinamicidade peculiar localiza-se na sua natureza essencialmente axiolgica. Da sua concepo de uma tridimen-sionalismo concreto e dinmico. Os valores, para ele, no podem ser concebidos sem a sua permanente referibilidade histrica, na medida em que transcendem cada for-ma. De um lado, a norma jurdica assinala um "momento conclusivo", mas no isolado e abstrato, visto achar-se inserida num processus sempre aberto supervenincia de novos fatos e novas valoraes, isto exige, por outro, por parte do intrprete, uma atitude "histrico-cultural" que vai, por assim dizer, para alm de uma semntica ingnua, no sentido de que as palavras da norma podem assumir um significado no previsto pelo legislador. No tridimensionalismo concreto e dinmico, a temporalidade pr-pria do direito, afirma Reale, no , pois, necessariamente, sucessiva e linear, podendo comportar tanto a interpenetrao como a simultaneida-de das formas e fases. Em consequncia, o prprio ato interpretativo, por isso, significa, ao mesmo tempo, a sobrevivncia de formas temporais passadas e a projeo das significaes passadas no futuro, no sentido da sua atualizao prospectiva. Esta concepo permite, em suma, a Miguel Reale, conceber um relacionamento novo dos componentes do processo de comunicao do direito, na medida, por exemplo, em que se supera a viso abstrata da dogmtica jurdica como mero receptor passivo que simplesmente aplica a norma "emitida" pelo legislador lato sensu. Mas sobretudo a idia de que a regra jurdica inerente informao da "exigncia de uma opo axio-lgica havida como essencial a uma conduta tpica", nos remete necessaria-mente ao sentido operacional essencialmente tridimensional do direito. Este sentido operacional implica que as regras de comportamento e seus objetivos no so fixados a priori, isto , o direito deixa definitiva-mente de ser um a priori formal da vida social, maneira neokantiana, para ser o resultado de um processo. A palavra resultado no nos deve confundir. Ela deve ser entendida no sentido de "opo axiolgica", pois para Reale todo valor, inerente norma, escolhido, no pertencendo a ela por natureza. Assim, valores, uma vez escolhidos na positivao normativa, podem mudar, ou porque os fatos que eles iluminavam so outros ou porque os objetivos que eles prescreviam se transformaram. Isto, porm, explica a possibilidade de proliferao de objetivos e consequente aparecimento de conflitos em larga escala. E aqui entra, por fim, o papel do poder. No se trata de uma quarta dimenso do fenmeno. O poder no um elemento, externo e subsistente por si, como se direito e poder fossem realidades distintas e contrapostas. O poder no nem um "outro", por exemplo, um puro fato algo como "fora bruta" , em oposio ao direito que ento lhe "imporia" um regramento, nem uma "fora controladora" capaz de absorver o direito (direito como fora), mas um momento de positividade da opo axiolgica tornada normativa. Direito sem poder no direito, mas poder sem direi-to no poder. Entende-se, assim, o sentido operacional do modelo jur-dico tridimensional concreto e dinmico, localizado, justamente, na inverso da possibilidade de conflitos em larga escala, na medida em que, na soluo normativa positivada (poder), o nmero de objetivos se reduz, tornando-se possvel o controle dos conflitos. Como, porm, a estrutura dinmica, toda positivao desencadeia, a partir dela, novas opes normativas, novos conflitos, donde um processo contnuo de positivaes. Fonte: Cidadania e Cultura Brasileira - Homenagem aos 90 anos do Professor Miguel Reale, Edusp e Fundao Bunge, So Paulo: 2001, pp. 53-57.
Вам также может понравиться
- Modelo - Laudo de VistoriaДокумент8 страницModelo - Laudo de VistoriaMarcelo Sales100% (1)
- Pequena Biografia da AutoraДокумент54 страницыPequena Biografia da AutoraMarcelo Sales100% (3)
- DiarioДокумент1 страницаDiarioMarcelo SalesОценок пока нет
- Prova - Ensino ReligiosoДокумент2 страницыProva - Ensino ReligiosoMarcelo SalesОценок пока нет
- Atos Contratos LicitaçãoДокумент0 страницAtos Contratos LicitaçãoMarcelo SalesОценок пока нет
- Projeto de Pesquisa - Restituição Tributos Indiretos.Документ10 страницProjeto de Pesquisa - Restituição Tributos Indiretos.Marcelo SalesОценок пока нет
- 1 A Defesa Do Consumidor Nas Relações PresenciaisДокумент20 страниц1 A Defesa Do Consumidor Nas Relações PresenciaisMarcelo SalesОценок пока нет
- 3 Petição Inicial Concessão Aposentadoria Com Atividade RuralДокумент6 страниц3 Petição Inicial Concessão Aposentadoria Com Atividade RuralMarcelo SalesОценок пока нет
- DECISÃOДокумент2 страницыDECISÃOMarcelo SalesОценок пока нет
- O Conceito de EmpresaДокумент1 страницаO Conceito de EmpresaMarcelo SalesОценок пока нет
- Trabsconsumidor - FormatadoДокумент5 страницTrabsconsumidor - FormatadoMarcelo SalesОценок пока нет
- Índice Remissivo da Lei de Recuperação e FalênciaДокумент3 страницыÍndice Remissivo da Lei de Recuperação e FalênciaMarcelo SalesОценок пока нет
- Cronograma de EstudosДокумент3 страницыCronograma de EstudosMarcelo SalesОценок пока нет
- Terço Dos HomensДокумент1 страницаTerço Dos HomensMarcelo SalesОценок пока нет
- Direito Das Obrigações - ResumoДокумент8 страницDireito Das Obrigações - ResumoMarcelo SalesОценок пока нет
- Hans Jonas - FichamentoДокумент48 страницHans Jonas - FichamentoMarcelo Sales100% (1)
- A Importância Das Redes Sociais para A Democracia - MARCELO SALES SANTIAGO OLIVEIRAДокумент11 страницA Importância Das Redes Sociais para A Democracia - MARCELO SALES SANTIAGO OLIVEIRAMarcelo SalesОценок пока нет
- Responsabilidade Dos SóciosДокумент2 страницыResponsabilidade Dos SóciosMarcelo SalesОценок пока нет
- Dispensa ColetivaДокумент4 страницыDispensa ColetivaMarcelo SalesОценок пока нет
- FGTS Como Obrigação TributáriaДокумент18 страницFGTS Como Obrigação TributáriaMarcelo SalesОценок пока нет
- Divrcio ExtrajudicialДокумент3 страницыDivrcio ExtrajudicialMarcelo SalesОценок пока нет
- Texto - Gerson - Liberdade de TrabalhoДокумент25 страницTexto - Gerson - Liberdade de TrabalhoMarcelo SalesОценок пока нет
- Direito Internacional PúblicoДокумент12 страницDireito Internacional PúblicoMarcelo SalesОценок пока нет
- Trabalho de Eleitoral - Marcelo Sales Santiago Oliveira - 0309861Документ21 страницаTrabalho de Eleitoral - Marcelo Sales Santiago Oliveira - 0309861Marcelo SalesОценок пока нет
- Taxa de Licença Ambiental No Âmbito Da Construção CivilДокумент18 страницTaxa de Licença Ambiental No Âmbito Da Construção CivilMarcelo SalesОценок пока нет
- IPVAДокумент8 страницIPVAMarcelo SalesОценок пока нет
- Sistema Tributário BrasileiroДокумент19 страницSistema Tributário BrasileiroMarcelo SalesОценок пока нет
- Sistema Tributário BrasileiroДокумент19 страницSistema Tributário BrasileiroMarcelo SalesОценок пока нет
- Lei Da Estratosfera PDFДокумент4 страницыLei Da Estratosfera PDFMarcelo SalesОценок пока нет
- Doe Al 18 09 2013 CDДокумент80 страницDoe Al 18 09 2013 CDDavid MelquíadesОценок пока нет
- Manual Software WspSmartДокумент68 страницManual Software WspSmartDenis Silva100% (1)
- Avaliação de HistóriaДокумент3 страницыAvaliação de Históriabia camposОценок пока нет
- Processo de conversão católica no BrasilДокумент15 страницProcesso de conversão católica no BrasilAlex Silva SilvaОценок пока нет
- APR - Análise Preliminar de Riscos Troca Do Duto Com Uso de PtaДокумент8 страницAPR - Análise Preliminar de Riscos Troca Do Duto Com Uso de PtaGilson Souza SantosОценок пока нет
- Anexo XIV Modelo de Termo de Confidencialidade e Nao Dvulgacao 0209Документ2 страницыAnexo XIV Modelo de Termo de Confidencialidade e Nao Dvulgacao 0209Alfredo CostaОценок пока нет
- O Último Imperador BrasileiroДокумент11 страницO Último Imperador BrasileiroCelinha AraújoОценок пока нет
- Resenha História Social de Hebe CastroДокумент7 страницResenha História Social de Hebe CastroRubens Nunes Moraes71% (7)
- Apostila de Hidráulica básicaДокумент181 страницаApostila de Hidráulica básicaDimas Daniel de Jesus100% (3)
- Intervenções linguagemДокумент26 страницIntervenções linguagemChris C Pires100% (2)
- Uni CampДокумент12 страницUni CampDiego EsОценок пока нет
- Ana Clara Torres Ribeiro - Outros Territórios, Outros MapasДокумент11 страницAna Clara Torres Ribeiro - Outros Territórios, Outros MapasDébora Gomes100% (1)
- Preparação Provas Aferição 2 Ano Mat e Estudo Do MeioДокумент27 страницPreparação Provas Aferição 2 Ano Mat e Estudo Do MeioDulce PintoОценок пока нет
- Adaptações musculares ao treinamento de força excêntricoДокумент11 страницAdaptações musculares ao treinamento de força excêntricoHenrique LimaОценок пока нет
- RJUE - Lei 60 - Apontamentos - DGALДокумент34 страницыRJUE - Lei 60 - Apontamentos - DGALLuis Sousa100% (1)
- Modelos de democracia representativaДокумент5 страницModelos de democracia representativaNatália Soares100% (1)
- Caderno Tecnico Do Lojista - CarrefourДокумент96 страницCaderno Tecnico Do Lojista - CarrefourMaiaraFirminoОценок пока нет
- Pesquisa Operacional - UnipДокумент15 страницPesquisa Operacional - UnipAlisson Guedes Rios100% (3)
- A Matemática dos BabilônicosДокумент5 страницA Matemática dos BabilônicosBreno de Sá da SilvaОценок пока нет
- Planejamento estratégico e gestão no BCBДокумент74 страницыPlanejamento estratégico e gestão no BCBAlecsander RuizОценок пока нет
- Avaliação Diagnóstica de Língua PortuguesaДокумент10 страницAvaliação Diagnóstica de Língua PortuguesaThayna0% (1)
- AbaДокумент12 страницAbaWellОценок пока нет
- Estática dos Corpos RígidosДокумент14 страницEstática dos Corpos RígidosMÁRIO LIMAОценок пока нет
- Projeto Memeorial de Memoraias de Minhas Putas TristesДокумент11 страницProjeto Memeorial de Memoraias de Minhas Putas TristesRosa CesarОценок пока нет
- A Crianca Na Linguagem Zelma BoscoДокумент65 страницA Crianca Na Linguagem Zelma BoscoJessicaОценок пока нет
- DelaysДокумент30 страницDelaysDaniel NatividadeОценок пока нет
- Ritual Do Pentagram AДокумент5 страницRitual Do Pentagram ALenno NascimentoОценок пока нет
- Difusão e OsmoseДокумент2 страницыDifusão e OsmoseossОценок пока нет
- Manual de Classe - LadraoДокумент2 страницыManual de Classe - LadraoSalgado ReiОценок пока нет
- No Rastro Das Presenças Imaginárias: P U C S P P P - C & SДокумент200 страницNo Rastro Das Presenças Imaginárias: P U C S P P P - C & SLuziaAinhorenMeimesОценок пока нет