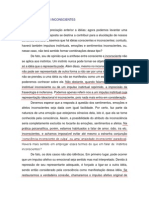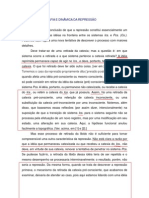Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Conhecimento Dicionário
Загружено:
Anselmo Nykey0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
40 просмотров18 страницОригинальное название
Conhecimento dicionário
Авторское право
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
40 просмотров18 страницConhecimento Dicionário
Загружено:
Anselmo NykeyАвторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 18
Conhecimento
Em geral, uma tcnica para a verificao de um objeto qualquer, ou a
disponibilidade ou posse de uma tcnica semelhante. Por tcnica de
verificao deve-se entender qualquer procedimento que possibilite a
descrio, o clculo ou a previso controlvel de um objeto; e por objeto deve-
se entender qualquer entidade, fato, coisa, realidade ou propriedade. Tcnica,
nesse sentido, o uso normal de um rgo do sentido tanto quanto a operao
com instrumentos complicados de clculo: ambos os procedimentos permitem
verificaes controlveis. No se deve presumir que tais verificaes sejam
infalveis e exaustivas, isto , que subsista uma tcnica de verificao que, uma
vez empregada em relao a um C. x, torne intil seu emprego ulterior em
relao ao mesmo C, sem que este perca algo de sua validade. A
controlabilidade dos procedimentos de verificao, sejam eles grosseiros ou
refinados, significa a repetibilidade de suas aplicaes, de modo que um "C"
permanece como tal s enquanto subsistir a possibilidade da verificao.
Contudo, as tcnicas de verificao podem ter os mais diversos graus de
eficcia e podem, em ltima instncia, ter eficcia mnima ou nula: nesse caso,
perdem, de pleno direito, a qualificao de conhecimento. "O C. de x " significa
um procedimento capaz de fornecer algumas informaes controlveis sobre x,
isto , que permita descrev-lo, calcul-lo ou prev-lo em certos limites. A
disponibilidade ou a posse de uma tcnica cognitiva designa a participao
pessoal dessa tcnica. "Conheo x" significa (salvo limitaes) que sou capaz
de pr em prtica procedimentos que possibilitem a descrio, o cculo ou a
previso de x. Portanto o significado pessoal ou subjetivo de C. deve ser
considerado secundrio e derivado: o significado primrio objetivo e
impessoal, como acima exposto. Esse significado primrio tambm permite
fazer facilmente a distino entre crena e C: a crena (v.) o empenho na
verdade de uma noo qualquer ainda que no verificvel; o C. um
procedimento de verificao ou a participao possvel em tal procedimento.
Como procedimento de verificao, qualquer operao cognitiva visa a um
objeto e tende a instaurar com ele uma relao da qual venha a emergir uma
caracterstica efetiva deste. Portanto, as interpretaes do C. que foram dadas
ao longo da histria da filosofia podem ser consideradas interpretaes dessa
relao e, como tal, resumir-se em duas alternativas fundamentais:
A essa relao uma identidade ou semelhana (entende-se por semelhana
uma identidade fraca e parcial) e a operao cognitiva um procedimento de
identificao com o objetivo ou de reproduo dele; 2 a a relao cognitiva
uma apresentao do objeto e a operao cognitiva um procedimento de
transcendncia.
A primeira interpretao a mais comum na filosofia ocidental. Pode, por sua
vez, ser dividida em duas fases diferentes: A) na primeira, a identidade ou a
semelhana com o objeto entendida como identidade ou semelhana dos
elementos do C. com os elementos do objeto: p. ex., dos conceitos ou das
representaes com as coisas; B) na segunda fase, a identidade ou a
semelhana restringe-se ordem dos respectivos elementos: nesse caso, a
operao de conhecer no consiste em reproduzir o objeto, mas as relaes
constitutivas do prprio objeto, isto , a ordem dos elementos. Na primeira fase,
o C. considerado itnagemou retrato do objeto; na segunda fase, tem com o
objeto a mesma relao que um mapa tem com a paisagem que representa.
) A primeira fase constitui a forma como a doutrina do C. surgiu no mundo
antigo, ou seja, como identificao. Os pr-socrticos exprimiram-se com o
princpio de que "o semelhante conhece o semelhante", pelo qual Empdocles
afirmava que conhecemos a terra com a terra, a gua com a gua, etc. (Fr.
105, Diels). Podem ser consideradas variantes desse princpio
tanto a afirmao de Herclito, "o que se move conhece o que se move"
(ARSTTELES, De an., , 2, 405 a 27), quanto a de Ana-xgoras, segundo a
qual "a alma conhece o contrrio com o contrrio" (TEOFR., De sens., 27).
Esta ltima na realidade parece aludir mais a uma condio do C. que
pressupe a
diversidade como dir Aristteles (De an., , J, 417 a 16) do que ao prprio
ato cognitivo, como indica a justificao que lhe dada: "o semelhante, com
efeito, no pode sofrer a ao do semelhante".
Mas foram Plato e Aristteles que estabeleceram em bases slidas essa
interpretao do conhecimento. O encontro do semelhante com o semelhante,
a homogeneidade, so os conceitos que Plato utiliza para explicar os
processos cognitivos (Tim., 45 c, 90 c-d): conhecer significa tornar o pensante
semelhante ao pensado. Conseqentemente, os graus de C. modelam-se
segundo os graus do ser: no se pode conhecer com certeza, isto , com
"firmeza" o que no firme, porque o C. s faz reproduzir o objeto; por isso "o
que absolutamente absolutamente cognoscvel, enquanto o que no de
nenhum modo de nenhum modo cognoscvel" (Rep., 47 a). Dessa maneira,
Plato estabeleceu a correspondncia entre ser e cincia, que o C.
verdadeiro; entre no ser e ignorncia; entre devir, que est entre o ser e o no
ser, e opinio, que est entre o C. e a ignorncia. E distinguiu os seguintes
graus do C: l suposio ou conjectura, que tem por objeto sombras e imagens
das coisas sensveis; 2 a opinio acreditada, mas no verificada, que tem por
objeto as coisas naturais, os seres vivos e, em geral, o mundo sensvel; 3Q
razo cientfica, que procede por via de hipteses e tem por objeto os entes
matemticos; 4 S inteligncia filosfica, que procede dialeticamente e tem por
objeto o mundo do ser (bid., V, 509-10). Cada um desses graus de C. a
cpia exata do seu respectivo objeto: de modo que no h dvida de que, para
Plato, conhecer estabelecer uma relao de identidade com o objeto em
cada caso, ou uma relao que se aproxime o mximo possvel da identidade.
De forma ainda mais rigorosa esse ponto de vista era realizado por Aristteles.
Segundo ele, o C. em ato idntico ao objeto, se se tratar de C. sensvel; a
prpria forma inteligvel (ou substncia) do objeto, se se tratar de C. intelegvel
(De an., , 5, 417 a). Entende-se que a faculdade sensvel e o intelecto
potencial so simples possibilidades de conhecer, mas quando essas
possibilidades se realizam, a primeira pela ao das coisas externas, a
segunda pela ao do intelecto ativo, identificam-se com os respectivos
objetos; p. ex., ouvir um som (sensao em ato) identifica-se com o prprio
som, assim como entender uma substncia identifica-se com a prpria
substncia. Portanto, Aristteles pode afirmar, em geral, que "a cincia em ato
idntica ao seu objeto" (Dean., , 7, 431 a 1).
Essa doutrina aristotlica pode ser considerada a forma tpica da interpretao
do C. como identidade com o objeto. Com exceo dos esticos, tal
interpretao domina o curso ulterior da filosofia grega. Para Epicuro, o fluxo
dos simulacros (eidold) que se destacam das coisas e se imprimem na alma
serve precisamente para garantir a semelhana das imagens com as coisas
(Ep. aHerod., 51). E Plotino utiliza o mesmo conceito para esclarecer a
natureza do conhecimento. Tem-se C. quando a parte da alma com quese
conhece unifica-se com o objeto conhecido e forma um todo com ele. Se a
alma e esse objeto permanecem dois, o objeto permanece exterior prpria
alma e o conhecimento dele permanece inoperante. S a unidade dos dois
termos constitui o conhecimento verdadeiro (Enn., , 8, 6). Na filosofia crist,
permanece a mesma interpretao, que, alis, serve de fundamento para as
mais caractersticas especulaes teolgicas e antropolgicas. Segundo S.
Agostinho, o homem pode conhecer Deus porquanto ele mesmo a imagem
de Deus. Memria, inteligncia e vontade, em sua unidade e distino
recpocra, reproduzem no homem a trindade divina de Ser, Verdade e Amor
(De Trin., X, 18).
Essa noo, com algumas variaes secundrias, dominou toda a teologia
medieval e tambm foi o fundamento da antropologia. Mas dela derivava uma
conseqncia importante pelo C. que o homem tem das coisas inferiores a
Deus. O reconhecimento da origem divina dos poderes humanos (enquanto
imagens dos poderes divinos) torna os poderes humanos relativamente
independentes dos outros objetos cognoscveis e acentua a importncia do
sujeito cognoscente. Para Aristteles, a faculdade sensvel e o intelecto
potencial nada mais so que seus prprios objetos "em potncia": no tm
nenhuma independncia em face desse objetos. Mas S. Agostinho afirma, ao
contrrio, que "todo C. (notitid) deriva, ao mesmo tempo, do cognoscente e do
conhecido" (Jbid., XX, 12), pondo no mesmo plano o objeto conhecido e o
sujeito eognoscente como condio do conhecimento, S. Toms, embora
sancionando explicitamente o princpio de que todo C. ocorre per
assimilationem {Contra Gent., , 77) ou perunionem{n Sent., , 3, D da coisa
conhecida e do objeto cognoscente, afirma que "o objeto conhecido est no
cognoscente segundo a natureza do prprio cognoscente" {De ver., q. 2, a. 1;
S. Th., , q. 83, a. 1); e assim no conhecer o peso do sujeito vem
contrabalanar o peso do objeto. Esse ponto de vista leva a atenuar a tese
aristotlica, segundo a qual o C. em ato o prprio objeto. S. Toms,
comentando a afirmao aristotlica de que "a alma so todas as coisas" {De
an., , 8.431 b 20) a atenua no sentido de que a alma no so as coisas, mas
as espcies das coisas. Mas a espcie outra coisa no seno a forma das
coisas. C, portanto, abstrao: a forma abstrada da matria individual, o
universal abstrado do particular. Assim, para S. Toms, a espcie estabelece o
limite da identidade entre o cognoscente e o conhecido; mas o conhecer
permanece como identidade. Por sua vez, S. Boaventura, apesar de continuar
fiel ao princpio agostiniano do lumen directivum que o homem haure
diretamente de Deus e do qual derivam certeza e verdade, admite que o
material do C. constitudo por espcies que so imagens, similitudes ou
"quase-pinturas" das prprias coisas {n Sent., , p. 17, a. 1, q. 4). Se, em seu
ltimo perodo, a Escolstica assinala o predomnio de uma interpretao
diferente do conhecer (v. mais adiante), o Renascimento conserva, em geral, a
interpretao do C. como identidade ou semelhana. Nicolau de Cusa diz
explicitamente que o intelecto no entende se no se assimila ao que deve
entender {De mente, 3-; De ludo globi, 1; De venatione sapientiae, 29) e Ficino
diz que o C. a unio espiritual com alguma forma espiritual {Theol.plat., , 2).
Os naturalistas no se exprimem de modo diferente: Bruno retoma o princpio
pr- socrtico de que todo semelhante se conhece pelo semelhante e
Campanella afirma: "ns conhecemos o que porque nos tornamos
semelhantes a ele" {Mel, , 4, 1). O pitagorismo dos fundadores da nova
cincia, Leonardo, Coprnico, Kepler, Ga-lilei, tem pressuposto anlogo: o
procedimento matemtico da cincia justifica-se porque a prpria natureza tem
estrutura matemtica: no sentido de que, como diz Galilei, os caracteres em
que est escrito o livro da natureza so tringulos, crculos, etc. {Opere, V,
pg, 232).
Na filosofia moderna, a doutrina de que conhecer uma operao de
identificao assume trs formas principais, segundo se considere que essa
operao realizada mediante: d) a criao que o sujeito faz do objeto; b) a
conscincia; c) a linguagem. d) O idealismo romntico e as suas ramificaes
contemporneas afirmaram a tese de que conhecer significa pr, isto ,
produzir ou criar, o objeto: tese que permite reconhecer no prprio objeto a
manifestao ou a atividade do sujeito. Essa tese foi afirmada em primeiro
lugar por Fichte. "A representao em geral", disse ele, " irreputavelmente um
efeito do No-eu. Mas no Eu no pode haver absolutamente nada que seja um
efeito; porque o Eu aquilo que ele se pe e nada h nele que no seja posto
por ele mesmo. Portanto, o prprio No-eu deve ser efeito do Eu, alis do Eu
absoluto, e assim no temos uma ao sobre o Eu vinda de fora, mas uma
ao do eu sobre si mesmo" {Wissenschaftslehre, 1794, , 5, 1). Desse
ponto de vista, o No-eu, isto , o objeto, no seno o prprio Eu, isto , o
sujeito: a identidade com o objeto , assim, garantida pela prpria definio de
conhecimento. Esta, obviamente, uma definio arbitrria que no tem efeitos
sobre o xito ou o malogro dos atos efetivos de C. e no servem, por isso, nem
para dirigir nem para esclarecer esses atos. Contudo, o princpio afirmado por
Fichte foi um dos que constituram os pilares do movimento romntico (v.
ROMANTSMO); e a tem origem um dos lugares-comuns mais perniciosos e
enfadonhos, o do "poder criativo do esprito". Schelling s fazia esclarecer seu
significado quando afirmava: "No prprio fato do saber quando eu sei o
objetivo e o subjetivo esto to unidos que no se pode dizer a qual dos dois
cabe a prioridade. No h a um primeiro e um segundo: ambos so
contemporneos e constituem um todo nico {System des transzendentalen
dealismus, ntr., 1). O conceito do conhecer como processo de unificao
domina toda a filosofia de Hegel. A protagonista dessa filosofia, a dia, a
conscincia que se realiza, gradual e necessariamente, como unidade com o
objeto. Diz Hegel: "A dia , em primeiro lugar, um dos extremos de um
silogismo, porquanto o conceito que tem como fim, acima de tudo, a si
mesmo como realidade subjetiva. O outro extremo o limite do subjetivo, o
mundo objetivo. Os dois extremos so idnticos no ser dia. Sua unidade ,
em primeiro lugar, a do conceito, que num deles somente por si e, no outro,
somente em si; em segundo lugar, a realidade abstrata num deles, ao passo
que no outroest em sua exterioridade completa. Essa unidade coloca-se por
meio do conhecer" {Wissenchft der Logik, , cap. ; trad. it., p. 282). Assim,
conhecer o processo que unifica o mundo subjetivo com o mundo objetivo, ou
melhor, que leva conscincia a unidade necessria de ambos. Todas as
formas do idealismo contemporneo atm-se a essa doutrina. Croce a introduz
chamando o conceito de "concreto": e por esse carter dever-se-ia excluir que
ele seja "universal e vazio", "universal e inexistente" e admitir que ele
compreende em si "o ato lgico universal" e o "pensamento da realidade", que
a prpria realidade {Lgica, 4 ed., 1920, p. 29). Gentile afirmava: "Conhecer
identificar, superar a alteridade enquanto tal" {Teoria generale dello spirito, 2,
$ 4). Por sua vez Bradley, mais criticamente, considerava essa identificao
como um ideal-limite irrealizvel em ns, mas realizado na Conscincia
absoluta, na qual C. e ser, verdade e realidade, coincidem {Appearance and
Rea-Hty, p. 181). b) O espiritualismo moderno, em todas as suas
manifestaes, considera o conhecer como uma relao interna da conscincia
consigo mesma. Essa interpretao garante a identidade do conhecer com o
objeto, j que desse ponto de vista o objeto no seno a prpria conscincia
ou, pelo menos, um produto seu ou / uma manifestao sua. Schopenhauer
assim exprimia essa doutrina: "Ningum nunca pode sair de si para identificar-
se imediatamente com coisas diferentes de si: tudo aquilo de que algum tem
C. seguro, portanto imediato, encontra-se dentro da sua conscincia" {Die Welt,
D, cap. ). Conscincia, sentido ntimo, intros-peco, intuio so os termos
que, a partir do Romantismo, a filosofia moderna emprega para indicar o C.
caracterizado pela identidade com seu objeto, por isso privilegiado na sua
certeza. A considerao bsica que, se o sujeito no pode conhecer o que
diferente dele, o nico C. verdadeiro e originrio o que ele tem de si mesmo.
Com base nisso, Maine de Biran via no "sentido ntimo" o nico C. possvel e
interpretava os seus testemunhos como verdades metafsicas {Essais sur les
fondements de a psychologie, 1812). Outras vezes, a conscincia, tambm
chamada de intuio, interpretada como a revelao que Deus faz ao homem
de um atributo fundamental seu (p. ex., do ser, como afirma ROSMN, Nuovo
saggio, 473) ou do seu prprio processo criativo, como faz GOBERT {ntr.
alio studio deliafil., , p. 183). De modo anlogo, a intuio de que fala Bergson
"como viso direta do esprito pelo esprito" {La pense et le mouvant, p. 37)
um procedimento privilegiado de C, no qual o ter : mo objetivo idntico a
subjetivo. E quando Husserl quis esclarecer o modo de ser privilegiado da
conscincia chamou de "percepo imanente" a percepo que a conscincia
tem das prprias experincias vividas: porque o objeto dela pertence mesma
corrente de conscincia a que pertence a percepo (deen, , 38). Com base
nisso, Husserl considera a percepo imanente, isto , a conscincia como
absoluta e necessria: nela "no h lugar para discordncia, aparncia,
possibilidade de ser outra coisa. Ela uma esfera de posio absoluta" {bid.,
46). A exemplificao dada at aqui pode bastar para esse ponto de vista, que
tem grande difuso na filosofia contempornea e, apesar da variedade das
suas expresses, muito uniforme.
c) Paradoxalmente o positivismo lgico transportou para a linguagem, em que
v a operao cognitiva propriamente dita, a doutrina do carter identificador
dessa operao. Wittgenstein afirma que "a proposio pode ser verdadeira ou
falsa enquanto uma imagem {Bild) da realidade" {Tractatus, 4.06). E prova
que a proposio uma imagem da realidade do seguinte modo: "S
conhecerei a situao por ela representada se compreender a proposio. E
compreendo a proposio sem que o seu sentido me seja explicado" {bid.,
4.021).
primeira vista, acrescenta ele, "no parece que a proposio, p. ex. do modo
como est impressa no papel, seja uma imagem da realidade de que trata.
Mas, primeira vista, nem a notao musical parece ser imagem da msica,
assim como nossa escrita fontica (com letras) no parece ser a imagem de
nossa lngua falada. No entanto, esses smbolos demonstram ser, at no
sentido comum do termo, imagens do que representam" {bid., 4.011). A
insistncia na noo da imagem indica claramente que Wittgenstein
compartilha a velha interpretao do conhecer como operao de identificao.
E de fato diz: "Deve haver algo de idntico na imagem e no objeto
representado para que aquela possa ser a imagem deste" (bid., 2.161). Mas
esse algo "a forma de figurao" (Jbid., 2.17). E a forma de
figurao a "possibilidade de que as coisas estejam uma em relao outra
assim como os elementos da imagem esto entre si" (Jbid., 2.151). O que
parece remeter interpretao B da relao identificadora. B) A segunda fase
da doutrina do C. como identificao nasce com a filosofia moderna, mais
precisamente com Descartes. O princpio cartesiano de que a idia o nico
objeto imediato do C, e que, por isso, a existncia da idia no pensamento
nada diz sobre a existncia do objeto representado, obviamente punha em
crise a doutrina do conhecer como identificao com o objeto: nesse caso, o
objeto claramente inalcanvel. Descartes continuara a conceber a idia
como "quadro" ou "imagem" da coisa (Md., , mas nele j aparece a
tendncia (cf. Regulae, V) de ver no C, mais do que a assimilao ou a
identidade da idia com o objeto conhecido, a assimilao e a identidade da
ordem das idias com a ordem dos objetos conhecidos. Malebranche, que
admite que o homem v diretamente em Deus as idias das coisas e, por isso,
considera muito problemtica a realidade das coisas, admite, todavia, essa
realidade como fundamento da ordem e da sucesso das idias no homem;
ordem e sucesso no teriam sentido, pensa ele, se no coincidissem com a
ordem e a sucesso das coisas a que se referem as idias (Entretien sur a
mtaphysique, , 6-7). Spinoza, que admite trs gneros de C. (percepo
sensvel e imaginao; razo com suas noes comuns e universais; a cincia
intuitiva), considera que s os dois ltimos permitem distinguir o verdadeiro do
falso, porque tiram a idia do seu isolamento e a vinculam s outras idias,
situando-a na ordem necessria que a prpria Substncia divina (Et., , 44).
Locke, que define o C. como "a percepo do acordo e da ligao, ou do
desacordo e do contraste das idias entre si" (Ensaio, V, 1, 2), exige, para que
ele seja real, que "as idias correspondam aos seus arqutipos" (bid., V, 4, 8)
e por isso define a verdade como "a unio ou a separao de signos, conforme
as coisas significadas por elas concordem ou discordem entre si" (bid., V, 5,
2). Locke considera que essa referncia a objetos reais no indispensvel ao
C. matemtico e ao moral, mas que indispensvel ao "C. real", que tem por
objeto substncias (bid., V, 4, 12). Para Leibniz, ao lado do C. apriori, fundado
em princpios constitutivos de intelecto, h um C. representativo que consiste
na semelhana entre as representaes e a coisa (Nouv. ess., V, 1, 1). Mas
um e outro C. fazem da alma "um espelho vivo e perptuo do universo", porque
ambos se baseiam na ligao que todas as coisas criadas tm entre si, de tal
modo que "cada substncia simples tem relaes que exprimem todas as
outras relaes" (Monad., 56). Em todas essas observaes, embora no se
negue o carter de semelhana ou de imagem dos elementos cognitivos, o C.
entendido propriamente como identidade com a ordem objetiva. Seu objeto
propriamente essa ordem e o conhecer a operao que tende aidentificar ou
a identificar-se com ele, e no com os elementos singulares entre os quais
intercede. A propsito, a "revoluo coperni-cana" de Kant no consiste em
inovar radicalmente esse conceito de C, mas em admitir que a ordem objetiva
das coisas tem como modelo as condies do C, e no vice-versa. As
categorias so, na verdade, consideradas por Kant como "conceitos que
prescrevem leis apriori aos fenmenos e, portanto, natureza como conjunto
de todos os fenmenos" (Crt. R. Pura, 26). Os fenmenos, no sendo
"coisas entre si mesmas", mas "representaes de coisas", para tanto
precisam, ser pensados e, assim, estar submetidos s condies do
pensamento que so as categorias. Para Kant, a ordem objetiva da natureza,
portanto, outra coisa no seno a ordem dos procedimentos formais do
conhecer, na medida em que essa ordem se incorporou em um contedo
objetivo, que o material sensvel da intuio. Desse ponto de vista, conhecer
no uma operao de assimilao ou de identificao, mas de sntese; e
como tal deve ser considerada sob outro aspecto, do C. como transcendncia.
Pode-se considerar que essa fase da doutrina do C. como assimilao,
segundo a qual o objeto da assimilao a ordem, situa-se entre a primeira e a
segunda interpretao principal do conhecer, ou seja, entre a interpretao do
conhecer como assimilao e a interpretao do conhecer como
transcendncia.
2 Para a segunda interpretao fundamental, o C. uma operao de
transcendncia. Segundo essa doutrina, conhecer significa vir presena do
objeto, apont-lo ou, com o termo preferido pela filosofia contempornea,
transcenderem sua direo. O C. ento a operao em virtude da qual o
prprio objeto est presente: ou presente, por assim dizer, em pessoa, ou
presente em um signo que o torne tastrevel, descritvel ou previsvel. Essa
interpretao no se funda em nenhum pressuposto de carter assimilador ou
identificador: para ela, os procedimentos do conhecer no visam converter-se
no prprio objeto do conhecer, mas a tornar presente esse objeto como tal ou a
estabelecer as condies que possibilitam sua presena, isto , permitem
prev-la. A presena do objeto ou a predio dessa presena constitui a funo
efetiva do C., segundo essa interpretao.
nos esticos que essa interpretao aparece pela primeira vez. Eles
chamavam de evidentes as coisas que "vm por si mesmas ao nosso C." como
p. ex. ser dia; e chamavam de "obscuras" as coisas que costumam escapar ao
C. humano. Entre estas ltimas, distinguiram as obscuras por natureza, que
nunca senos tomam evidentes, e as obscuras momentaneamente, mas
evidentes por natureza (p. ex., a cidade de Atenas para quem mora nela).
Estas duas ltimas espcies de coisas so compreendidas por meio de signos
ou sinais: indicativos para as coisas obscuras por natureza (como, p. ex., o
suor assumido como sinal dos poros invisveis) e rememorativos para as
coisas evidentes por natureza, mas momentaneamente obscuras (assim como
a fumaa um sinal de fogo) (SEXTO EMPRCO, Adv. dogm., , 141; Pirr.
hyp., , 97-102). So reconhecveis, nessa empostao, duas teses
fundamentais: a o C. evidente consiste na presena da coisa, pela qual a coisa
"se manifesta por si" ou "se compreende por si", isto , compreende-se como
coisa, portanto como diferente daquele que a compreende; 2- o C. no
evidente ocorre por meio de signos ou sinais que remetem prpria coisa sem
que tenham qualquer identidade ou semelhana com ela.
Essa doutrina dos esticos ficou esquecida durante muitos sculos,
negligenciada, como possibilidade pela histria da filosofia. Reaparece
somente na Escolstica do sc. XV, com os pensadores que criticam a
doutrina da spe-cies como intermediria do conhecimento. A species, como se
viu, uma tese tpica da doutrina da assimilao: na verdade , ao mesmo
tempo, ato do C. e o ato do objeto (como forma ou substncia deste ltimo).
Mas Duns Scot dis-tinguiria um C. "que abstrai da existncia atual da coisa",
dando-lhe o nome de "abstrativo"', e um "C. da coisa enquanto existente e
presente em sua existncia atual", dando-lhe o nome de intuitivo (Op. Ox., , d.
3, q. 9, n. 6). Ora, o C. intuitivo (que, por um lado, conhecimento sensvel e,
por outro, conhecimento intelectual, que tem por objeto a substncia ou
natureza comum, p. ex., a natureza humana) no tem necessidade de
espcies, porque nele est diretamente presente a coisa em pessoa. S o C.
abstrativo, isto , o C. intelectual do universal, tem necessidade de espcies
(bid., , d. 3, q. 7, n. 2). a essa doutrina que a Escolstica do sc. XV faz
referncia. Durand de St.-Pourains afirma que a espcie intil porque o
prprio objeto est presente ao sentido, e, atravs do sentido, tambm ao
intelecto (n Sent., , d. 3, q. 6, n. 10); portanto, o C. universal somente C.
confuso, pois quem tem o C. universal p. ex., da rosa conhece confu-
sarnente o que intudo distintamente por quem v a rosa que lhe est
presente (bid., V, d. 49, q. 2, 8). Para Pedro Aurolo, o objeto do C. a
prpria coisa externa que, graas ao intelecto, assume um ser intencional ou
objetivo que no diferente da realidade individual da coisa (n Sent., , d. 9, a.
1). Ockham, por sua vez, transforma a teoria scotista do C. intuitivo em teoria
da experincia e afirma a presena imediata da coisa ao C. intuitivo. "Em
nenhum C. intuitivo, sensvel ou intelectivo", diz ele, "a coisa se constitui em ser
intermedirio entre a prpria coisa e o ato de conhecer; mas a coisa mesma,
imediatamente e sem intermedirio entre ela e o ato, vista e apreendida" (n
Sent, , d. 27. q. 3, ). O C. intuitivo perfeito, que tem por objeto uma realidade
atual ou presente, a experincia (bid., , q. 15, H); o imperfeito, que
concerne a um objeto passado, deriva sempre de uma experincia (bid., V, q.
12, Q). Por sua vez, o C. abstrativo, que prescinde da realidade ou da
irrealidade do objeto, deriva do intuitivo e uma intentioou signum. Ockham
reproduz assim a interpretao dos esticos: quando a realidade no est
presente ao C. "em pessoa", anuncia-se ou manifesta-se no signo ou sinal. A
validade do signo conceituai, que, ao contrrio do lingstico, no arbitrrio ou
convencional, mas natural, provm do fato de ser produzido naturalmente, isto
, casualmente, pelo prprio objeto, de tal modo que sua capacidade de
representar o objeto nada mais que essa conexo causai com ele (Quodl, V,
q. 3). Para ilustrar a funo lgica do signo, ou sinal, Ockham utiliza o conceito
da supositio, que fora elaborado pela lgica do sc. X (V. SGNO,
SUPOSO). NO sc. XV, os pontos bsicos dessa doutrina foram
reproduzidos por Hobbes, para quem a sensao, que o fundamento de todo
C, o manifestar-se da coisa atravs do movimento que ela imprime ao rgo
do sentido {Leviath., 1,1; De corp., 25 2). Berkeley substitua a causalidade
da coisa externa, qual esses filsofos atribuam o C, pela causalidade de
Deus: teoria segundo a qual as coisas conhecidas so sinais pelos quais Deus
fala aos sentidos ou inteligncia do homem para instru-lo sobre o que deve
fazer {Principies of Knowledge, 108-09) uma transio teolgica dessa
doutrina do conhecimento. Entrementes, com o cartesianismo e especialmente
com Locke, iam-se formando conceitos do C. como operao unificadora:
unificadora de idias, isto , de estados interiores conscincia, mas cuja
interligao corresponde ou deve corresponder das coisas (v. a
B). Eliminada por Berkeley a substncia material e por Hume toda espcie de
substncia, a ligao entre as idias vinha exaurir a funo da atividade
cognoscitiva. Assim, Hume considera que toda operao cognoscitiva uma
operao de conexo entre as idias; operao de conexo o raciocnio pelo
qual se mostra a ligao que as idias tm entre si, independentemente de sua
existncia real; operao de conexo entre as idias o C. da realidade de
fato. No primeiro caso, a conexo certa porque no depende de nenhuma
condio de fato; no segundo caso baseia-se na relao de causalidade. Mas
essa mesma relao no tem outro fundamento alm da repetio de certa
sucesso de acontecimentos e o hbito que essa repetio determina no
homem (lnq. Cone. Underst., V, 1).
Esse conceito do C. como operao de conexo ou de interligao, que nada
tem a ver com a identificao ou a assimilao com o objeto, chamado por
Kant de operao de sntese. A sntese , em geral, "o ato de reunir diferentes
representaes e compreender sua multiplicidade em um C." (Crt. R. Pura,
10). Mas, para Kant, a sntese cognitiva no somente uma operao de
ligao entre representaes: tambm uma operao de ligao dessas
representaes com o objeto por meio da intuio. "Se um C. deve ter uma
realidade objetiva", diz Kant, "isto , referir-se a um objeto e nele ter significado
e sentido, o objeto deve poder ser dado de um modo qualquer. Sem isso, os
conceitos so vazios e, se com eles se pensar, esse pensamento nada
conhecer, mas s estar brincando com as representaes. Dar um objeto
que no deva ser opinado indiretamente, mas representado imediatamente na
intuio nada mais que ligar sua representao com a experincia (seja
esta real ou possvel)" {bid., Analtica dos princpios, cap. . se. ). Pensar um
objeto e conhecer um objeto no so, pois, a mesma coisa. "O C. compreende
dois pontos: em primeiro lugar, um conceito pelo qual um objeto em geral
pensado (a categoria) e, em segundo lugar, a intuio com que ele dado"
{bid., 22). A intuio tem o privilgio de referir-se imediatamente ao objeto e
de, por meio dela, o objeto ser dado {Jbid., 1). Por isso, no h dvida de que
a operao de conhecer tende a tornar o objeto presente em sua realidade: um
objeto, entenda-se, que fenmeno, j que a "coisa em si", por definio,
estranha a qualquer relao cognitiva. O conceito de C. isento da limitao
relativista sugerida a Kant e a toda filosofia iluminista pela colocao de
Descartes e Locke , mas como operao de referir-se ou relacionar-se com o
objeto e, portanto, tambm como processo pelo qual o objeto se oferece ou se
apresenta em pessoa, foi adotado pela fenomenologia contempornea e pelas
suas diversas correntes. "A cada cincia", diz Husserl, "corresponde um campo
objetivo como domnio das suas indagaes; a todos os seus C, isto , aos
seus enunciados corretos, correspondem determinadas intuies que
constituem o fundamento de sua legitimidade, porquanto nelas os objetos do
campo se do em pessoa e, ao menos parcialmente, como originrios" {dem,
, 1). Assim, a experincia, que abrange todo o C. natural, uma operao
intuitiva atravs da qual um objeto especfico, a coisa, dada na sua realidade
originria. Nesse sentido, a experincia um atofundante, no substituvel por
um simples imaginar. Por outra lado, o C. geomtrico, que no investiga
realidades mas possibilidades ideais, tem como ato fundante a viso da
essncia: essa viso, exatamente como a percepo emprica, torna atual e
apresenta um objeto em pessoa: este, porm, no a coisa da experincia,
mas a essncia' -{bid., 8). Considerando o C. de um ponto de vista mais
geral, pode-se dizer que "toda espcie de ser tem por essncia seus modos de
dar-se e, portanto, seu mtodo de C." {bid., 79); e a pesquisa
fenomenolgica , no projeto de Husserl, a anlise desse modos de ser como
"modos de dar-se". Analogamente, para N. Hartmann o conhecimento um
processo de transcendncia cujo termo o ser "em si" (Metaphysik der
Erkenntnis, 1921, 4- ed., 1949, pp. 43 e ss.). Segundo essa anlise, deixou de
ter sentido contrapor atividade e passividade no conhecimento (contraposio
que, nascida de Kant, fora assumida como motivo polmico pelo Romantismo a
partir Fichte). No cabe mais distinguir no conhecimento o aspecto ativo, que
Kant chamava de "espontaneidade intelectual", do aspecto passivo, que para
Kant era a sensibilidade. No se trata nem mesmo de reduzir todo o C.
atividade do eu, como fizera Fichte e, com ele, toda a filosofia romntica, que
considerou essa atividade "infinita", isto , sem limites (e por isso criadora), e
como tal a exaltou. Hoje, parece fictcio at mesmo a perspectiva histrica que
prevaleceu no Romantismo e que opunha a concepo "clssica" (antiga e
medieval), para a qual a operao de conhecer seria dominada pelo objeto
diante do qual o sujeito passivo, concepo moderna ou romntica, para a
qual o C. seria atividade do sujeito e manifestao de seu poder criador. Trata-
se, realmente, de uma perspectiva tpica do Romantismo e de uma oposio
terica, que serviu a fins polmicos. Nem a filosofia antiga nem as modernas
concepes objetivistas pretendem estabelecer ou pressupem a "passividade"
do sujeito cognoscente. Ao sujeito cognoscente pertence com certeza a
iniciativa do conhecer, alis, justamente essa iniciativa que define a sua
subjetividade. Mas isso no implica nem atividade nem passividade no sentido
estabelecido por Fichte. A iniciativa do sujeito visa tornar o objeto presente ou
manifesto, para tornar evidente a prpria realidade, para manifestar os fatos.
Aquilo que se chama abreviadamente conhecer um conjunto de operaes,
s vezes muito diferentes entre si, que, em campos diversos, visam a fazer
emergir, em suas caractersticas prprias, certos objetos especficos. Desse
ponto de vista, o "problema do C", tal como se configurou na segunda metade
do sc. XX, como colocao romntica ou polmica contra ela, como problema
de atividade ou passividade do esprito ou de sua "categoria eterna", que seria
a atividade teortica, um problema que se desfez sob a ao da
fenomenologia, por um lado, e da filosofia da cincia e do pragmatismo, por
outro. No mbito da fenomenologia, Heidegger fala de uma anulao do
problema do conhecimento. O conhecer no pode ser entendido como aquilo
pelo que o ser-a (isto , o homem) "vai de dentro para fora de sua esfera
interior, esfera na qual estaria, anteriormente, encapsulado: ao contrrio, o ser-
a, em conformidade com seu modo de ser fundamental, j est sempre fora,
junto ao ente que lhe vem ao encontro no mundo j descoberto" (Sem undZeit,
13). Segundo Heidegger, conhecer um modo de ser do ser-no-mundo, isto
, do transcender do sujeito para o mundo. Ele nunca apenas um ver ou um
contemplar. Diz Heidegger: "O ser no mundo, enquanto ocupar-se, tomado e
obnubilado pelo mundo com que se ocupa" (bid., 13). O conhecer , em
primeiro lugar, a absteno do ocupar-se, isto , das atividades comuns da via
cotidiana, como manusear, comerciar, etc. Essa absteno possibilita o simples
"observar, que , de quando em quando, o deter-se junto a um ente, cujo ser
caracterizado pelo fato de estar presente, de estar aqui". Nessa absteno de
todo comrcio e utilizao, realiza-se a percepo da simples presena. O
perceber concretiza-se nas formas de interpelar e discutir algo como algo. Com
base nessa interpretao, entendida em sentido amplo, a percepo se torna
determinao. O percebido ou o determinado pode ser expresso em
proposies, bem como manter-se e preservar-se nessa qualidade de
proposto. A reteno perceptiva de uma proposio sobre... j , em si mesma,
uma maneira de ser no mundo e no pode ser interpretada como um processo
em virtude do qual um sujeito receberia imagens de algo, imagens que seriam,
em conseqncia, experimentadas como "internas", de tal sorte que
suscitariam o problema de sua concordncia com a realidade "externa" {bid.,
13). O "problema do C." e o "problema da realidade" (v. REALDADE), do modo
formulado pela filosofia do sc. XX, so, pois, eliminados por Heidegger.
Todas as manifestaes ou graus do conhecer (observar, perceber, determinar,
interpretar, discutir, negar e afirmar) pressupem a relao do homem com o
mundo e s so possveis com base nessa relao.
Essa convico hoje compartilhada por filsofos de procedncia diferente,
ainda que muitas vezes sob terminologias diversas. O fundamento que a
sugere sempre o mesmo: o abandono do pressuposto de que os "estados
internos" (idias, representaes, etc.) so os objetos primrios de
conhecimento, e que s a partir deles podem (se que podem) ser inferidos
objetos de outra natureza. A renncia a esse pressuposto est explcita, p. ex.,
no pragmatismo de Dewey, para quem o C. simplesmente o resultado de
uma operao de investigao ou, mais precisamente, a assero vlida em
que tal operao desemboca. Desse ponto de vista, o objeto do C. no uma
entidade externa a ser alcanada ou inferida, mas "o grupo de distines ou
caractersticas conexas que emerge como constituinte definido de uma
situao resolvida e confirmado na continuao da investigao" {Logic, cap.
XXV, ; trad. it., p. 666). Visto que, freqentemente, so usados em certa
investigao objetos constitudos em investigaes precedentes, estes ltimos
s vezes so entendidos como objetos existentes ou reais, independentemente
da prpria investigao. Na realidade, so independentes da investigao em
que ora entram, mas so objetos s em virtude de uma outra investigao de
que resultam. No entanto, segundo Dewey, esse simples equvoco a base da
concepo "representativa" do conhecimento. "O ato de referir-se a um objeto,
que um objeto conhecido s em virtude de operaes totalmente
independentes do prprio ato de referncia, considerado, para fins de uma
teoria do C, como constituinte por si mesmo de um caso de C. representativo"
{Logic, p. 667).
Essas idias influenciaram e continuaram influenciando poderosamente a
filosofia contempornea e so a base da dissoluo do problema do C, que
uma de suas caractersticas. A dissoluo desse problema favoreceu a lgica
por um lado, e a metodologia das cincias, por outro. Esta ltima,
especialmente, a herdeira contempornea de tudo o que ficou de vlido em
problemas que eram habitualmente tratados pela teoria do conhecimento. A
caracterstica fundamental do objeto da metodologia das cincias hoje o
carter operacional e an-tecipatrio dos seus procedimentos. Aqui aludiremos
s primeiras identificaes histricas desses caracteres, remetendo seu estudo
mais detalhado ao verbete METODOLOGA. So reconhecidos pela cincia s
na medida em que o objetivo fundamental
desta no a descrio, mas a previso. Esse objetivo fora atribudo cincia
por F. Bacon; na filosofia moderna, reafirmado por Auguste Comte. Mas s
mais tarde os prprios cientistas o reconheceram e o assumiram
explicitamente. sso comeou a ocorrer quando Mach retomou a tese de que o
objeto do C. um grupo de sensaes. "Uma cor", diz Mach, " um objeto
fsico enquanto consideramos, p. ex., sua dependncia das fontes de luz
(outras cores, calor, espao, etc); mas se a consideramos em sua dependncia
da retina, um objeto psicolgico, uma sensao. Nos dois campos, a
diferena no est na substncia, mas na direo da investigao" {Ana-lyse
der Empfindungen, 1900; 9 ed., 1922, p. 14). Sob esse prisma, no so os
corpos que geram as sensaes, mas so os complexos de sensaes que
formam os corpos; estes no so mais do que smbolos para indicar tais
complexos. Com isso, pode parecer que Mach se inclina para a teoria
representativa do conhecimento.
Mas, na realidade em sua teoria do conceito, claramente reconhecido o
carter operacional do C. O conceito cientfico, segundo Mach, um signo que
resume as reaes possveis do organismo humano a um complexo de fatos.
Uma lei natural, p. ex., uma restrio das possibilidades de expectao, isto
, uma determinao da previso {Erkenntniss undlrrtum, 1905, cap. XX). Os
mesmos conceitos haviam sido apresentados por Hertz em Princpiosda
mecnica (1894), embora sem o abandono total da concepo pictrica do
conhecimento. "O problema mais direto e, em certo sentido, o mais importante
que o nosso C. da natureza deve capacitar-nos a resolver", dizia Hertz, " a
antecipao dos acontecimentos futuros, de tal modo que possamos dispor as
nossas atividades presentes de acordo com essa antecipao. Como base
para a soluo desse problema, utilizamos o C. dos acontecimentos j
ocorridos,que foi obtido pela observao causai e pelo experimento
preordenado. Ao fazermos inferncias a partir do passadopara o futuro
adotamos constantemente o seguinte procedimento: formamos imagens ou
smbolos dos objetosexternos e a forma que damos a tais smbolos tal que as
conseqncias necessrias da imagem pensada so sempre as imagens das
conseqncias na natureza das coisas representadas" (Prinzipien derMe-
chanik, ntr.). O desenvolvimento posterior da cincia eliminou os resduos de
concepo representativa que ainda permaneciam nasdoutrinas de Mach e de
Hertz. Em 1930, um dos fundadores da mecnica quntica, Dirac, j po- ' dia
afirmar: "Onico objeto da fsica terica calcular resultados que possam ser
confrontados com experimentos e absolutamentesu-< prfluo dar uma
descrio satisfatria de todo o desenvolvimento do fenmeno" (ThePrincipies
of Quantum Mechanics, 1930, p. 7). Nesse ponto, a teoria do C. resolveu-se
completamente na metodologia das cincias. sso significa que, enquanto o
problema do conhecimento como problema de um objeto "externo" a ser
alcanado a partir de algum dado "interno" foi desaparecendo, props-se em
seu lugar o problema da validade dos procedimentos efetivos, voltados para a
verificao e o controle dos objetos nos diferentes campos de investigao.
CONHECMENTO DE S
O saber objetivo, isto , no imediato nem privilegiado, que o homem pode
adquirir de si mesmo. Esse termo tem, portanto, um significado diferente de
autoconscincia (v.), que a conscincia absoluta ou infinita, e tambm de
conscincia (v.), que sempre implica uma relao imediata e privilegiada do
homem consigo mesmo; logo, um C. direto e infalvel, embora incomunicvel,
de si. como convite ao C. de si mesmo (e no conscincia) que Plato
interpreta o lema socrtico "Conhece-te a ti mesmo"; em Car-tnides,
interpretado como convite a "saber que se sabe", isto , determinao e ao
inventrio do que se sabe. Ns mesmos no nos pomos a fazer o que no
sabemos, mas procuramos as pessoas competentes e nos confiamos a elas;
tampouco permitimos que quem depende de ns faa o que no saiba fazer
bem e de que no tenha cincia" (Carm., 171 c). Kant afirmou que s podemos
conhecer-nos a ns mesmos do mesmo modo como conhecemos as outras
coisas, isto , s como fenmeno; segundoKant, o C. de si requer, como
qualquer outra espcie de C, duas condies, a saber: leum elemento
unificador a priorique, nesse caso, o eu penso ou apercepo pura (v.); 2aum
dado emprico mltiplo que o do sentido interno (Crt.R. Pura, 24). Os que
negam a realidade da conscincia reconhecem que o C. de si no se diversifica
por modalidade e certeza do C. dos outros ou das outras coisas (RYLE,
Concept ofMind, cap. V).
Вам также может понравиться
- FERNANDES, Florestan (Org.) - Comunidade e Sociedade (TÖNNIES, Ferdinand - Comunidade e Sociedade Como Entidades Típico-Ideais)Документ40 страницFERNANDES, Florestan (Org.) - Comunidade e Sociedade (TÖNNIES, Ferdinand - Comunidade e Sociedade Como Entidades Típico-Ideais)RafaelCesario100% (5)
- Avaliação Neuropsicológica Na Dislexia de DesenvolvimentoДокумент216 страницAvaliação Neuropsicológica Na Dislexia de DesenvolvimentoCarla Lúcio100% (5)
- Uma Introdução À Filosofia Da Linguagem - Max William Alexandre Da CostaДокумент220 страницUma Introdução À Filosofia Da Linguagem - Max William Alexandre Da CostaGuilherme Fontes PinaОценок пока нет
- Malvezzi - Do Taylorismo Ao ComportamentalismoДокумент11 страницMalvezzi - Do Taylorismo Ao ComportamentalismoTIAGO COSTA BEREZOWSKI (A)Оценок пока нет
- BARTHES O Prazer Do TextoДокумент112 страницBARTHES O Prazer Do TextoSara RangelОценок пока нет
- Livre Arbítrio, Um EscravoДокумент16 страницLivre Arbítrio, Um EscravoAnselmo NykeyОценок пока нет
- Emoções InconscientesДокумент3 страницыEmoções InconscientesAnselmo NykeyОценок пока нет
- Dinâmica Da RepressãoДокумент6 страницDinâmica Da RepressãoAnselmo NykeyОценок пока нет
- Emoções InconscientesДокумент3 страницыEmoções InconscientesAnselmo NykeyОценок пока нет
- Avaliação Do InconscienteДокумент5 страницAvaliação Do InconscienteAnselmo NykeyОценок пока нет
- As Características Especiais Do Sistema Ics.Документ3 страницыAs Características Especiais Do Sistema Ics.Anselmo NykeyОценок пока нет
- Pré Projeto - TCC IДокумент24 страницыPré Projeto - TCC IFlavia NascimentoОценок пока нет
- Capitulo I - Fundamentos Didáticos Do Ensino Da InformáticaДокумент19 страницCapitulo I - Fundamentos Didáticos Do Ensino Da InformáticaAbel Alberto Jr.Оценок пока нет
- Matematica PDFДокумент742 страницыMatematica PDFyago1850% (4)
- A Grande Sintese - Uma Visao Geral Da Obra (Gilson Freire)Документ12 страницA Grande Sintese - Uma Visao Geral Da Obra (Gilson Freire)brucoutobhzОценок пока нет
- Manualdetecnicasderedacaocientifica 3 Ed 2014 DivulgacaoДокумент51 страницаManualdetecnicasderedacaocientifica 3 Ed 2014 DivulgacaoMonicacolaco R. Dos SantosОценок пока нет
- Apostila Dom Bosco 6 Ano 1BДокумент122 страницыApostila Dom Bosco 6 Ano 1BProfessor Bruno VenancioОценок пока нет
- Tempos Modernos Tempos de SociologiaДокумент5 страницTempos Modernos Tempos de SociologiaYasmim FellippeОценок пока нет
- Livro EPSJV 011286Документ652 страницыLivro EPSJV 011286A. S.Оценок пока нет
- (Artigo Retratado) Conflito Familia-EmpregoДокумент1 страница(Artigo Retratado) Conflito Familia-EmpregoCinthia Alves PachecoОценок пока нет
- BBiklen P01Документ167 страницBBiklen P01Nuno Martins100% (5)
- Plano Anual - CIÊNCIAS - 7ºДокумент3 страницыPlano Anual - CIÊNCIAS - 7ºfernandaОценок пока нет
- 2.3 Partidos Políticos e Sistemas Eleitorais (DALLARI, Dalmo. Elementos de Teoria Geral Do Estado)Документ8 страниц2.3 Partidos Políticos e Sistemas Eleitorais (DALLARI, Dalmo. Elementos de Teoria Geral Do Estado)Eduardo VeigaОценок пока нет
- AULA 01 - Introdução Á Farmacologia E EXERCÍCIOДокумент11 страницAULA 01 - Introdução Á Farmacologia E EXERCÍCIODianaFurtadoОценок пока нет
- BNCC Comentada - Versão 5Документ53 страницыBNCC Comentada - Versão 5Erisvaldo Pedrosa da SilvaОценок пока нет
- Tese - Internet Móvel - Novas Relações Na Cibercultura Derivadas Da Mobilidade Na Comunicação (Eduardo Campos Pellanda)Документ197 страницTese - Internet Móvel - Novas Relações Na Cibercultura Derivadas Da Mobilidade Na Comunicação (Eduardo Campos Pellanda)Yago ModestoОценок пока нет
- Notação CientificaДокумент5 страницNotação CientificaKeyllor Laurentino de FrançaОценок пока нет
- Avaliação de Sistemas Educacionais No Brasil-Bernadete GattiДокумент13 страницAvaliação de Sistemas Educacionais No Brasil-Bernadete GattiMarcos Pereira100% (1)
- Super Guia UFPRДокумент97 страницSuper Guia UFPRGuilherme RochaОценок пока нет
- ImpressaoДокумент19 страницImpressaoglaucios_machadoОценок пока нет
- UnirioДокумент20 страницUnirioCristianeОценок пока нет
- Capa (Isabela Fernandes)Документ7 страницCapa (Isabela Fernandes)Isabela FernandesОценок пока нет
- Como As Instituições Pensam (Mary Douglas)Документ161 страницаComo As Instituições Pensam (Mary Douglas)Elaine Da Silveira LeiteОценок пока нет
- A Teologia Liberal e Suas Implicações para A Fé BíblicaДокумент4 страницыA Teologia Liberal e Suas Implicações para A Fé BíblicaWictor DamascenoОценок пока нет
- Etapa 3 - o Sistema EducacionaДокумент20 страницEtapa 3 - o Sistema EducacionaRoberto BuenoОценок пока нет
- Cerimonial Engenharia Civil 2017Документ16 страницCerimonial Engenharia Civil 2017aron62brОценок пока нет