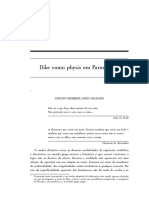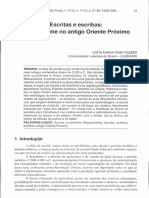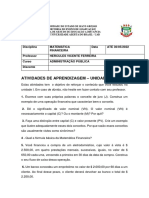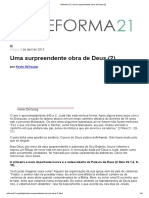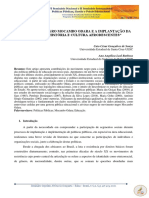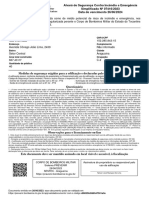Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Introducao Fil Conhecimento
Загружено:
Gustavo Lopes MachadoАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Introducao Fil Conhecimento
Загружено:
Gustavo Lopes MachadoАвторское право:
Доступные форматы
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
273
INTRODUO A UMA FILOSOFIA DO CONHECIMENTO
JOS REIS (Instituto de Estudos Filosficos Faculdade de Letras Universidade de Coimbra)
1. O acto comum como a essncia do conhecimento, em Aristteles e na Filosofia Moderna Ao iniciar a introduo a uma Filosofia do Conhecimento, a primeira coisa necessria, a meu ver, evocar o acto comum de Aristteles. Conhecer : juntar a conscincia s coisas por conscienciar, dando como resultado as coisas conscienciadas; ou, para citarmos as suas prprias palavras, o acto do sensvel e o acto do sentido so um s e mesmo acto, mas a sua quididade no a mesma. So um s e mesmo acto, porque se juntam, constituindo um apenas; mas juntam-se preservando cada um a sua essncia, de modo que geram justamente uma con-juno ou composto. Se houvesse dvidas quanto ao sentido do que o Estagirita quer dizer, logo o seu prprio exemplo as tiraria. Tomo o exemplo, escreve na verdade, do som em acto e do ouvido em acto. Pode acontecer que aquele que possui o ouvido no oua e que o que tem o som no ressoe sempre. Mas quando passa a acto aquele que tem o poder de ouvir, e que ressoa aquilo que tem o poder de ressoar, ento produzem-se simultaneamente o ouvido em acto e o som em acto, aos quais podemos chamar respectivamente a audio e a ressonncia1. Poder decerto haver o som sozinho bem como as cores sem a vista ou os sabores sem o gosto como logo adiante referir contra os primeiros fisilogos2. Mas, nessa altura, no haver conhecimento. Para que este exista, necessrio juntar ao acto do objecto, isto , quilo que ele , o acto do sujeito ou acto de conscincia, gerando-se em conjunto o objecto conscienciado.
1 2
ARISTTELES, De an. III, 2, 425 b 25-426 a 2. Cf. 15-17. Ibid. 19-22.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
274
Jos Reis
E no se diga que, depois de Descartes, Kant e Hegel, para s referir estes, voltar a Aristteles um anacronismo. Porque, sem dvida, com Descartes as coisas para o acto comum deixaram de se ver, com Kant elas passaram a alterar-se completamente ao serem recebidas pelo sujeito, e com Hegel chegou-se mesmo concluso de que, se o conhecimento uma tal alterao, ento o absoluto (o que h para conhecer), como ele dir no incio da Introduo Fenomenologia do Esprito, no pssaro que caia na armadilha. Mas em nenhum dos casos o conhecimento propriamente dito deixou de ser a tomada de conscincia das coisas e, por conseguinte, o acto comum. Em Descartes, com efeito, tudo o que acontece que as coisas se deixaram de ver para alm das ideias, mas vem-se ainda estas: por falta de raio de aco do sujeito, no possvel o acto comum com as coisas, mas -o com as ideias. Alis, por esta razo que, no se vendo as coisas, estas so postas em dvida, mas, vendo-se as ideias, elas no o so. Tal como continua o acto comum nos fenmenos kantianos. De resto Kant julga que os prprios nmenos, enquanto so o fundamento dos fenmenos, ainda de algum modo se vem nestes; pelo que s ficam mesmo as efectivas determinaes numnicas por ver. E em Hegel certo que nada propriamente se v, antes toda a soluo do problema do conhecimento parece ser a de que o objecto produzido pelo sujeito; mas, e justamente, produzido para poder ser visto, portanto para poder haver o acto comum, tal como o anterior j havia sido recusado por no se ver, por no se poder realizar com ele o acto comum; pois era porque, sendo exterior ao sujeito, ele tinha de ser recebido por este e nessa recepo se alterava radicalmente que tal objecto no se podia conhecer: dizia-se que o conhecamos, mas ao fim e ao cabo o que conhecamos eram os nossos modos activo e passivo e nada dele; ao ser agora produzido pelo sujeito, o novo objecto no s no se tem de receber, e nessa recepo alterar-se, como mesmo partida da prpria natureza do sujeito; pode por isso, ao menos supostamente, conhecer-se. assim de facto um dado que, com Descartes, Kant e Hegel, as anteriores coisas propriamente ditas se deixaram de ver. Mas passaram a ver-se outras, mudando o acto comum apenas de objecto, para alm de que at o no-conhecimento das primeiras continua a testemunhar, por deficincia, esse mesmo acto comum. O que na verdade aconteceu foi que este acto comum se ps desde sempre sobre a representao. E, como esta ltima acabou por levar a problemas que pela sua prpria natureza pareciam mais graves e anteriores, foi para a que voltmos o olhar e o acto comum praticamente desapareceu de vista. Ele, como acabamos de ver, l continua como o conhecimento propriamente dito; mas os problemas que se impuseram passaram a ser os outros (a transcendncia
pp. 273-294 Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
275
das coisas relativamente s ideias em Descartes, a recepo-alterao em Kant, e em Hegel a produo do objecto por parte do sujeito) de tal modo que dele j nem se fala. Da, na verdade, a aparncia da sua ausncia, nomeadamente nos tempos modernos. Mas da tanto mais a necessidade de, ao iniciar-se uma Filosofia do Conhecimento, pr em relevo o referido acto comum. Porque o facto que transcendncia ou imanncia, recepo ou produo no so conhecimento. Podem facilit-lo ou dificult-lo, consoante os casos; mas conhecimento como a simples existncia da sua palavra para alm das outras o diz tomar conscincia de uma coisa por conscienciar, pr o problema como Aristteles o fez. 2. O conhecimento como representao em Aristteles, e objectivo do artigo certo que no mesmo Aristteles o conhecimento tambm se pe em termos de representao. Pe-se mesmo tanto em tais termos que por exemplo um O. Hamelin como bem conhecido o caracteriza como um paralelismo (como um duplo no sujeito do real exterior), sendo neste caso o problema o de saber como se alcana tal duplo: se por transio do objecto exterior para o interior da alma em termos realistas portanto ou pela produo do objecto interior por parte do sujeito maneira idealista. Mas para alm deste paralelismo, para alm da representao, no menos certo que ele pe expressamente o problema em termos de acto comum. E como, pela sua prpria natureza, o problema essencial do conhecimento afinal o deste acto comum, para ele que antes de mais temos de chamar a ateno. Foi o que fizemos. S que tal obviamente no chega. A representao, no seu duplo gnero, quo e quod, autodestri-se. E, se assim , ns temos em primeiro lugar de saber j que ela uma iluso como ela afinal surgiu, como surgiu a ideia da duplicao do objecto no sujeito. S depois devemos proceder sua referida destruio. O que faz com que, uma vez liberto o conhecimento da representao, fiquemos apenas com o acto comum. Pois bem, ento chegado o momento de o analisar, a ele prprio. Porque a verdade que tambm ele se autodestri, pela razo de que a conscincia por um lado e o objecto sem conscincia por outro no so coisa alguma. Desaparece deste modo a representao e desaparece o acto comum. Quer isto dizer que tudo desaparece? No. H, num exemplo que avanaremos, um terceiro acto de conscincia, que contm imanente a transcendncia, desta maneira se achando o que verdadeiramente h.
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008) pp. 273-294
276
Jos Reis
3. Origem do primeiro gnero da representao O prprio Aristteles, pois, pe o acto comum sobre o conhecimento como representao. Ora porqu isto? Se estamos a ver a coisa l fora e exactamente o que vemos, at Descartes porque no dizemos que h simplesmente o som l onde ele se d e, partindo de ns mas chegando l, a conscincia dele? porque, sendo ns antes de mais o nosso corpo, o qual se situa aqum do som que lhe exterior, ento em ns que acontece a conscincia desse som e no nele? Mas isso supor o que justamente est em jogo. Seja o que for que a conscincia se venha a revelar, se ainda s h o som l mesmo onde ele se situa, l e s l que ela toma conscincia dele. Podemos decerto, se somos antes de tudo o nosso corpo, tomar primeiro conscincia deste; mas tambm samos e tomamos conscincia dos objectos l onde eles se situam, porque nesta anlise metdica nada mais ainda h. Porque se sups um duplo do som em ns, atravs do qual, ento sim, tomamos conscincia do som l fora? Julgo que tudo comeou com a existncia da memria. Foi ela que primeiro se ps em termos de representao, generalizando-se depois tais termos percepo. Ns, com efeito, tambm temos o poder de evocar as coisas na sua ausncia. Ora, se as coisas presentes se vem porque esto presentes, como se explica que se vejam ainda as ausentes? Como quer que depois se venha a articular a explicao, ao menos uma coisa certa desde o incio: que, se na percepo estamos voltados para as coisas, pois que so elas que, presentes, determinam aquilo que vemos, na memria a partir de ns ns que somos antes de mais o nosso corpo3 que elas se pem, e que portanto se vem. Mas, claro, no h ainda nem de longe a ideia de que somos ns que as produzimos. E, por outro lado, s as podemos mesmo recordar a partir do momento da sua percepo. Nestas condies, a explicao que se viria a articular foi a de que elas de algum modo em ns entram nessa altura e, conservandose, nos permitem depois a memria. o que, como bem se conhece, diz Agostinho a propsito do tempo. Se o passado j no existe, como o podemos ainda evocar? As coisas, responde, ao passar pelos sentidos, deixaram as suas imagens, como vestgios, gravadas no esprito4. E j antes Aristteles havia equacionado todo o problema. Aquando da sensao, escreve, imprime-se na alma uma imagem uma espcie de pintura, ou uma espcie de sinal gravado como o do sinete na cera cuja
3 O nosso corpo no meio de outros corpos presentes que no so as coisas memoradas: este o quadro. 4 SANTO AGOSTINHO, Conf . XI, 23.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
277
posse constitui a memria5. Sem esta imagem, com efeito, porque a coisa est ausente, nada haveria para ver6. Contudo, esta mediao traz uma dificuldade: tal imagem, que se tem de ver, uma coisa presente; ora, se se v e est presente, isso uma sensao: como se pode transformar na memria da coisa ausente?7 A soluo est em que, quando utilizamos a imagem como meio para a memria, e no portanto como objecto, no a ela mesma que vemos mas coisa ausente, qual ela simplesmente nos leva8. Voltaremos a isto mais adiante. O que aqui importa notar que, se na percepo, dada a presena das coisas, tudo o que se passa que olhamos para fora, na memria, ainda olhamos decerto para fora, para as prprias coisas l onde elas se situam no espao e no tempo, mas a partir do nosso corpo, mediante um duplo delas que nele se conserva. Eis, como dizamos, a memria posta em termos de representao. Contudo no ficmos por a. Rapidamente tais termos se generalizaram prpria percepo, graas importncia prtica dessa mesma memria no conjunto da nossa experincia. que conhecer , do ponto de vista da nossa aco, adquirir (como ainda hoje se diz) e carregar connosco os conhecimentos necessrios para as diversas situaes. Quer estejamos simplesmente a recordar o passado (connosco prprios ou contando-o aos outros) ou a evocar pormenores seus em ordem s nossas aces imediatas, a memria est constantemente na nossa experincia. Queiramo-lo ou no, somos pensadores. Mesmo os homens de aco o so, enquanto a cada momento projectam o que vo fazer. Ora, se isto assim, a memria com o seu duplo em ns passou a ser to importante e to habitual que tambm e insensivelmente a percepo se passou a interpretar nos mesmos moldes. certo que agora, estando presentes as coisas, as vemos imediatamente e no preciso nenhum duplo. Mas o facto esse: dado o relevo da memria no nosso conhecimento prtico, habitumo-nos de tal modo a chegar s coisas ausentes a partir do seu duplo em ns que tambm e sem dar pela diferena assim o passmos a fazer em relao s prprias coisas presentes. De resto, uma vez articulada a explicao da memria, passmos a saber que aquando da percepo que em ns entra um duplo das coisas: ora, se j nessa altura h um duplo, j atravs dele que, da em diante, assumidamente se d a percepo. E por outro lado no menos certo que, embora digamos que a partir do duplo das coisas que as recordamos, tal duplo nunca se v, antes s se vem mesmo as coisas recordadas; pelo que, acontecendo exactamente o mesmo na
5 6 7 8
ARISTTELES, De mem. et rem. 1, 450 a 27-32. Ibid. b 19-20. Ibid. 15-17. Ibid. 25-27.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
278
Jos Reis
percepo, no h nenhuma diferena entre um caso e outro a dificultar a passagem: sendo os duplos em ambos os casos meramente supostos, nada impede que, se o hbito o impe, se faa mais uma suposio. Eis tambm a percepo posta em termos de representao. E ei-la mesmo sobretudo a ela em tais termos, j que ao seu nvel que se d o conhecimento em pessoa e, por isso, original. Eis o acto comum, precisamente ao nvel da percepo, no como a simples conjuno da conscincia e das coisas l fora, mas como essa mesma conjuno atravs de um duplo das coisas em ns. 4. Origem do segundo gnero Notemos contudo que ainda tomamos, justamente, conscincia das coisas l fora. O conhecimento j se pe em termos de representao, mas de representao, para retomarmos a terminologia de J. Maritain, ela mesma tomada da tradio tomista, em termos quo e no quod9: o duplo aquilo atravs do qual se v a respectiva coisa, no o que se v. Este ltimo tipo de representao s surgir quando Descartes, sobre o primeiro, duvidar metodicamente das coisas. Sobre o primeiro, porque no so os erros dos sentidos ou as iluses do sonho que constituem um duplo das coisas, antes apenas lanam mo do j existente, assim o fazendo, isso sim, no s mais visvel mas mesmo aquilo que se v. Os primeiros, com efeito, como o ficmos a saber a partir da distino husserliana entre os actos que significam a vazio e os que preenchem pela presena em pessoa, no so erros em relao a um ser transcendente que por definio no se v, mas em relao a uma futura percepo10. Uma torre, por exemplo, que de longe nos aparece como redonda, s erro em relao a uma segunda percepo que, efectuando-se ela de mais perto, no-la d como quadrada. E ainda, em rigor, no a primeira percepo que se transforma em erro: de longe o que h exactamente o redondo, j que no se vem os pormenores do quadrado; errada a imaginao que, dela partindo, supe que a torre continua redonda quando nos
9 J. MARITAIN, Distinguer pour unir ou Les degrs du savoir, Descle de Brouwer, Paris, 1946, Annexe I, A propos du concept, pp. 769-819. 10 Refiro-me naturalmente capital doutrina husserliana que desde as Investigaes Lgicas atravessa toda a sua obra da percepo como o absoluto da referncia, face a todas as outras modalidades de actos que ainda se referem s coisas mas com maiores ou menores graus de a-vazio. Ver nomeadamente Investigaes Lgicas , Sexta Investigao, 14, 21, 26-28, 37 e 45; Ideias-I, 136-138; Meditaes Cartesianas, 24.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
279
aproximamos. Os erros dos sentidos passam-se assim, em verdade, numa nica dimenso, sem duplos do lado de c e coisas que no se vem do lado de l. Mas, bem entendido, isto assim hoje depois de Husserl, pela volta de toda a histria do conhecimento. No imediato, a torre que aquilo a que sem mais nos referimos, sem estar determinada como de longe ou de perto11 ela mesma redonda primeiro e depois quadrada, o que no pode ser. Sendo um facto adquirido que o conhecimento se d atravs de um duplo das coisas recebido em ns, a explicao bvia que nem sempre tais duplos se revelam fiis mensageiros. Ou seja, eis justamente o erro em termos de um duplo aqum das coisas, as quais desta maneira se deixam de ver. Repitamos que a torre como redonda decerto um erro em relao percepo de que quadrada. Mas desde que o erro propriamente dito, na explicao imediata que recorre ao duplo, a diferena que vai dela como redonda a uma realidade que no se conhece, podemos at supor que tambm ela como quadrada igualmente um erro em relao a esse transcendente, e temos quer o cepticismo quer Descartes. Isto em relao aos erros dos sentidos. Para o sonho, passa-se o mesmo. Ele uma imaginao que, ao acordarmos, se confronta com uma percepo; no exemplo de Descartes, imaginamos que estamos vestidos ao p do lume e, ao acordar, percebemos que estamos todos nus na cama12. A nica diferena, agora, que essa imaginao no se inscreve num processo de conhecimento, porque o sonho no uma percepo, e por outro lado, no havendo a dormir a percepo com a qual ele se possa comparar, ele no se sabe uma imaginao. Mas nem por isso, como bvio, a deixa de ser, como o simples facto de falarmos nas iluses do
S os Epicuristas com o seu acento na verdade de todas as percepes, e isto porque dizer que uma sensao falsa seria dizer que nada pode ser percebido, CCERO, Acad. priora, II, 101 parecem ter sido levados a tomar as coisas enquanto determinadas pelo modo como nos aparecem. E tanto que os seus adversrios os acusaro de subjectivismo, de reduzirem o real a um conjunto de impresses imediatas, como diz E. BREHIER, Histoire de la Philosophie, I, PUF, Paris, 1967, p. 299. Contudo bvio que no s, para voltarmos ao exemplo, h para eles uma verdadeira torre, a quadrada, cujos pormenores de longe somente no se vem, como h de cada vez o verdadeiro real para alm das percepes atravs das quais o conhecemos. Alis, por haver tambm para eles este real que verdadeiramente podem ser acusados de um eventual subjectivismo. Quero dizer: em relao a Husserl esta acusao no teria sentido, porque s h mesmo aquela nica dimenso, na horizontalidade da qual se passa o erro; no se pode dizer que se perdeu o que positivamente se estabelece como no existindo. 12 R. DESCARTES, Meditaes , 1, in Oeuvres philosophiques , ed. F. ALQUIE, Garnier Frres, Paris, 1967, t. II, p. 406.
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008) pp. 273-294
11
280
Jos Reis
sonho o confirma: sendo por definio uma realidade menor que a percepo, naturalmente ela que ao acordarmos cede o lugar a esta13. Deste modo, no h igualmente um plano de c, a imaginao, e um real transcendente de l, antes h apenas a relao imaginao-percepo. Mas eis que logo esse real transcendente aparece. Ao supor-se que a prpria percepo pode ser um sonho e, portanto, que ela pode ser uma iluso por no haver o ser a que se refere, este ser to transcendente que nem pode haver dele, por definio, mais percepo. Contudo, ele assim transcendente, notemo-lo, justamente porque se trata de uma percepo: o sonho no pretende conhecer nenhum ser que minimamente lhe seja transcendente, e s a percepo que, ao supor-se como errada porque uma iluso, implica no s um duplo mas um duplo como mau mensageiro, o qual o que se passa a ver na vez da coisa, que assim remetida para a transcendncia. O que significa que, se j no eram os erros dos sentidos que constituam o duplo das coisas, antes apenas se
13 Exactamente na linha dos actos que significam a vazio e dos que preenchem pela presena em pessoa, a imaginao visa sempre mais do que tem, visa a percepo, de que s tem parte. Mas no sonho, no havendo esta percepo, ela julga-se o pleno. Por isso o sonho se julga, enquanto decorre, o prprio real. Que no entanto no , como logo face percepo o reconhece, em virtude de ser mais pobre. na verdade por esta razo que ela cede o lugar percepo (e no se toma esta ao contrrio por sonho). Mais pobre, precisemo-lo, estruturalmente. Terminada uma percepo, h agora o nada dela; se do seio deste nada me refiro ainda a ela, posso ter todas as suas determinaes, mas j como no presentes, atravs do nada que ela agora. medida que estes momentos de nada se vo acumulando (porque o tempo no pra, com as outras coisas) ela no s continua ausente (no presente, no em pessoa) como vai perdendo nitidez e mesmo as determinaes. Cf. para este ponto o meu estudo O tempo em Sto. Agostinho, in RFC 14 (1998) pp. 328-329. Aparentemente precisemo-lo ainda a imaginao no , na anlise j clssica que lhe faz SARTRE (Limaginaire, Gallimard, Paris, 1940), este visar mais do que tem. Ao contrrio mesmo, como ele escreve, na percepo que h infinitamente mais que no podemos ver, enquanto na imagem h uma espcie de pobreza essencial (pp. 20, 171). Mas isso porque para alm de que ele interpreta ainda a percepo como o dar-se-nos de um objecto exterior , que pode assim ter sempre mais pormenores a imaginao de que ele trata a fictcia, que se esgota na imaginao que , no a real; embora parta de exemplos reais, como nomeadamente o caso de Pedro, no lhe interessa, como uma vez o acaba por dizer explicitamente (pp. 230-232), nem a memria nem a previso, que so justamente a imaginao real. No tendo eu Pedro, o que sou ainda capaz de me figurar dele? (p. 238) o seu problema. Ora como, quando h Pedro, eu me limito a receb-lo (o real, exterior, d-se-me), quando no o h, eu finjoo: caso em que ele no passa exactamente do que eu a ponho e, j pobre porque finito o conjunto de determinaes que a ponho, ainda mais essencialmente pobre porque nenhum ser (sempre o exterior) a est. Na concepo que defendo (e que vai para alm
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
281
serviam do j existente, agora o sonho ainda o constitui menos: ele apenas serve para estender a interpretao da percepo como errada definitivamente a todos os casos14. Tal como no deixemos de o referir tambm no a tomada de conscincia das coisas (ou seja, o acto comum) que constitui o duplo, originando desta feita, pelo lado de c, a coisa conscienciada e, pelo lado de l, a simples coisa que enquanto tal parece ser transcendente. Se em Hume, por exemplo, ao tratar da origem da substncia, ou em Kant, no fim da longa nota do Prefcio B, isto assim, tal porque j estamos depois de Descartes e, por isso, no s os actos de conscincia j so representaes (perceptions ou Vorstellungen) mas representaes que so aquilo que se v, no se vendo pois as coisas. S por isso Hume pode dizer que a constncia das nossas percepes () gera a opinio da existncia contnua dos corpos, a qual por sua vez gera a sua existncia distinta15; e Kant que a representao de algo permanente na existncia
de uma certa ambiguidade ainda presente em Husserl a partir da sua teoria da reteno) as coisas no so assim. Na percepo, no h nada que no se veja: os pormenores que ainda ou j no se vem, se os penso, so imaginao, no justamente percepo; esta assim sempre limitada, h de cada vez o que se percepciona, nem mais nem menos, e nenhumas outras determinaes, as quais, se no as imagino, ento esto pura e simplesmente fora da conscincia. E por outro lado o real esta percepo mesma, no o que, sendo-lhe anterior ou posterior, lhe exterior. Neste contexto, a imaginao sempre, do ponto de vista do conhecimento que aqui o nosso, a real (como j dissemos, a memria e a previso) s no o real porque, embora referindo-o, j no o tem em pessoa; j s o tem, como tambm dissemos, atravs do nada que ele agora; nada que justamente lhe faz perder a presena, e mesmo progressivamente a nitidez e o nmero de determinaes; a isto que ela no tem que a imaginao real ainda se refere, mas a vazio. A percepo, ela mesma, resumamo-lo, j limitada ou finita (embora perfeita na sua presena); a imaginao ainda uma limitao maior, quanto ao que tem: uma limitao no s na nitidez e nmero de determinaes, mas antes disso em relao estrutural ausncia que a constitui; esta diferena do que ela no tem que ela visa. 14 com efeito neste contexto que Descartes passa dos erros dos sentidos ao sonho. Mas, ainda que os sentidos escreve nos enganem algumas vezes no que toca s coisas pouco sensveis e muito afastadas, h talvez muitas outras das quais no se pode razoavelmente duvidar, como, por exemplo, tratando-se do nosso corpo. Contudo () sou homem e tenho o costume de dormir e de me representar em sonhos esse mesmo corpo. Por isso, suponhamos pois que estamos a dormir e que todas essas particularidades, tais como abrir os olhos, mexer a cabea, estender as mos, e outras que tais, so falsas iluses. O. c. pp. 405-407. 15 D. HUME, A treatise of human nature , ed. SELBY-BIGGE, Clarendon Press, Oxford, 1960 (1888), p. 199. Cf. pp. 214-216.
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008) pp. 273-294
282
Jos Reis
no idntica representao permanente, porque esta pode ser muito mutante e varivel, como so todas as nossas representaes, mesmo as da matria, e contudo elas reportam-se a algo permanente, que deve pois ser uma coisa distinta de todas as minhas representaes e exterior a mim16. Em tais condies, sem dvida, as coisas situam-se para alm das percepes, de tal modo que, mesmo durante o tempo em que as vemos, no so elas mesmas que vemos mas as percepes. Mas, se removemos este duplo dos actos de conscincia, eles ficam puros actos de conscincia, e as coisas ficam sem nenhuma mediao. Ento, enquanto as vemos, sempre a elas e s a elas que vemos, por mais que sejam consideradas como independentes de serem vistas. Tambm no pois o acto comum que constitui o duplo. Ele nasceu, apenas e como dissemos, para explicar a memria, donde se estendeu percepo. E foi depois o erro nesta que no s o tornou mais visvel mas mesmo o que se v. Na verdade, a memria cedo nos levou, em virtude da sua importncia prtica, a interpretar tambm a percepo sua imagem e semelhana: como a entrada em ns de um duplo das coisas, atravs do qual ento vemos as coisas l fora. S que h s vezes o erro. Neste contexto, o mais natural era interpret-lo em termos de uma mediao infiel. Eis no n o duplo mais visvel, porque no acto de se libertar da sua funcionalidade, mas ele mesmo o que se v. que, no caso do erro, alguma coisa se continua a ver e, na exacta medida da sua infidelidade, ele mesmo que se v e no a coisa. No que podemos chamar a atitude dogmtica, que ao fim e ao cabo no d importncia s situaes de erro, temos na mesma um duplo atravs do qual se efectua a percepo; mas ele extremamente dcil, deixa-se investir totalmente pela funo que desempenha e, ainda que presente, no se faz visvel. Mas se, como acontece at j no dogmatismo dos Esticos e dos Epicuristas, j se minimamente crtico face aos erros que no se podem pura e simplesmente ignorar pelo que j necessrio estabelecer um critrio de verdade17 , ento nessa medida ele ganha densidade, ele liberta-se da funo que desempenha e j aparece. Com os Cpticos, que precisamente chamaram a ateno para essas situaes de erro e as estenderam percepo em geral, passmos a ver exclusivamente o duplo
B p. XLI. Itlicos nossos. com efeito o que j significa a sua preocupao por um critrio (kritrion) da verdadeira percepo. Mas ainda so, at pelas crticas que lhes foram feitas e ns conhecemos, fundamentalmente dogmticos. Tal como mais dogmtico ainda, porque at sem estas preocupaes, Aristteles e o pensamento medieval que o segue. Cf. para as ditas preocupaes em prol de um critrio, o que talvez ainda hoje o melhor resumo desta problemtica, em BREHIER, o. c. pp. 267-269 e 298-302.
17 16
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
283
e no mais as coisas. Pelo que, de certo modo, a representao de gnero quod at j existe antes de Descartes. Mas h uma diferena fundamental. Os Cpticos ficam na dvida, Descartes no. para encontrar, como ele diz, um ponto de Arquimedes que ele a realiza18. Ponto que ele na verdade encontra, e que a sequncia dos duplos ou ideias que eu sou, quando os sou19. Eles existem, porque se vem clara e distintamente, ao contrrio das coisas, que no se vem. Ele no diz decerto, pelo menos com tanta fora, que estas no existem por no se verem; tudo o que faz supor ou persuadir-se de que no as h20 e mais tarde elas voltaro mesmo a ser afirmadas de novo. Mas se o critrio para afirmar as ideias que elas se vem, o que no se v por definio no existe. Se elas depois ainda voltam a ser afirmadas, porque, embora indirectamente, por meio da existncia de Deus, ainda se vem. No imediato, e essa a atitude decidida de Descartes que o distingue dos cpticos, h os duplos porque se vem, e o resto logo se ver; no imediato, na exacta medida em que deveras se vem os duplos, deixaram de se ver as coisas, com as consequncias que esse ver ou no-ver acarretam. Eis no s o ver como condio do ser e por isso inaugurado o mundo moderno, feita a primeira e mais importante revoluo copernicana mas tambm eis que ficmos fechados, agora sim, nos duplos das coisas. 5. Legitimidade do mtodo cartesiano e seu desenvolvimento posterior certo que o erro como o duplo infiel que se vem antepor coisa, que nos haveria de conduzir a este fechamento, s possvel porque se desconhece o que Husserl vir a descobrir: que ele afinal se passa em termos de imaginao-percepo. Mas esse o facto: desconhecendo-se isso, o erro pe-se imediatamente em tais termos, e bastaria at que ele se desse num nico caso para que fosse no s legtimo mas necessrio o mtodo cartesiano; pois se, nessa dada percepo, ns j descobrimos que o que vemos no afinal a coisa mas um duplo infiel dela, nada nos garante que no se passe o mesmo com todas as outras percepes e ns s no o sabemos ainda; se queremos que o nosso conhecimento seja absolutamente certo, temos de supor metodicamente que tudo aquilo que atingimos so duplos das coisas, e a respeito destas s poderemos depois concluir de acordo com as evidncias que ainda tivermos. Da que a dvida cartesiana no seja apenas, como quer Maritain, o resultado de um engano terminolgico, da troca do conceito, que seria quo, pela ideia
18 19 20
DESCARTES, Meditaes, 2, o. c. pp. 414-415. Ibid. pp. 415-422. Ibid. p. 415.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
284
Jos Reis
que enquanto arqutipo divino quod21; Maritain , a este propsito e como toda a tradio da chamada philosophia perennis, no-crtico. Se se levam minimamente a srio os erros e se se quer um conhecimento absolutamente certo, preciso comear metodicamente pelo que se v e s depois passar, se ainda houver razes para isso, ao que no se v. o que fundadamente faz Descartes, e os autores modernos depois dele, agravando de cada vez mais o problema. Locke, partindo metodicamente das ideias, ainda as toma como representativas de uma realidade exterior; mas no s a sua certeza j apenas de natureza prtica e no uma demonstrao maneira de Descartes, como, sendo impossvel ao nosso esprito conceber que as ideias simples possam existir sem serem inerentes a uma substncia, esta ltima no ao fim e ao cabo um feixe constante de ideias simples, mas um substrato para alm delas, que nos permanece desconhecido22. Berkeley mais radical: tendo em primeiro lugar concludo, ao menos para o sentido da vista, que as qualidades primeiras so to subjectivas como as segundas, tendo intudo depois que as ideias no podem ser representativas porque uma ideia s pode assemelhar-se a outra ideia, e tendo enfim argumentado que a matria nada porque no tem qualquer determinao, levado anulao do plano das coisas e a ficar s com o das ideias23. A radicalidade de Hume de outro gnero: tendo posto o problema de saber como, a partir das percepes, se pode ainda constituir a permanncia das coisas, numa primeira fase pura e simplesmente no a constitui: o fenomenismo crtico; mas depois, invocando a imaginao, acaba afinal por a constituir, assim restaurando, mas neste contexto, o
J. MARITAIN, o. c . pp. 790-791. No digo que esta terminologia, que tem confessadamente por parte de Descartes a origem que Maritain lhe atribui, no tenha ajudado o autor da dvida. Mas s veio trazer mais nitidez ao que j era o essencial do problema; a saber, que o que se v, na tradio que leva a srio o erro, o duplo das coisas e no estas, porque elas no se vem mais e algo se continua a ver. Que assim , prova-o a atitude j crtica dos Esticos e dos Epicuristas e a tradio cptica, que justamente no partem de nenhuma ideia de gnero quod. Alis, se fosse como Maritain diz, como se explicaria em contrapartida que as ideias se tornassem meios para conhecer as coisas? Elas explicam de facto que os duplos passem a ser o que se v; mas no que isso que se v seja meio, errado ou no, para conhecer as coisas. 22 J. LOCKE, An essay concerning human understanding, Dover Publications, New York, 1959, liv. II, cap. XXIII. 23 G. BERKELEY, Works , ed. LUCE e JESSOP, Thomas Nelson, London 1948 ss. Ver nomeadamente, para o primeiro ponto, A new theory of vision, 41. Para o segundo, The principles of human knowledge , 8, e Three dialogues, p. 206. Para o terceiro, The principles, 16, 68, 80, e Dialogues, pp. 187-188 ss. e 222-226.
pp. 273-294 Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
21
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
285
plano das coisas para alm do das percepes24. Compromisso que de uma outra maneira vai continuar em Kant: pois, tomando por um lado as qualidades primeiras como princpios a priori do sujeito para permitir a Matemtica, e assumindo por outro a tradio das qualidades segundas como recepo-alterao das primeiras, recepo-alterao que ele eleva mesmo a princpio do conhecimento humano face espontaneidade-criao do intuitus originarius, ele chega ainda decerto a um conhecimento, mas a um conhecimento que j tem conscincia de que nada afinal conhece das coisas originais25. O que faz com que Hegel, para s referirmos estes, tire a sua concluso: se as coisas originais, os nmenos, ao passarem pela sensibilidade j se alteram de alto a baixo, e depois ainda se alteram mais porque so sobredeterminadas pelas nossas formas a priori , ento elas no so pssaro que caia na armadilha; o conhecimento, se existe, no implica a recepo de um objecto alheio, mas a sua produo por parte do sujeito26. Quer dizer: o conhecimento, a partir de Descartes, transformou-se, anteriormente ao conhecer mesmo, no problema de saber se ainda h as coisas para alm das ideias e, neste caso, em saber como lhes aceder; em ltima anlise, conhec-las deveio produzi-las. E no entanto tal fechamento, na sua origem, nem era mesmo um problema real. Foi o que Husserl nos veio mostrar com a sua descrio dos actos que visam a vazio e dos que preenchem pela presena em pessoa27. Na verdade, s a imaginao constitutivamente a referncia a uma percepo, e esta por sua vez no mais referncia a coisa nenhuma. Atentemos bem na questo. As ideias que verdadeiramente esto em jogo na dvida
Cf. as referncias j feitas na nota 15. O primeiro ponto resulta de que o corao da Esttica a exposio transcendental do espao e do tempo. O segundo visvel desde a definio de sensibilidade como a capacidade de receber representaes (receptividade) graas ao modo como somos afectados pelos objectos (A 19, B 33) at justificao desse intuitus derivativus face ao originarius: ns, finitos, s podemos receber os objectos (e nessa recepo alter-los), face ao Ser infinito, para quem conhecer criar (B 72). E a concluso, que deriva dos dois pontos anteriores, assim logo enunciada a partir da I Nota geral sobre a Esttica (A 41-46, B 59-63). 26 o projecto logo indicado, como dissemos, no incio da Introduo Fenomenologia do Esprito. 27 Como escreve A. DE WAELHENS (art. Husserl in Les Grands Philosophes , direco de MERLEAU-PONTY, Lucien Mazenod, Paris, p. 326): Os critrios de Husserl pem fim a uma dificuldade insolvel na perspectiva clssica que, depois de tudo confundir sob o nome de representao, procura ento distinguir as representaes umas das outras usando apenas diferenas extrnsecas ou graduais, tais como a clareza, a fora, a constrangncia da representao. As referncias so feitas acima, na nota 10.
25 24
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
pp. 273-294
286
Jos Reis
cartesiana so percepes. Ora a imaginao visa sem dvida mais do que tem e, por isso, ela constitutivamente a referncia percepo. Mas esta por sua vez no visa mais coisa alguma. E se visasse, importa not-lo, esta coisa para alm dela que passaria a ser uma imaginao: ainda decerto com a plenitude da percepo, mas j isso mesmo longe, no-acessvel, e nessa exacta medida menos. No s, pois, se j temos tudo, no nos referimos a mais coisa nenhuma, como, se nos referssemos, esta ltima que seria menos, no mais. De resto, se fosse at o mesmo, que sentido faria dizer que o real isso que no se v, e no isto mesmo que a est? S o hbito crtico de interpretar a percepo como a percepo de uma coisa transcendente que nunca aparece ele mesmo vindo do erro interpretado luz do duplo recebido em ns para explicar a memria nos pode ter levado a pensar que o que percebemos uma ideia ou duplo nosso do verdadeiro real. Se nos atemos, e o que Husserl faz com a sua pura descrio fenomenolgica, aos dados imediatos, o plano do real j e s o da prpria percepo, no h nenhum ser transcendente que fique para alm dela. 6. Para alm da destruio husserliana da representao de gnero quod, preciso tambm destruir a de gnero quo Simplesmente Husserl no identifica a origem deste ser transcendente: no diz que ele o que, em virtude da anteposio do duplo infiel, fica para alm deste duplo. E, pior, sendo o duplo, antes de infiel, aquilo que se supe como mediador em todo o conhecimento, ele aceita-o e usa-o a este nvel. O que quer dizer que ele destri, sim, a representao de gnero quod, mas deixa intacta a quo, que est na sua origem. Ora a verdade que tambm esta ltima no possvel. Em primeiro lugar, porque no h na nossa experincia nenhum duplo pelo caminho: h as coisas l onde elas existem e tudo: no temos de tomar conscincia de um duplo das coisas primeiro, e s depois passar para elas. E em segundo lugar vimos decerto como Aristteles j refere que, quando se trata de tomarmos o duplo como meio para chegarmos respectiva coisa, ns no o vemos por si mesmo (kath haut), mas como a imagem de uma outra coisa (llou phntasma)28; ou, nas palavras que Maritain cita de Caietano, o movimento para a imagem enquanto ela imagem e o movimento para a coisa so um s e mesmo movimento29. S que, o que quer isto dizer? Sem dvida, que no paramos na imagem; nesse caso,
28 29
De mem. et rem. 1, 450 b 25-27. J. MARITAIN, o. c. p. 781.
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
pp. 273-294
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
287
tom-la-amos a ela mesma como objecto e no seria mais meio para a coisa. Mas ento, e o problema, como vamos na imagem para a coisa? A primeira alternativa que, se chegamos coisa, porque a imagem transparente. De outro modo sendo ela meio e por isso o primeiro elemento a ser visto, e por outro lado j no se tratando de, mesmo subrepticiamente, passar dela para a coisa v-la-amos a ela, e j no veramos nunca a coisa. S que, se ela transparente, no vemos nada dela, e no meio. Para ser meio, e a segunda alternativa, temos de a ver a ela. Mas, se a vemos, e quer isto suceda pelo caminho ou sobre a coisa, no vemos mais a coisa, e no igualmente meio. , esta segunda alternativa, o que afinal sucede no erro. E tambm o que sucede na relao husserliana noese-noema, s que desta vez assumindo-se no mais como erro mas como a verdadeira soluo do problema do conhecimento: o objecto no mais o ser que j a est da atitude natural, mas precisamente o produto da passagem da intencionalidade pela hyl da vivncia, o chegar a ele atravs do seu duplo em ns30. Certamente que Husserl no quer explicitamente isto; nesse caso no haveria, em rigor, mais mediao nenhuma: haveria o noema, que seria a prpria hyl projectada como objecto, e mais nada; ele pensa tanto a hyl como mediadora, e portanto aqum, como diferente do noema, que o noema que normalmente se v e ela s se v na atitude da reflexo; ou seja, ele pensa exactamente a mediao da hyl, apesar das exigncias do sistema, maneira da tradicional representao de gnero quo. O que, justamente, e isso o que aqui nos importa, no possvel. Porque o meio ou transparente e no meio, ou algo que se v, mas nessa exacta medida no se v a coisa, e no igualmente meio. No possvel a mediao. O que acontece que, supondo-se em ns um duplo das coisas para explicar a memria, se julga desde ento, mas vagamente, que o conhecimento se faz atravs desse duplo; quando, como o caso de Aristteles e depois da sua tradio, se pe minimamente o problema, diz-se que se vai na imagem e tudo. Vaguidade que, alis, no acontece s a respeito da mediao, mas tambm a respeito da sua natureza. Quando Aristteles pe este ltimo problema, ele diz na verdade que no a pedra que est na alma, mas a sua forma31. Contudo, o que quer isto dizer? Que a pedra da alma perdeu a matria? Aceitemo-lo. Mas no tem, para ser a imagem da pedra, a efectiva cor cinzenta, o seu frio prprio e a sua rijeza? Ou j que se tem isto uma efectiva pedra que pode bater noutra nem estas qualidades tem? Mas ento o que a imagem da
30 31
Ideen-I, 97. De an. III, 8, 431 b 29.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
288
Jos Reis
pedra? A resposta : as palavras que a referem a vazio. Nomeando-a, ela l est e na perfeio das suas qualidades. Contudo ainda a vazio, ao nvel das puras palavras, e portanto no h l pedra nenhuma. isto a pedra na alma, isto o duplo. E por isso, sempre que nos colocamos do ponto de vista da sua necessidade, para explicarmos primeiro a memria e depois a percepo, ele l est; de resto, com a evidencia que resulta dessa necessidade: pois que, se se pensa que ele necessrio para a memria e para a percepo, e temos estas, ele em absoluto est l: a sua evidncia a desta implicao, no a da sua intuio, que nunca existe. Mas est l, o ponto, s como pode estar, a vazio, ou como diz Aristteles, sem a matria, porque a pedra mesma s existe l fora e no na alma. O que significa que no h, afinal, para alm da impossvel mediao, tambm nenhum duplo das coisas em ns, mas apenas estas, l onde elas se do. L, no s no espao mas tambm no tempo: porque a memria , tal como sucede na percepo, ver as coisas l no seu presente anterior, s que, e essa a sua diferena em relao percepo, atravs do nada que a seguir a esse presente elas so at hoje; mesmo na memria imediata, j h o nada que a coisa agora , e que justamente j a faz ausente, nada e ausncia que no existem na percepo. Pelo que no h, nem na memria, nenhum duplo. 7. O acto comum como problema E eis-nos, depois de destruda a representao, de regresso ao acto comum. O grande problema do conhecimento foi sem dvida, historicamente, o dessa representao. Antes de Descartes, sobretudo ele que j aparece nos eflvios (aporroa) de Empdocles32, nas imagens (edla) dos Atomistas33, nos critrios de verdade dos Esticos e dos Epicuristas, na tradio cptica, e mesmo no prprio acto comum de Aristteles, porquanto ele se processa no sujeito e no no objecto exterior34: este ltimo actualiza a potncia que a alma de todas as coisas35 e atravs do duplo assim produzido que o sujeito v o objecto l fora. E depois de Descartes, vimos como a representao de gnero quod nos fechou tanto aqum das coisas que, mesmo antes da questo do acesso, o problema era o de saber se elas existiam. Mas nem por isso, como igualmente vimos,
32 G. S. KIRK, J. E. RAVEN e M. SCHOFIELD, Os Filsofos Pr-Socrticos, trad. De C. A. L. FONSECA, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994 (University Press, Cambridge, 1983), pp. 323-326. 33 Ibid. pp. 452-454. 34 De an. III, 2, 426 a 9-11. 35 Ibid. 8, 431 b 21 e 26-27.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
289
o acto comum deixou de estar presente, como o verdadeiro, e por isso o essencial, problema do conhecimento. Justamente Hegel faz o sujeito produzir o objecto, para que ele possa ser conhecido, e Heidegger converte a essncia do homem numa pura ek-sistncia, com o mesmo objectivo36. O que significa, contra o que pode parecer imediatamente, que quando Hegel ou Heidegger terminam que preciso comear. Porque evidentemente no basta dizer que o sujeito produz as coisas, ou que o homem se reduz a uma abertura no meio delas. Falta tudo para saber se h conhecimento ou no. Porque, digamo-lo ainda uma vez, conhecer juntar a conscincia s coisas por conscienciar, dando como resultado as coisas conscienciadas. O que vem a ser esta conscincia enquanto tal? E o que vm a ser as coisas enquanto ainda no conscienciadas, e portanto sem delas podermos falar? Evidentemente no podemos ter a pretenso de nestes breves momentos expor o problema de um modo minimamente satisfatrio. Mas podemos pelo menos indicar o sentido das anlises, apontando os resultados. 8. Resultados da anlise do acto comum Antes de mais, no o sujeito que primeiro mas o objecto: porque se supe que h objectos por conhecer que preciso uma conscincia que os conhea; ou, o que o mesmo mas negativamente, nunca se pensaria nessa conscincia, se as coisas j a estivessem sempre patentes. E, sendo assim, o verdadeiro problema o do objecto. Contudo, no deixemos de notar que j esta simples funcionalidade da conscincia a anula. que, sendo ela funo do objecto, sendo ela para termos o objecto, se ela fosse alguma coisa, isso mesmo nessa medida nos separaria dele, e ela no cumpriria a sua funo. Dir-se- que a conscincia uma simples luz que ilumina o objecto e assim o tem; que sem essa luz que no o podemos ter de modo nenhum. Responderei que preciso levar a srio essa luz de que falamos; se ela, para alm de servir para termos o objecto, mesmo uma luz, ela algo de que podemos tomar conscincia, objecto, e no mais a conscincia que procuramos. No h volta a dar-lhe: a conscincia ou logo o nada, dada a sua funo, ou, se alguma coisa, seja o que for, antes o que visto, um objecto, no o ver, a conscincia que se queria para o ter.
essncia do Dasein est na sua existncia: M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tbingen, 1927, p. 42. Ver particularmente o 43, que resume a sua posio.
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008) pp. 273-294
36 A
290
Jos Reis
Mas deixemos pois o sujeito e passemos ao objecto, porque ele que constitui o verdadeiro problema. Dado que no h mais representao alguma, mesmo a de gnero quo, a nica transcendncia que resta a temporal: a do tempo em que as coisas existem mas no so percebidas nem pensadas37, porque estamos ocupados a perceber ou a pensar outras. Esta transcendncia, sim, verdadeira, porque h uma multido de coisas ao mesmo tempo, e ns s podemos ver uma de cada vez: enquanto a vemos, as outras ficam-nos necessariamente de fora, so-nos transcendentes. verdadeira, e foi ela que, no contexto de no haver ainda a descoberta do ver como condio do ser, deu origem ao conhecimento. que, existindo as coisas, mas no para ns, existindo, mas no percebidas nem pensadas (e justamente no se sabendo que elas s existem, e dessa maneira, porque so pensadas de um outro ponto do tempo), preciso que tomemos conscincia delas, para que sejam para ns. Se considerarmos, por um lado, o prazer e a dor e, por outro, por exemplo um relmpago, compreenderemos em concreto do que se trata. O prazer e a dor nunca so objectos no sentido que aqui nos importa, porque nunca os h sem deles termos conscincia; enquanto o relmpago, embora sendo instantneo e luminoso e por isso no nos passando habitualmente despercebido, j um objecto de que tomamos conscincia; isto assim porque eu sei pela experincia atravs nomeadamente dos que mal vejo que h todos aqueles que existem mas que eu, ocupado a ver outras coisas, no vejo; quando vejo um, j tomo conscincia dele,
J basta decerto que no sejam percebidas: podemos estar a pens-las (como existindo l contemporaneamente) e passar desse pensamento percepo; como acontece por exemplo quando, estando espera do autocarro, o pensamos como estando j na parte anterior da curva e de facto ele aparece logo. No o tendo ento em pessoa, enquanto simplesmente o prevemos, mas naturalmente referindo-nos ao autocarro real ou em pessoa, j h esta diferena que vai do pensado (ou, o que o mesmo, do imaginado) percepo, j h a parte a-vazio do pensamento. Por tal diferena enquanto visamos o que no temos o autocarro j nos transcende e, como diremos a seguir, julgando ns que se trata de uma transcendncia absoluta e no s relativa, j precisa da conscincia, para ser para ns. Contudo, j s nos referiremos ao caso em que as coisas no se percebem nem se pensam durante o tempo que est em considerao, por trs razes. Em primeiro lugar, para simplificar. Depois, para tornar a questo mais evidente, uma vez que, nem sequer pensando o objecto, teremos ento toda a diferena que vai do zero plenitude das respectivas determinaes. Enfim porque esta passagem da previso percepo no o caso mais comum mas uma excepo: basta que o autocarro demore uma pouco mais para que eu me distraia, e j no o pensava quando ele afinal apareceu. Alis, havia todo o tempo anterior previso, em que o autocarro existia e no era percebido nem pensado, porque estvamos ocupados com outras coisas. inevitvel. Na imensa maior parte da durao das coisas, estas existem, sem serem percebidas nem pensadas.
pp. 273-294 Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
37
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
291
porque eles so, atravs deste tempo em que no so vistos, algo que existe sem ela. A transcendncia temporal, para alm pois de ser um facto, foi bem a origem do conhecimento. claro, repitamo-lo, no contexto da no-descoberta ainda do papel do ver. Porque, se em verdade ela s possvel enquanto pensada de um outro ponto do tempo, ela afinal s relativa e no absoluta; isto , d-se j sempre na imanncia do pensamento, e no fora , com a neste ltimo caso necessria tomada de conscincia. Contudo esta imanncia exactamente o que no se tem visto e, por consequncia, o que preciso pr em relevo. Para esse efeito, tomemos um exemplo, que pode ser o habitual nas aulas e que vem de Nova Filosofia38. Seja esta mesa que vejo (percepo portanto) durante, digamos, 2 segundos; depois saio a ver outras coisas e a conversar com os amigos, durante, suponhamos, 30 minutos; regresso, percebo de novo a mesa durante 2 segundos, e logo a seguir penso, durante 2 segundos, que a mesa esteve c durante os 30 minutos. Note-se que o problema no o de saber se a mesa c esteve mesmo enquanto fui ver outras coisas e conversar; isso sem dvida um problema depois de Hume, mas aqui partiremos j da posio tradicional de que as coisas permanecem no intervalo das percepes. Pelo que o problema o de saber se elas, existindo durante esse tempo, existem em absoluto sem o pensamento. Ora um dado do exemplo que, ocupados a ver as outras coisas e a conversar, ns de facto no pensmos contemporaneamente a mesa em nenhum momento desses 30 minutos. Pois sim, mas pensmo-la no-contemporaneamente. no terceiro acto de conscincia, logo a seguir segunda percepo, que ns pensamos que a mesa c esteve durante os 30 minutos. Se no houvesse este terceiro acto de conscincia, pura e simplesmente no haveria a mesa no intervalo das percepes. Diro que podemos eliminar o terceiro acto de conscincia e ela l continua na mesma no dito intervalo; que ela uma coisa em si ou independente de ser pensada. Bom, que ela uma coisa em si, ou independente, o que se costuma afirmar e j comemos mesmo a compreender porqu; contudo o que aqui est em jogo averiguar se o ; se ela for verdadeiramente independente, resistir prova. Ora o que sucede que, ao dizerem que se eliminarmos o terceiro acto de conscincia ela l continua, a esto ento, nesse preciso momento, a pensar l: ao dizerem que l continua. Aquele terceiro acto de conscincia notemo-lo bem situa-se no exemplo logo a seguir segunda percepo, mas bvio que se pode situar em qualquer outro
38
pp. 10-11.
pp. 273-294
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
292
Jos Reis
ponto do tempo, excepo do tempo das percepes39. O importante tomarmos conscincia de que, sem pelo menos um momento de pensamento que pense a mesa no intervalo, ela pura e simplesmente no existe. No decerto fcil fazer esta experincia, porque, mesmo quando dizemos que no (a) pensamos, a estamos justamente a pensar. Por isso, para a no pensar mesmo, procedamos desta forma: tapemos o pensamento, desliguemo-lo como quem desliga um interruptor. Ento, sim, apercebemonos de que tudo desaparece (mesmo isto a que ainda se alude ao dizer tudo). completamente claro: se fazemos a experincia, os objectos para conhecer porque julgados em absoluto transcendentes tm afinal de ser referidos, e referidos pelas determinaes das percepes, j que no h outras. Se por exemplo partimos da percepo para o tempo anterior do respectivo objecto, este j explicitamente essas determinaes, s que, porque pensadas no tempo em que no foram percebidas nem pensadas, como nada para ns: por baixo do efectivo nada que l houve para ns, houve essas determinaes que l pensamos agora. Se, em contrapartida, imaginando-nos ns nesse nada, quisssemos pensar j o referido objecto (portanto a montante da percepo), poderamos ainda faz-lo, s que inteiramente a vazio, como na realidade podemos hoje pensar inteiramente a vazio o que nem imaginamos que vai aparecer daqui a mil anos: pensamos exactamente essas determinaes da futura percepo no outra coisa o que pensamos , s que inteiramente a vazio. Ou seja: nunca h o objecto para conhecer, porque ele j sempre conhecido; tudo o que h a passagem do a-vazio (com os seus diferentes graus) ao a-cheio. Se, ao longo da histria, se pensou o contrrio, foi porque sempre se ignorou que as coisas s existem nesse tempo em que no so percebidas nem pensadas porque ns, de um ponto qualquer do tempo, as pensamos l dessa maneira; e isto por sua vez aconteceu por no se ter ainda descoberto o ver como a condio do ser. Tal descoberta, como o
excepo do tempo das percepes, porque ento estamos, sem mais, a perceber as respectivas coisas. Mas perfeitamente possvel partir de uma percepo e referi-la como sendo o que existe no respectivo intervalo: por exemplo, partir da segunda percepo da mesa e dizer que isso mesmo que continuamos a ver (no portanto j memria, mesmo que imediata, como o supomos no exemplo) que est nos 30 minutos. Contudo, precisemo-lo, este encher o intervalo com o em pessoa da percepo no transforma os 30 minutos em percepo. Porque o em pessoa da percepo posto num tempo em que no houve percepo. Para j no falar em que no vou estar 30 minutos a pensar esse em pessoa dos 30 minutos originais. Ou seja, para alm de l no ter havido percepo, h ainda sempre o a vazio que resulta de, em segundos, nos referirmos a 30 minutos. Pelas duas razes, mesmo utilizando a percepo para referir o que houve num tempo passado, o que temos uma imaginao, no a percepo.
pp. 273-294 Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
39
Introduo a uma Filosofia do Conhecimento
293
dissemos, s sucedeu com Descartes. Contudo, as converses culturais, quando so profundas, levam sempre muito tempo a completar-se. Mesmo em Hume ou Husserl no h ainda o terceiro acto de conscincia do exemplo, no h este pensamento que pensa as coisas no tempo em que elas no so percebidas nem pensadas. O primeiro, decerto, j fala na imaginao que, mais poderosa que a razo, constitui a continuidade das coisas para alm das percepes. Mas no se trata ainda, de modo nenhum, de um verdadeiro acto de imaginao, com o seu tempo prprio e, sobretudo, com a dependncia do objecto em relao a ela, antes, como ele tambm diz, de uma natureza, de um instinto, de um senso comum, ou seja, ao fim e ao cabo trata-se de invocar o inveterado hbito do ser como independente de ser conhecido. E Husserl, ao partir sistematicamente das vivncias para o objecto, fica condenado partida a perder mesmo a transcendncia temporal: primeiro porque j tem o objecto ao nvel da unidade transcendente das vivncias, e depois porque, se no se pode de todo evitar a transcendncia temporal, ela s pode ser, neste contexto, funo de vivncias possveis, no justamente algo que por definio no pode ter vivncia alguma e que por isso mesmo no pode partida ser constitudo por elas; ora, tendo-a assim perdido partida, ela no podia evidentemente ser descoberta e reduzida. Foi talvez esta exacta transcendncia temporal que mais faltou ao seu imenso esforo para chegar s coisas mesmas. Na verdade, se se parte dela e da consequente reduo, h os momentos plenos, que so as percepes, e h os momentos em que, em poucos segundos, se pensa o tempo horas, anos, milnios que as coisas duram sem ser percebidas nem pensadas. Hoje em dia, por exemplo, graas percepo do afastamento das galxias, pensamos que o universo tem cerca de 15 bilies de anos. Esse tempo agora que existe, quando o pensamos e pelas razes que o pensamos40. O tempo agora verdadeiramente o dos actos de conscincia,
Mas estamos a referir-nos, notemo-lo bem, ao universo fsico. Se supusermos que o homem tem, digamos, 2 milhes de anos (e abstraindo ainda dos animais), j h tambm desde ento o tempo absoluto das percepes e dos actos de pensamento de cada um. O tempo doravante, como dizemos j a seguir, psicolgico e no cosmolgico. Com efeito, o real absoluto o das percepes e o dos actos de pensamento de cada sujeito que existir (sendo o relativo o a-vazio enquanto tal, referido pelo pensamento). De cada sujeito que existir, digo, porque, no havendo mais o real independente dos sujeitos, que simplesmente o conscienciariam, h tantos mundos quantas as conscincias. Mundos que decerto supomos qualitativamente idnticos ou pelo menos muito semelhantes, mas que nem por isso so menos numericamente distintos: justamente pensar os outros como as conscincias que so pens-los como algo em si, quero dizer, como algo a que por definio no podemos ir porque no se vai de uma conscincia a outra, pens-los como
Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008) pp. 273-294
40
294
Jos Reis
no o cosmolgico que sempre tem sido, de Sto. Agostinho a Kant, a Husserl e a Heidegger. Se, como o experimentmos, quando tapamos o pensamento, quando o desligamos, tudo desaparece, as coisas, durante o tempo em que no so percebidas nem pensadas, s existem porque ns, neste ou naquele momento, as pensamos l. Alis e conclumos Heidegger j o diz. No fim do 43 de Ser e Tempo, ao reconhecer que, faltando o Dasein, nada se pode dizer das coisas no se pode dizer nem que so nem que no so , mas que nem por isso elas desaparecem, conclui que agora, quando o Dasein existe, que se pode dizer que, quando ele no existe, elas l continuam; ou seja, que a partir da nossa existncia actual que se pode falar nomeadamente no universo anterior ao homem. S que, evidentemente, Heidegger tambm no viu o referido terceiro acto de conscincia. E por isso o que agora pensamos tido mesmo por transcendente e desconhecido. A precisar do Dasein como abertura no meio das coisas ou, na sua linguagem grega, como a-ltheia.
inteiramente para alm de ns. Assim, quando pensamos os 15 bilies de anos do universo, ao chegarmos aos 2 ltimos milhes, h tambm, justamente para alm desses pensamentos de ns sujeitos de hoje, essas percepes e esses pensamentos dos homens que l pensamos. Se quisermos dizer tudo, ns hoje pensamos os bilies do universo, que incluem naturalmente os da Terra anteriormente ao aparecimento da vida. Depois pensamos o primeiro animal, isto , pensamos que para alm de um determinado corpo j h um mundo seu paralelo ao nosso, s que reduzidssimo. E assim sucessivamente os peixes, os macacos, os primeiros homens, com os seus mundos progressivamente maiores. Tal como hoje pensamos tal como cada um de ns hoje pensa os outros homens, com os seus mundos imagem e semelhana do nosso.
pp. 273-294 Revista Filosfica de Coimbra n.o 34 (2008)
Вам также может понравиться
- RG de Minas GeraisДокумент2 страницыRG de Minas GeraisCanal do JVMX50% (2)
- LocadoraVeiculos - Caso de UsoДокумент11 страницLocadoraVeiculos - Caso de UsoKlaus Fischer Gomes Santana100% (1)
- ARTIGO 1: Karl Marx: Uma Vida A Serviço Da Classe Operária - Gustavo MachadoДокумент3 страницыARTIGO 1: Karl Marx: Uma Vida A Serviço Da Classe Operária - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- Marx e A China: O Problema Da Expansão Do Capitalismo - Gustavo MachadoДокумент18 страницMarx e A China: O Problema Da Expansão Do Capitalismo - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- ARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoДокумент3 страницыARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- Physis Como Dike em Parmenides - Gustavo MachadoДокумент12 страницPhysis Como Dike em Parmenides - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- Socrates de Platão: Entre A Retorica e A Filosofia - Gustavo MachadoДокумент16 страницSocrates de Platão: Entre A Retorica e A Filosofia - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- ARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoДокумент3 страницыARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- ARTIGO 9: Um Marx Desfigurado Pelo Stalinismo - Gustavo MachadoДокумент3 страницыARTIGO 9: Um Marx Desfigurado Pelo Stalinismo - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- A Concepção de Natureza em Marx - Gustavo MachadoДокумент11 страницA Concepção de Natureza em Marx - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- A Concepcao de Natureza em Marx - Gustavo MachadoДокумент10 страницA Concepcao de Natureza em Marx - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- A Necessidade de Um Programa Fundado em Bases Científicas - Gustavo MachadoДокумент5 страницA Necessidade de Um Programa Fundado em Bases Científicas - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- Fascismo: de Direita Ou de Esquerda? Gustavo MachadoДокумент8 страницFascismo: de Direita Ou de Esquerda? Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- A Necessidade de Uma Organização Independente Do Proletariado - Gustavo MachadoДокумент6 страницA Necessidade de Uma Organização Independente Do Proletariado - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- Escritas e Escribas: o Cuneiforme No Antigo Oriente Proximo - KATIA MARIA PAIM POUERДокумент20 страницEscritas e Escribas: o Cuneiforme No Antigo Oriente Proximo - KATIA MARIA PAIM POUERGustavo Lopes Machado0% (1)
- Atividades - de - Aprendizagem em MatemáticaДокумент3 страницыAtividades - de - Aprendizagem em MatemáticaTHAIANY FERNANDESОценок пока нет
- Programa de Disciplina - Introdução Ao JornalismoДокумент2 страницыPrograma de Disciplina - Introdução Ao JornalismoThales Vilela LeloОценок пока нет
- Reforma 21 - Uma Surpreendente Obra de DeusДокумент4 страницыReforma 21 - Uma Surpreendente Obra de DeusMuriel MuniqueОценок пока нет
- Caça Ao Tesouro Na Bíblia - o Jovem RicoДокумент3 страницыCaça Ao Tesouro Na Bíblia - o Jovem RicoRafael Barbosa100% (1)
- Edital 02-2023Документ12 страницEdital 02-2023Laudilene Meireles CustodioОценок пока нет
- Mês Dos Tênis TricaeДокумент1 страницаMês Dos Tênis TricaeDavid AndradeОценок пока нет
- Criando Filhos - TrecghДокумент14 страницCriando Filhos - TrecghDayane FernandesОценок пока нет
- História e Geografia de BayeuxДокумент18 страницHistória e Geografia de Bayeuxpaulo sudbcОценок пока нет
- T-MEG 15 02 Carlos NevesДокумент66 страницT-MEG 15 02 Carlos NevesRafael Jose FuscoОценок пока нет
- Reserva de EmergênciaДокумент26 страницReserva de EmergênciaFelipe CoutoОценок пока нет
- Documentação e Orientação BPC AutistaДокумент4 страницыDocumentação e Orientação BPC AutistaCarla SilvaОценок пока нет
- Artigo Gepraxis 2017 - o Movimento Negro Mocambo Odara e A Implantação Da Disciplina "História e Cultura Afrodescentes"Документ17 страницArtigo Gepraxis 2017 - o Movimento Negro Mocambo Odara e A Implantação Da Disciplina "História e Cultura Afrodescentes"Caio CésarОценок пока нет
- Noções Da Lei 8112-90 Facil de Entender Comentários e ExerciciosДокумент105 страницNoções Da Lei 8112-90 Facil de Entender Comentários e Exerciciosretunes5881Оценок пока нет
- O Que É TEOFANIA - Portal Da Teologia PDFДокумент9 страницO Que É TEOFANIA - Portal Da Teologia PDFInstituto Teológico GamalielОценок пока нет
- Jerônimo 2Документ1 страницаJerônimo 2Alexandre Henrique Vieira De Souza Dos AnjosОценок пока нет
- VB - Apostila CEA - Ver 01 - ABR 2018 Final PDFДокумент305 страницVB - Apostila CEA - Ver 01 - ABR 2018 Final PDFLuis Stabile100% (1)
- A Atualidade Da Literatura de CordelДокумент178 страницA Atualidade Da Literatura de CordelDavi Gomes Do NascimentoОценок пока нет
- Indicações de Livros - Maratona - Bruna BotelhoДокумент5 страницIndicações de Livros - Maratona - Bruna BotelhoCintia Campos100% (1)
- Modelo Alvará Corpo de Bombeiros TocantinsДокумент1 страницаModelo Alvará Corpo de Bombeiros TocantinsAlex SilvaОценок пока нет
- Citações: Trabalho de Conclusão de Curso - PedagogiaДокумент4 страницыCitações: Trabalho de Conclusão de Curso - PedagogiaLeonardodaSilvaОценок пока нет
- Revista Cristianismo HojeДокумент8 страницRevista Cristianismo Hojeddutra_8Оценок пока нет
- DCRB ParteДокумент216 страницDCRB ParteGmaraes CastroОценок пока нет
- A Relação Entre As CulturasДокумент4 страницыA Relação Entre As CulturasFrancisco LopesОценок пока нет
- Proposta de Redação #02 PDFДокумент2 страницыProposta de Redação #02 PDFDanilo RiotintoОценок пока нет
- EXCELENT+ìSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DAДокумент3 страницыEXCELENT+ìSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DAAndré MeloОценок пока нет
- Curva ABC de Insumos Do Empreendimento PDFДокумент12 страницCurva ABC de Insumos Do Empreendimento PDFRoberval TelesОценок пока нет
- Apostila FinanceiroДокумент50 страницApostila FinanceiroFabricio Gomes da silvaОценок пока нет
- Oração A Santo ExpeditoДокумент3 страницыOração A Santo ExpeditoVilmar Carlos FerreiraОценок пока нет