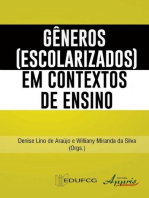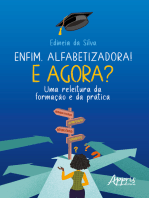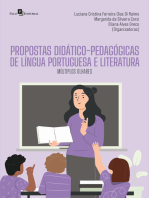Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ensino de leitura no fundamental
Загружено:
Ana Laura NakazoniИсходное описание:
Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Ensino de leitura no fundamental
Загружено:
Ana Laura NakazoniАвторское право:
Доступные форматы
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
1
Caderno Seminal Digital Vol. 5 N 5 (Jan/Jun-2006). Rio de Janeiro: Dialogarts, 2006.
ISSN 1806-9142
Semestral
1. Lingstica Aplicada Peridicos. 2. Linguagem Peridicos. 3. Literatura -
Peridicos. I. Ttulo: Caderno Seminal Digital. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
CONSELHO CONSULTIVO
Andr Valente (UERJ / FACHA)
Clarissa Rolim Pinheiro Bastos (PUCRio)
Claudio Cezar Henriques (UERJ / UNESA)
Darcilia Simes (UERJ)
Edwiges Zaccur (UFF)
Fernando Monteiro de Barros Jr. (UERJ)
Flavio Garcia (UERJ / UNISUAM)
Flora Simonetti Coelho (UERJ)
Jos Lemos Monteiro (UFC/ UECE/ NIFOR)
Jos Lus Jobim (UERJ / UFF)
Jos Carlos Barcellos (UERJ / UFF)
Lus Flavio Sieczkowski (UniverCidade)
Magnlia B. B. do Nascimento (UFF)
Maria do Amparo Tavares Maleval (UERJ)
Maria Geralda de Miranda (UNISUAM / UNESA)
Maria Leny H. de Almeida (UERJ)
Maria Teresa G. Pereira (UERJ)
Ncia Ribas dvila (Paris VIII)
Regina Michelli (UERJ / UNISUAM)
Slvio Santana Jnior (UNESP)
Valderez H. G. Junqueira (UNESP)
Vilson Jos Leffa (UCPel-RS)
EDITORA
Darcilia Simes
CO-EDITOR
Flavio Garcia
ASSESSOR EXECUTIVO
Cludio Cezar Henriques
EQUIPE DE DIAGRAMAO
E REVISO
Carla Barreto Vasconcellos (EXT)
Josiane da Silva Vieira (EXT)
Renata Gonalves da Silva (EIC)
Giselly dos Santos Peregrino (EXT)
Carlos Henrique de Souza Pereira (EXT)
PROJETO DE CAPA
Darcilia Simes
LOGOTIPO
Rogrio Coutinho
Contato: dialogarts@uol.com.br
Publicaes Dialogarts um projeto de Extenso da UERJ do qual participam
Instituto de Letras (Campus Maracan) e a Faculdade de Formao de
Professores (Campus So Gonalo).
O objetivo deste projeto promover a circulao da produo acadmica de
qualidade, com vistas a facilitar o relacionamento entre a Universidade e o
contexto sociocultural em que est inserida.
O projeto teve incio em 1994 com publicaes impressas. Em 2004, inaugura
as produes digitais com vistas a recuperar a ritmo de suas publicaes e
ampliar a divulgao.
Visite nossa pgina:
http://www.dialogarts.com.br
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
3
NDICE
Um experimento sobre leitura no Ensino Fundamental .............................. 5
Anna Maria Marques Cintra PUC/SP ...................................................... 5
Ktia Cristina Teixeira Nicoletti PUC/SP................................................. 5
Da histria e da enunciao sobre o termo estelionato no Brasil ...............22
Elza Eliana Lisboa Montano - UFRGS ......................................................22
Silvana Silva - UFRGS ..............................................................................22
Discutindo a habilidade da leitura no livro didtico de LE........................53
Ftima Cristina D. Ramirez dos Santos UFF/UNISUAM........................53
Discurso reportado como (meta)mmesis.....................................................68
Luiz Fernando Matos Rocha UFJF..........................................................68
A publicidade na intimidade........................................................................92
Milton Chamarelli Filho UFAC..............................................................92
Redao de vestibular: um gnero discursivo heterogneo ......................110
Cinara Ferreira Pavani UCS................................................................110
Vanilda Salton Kche UCS...................................................................110
Ensino de lngua estrangeira e cultura no espao digital..........................131
Jacqueline Ramos da Silva UFAL.........................................................131
Roseanne Rocha Tavares UFAL ...........................................................131
O papel de corpora para gramticas de referncia em lngua inglesa .....142
Leonardo Juliano Recski UFSC ............................................................142
Da teoria gramatical da lngua portuguesa
sintaxe de uso brasileiro: a difcil travessia.............................................151
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
4
Maria Lcia Moreira Gomes
UNIVERSO-FAETEC-CEFET/CAMPOS/RJ ..........................................151
O que a Mafalda pode nos dizer sobre o
Portugus Brasileiro e a pesquisa lingstica na rea de Letras?..............161
Ricardo Joseh Lima UERJ ....................................................................161
A variabilidade lingstica no campo da ortografia
e suas conseqncias fonticas e fonolgicas..............................................187
Ncia de Andrade Verdini Clare UERJ ..................................................187
Rastreando as teorias semiticas: um projeto de estratgias
tcnico-pedaggicas....................................................................................207
Darcilia Simes UERJ-PUC/SP-SUESC...............................................207
A Bela e a Fera: Conto de Fadas ou de fados?...........................................245
Geruza Zelnys de Almeida PUC/SP.......................................................245
Literatura e teologia em Julien Green.......................................................268
Jos Carlos Barcellos UERJ-UFF.........................................................268
A Loucura da Criao: Suze......................................................................277
Letcia Pereira de Andrade UEMS- UFMS...........................................277
Metafico historiogrfica:
uma tenso criativa entre a literatura e histria........................................289
Maria Geralda de Miranda UNESA-UNISUAM..................................289
O ideal potico da negao em Joo Cabral de Melo Neto:
Cultivar o deserto como um pomar s avessas ......................................297
Raquel Trentin Oliveira UFSM/ RS ......................................................297
As amarras da leitura desejante (sobre Lavoura arcaica) ........................311
Renata Farias de Felippe UFSC ...........................................................311
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
5
Um experimento sobre leitura
no Ensino Fundamental
Anna Maria Marques Cintra PUC/SP
Ktia Cristina Teixeira Nicoletti PUC/SP
Introduo
Esse artigo resultado de pesquisa realizada como parte de
um projeto mais amplo denominado Ensino de Lngua
Portuguesa: construo e reconstruo da prtica. Educao
inicial e educao continuada cujo propsito est centrado em
estudos voltados para o ensino da Lngua Portuguesa, lngua
materna, em diferentes contextos educacionais, tendo em vista
rever a prtica.
O recorte, ora feito, toma como foco a leitura no ensino
fundamental II, tema que se situa no rol das grandes carncias da
escola brasileira, como vem sendo enfaticamente apontado por
vrias fontes que divulgam resultados de avaliaes nacionais e
internacionais.
Grande nmero de publicaes sobre leitura tem mostrado
avanos no entendimento do processo. No entanto, quando se entra
em contato com professores do ensino fundamental, causam
surpresas muitas das dificuldades que apresentam, alm de se
evidenciar a desproporo entre o conhecimento academicamente
acumulado e a prtica que vem sendo realizada.
O problema tem, naturalmente, razes profundas que vo do
custo do livro frente ao poder aquisitivo da populao, falta de
ateno da prpria escola, durante muitos anos voltada ao ensino
exclusivo da gramtica e restrito a leituras para devoluo de
contedos, seja a partir de livros didticos em todas as disciplinas,
seja a partir de obras de fico, alm, naturalmente, de carncias na
formao inicial do professor. Acrescentem-se a isso, formando
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
6
um complexo quadro, fatores diversos, entre os quais esto
questes culturais e polticas graves, como a ausncia de
bibliotecas escolares, o despreparo de profissionais de bibliotecas
pblicas para o atendimento a estudantes, a ausncia de um
trabalho articulado entre bibliotecas e escolas, a cultura brasileira
que pouco valorizou o livro etc.
Para ilustrar o desservio causa da leitura que determinados
profissionais prestam populao, talvez pudessem ser juntados
outros exemplos ao que Silva (1999) relata, quando menciona seu
sonho e sua desiluso ao tentar concluir, num dia de chuva, na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - aquela que deveria ser o
modelo de biblioteca do pas - um texto para uma conferncia que
faria na Biblioteca Estadual da mesma cidade.
Conta que, depois de duas tentativas de ocupar uma mesa em
diferentes salas na Biblioteca para terminar seu texto, desistiu, pois
as funcionrias o impediram em nome de uma norma da casa,
segundo a qual, naquele local, s seria permito consultar e no
escrever.
Com efeito, durante muitos anos, o usurio daquela biblioteca
chamava-se consulente e, talvez, esse termo ainda estivesse
presente na memria dos administradores, mesmo tendo sido
substitudo, h vrios anos, em inmeras bibliotecas e centros de
informao por leitor, usurio e at mesmo cliente.
Mas, deixando de lado esse problema, sem ignorar seus efeitos
negativos sobre a educao em geral e sobre o trabalho escolar, em
particular, vamos nos deter numa pequena anlise do problema da
leitura na escola.
A par de estudos tericos, elaboramos um questionrio,
aplicado a noventa professores da rede pblica estadual de So
Paulo, no programa de Educao Continuada Teia do Saber. O
resultado da tabulao mostra que a pesquisa desenvolvida na
Universidade poder ser beneficiada pelo contato mais prximo
com a escola, ao mesmo tempo em que estar devolvendo para a
escola resultados aplicveis. Mas para isso, importante que se
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
7
estabelea um trabalho em parceria entre os profissionais, para a
adequao de temas e mtodos.
Um rpido olhar sobre os temas recorrentes na escola j
apontam para significativas diferenas entre aquelas instituies e
a universidade. So comuns, entre os professores da rede pblica,
temas que atendem a emergncias da populao, como sexo,
violncia, mes adolescentes, drogas. Num primeiro contato,
percebemos que as pesquisas acadmicas da rea de Letras,
raramente, enveredam por essas questes, o que j marca algum
descompasso. Os temas mais presentes na vida acadmica so de
cunho terico, ou terico-prtico e passam, normalmente, longe
dessas questes.
Conscientes, pois, da necessidade de um trabalho parceiro e
das dificuldades presentes num ensino que pouco favorece o
engajamento do professor e menos ainda o do aluno, decorrentes,
por exemplo, do pouco tempo que a criana passa na escola; do
curto tempo do prprio professor para leituras; da difcil
acessibilidade s poucas bibliotecas de bairro; da quase ausncia
do livro na escola; da carncia cultural da famlia brasileira etc.,
nos propusemos iniciar a tarefa por uma investigao que pudesse
sinalizar, de alguma forma, para questes que vinham provocando
perguntas, nem sempre respondidas.
Assim, nosso objetivo ao apresentar e discutir os resultados do
experimento de leitura, realizado junto a alunos do ensino
fundamental II, de cinco escolas pblicas de So Paulo, restringiu-
se a verificar como os estudantes compreendiam diferentes
gneros e como reagiriam diante de uma nova proposta de
atividade de leitura.
Fundamentos
Construmos, previamente, uma base terica, fruto de leituras
e reflexes, para servir de apoio a nossa investigao.
Evidentemente, estava descartada a concepo de leitura como
mera decodificao de signos lingsticos. Assumimos a leitura
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
8
como um processo de compreenso abrangente da realidade que
cerca o leitor, fazendo com que, a partir do objeto lido, ele mesmo
fosse capaz de pr em ao seus conhecimentos, suas experincias
para construir o sentido do texto, indo, muitas vezes, alm da
superfcie textual.
Tambm tnhamos presente que a aptido para ler e produzir
textos com proficincia seria o mais significativo indicador de bom
desempenho lingstico dos nossos informantes, j que ler com
proficincia implica ser capaz de apreender e expressar os
significados inscritos no interior de um texto e de correlacionar
tais significados com o conhecimento de mundo que circula no
meio social em que o texto produzido.
Assim, buscamos autores que trabalham com abordagens
interativas, uma vez que nos parecem mais adequadas para a
educao lingstica continuada.
Reconhecendo a importncia dos conhecimentos prvios e da
memria cultural do leitor, buscamos subsdios, basicamente, em
Smith (1999) e em Kleiman (1992, 1993) Embora nos parea
indiscutvel a importncia dos conhecimentos prvios, como
apontam os autores, para que haja compreenso de textos lidos,
nos perguntamos sobre o seu potencial no acionamento de
conhecimentos para a construo do novo, de modo especial
decorrentes de processos automticos, por meio dos quais o leitor
interpreta as marcas formais do texto, facilitando o carter
interacional da leitura.
No plano das sensaes, o prazer pela leitura, muito presente
nas preocupaes do professor, foi subsidiado por Pennac (1993) e
Moraes (1996) que nos provocaram para pensar no carter positivo
e negativo de um texto, seja em funo da temtica, do
cumprimento do dever, por exemplo.
Em Sol (1998), encontramos subsdios para refletir sobre
estratgias de leitura, vinculadas a objetivos previamente definidos
e em Leffa (1996), vimos destacada a intertextualidade, abordada
por vrios dos autores mencionados.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
9
A partir de Kaufman & Rodrigues (1995) e Cintra & Passarelli
(2002), reafirmamos o papel facilitador do professor, observado
tambm em Kleiman (1989), o que impe um novo olhar sobre o
processo, seja da parte do professor, seja da parte do prprio aluno.
Compondo o quadro do novo olhar, nos valemos de Grice
(1969?) que, juntamente com os filsofos de Oxford, colocou no
centro das atenes a concepo de lngua ao, forma e lugar
onde se d a prtica de diferentes atos sociais, compromissados,
por consenso, com o coletivo cujas regras so estabelecidas no
prprio processo.
Pela lngua, a prtica de atos sociais acarreta reaes,
comportamentos que fazem parte do jogo em que todos esto
envolvidos. E a interao no diz respeito apenas ao contato entre
indivduos, mas abrange a forma do contato, as reaes dos
parceiros sociais, uma vez que a linguagem se concretiza como
atividade em situaes pragmticas.
Em vista disso, foi levado em conta ? como vem apresentado
mais abaixo ? , tanto o que dizem professores sobre seus trabalhos
com leitura, quanto o que ramos capazes de conhecer sobre a
realidade dos estudantes, sobre seu preparo para perceber a
estrutura de um texto, sua percepo do tom desse mesmo texto e
das intenes do autor. Estariam os estudantes preparados para
realizar boas parfrases, para fazer inferncias?
Acreditvamos que se houvesse a intervenincia dessas
habilidades e capacidades, os prprios estudantes estariam aptos
para abrir caminhos na direo da construo do significado
textual e dos sentidos coerentes. No ignorvamos, mesmo que em
termos globais, a faixa etria, o desenvolvimento intelectual e a
experincia de mundo dos informantes. Por outro lado, cientes de
que todo texto produzido para determinados receptores e que a
eficcia da sua recepo depende, em boa parte, da capacidade do
autor em estabelecer com seus leitores potenciais uma relao
cooperativa, procuramos dar redobrada ateno seleo de temas
e textos que seriam submetidos aos estudantes.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
10
Costuma-se admitir que, nos dias de hoje, o aluno dispe de
uma quantidade expressiva de informaes sobre quase todos os
domnios do conhecimento. Mas o que ele no sabe hierarquiz-
las, estabelecer as devidas correlaes entre elas, discernir as que
se correlacionam das que se excluem, utiliz-las adequadamente
como recursos argumentativos para sustentar seus pontos de vista.
Por isso, nos textos e pelos textos que o aluno adquire a
competncia de operar criativamente com os dados armazenados.
Sendo nossos informantes alunos do ensino fundamental II,
tomamos como possibilidade a presena do ldico, considerando o
prazer que um texto dessa natureza pode causar na explorao
simblica da fantasia e da imaginao, propiciando o desabrochar
do ato criador e intensificando a comunicao entre texto e leitor.
Tambm no descuidamos do vocabulrio presente nos textos,
considerando seu papel na compreenso de conceitos, na
construo de sentidos, mesmo admitindo que h diferentes graus
de compreenso conceitual, que vo desde o total
desconhecimento do sentido de uma expresso, a ponto de impedir
a compreenso, at a possibilidade de atribuio de sentido no
prprio texto, graas a associaes que o leitor faz entre o termo
utilizado e o contexto, ou entre o termo utilizado e seu
conhecimento de mundo.
No nvel dos conhecimentos temticos, entendemos que um
saber pode ser estruturado ou no, ou dito de diferentes formas;
fazer parte do conhecimento intuitivo e natural do indivduo, ou
ser um conhecimento formal e sistematicamente adquirido. E o
conhecimento, em sentido lato, que tem uma dupla funo: serve
de "ncora" na construo de novos conhecimentos para o leitor,
ao mesmo tempo em que representa um fator de economia de
linguagem para o autor que se permite operar com implcitos na
sua construo.
Na leitura de todo texto, bastante provvel que seja, por
intermdio de esquemas, que o leitor vai compondo um "quadro"
de referncia, formado por uma rede multidimensional de unidades
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
11
conceituais, a partir da qual o "input" visual avaliado. , ento,
com base em quadros de referncia iniciais que o leitor
compreende o texto e constri novos conhecimentos, que, por sua
vez, recompem o seu universo cognitivo.
A presena de esquemas parece ser clara quando aproximamos
o ato de ler um texto com o ato de ler o mundo no nosso dia-a-dia.
De fato, as situaes do cotidiano recebem respostas analgicas ou
automticas em funo de esquemas armazenados em nossa
memria, por meio de uma organizao ativa de reaes do nosso
passado.
Professores e ensino de leitura
Em vrias oportunidades de capacitao, temos procurado
conhecer o que pensam professores da rede pblica sobre sua
tarefa de ensinar leitura na escola. De maneira geral, as respostas
tm sido recorrentes, deixando a impresso de que questionrios
que buscam informaes sobre a prtica dos professores com
leitura, levam a respostas que no condizem bem com a realidade,
ou antes, que correspondem ao que pensam fazer quando
trabalham com leitura, ou ao que imaginam que gostaramos de
receber como resposta.
Questo quase intil tem sido perguntar ao professor se ele
gosta de ler, uma vez que h na sociedade uma idia da
importncia da leitura, mesmo que no praticada, o que leva a
maioria dos professores a dizer que gosta muito de ler. No entanto,
quando a isso se junta o quanto lem, prevalece a alegao da falta
de tempo. Portanto, de nada adianta gostar sem ler, pois parece
claro que o professor que no l, dificilmente consegue envolver
seu aluno para a prtica da leitura.
Tambm recorrente tem sido a indicao de mais
oportunidades de curso de educao continuada, em servio; de
classes menores; de espao na rotina escolar para interagir com
colegas acerca de atividades de leitura; de maior acesso a materiais
diversificados como filmes, jornais, livros paradidticos etc. Em
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
12
nenhum momento, fala-se em ter mais tempo para ler ou trabalhar
com estratgias destinadas leitura.
Com insistncia, afirmam os professores que trabalham com
diferentes gneros textuais em sala, apontando, inclusive, para a
utilizao de jornal, poesia, livros de aventura e revistas em
quadrinhos. De fato, o que parece claro que se valem de
diferentes textos, o que em si j pode ser um ganho, mas no
parece ocorrer um trabalho efetivo de leitura de gneros diferentes.
Admitidas como prticas saudveis, mesmo que se ignorem as
razes, afirmam fazer com seus alunos leituras coletivas
(traduzidas, normalmente, como: um l e a classe acompanha) e
leituras silenciosas. Tambm, invariavelmente, respondem que
deixam que os prprios alunos escolham aquilo que vo ler.
Quando buscamos saber quais so os procedimentos utilizados
para avaliar leitura, em geral, obtemos como resposta: a discusso
oral em sala, o trabalho em grupo e os chamados seminrios cuja
caracterizao costuma ser pouco clara.
Quando se pergunta sobre as dificuldades para trabalhar
leitura na escola, as respostas passam longe da falta de recursos
estratgicos, de preparo especfico do professor e se concentram
em questes do tipo: os entraves dos alunos para a aquisio de
livros, a falta de livros na escola.
Com relao ao comportamento dos alunos diante da leitura,
os professores dizem notar maior gosto por livros de aventura,
histrias em quadrinhos, romances, poesias.
Em sntese, perguntar ao professor sobre suas aes para
trabalhar leitura pouco auxilia na pesquisa, a menos que ainda no
tenhamos chegado a formulaes mais adequadas.
O experimento e sua aplicao
Para a realizao do experimento, foram preparadas duas
atividades de leitura, aplicadas a 349 estudantes de cinco escolas
pblicas do ensino fundamental II de So Paulo, durante o ms de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
13
junho de 2004. O nmero de atividades foi restrito, dado que
obtivemos licena para utilizar cerca de uma hora do tempo
disponvel para a disciplina e desejvamos que o experimento
fosse realizado num s dia.
Previamente, as professoras deas escolas foram informadas
sobre os objetivos do experimento e tomaram conhecimento do
material que seria utilizado para leitura de seus alunos. Para a
elaborao das atividades, o primeiro cuidado foi descartar
atividades freqentes nos livros didticos e selecionar algo
diferente, instigante. Assim, foram observados trs requisitos: 1)
textos curtos, j que era sabido, pelo contato com as professoras
que, em geral, os alunos reclamavam quando lhes eram
apresentados textos longos; 2) textos com temas / assuntos,
supostamente, agradveis ou condizentes com as possibilidades de
leitura deles, uma vez que, era tambm sabido que reclamavam de
textos chatos; 3) recursos que, mesmo em pequena escala,
pudessem mostrar diversificao em relao s prticas usuais.
As atividades foram aplicadas, nas cinco escolas, sendo que
em quatro delas pelas prprias professoras e, em uma, pela bolsista
de Iniciao Cientfica. A aplicao do experimento pela bolsista
tinha por finalidade ver se seria possvel identificar algum trao
diferencial, em razo da situao nova criada para os alunos.
Para a primeira atividade selecionamos 45 textos diferentes,
sendo 13 deles retirados de livros didticos, uma vez que a
utilizao do livro didtico era um aspecto que estava em um dos
focos das nossas curiosidades.
Nosso objetivo era verificar o desempenho dos estudantes na
leitura de diversos gneros, tendo em vista identificar, pelo
conjunto, facilidades e dificuldades, de modo particular
considerando que os professores nos informaram ser uma prtica
comum a utilizao de diferentes gneros em atividades leitoras
nas escolas.
Na seleo dos textos, levamos em conta dois critrios
bsicos: o tamanho e sua provvel legibilidade para nossos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
14
informantes. No podamos selecionar textos longos por dois
motivos, igualmente importantes: o tempo disponvel para o
experimento e a possibilidade de adeso dos estudantes tarefa,
normalmente avessos a textos longos. No que se refere
legibilidade, nossa deciso passou pelo tema, pela adequao do
vocabulrio, das construes sintticas. Com relao ao tema, duas
preocupaes estiveram presentes: no selecionar nada que
pudesse se aproximar de uma provocao ou agresso a valores
sociais, polticos ou religiosos vigentes, nem temas que, de alguma
forma, pudessem estar, em demasiado, distantes do universo dos
estudantes, levando em conta sua faixa etria e provvel nvel
scio-econmico e cultural.
Textos e atividades foram submetidos, previamente,
apreciao dos professores responsveis pelas classes, o que, de
certa forma, referendou a seleo dos textos, segundo padres
aceitveis pelas escolas.
Na primeira atividade, foi entregue a cada estudante um texto
diferente para ler e informar, por escrito, o que havia
compreendido da leitura. Sabamos que estvamos juntando duas
dificuldades: ler e escrever. No entanto, em face do nmero de
informantes, nos parecia a melhor forma de conhecer o resultado
de leituras individuais.
Para a segunda atividade, selecionamos um texto, tambm
curto e simples na sua organizao, com tom jocoso e o
submetemos tcnica dos Torpedos Pedaggicos, desenvolvida
pela Professora Llian Passarelli e j experimentada com sucesso
em cursos de Educao Continuada. Consiste a tcnica em
transformar todo o texto em um conjunto de perguntas que, uma
vez respondidas, demonstram a compreenso do mesmo. As
perguntas, devidamente numeradas segundo a seqncia textual,
so embaralhadas e feitas de forma aleatria, para os participantes,
o que leva a classe a fazer freqentes retomadas de partes e mesmo
do todo.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
15
Embora o texto fizesse referncia a pessoas que dificilmente
algum dos informantes pudesse conhecer, como, por exemplo,
Nomia Mouro, seria fcil saber que se tratava de uma pintora,
pelas informaes nele presentes.
Tendo em vista o tamanho do texto e o nmero de perguntas
significativas para demonstrar compreenso, a aplicao se deu,
basicamente, em duplas.
Os resultados
Leitura de diferentes gneros
Surpreendentemente, textos tomados, por ns, como de fcil
compreenso, mereceram de alguns alunos, em lugar da redao de
frases expressando sua compreenso, uma mera transcrio de
frases neles constantes, deixando como suspeita a no
compreenso, ou a evidncia da prtica escolar da reproduo.
Dentre os treze textos retirados de livros didticos, cinco no
foram compreendidos. Isso preocupante, pois, em muitas escolas,
o livro didtico , praticamente, o nico recurso utilizado durante
as aulas e, se os alunos esto com dificuldades de compreender os
textos nele contidos, pode-se imaginar que a utilizao do livro
didtico, para trabalho com leitura, deveria receber cuidado
especial.
Um desses treze textos nos causou mais dificuldade para
interpretar a leitura dos alunos, uma vez que tinha como ttulo Oi,
Pedro e recebeu manifestaes de compreenso do tipo: O texto
sobre o Pedro, ponto final; a carta de uma pedra. Tentamos
buscar na estrutura do texto e no seu contexto algum tipo de
explicao plausvel para as manifestaes. Com efeito, trata-se da
reproduo de uma carta trocada entre dois colegas, no entanto
isso nos pareceu insuficiente para justificar o resultado. Teria o
texto provocado para brincadeiras?
Tambm nos surpreendeu uma histria em quadrinhos sobre o
Menino Maluquinho, com o ttulo: O que so oxtonas. Dos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
16
dez alunos que fizeram a leitura, somente quatro o entenderam.
Segundo os professores, as histrias em quadrinhos so de
interesse dos estudantes e de fcil compreenso. No entanto,
acreditamos que, no julgamento que fazem, no levam em conta a
temtica da histria e generalizam a facilidade para o formato
quadrinhos.
Como mostrou a atividade, o desconhecimento de palavras-
chave do texto compromete a compreenso. E neste caso, os
prprios alunos informaram ignorar o que seria oxtona.
Isso mostra como inquestionvel a necessidade de
conhecimentos prvios, para um estudante, pouco habituado a ler,
que no dispe de recursos para construir sentidos, sequer para
formular hipteses a partir de algumas informaes que conhece.
Embora tenhamos, como dito anteriormente, buscado textos
que entendamos adequados ao nvel dos alunos e que foram
submetidos apreciao das professoras, o poema Pivete foi
considerado muito difcil. Faltaram aos alunos conhecimentos
prvios e habilidade para ler nas entrelinhas, prtica que,
provavelmente, no faz parte do universo dos estudantes que ficam
bastante presos linearidade e reproduo, ou mesmo repetio
dos textos.
Um aspecto curioso com esse poema foi o fato de ele ter sido
melhor compreendido por meninas que por meninos. Seria algo
ligado maior sensibilidade das meninas para ler e compreender
poemas? Ou haveria a um trao de preconceito do tipo poema
coisa para meninas?
Outro poema que focalizava as baleias s foi compreendido
por uma parte dos alunos; a outra parte fez mera reproduo do
texto.
Ainda na esteira da falta de conhecimentos prvios, ficou um
texto muito curto e de fcil compreenso, denominado Surfe na
academia. Provavelmente, ofereceu dificuldades em funo de os
alunos no conhecerem as etapas de aprendizagem do surfe que
comea na piscina, para depois ir para o mar.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
17
O texto de jornal, Professores tero aula sobre deficientes,
foi, na verdade, extrado de um livro didtico e,
surpreendentemente, gerou uma compreenso equivocada, uma
vez que os alunos entenderam que os professores esto dando
oficinas para alunos deficientes, em lugar de compreenderem o que
o texto diz: professores esto sendo preparados, por meio de
oficinas, para aprender e depois dar aulas para deficientes.
Tambm o texto da Folha de So Paulo, Questo de
perspectiva, no foi compreendido. De fato, ele exigia um pouco
mais do leitor e entre dez alunos apenas um o compreendeu.
Tela em braile foi outro texto minsculo, que ofereceu
dificuldade. A maioria dos estudantes que o leram (oito em dez)
no o entenderam. verdade que o texto tem uma linguagem mais
tcnica e menciona a possibilidade de telas de computador em
braile. possvel que os alunos no soubessem o que vem a ser
braile.
De forma inesperada, um simples folheto de divulgao
informativa sobre Piolhos foi apenas reproduzido pelos leitores.
E o texto Veja a rvore que batizou o pas foi compreendido,
tambm por uma minoria (trs em onze). Como o texto
informativo sobre piolhos, o Veja a rvore que batizou o pas
no de difcil compreenso, mas suas informaes geraram
confuso.
Que fim levou o sambista tradicional? era dos poucos textos
mais longos e gerou dificuldade. Dos dez alunos que o leram,
somente dois entenderam.
Em sntese, admitimos que o tamanho do texto conta, mas no
primordial. Mais que o tamanho, conta o assunto, o tema e a
linguagem, como mostrou a leitura do texto Eco Kids: No ande
por fora. Trata-se de um panfleto da Concessionria de Rodovias
Ecovias. Os dez alunos que o leram compreenderam-no
perfeitamente. O texto apresentado sob a forma de histria em
quadrinhos e trata de um assunto que a maioria conhece: a
importncia do acostamento nas estradas.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
18
Contrariamente ao esperado, manifestaram muita dificuldade
para entender textos tirados de jornais, mais particularmente de
notcias, o que foi surpreendente, em face das manifestaes dos
professores.
Tambm a leitura de poemas foi de difcil compreenso,
provavelmente por exigir maior esforo mesmo, ou por
preconceito.
Os Torpedos
Esta atividade foi muito bem recebida pelos alunos,
provavelmente, porque no precisavam escrever nada, j que as
respostas teriam de ser dadas oralmente, alm de ser algo novo
para eles.
De acordo com a orientao, o aluno no sabia qual seria a sua
pergunta, pois ele s dispunha do texto e de um nmero distribudo
entre eles, de forma aleatria, no incio da atividade.
Feita a leitura do texto em voz alta, as duplas passaram a ser
chamadas, a partir da escolha, tambm aleatria, de um dos
nmeros indicativos das questes formuladas previamente. A
dupla que tivesse a posse do nmero enunciado deveria responder
a pergunta formulada pela professora.
Foi interessante observar que poucas vezes os alunos
retornaram ao texto para responder, demonstrando ter bastado a
primeira leitura para compreender o que dizia o texto.
A pergunta que no foi respondida pela maioria foi a que tinha
como resposta uma explicao a respeito do que vinha a ser um
deputado. Embora o termo, provavelmente fosse reconhecido por
eles, no dispunham de informaes que permitissem explicitar a
funo do deputado.
De maneira geral, das dez classes de informantes, somente
duas tiveram mais dificuldades nas respostas, pois eles no
perceberam que era um texto irnico e responderam ao p da letra,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
19
reproduzindo mesmo o texto, sem externar opinio, deixando claro
que no conseguiram compreender o que leram.
As outras oito classes compreenderam o texto e demonstraram
ter sido produtiva a atividade, uma vez que mesmo diante do sinal
que soava, queriam continuar na sala em funo da atividade.
Palavras Finais
Se a leitura est relacionada experincia do leitor, sua
histria social, podemos dizer que nossos informantes encontram-
se a meio do caminho, uma vez que demonstram potencial e
disposio, no entanto, a escola ainda propicia oportunidades
aqum desse potencial. Se importa o que o autor do texto diz,
tambm importa a produo de sentido realizada pelo leitor.
Com as duas atividades aplicadas nas escolas, verificamos que
a compreenso dos alunos sobre um texto ainda muito
superficial. Falta um trabalho mais dirigido a estratgias,
ampliao de repertrio, compreenso.
Embora restrita ainda ao grupo testado, pode-se supor que os
alunos esto abertos a novas propostas, o que aumenta a
expectativa de reverso do quadro atual. Na atividade Torpedo
ficou bem claro que eles apreciam coisas novas, dinmicas, afinal,
so de uma gerao em que predomina a rapidez, a mobilidade.
A certeza dos professores de que os alunos tm maior
facilidade com histrias em quadrinhos e poemas, provavelmente,
merece ser analisada, para que a escola no incorra em
generalizaes equivocadas.
Formar leitores, especialmente entre os mais jovens, oferecer
uma ferramenta fundamental para ampliar a sua concepo do
mundo e at alter-la, transferindo-a para situaes do seu
interesse.
A leitura, sem dvida, faz parte do cotidiano das pessoas, mas
na educao formal que ela deve ser exercitada em suas prticas
e de forma planejada.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
20
A utilizao de textos que circulam no cotidiano pode se
constituir numa opo proveitosa, no entanto, sem o professor
leitor, sem o professor mediador de leitura, capaz de motivar o
aluno para ler, de despert-lo para descobrir novos horizontes e
sem estratgias adequadas, o esforo para formar alunos leitores
parece ser desproporcional aos resultados possveis.
Nossa pequena amostra permitiu ver que no houve diferenas
significativas nos resultados, quando a aplicao do experimento
se deu pela bolsista ou pelas professoras de classe e que atividades
leitura, quando bem preparadas podero, de fato, estimular, nas
crianas, o debate e o julgamento crtico.
Sabemos que nossos escolares esto longe de um ideal, j que
o dficit, em termos de leitura, relativamente grande. Mas com
procedimentos adequados, com um planejamento que corresponda
s necessidades e interesses dos alunos, provvel que se possa
chegar a resultados mais positivos.
Referncias bibliogrficas
Cintra, A. M. M. e Passarelli, L. M. G. (2002). Leitura Lngua
Portugus: Mdulo 1. PUCSP e Secretaria de Negcios da
Educao do Estado de So Paulo. So Paulo.
Grice, P. H. (1982). Lgica e conversao. In: DASCAL, M.
Fundamentos metodolgicos da lingstica. v. IV Pragmtica.
Campinas: produo independente, p. 81-104.
Kato, M. A. (1982). No Mundo da Escrita. So Paulo: tica.
Kaufman, A. M. e Rodriguez, M. H. (1995). Escola, leitura e produo
de textos. Porto Alegre: Artes Mdicas.
Kleiman, A. B. (1989). Leitura: ensino e pesquisa. So Paulo: Pontes.
Kleiman, A. B. (1992). Texto e Leitor. Aspectos cognitivos da leitura.
Campinas: Pontes.
Kleiman, A. B. (1993). Oficina de leitura: teoria e prtica. Campinas:
Pontes.
KOCH, I. V. (1992). A inter-ao pela linguagem. So Paulo: Contexto.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
21
Leffa, V. J. (1996). Aspectos da leitura. Porto Alegre: Sagra - DC
Luzzatto.
Meurer, J. L. Schemmata and Reading Comprehension. Ilha do Desterro,
13, Florianpolis, 1985: 31-46.
Morais, J. (1996). A arte de ler. So Paulo: Editora da UNESP.
Pennac, D. (1993). Como um romance. 2 ed., Rio de Janeiro: Rocco.
Smith, F. (1999). Leitura significativa. 3 ed., Porto Alegre: Artes
Mdicas.
Sol, Isabel. (1998). Estratgias de leitura. Porto Alegre: Artmed.
Da histria e da enunciao sobre
o termo estelionato no Brasil
Elza Eliana Lisboa Montano - UFRGS
Silvana Silva - UFRGS
Eis o monstro [Gerio, smbolo da fraude] de cauda
pontiaguda, com a qual fura couraas, atravessa
muralhas e montes, e cuja peonha envenena o
mundo. O rosto e as feies, na harmonia da forma e
na maciez da pele, de homem justo pareciam. De
serpente era todo o mais do corpo. Tantos matizes em
si revelava como jamais teceles trtaros e turcos
usavam em suas telas; nem Aracne teceu nada
parecido.
(A divina Comdia, Inferno, Dante Alighieri)
Introduo
O presente artigo tem por objetivos estudar o delito de
estelionato em sua existncia histrica no Brasil bem como em sua
existncia enunciativa. Para realizar o primeiro objetivo,
pesquisamos todos os cdigos penais brasileiros para verificar a
existncia de artigo de lei e definio do termo estelionato. Assim,
fizemos comparaes entre os artigos de lei, observando sintticas
e lexicais relativas definio legal de estelionato. Alm disso,
fizemos duas anlises de processos judiciais de pocas distintas.
Nossa anlise histrica pautada pelos pressupostos tericos da
teoria de Bakhtin (2002), autor que observa a indissocivel relao
entre sociedade e discurso. Para concretizar o segundo, partiremos
da anlise de um ato falho (cf. Freud, 1996) revelando, igualmente
uma definio de estelionato, a saber, a da constituio de um
esteretipo. Valendo-nos dos pressupostos da teoria da enunciao
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
23
(Benveniste, 1988, 1989), a qual postula a indissocivel relao
entre discurso e pessoa, observaremos como o conhecimento do
ato de estelionato pelas pessoas nele envolvidas inicia-se a partir
de um ato de esteretipo. Pessoa e sociedade, embora sejam
instncias diferentes, compartilham o fato de constiturem o
mbito em que tanto o texto legislativo quanto os processos
judiciais, objetos de nossas anlises, encontram existncia. Assim,
nosso estudo contempla a definio legal do termo estelionato, tal
como construda na sociedade brasileira ao longo de sua histria,
bem como a definio pessoal do termo estelionato, tal como
construda a partir da experincia de um locutor.
1. A histria do termo estelionato
As sociedades, ao evolurem, modificam suas estruturas
sociais e econmicas. Com isso, so inevitveis as transformaes
e as alteraes na esfera jurdica. No sculo XVIII, frades
franciscanos de So Luiz do Maranho - amparados em regras de
Direito Cannico-, processaram todas as formigas de um
formigueiro que furtavam a despensa de uma comunidade
eclesistica (Bosch, 2002); hoje, s os cidados so suscetveis de
responsabilizao criminal. No Cdigo atual, os danos decorrentes
de animais em outras pessoas so de responsabilidade dos seus
donos (Cdigo Civil, Artigo 936, em Anexos).
Dessa maneira, as leis sempre procuraram caminhar
paralelamente a uma dada situao histrica, j que o corpo
social que garante - atravs dos seus representantes - a elaborao
da Constituio Federal e demais leis, cujo objetivo a
organizao da sociedade. O judicirio o Poder que
instrumentaliza a aplicao dessas leis. As leis existem e so
impostas coercitivamente a todos os cidados de uma sociedade, e
quem as desobedece recebe punies correspondentes a cada
infrao ou delito cometido. No conceito do Direito Penal existem
dois sujeitos: sujeito ativo, autor do delito; sujeito passivo, pessoa
que sofreu o delito (Silva, 2003, p. 1344).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
24
Para Bakhtin (2002, p. 32), todo o sujeito ideolgico, tudo
que ideolgico um signo. Sem signos no existe ideologia,
visto que, para que esse sujeito exista, precisa estar socialmente
organizado, ou seja, pertencer a uma unidade social. O ideolgico
no est ancorado fora do signo, pois tudo que ideolgico possui
um valor semitico; sendo assim, para a teoria bakhtiana a vida
dialgica por natureza (Brait, 2001, p. 30).. Assim, a ideologia
est no signo, por isso ela precisa ancorar-se em algo que a
constitua, e o faz atravs da palavra - o modo mais puro e
sensvel de relao social, segundo Bakhtin (2002, p. 36).
atravs da palavra que essas vrias vozes ouvem e so ouvidas.
1.1 Anlise histrica da definio legal do termo estelionato:
das Ordenaes Reais era democrtica
Nosso objeto de estudo so as definies do termo estelionato,
tal como se apresentam nos Cdigos Penais vigentes no Brasil.
Nossa metodologia de anlise, conforme aos princpios
bakhtinianos, pretende comparar os artigos de lei de diferentes
cdigos relativamente a alguns signos ideolgicos, isto , s
palavras em sua relao com a sociedade da poca em que foram
enunciadas. Tomaremos, nessa comparao, tanto signos
ideolgicos que desapareceram quanto os que se perpetuaram nas
enunciaes dos artigos de lei de estelionato.
O Brasil teve, historicamente, as seguintes legislaes: a)
Cdigo Filipino - 1832; b) Cdigo Criminal do Imprio do Brasil -
1832; c) Cdigo Penal de 1890; d) Consolidao das Leis Penais
de 1932; e) Cdigo Penal de 1940, o vigente; f) Lei das
Contravenes Penais 1941; e) Cdigo Penal de 1969. Dado esse
panorama das legislaes brasileiras, procederemos a anlise do
termo estelionato, tema deste artigo.
A historicidade da palavra estelionato na legislao brasileira
pode ser vista em Silva (2003, p. 561). Segundo Silva (2003, p.
561), a palavra estelionato provm do latim stellionatus (fraude,
engano, embuste), entende-se, genericamente, toda espcie de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
25
fraude ou engano, introduzida nos contratos ou nas convenes,
com o intuito de realizar um negcio, a que se est vedado, a
ceder objeto, que no possa ser cedido, ou a tirar ou obter
proveito ou vantagem, que se considere ilcita. O conceito jurdico
desta palavra : Mas, distingue-se das outras fraudes ou artifcios,
porque vem sem qualquer violncia ou coao, consistindo, por
isso, no ardil intentado para obteno dolosa do consentimento de
outrem realizao do contrato ou da convena [...].
Somente a partir de 1832, com o Cdigo Criminal do Imprio
do Brasil, o termo estelionato mencionado pela primeira vez,
includo no ttulo Dos crimes contra a propriedade, no artigo 264.
Estelionto, s.m (Lat. Stellionatus, us; de stielo, onis, lagarto
malhado, cujas malhas e movimentos tortuosos se comparam s
alicantinas do fraudador. [...] Este crime desgraadamente um
dos mais frequentes no commercio de todos os pazes (Faria, 1878,
p. 1166). Esse fato indica-nos, assim, a inexistncia de penalizao
de tal atitude na poca do Cdigo Filipino. Em contrapartida,
algumas atitudes que fazem parte do nosso dia-a-dia eram crimes
no passado, como o caso da fofoca. No Cdigo Penal dos Estados
Unidos do Brasil de 1890, essa palavra permanece includa no
ttulo XII Dos crimes contra a propriedade pblica e particular,
no artigo 338. No Cdigo Penal de 1932, aparece no Artigo 338 -
Dos crimes contra a propriedade pblica e particular; j no
Cdigo de 1940, ele capitulado no Artigo 171 - Dos crimes
contra o patrimnio.
Verificaremos as concepes de estelionato nos Cdigos em
que figura esse termo. No Artigo 264, no Cdigo Imperial do
Brasil, no inc. 4, temos: em geral todo e, qualquer artifcio
fraudulento, pelo qual se obtenha de outrem toda a sua fortuna ou
parte dela, ou quaisquer ttulos; j no Artigo 338, no Cdigo
Penal de 1932, o inc. 5 tipifica: usar de artifcios para
surpreender a boa f de outrem, iludir a sua vigilncia, ou
ganhar- lhe a confiana; e, induzindo-o a erro ou engano por
esses e outros meios astuciosos, procurar para si lucro ou
proveito. No Cdigo Penal de 1940, o artigo 171 dispe: Obter,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
26
para si ou para outrem, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
induzindo ou mantendo algum em erro, mediante artifcio, ardil,
ou qualquer outro meio fraudulento. (Pierangeli, 2001, p. 388-
469).
Definidos os artigos de diferentes Cdigos, pudemos perceber
a mudana semntica que as palavras tiveram: no Cdigo Imperial
de 1832, aparece expressa qualquer artifcio fraudulento[...] toda
a sua fortuna ou parte dela, referindo-se a dinheiro, bens; no
Cdigo de 1890, consta, pela primeira vez, a palavra confiana, no
Cdigo de 1932 so acrescentados os verbos usar, iludir, ganhar,
induzir, procurar, alm dos substantivos boa-f, vigilncia,
confiana, engano expressando claramente um ato enganoso,
fingido, traidor; e finalmente no Cdigo de 1940, o vigente,
emerge o pronome indefinido outrem, indicando que a pessoa ao
cometer esse crime no precisa ficar com o lucro ou proveito da
vtima para si, ela pode faz-lo em benefcio de outra pessoa.
Buscamos, mais uma vez, amparo terico em Bakhtin (2002,
p. 66): A palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde
se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientao
contraditria. A palavra revela-se, no momento de sua expresso,
como o produto da interao viva das foras sociais.
O Cdigo Penal de 1890, por exemplo, estende o seu olhar a
um outro substantivo: confiana. Percebemos o aparecimento
dessa palavra pela primeira vez no referido cdigo, no Artigo 5
usar de artifcios para surprehender a boa f de outrem, iludir
sua vigilancia, ou ganhar-lhe a confiana. Isso mostra que o
crime passa a ser definido no mais pela usurpao de uma
propriedade, de um bem de valor, mas pela inteno de enganar
atravs da conquista de confiana, seja qual for o valor material
envolvido. O elemento de confiana passa a constituir, a partir do
Cdigo Penal de 1890, uma das caractersticas essenciais da
qualificao do tipo objetivo e subjetivo do delito de estelionato
(Plcido Silva, 2002, p. 1401).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
27
Primeiramente, tinha-se o enfoque apenas em propriedade
(Cdigo de 1832). Em seguida, com a emergncia de novos
contratos sociais e comerciais, a palavra propriedade biparte-se em
pblica e particular (Cdigo de 1890), e, em menos de cinqenta
anos, em decorrncia dessas mudanas e acrescidas dos novos
valores familiares, surge um novo substantivo patrimnio
(Cdigo de 1932), para substituir o anterior- propriedade.
Entendemos tal alterao no somente como uma mudana
lingstica, mas como uma modificao tanto social quanto
ideolgica no uso da palavra patrimnio, aqui depreendido como o
conjunto de bens, de direitos e de obrigaes, [...] constituindo
uma universalidade, em detrimento ao entendimento de
propriedade como direito exclusivo ou o poder absoluto e
exclusivo que, em carter permanente, se tem sobre a coisa que
nos pertence, tambm de origem latina (Silva, 2003, p. 1014 e
1115). Assim, na definio de propriedade observa-se unicamente
uma referncia a bens materiais, enquanto que na de patrimnio,
tanto bens materiais quanto afetivos so referidos.
Percebemos, assim, que a troca do substantivo propriedade
por patrimnio no foi apenas uma permuta: a palavra patrimnio
registra uma mudana social e familiar brasileira. Benveniste
(1989, p. 96) assevera:
[...] o que muda na lngua, o que os homens podem
mudar, so as designaes, que se multiplicam, que
se substituem e que so sempre conscientes, mas
jamais o sistema fundamental da lngua. que se a
diversificao constante, crescente das atividades
sociais, das necessidades, das noes, exige
designaes sempre novas, preciso que em troca
exista uma fora unificante que faa o equilbrio.
O equilbrio aludido por Benveniste realiza-se, a nosso ver, na
e pela letra da lei, instncia ltima da regulao de mudanas
jurdicas.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
28
Constatamos, ainda, que a definio de estelionato vai-se
tornando mais genrica ao longo da histria desse crime no Brasil.
somente a partir do atual Cdigo de 1940 que o crime de
estelionato recebe uma definio separada, um caput - Estelionato,
qualificando o artigo 171 de forma abrangente. Anteriormente ao
Cdigo de 1940, havia apenas a enumerao de casos especficos.
Essa enumerao era constituda de verbos seguidos de
complementos especficos, diferentemente do que ocorre no
cdigo vigente, em que o complemento verbal no de natureza
especfica. Comparemos:
Cdigo Penal de 1890: Alhear, ou desviar os objetos dados em
penhor agrcola.
Cdigo Penal atual: Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilcita.
Percebemos, historicamente, um aumento de abrangncia na
definio para o termo estelionato. Acreditamos que tal fato se
deva considerao de fatos de natureza abstrata, como por
exemplo, vantagem ilcita, confiana, entre outras.
Se as palavras confiana e patrimnio no estiveram desde
sempre atreladas ao estelionato, no podemos dizer o mesmo de
ardil (ou artifcio) fraudulento. Ao nos debruarmos sobre os
Cdigos penais, percebemos que, em todos os artigos de lei, h o
uso das palavras artifcio fraudulento, artifcio para surpreender a
boa f, induzir a erros ao se referirem ao crime de estelionato,
palavras bem prximas ao do lexicgrafo Filardi Luiz (2000,
p.286): O vocbulo deriva de stellio, lagarto que muda de cor.
Por isso, o significado de impostor, velhaco, fraudador.
Percebemos que um sujeito, ao atuar como estelionatrio, precisa
partilhar perspectivas com aquele que ser a sua vtima, ou seja,
altera seu comportamento, estuda cada ao que ser determinante
em seu golpe. Metaforicamente, ele muda de cor.
1.2 Anlises de processos judiciais
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
29
Nessa seo, realizaremos anlises de dois processos judiciais
de pocas distintas. A identidade das pessoas envolvidas ser
mantida em sigilo. O primeiro relativo ao Cdigo de 1932 e o
segundo, ao Cdigo de 1940. Apesar de serem Cdigos com curta
distncia temporal, eles so muito diferentes entre si (ver Anexos).
Tal anlise ser realizada pela relao da aplicao penal do caso
em exame com a definio de estelionato dada pelo cdigo; bem
como pela comparao da definio de estelionato dos dois
cdigos abordados. Observaremos, ainda, os depoimentos de
testemunhas envolvidas no segundo processo judicial, as quais
revelam o discurso do estelionatrio.
1.2.1 Anlise de processo: o estelionato segundo o Cdigo Penal
de 1932
Esse caso relata a histria de uma senhora que ao ficar viva
procura um funcionrio do Tesouro para ajud-la na questo da
sua penso. Na poca em que ocorreu este crime, ele foi bastante
questionado em virtude da existncia de um contrato, o que deu
margem a pensar que a viva, ao dar quitao a este documento,
era sabedora do valor real a que tinha direito, isto , ao receber os
10:000$000 ela perdeu o direito de reclamar do montante de
52:276$499. O juiz muda o entendimento jurdico da poca,
relativo Consolidao das Leis Penas de 1932, ao dar a sua
sentena neste caso: mesmo existindo um acordo, isso no serviu
de prova suficiente para que a vtima perdesse os seus direitos,
principalmente neste caso, cujo procurador era homem intelligente
e conhecedor de negocios e a viva pessoa de nenhumas
letras, alm dos peritos da Policia da Capital Federal, serviram
de subsdios para o magistrado convencer-se de que a palavra dez
contos fora colocada aps a assinatura da vtima. (Piragibe, 1931,
p. 282).
Amparado nesses argumentos, o juiz condenou o procurador
por crime de estelionato Artigo 338 da Consolidao das Leis
Penais de 1932, fundamentalmente porque houve abuso de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
30
confiana, configurado no 6 - abusar de papel com assignatura
em branco, de que se tenha apossado, ou lhe haja sido confiado
com obrigao de restituir ou fazer delle uso determinado, e nelle
escrever ou fazer escrever um acto, que produza effeito jurdico
em prejuizo daquelle que o firmou. Assim, o procurador da vtima
teve de reembolsar viva a quantia de total de mais 43:276$499,
j descontado os 2:000$000 como pagamento pelos seus servios
prestados, visto que ficou provada a sua m f neste caso
(Piragibe, 1931, p. 281).
Este crime, naquela poca, era configurado como crime de
estellionato, de acordo com o artigo 145 do Codigo do Processo
Criminal. Atualmente, este crime faz parte Dos Crimes contra o
Patrimnio, Artigo 168, e foi a partir do Decreto-lei 1.0004, de 21
de outubro de 1969, que a denominao apropriao indbita
aparece pela primeira vez no discurso penal verde-amarelo.
Percebe-se aqui, uma amplitude semntica nas palavras
apropriao indbita em relao ao crime citado acima, j que no
se trata de um indivduo qualquer tentando ludibriar um outro
indivduo, mas de um sujeito que confia naquele indivduo,
inclusive elegendo-o como seu procurador, ou seja, h
caracterizao de confiana entre a vtima e seu
procurador/empregador/advogado.
Esse exemplo ratifica a relevncia da palavra confiana para
mostrar que estelionato e apropriao indbita eram considerados
o mesmo delito, no Cdigo Penal de 1932 e para mostrar que a
confiana caracterstica basilar dos crimes de estelionato. A
partir de 1940, como foi dito acima, o Artigo 168, relativo
apropriao indbita, introduz a figura do sujeito que se apropria
indevidamente de uma coisa mvel de outra pessoa, em razo da
relao profissional estabelecida com o outrem. Assim, podemos
dizer que atualmente o crime de estelionato e o de apropriao
indbita so figuras jurdicas diferentes. O primeiro caracteriza-se
pela inteno da posse do bem anterior ao dolo; o ltimo, tem o
dolo com subseqente posse desse bem. Sendo assim, a confiana
caracterstica essencial para que haja os crimes de estelionato:
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
31
no estelionato, h relao social de qualquer natureza em que se
pressupe a confiana; na apropriao indbita, h relao
profissional em que se pressupe a mesma.
Alm disso, esse caso refora a importncia da voz do outro,
do depoimento oral para ajudar o magistrado a dar a sua sentena;
aqui, a voz do outro representada pela voz viva; o que mostra
que s a leitura de um papel, de um contrato, no seria suficiente
para o juiz penalizar o procurador. E isso s foi possvel, porque o
contexto narrativo esfora-se por desfazer a estrutura compacta e
fechada do discurso citado (Bakhtin, 1986, p. 150), ou seja, a
viva teve a oportunidade de dialogar com o discurso daquele de
quem ela sofreu o crime de estellionato. Utilizando a metfora do
hipertexto, podemos dizer que a vtima possibilitou ao juiz -
atravs do seu discurso de mulher, de viva, de bem intencionada e
de pessoa de boa f, um novo olhar para abrir novas janelas a esse
caso: no valorizar somente as provas materiais, mas dar escuta
interlocuo do outrem, a mensurar as seqelas deixadas pelo
engano, pela quebra da confiabilidade por aquele que parecia
confivel.
1.2.2 Anlise de processo: o estelionato segundo o Cdigo Penal
de 1940
Processo 70009079344
Notaes de transcrio dos depoimentos:
D.C.S. = refere-se caixa da PUC, denunciada por
apropriao indbita
M.S.F. = refere-se a um colega de faculdade de D.C.S.
N.C.M. = refere-se a uma colega de trabalho de D.C.S.
C. A.G.M. = namorado de F.A.S.
F.A.S. = destinatrio da quantia desviada por D.C.S.
D. C. de S., caixa do Hospital da Puc, substitua cheques
dados em cauo por clientes do hospital por cheques de terceiros
de suas relaes. Ela repassava, em forma de emprstimos, os
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
32
referidos cheques a F.A.S. Os cheques retidos no hospital, em sua
maioria, no foram compensados, pois ela os substitua
constantemente pelos outros cheques de clientes, dos quais, em
parte, sacava. Como o contador apenas checava a soma do seu
caixa para ver se a entrada fechava com a sada (passivo/ativo),
alm da confiana que ele tinha por ela, facilitou a concretizao
da fraude. Isso ocasionou prejuzos Instituio Hospitalar (em
torno de R$ 62.000,000), e F.A.S. nunca a ressarciu dos valores
recebidos, como o combinado entre eles. D.C. de S. foi condenada,
em 10.02.2004, a trs anos de recluso, em regime aberto, mais
multa pecuniria de 260 salrios mnimos. F.A .S. deps no dia
28.01.2000, acompanhado por sua advogada, negando-se a
responder as perguntas do Delegado, alegando que o faria em
juzo; entretanto, nunca mais foi localizado, tornando-se foragido.
Depoimentos: M.S.F. [...] A ela me disse que tinha
um tal de Fernando, que ela tinha emprestado um
dinheiro e que o cara tinha dado um golpe nela.
(p.167)
N.C.M.: [...] Ele primeiro se fez meu amigo, bem
amigo mesmo mais que irmo, tanto que eu ajudei
mais ele que o meu prprio irmo [...] Os primeiros
talvez, acredito eu, para ganhar confiana ele me
pagou quantias pequenas, R$ 20,00; 80,00; 150,00...
agora as quantias maiores ele nunca pagou. (p. 187)
[...]Eu acreditava, porque ele se chegou como se
fosse um pobrezinho, aquela coisa toda, muito
maltratado pela vida, no tinha condies disso, no
tinha condies daquilo, apesar de se vestir bem. Ele
contava histrias: Porque a minha me... fui criado
assim, fui criado assado ... (p. 188)
C. G. M.: [...] tive prejuzo financeiro ao longo da
relao com o F.A .S. O F. A .S era uma pessoa bem
envolvente. (p. 192).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
33
[...] que o depoente tinha conhecimento que o
mesmo pegava (F. A .S) dinheiro emprestado com D.,
coisa que F. A .S dizia que era costume dela
emprestar dinheiro no s a ele mas para outras
pessoas. (p. 69).
Carta de F. A. S a D.:
D.,
Resolvi lhe escrever com o intuito de melhor
expressar o que sinto por tudo que voc tem feito por
mim. s vezes eu mesmo me pergunto como voc
consegue transpor barreiras do impossvel para me
ajudar... Quero muito o seu apoio. Conhecer voc e a
H. foi como reencontrar uma famlia. Gosto muito,
mas muito mesmo de voc... quero que saiba, que do
fundo do meu corao seria capaz de perder a minha
vida para que voc viva com todas as glrias que tu
merece.
D, com todo o respeito, eu te amo, por tudo que voc
como ser humano. Vida longa,
(p. 74).
Tomamos como estudo de caso o processo acima, cuja
funcionria D.C.S. foi enquadrada no Artigo 168 Apropriao
Indbita, em funo de ter-se apropriado de um dinheiro que
estava em seu poder em funo de seu exerccio profissional - para
melhor podermos analisar o discurso de F.A. S , o qual, se no
estivesse foragido, seria processado por estelionato. Acreditamos
ser mais fidedigno ouvir os sujeitos envolvidos neste crime, j
que, segundo Benveniste (1989, p. 100) a lngua
necessariamente o instrumento prprio para descrever, para
conceitualizar, para interpretar tanto a natureza quanto a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
34
experincia, ou seja, para este terico no existe metassociedade,
mas metalinguagem.
Resta-nos dizer algo sobre o provvel denunciado por
estelionato, F. A. S. Podemos observar que o discurso do
estelionatrio normalmente linear, repetitivo, sem ameaas
fsicas, ou seja, o sujeito que pratica este delito emprega sempre o
engano, a astcia, a lbia. Ao longo da leitura deste processo,
observamos que o nico a usar uma palavra mais grosseira ao
denunciado foi M.S.F. - o cara tinha dado um golpe, sendo
tambm o nico que no o conhecia pessoalmente, o que
demonstra que F.A.S. era realmente envolvente com as pessoas a
quem ele aplicava os seus lances fraudulentos, ou melhor, como
afirma Bakhtin (1986, p. 95) a forma lingstica [...] sempre se
apresenta aos locutores no contexto de enunciaes precisas, o
que implica sempre um contexto ideolgico preciso. Nos
depoimentos de C.G.M - F. A S dizia era costume de D.C.S.
emprestar dinheiro no s a ele mas para outras pessoas e de
N.C.M. eu ajudei mais ele que o meu prprio irmo,
percebemos que o discurso de F.A S. primava em pedir ajuda aos
mais prximos, em se sentir vtima perante a vida, perito em
mentiras.
Ele era uma pessoa envolvente, que no usava a fora fsica,
mas que agia silenciosa e civilizadamente. Uma pessoa ardilosa,
porque alm de aplicar os seus golpes rotineiros de pedir dinheiro,
tramava uma rede de envolvimentos com a sua vtima deixando-a
com a absoluta certeza de que ele era uma pessoa que precisava
receber ajuda. F.A.S teceu fortemente uma costura emocional e
social com D.C.S., fazendo com que a mesma ficasse em uma
situao quase de alienao, de silncio perante um absurdo
contextual: como algum empresta uma quantia to alta para outro
algum sem estar drogada ou medicada, e num contnuo, sem um
vnculo amoroso ou de antiga amizade, sem uma garantia em
troca? Para isso, utilizava-se de, pelo menos, um esteretipo, a
saber, que a me o criava assim, criava assado, com o qual livra-
se da culpa de certas atitudes suas e responsabilizando a outrem
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
35
por tais comportamentos. O vazio de contedo do esteretipo
(criava assim, criava assado...), impresso na fala de um depoente,
preenchido pelo mesmo por sua prpria e presente
responsabilidade. justamente essa responsabilidade que suas
vtimas se incumbem de carregar, como se fossem suas. Alm
disso, tal esteretipo fundamenta o fato de que F. A. S queria ser
ajudado, de que fazia tal apelo. F.A. S igualmente utilizava-se do
esteretipo contrrio de que no queria ser ajudado, de que apenas
aceitava ajuda, o que se pode verificar no depoimento de C. G.M
era costume dela emprestar dinheiro. Conforme Gomes (2004),
para ser tico, o sujeito deve ser coerente, o que implica manter a
palavra dada desde o princpio. Perelman (1996, p. 118-9) observa
que a manuteno da palavra dada pode ir de encontro ao direito
ao erro e busca da veracidade, mas ela indica um
comprometimento entre os interlocutores. Assim, o estelionatrio
incorre em falta de tica, justamente por que seu discurso vazio
revela sua falta de compromisso com aquilo que diz e para quem
diz, falta de compromisso essa evidenciada pela contradio
encoberta em suas palavras. Dessa forma, a mentira, o ardil do
estelionatrio est em produzir discursos vazios que lhe
possibilitem no se comprometer com suas palavras, atravs de
uma contradio que no se faz evidente.
Dessa maneira, achamos oportuno trazer a assero de
Bakhtin (1986, p. 95) sobre a interao entre as pessoas, e neste
caso, o discurso de F.A. S., o qual mobiliza os outros sujeitos para
que atendam aos seus pedidos mal-intencionados.
Na realidade, no so palavras o que pronunciamos
ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas
ou ms, importantes ou triviais, agradveis ou
desagradveis, etc.[...] assim que compreendemos
as palavras e somente reagimos quelas que
despertam em ns ressonncias ideolgicas ou
concernentes vida.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
36
Assim, o estelionatrio no enunciava meras palavras, simples
narrao de sua vida passada, mas enunciava culpas, as quais
impingia, sutilmente, atravs de sua presente enunciao a seus
presentes interlocutores. A anlise da formao de esteretipo,
como recurso lingstico pertinente anlise do estelionato, ser
desenvolvida na prxima seo.
2. A enunciao do termo estelionato
A partir de um relato de um caso de estelionato, a vtima
produz a seguinte associao: ele um estelionatrio, ele um
estereotiprio. perturbao dessa revelao, a pessoa lesada
prossegue: para enganar, ele me falava de forma gentil, mas com
um montono acento repetitivo. Desse breve relato, observamos
que um ato falho est na base da descoberta do trao comum a
todos os casos de estelionato por ns estudados: o engano atravs
de uma enunciao conveniente e repetitiva. Com isso,
observamos que a curta histria do estelionato como crime faz
com que sua forma de enunciao tenha caractersticas estveis.
Com isso, o objetivo desta seo propor uma anlise sincrnica
do estelionato dessa prtica criminosa, pautando-nos nas
consideraes acerca da enunciao, segundo Benveniste (1988,
1989). Como vimos na anlise histrica, o uso das palavras ardil
(ou artifcio) fraudulento manteve-se em todos os Cdigos. Tal
artifcio constitudo, conforme nos aponta o segundo processo
judicial analisado, de ato enunciativo prprio, denominado
esterotipo, ao qual ser proposto uma definio enunciativa.
2.1 Balizagem terica: da teoria e da metodologia
Neste artigo, entendemos enunciao como colocao em
funcionamento da lngua por um ato individual de utilizao
(Benveniste, PLG II, O aparelho formal da enunciao, p. 84). A
enunciao, para Benveniste, pressupe a utilizao de formas da
lngua por um eu para produzir um determinado sentido. Cada
enunciao, isto , cada frase apresenta um sentido nico, no
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
37
previsvel (cf. Benveniste, PLG II, A forma e o sentido na
linguagem p.227), advindo das irrepetveis circunstncias do
aqui-agora. Assim, a definio de esteretipo (ou a frase) dita no
breve relato , simultaneamente, singular, pois fruto de uma
experincia de um eu, e regular, pois fruto de uma experincia
social. Dessa forma, podemos falar de uma definio enunciativa,
do mbito do singular, por oposio a uma definio lexicogrfica
ou de uma enciclopdica, do mbito do social.
A definio lexicogrfica caracteriza-se pela predominncia
de informaes lingsticas, tratando mais de palavras e a
definio enciclopdica se ocupa mais de referncias e de
descrio de coisas (Krieger & Finatto, 2004, p. 167).
A definio enunciativa caracteriza-se, para ns, pela
predicao de eu, a partir de uma experincia. Flores e Silva (2000,
p. 39) entendem que o paradigma do ELE pertence ao nvel
sinttico da lngua e que o paradigma do EU pertence ao nvel
pragmtico da lngua. O primeiro definido por uma referncia
objetiva, de forma independente da instncia de discurso que o
contm. O segundo definido na prpria instncia de discurso,
produzindo uma realidade distinta a cada vez em que enunciado.
Dessa forma, as definies lexicogrficas e enciclopdicas
pertencem ao paradigma do ELE, e as definies enunciativas, ao
paradigma do EU. Um exemplo pode ser dado com a locuo estar
concluso em seus sentidos para a linguagem geral e para a
linguagem especializada do Direito (Cavalieri, 2003, p. 4-5). Em
uma definio lexicogrfica, ela designa algo que est concludo,
encerrado. J em uma definio terminolgica, prxima da
enciclopdica, ela designa algo que est em um determinado
recinto, em geral na sala do juiz, logo, no necessariamente
concluda. No entanto, ambas as definies lexicogrficas e
terminolgicas pertencem a um saber compartilhado por um
determinado grupo, seja ele difuso, como ocorre com o primeiro
tipo, seja ele determinado profissionalmente, como no segundo.
Assim, essas definies pertencem ao mbito do ELE, ou seja, da
referncia objetiva. J a definio enunciativa, por estar
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
38
relacionada ao paradigma do EU, participa da experincia
particular de um locutor, pertencendo a sui-referncia. Assim, se a
definio enciclopdica diz das coisas, trata, portanto, da
referncia das palavras; j a definio enunciativa diz da
experincia irrepetvel do locutor, trata, dessa forma, da referncia
do enunciado. Por isso, partiremos da palavra esteretipo em sua
definio lexicogrfica e enciclopdica e, a seguir, deslizando para
uma definio enunciativa, concebida como enunciado constante
de uma das subentradas finais da prpria palavra constituinte do
verbete.
2.2 Anlise de caso: da passagem da definio
lexicogrfica/enciclopdica definio enunciativa de
estelionato
Antes de fazer uma anlise da relao das duas palavras, uma
breve caracterizao do ato falho se faz necessria. Segundo Th
(2001, p. 42), com base em Freud, o ato falho ou lapso de lngua
expressa a interferncia de duas proposies. Freud (1996, p.
94) mostra que o ato falho seguido de hesitao e de forte
emoo, o que mostra a verdade subjetiva da frase interferente. O
ato falho, diferentemente do chiste, involuntrio, isto , no
intencional. Ele se caracteriza pela contradio de duas
proposies, em que a interferente expressa os desejos, opinies,
vivncias do locutor; enquanto a interferida expressa o mundo real,
objetivo com que se depara o locutor.
O autor diferencia ainda o ato falho da ignorncia cientfica,
dizendo que nesta ltima h uma verdade contingente a posteriori,
isto , em um determinado momento um locutor no observa que
h dois nomes para o mesmo objeto. Nesse momento, o locutor os
observa com tendo referncias diferentes. Com o avano do
conhecimento, o locutor observa que h uma equivalncia entre
duas frases anteriormente isoladas. Th (p. 128) prope o seguinte
silogismo:
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
39
Os babilnicos antigos acreditavam que Hesperus
era a primeira estrela da tarde.
Hesperus a mesma estrela que Phosphorus.
Os babilnicos antigos acreditavam que Phosphorus
era a primeira estrela da tarde.
No caso, os babilnicos no poderiam chegar concluso
desse silogismo, uma vez que no tinham meios cientficos de
provar a identidade dos dois nomes ao mesmo objeto. Portanto, h
uma verdade contingente a posteriori.
No caso do ato falho, por sua vez, h uma verdade contingente
a priori, isto , o locutor, ao enunciar o ato falho, descobre
aquilo que j sabia de forma inconsciente. A descoberta decorre,
portanto, de um ato performatrio do sujeito (cf. Th, op. cit. p.
132). Trata-se de uma verdade contingente, pois depende do ato da
fala, do seu acontecimento. Assim, o ato falho produz a
equivalncia A B decorrente da interferncia de A X; B X,
equivalncia essa j presente, de forma inconsciente, para o
falante. De acordo ainda com Th (2001, p. 133-6), h uma
progresso nesse saber inconsciente. Em uma anlise da lgica das
modalidades, tal progresso fica evidenciada. Os verbos saber e
acreditar apresentam dois sentidos: o primeiro dito fraco,
respectivamente, saber por ouvir dizer e ter a impresso que; o
segundo dito forte, respectivamente, saber por conhecimento
prprio ou convico e acreditar com f, convico. Denomina-
los-emos de, respectivamente, saber 1 e saber 2. Logo, saberes e
crenas podem passar por um longo caminho que parte de um
ouvir dizer por terceiros e chega a um acredito com todas as
minhas foras. Esse caminho pode ter como catalisador o ato
falho.
Freud (1996, p. 92-3) afirma que os atos falhos no decorrem
da semelhana fontica e sim da relao de contedo entre duas
palavras ou frases. Ainda assim, ele reconhece a importncia da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
40
semelhana fontica como ponto de apoio para muitos casos de ato
falho por ele analisados. Dada essa caracterizao, podemos
observar a relao entre as palavras estelionato e esteretipo.
Do ponto de vista da semelhana fontica, h muitas
coincidncias: ambas as palavras pertencem lngua; ambas
podem possuir o mesmo nmero de slabas (respeitadas as
variaes regionais de silabao); ambas apresentam o mesmo
radical (estelio/estereo) com a alternncia entre as lquidas r e l, as
quais so facilmente trocadas em portugus (Cristfaro Silva,
1999, p. 195).
Do ponto de vista das proposies, podemos dizer que
esteretipo faz parte da proposio interferente e estelionato, da
proposio interferida, ou seja, o primeiro advm da vivncia, da
convico, ainda que recalcada, e o segundo advm da realidade
objetiva.
A partir disso, vemos que proposio subjacente - aqui
entendida como frase - sinalizada por esteretipo : ele um
estereotiprio. Com isso, nossa metodologia de anlise da palavra
esteretipo depende da considerao de uma frase, que no presente
caso, passa pela frase do dicionrio, ou seja, a definio bem
como da frase do relato. A metodologia obedecer as seguintes
etapas: 1) observar o sentido das definies lexicogrficas/
enciclopdicas; 2) derivar da a definio enunciativa (cf.
Benveniste, 1990). Essa metodologia segue o mtodo heurstico
prprio do ato falho: a passagem do saber 1 (representado pelas
definies lexicogrficas e enciclopdicas) ao saber 2
(representado pela definio enunciativa). Assinalamos, com isso,
que a pessoa que fez o ato falho tinha conhecimento enciclopdico
acerca das palavras estelionato e esteretipo.
Vejamos como a definio lexicogrfica e enciclopdica da
palavra esteretipo:
esteretipo s.m. 1 GRF chapa ou clich us. em
estereotipia; estreo, estereotipia 2 p. met. GRF
trabalho impresso com chapas de estereotipia 3 algo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
41
que se adequa a um padro fixo ou geral (A Vnus
de Willendorf um e. da mulher na arte paleoltica)
3.1 esse prprio padro, ger. formado de idias
preconcebidas e alimentado pela falta de
conhecimento real sobre o assunto em questo (o e.
do amante latino) 3.2 idia ou convico
classificatria preconcebida sobre algum ou algo,
resultante de expectativa, hbitos de julgamento ou
falsas generalizaes cf. preconceito. 4 aquilo que
falto de originalidade; banalidade, lugar-comum,
modelo, padro bsico e. curvo GRF. m. q. telha
(chapa estereotpica) ETIM esteros (grego, steres)
+ -tipo; cp. Fr. Estrotype SIN/VAR ver sinonmia
de lugar-comum (Houaiss, 2001, p. 1252)
1) Observamos que esteretipo advm do sentido de um
objeto que produz marcas padronizadas em um outro objeto
atravs de presso (definio enciclopdica, subentrada 1 e 2).
Desse significado, deriva o sentido de generalizao,
preconceito, formas essas impressas no esprito de uma certa
coletividade de falantes (definio lexicogrfica, subentrada 3).
Igualmente da, deriva o sentido pejorativo de banalidade, falta de
originalidade (subentrada 4). O sentido 4 surge quando as formas
estereotipadas so usadas com certo exagero por um determinado
locutor. Essa ltima caracterizao nos conduz a uma definio
enunciativa de esteretipo. Observamos haver uma derivao de
uma definio enciclopdica a uma lexicogrfica e desta a uma
enunciativa.
2) O esteretipo pode ser definido da seguinte forma
enunciativa: um conjunto de atos caracterizados pela repetio,
padronizao, generalizao, utilizados para convencer algum de
algo sem que o locutor se revele em suas reais posies
particulares. Com essa definio, calcada sobre a definio de
enunciao em Benveniste, observamos que a pessoa que produz
esteretipos, seja em redaes de vestibular, seja em uma prtica
criminosa, enuncia algo que oculta suas reais opinies ou a falta
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
42
delas sobre um determinado assunto, ao preencher o silncio
desejado com palavras do senso comum. Sejam essas palavras
provrbios, conselhos de livro de auto-ajuda ou religiosos elas tm
sempre a funo de agradar silenciando. Garcia (2002, p. 316-23)
lista as formas de falcias, isto , erros de raciocnio, os quais se
expressam de duas formas: raciocnio incorreto com dados
verdadeiros e raciocnio correto com dados falsos. Dentre elas, ele
diz que a tautologia, a redundncia e a repetio formam um dos
tipos de falcias mais comuns: o crculo vicioso. Chalita (2001, p.
89) atrela os recursos lingsticos da falcia ao objetivo de seduzir,
o qual, por sua natureza impondervel, atenua a importncia da
racionalidade. Como vimos com o estudo do caso do processo
acima, as vtimas relataram que F.A.S, suposto estelionatrio, era
uma pessoa muito agradvel, envolvente. Assim, pela repetio da
palavra agradvel, advinda das mais variadas fontes, o eu
convence o tu, e, s vezes, a outrem, a fazer o que deseja.
De acordo com Kant (s. d., p.123), a modalidade possibilidade
anterior logicamente modalidade da realidade, e esta anterior
modalidade da necessidade. Para nos valermos de uma lgica das
modalidades, de acordo com Kant (s.d., p. 116), podemos dizer
que o esteretipo conduz possivelmente a estelionato; j o
estelionato conduz necessariamente a esteretipo. Esteretipo da
ordem da vivncia, da convico, do desejo, estelionato da
ordem do mundo do real. Assim, a vtima, ao ser informada que
sofreu um estelionato produz o ato falho com esteretipo. Dessa
forma, a palavra interferente (esteretipo), por ser da ordem da
convico e da vivncia, ou seja, da verdade contingente,
anterior logicamente palavra interferida (estelionato), da ordem
do real, ou seja, da verdade necessria. Com efeito, o engano, via
esteretipo, sempre antecede o fato, a saber, o estelionato. De
acordo ainda com Th (2001, p. 133-6), como foi dito
anteriormente, os verbos saber e acreditar apresentam dois
sentidos: o primeiro dito fraco, respectivamente, saber por
ouvir dizer e ter a impresso que; o segundo dito forte,
respectivamente, saber por conhecimento prprio ou convico e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
43
acreditar com f, convico. Dessa forma, podemos dizer, com
Freud, que o conhecimento, a verdade, o saber no bvio.
parte de um processo: do conhecimento geral, daquilo que os
outros dizem at aquilo que eu acredito- ou do saber fraco ao
saber forte . H, portanto, um trajeto que depende da vivncia do
eu. Nesse ponto, oportuna a questo: o que faz com que algumas
pessoas sejam enganadas e outras no? Isso depende da fragilidade
do sujeito em determinado momento. A palavra do estelionatrio
encantadora, para retomar a falha dessa palavra: ao mesmo tempo
seduz e cega. A futura vtima sabe (saber fraco) que promessas
repetidas so indcio de que h segundas intenes, mas como
ela passa por momento de fragilidade no transforma esse saber
em convico (saber forte). Sua convico, nesse momento, de
que essas palavras vm ao encontro de suas expectativas. Como
esteretipo no conduz necessariamente a estelionato, a realizao
desse ltimo no de fcil percepo.
Consideraes finais
Com este artigo, procuramos analisar a evoluo histrica do
termo estelionato no Brasil. Tal anlise possibilitou-nos um olhar
para o discurso daquele que pratica este crime. A anlise histrica
mostra que o delito de estelionato tem uma existncia legal
relativamente recente no Brasil. Basta dizer sumariamente que o
termo foi inserido pela primeira vez no Cdigo Criminal de 1832,
ou seja, h pouco mais de cento e cinqenta anos. Observamos
ainda que o elemento subjetivo da confiana no fez parte do
primeiro Cdigo que continha o termo estelionato, sendo includo
apenas no Cdigo de 1890. O elemento subjetivo da confiana
revelou-se fundamental em todas as anlises de processos
judiciais. Em todos os casos, o estelionatrio dependeu da
conquista da confiana de outrem para agir, atingida pela seduo
de seu discurso. Tal seduo passa pela utilizao de determinados
recursos lingsticos, por nos denominados de esteretipos, nos
quais se incluem discursos vazios, circulares e agradveis. A
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
44
confiana, objetivo da seduo, portanto, a caracterstica
essencial para a configurao do estelionato. Como o Direito no
faz parte das cincias exatas e, segundo Chalita (2001, p. 139),
Quem seduz induz. Quem seduz conduz. Quem seduz deduz. Quem
seduz aduz, sinalizamos importncia da enunciao lingstica
como parmetro para tipificao do estelionato em um processo
judicial.
A partir desta pesquisa histrico-lingstica, parece-nos
interessante continuar a mesma trilha e, para um prximo estudo,
tecer outras relaes de saberes entre a cincia jurdica e a cincia
lingstica, como, por exemplo, analisar o discurso do
estelionatrio, ao qual no tivemos acesso direto no presente
artigo.
Referncias bibliogrficas
ALIGHIERI, D. A divina Comdia. So Paulo: Nova Cultural,
2003 (trad. Fabio Alberti).
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. So Paulo:
Hucitec, 2002.
BENVENISTE, E. Problemas de Lingstica Geral I. Campinas,
SP: Pontes, 1988.
___,. Problemas de Lingstica Geral II. Campinas, SP: Pontes,
1989.
BOSCHI, J. A. Ao penal Denncia, Queixa e Aditamento. Rio
de Janeiro: AIDE, 2002.
BRAIT, B. Bakhtin, dialogismo e construo do sentido. So
Paulo: Unicamp, 2001.
CAVALIERI, R. Linguagem forense. IN: Na ponta da lngua. Rio
de Janeiro: Lucerna, 2003.
CHALITA, G. A seduo no discurso. O poder da linguagem nos
tribunais de jri. So Paulo: Max Limonad, 2001.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
45
CRISTFARO SILVA, T. Fontica e fonologia do portugus:
roteiro de estudos e guia de exerccios. So Paulo: Contexto,
1999.
FARIA, E. Dicionrio escolar latino-portugus. Rio de Janeiro:
FAE, 1992.
FARIA, E. de. Novo Diccionario da Lngua Portugueza. Lisboa:
Escriptorio de Francisco Arthur da Silva, 1878.
FLORES, V .N.; SILVA, S. "Aspecto verbal: uma perspectiva
enunciativa do uso da categoria no Portugus do Brasil" In:
Letras de Hoje, Porto Alegre: EDIPUCRS, n 121, p. 35-67,
2000.
FREUD, S. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Rio de
Janeiro: Imago, 1996. direo de traduo de Jayme Salomo.
GARCIA, O. M. Comunicao em prosa moderna: aprenda a
escrever, aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
GOMES, L. F. Constituio Federal, Cdigo Penal, Cdigo de
Processo Penal. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2003).
GOMES, N. G. Tribuna Rede Viva. Canal Rede Viva. Transmisso
em 17/08/2004, s 22hs.
HOUAISS, A E VILLAR, M. Dicionrio Houaiss de Lngua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
KANT, E. Crtica da razo pura. So Paulo: Tecnoprint, s.d.
(Edies de Ouro).
KRIEGER, M. G.; FINATTO, M. J. Introduo terminologia.
Teoria & Prtica. So Paulo: Contexto, 2004.
LUIZ, L. A. F. Dicionrio de expresses latinas. So Paulo: Atlas,
2000.
MONTANO. E. E. L. Mulheres Delinqentes: Uma longa
caminhada at a Casa Rosa. Dissertao. Faculdade de
Educao, UFRGS/RS, 2000.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
46
ORTIZ, E. M. N. O povo cala e canta o discurso do samba-
enredo de 1964/65 a 1989/90. Tese. Instituto de Letras e
Artes, PUC/RS, 1995.
PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da
argumentao: a nova retrica. So Paulo: Martins Fontes,
1996.
PIERANGELI, J. H. Cdigos Penais do Brasil Evoluo
Histrica. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
PIRAGIBE, V. Diccionario de Jurisprudncia Penal do Brasil.
So Paulo: Acadmica, 1931.
SAGER, J. C. A. The cognitive dimension. IN: A practical course
in terminology processing. Amsterdam/ Philadelphia: John
Benjamins, 1990.
SAUSSURE, F. Curso de Lingstica Geral. So Paulo: Cultrix,
1976.
SILVA, de Plcido e. Vocabulrio Jurdico. Rio de Janeiro:
Forense, 2003.
TH, F. Uma semntica para o ato falho. So Paulo: Annablume,
2001.
Anexos
Optamos por manter a ortografia e a acentuao utilizada no
texto ao qual tivemos acesso.
Cdigo Civil Lei n 10.406 de 10 de janeiro 2002
Ttulo IX
Da responsabilidade Civil
Captulo I Da obrigao de indenizar
Art. 936
O dono, ou detentor, do animal ressarcir o dano por este
causado, se no provar culpa da vtima ou fora maior.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
47
Cdigo Criminal de 1832
Banca-rota, estellionato, e outros crimes contra a propriedade
Art. 264. Julgar-se-ha crime de estellionato:
1 A alheao de bens alheios como prprios, ou a troca das
cousas, que se deverem entregar por outras diversas.
2 A alheao, locao, aforamento, ou arrentamento da cousa
prpria j alheada, locada, aforada, ou arrentada outrem; ou a
alheao da cousa prpria especialmente hypothecada terceiro.
3 A hypotheca especial da mesma cousa diversas pessoas,
no chegando o seu valor para pagamento de todos os credores
hypothecarios.
4 Em geral todo e, qualquer artifcio fraudulento, pelo qual se
obtenha de outrem toda a sua fortuna ou parte della, ou quaesquer
ttulos.
Cdigo Penal de 1890
Do estelionato, abuso de confiana e outras fraudes
Art. 338: Julgar-se- crime de estelionato:
1 - alhear a coisa alheia como prpria, ou trocar por outras
coisas, que se deverem entregar;
2 - alhear, locar ou aforar a coisa propria j alheada, locada
ou aforada;
3 - dar em cauo, penhor, ou hipoteca, bens que no
puderem ser alienados;
4- alhear, ou desviar os objetos dados em penhor agrcola,
sem consentimento do credor, ou por qualquer modo defraudar a
garantia pignoratcia;
5 - usar de artifcios para surprehender a boa f de outrem,
iludir sua vigilancia, ou ganhar-lhe a confiana; e, induzindo-o a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
48
erro ou engano por esses e outros meios astuciosos, procurar para
si lucro ou proveito;
6 - abusar de papel com assignatura em branco, de que se
tenha apossado, ou lhe haja sido confiado com obrigao de
restituir ou fazer delle uso determinado, e nelle escrever ou fazer
escrever um acto, que produza effeito jurdico em prejuizo
daquelle que o firmou;
7 - abusar, em proprio ou alheio proveito, das paixes ou
inexperincia de menor, interdicto, ou incapaz, e fazei-o
subscrever acto que importe effeito jurdico em damno delle ou de
outrem, no obstante a nulidade do acto emanada da incapacidade
pessoal;
8 - usar de falso nome, falsa qualidade, falsos ttulos ou de
qualquer ardil para persuadir a existencia de empresas, bens,
credito, influencia e supposto poder e por esses meios induzir
algum a entrar em negcios, ou especulaes, tirando para si
qualquer proveito, ou locupletando-se da jactura alheia;
9- usar de qualquer fraude para constituir outra pessoa em
obrigao, que no tiver em vista, ou no puder satisfazer ou
cumprir;
10 - fingir-se ministro de qualquer confisso religiosa e
exercer as funces respectivas para obter de outrem dinheiro ou
utilidade;
11 - alterar a qualidade e o peso dos metaes nas obraas que
lhe forem encomendadas; substituir pedras verdadeiras por falsas,
ou por outras de valor inferior; vender pedras falsas por finas, ou
vender com ouro ou prata, ou qualquer metal fino,objectos de
diversa qualidade:
Penas de priso cellular por um a quatro annos e multa de 5
a 20% do valor do objecto sobre que recahir o crime.
Paragrapho nico. Se o crime de nmero 6 deste artigo fr
cometido por pessoa a quem o papel houvesse sido confiado em
razo do emprego ou profisso, s penas impostas se accrescentar
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
49
a de privao do exerccio da profisso, ou suspenso do emprego,
por tempo igual ao da condemnao. (IN: Pierangeli, 2001, p. 312)
Consolidao das Leis Penais de 1932
Do estelionato, abuso de confiana e outras fraudes
Art. 338: Julgar-se- crime de estelionato:
1 - alhear a coisa alheia como prpria, ou trocar por outras
coisas, que se deverem entregar;
2 - alhear, locar ou aforar a coisa propria j alheada, locada
ou aforada;
3 - dar em cauo, penhor, ou hipoteca, bens que no
puderem ser alienados;
4- alhear, ou desviar os objetos dados em penhor agrcola,
sem consentimento do credor, ou por qualquer modo defraudar a
garantia pignoratcia;
5 - usar de artifcios para surprehender a boa f de outrem,
iludir sua vigilancia, ou ganhar-lhe a confiana; e, induzindo-o a
erro ou engano por esses e outros meios astuciosos, procurar para
si lucro ou proveito;
6 - abusar de papel com assignatura em branco, de que se
tenha apossado, ou lhe haja sido confiado com obrigao de
restituir ou fazer delle uso determinado, e nelle escrever ou fazer
escrever um acto, que produza effeito jurdico em prejuizo
daquelle que o firmou;
7 - abusar, em proprio ou alheio proveito, das paixes ou
inexperincia de menor, interdicto, ou incapaz, e fazei-o
subscrever acto que importe effeito jurdico em damno delle ou de
outrem, no obstante a nulidade do acto emanada da incapacidade
pessoal;
8 - usar de falso nome, falsa qualidade, falsos ttulos ou de
qualquer ardil para persuadir a existencia de empresas, bens,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
50
credito, influencia e supposto poder e por esses meios induzir
algum a entrar em negcios, ou especulaes, tirando para si
qualquer proveito, ou locupletando-se da jactura alheia;
9- usar de qualquer fraude para constituir outra pessoa em
obrigao, que no tiver em vista, ou no puder satisfazer ou
cumprir;
10 - fingir-se ministro de qualquer confisso religiosa e
exercer as funces respectivas para obter de outrem dinheiro ou
utilidade;
11 - alterar a qualidade e o peso dos metaes nas obraas que
lhe forem encomendadas; substituir pedras verdadeiras por falsas,
ou por outras de valor inferior; vender pedras falsas por finas, ou
vender com ouro ou prata, ou qualquer metal fino,objectos de
diversa qualidade:
Penas de priso cellular por um a quatro annos e multa de 5
a 20% do valor do objecto sobre que recahir o crime.
1. Si o crime do numero 6 deste artigo fr cometido por
pesso a quem o papel houvesse confiado em razo do emprego ou
profisso, s penas impostas se accrescentar a de privao do
exerccio da profisso, ou suspenso do emprego por tempo egual
ao da condemnao.
2 Incorrer nas penas de priso cellular por um a quatro
anos aquelle que fraudulentamente emittir cheque, sem ter
sufficiente proviso de fundos em poder do saccado, alm da multa
de 10% sobre o respectivo montante. (IN: Pierangeli, 2001, p. 388)
Cdigo Penal de 1940
Apropriao indbita
Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia mvel, de quem tem a
posse ou a deteno:
Pena recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
51
1 A pena aumentada de um tero, quando o agente
recebeu a coisa:
I em depsito necessrio;
II na qualidade de tutor, curador, sndico, liquidatrio,
inventariante, testamenteiro ou depositrio judicial;
III em razo de ofcio, emprego ou profisso. (CP, 1940
Decreto-lei 2.848, 7.12. 1940, Bitt p. 726)
Estelionato
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, induzindo ou mantendo algum em erro, mediante
artifcio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena recluso, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
1 Se o criminoso primrio, e de pequeno valor o
prejuzo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art.
155, 2.
2 Nas mesmas penas incorre quem:
Disposio de coisa alheia como prpria
I vende, permuta, d em pagamento, em locao ou em
garantia coisa alheia como prpria;
Alienao ou onerao fraudulenta de coisa prpria
II vende, permuta, d em pagamento ou em garantia coisa
prpria inalienvel, gravada de nus ou litigiosa, o imvel que
prometeu vender a terceiro, mediante pagamento a prestaes,
silenciando sobre qualquer dessas circunstncias;
Defraudao de penhor
III defrauda, mediante alienao no consentida pelo credor
ou outro modo, a garantia pignoratcia, quando tem a posse do
objeto empenhado;
Fraude na entrega de coisa
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
52
IV defrauda substncia, qualidade ou quantidade de coisa
que deve entregar a algum;
Fraude para recebimento de indenizao ou valor de seguro
V destri, total ou parcialmente, ou oculta coisa prpria, ou
lesa o prprio corpo ou a sade, ou agrava as conseqncias da
leso ou doena, com intuito de haver indenizao ou valor de
seguro;
Fraude no pagamento por meio de cheque
VI emite cheque, sem suficiente proviso de fundos em
poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. (CP, 1940, Decreto-
lei 2.848, 7.12. 1940, p. 328).
Discutindo a habilidade da leitura
no livro didtico de LE
Ftima Cristina D. Ramirez dos Santos UFF/UNISUAM
1 A Relevncia da Leitura
Segundo os Parmetros Curriculares Nacionais (1998),
dentre as quatro habilidades comunicativas na proficincia de uma
lngua estrangeira (LE), a leitura a mais apropriada no contexto
da escola brasileira. Dentre suas vantagens, podemos citar que ela
a habilidade mais utilizada pelo aluno em seu contexto imediato
de LE. Compartilhamos a perspectiva sobre leitura proposta por
Martins (2001), quando ela especula que ler interagir com o
mundo e dar sentido a ele. De fato, atravs da leitura, [o] leitor,
na individualidade de sua vida, vai entrelaando o significado
pessoal de suas leituras com os vrios significados que, ao longo
da histria de um texto, este foi acumulando (LAJOLO, 2002:
106).
Para Martins (2001) a leitura pode ser considerada um
processo de compreenso abrangente, cuja dinmica envolve
componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, bem como
culturais, econmicos e polticos; portanto, o processo de leitura
deve ser vislumbrado em sua totalidade, como interpretao de ns
mesmos e do mundo que nos cerca. Freire afirma sabiamente que o
ato de ler (...) no se esgota na decodificao pura da palavra
escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na
inteligncia do mundo (FREIRE, 2002: 11). Dessa maneira,
atravs da leitura, agimos, interpretamos e interagimos com o
mundo; por intermdio dessa interao e interpretao nos
constitumos indivduos atuantes social, econmica, poltica e
culturalmente. Isto se aplica tanto lngua materna quanto LE.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
54
Com efeito, no se pode negar a alta relevncia da leitura no
contexto de aprendizagem de LE. Intimamente relacionada
escritura, acredita-se que a prtica de leitura no ensino de ingls
como LE promova o desenvolvimento de habilidades lingsticas,
analticas e cognitivas (BARNETT, 1989). Segundo esta autora, a
habilidade de leitura a mais facilmente mantida, utilizada e
reciclada pelo aprendiz mesmo aps o trmino de seus estudos
formais de LE.
2 O Processo de Leitura e a Aprendizagem de LE
Segundo Nuttall (1994:30), [ler] extensamente uma forma
altamente eficaz de expandir nosso domnio da lngua. De fato, a
habilidade da leitura amplamente reconhecida como um valioso
instrumento utilizado na aquisio e aperfeioamento de LE e
materna, assim como no desenvolvimento de vocabulrio e
gramtica: [a] leitura fundamental de vrias maneiras. Textos
adequados fornecem insumo compreensvel a partir do qual os
aprendizes assimilam vocabulrio e gramtica (BARNETT,
1989:161). Moita Lopes (1996: 134) acrescenta que, [a]
aprendizagem da leitura em LE fornece ao aprendiz uma base
discursiva, atravs de seu engajamento na negociao do
significado via discurso escrito. Portanto, pode-se concluir que a
habilidade de leitura complexa, mas pode ser um eficiente meio
para se aprender uma LE.
No contexto de sala de aula, nem sempre os alunos so
levados a reconhecer essa abrangncia da leitura. Essa falta de
esclarecimento pode lev-los a interpretar a leitura como uma
atividade pedaggica qualquer e no como uma habilidade. Sendo
a leitura uma das ferramentas no processo de aprendizagem de
uma LE, necessrio que esta habilidade tenha espao digno em
sala de aula. Contudo, j h bastante tempo parece haver um certo
descaso pelo desenvolvimento da habilidade da leitura no contexto
de ensino-aprendizagem de ingls como LE no Brasil, apesar de
inmeras pesquisas e discusses. No sempre que a leitura em
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
55
LE vista em sua total dimenso; no sempre que uma
abordagem de leitura consistente priorizada por autores de livros
didticos (LDs) e reconhecida por professores de ingls. Em geral,
constata-se que o foco principal da maioria dos coursebooks
encontra-se na oralidade e ensino de gramtica, deixando para a
leitura um espao demasiadamente limitado, inadequado e mal
utilizado (CORACINI, 1999).
Certamente admitimos que tem havido esforos para reverter
esse quadro. Vrios projetos tm sido desenvolvidos a fim de
estimular a leitura e facilitar a aprendizagem de LEs, como por
exemplo, o projeto de ingls instrumental desenvolvido pela
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo (PUC-SP), atravs
do CEPRIL (Centro de Pesquisa, Recursos e Informao de
Leitura) na dcada de 60. O objetivo desse projeto era ensinar a
universitrios de diferentes reas cientficas estratgias a serem
utilizadas na leitura de textos em uma LE. Tal projeto obteve tanto
xito que, nas universidades brasileiras, os Institutos de Letras
passaram a oferecer cursos de Lngua Instrumental como
disciplinas eletivas para que alunos de reas tecnolgicas,
biomdicas e humanas possam desenvolver a habilidade da leitura
em LE. Mais recentemente, o Ministrio da Educao, com a
colaborao de importantes lingistas aplicados brasileiros,
produziu os Parmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que
reconhecem o objetivo interativo e comunicativo da leitura. Os
PCNs refletem uma preocupao com o papel social da
habilidade da leitura e sugerem, em nvel nacional, abordagens
metodolgicas que procurem atender necessidade de proficincia
na leitura de uma LE. No entanto, a grande maioria das
publicaes nacionais ainda no prioriza uma perspectiva de
leitura sugerida por esses parmetros.
3 Modelos de processamento de leitura
Os chamados modelos de processamento de leitura,
procuram explicar, cada qual a seu modo, como se d a leitura. De
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
56
acordo com Carrell (1988: 26), a importncia de estudar esses
modelos encontra-se na premissa de que
[o] desenvolvimento de um modelo que nos ajude a
entender um fenmeno complexo pode cumprir um
papel cientfico e social muitssimo importante. Ele
nos auxilia a compreender pela eliminao dos
aspectos no essenciais do fenmeno, pelo enfoque
da nossa ateno no que essencial, e pela
demonstrao de como estas partes se relacionam e
funcionam.
No intuito de explicar como o processo de leitura ocorre,
tericos, pesquisadores e estudiosos da rea desenvolveram
diversas teorias. Assim surgiram os chamados modelos de
processamento de leitura. De acordo com os objetivos de nossa
pesquisa, discutiremos apenas os modelos mais estudados no
contexto de ensino de ingls como LE, a saber: ascendente
(bottom-up), descendente (top-down) e interacional (interactive).
Estes modelos de leitura variam desde o tradicional processamento
de letras e estruturas priorizao dos princpios cooperativos
entre leitor, texto e autor.
3.1 O Modelo Ascendente
O primeiro modelo a ser discutido o chamado ascendente
(bottom-up). Devido influncia do Mtodo Audiolingual, antes
de 1970 a leitura em LE era vista unicamente como suporte para as
habilidades lingsticas orais. A nfase na relao fonema-grafema
pelos estruturalistas intensificou ainda mais a implementao de
um processo de decodificao no ensino de leitura em LE; nesse
modelo de decodificao linear, espera-se que o leitor construa o
significado do texto atravs do reconhecimento das palavras, letras
e frases. Acredita-se que, to logo o leitor adquira esta capacidade,
esse processo se tornar cada vez mais automtico, o que facilitar
a compreenso do significado das palavras de forma mais natural
(BARNETT, 1989). H tambm neste modelo a preocupao de se
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
57
internalizar vocabulrio e desenvolver habilidades gramaticais. O
modelo ascendente foi muito valorizado nos anos 60, quando
acreditava-se que o foco principal de ensino devia estar no texto
(text-driven); gradualmente, ele foi sendo substitudo pelo modelo
descendente.
De acordo com a viso de Gough (1972), o modelo ascendente
(...) uma descrio detalhada de como um leitor processa o texto
desde o primeiro momento em que olha as palavras impressas, at
o momento em que extrai significado das mesmas (BARNETT,
1989: 14). Kleiman (2001) ressalta que as previses de Gough tm
o benefcio de poderem ser facilmente testadas, no entanto, ela
alerta que a simples tarefa de reconhecer letras, slabas, palavras e
oraes, no propriamente uma tarefa de leitura. Ento, para ela,
a contribuio deste modelo limitada.
No modelo ascendente considera-se que o significado se
encontra no texto, no cabendo ao leitor nenhuma interferncia.
Dessa maneira,
(...) o texto se objetifica, ganha existncia prpria,
independente do sujeito e da situao de enunciao:
o leitor seria, ento, o receptculo de um saber
contido no texto, unidade que preciso capturar para
construir o sentido (CORACINI, 1995:14).
As premissas (decodificao linear e passiva) deste modelo,
embora considerado limitado por muitos, ainda continuam a
permear o universo de vrios LDs. No entanto, sabe-se que,
sozinho, este modelo seria insuficiente para dar conta dos diversos
aspectos da compreenso de um texto, que incluem a prerrogativa
do leitor de inferir e propor reflexes e interpretaes sobre o
mesmo.
3.2 O Modelo Descendente
Posteriormente ao modelo ascendente, o chamado modelo
psicolingstico de Goodman comea a exercer impacto sobre as
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
58
vises anteriores de leitura (GOODMAN, 1967, 1971). Assim
nasceu a segunda categoria, o modelo descendente (top-down), o
qual prioriza a criao de hipteses sobre o significado do texto.
Estas hipteses podero ser confirmadas ou no na leitura do texto,
utilizando-se do que Goodman chamou de jogo de adivinhao
psicolingstica (psycholinguistic guessing game). Neste jogo
a principal preocupao para o leitor seria fazer previses sobre o
texto e confirm-las; essas previses so feitas a partir do
conhecimento adquirido ao longo de sua experincia de vida e
armazenado na memria (schemata). Segundo essa abordagem, a
leitura mais caracterizada pelo significado trazido pelo leitor do
que pela decodificao de palavras. Assim, a interpretao no se
encontra exclusivamente no texto (text-driven), mas na
interpretao que o leitor d ao texto (concept-driven). Isto
possibilitou uma sensvel mudana de paradigma. A partir daqui a
nfase deslocou-se do texto para o leitor (reader-driven), o que
propiciou uma interao maior no processo de leitura. Apesar de
ser criticado por negligenciar exageradamente o valor das palavras
e suas inter-relaes e por tambm conceber a leitura como linear,
este modelo procura abranger o texto como um todo. Acredita-se
que a maior contribuio de Goodman tenha sido sua tentativa de
tornar o leitor um coadjuvante ativo no processo de leitura.
Segundo Carrell (1988), este modelo psicolingstico porque
possibilita uma interao da lngua com o pensamento. Por outro
ngulo, ele sociolingstico, pois gerado num contexto social
que inclui leitores e escritores. Sendo um modelo de leitura de
nvel macro, tem sido criticado como incapaz de acomodar
aspectos de nvel micro. A autora ainda salienta que, em termos
gerais, o crucial problema que o modelo de descendente apresenta
a premissa de que existe um nico processamento de leitura.
Outros especialistas em leitura em LE como Clarke (1979) e
Widdowson (1978, 1983) enfatizaram a viso de leitura como um
processo ativo, no qual o leitor passou a desenvolver o papel de
um ativo processador de informaes. Coady (1979, apud
CARRELL, 1988) tambm props um modelo psicolingstico no
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
59
qual o conhecimento prvio do aprendiz de LE interage com
habilidades conceituais (conceptual abilities) e processa
estratgias para se atingir a compreenso de um texto. Sua
principal inovao foi a importncia dada ao conhecimento prvio
do aprendiz, sugerindo que suas deficincias lingsticas podem
ser compensadas pelo que ele sabe sobre o assunto do texto
(content schemata) e sobre a estrutura retrica do mesmo (formal
schemata). Esta perspectiva teve um grande impacto na rea de
leitura, levando muitos a abandonarem os modelos ascendentes
(bottom-up).
Entretanto, embora o processo descendente explique bem a
leitura de um leitor proficiente, ele limitado para dar conta da
leitura de um aluno de nvel iniciante, especialmente quando os
textos apresentam uma grande quantidade de vocabulrio
desconhecido. Alm disso, por mais que o aluno fundamente sua
leitura em seu conhecimento do contexto, este conhecimento pode
no auxiliar a interpretao de um texto, uma vez que a
interpretao delimitada pelo co-texto (ambiente lingstico),
uma vez que o co-texto que impe um limite na interpretao das
palavras do discurso (KLEIMAN, 2001). Como a prpria pesquisa
sobre a teoria dos esquemas ressalta, uma leitura efetiva parece
exigir uma interao das estratgias dos modelos ascendente e
descendente.
Moita Lopes (1996) sugere uma conexo entre o modelo
interacional e a teoria dos esquemas, atravs da qual o fluxo da
informao pode ser visto como ascendente, descendente ou
ascendente e descendente, simultaneamente.
[o] modelo interacional de processamento da
informao est apoiado em teorias de esquema.
Nestas, esquemas so estruturas cognitivas
armazenadas em unidades de informao na
memria de longo prazo (MLP) - ou seja, constituem
o nosso pr-conhecimento que so empregadas no
ato da compreenso. Assim, os esquemas do leitor
so vistos como informando, na direo descendente,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
60
a informao oriunda do texto que est sendo
processada de maneira ascendente. (MOITA LOPES,
1996: 139)
Ao se reconhecer que o fluxo da informao no se d de
maneira linear, passa-se a perceber a necessidade de se fazer uso
tanto de estratgias ascendentes quanto descendentes. Assim nasce
o modelo interacional.
3.3 O Modelo Interacional
A abordagem interacional (interactive) representou um grande
avano nas teorias de leitura. Ela explica como os conhecimentos
lexical e de mundo esto intimamente relacionados no processo de
compreenso de texto, estabelecendo uma interao entre este
(texto) e o leitor (BARNETT, 1989). Diferentemente dos modelos
discutidos anteriormente, esta abordagem representa (...) vises
cclicas do processo de leitura no qual a informao textual e as
atividades mentais do leitor possuem um impacto simultneo e
igualmente importante na compreenso (ibidem, p. 13). Como a
interao entre os nveis de conhecimento desde o conhecimento
grfico at o de mundo uma prioridade nesta abordagem, o
foco desloca-se de uma compreenso micro (ascendente) para
atingir a compreenso do texto como um todo (KATO, 1984).
Essa abordagem une os modelos ascendente e descendente,
sugerindo que no processo de leitura h uma constante
dependncia e interao de ambos. Assim, se o leitor no
compreende certos segmentos do texto, ele pode voltar atrs para
analis-los atravs do reconhecimento de seus aspectos grficos e
sintticos, cujo entendimento o auxiliar a fazer previses sobre o
texto. Tal interao vem trazer um maior equilbrio prtica de
leitura por diferentes leitores, j que:
() uma exagerada confiana em qualquer um dos
modos de processamento negligncia de outro
modo tm sido apontadas como responsveis pelas
dificuldades de leitura nos leitores de L2. Alguns
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
61
leitores de L2 no so processadores de texto
eficientes e interativos ou porque tentam processar
de uma forma totalmente ascendente e podem
demonstrar empenho na decodificao desse tipo de
leitura, ou porque tentam processar de uma forma
totalmente descendente estando assim sujeitos s
falhas e interferncias do esquema. (CARRELL,
1988: 239)
luz da perspectiva interacional de leitura, vrios estudiosos
desenvolveram semelhantes modelos, os quais so chamados de
modelos interacionais. Ao contrrio dos modelos no-
interacionais, nos quais o fluxo de informao transcorre numa s
direo, no permitindo que a informao presente em um estgio
maior de conhecimento influencie o processamento de uma
informao em um estgio menor, os modelos interacionais
procuram conjugar os modelos descendente e ascendente
entendendo que, no processo de leitura, h um constante ir e vir
entre as duas abordagens.
Stanovich (1980) prope um modelo interacional de leitura
onde, se o leitor possui determinada deficincia em um
determinado estgio do processo (i.e. descendente), essa
deficincia pode ser compensada pelo outro processo (i.e.
ascendente), opinio partilhada por outros autores como Samuels e
Kamil (1996); Grabe, (1996); Carrell (1988); Hudson (1996):
[modelos] interativos de leitura parecem fornecer
uma conceitualizao do desempenho da leitura mais
precisa do que os modelos estritamente descendentes
ou ascendentes. Quando combinados a uma
suposio de modelo compensatrio (em que um
dficit em qualquer processo particular resultar em
uma maior confiana em outras fontes de
conhecimento, indiferentemente de seus nveis na
hierarquia do processamento), os modelos
interacionais fornecem um melhor relato dos dados
existentes sobre o uso de estrutura ortogrfica e do
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
62
contexto sentencial por leitores bons e fracos.
(STANOVICH, 1980: 32, apud CARRELL, 1988: 31)
Outros estudiosos acrescentam diferentes detalhes de acordo
com sua tica. Para Rumelhart (apud BARNETT, op. cit.), o
processo de leitura perceptual e cognitivo. Para Kintsch e Van
Dijk (1978, apud URQUHART & WEIR, 1998), a estrutura do
texto, assim como a capacidade do leitor em integrar a informao
em sua macroestrutura proporo que o l, tambm
fundamental para o entendimento. H autores (GRABE op. cit.;
CARRELL, op. cit.), ainda, que reiteram a importncia da
estrutura retrica do texto, ou, h quem relacione a abordagem
interacional de leitura a teorias de esquema (MOITA LOPES,
1996). Embora incluindo detalhes distintos, esses modelos so
chamados de interacionais por conservarem o que h de mais
intrnseco na abordagem interacional de leitura: a interao leitor-
texto atravs do acionamento de estratgias de diferentes nveis. O
fato de qualquer texto poder ser interpretado acionando-se
diferentes estratgias para construir seu significado torna a
perspectiva interacional mais atraente e essencial na leitura em LE
e sua pedagogia (BARNETT, 1989).
Concluindo, podemos dizer que a interpretao do processo de
leitura teve, ao longo de vrias dcadas, diferentes leituras. Hoje,
a tendncia mais forte ver a leitura como interao, um processo
onde a participao do leitor fundamental para a construo do
significado do texto. Para professores e educadores, o universo da
leitura em LE no pode ser restrito porque, acima de tudo, no s o
ensino de uma LE est em jogo, mas tambm o desenvolvimento
de cidados e sua conscincia crtica em relao ao mundo que os
cerca. Soma-se a isso o fato de [os] modelos interacionais,
procurando ser mais abrangentes, vigorosos e coerentes, do
nfase s relaes entre a apresentao grfica do texto, vrios
nveis de conhecimento lingstico e processamentos, e vrias
atividades cognitivas (CARRELL, 1988: 58).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
63
A importncia dos modelos interacionais est no fato de
fornecerem uma viso de leitura mais ampla, j que acionam nveis
lingsticos, emocionais e psicolgicos do ser humano para
desconstruir e depois construir o texto. Aliado a esta linha de
pensamento, no podemos esquecer o carter scio-interativo da
leitura (cf. MARTINS, 2001; CULLER, 1999). Acreditando que
uma perspectiva de leitura nesses moldes seja mais adequada para
explicar o processo de leitura em ingls como LE, e que a
educao transformadora, to preconizada por Freire (2000),
deve ter como ponto de partida profissionais predispostos a
reavaliar e reconsiderar suas crenas, questionamos porque a viso
de leitura subjacente aos exerccios de compreenso propostos por
LDs em geral no corresponde a uma perspectiva de leitura
interacional, mas parece estar atrelada a uma abordagem
puramente ascendente, abordagem essa que ainda permeia a
pedagogia do professor de LE, e que parece servir como fio
condutor de grande parte dos LDs; muitos desses ainda vem a
leitura como uma simples atividade pedaggica para rever ou fixar
vocabulrio e gramtica, e no como uma habilidade que pode
levar o aprendiz a conhecer e interpretar outros mundos ao mesmo
tempo em que aprende a LE. Um professor distrado tambm
passa a olhar a leitura como atividade e no reconhece seu papel de
skill, ferramenta, na aprendizagem de uma LE.
4 O LD e a aprendizagem de ingls atravs da habilidade de
leitura
Coracini (1999) observa que as sees de leitura de diversos
LDs no conseguem transcender a amplitude que a habilidade da
leitura pode alcanar. Nestas, considera-se que as estruturas, frases
e palavras soltas sejam o veculo por excelncia para ensinar
lngua (NUTTALL, 1994). Apesar dos benefcios do foco na
forma e no vocabulrio, no se pode esquecer que a lngua
somente o veculo que carrega o significado e o leitor que d
sentido a este veculo. Moita Lopes (1995: 207) assinala que
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
64
[professores e alunos] no parecem perceber a
linguagem como um fenmeno social por meio da
qual as pessoas constroem e desconstroem o
significado interacionalmente de acordo com seus
prprios projetos scio-polticos. Ou seja, parecem
operar com uma percepo de linguagem como
forma (...)
Talvez essa percepo de linguagem como forma seja um dos
principais fatores que levam autores de LDs a no priorizarem
exerccios de leitura em LE que oportunizam a negociao do
significado. Assim, como aos alunos no dada a chance de
construir o sentido do texto, a habilidade da leitura pode vir a ser
vista por eles como chata e desinteressante. Entendemos que a
habilidade da leitura comunga tanto dos aspectos estruturais da
lngua quanto dos significados que sero re-construdos na
interao texto-leitor.
Acreditamos que a leitura no pode ser vista como isolada das
outras habilidades contempladas no LD. Ao contrrio, ela pode
informar as outras habilidades j que, a comear pela capa do
livro, atravs da leitura que o aluno convidado a usufruir todo
seu contedo. De fato, a leitura envolve o livro por inteiro: seus
layouts, textos, enunciados... e no h portanto motivos para
menosprez-la.
5 Consideraes finais
Diante do que discutimos, somos levados a questionar por que
LDs de ingls como LE, no que se refere ao desenvolvimento da
habilidade da leitura, parecem ignorar uma viso de leitura mais
abrangente, isto , a leitura como um processo interativo e social.
Alm do espao dedicado ao desenvolvimento da habilidade da
leitura ser to limitado no coursebook, j que a nfase se encontra
na oralidade e gramtica, este ainda parece ser mal utilizado. A
seleo de textos ou complexos ou irrelevantes para os alunos,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
65
bem como a natureza dos exerccios propostos pelo livro, parecem
ir contra um sentido mais amplo de compreenso textual.
Se os autores no privilegiam uma viso de leitura e
compreenso mais dialgica, e se professores no percebem tal
inadequao, [perde-se] uma excelente oportunidade de treinar o
raciocnio, o pensamento crtico e as habilidades argumentativas.
Tambm perde-se a oportunidade de incentivar a formao de
opinio (MARCUSCHI, 2001: 49). Quando professores no so
suficientemente cnscios a respeito das causas das incongruncias
do LD, ou as ignoram por opo ou falta de tempo, provavelmente
deixam de criar ou reformular os exerccios para textos propostos
pelo LD, seguindo fiel e passivamente suas ideologias.
Por outro lado, no poderamos deixar de mencionar que h
tambm LDs que propem atividades enriquecedoras para o
desenvolvimento da habilidade de leitura, de forma a auxiliar o
processo de aprendizagem de LE. Embora raros, alguns LDs,
atravs de atividades simples, onde se pede que o aprendiz faa
uso de estratgias tanto de nvel ascendente quanto descendente de
forma equilibrada, direcionam e auxiliam o aluno a inferir,
negociar e construir os possveis significados do texto,
oportunizando assim uma compreenso e interpretao mais
crticas e abrangentes.
Diante do exposto, luz da teoria revista, e luz de nossa
prpria prtica de sala de aula, acreditamos que uma abordagem
interacional de leitura em um maior quantitativo nas publicaes
atuais traria conseqncias benficas ao processo de ensino-
aprendizagem. Primeiramente, porque esta perspectiva reflete a
complexidade do processo de compreenso de textos,
evidenciando que este no se d de maneira determinada e precisa,
mas inexata e mltipla, atravs da interao entre leitor e texto.
Concomitantemente, este material contribuiria muito mais para a
formao de um cidado-leitor mais crtico e auxiliaria o aluno a
aprender a LE alvo. A possibilidade de uma leitura plural, e no
mais monossemntica, entretanto, desafiadora e implica uma
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
66
mudana de conduta do professor, j que exige dele maior
flexibilidade e coragem para lidar com o inesperado da sala de
aula. No caso do professor que j faz uso de uma abordagem de
leitura interacional, o LD certamente facilitaria muito mais o seu
trabalho, uma vez que ele no necessitaria reformular/adaptar
tantos textos e exerccios.
Referncias Bibliogrficas
BARNETT, M. A. More than meets the eye: foreign language
reading: theory and practice. New Jersey: Center for Applied
Linguistics and Prentice Hall Inc, 1989.
CARRELL, P.L., DEVINE, J, ESKEY, D.E. Interactive
Approaches to Second Language Reading. Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
CELANI, M. A. & MOITA LOPES, L.P. Parmetros Curriculares
Nacionais: Lngua Estrangeira. Braslia: Ministrio da
Educao, 1998.
CORACINI, M. J. R. F. (org.) O Jogo Discursivo na Aula de
Leitura. So Paulo: Pontes, 1995.
____________________ O Livro Didtico de Lngua Estrangeira e
a Construo de Iluses. In: CORACINI, M. J. R. F.
Interpretao, Autoria e Legitimao do Livro Didtico.
Campinas, SP: Pontes, 1999.
CULLER, J. Teoria Literria uma introduo. So Paulo: Ed.
Beca, 1999.
FREIRE, P. A importncia do ato de ler. 43 ed. So Paulo: Cortez,
2002.
KATO, M. Estratgias cognitivas e metacognitivas na aquisio
de leitura. Anais do I Encontro Interdisciplinar de Leitura,
Londrina, Universidade Federal de Londrina, p.102-115,
1984.
KLEIMAN, A. Leitura e Interdisciplinaridade: tecendo redes nos
projetos da escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1999.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
67
____________ Leitura: ensino e pesquisa. Campinas, SP: Pontes,
2001.
LAJOLO, M. Livro Didtico: um (quase) manual de usurio. Em
Aberto. Braslia, v. 69, p. 3-9, 1996.
___________. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6 ed.
So Paulo: tica, 2002.
MARCUSCHI, L. A. Exerccios de compreenso ou copiao nos
manuais de ensino da lngua? Em Aberto. Braslia, n. 69, p.
46-65, 1996.
__________________ Compreenso de Texto: algumas reflexes.
In: DIONISIO, A. P. & BEZERRA, M. A. O Livro Didtico
de Portugus: mltiplos olhares. Rio de Janeiro: Ed. Lucerna,
2001.
MARTINS, M. H. O que Leitura. So Paulo: Ed. Brasiliense,
2001.
MOITA LOPES, L. P. Pesquisa interpretativista em Lingstica
Aplicada: a linguagem como condio e soluo. In:
D.E.L.T.A., v. 10, no. 2, p. 329-335, 1994.
__________________ Perceptions of Language in L1 and L2
Teacher-Pupil Interaction: The Construction of Readers
Social Identities. In: SCHFFNER, C. & WENDEN, A.
(orgs.) Language and Peace. Aldershot: Dartmouth Publishing
Co, 1995.
__________________ Oficina de Lingstica Aplicada: A
natureza social e educacional dos processos de
ensino/aprendizagem de lnguas. Campinas, SP: Mercado de
Letras, 1996.
NUTTALL, C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language.
London: Heinemann, 1994.
URQUHART, S. & WEIR, C. Reading in a Second Language:
Process, Product and Practice. New York: Longman, 1998.
Discurso reportado como (meta)mmesis
Luiz Fernando Matos Rocha UFJF
Ns, cientistas, armamos um grande alvoroo sobre a
coisa extraordinria, que a cincia, e pretendemos
separ-la da vida cotidiana. Penso que isso um
grave erro. A validade da cincia est em sua
conexo com a vida cotidiana. Na verdade, a cincia
uma glorificao da vida cotidiana, na qual os
cientistas so pessoas que tm a paixo de explicar e
que esto, cuidadosamente, sendo impecveis em
explicar somente de uma maneira [...] (MATURANA,
2001: 31)
Muito embora seja um prestigiado objeto de estudo,
amplamente esquadrinhado por tericos de toda sorte, a mmesis
requer um novo olhar a partir do advento das Cincias Cognitivas,
que tendem a glorificar a vida cotidiana. A insero do sujeito
cognitivo no campo dos estudos da linguagem dissolveu
inapelavelmente o binmio palavra-mundo, negando enfoques
correspondentistas em prol de uma viso relativizada e
perspectivizadora. No entanto, j no mais suficiente reconhecer
que esse sujeito desestabiliza a ordem lgica. preciso lanar luz
sobre os mecanismos mentais subjacentes atuao do sujeito na
representao do mundo ou mmesis, como vem fazendo os
cognitivistas concentrados em como o sentido se produz a partir da
investigao de processos cognitivos de mesclagem e de extenso
metafrica e metonmica (FAUCONNIER, 1997). Discute-se
muito sobre a representao esttica da realidade, mas no os
processos mentais que lhe do suporte. Enfim, qual seria a
realidade mental da representao cotidiana? No tenho a
pretenso de responder a essa pergunta milenar, mas oferecer uma
perspectiva diferente para se comear a discutir o fenmeno.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
69
Assim compreendida, a mmesis, como categoria ampla,
manifesta-se atravs linguagem das mais diversas formas, seja no
nvel esttico ou no gramatical. Uma delas pode ser considerada
metammesis verbal, ou seja, uma representao da
representao lingstica na qual o discurso produzido, para
representar o mundo, reproduzido, de modo criativo,
evidentemente. Existe uma figura retrica (cf. na seo seguinte)
denominada mmesis que sustenta essa abordagem. Portanto, ser
empreendido um esforo de se associar esse conceito, aqui
expandido para o domnio cognitivo-gramatical, ao arcabouo da
Lingstica Sociocognitiva (SALOMO, 2003, 1999a, 1999b,
1997). A metammesis verbal seria o que tradicionalmente se
conhece como discurso reportado, instanciado, por em construes
do tipo Matheus disse que vai voltar e Sarah falou: Que
preguia!.
Grande parte dos dicionrios de Lngua Portuguesa traz duas
acepes bsicas para o verbete mimese. O Dicionrio Aurlio
Eletrnico (1999) apresenta as seguintes:
[Do gr. mmesis, 'imitao'.]
S. f.
1. E. Ling. Figura que consiste no uso do
discurso direto e principalmente na imitao do
gesto, voz e palavras de outrem.
2. Liter. Imitao ou representao do real na
arte literria, ou seja, a recriao da realidade.
Apesar do reducionismo de que possam ser acusadas as
definies acima, at porque o objetivo do compndio no o de
exaurir o assunto, a diviso do verbete em duas entradas, uma
Lingstica e outra Literria, sintomtica. Isto porque demonstra
que um mesmo fenmeno est sob escopo de duas reas de estudo,
a princpio, distintas. A primeira est voltada para questes
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
70
gramaticais; a outra, para questes estticas. Ou seja: gramticos
de um lado; o fazer dos estetas, de outro.
A contar com Auerbach (1996) e com as noes cognitivistas
mais recentes, essas fronteiras no necessariamente devem existir.
Focalizando a representao da realidade na literatura ocidental,
Auerbach afirma (1996: 17): Escrever histria to difcil que a
maioria dos historiadores v-se obrigada a fazer concesses
tcnica do lendrio. Para ele, a histria que presenciamos
transcorre de maneira menos uniforme, cheia de contradies e
confuso; ao contrrio da lenda, que apresenta uma tendncia
para a harmonizao aplainante do acontecido, para a
simplificao dos motivos e para a fixao esttica dos caracteres
(AUERBACH, 1946: 17). Projetando-se esses trechos reportados
para um domnio discursivo mais amplo, para abarcar gneros
variados, pode-se afirmar que a narrativa, em geral, utiliza recursos
lendrios semelhantes para dar conta de suas representaes.
Embora no seja tarefa deste trabalho discutir a fundo a fratura
acadmica entre campos do saber, h pelo menos um aspecto
primordial que integra ambos os segmentos: a existncia de uma
mesma cognio instrumentalizando a noo de mmesis (sentido
amplo). Tampouco nosso objetivo examinar a mmesis do ponto
de vista estritamente esttico, nem defend-la como propriedade
intrnseca da linguagem em si; pelo contrrio, busca-se mencionar
suas nuances cognitivas, sinalizadas por pistas lingsticas. No
entanto, o foco de ateno, a princpio, concentra-se na primeira
acepo do verbete do dicionrio, que serve apenas para lanar luz
sobre o vis analtico cognitivista, no para agravar o rompimento
entre Lingstica e Literatura.
Em virtude do suporte cognitivo subjacente a ambas as
noes, acredita-se que a segunda acepo possa tambm cumprir
a mesma tarefa de se buscar o nvel cognitivo, visto que prev
imitao, representao e recriao da realidade. Entretanto,
por opo epistemolgica, faz-se do tratamento da mmesis como
figura retrica o ponto de partida para a investigao de um objeto
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
71
que aparentemente bvio, pois se mostra muito produtivo no dia-
a-dia, mas que, por outro lado, constitui-se tambm de uma
complexidade no-exaurvel.
Figura retrica sugere existncia de processo cognitivo
Embora seja um processo sociocognitivo amplo servio da
representao, mmesis , nesta seo, discutida a partir de sua
focalizao como figura retrica, estabelecendo-se tambm um
sentido estrito para ela. (Na viso tradicional de Du Marsais (1977:
7), figuras so formas de um falar distinto daquele cujo destino
evidenciar o natural e o comum a todos: so constitudas de certa
expressividade distanciada, em especial, da maneira ordinria de
falar). Assim, conclui-se que a figura do discurso nos habilita a
ver uma coisa em termos de outra. Apesar de parecer simplificao
excessiva apresentar um vastssimo tema como mera figura de
ornamentao lingstica, este tratamento inicial, como j foi
sinalizado, apenas um gatilho que dispara todas as postulaes
defendidas por esta pesquisa. Mas, antes, vamos tentar desvendar
como o conceito de mmesis (lato sensu) historicamente
desemboca em sua vertente retrica.
As discusses embrionrias em torno da mmesis iniciam-se na
Grcia Antiga e ganham fora com Plato, que cunhou a palavra.
Para ele, em uma narrativa por meio da imitao ou mmesis, o
poeta profere um discurso como se fosse outra pessoa, tornando-se
semelhante a ela na voz, na aparncia e no estilo (PLATO, 2002:
84). O filsofo infere que a arte de imitar est bem longe da
verdade, e se executa tudo, ao que parece, pelo fato de atingir
apenas uma pequena poro de cada coisa, que no passa de uma
apario (uma sombra) (PLATO, 2002: 296, parnteses nossos).
Essa reflexo condiz com a tese de que imitar reconstruir e no
retratar fielmente.
Com Aristteles, a noo esttica da mmesis se impe como o
fundamento de todas as artes:
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
72
A epopia e a poesia trgica e tambm a comdia, a
poesia ditirmbica, a maior parte da aultica e da
citarstica, consideradas em geral, todas se
enquadram nas artes da imitao. Contudo, h entre
esses gneros trs diferenas: seus meios no so os
mesmos, nem os objetos que imitam, nem a maneira
de os imitar (ARISTTELES, 1998: 239).
Segundo o filsofo, a imitao produzida por meio do
ritmo, da linguagem e da harmonia, empregadas separadamente ou
em conjunto (1998: 239), tendo a arte funo de imitar os
caracteres, as emoes e as aes. Ele diz ainda que h uma
tendncia instintiva nos seres humanos para a imitao e que,
atravs dela, o homem adquire seus primeiros conhecimentos,
experimentando prazer e distinguindo-se dos outros seres
(ARISTTELES, 1998: 244). Essa noo ser aprofundada
frente por meio de Tomasello (1999).
Porm, tal caracterizao como figura, apesar de se
considerarem os fundamentos filosficos, pode ser entendida como
oriunda de um procedimento retrico especfico denominado
sermocinatio, que, em Latim, quer dizer conversao ou dilogo.
Considerada uma das ornamentaes dentro das virtudes da
elocuo, a sermocinatio ou aversio ab oratore (afastamento do
orador) um subtipo de aversio, figura de pensamento por
substituio. Segundo Lausberg (1993: 254), trata-se do
afastamento do orador de si prprio por meio do qual: o orador
coloca o seu discurso, muito embora seja ele prprio a falar, na
boca de outra pessoa, e isto, no discurso directo e imita (imitatio,
??s ?? - mmesis em grego), neste caso, a maneira de falar
caracterstica daquela pessoa (da o chamar etopeia).
Mais rara em discurso indireto, como aponta Lausberg (1993),
a sermocinatio aparece:
- como discurso em dilogo:
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
73
(1) Quando Mercrio em sonhos lhe aparece,/
Dizendo: Fuge, fuge, Lusitano,/ Da cilada que o
rei malvado tece (fala de Mercrio ao Gama)
(CAMES, 1980: 161, canto II, 61);
- como dilogo:
(2) Disse ento a Veloso um companheiro/
(Comeando-se todos a sorrir):/ Oul! Veloso
amigo, aquele outeiro/ milhor de decer que de
subir./ Sim, , responde o ousado aventureiro
(Ibidem, p. 336, canto V, 35);
- como monlogo, quando contm perguntas
deliberativas sem que, por isso, se tenha de elaborar
o par pergunta-resposta:
(3) Est do fado j determinado/ Que tamanhas
vitrias, to famosas,/ Hajam os portugueses
alcanado/ Das indianas gentes belicosas/ E eu s,
filho do Padre sublimado,/ Com tantas qualidades
generosas,/ Hei de sofrer que o fado favorea/
Outrem, por quem meu nome se escurea? (Ibidem,
p. 111, canto I, 74).
No entanto, de acordo com Hildebrandt (1960: ix), a fonte
primria sobre figuras De ratione dicendi - Rhetorica ad
Herenium (Sobre a razo de dizer - Retrica a Hernio), obra em
Latim, muito tempo tomada como sendo do orador e escritor
Ccero (sculo I a.C.). O texto, de autor desconhecido, apresenta a
sermocinatio como um recurso retrico segundo o qual a mesma
coisa, ao ser dita, se mudar em trs: nas palavras [expresses
lingsticas], na pronncia [prosdia] e no tratamento [construo
sinttica e estilstica]. [...] D-se a sermocinatio quando a fala
atribuda a uma pessoa... (Traduo realizada pela Prof. Maria
Luiza Kopschitz Bastos saudosa professora da UFJF , do
latim para o portugus, do texto De ratione dicendi ad C.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
74
Herennium, disponibilizado pelo site <http://www.intratext.com>. O
que est entre colchetes comentrio da tradutora).
Nesse mesmo texto, apresenta-se um outro recurso retrico
prximo da sermocinatio, denominado conformatio (prosopopia),
que, mantendo-se at hoje, consiste em, quando algum no est
presente, fazer como se estivesse, ou em dar voz e ao a uma
coisa muda e informe, e a ela atribuir discurso apropriado sua
condio, ou alguma ao (De ratione dicendi ad C. Herennium).
Aqui chama ateno o fato de pessoas ausentes poderem ganhar
vida. E isso est representado verbalmente atravs de construes
de discurso reportado.
O compilador renascentista de figuras de linguagem, Richard
Sherry, no primeiro livro de retrica em ingls, prescrevendo
figuras como instrumentos para o ornamento oratrio, coloca a
mmesis (sentido estrito) como um subtipo de prosopopia:
Mmesis uma seqncia de palavras e
procedimentos atravs da qual expressamos no
apenas as palavras da pessoa, mas tambm o gesto: e
esses seis tipos j mencionados [tipos de prosopopia
descritos anteriormente no texto] foram classificados
por Quintiliano como prosopopia (SHERRY, 1550:
69). (Original em ingls renascentista. Traduo da
Prof. Dr.. Maria Clara Castelles de Oliveira,
UFJF).
De um ponto de vista estritamente retrico, Quintiliano (1881:
326) explica que a prosopopia uma figura ousada e que,
segundo o orador e escritor latino, Ccero, exige fora,
constituindo-se uma fico que faz intervir as pessoas. Conforme
Quintiliano, a prosopopia singularmente apropriada a variar e a
animar o discurso. Atravs dela, podemos expor os pensamentos
de adversrios como se eles prprios o fizessem. O autor tambm
reconhece a prosopopia e o sermocinatio como procedimentos
retricos semelhantes, porque no se pode supor um discurso que
no seja atribudo a algum. No entanto, fazemos falar uma cidade
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
75
ou uma regio, que no tem voz, como exemplifica Ccero: Pois
se a ptria que me infinitamente mais cara que minha prpria
vida, se a Itlia inteira, se toda a repblica pudesse falar e me
dizer: Ccero, qual o teu desejo?.
Alm de fontes como Quintiliano, neoclssicos como Sherry
contriburam fortemente para a definio das figuras, enfatizando
os interesses prescritivos. Segundo Hildebrandt (1960: ix), alm da
confiana de primeira mo em relao obra dos antigos, como a
prpria Rhetorica ad Herennium, muito exemplos a partir das
obras de Virglio, Ccero e Terncio, bem como definies de
figuras, dependem muito dos intermedirios neoclssicos.
[...] na retrica antiga, so precrios os limites entre
o esttico e o normativo, e a noo de cada um
desses fenmenos apenas se estabelece um em
relao ao outro. Como sabemos, a retrica
procurou resolver o problema normatizando a
criatividade esttica representada pelas figuras e
tropos (BRANDO, 1989, p. 12-13, aspas do autor).
Se a criatividade esttica, talvez de modo rudimentar, pode ser
normatizada a partir do levantamento de figuras e tropos (segundo
Quintiliano, 1881: 316, tropo um modo de falar que desvia de
sua significao natural e principal, dando-lhe outra, a fim de
embelezar o estilo), sinal da existncia de regularidade nas
ocorrncias lingsticas das figuras e dos tropos. Havendo
sistematicidade, pode-se pressupor um suporte cognitivo para a
realizao do ainda considerado ornamento prescritvel.
Esse olhar normativo persiste at hoje. As gramticas
tradicionais exibem listas de figuras de linguagem com propsito
de difundir metalinguagem. Podem ser consideradas incipientes e
fortemente prescritivas na busca de ornamentao retrica, mas
tais listas so, na verdade, estudos intuitivos que podem ser
revistos e aprofundados sob ponto de vista da Lingstica
contempornea, como ocorre com o trabalho de Lakoff e Johnson
(1980) sobre metfora e metonmia.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
76
Mmesis we live by
Apesar de ser retoricamente entendida como figura, a mmesis
no est na palavra, nem restrita Literatura, mas sinaliza
processos cognitivos de uma mente literria, tal como entende
Turner (1996). Essa mente literria une projees e histrias e
oferece, por exemplo, representao gramatical para a
metammesis, expressa cotidianamente atravs do uso do
discurso reportado. O fenmeno da mmesis como categoria ampla
pervasivo como processo participante da produo da
significao. Fazendo parte das capacidades do aparelho cognitivo,
manifesta-se atravs da sintaxe, semntica, prosdia e interao.
A princpio, vamos reconhecer que mmesis como capacidade
sociocognitiva est amplamente disseminada na vida cotidiana, tal
como a metfora que tambm usa recursos mimticos na projeo
analgica entre domnios distintos. O elemento de um domnio se
projeta em outro, num processo de replicao criativa.
Quem leu Metaphors we live by (LAKOFF e JOHNSON,
1980, traduo para o portugus, 2002, Metforas da vida
cotidiana) pode supor as expectativas geradas pelo ttulo desta
seo. Quem no leu pode comear a entend-lo substituindo as
entradas das palavras metfora/metafrico por mmesis/mimtico
pelo menos no primeiro pargrafo do livro:
A metfora , para a maioria das pessoas, um
recurso da imaginao potica e um ornamento
retrico mais uma questo de linguagem
extraordinria do que de linguagem ordinria. Mais
do que isso, a metfora usualmente vista como uma
caracterstica restrita linguagem, uma questo
mais de palavras do que de pensamento ou ao. Por
essa razo, a maioria das pessoas acha que pode
viver perfeitamente bem sem a metfora. Ns
descobrimos, ao contrrio, que a metfora est
infiltrada na vida cotidiana, no somente na
linguagem, mas tambm no pensamento e na ao.
Nosso sistema conceptual ordinrio, em termos do
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
77
qual no s pensamos, mas tambm agimos,
fundamentalmente metafrico por natureza
(LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 45).
Este livro um divisor de guas com relao ao trato milenar
da metfora especificamente, mas ajuda a lanar luz sobre o fato
de que a mmesis, apesar das postulaes da tradio retrica,
tambm est amplamente disseminada na vida cotidiana, como
sinaliza Tomasello (1999), ao falar da imitao como instrumento
de aquisio de linguagem.
Antes de ser uma figura presente no uso do discurso direto e,
principalmente, na imitao do gesto, voz e palavras de outrem;
antes de ser tratada como produto da linguagem em si, esse tipo de
mmesis tambm est infiltrado no pensamento e na ao. Em
diferentes pocas, sob ngulos diversos, autores distintos o
reconheceram. O retrico tradicional, Du Marsais, em 1730,
admitia: Com efeito, estou persuadido de que se produzem mais
figuras em um s dia de mercado do que em muitas sees
acadmicas (1977: 8). Modernamente, Habermas (1997: 131), por
sua vez, atesta o que afirma Du Marsais, mas focalizando a
mmesis: [...] descobre-se que j h um momento mimtico em
prticas dirias de comunicao, e no meramente na arte.
Assim como no h ningum que na conversao corrente
no se sirva de metforas, dos termos prprios e dos vocbulos
usuais (ARISTTELES, 1998: 176), no h ningum que no se
sirva da mmesis (sentido estrito) no uso corrente da linguagem.
Isso se d inclusive a partir de toda sorte de expresses lingsticas
e paralingsticas ensejadoras da recuperao, evidentemente no
plena, de pensamentos, textos, situaes, acontecimentos, gestos,
entoaes e discursos. Como figuras poticas e retricas so de uso
corrente, no s artstico, boa parte da barreira entre Literatura e
Lingstica j foi demolida.
Lakoff e Johnson (1980) argumentaram em favor da metfora
cotidiana. Se eles garantem isso, por que as demais figuras de
linguagem no podem sair do domnio exclusivo da Potica, da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
78
Retrica ou da Gramtica Tradicional, e serem tratadas no como
produtos de linguagem, mas como processos cognitivos altamente
complexos? Com a mmesis, sinalizada pelo discurso reportado,
no poderia ser diferente, mas esta figura tradicionalmente
tratada como se estivesse arraigada no significante, e no na ao e
no pensamento.
Dessa forma, fazer mmesis, agora em sentido amplo, precede
a arte entendida como criao esttica, porque constitui uma
habilidade cognitiva do sujeito a servio da produo de
linguagem (lato sensu). Antes de o sujeito cognitivo reconhecer ou
escrever metforas em literatura, antes de ele estudar e ensinar os
constituintes de uma sentena e antes mesmo de ele filosofar e
redigir sobre a capacidade artstico-mimetizadora do ser humano,
ele j era doutor em produzir metforas, estruturas sintticas e
imitao, embora a maioria das pessoas no soubesse ou no saiba
disso conscientemente.
Com essas consideraes, um leque abrangente de reflexes se
abre, mas, neste caso, pretende-se focar na capacidade cognitiva
humana de mimetizar gestos, vozes e sobretudo o discurso de
outrem. Ou seja: concentra-se na faculdade humana especfica para
reconceptualizar e reenquadrar linguagem e cenrio j criados, que
jamais podem ser estritamente reproduzidos, embora a tentativa do
sujeito seja a de se aproximar ao mximo da primeira
conceptualizao e do primeiro enquadre. Esta a mmesis do
ponto de vista cognitivo, ancorada nas construes gramaticais de
discurso reportado. Com ela, o ser humano capaz de formar
novos conhecimentos sem nunca conseguir reproduzir fielmente o
que est feito:
Dizer que discursos citados no tm o significado
que parecem ter no ato de reportar no dizer que
determinada citao no foi proferida pelo falante a
quem ela atribuda. Minha alegao seria abalada
por uma gravao provando que as palavras foram
faladas como foram reportadas. Nem estou alegando
que quando as palavras reportadas no foram de fato
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
79
proferidas, o reprter esteja mentindo ou
intencionalmente deturpando o que foi dito. Antes, o
ponto que o esprito da elocuo, sua natureza e
fora so fundamentalmente transformados quando o
objeto de crtica est presente em vez de ausente
(TANNEN, 1989, p. 109-10).
Tambm a mmesis aristotlica no representa uma cpia fiel
da vida: [...] evidente que no compete ao poeta narrar
exatamente o que aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido,
o possvel, segundo a verossimilhana ou a necessidade
(ARISTTELES, 1988: 252). Parece que, no caso, a vida imita a
arte e vice-versa, porque, com base no que est em Rocha (2000,
2004), o discurso mesmo diretamente reportado est mais para
verossmil do que para verdadeiro.
Segundo perspectiva reconstrucionista, os personagens da vida
real produzem a imitao ao tentar remontar, em circunstncias
novas, velhas aes verbais e cnicas atravs de construes
gramaticais de discurso reportado. O dilema deste trabalho
milenar. Ainda na Arte Potica, no captulo que trata de Como se
deve apresentar o que falso, Aristteles diz: Ora, o
maravilhoso agrada, e a prova est em que todos quantos narram
alguma coisa acrescentam pormenores com o intuito de agradar
(1998: 281). o famoso dito popular: quem conta um conto
sempre aumenta um ponto.
A biologia da imitao criativa
Como deciso, mmesis escolha de permanncia;
como deciso efetuada sobre uma matria cambiante,
uma permanncia sempre mutante. O ato da
mmesis, em suma, suporia uma constncia e uma
mudana. [...] O ato mimtico seria em si dialtico:
permanncia que no se nega ao transformado,
transformado que no lana um abismo ante o que
passou. (COSTA LIMA, 1980: 4)
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
80
A dialtica da mmesis (lato sensu) proposta acima est em
contigidade com a hiptese de Tomasello (1999) sobre as origens
culturais da cognio humana. Embora a gnese do pensamento de
ambos os autores seja distinta o primeiro terico da Literatura
e o segundo, antroplogo evolucionista , o fenmeno da mmesis
como ato dialtico pode ser biologicamente justificado. Segundo
Tomasello (1999), o Homo sapiens dotado de um mecanismo
biolgico responsvel pela transmisso cultural, o que representa
economia de tempo e esforo na explorao de conhecimentos e
habilidades j existentes. Isso justificaria o tempo
evolucionariamente curto de seis milhes de anos que separa os
humanos dos macacos e a prpria existncia de uma evoluo
cultural cumulativa. O homem possui capacidade biolgica para a
transmisso e a transformao da cultura.
Sendo assim, pode-se sustentar o fenmeno da mmesis (lato
sensu), exclusivamente humano, como uma atividade que
contempla constncia visto que o aparelho biolgico-
cognitivo do Homo sapiens mantm-se estruturalmente o mesmo
e mudana porquanto o mesmo aparelho geneticamente
hbil para transformar o mundo em sua volta com a transmisso de
conhecimento. Por essas razes, o homem est biologicamente
autorizado a executar imitaes. Para tanto, utiliza um espectro
variado de recursos lingsticos e paralingsticos. Dentre eles,
esto as construes gramaticais de discurso reportado, que
pressupem uma base de conhecimento transformada a partir do
deslocamento discursivo.
Tomasello (1999) defende a exclusiva habilidade do homem
moderno em reconhecer aqueles que so de sua espcie como
agentes intencionais, com vida mental prpria tanto quanto ele
mesmo. Essa capacidade herdada biologicamente para viver
culturalmente, de acordo com o mesmo autor, inicia-se em torno
de noves meses de idade. Por essas razes, o homem capaz de se
projetar no lugar do outro. Este o princpio bsico da capacidade
cognitiva humana que possibilita a metammesis gramatical, ou
seja, a instaurao rede de construes gramaticais de discurso
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
81
reportado. Em outras palavras: existe uma capacidade de se
projetar no lugar do outro, herdada biologicamente, e isso
engendra a mmesis como processo que vai se realizar atravs do
uso do discurso reportado em termos gramaticais. Este pressuposto
especialmente apropriado, pois se instancia na imitao cotidiana
(o verbo imitar dicionarizado como fazer exatamente o que faz
uma pessoa ou animal ou reproduzir semelhana de. No entanto,
imitar, aqui, pressupe um sujeito cognitivo intermediando a
relao palavra/mundo. Por isso, o verbo est mais para reconstruir
do que reproduzir), na qual um ser humano freqentemente
arremeda o outro, podendo utilizar discurso lingisticamente
reportado, no reproduzindo fielmente as atitudes alheias, mas
reenquadrando-as e reconceptualizando-as.
Se a cognio humana capaz de se imaginar no lugar de
outra cognio humana por razes biolgicas, a capacidade
cognitiva de mimetizar, altamente complexa e desempenhada com
certo automatismo, biologicamente transmitida, seja ela expressa
na rotina de um bate-papo entre amigos, seja na criao de uma
obra-prima da arte teatral. Por isso, o homem nasce com aparato
cognitivo para a imitao, que se manifesta tanto cotidianamente
como artisticamente. Ou seja: reconhecendo o outro como agente
intencional e mental, o homem entende que esse outro tem
interesses similares aos dele. Como em um reflexo de espelho,
esse homem se projeta nas intenes alheias e capaz de inferir
sobre elas. Essa capacidade de se projetar virtualmente a garantia
da perpetuao da espcie humana, pois assim ela consegue prever
perigos e elaborar hipteses. O homem encarna virtualmente a
alteridade, assumindo que tem determinada compreenso sobre
esse outro.
Para Tomasello (1999: 37), esse processo anteriormente
descrito uma das chaves para o que ele chama de evoluo
cultural acumulativa, na qual algumas tradies culturais
acumulam as modificaes feitas por indivduos diferentes com o
passar do tempo, de forma que elas se tornam mais complexas, e
uma extenso mais ampla de funes adaptativas includa. Para
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
82
ilustrar isso, o autor trabalha com o exemplo do martelo, um
artefato que, como vrios outros, foi sendo modificado para
atender a novas exigncias funcionais. De um simples pedao de
pau amarrado a uma pedra, ele passou a um martelo de metal ou a
um martelo mecnico. Da mesma forma, os sinais lingsticos
tambm vo se modificando com propsitos similares.
Essa modificao do artefato cultural, seja ele lingstico ou
no, pode se dar por fora das habilidades cognitivas de imitao.
Segundo Tomasello (1999: 52), crianas entre um e trs anos,
criativamente limitadas, so mquinas de imitao, repetindo
muitas vezes o que fazem aqueles que esto a seu redor. No
entanto, a partir dessa interao com o meio, via imitao, as
crianas realizam um salto criativo ao discernir relaes analgicas
e categoriais. Do ponto de vista deste trabalho, esse salto criativo
ocorre a partir de um aumento de produtividade de processos
cognitivos de mesclagem (FAUCONNIER e TURNER, 1996,
1994). Tais processos ajudam a dar conta da tenso dialtica do
desenvolvimento cognitivo humano, apontada por Tomasello
(1999, p. 53): [...] a tenso entre fazer coisas convencionalmente
[...] e fazer coisas criativamente.
A mmesis (lato sensu) como capacidade cognitiva manifesta-
se antes mesmo de a criana aprender a falar. Nas interaes nas
quais os pais e o beb dirigem a ateno um para o outro, ambos
compartilhando e expressando emoes atravs de olhares, toques
e vocalizaes, ocorre o que Tomasello (1999: 59) enquadra como
protoconversaes. Nesse momento, a criana, s vezes, imita
movimentos corporais dos adultos, especialmente movimentos da
boca e da cabea.
Em torno dos nove meses, a criana adota comportamentos
atencionais conjuntos, que indicam o entendimento emergente de
outras pessoas como agentes intencionais e o entendimento de si
mesma como agente intencional. Nesse momento, o beb, por
exemplo, manipula objetos tentando imitar o que os adultos fazem
com eles, j coordenando interaes tridicas com pessoas e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
83
objetos. A aprendizagem imitativa a forma ontogeneticamente
primeira de aprendizagem cultural.
Considerando que no incio da infncia j havia
mmica comportamental, didica e face-a-face, aos
nove meses a criana comea a reproduzir aes
intencionais de adultos sobre objetos externos
(TOMASELLO, 1999: 81).
J na aprendizagem para produzir smbolo comunicativo, o
processo de aprendizagem imitativa diferente. A criana engaja
na imitao de reverso de papel, na qual ela deve aprender a usar
um smbolo voltado para o adulto, da mesma forma que o adulto o
usa voltado para ela. Ou seja: o smbolo comunicativo entendido
intersubjetivamente a partir de ambos os lados da interao.
Segundo Tomasello (1999: 107), para a criana adquirir o uso
convencional de smbolos lingsticos entendidos
intersubjetivamente, necessrio que ela:
- entenda os outros como agentes intencionais;
- participe nas cenas de ateno conjunta que
estabelecem a base sociocognitiva para atos de
comunicao simblica, inclusive lingstica;
- entenda no apenas as intenes, mas as intenes
comunicativas em que algum planeja prestar
ateno em alguma coisa na cena de ateno
conjunta;
- inverta papis com adultos no processo de
aprendizagem cultural e assim use voltada para os
adultos o que eles usam em direo a ela o que na
verdade cria a conveno ou smbolo comunicativo
entendido intersubjetivamente.
De certa forma, Tomasello (1999: 109) reconhece que, se o ser
humano adulto no dispusesse de estruturas lingsticas e de
respectivos contextos de enunciao, aos quais ele recorre
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
84
freqentemente, a criana no poderia adquirir uma lngua natural.
Herdada biologicamente, essa capacidade cognitiva de recorrncia
a estruturas e a contextos preexistentes pode ser considerada um
dos pontos-chave do processo cultural cumulativo. Por isso, ao
longo da vida, o homem capaz de recuperar fatos, sons, gestos
e discursos por meio da linguagem. O exerccio dessa recorrncia
algo absolutamente relevante para a aquisio de lnguas. Assim,
desde cedo, a criana, em geral, faz uso dessa capacidade
mimetizadora, habilidade esta que se sofistica com o passar dos
anos.
Mente literria faz do homem um autor do cotidiano
Com Tomasello (1999), vimos que, como herana biolgica, a
capacidade cognitiva de se projetar no lugar do outro,
reconhecendo-o como agente intencional e mental, d ao homem a
chance de adquirir linguagem atravs da constituio interacional
de smbolos lingsticos. A imitao tomada como capacidade
sociocognitiva, que autoriza o ser humano a imitar pessoas e
coisas, porm recriando essas mesmas pessoas e coisas, fornece
grande sustentao aquisio de linguagem e o conseqente
aprimoramento da capacidade de produo do sentido. Trata-se de
uma questo de cunho ontogentico. No entanto, essa habilidade
mimetizadora no abandonada aps o perodo fundamental da
aquisio de linguagem. (Segundo Fernanda Meireles, informao
verbal, essa denominao perodo fundamental de aquisio de
linguagem pode ser discutida a partir dos pressupostos
sociocognitivistas, os quais preconizam uma viso ampla de
linguagem, entendida como prtica social sustentada por
mecanismos cognitivos que atuam ao longo da vida, no se
restringindo apenas ao perodo de parametrizao. A utilizao de
gneros textuais, por exemplo, est inserida no processo
sociocognitivo de apropriao da linguagem - MEIRELES, F. A.
R. Comunicao Pessoal. 2003. Faculdade de Letras da UFRJ,
Doutorado em Lingstica, Rio de Janeiro, Brasil). Na fase adulta,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
85
essa capacidade de mmesis se mantm, porque ns vivemos, por
exemplo, imitando coisas e pessoas nas conversas dirias, ou at
mesmo, por conta de nossa habilidade projetiva, presumindo
acontecimentos, lembrando do passado e narrando o presente.
Nosso aparelho mental projetivo sofistica-se com o passar dos
anos muito por conta da tese defendida por Turner (1996): a mente
literria.
Se a habilidade de projetar nos acompanha at o resto de
nossas vidas, a habilidade de fazer mmesis (lato sensu) e
metammesis verbal certamente persistir at l. Mmesis e
projeo entre domnios conceptuais andam juntas. Quando
simplesmente dizemos que Maria uma flor, projetamos
mimtica e metaforicamente certos atributos da flor para o
domnio Maria. Sabemos que Maria no tem ptalas nem caule,
mas podemos entender que ela meiga e bonita. Isto porque
recriamos os atributos de beleza e de fragilidade da flor no
domnio humano. Nesse sentido, mmesis est tambm na projeo
entre domnios conceptuais, um dos processos bsicos de que a
mente literria faz uso. Por isso, mmesis no cpia, mas
recriao.
Segundo Turner (1996), a mente literria, dotada de
imaginao narrativa, funda-se em trs princpios cognitivos
bsicos:
- histria: boa parte de nossas experincias, nosso
conhecimento e nosso pensamento est armazenada
como histrias, que organizam a imaginao
narrativa, ou seja, o entendimento de um complexo
de objetos, eventos e atores;
- projeo, uma histria ajuda a outra a fazer
sentido, em projeo;
- parbola, combinando histria e projeo, este
princpio nos torna capazes de projetar uma histria
em outra, sendo princpio cognitivo bsico que surge
em qualquer lugar, a partir de simples aes como
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
86
dizer que horas so ou de criaes literrias
complexas. Serve como laboratrio onde grandes
coisas so condensadas em pequenos espaos.
Praticar um ato verbal metamimtico, atravs de construes
gramaticais de discurso reportado, contempla todos esses
elementos constitutivos. Podem fazer parte de uma narrativa
muitas cenas de discurso reportado. Nesse caso especfico, algum
ouve uma histria e, ao recont-la, projeta essa histria sua
maneira, seja em forma de discurso reportado ou de relato
reportado. Dessa forma, a mmesis pela via do discurso reportado
est tambm na prpria imaginao narrativa, segundo a qual uma
histria projetada no em forma de retrato, mas de modo
reconstrudo. Se considerarmos linguagem uma representao de
mente literria, podemos dizer que a linguagem pura mmesis, j
que o uso da linguagem prev o uso repetido, porm criativo, de
estruturas lingsticas j convencionalmente estabelecidas, que so
flexibilizadas no jogo sociointeracional.
Como j foi visto, o discurso reportado, enquanto construo
gramatical, seria ento metammesis verbal ou meta-
representao verbal, nesse sentido, pois se constituiria como a
linguagem que imita a prpria linguagem. Por exemplo: Joo
entregou o doce garota mimtico em relao cena
comunicativa, pois recria a cena lingisticamente; mas em Ele
disse que Joo entregou o doce garota, ocorre metammesis,
porque se reelabora um evento, conceptualizando-o. Embora tendo
como objeto de investigao apenas textos literrios, Bakhtin
(2002, p. 167) afirma: Toda a narrativa poderia ser posta entre
aspas como se fosse de um narrador. Esta assero pode ser
expandida para abarcar narrativas orais, e as aspas que recobrem a
narrativa desse narrador demarcam o domnio cognitivo sob o qual
se encontra tal narrao.
Por sua vez, Turner (1996) pergunta: como reconhecemos
objetos, eventos e histrias? Segundo ele, parcialmente atravs de
esquemas de imagem: padres estruturais que ocorrem
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
87
periodicamente em nossa experincia sensrio-motora. So usados
para estruturar nossas experincias e assim reconhecer objetos e
eventos, colocando-os em categorias. Surgem da percepo e
tambm da interao (percebemos o leite fluindo para o copo e
interagimos com ele fluindo para dentro de nossos corpos). O
esquema continer, por exemplo, tem trs partes: interior, exterior
e limites que os separam. Experimentamos vrias coisas como
contineres: garrafa, bolsas, carros etc.
H tambm o esquema movimento ao longo do caminho
(motion along a path), que nos permite reconhecer o leite indo
para dentro do copo ou o deslocamento feito pelas pessoas. Este
esquema tem especial relevncia para este trabalho porque evoca
tambm a cena bsica de movimento causado, que
gramaticalmente est representada pela construo de movimento
causado, instanciada, por exemplo, em Ele chutou a bola para o
quintal e relacionada construo de discurso reportado, que
sinaliza a transferncia de discurso. Para Turner (1996),
detectamos movimento causado quando reconhecemos um
esquema imagtico dinmico e complexo no qual o movimento de
um objeto causa o movimento de outro objeto. Temos um padro
neurobiolgico para lanar um pequeno objeto. Este padro subjaz
ao evento individual de lanar uma pedra e nos ajuda a criar a
categoria de lanamento (TURNER, 1996: 16).
Essa seqncia de eventos, como no prprio exemplo dado por
Turner, a rock thrown to hit a distant object (uma pedra lanada
para atingir um objeto distante), estruturada por um esquema
imagtico de um ponto que se move ao longo de uma trajetria
direcionada a partir de uma fonte para o alvo. Esta imagem
dinmica carrega uma seqncia de situaes espaciais. Como
afirma Turner (1996), se vemos algum pegando uma pedra e
jogando-a em cima de ns, no temos necessidade de esperar que a
pedra bata em ns para que reconheamos a pequena histria
espacial e respondamos a ela. Somos capazes de projetar as
conseqncias. A imaginao narrativa nossa forma fundamental
de predizer, avaliar, planejar e explicar.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
88
Assim, a proposta de Turner (1996) nos permite inferir que o
processo cognitivo da mmesis (lato sensu) crucial nessa
capacidade imaginativa medida que, para predizer, avaliar,
planejar e explicar, o sujeito cognitivo tem como base uma
narrativa original, que, por sua, vez, reconstruda a cada
momento em que acessada. Por isso, o homem comum pode ser
considerado um literato da oralidade, capaz de criativamente narrar
o dia-a-dia.
Consideraes finais
medida que as cincias vo ganhando maior poder de
explicao sobre os fatos da linguagem, a releitura de velhos
fenmenos revela nuances jamais vistas, o que garante ineditismo
reflexivo. A antiga figura retrica surpreendentemente conhecida
como mmesis (discurso direto com imitao do gesto, da voz e das
palavras de outrem) seria um indcio forte da existncia de um
processo sociocognitivo que capacita os falantes a compreender e
produzir criativa e lingisticamente a voz do outro. Afora a
concepo esttica de mmesis, sua acepo gramatical tradicional,
pouco estudada, ganhou novas consideraes luz de teorias
lingsticas contemporneas. Tentou-se mostrar que um recurso
verbal, h muito considerado exclusivo da arte retrica, tem bases
sociocognitivas, pois depende de processos mentais especficos,
como projees entre domnios mentais.
O poder de sintonizar o grau da perspectiva do falante que
reporta garantido pelo repertrio de construes de discurso
reportado, sugerindo-se a existncia de uma capacidade mental,
sociocognitivamente construda, para a reconstruo da voz do
outro. Nesses termos, no se pode garantir que tudo se cria, ou
seja, que o discurso reportado totalmente novo, porque h
modelos cognitivos culturalmente j disponveis que asseguram a
existncia de uma base primordial; no entanto, no se pode dizer
que tudo se copia, isto , que o discurso literalmente reportado,
porque a criatividade tambm estar garantida por conta da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
89
emergncia do novo no domnio criado. Como metammesis
verbal, o discurso reportado pressupe, ento, mudana e
permanncia, adotando-se os termos de Costa Lima (1980). De
qualquer forma, a recriao de uma criao, uma reconstruo
que necessariamente precisa passar pelo crivo de arcabouos
tericos que reconhecem, mesmo que de modos distintos, a
importncia da mente no processamento da linguagem cotidiana.
Referncias Bibliogrficas
ARISTTELES. Arte retrica e arte potica. 14 ed. Traduo de
Antnio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998.
AUERBACH, E. Mimesis: a representao da realidade na
literatura ocidental. 4 ed. So Paulo: Perspectiva, 2002.
BAKHTIN, M. [VOLOCHNOV, V. N.] Marxismo e filosofia da
linguagem. 10 ed. Traduo de Michel Lahud e Yara
Frateschi Vieira. So Paulo: Hucitec, 1979/2002.
BRANDO, R. de O. As figuras de linguagem. So Paulo: tica,
1989.
CAMES, L. de. Os Lusidas. Rio de Janeiro: Biblioteca do
Exrcito, 1980.
COSTA LIMA, L. Mmesis e modernidade: formas das sombras.
Rio de Janeiro: Graal, 1980.
DU MARSAIS. Trait des tropes. Paris: Le Noveau Commerce,
1977.
FAUCONNIER, G. Mappings in language and thought.
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
FAUCONNIER, G.; TURNER, M. Blending as a central process
of grammar. In: Adele Goldberg, ed., Conceptual structure,
discourse, and language. Stanford: Center for the study of
language and information (distributed by Cambridge
University Press), 1996.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
90
FAUCONNIER, G.; TURNER, M.. Conceptual projection and
middle spaces. USCD Cognitive Science Technical Report,
1994.
HABERMAS, J. Um perfil filosfico-poltico. In: SADER, E.
Vozes do sculo: entrevistas da New Left Review. Paz e
Terra: So Paulo, 1997.
HILDEBRANDT, H. W. Introduction. In: SHERRY, R. A Treatise
of Schemes and Tropes. Scholars Facsimiles & Reprints:
Delmar, New York, 1977. p. V-X.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metforas da vida cotidiana.
Traduo do Grupo de Estudos da Indeterminao e da
Metfora (GEIM), coord. Mara Sophia Zanotto e traduo de
Vera Maluf. Campinas: Mercado das Letras, 1980/2002.
LAUSBERG, H. Elementos de retrica literria. Traduo de R.
M. Rosado Fernandes. Fundao Calouste Gulbenkian:
Lisboa, 1993.
MATURANA, H. Cognio, cincia e vida cotidiana.
Organizao e traduo de Cristina Magro e Victor Paredes.
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
MIMESE. In: FERREIRA, A. B. de H. Dicionrio Aurlio
Eletrnico. Verso 3.0. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
QUINTILIANO. De linstitution oratoire. Traduo de M. Nisard.
Paris: Firmin, Didot et C. Libraires, 1881.
ROCHA, L. F. M. A construo da mmesis no reality show: uma
abordagem sociocognitivista para o discurso reportado.
2004. 254 f. Tese (Doutorado em Lingstica)
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, 2004.
ROCHA, L. F. M. Processos cognitivos de mesclagem no discurso
reportado: o caso do discurso direto em textos jornalsticos
escritos. 2000. 91 f. Dissertao (Mestrado em Letras
Lingstica) Instituto de Cincias Humanas e de Letras,
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2000.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
91
SALOMO, M. M. M. Gramtica e interao: o enquadre
programtico da hiptese sociocognitiva sobre a linguagem.
Veredas: revista de estudos lingsticos, Juiz de Fora, v. 1, n.
1, p. 23-39, jul./dez. 1997.
SALOMO, M. M. M. O processo cognitivo de mesclagem na
anlise lingstica do discurso. Projeto integrado de pesquisa
do Grupo Gramtica, Cognio e Interao. Juiz de Fora:
UFJF, UFRJ e UERJ, 1999a.
SALOMO, M. M. M. A questo da construo do sentido e a
reviso da agenda dos estudos da linguagem. Veredas: revista
de estudos lingsticos, Juiz de Fora, v. 3, n. 1, p. 61-79,
jul./dez. 1999b.
SALOMO, M. M. M. Construes no portugus do Brasil:
integrao conceptual na sintaxe e no lxico. Projeto de
pesquisa apresentando ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq). Juiz de
Fora: UFJF, 2003.
SHERRY, R. A Treatise of Schemes and Tropes. 2
nd
ed. Scholars
Facsimiles & Reprints: Delmar, New York, 1977. 238 p.
Facsimile reproduction.
TANNEN, D. Talking voices. New York: Cambridge University
Press, 1989.
TOMASELLO. M. The cultural origins of human cognition.
Harvard University Press: Cambridge, 1999.
TURNER, M. The literary mind. New York: Oxford University
Press, 1996.
A publicidade na intimidade
Milton Chamarelli Filho UFAC
Consideraes Iniciais
Ao situar-se no mbito das linguagens que povoam o nosso
universo miditico, a publicidade utiliza cada vez mais estratgias,
no intuito de obter uma identificao do pblico para com os
produtos anunciados, estabelecendo, a partir da, uma relao, que
se deve tornar familiar e, muitas vezes, quase ntima, aos olhos do
consumidor.
Se a finalidade da publicidade a de conduzir o possvel
comprador ao consumo do produto, quais sero, ento, as formas
pelas quais ela se far chegar a um interlocutor (leitor,
telespectador, etc.), ou, ainda, de torn-lo sensvel a sua
mensagem, j que cada vez mais h um pblico diferenciado, a
quem ela visa conquistar?
Na emaranhada rede de relaes entre publicidade e pblico, o
fator econmico, por exemplo, no o nico determinante para
responder sobre o comportamento de compra do consumidor
(ROCHA, 1988: 3.). Em verdade, as variveis que interferem na
compra do produto so muitas: das psicolgicas s sociais (Ibidem:
10). O que torna, ento, a mensagem publicitria eficaz? Ou, como
sua mensagem construda, a fim de que ela possa, antes de
qualquer coisa, chamar a ateno para si prpria?
Embora a publicidade institucionalizada seja conhecida desde
o sculo XIX, foi no incio do sculo XX, com a quebra da bolsa
de Nova York, que o mercado se viu entre a superproduo de
produtos e a falncia, da a importncia de se oferecer produtos e
a de criar-se demandas. Frente criao de demandas, nasce a
linguagem publicitria, pretendendo diminuir a distncia entre o
produto anunciado e o pblico.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
93
Mas como a publicidade, a princpio, tornou a sua mensagem
notada para um pblico? Mais do que isso, deveramos indagar:
como a publicidade torna a mensagem digna de credibilidade,
credibilidade que pode certificar os seus prprios produtos? Falar-
nos na intimidade, sobre aquilo que nos interessa, ou da forma que
nos interessa que, de antemo, desperta a nossa ateno, ao nos
tornar sensveis a sua mensagem, , um dos seus principais ardis.
Insuspeitas, mas no menos notrias, so as relaes que se
podem traar entre a publicidade e a chamada pop art, dos anos 60.
Se esta provocou o deslocamento do olhar (a assimilao da pop
art ao aspecto da reprodutibilidade j havia sido anunciada pela
fotografia), conduzindo-nos de volta cotidianidade dos objetos
que nos cercam, em toda a sua objetualidade, comunicando-nos a
perda da aura dos objetos artsticos (BENJAMIN, 1982) provocou,
com essa mudana de foco, o modo de se fazer notar da arte,
quando subverte a capacidade daquilo que entendemos como o
fazer artstico. Como coloca Lucrecia de DAlssio Ferrara:
Uma produo pop um verdadeiro inventrio da
cultura de massa: produo em srie, consumo,
efemeridade. Objetos materiais ocupam a tela
envolvendo o receptor e executando dupla funo: a
primeira atra-lo pelo reconhecimento, na tela, dos
mitos que povoam o seu cotidiano; a segunda traze-
lo para o universo da obra esvaziando, com isso, o
significado daqueles objetos e materiais rotineiros
que, por estarem fora do seu universo habitual,
perdem a familiaridade que os envolvem. Logo, na
arte pop, os objetos e materiais de consumo exercem
a dupla funo de atrair e provocar o estranhamento
do receptor. (FERRARA, 1986:106. Grifo nosso)
Da mesma forma ocorreu com a publicidade, na medida em
que ela:
nos seus melhores exemplos, parece baseada no
pressuposto informacional de que um anncio mais
atrair a ateno do espectador quanto mais violar
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
94
as normas comunicacionais adquiridas (e subverter,
destarte, um sistema de expectativas retricas).
(ECO, 1991: 157).
Estendendo o que diz Ferrara sobre pop art linguagem da
publicidade, podemos dizer que, em um primeiro momento, esta
linguagem e tambm a da pop art, atrai o receptor pela
identificao com algo, a princpio familiar, atravs de linguagens
que lhes do suporte.
Enquanto a pop art esvazia o significado dos objetos, ao
dar-lhes novos significados, em funo do deslocamento do olhar
que eles provocam no novo contexto em que so colocados, a
publicidade, tambm esvazia o sentido dos objetos anunciados, na
medida que eles de deixam de ter um valor utilitrio, quando lhes
so acrescentados valores outros (status, poder, masculinidade,
feminilidade etc.) que devem ser conquistados com a aquisio
de bens consumveis.
Esvaziado o objeto de seu carter utilitrio, perde-se o nexo
que o justifica para a demanda de mercado, perdendo, com isso,
sua finalidade prtica. Se a demanda no existe porque a
publicidade no sabe exatamente das reais necessidades dos
consumidores , ela cria essa demanda em funo dos valores que
a todos pode atingir: valores familiares, pelo desejo (de uma
classe) que pretende suscitar, e familiares, pela forma pela qual a
mensagem publicitria veiculada (recursos de linguagens comuns
para o pblico: imagens, sons (msicas) e expresses lingsticas
conhecidas).
Um Breve Estado da Arte
H algumas dcadas, a publicidade tem sido alvo de estudo de
vrias disciplinas, dentre elas a Antropologia, a Semitica, e a
Lingstica, por meio da Anlise do Discurso, dentre outras.
As vrias linhas de estudo e as vrias formas de enfoque
dessas disciplinas sempre procuraram buscar a especificidade de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
95
um discurso, imagtico ou verbal publicitrio, que refletisse a
complexidade da comunicao nas sociedades ditas de massa.
Uma breve incurso literatura sobre anlise de publicidades
j nos mostra possibilidades de procedimentos diversos adotados
pelo corpo daquelas disciplinas.
Encontramos, assim, no campo da semiologia, o artigo
clssico de Roland Barthes: A retrica da imagem; o artigo de
Umberto Eco: Algumas verificaes: a mensagem publicitria; no
campo da comunicao o livro clssico de Vestegard e Schr? der;
no campo da sociologia e dos efeitos da publicidade sobre o
receptor encontramos a obra de Marcus-Steiff: Os mitos da
publicidade; no campo da semitica discursiva, encontramos os
trabalhos de Landowski. Para anlise das imagens na publicidade,
ainda poderiam ser citados aqui Smiologie de limage dans la
publicit, de Genevive Cornu, e Introduo anlise de
publicidades, de Martine Joly.
No campo da lingstica, especificamente, temos o trabalho
sobre slogans de Blanche Grunig, em Les Mots de la Publicite, e o
livro sobre as relaes entre linguagem e televiso de Maria Tereza
Fraga Rocco, mas que aborda tambm textos publicitrios. Ainda
no campo da Lingstica, temos todo um trabalho desenvolvido
pela escola semiolingstica de Anlise do Discurso, desenvolvida
por Patrick Charaudeau (cf. a bibliografia no final deste trabalho).
Sem contar com as inmeras dissertaes e teses universitrias
que se debruam sobre o estudo da publicidade, tomando as teorias
acima mencionadas como aporte, no devemos esquecer os livros
que falam sobre publicidade, do ponto de vista de quem a elabora.
Os principais, editados no Brasil so: Brasil: 100 anos de
propaganda, de Nelson Vron Cadena, Histria da propaganda no
Brasil, de Renato Castelo Branco, Tudo que voc queria saber
sobre propaganda e ningum teve pacincia para explicar, de
Jlio Ribeiro, e o livro de Pyr Marcondes Uma histria da
propaganda brasileira.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
96
Aqui se poderia enquadrar tambm os programas Intervalo, da
TVE, o programa Jingles Inesquecveis, de Lula Vieira,
apresentado pela Rede CBN de rdio, afiliada ao sistema Globo de
Rdio. Os trabalhos desenvolvidos pelo Memria da Propaganda,
no Rio de Janeiro, e Arquivo da propaganda, em So Paulo .
A Linguagem na Publicidade
A intencionalidade guia a construo do texto publicitrio.
Considerando-se a imagem que se faz do receptor, a
intencionalidade sempre a condio para que a prpria
linguagem, em que veiculada a mensagem publicitria, seja
entendida e assimilada. Por isso, a linguagem que a ele se destina
burilada e medida, a fim de que ela seja no apenas o vnculo que
se o liga ao produto ou servio, mas tambm que seja, em um
primeiro momento, consumida, para que possa servir, antes,
como um vnculo entre ambos (CHAMARELLI FILHO, 1998).
Como exemplo, poderamos citar a publicidade da Porto
Seguros, que diz: Voc no pra de pensar na sua casa prpria?
Ns tambm no. Lida-se aqui com o fato de a publicidade saber
que a aspirao da maioria dos brasileiros a compra da casa
prpria, por isso, o consumidor aqui visado, aquele que almeja
comprar um imvel ou pretendente adquirir meios para compr-lo.
Considere-se ainda, nesta mesma publicidade, o fato de que h
uma expresso muito utilizada na fala coloquial, qual seja, no
pra de pensar, que pode evocar uma certa familiaridade
lingstica ao leitor, a fim de que o mesmo tambm possa, em um
primeiro momento, familiarizar-se, logo, identificar-se com a
linguagem que a ele se destina.
Como forma de chamar a ateno desse leitor, a utilizao da
expresso no parar de pensar, presente na questo que se coloca
diretamente para ele, consumidor em potencial de produtos e de
mensagens, o conduz busca de uma satisfao que poder ser
alcanada, a princpio, no campo da linguagem.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
97
A pergunta feita a ele, consumidor, constitui-se, ento, como
meta a ser atingida em curto prazo, j que o carter efmero da
prpria publicidade demanda uma assimilao rpida da
mensagem e de seu contedo. a essa demanda que a prpria
Porto Seguros pretende atender, atravs da orao: Ns tambm
no [paramos de pensar na (sua) casa prpria]. Por que ento a
Porto Seguros no pra de pensar na (nossa) casa prpria, j que
somos ns, presumivelmente, os interessados para tal fim, poder-
se-ia perguntar? Porque ela quem poder cessar esse desejo
que nos incomoda continuamente, ou seja, adquirir a casa
prpria.
A estratgia desenvolve-se, aqui, no sentido de o leitor aceitar
a inferncia que pode ser produzida, a partir do seguinte
pressuposto: voc no pra de pensar na casa prpria, e encadear
sobre esse pressuposto o argumento de que o ato que ele,
consumidor, possivelmente realiza objetivado tambm por quem,
na condio de lhe fornecer meios para a aquisio da casa prpria,
tambm sensvel a um mesmo tipo de inquietao: Ns tambm
no [paramos de pensar na (sua) casa prpria]. Fato que, a
princpio, identifica consumidor empresa Porto Seguros.
Identificao que os coloca, supostamente, na mesma condio, j
que so passveis de terem a mesma preocupao: no parar de
pensar na casa prpria.
Outro exemplo muito interessante diz respeito funo do
texto na publicidade da mineradora Samarco, cuja produo
assinada pela agncia Lpis Raro, de Belo Horizonte. Apesar de
ser quase todo o texto referencial, esta publicidade utiliza recursos
de estilos, como se ver a seguir, que extrapolam o escopo do
quadro comumente admitido para a classificao dos textos
escritos a classificao das funes da linguagem, se segundo
R. Jakobson , porque lida com a capacidade de percepo e de
ordenamento cognitivo, dos leitores. A forma pela qual foi
elaborada a publicidade pode fazer-nos acompanhar a leitura,
entenda-se deslocamento da idia de uma transformao, dentro
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
98
do seu contexto (cf. a imagem da publicidade na pgina seguinte).
Assim:
SONHO - > IDIA
IDIA - > INOVAO
SAMARCO (INOVAO) - > REALIDADE
A inteno, como se pode observar, dar uma idia de
transformao e o que esta implica, em funo do qu.
Transformao esta que no apenas modifica palavras, mas
conceitos, fazendo com que ao signo SAMARCO some um
novo conceito. Pode ser depreendida a seguinte linha de
raciocnio:
REALIDADE > SAMARCO > INOVAO > IDIA > SONHO
que, por sua vez, em ordem seria:
SONHO - > IDIA - > INOVAO - > SAMARCO - > REALIDADE
que elemento faz a ponte entre sonho e realidade?
SONHO - > IDIA - > INOVAO - > SAMARCO - > REALIDADE
SAMARCO
A transformao sofrida pela palavra redunda a mensagem
icnica do minrio (colocado nas mos, em forma de concha), no
texto, no canto direito da pgina, e nas circunferncias cuja leitura
em direo seta ( - >) para direita.
Pode-se assim entender a publicidade: o minrio sofre uma
transformao. Samarco quem faz essa tranformao (mover o
mundo). A seta indica o processo de transformao, alm das
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
99
vrias graduaes das circunferncias. A Samarco quem faz virar
realidade o sonho de mover o mundo.
Figura 1
Publicidade da Samarco, Agncia Lpis Raro, BH
H mais de 25 anos um grupo de empreendedores teve um
sonho: transformar o itabirito, um minrio com baixo teor de ferro,
em pelotas de ferro de alta qualidade par o mercado mundial.
ESSE SONHO VIROU IDIA.
A IDIA VIROU INOVAO.
E A Samarco virou realidade.
Hoje, a Samarco uma das maiores exportadoras
transocenicas de pelotas de minrio de ferro. Um exemplo de
liderana empresarial e responsabilidade social. Uma empresa que
sonha e faz do sonho a sua matria-prima. O sonho de extrair
minrio e produzir dignidade. O sonho de gerar riquezas e
preservar o meio ambiente. O sonho de criar um ambiente de
trabalho mais seguro e assegurar uma melhor formao aos seus
empregados. O sonho da excelncia e da transparncia. Da
flexibilidade e da solidariedade. Da tica em todas as relaes. Um
sonho de fazer um pas melhor. Para todos.
Essa idia de transformao redundante no entrelaamento
das mensagens icnico-visuais, repetindo-se no contedo do texto.
Observe-se a utilizao de alguns verbos do texto (fazer, gerar,
criar), dando a noo de uma produo que transforma. Na
publicidade original, divulgada em uma revista de circulao
nacional, a idia de transformao tambm reforada pelas
pelotas, colocadas da esquerda para a direita, em final de pgina,
onde por sobre a ltima pelota aparece o seguinte texto: A
Samarco uma empresa brasileira fornecedora do minrio de ferro
que ajuda a mover o mundo.
Para efeitos de anlise dos textos publicitrios, devemos levar
em considerao no apenas a relao direta entre um anunciador e
um receptor de publicidades, em uma relao unidirecional pela
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
100
linguagem. O esquema, que reduz o ato de linguagem presena
de um emissor e de um receptor, herdado da teoria da informao
(ademais, como a prpria designao dos termos pelos quais se
coloca a polaridade do evento comunicativo), torna-se inoperante,
porque o ato de fala, o que o envolve e os efeitos de sentido que
dele decorrem, supe uma complexidade muito maior do que
aquela prevista por aquela esquematizao.Mas no tarefa deste
trabalho fazer o levantamento das conjecturas em torno das crticas
ao esquema ento mencionado.
Segundo Charaudeau, h no apenas dois elementos, mas
quatro protagonistas, envolvidos no ato de comunicao (Jec,
Jee, Tud e Tui), instncias, portanto, que so constitudos no ato
de linguagem. Uma vez instaurados, os protagonistas do ato de
linguagem se submetem s condies que envolvem este tipo de
ato. Para cada tipo de ato comunicativo, h restries daquilo que
deve ser dito, como deve ser dito, e quem estar em condies de
diz-lo ou receb-lo, por isso, fazem parte de um contrato de fala
(CHARAUDEAU, 1992). Contrato que se estabelece em funo
das seguintes condies:
eles se atribuem um certo estatuto psicossocial,
sendo que cada um desses estatutos imaginado por
cada um dos protagonistas;
eles estabelecem entre si um contrato de troca que
da ordem do Fazer, e no do Dizer, e que depende do
status psicossocial (relao de poder/submisso);
eles so dependentes do canal fsico de transmisso
(oral, grfico, direto/ difundido) (CHARAUDEAU,
1982: 12).
Ou seja, a publicidade, em funo da sua argumentao,
almeja levar aquele que a recebe a um fazer, a um comprar. A
relao contratual vai alm daquela de um cumprimento, conforme
o nome contrato poderia assim sugerir; uma relao daquilo
que pode ser admissvel sem consentimento, em uma relao de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
101
uma suposta simples troca. As trocas linguageiras, que se do no
cotidiano, assumem esse carter natural, e dessa naturalidade que
a publicidade pretende se apropriar, colocando-se como
mediadora, na relao produto-pblico, por intermdio da
linguagem, dos atos de linguagem.
Consideremos as seguintes instncias que se constituem no
ato de linguagem e que o fundamentam, segundo Charaudeau:
Figura 2
Instncias constitutivas do ato de linguagem, segundo
Charaudeau
Em que:
Jec: o indivduo real, o sujeito comunicante cria um
Jee: sujeito enunciador, que um sujeito da palavra. ele
que responsvel pelos efeitos que o uso da linguagem pode ter
sobre o sujeito interpretante (leitor ou ouvinte). O Jee
cria/fala/escreve para um
Tud: sujeito interpretante (destinatrio) ideal. O objetivo de
Jec/Jee fazer com que as interpretaes deste destinatrio ideal
coincidam com as do destinatrio real, o
Tui: sujeito interpretante real, exterior ao texto, ao circuito
interno da palavra.
Finalmente,
Ilx: representa o mundo falado/contado no circuito interno,
um mundo que tem a pretenso de ser um testemunho do
Il?: mundo real. (MACHADO, 1995)
Jee Tud
Ilx
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
102
Em linhas gerais, pode-se exemplificar, a partir do esquema
acima que Jec (a agncia de publicidade/quem cria ou produz o
texto publicitrio) cria uma imagem de um enunciador de
publicidade (o enunciador). Essa imagem deve equivaler imagem
que o pblico (Tui) faz ou almeja fazer desse enunciador (Tud).
No momento em que as imagens de Tud e Tui convergem, h uma
identificao entre aquilo que a agncia sugere, como imagem de
um enunciador, e aquilo que o pblico imagina, como a sua
imagem projeta nesse enunciador.
Por exemplo, no anncio dos xampus da marca Seda: Fivelas
escorregam em cabelos lisos. Homens grudam, a imagem que Jec
(Agncia) prope a de um enunciador (Jee) que possui cabelos
lisos e que sugere que a imagem projetada de Tud em Tui seja
aquela de uma mulher que deseja ter cabelos lisos ou mais lisos,
gerando assim um anseio de identificao da consumidora (Tui),
em funo do valor que agregado ao possvel benefcio do
produto: a conquista dos homens. O efeito desejado pela
publicidade obtido pela anttese: fivelas ? escorregam vs.
homens ? grudam; note-se que, a partir dessa oposio, o verbo
grudar, que em geral tem conotao pejorativa, passa a ter, nesse
contexto, conotao positiva.
Essa identificao necessria para o xito da publicidade.
Nesse momento, convergem as imagens de Tud e Tui; a
consumidora (Tui), identificada em seus anseios possveis, passa
desejar em funo de
um certo produto (P), [que] graas s suas
qualidades positivas (q+), proporciona um resultado
benfico (R+);
Voc tem uma falta que voc no pode no querer
preencher;
ora, se o que este produto proporciona (R+),
representa precisamente o preenchimento de sua
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
103
falta, porque ela deve tornar-se objeto de sua
busca;
ora, graas a (P) que se pode obter (R+); ou
seja, (P) representa o auxiliador facilita a procura
de sua busca. (CHARAUDEAU, 1982)
Na publicidade de Seda:
P = xampu Seda
q+ = beneficiamento dos cabelos
R+ = deixar os cabelos lisos
por intermdio do xampu Seda, que, com suas qualidades, a
leitora conseguir deixar os cabelos lisos, sendo, assim, a busca
satisfeita.
Imagem e Recepo das Publicidades
Como vimos acima, dentro de uma criao de identidade
entre pblico e produto, a publicidade lana perguntas e a elas
responde. Muitas vezes, a pergunta respondida pela imagem do
produto. Este apenas um dos muitos recursos que a publicidade
utiliza na criao de seus textos. Observemos um exemplo.
Na publicidade original da Loo Solar Protetora Nvea (cf.
infra), o texto colocado, ao lado da modelo fotografada, : Sabe
qual a moda na praia neste vero? Para obter a resposta a essa
indagao, deve-se passar, primeiro, pela visualizao da imagem
de uma mulher, at chegarmos ao produto, utilizando o
procedimento tradicional de leitura em Z.
Naturalmente que este tipo de leitura prevista pelo
publicitrio, na medida em que lida com a forma de varredura que
fazemos de um texto, na cultura ocidental.
Figura 3
Publicidade de Loo Solar Protetora Nvea.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
104
O conhecimento de mundo do leitor/espectador levando em
considerao, quando a publicidade cita imagens de seu universo
cultural. Esta citao, que no deixa de ser uma apropriao,
pode ser feita de diferentes maneiras e com diferentes intenes.
Por exemplo, a publicidade Glamour, de O Boticrio, cita uma
cena do filme Beleza Americana, ao colocar no texto uma mulher
rodeada de frascos de perfumes como se fossem ptalas de rosa.
Muitas vezes, as imagens tomadas emprestadas da cultura
ocidental e utilizadas em publicidades, ganham uma outra leitura,
podendo servir, ao mesmo tempo, como argumentos de
autoridade, na medida em que deslocam uma figura clssica para
uma pea publicitria, como tambm podem servir a pardias,
como, por exemplo, no caso da figura de Monalisa, de Leonardo
Da Vinci, que j apareceu em revistas, transfigurada como uma
outra mulher, usando culos da marca Ray-ban, usando aparelho
odontolgico e at como a personagem Mnica, criada por
Maurcio de Sousa.
A utilizao dos recursos acima mencionados diz respeito a
um reporte aos imaginrios scio-culturais dos
leitores/espectadores, a fim de que a pea publicitria possa servir,
como elemento de identificao para com esses espectadores, e
que possa, por conseqncia, ser avaliada, a partir de uma
legitimidade, ou de uma transgresso permitida a essa
legitimidade.
A ltima tendncia nas publicidades de revistas a
interatividade ou a simulao de brindes, acoplados nas prprias
pginas das revistas. A proposta atual destas publicidades fazer
com que o leitor interaja com elas, conferindo-lhe um carter mais
privativo, ao fazer dele alvo da mensagem que lhe destinada, e
tambm mais curioso, na medida em que algo est no somente
escondido, mas oculto em um objeto que pode ser visto por todos,
no interior de uma revista.
Ao interagir com este tipo de publicidade, o leitor torna-se seu
co-autor, criador, essa criao se d pelo desvelamento do
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
105
produto escondido, que se d a conhecer, no momento em que o
leitor viola o lacre do brinde que lhe fornecido pela revista. A
funo das aes naturais aqui deslocada, ou seja, no se interage
para criar, mas para se deixar persuadir.
Comportamento e Marca
Para o produto ser desejado, ele tem que suscitar desejos ou
despertar desejos latentes, mesmo que eles no venham a ser
satisfeitos da forma de como a publicidade os idealiza. Mais
explicitamente coloca a publicidade do Honda Civic: Muito mais
que um meio de transporte. um meio de ficar feliz (grifo nosso).
Neste caso, o automvel no apenas o veculo ou meio de
transporte como sua caracterstica mais peculiar a menos
enfatizada pela publicidade ; o meio para se alcanar a
felicidade.
Apesar dessas observaes, arriscaramos dizer que a
publicidade no pretende vender verdades, ou antes, objetos,
mas formas de comportamento, de desejar. na esfera do desejo
que nasce o sonho de consumo. O meu sonho de consumo ...
algo proibido como meta de algo que em curto prazo no pode
ser realizvel, algo para o qual, entre mim e ele, se interpem
desejos, desejos que se encontram com outros desejos e gostos de
uma mesma classe, a quem so destinados determinados tipos de
arqutipos. Como nos diz U. Eco:
Existe, fato, um tipo de excelente comunicao
publicitria que se baseia na proposta de arqutipos
do gosto que preenche exatamente as mais previsveis
expectativas, oferecendo, por exemplo, um produto
feminino atravs da imagem de uma mulher pela
sensibilidade corrente. (ECO, 1991: 157)
O arqutipo, neste caso, a forma que julgo ideal para me
assumir como membro de uma determinada classe e com ela
identificado.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
106
Na instncia das formas de comportamento suscitadas pela
publicidade, encontramos exemplos claros nos textos da Benneton
e da DuLoren. Exemplo: Voc sabe do que uma DuLoren capaz?
Nas publicidades desta marca, o desafio lanado s consumidoras,
ao mostrar cenas consideradas audaciosas, assumido pela prpria
marca. No o produto da DuLoren quem deve ser responsvel
por qualquer tipo de comportamento extraordinrio, efetivo ou
no, a ser despertado pelo produto; a prpria publicidade quem
capaz de se propor audaciosa o mais do que suficiente para
subverter a capacidade mdia da imaginao (tambm
presumida pela publicidade) das consumidoras, para lan-las ao
desafio de usar a marca e tornarem-se aptas a experimentarem
desejos de algo que est, presumivelmente, en-coberto.
A roupa debaixo, o souvetemain, que desperta desejo, a
segunda pele. A funo de embelezar o que j por si s belo
encontrada aqui tambm, tal como encontramos na publicidade dos
cremes de beleza, xampus, etc. Todos vm para revigorar,
transformar, em suma, atuar em profundidade como coloca
Barthes para a atuao dos detergentes, que agem, por esse
aspecto, no de forma diferente de xampus, cremes, loes de
beleza (BARTHES, 1993: 58).
Este tipo de comportamento s se efetiva porque a publicidade
j se sabe conhecedora do seu poder: a sua credibilidade. Como
diz Veron, ao interpretar Michel de Certeau: As mdias, as quais
eu sou fiel, so aquelas nas quais eu deposito a minha crena
(VERON, 1991: 168).
Consideraes Finais: a Credibilidade pela Linguagem
Ao passo que aumenta o poder de persuaso da mdia em
geral, por intermdio dos recursos grficos, digitais, etc.
aumentam, por outro lado, as possibilidades de escolha de quem
recebe a mensagem. Dentre os milhares de mensagens
veiculadas por revista, televiso, cartaz, outdoors, internet etc.
como atingir um consumidor? Sem dvida, mais do que nunca, o
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
107
consumidor o alvo, e como tal, precisa ser diferenciado do
grande pblico que no tem acesso maioria dos bens de
consumo, expostos pela publicidade.
por meio da identificao (verbal-vocal-icnica,) e,
portanto, da intimidade proposta ao consumidor, que a publicidade
entra no aconchego dos nossos lares. Ela se permite entrar, mas
no porque seja arrogante, mas porque, ao simular uma
interlocuo com o leitor/telespectador/consumidor, atravs de
msicas, textos e imagens, traz consigo o passaporte da
intersubjetividade.
Ao simular uma espcie de dilogo, a publicidade coloca-nos
na condio de interlocutores da mensagem que a ns se destina. A
naturalizao da qual esta mensagem se reveste , neste momento,
o passaporte para que possamos estar, a princpio, suscetveis de
receb-la. Porque o princpio que guia o seu direcionamento o da
simulao da troca linguageira, a partir das condies que
pretendem fazer dessa troca um ato natural, fazendo-nos supor
sempre a presena de um outro a quem nos dirigimos ou que se
dirige a ns.
Fundamentada na constituio do princpio dialgico da
linguagem, a simulao publicitria reconhece o seu princpio de
constituio, qual seja, estar na condio de locutorrio de um ato
de linguagem , implicitamente e imediatamente, identificar
algum na posio de alocutorrio (BENVENISTE, 1988: 286). O
princpio, reconhecido ento como natural, constitui-nos como
sujeitos, de fato, da mensagem publicitria, na medida em que nos
colocamos na condio de alocutrios da mensagem que a ns
destinada, por um locutrio.
Ao dirigir-se a ns, ainda que supostamente no nos conhea
(o pblico), a publicidade simula uma relao que natural, em
nosso, cotidiano, situao pela qual a reversibilidade da qual fala
Benveniste, entre os pronomes eu e tu, assume um carter
espontneo, colocando-nos sempre na condio de saber que
podemos dizer, que podemos retrucar, enfim, que podemos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
108
dialogar. Mas a resposta, neste caso, ultrapassar o mbito da
troca, pois ela s poder se efetivar como um comportamento que
foi suscitado pela linguagem e para o qual se deve responder.
Parece-nos que o trecho a seguir, de Bakhtin, ser suficientemente
claro para explicar o que dissemos acima:
A relao com o enunciado do outro no pode ser
separada nem da relao com a coisa (que objeto
de uma discusso, de uma concordncia, de um
encontro) nem da relao com o prprio locutor.
(BAKHTIN, 1992: 351)
Ainda que a linguagem exista aqui como efeito do ato que a
coloca no espao de simulao de uma troca dialgica, por seu
intermdio que respondemos (como assimilao da prpria
linguagem ou como compra de um produto) a quem nos fala, na
intimidade.
Referncias Bibliogrficas
BAKHTIN, M. Os gneros do discurso. In: Esttica da criao
verbal. So Paulo: M. Fontes, 1992.
_____. Problemas da potica de Dostoivski. Rio de Janeiro,
Forense Universitria, 2002.
BARTHES, R. A retrica da imagem. In: O bvio e o obtuso.
Lisboa: Edies 70, 1984.
_____. Mitologias. So Paulo: Bertrand Brasil, 1993.
BENJAMIN, W. A obra de arte na poca de sua reprodutibilidade
tcnica. In: LIMA, L. C. (Org.) Teoria da cultura de massa.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
BENVENISTE. E. O aparelho formal da enunciao. In:
Problemas de lingstica geral II. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1989.
CHABROL, C. Le lecteur: fantme ou realit? tude des
processus de rception. In: CHARAUDEAU, P. La presse
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
109
produit production. Paris: Didier ruditions, 1988. p. 161-
184.
CHABROL C., CHARAUDEAU, P. Lecteurs cible et destinataires
viss. A propos de largumentation publicitaire. In: VS n
52/53, Bologne: Bompiaini, 1989. p. 151-161.
XXX XXX, X. A constituio de slogans em publicidades
televisivas. Dissestao (Mestrado em Estudos Lingsticos)
Universidade Federal de Minas Gerais, 1998.
CHARAUDEAU, P. lments de smiolinguistique dune thorie
du langage une analyse du discours. In: Connexions n 38,
Paris: ARIP-EPI, 1982. p. 7-30.
DUCROT, O. Princpios de semntica lingstica. So Paulo:
Cultrix, 1977.
ECO, U. A estrutura ausente. So Paulo: Perspectiva, 1991.
FERRARA, L. DA. A estratgia dos signos. So Paulo:
Perspectiva 1986.
JAKOBSON R. Lingstica e comunicao. So Paulo: Cultrix,
1988.
MACHADO, I. L. A ironia como fenmeno lingstico-
argumntativo. In: Revista de Estudos Lingsticos. Belo
Horizonte, ano 4, v. 2, p. 143-155, jul./dez. 1995.
ROCHA, L. M. de Carvalho. Uma proposta de mensurao do
envolvimento do consumidor. 97 p. Dissertao (Mestrado em
Administrao) - PUC/ Rio de Janeiro,1988.
VERON, E. Les mdias em rception: les enjeux de la
complexit. In: Medias Pouvoir, Bayard Press, n? 21, fevrier,
mars, 1991.
Redao de vestibular:
um gnero discursivo heterogneo
Cinara Ferreira Pavani UCS
Vanilda Salton Kche UCS
Introduo
No ensino tradicional, geralmente, o professor de Lngua
Portuguesa repassa aos alunos uma estrutura formal de redao,
objetivando atender s supostas exigncias do Concurso
Vestibular. Assim, muitas vezes, no se vale de uma metodologia
voltada para a discursividade na construo de diferentes gneros
textuais, usados em diferentes situaes de comunicao. Disso,
decorre um tipo de ensino em que no se formam alunos capazes
de comunicar-se de forma adequada e eficiente. Sem a capacidade
de comunicao desenvolvida, esses estudantes apresentam
dificuldades de construir textos, inclusive no vestibular.
Nesse sentido, para Meurer (1996), o ensino das modalidades
tradicionais extremamente deficiente, entre outras razes, porque
no se preocupa com o conjunto de variveis scio-cognitivas
implicadas no uso da linguagem humana e porque no d conta
dos gneros do discurso que os sujeitos utilizam nas mais variadas
situaes de interao social. Assim, trata-se de conceber a lngua
numa perspectiva scio-interacionista, na qual a sua funo
promover a interao social entre os indivduos, e no apenas
transmitir informaes.
Portanto, torna-se necessrio ampliar os estudos sobre a
redao de vestibular como prtica social, uma vez que esse
gnero fundamental para o ingresso na universidade. Atravs
dele, o professor pode desenvolver no aluno a competncia
argumentativa, tornando-o apto a estabelecer a interao com seus
interlocutores em diferentes situaes. Nessa perspectiva, este
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
111
artigo apresenta os resultados da pesquisa A redao de vestibular
como gnero textual, desenvolvida na Universidade de Caxias do
Sul, Campus Universitrio da Regio dos Vinhedos, que tem por
objetivo investigar a redao do vestibular, no que se refere s
diferentes seqncias tipolgicas que a constituem enquanto
gnero textual e como essas seqncias se articulam para tornar
um texto coeso e coerente. Inicialmente, apresenta-se a
fundamentao terica, em seguida, os resultados e a anlise de
uma redao do vestibular.
O estudo apresentado neste artigo tem um enfoque
quantitativo e qualitativo-interpretativo. O corpus constitui-se de
setenta e cinco redaes dos candidatos do Concurso Vestibular
Vero/2004, da Universidade de Caxias do Sul. O critrio para a
escolha das redaes levou em conta a nota obtida pelo candidato,
de 10 a 12 pontos. Esses valores indicam um certo domnio da
escrita, pois equivalem s notas mais altas atribudas pela UCS na
avaliao da prova de redao. Pressupe-se que um bom texto
articula diferentes seqncias tipolgicas, como o caso da
redao de vestibular. Nesse gnero, predomina a dissertao, no
entanto, podem estar presentes outras seqncias, como a narrao,
a descrio, a explicao, a injuno, dentre outras.
1 Gneros do discurso
Conforme os Parmetros Curriculares Nacionais, o estudo dos
gneros discursivos e dos modos como se articulam desempenham
um papel fundamental em nossa vida ao se considerar as
possibilidades de uso da linguagem e a vivncia em sociedade. A
tradio ocidental ligava a palavra gnero especialmente aos
gneros literrios, porm, hoje, como lembra Swales, o gnero
facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso
de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspiraes
literrias (1990: 33).
Desse modo, so considerados gneros todos os textos que
circulam na sociedade e que desempenham diferentes papis
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
112
comunicativos. Na concepo de Bakthin, os gneros so tipos
relativamente estveis de enunciados produzidos pelas mais
diversas esferas da atividade humana (1992: 127). Ou seja, os
gneros possuem caractersticas especficas de acordo com a
funo desempenhada e so produzidos por qualquer ser humano.
Para Bronckart, os textos so produtos da atividade de linguagem
em funcionamento permanente nas formaes sociais: em funo
de seus objetivos, interesses e questes especficas, essas
formaes elaboram diferentes espcies de textos, que
aprensentam caractersticas relativamente estveis (1999: 137).
Assim, os homens so praticantes e criadores dos gneros, pois
estes so fundamentais nas relaes comunicativas vivenciadas
cotidianamente. Nesse sentido, para Bazerman, os gneros so o
que as pessoas reconhecem como gneros a cada momento do
tempo, seja pela denominao, institucionalizao ou regularizao
(1994). Como se observa, os gneros discursivos permeiam as
relaes humanas e nascem delas, atendendo a necessidades de
interao, ou seja, possibilitam que os indivduos desempenhem
suas funes na sociedade e ocupem seu espao enquanto sujeitos.
Assim, de acordo com Marcuschi, os gneros contribuem para
ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia
(2002: 19). Porm, eles no so estticos; so eventos maleveis e
mutveis de acordo com as necessidades da sociedade. O autor
afirma que precisamos da categoria de gnero para trabalhar com a
lngua em funcionamento, com critrios dinmicos de natureza ao
mesmo tempo social e lingstica (2002: 19). Com o passar dos
tempos, muitos gneros novos surgiram, como o e-mail, a tele-
conferncia e o chat, que so meios rpidos e eficazes de
comunicao, independentemente da distncia a que se encontram
os falantes e, por isso, atendem a uma necessidade da vida
moderna.
Os enunciados, orais ou escritos, variam em funo de suas
finalidades, podendo informar, entreter, instruir, emocionar,
seduzir, convencer, explicar, expor idias etc. A finalidade do
texto determina sua organizao, sua estrutura e seu estilo, ou seja,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
113
seu gnero. A escolha do gnero no completamente espontnea,
pois leva em conta um conjunto de elementos essenciais, como
quem est falando, para quem se est falando, qual a sua
finalidade e qual o assunto do texto, alm dos aspectos
lingsticos presentes.
O trabalho com gneros no exclui o estudo das tipologias
textuais, uma vez que elas permanecem presentes na sua
construo. Para Marcuschi, os gneros textuais apiam-se em
critrios externos (scio-comunicativos e discursivos) e os tipos
textuais em critrios internos (lingsticos e formais) (2002: 34).
Assim, os gneros tm como base a linguagem, vista como uma
faculdade humana, sendo que o aspecto mais relevante podermos
nos comunicar e sermos compreendidos. Por sua vez, os tipos se
voltam aos aspectos formais, que dizem respeito gramtica, ao
lxico, tempos verbais e relaes lgicas.
2 Seqncias tipolgicas
A tipologia textual, para Marcuschi, designa uma espcie de
seqncia teoricamente definida pela natureza lingstica
predominante de sua composio. Quando se classifica um certo
texto como narrativo, descritivo ou dissertativo, no se est
determinando o gnero, mas uma tipologia textual predominante.
Em geral, segundo o autor, os tipos textuais abrangem a narrao,
a argumentao, a descrio e a injuno ( 2002: 22).
Acrescentemos a essas, a predio (TRAVAGLIA, 1991).
Conforme Travaglia, na narrao, o que se quer contar, dizer
os fatos, os acontecimentos (1991: 49). Toda a seqncia narrativa
sustentada por um processo de intriga que, segundo Bronckart,
consiste em selecionar e organizar os acontecimentos de modo a
formar um todo, uma histria ou ao completa, com incio, meio
e fim (1999: 219-220). Portanto, as narrativas se caracterizam por
relatar fatos, acontecimentos, situaes, reais ou imaginrios,
obedecendo a uma estrutura fixa: a fase de situao inicial, de
complicao, de aes, de resoluo e de situao final.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
114
A seqncia descritiva busca dizer como determinado
objeto. De acordo com Travaglia, o enunciador encontra-se na
perspectiva do espao em seu conhecer (1991: 49). A seqncia
descritiva construda de forma concreta e esttica, no havendo
progresso temporal. Muitas vezes, ela inserida em seqncias
argumentativas, narrativas, entre outras. Isso se d atravs de
exemplos (na argumentao), da ambientao de uma narrao, na
apresentao de um personagem. Ela possibilita ao leitor a
visualizao do objeto que est sendo apresentado, o qual passa a
ser construdo mentalmente.
Conforme Adam e Petitjean (1989), a seqncia descritiva
comporta trs fases principais: a fase de ancoragem, na qual
introduzido o tema-ttulo da descrio; a fase da aspectualizao,
em que os aspectos do tema-ttulo so enumerados e a fase do
relacionamento, na qual estabelecem-se associaes entre o tema-
ttulo e outros elementos (metforas, comparaes etc).
A seqncia dissertativa, por sua vez, tem o propsito de
mostrar o que se pensa e como se pensa. Para tal, busca-se
construir uma opinio de modo progressivo (Delforce, 1992). A
dissertao baseada numa tese fundamentada num assunto
especfico, que possibilita a incluso de novos dados, direcionando
para uma concluso ou uma nova tese. Essa seqncia tipolgica
tem a funo de fortificar uma opinio, utilizando o poder de
convencimento, que expresso por meio do expor, refletir,
explicar, avaliar, entre outros, a fim de fazer com que o leitor tome
uma determinada posio em relao ao tema. Pressupe o
pensamento lgico, o raciocnio, juntamente com a anlise crtica
do assunto.
Na injuno, o objetivo incitar realizao de uma situao
(ao, fato, fenmeno, estado, evento etc.), requerendo-a ou
desejando-a, ensinando ou no como realiz-la. Neste caso, a
informao sempre algo a ser feito e/ou como ser feito. Cabe ao
interlocutor realizar aquilo que se requer, ou se determina seja
feito, aquilo que se deseja que seja feito ou acontea, em um
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
115
momento posterior ao da enunciao (TRAVAGLIA, 1991: 50). So
classificados como injuntivos as receitas, os manuais e as
instrues de uso e montagem, os textos de orientao (leis de
trnsito), os textos doutrinrios, as propagandas. Entre as
injunes, inclui-se ainda a optao, que consiste no discurso da
expresso do desejo. Nesse tipo de injuno, o locutor no tem
controle sobre a realizao da situao (Que Deus te ajude!).
Segundo Travaglia, a optao, como o conselho, o pedido, a ordem
e a prescrio so variedades ou subtipos da injuno (1991: 56).
Na seqncia tipolgica explicativa, segundo Santos (1998), o
produtor responde a um problema da ordem do saber, a partir da
investigao de uma evidncia, ou seja, de um fenmeno normal
que se torna objeto de investigao. O texto explicativo tambm
pode partir de um paradoxo que se refere a algo aparentemente
incompatvel com o sistema estabelecido de explicao do mundo.
Exemplo: Por que o sol parece ser do mesmo tamanho da lua? (na
verdade, o sol 400 vezes maior que a lua).
Segundo Travaglia, os textos preditivos so sempre
descries, narraes ou dissertaes futuras em que o
locutor/enunciador est fazendo uma antecipao no seu dizer, est
pr-dizendo. Assim, a predio uma antecipao pelo dizer de
situaes, cuja realizao ter ocorrncia posterior ao tempo da
enunciao, sendo pois uma previso, um anncio antecipado. o
caso de horscopos, profecias, boletins meteorolgicos, previses
em geral, prenncios de eventos, comportamentos e situaes.
O estudo das tipologias importante na leitura e produo de
textos, tendo em vista que elas esto presentes na constituio dos
diferentes gneros discursivos, como a redao de vestibular, por
exemplo.
3 A Redao de Vestibular
A redao de vestibular um gnero discursivo que est
presente na vida dos vestibulandos, caracterizando-se por
desempenhar uma determinada funo social, pois o candidato
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
116
vaga solicitado a fazer uma prova avaliativa que inclui uma
redao. Atravs da redao, ele precisa convencer a banca do seu
ponto de vista, por meio de argumentos. Por isso, a redao de
vestibular um texto em que o vestibulando desenvolve
raciocnios e apresenta argumentos para convencer o leitor, a
banca, da validade de sua opinio sobre um determinado tema
(LEITE, AMARAL, FERREIRA & ANTNIO, 1997: 378). A banca,
alm de representar o leitor, ainda tem a responsabilidade de
avaliar a redao conforme os critrios do processo seletivo.
Para produzir a redao de vestibular, os candidatos escolhem
um dos temas propostos pela prpria instituio, posicionando-se
conforme seu conhecimento de mundo e defendendo essa opinio.
A histria de vida e a forma como eles interagem no meio que
esto inseridos influenciam no seu discurso. Alm da capacidade
de expresso escrita, a prova de redao verificar at que ponto o
candidato sabe ler criticamente, sendo capaz de interpretar dados e
fatos e de construir, a partir deles, um texto claro, coeso e coerente.
A redao de vestibular, geralmente, trabalhada nas escolas
de Ensino Fundamental e Mdio como se fosse apenas uma
dissertao, ou seja, designada pela seqncia tipolgica que
normalmente se faz predominante. Entretanto, sabe-se que os
gneros so tipologicamente heterogneos, por isso, h
necessidade de esclarecer aos alunos quais so as seqncias que
podem estar presentes em um texto a servio da dissertao.
Ao refletir sobre a natureza da redao de vestibular, Flores a
define como um gnero hbrido, j que nele (co)habitam diferentes
perspectivas que se manifestam em sua plenitude concreta no
exerccio da linguagem feita pelo sujeito em sua relao com o
outro, numa relao de alteridade, sendo inadmissvel uma
abordagem meramente lingstico-tipolgica. Segundo o autor,
no podemos considerar um tipo como puro, pois h uma
heterogeneidade de seqncias relacionadas para formar uma
unidade significativa (2003: 95-96).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
117
A habilidade em fazer a costura ou tessitura das seqncias
tipolgicas pressupe o domnio da coeso e da coerncia textual.
Para Halliday & Hasan (1976), a coeso diz respeito s relaes de
sentido que ocorrem no interior do texto, por meio das quais uma
sentena se liga outra. Essa ligao d-se atravs do emprego de
elos coesivos, permitindo a concatenao das partes. Por sua vez, a
coerncia uma propriedade que possibilita que o texto funcione
como um meio de interao verbal. Segundo Antunes (2005), a
coerncia lingstica, extralingstica, pragmtica, isto ,
depende de outros fatores que no aqueles puramente internos
lngua. Assim, a relao entre a coeso e a coerncia bastante
estreita e interdependente. Ou seja, podemos dizer que a coeso
est a servio da coerncia, na medida em que as palavras, os
perodos, os pargrafos, as seqncias tipolgicas, enfim, tudo se
interliga num todo semntico.
Nesse sentido, os articuladores so um recurso lingstico que
desempenham uma funo muito importante, uma vez que eles
conduzem o interlocutor na direo pretendida. Para Koch (2005),
eles estabelecem, em grande nmero de casos, o encadeamento de
segmentos textuais de qualquer extenso, ou seja, eles ligam
perodos, pargrafos, subtpicos, seqncias textuais ou partes
inteiras do texto. Indicam a relao semntica que se quer
estabelecer, como de causalidade, de temporalidade, de oposio,
de finalidade, de adio, de explicao, de concluso, de condio,
entre outros.
Constata-se, assim, que o gnero redao de vestibular merece
ter o seu estudo aprofundado, posto que se apresenta mais
complexo do que geralmente abordado nos ensinos Fundamental
e Mdio. Os dados apresentados a seguir podero contribuir para a
reflexo sobre o ensino da redao de vestibular enquanto gnero
discursivo que tem uma funo especfica no contexto do
Concurso Vestibular.
4 Resultados
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
118
4.1 As seqncias tipolgicas
A seguir, sero apresentados os dados quantitativos obtidos na
pesquisa e, na seqncia, a anlise qualitativa-interpretativa. A
tabela 01 mostra os percentuais relativos ao uso de seqncias
tipolgicas na redao de vestibular da UCS.
TABELA N 01.
SEQNCIAS TIPOLGICAS
SEQNCIAS
TIPOLGICAS
FREQNCIA %
Seqncias injuntivas
Seqncias descritivas
Seqncias narrativas
Seqncias preditivas
Seqncias explicativas
TOTAL
57 42,86%
51 38,35%
14 10,53%
10 7,52%
1 0,75%
133 100%
Constatamos que a seqncia tipolgica mais empregada pelos
vestibulandos, nas 75 redaes analisadas, foi a injuntiva, com um
percentual de 42,86% de ocorrncias. Em segundo lugar, est a
seqncia descritiva, com 38,35%. Logo aps, a seqncia
narrativa, com 10,53% e a preditiva, com 7,52%. A seqncia
explicativa foi a menos empregada, com 0,75%. Os vestibulados
valem-se dessas seqncias para dar consistncia argumentao,
confirmando os estudos de Guedes (2002).
A predominncia da injuno (42,86%) nas redaes talvez
possa ser justificada pela natureza argumentativa do texto exigido
no Concurso Vestibular da UCS, uma vez que essa tipologia
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
119
textual, segundo Travaglia (1991, p. 50), tem por objetivo incitar
realizao de uma situao. Assim, o vestibulando, ao usar a
seqncia injuntiva, quer convencer o interlocutor a realizar algo
relacionado idia por ele defendida na dissertao.
A seu turno, o emprego significativo da seqncia descritiva
(38,35%) revela a inteno do vestibulando em conduzir o leitor
no seu percurso argumentativo. Para Guedes (2002), a descrio d
um rumo ao leitor; coloca-o em algum lugar e indica o caminho
pelo qual ele vai andar, na direo que o leve a sentir o que se quer
que ele sinta enquanto l o texto.
Por sua vez, constata-se o inexpressivo emprego de 10,53% de
seqncias narrativas. Isso chama a ateno uma vez que essa
tipologia d consistncia argumentativa dissertao, atravs de
pequenos relatos, exemplos, dentre outros. Talvez isso ocorra em
decorrncia do ensino das tipologias na escola ocorrer, geralmente,
de forma estanque, desconsiderando-se que um texto pode mesclar
diferentes tipologias.
O pouco emprego das seqncias preditivas (7,52%) e
explicativas (0,75%) parece estar relacionado ao fato de que elas
no so, em geral, suficientemente exploradas no Ensino
Fundamental e Mdio. Quanto predio, nem sempre o texto
preditivo faz parte do universo escolar, o que justifica, talvez, o
pouco emprego dessa tipologia nas redaes. Entretanto, cabe
salientar que o aluno convive com esta tipologia no seu cotidiano,
pois encontrada nos horscopos, profecias, boletins
meteorolgicos, previses em geral, prenncios de eventos,
comportamentos e situaes. Com relao seqncia explicativa,
de estranhar ser a menos utilizada pelos candidatos, uma vez que
ela est presente nos livros didticos de todas as reas; uma
tipologia com a qual o candidato convive durante toda a sua
formao escolar. Se bem empregada, essa seqncia poderia ter
uma significativa contribuio na construo de uma opinio.
4.2 Anlise dos articuladores
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
120
Nesta parte, analisaremos o emprego dos articuladores no
encadeamento entre as seqncias tipolgicas presentes na redao
de vestibular, conforme dados da tabela 02.
TABELA N 02.
PRESENA DOS ARTICULADORES NA LIGAO DAS
SEQNCIAS
SEQNCIAS FREQNCIA %
Seqncias
ligadas
semanticamente
106 80,92%
Seqncias
ligadas por
articuladores
25 19,08%
TOTAL 131 100%
A tabela 02 mostra que, das 131 ocorrncias de diferentes
seqncias tipolgicas a servio da dissertao, 80,92% esto
ligadas apenas de modo semntico, sem contar com a presena de
nenhum elo de ligao; apenas 19,08% fazem a coeso por meio
de articuladores. Mas isso no prejudica o texto, uma vez que a
coerncia semntica est garantida, ou seja, nenhum contedo
posto ou pressuposto se contradiz no texto. Portanto, a metarregra
de no-contradio, apontada por Charolles (1988), foi repeitada.
A seguir, na tabela 03, apresentam-se os dados referentes ao
emprego dos tipos de articuladores para unir as seqncias
tipolgicas.
TABELA N 03.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
121
EMPREGO DOS ARTICULADORES
ARTICULADORES N DE OCORR.
DOS ARTICUL. %
Concluso
Oposio
Condio
Adio
Explicao
Tempo
TOTAL
11 44%
07 28%
04 16%
01 04%
01 04%
01 04%
25 100%
Constatamos, pela tabela 03, que 44% dos articuladores que
introduzem as seqncias so de concluso. Isso, possivelmente,
evidencia o treinamento a que os alunos foram submetidos no
Ensino Mdio, no sentido de empregar articuladores de concluso
para encerrar o seu texto.
Em segundo lugar, encontramos, com 28%, os articuladores
de oposio, tambm muito utilizados na escola, especialmente o
mas e o porm. Seguem-se os articuladores de condio, 16%.
de estranhar o pouco uso dos articuladores de adio, explicao e
tempo, todos eles com 4%. Na verdade, com relao aos de adio,
os alunos costumam empreg-los em seu texto como substituio
da vrgula, como j mostrou pesquisa realizada na UCS.
TABELA N 04.
SEQNCIAS TIPOLGICAS LIGADAS POR
ARTICULADORES
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
122
SEQNCIAS
TIPOLGICAS
N DE OCORR. DAS
SEQNCIAS %
Injuntivas
Descritivas
Preditivas
Narrativas
Explicativas
TOTAL
17 68,00%
4 16,00%
4 16,00%
0 0,00%
0 0,00%
25 100,00%
A tabela 04 mostra que 68% dos articuladores empregados
ligam seqncias injuntivas. Essa tipologia incita realizao de
uma situao, ou seja, o vestibulando quer convencer o
interlocutor a realizar algo relacionado idia defendida ( por
isso que devemos pr-estabelecer o modelo ideal para o nosso
futuro e, a partir de ento, determinar metas de desenvolvimento
para que possamos nos enquadrar dentro desta idia). Esse
percentual vai ao encontro tabela 01, a qual mostra que o maior
nmero de seqncias so as injuntivas.
Depois, em segundo lugar, constatamos a presena de 16%
dos articuladores ligando seqncias descritivas. Segundo Guedes
(2002), essas seqncias do um rumo ao leitor na direo que se
quer. Novamente, esse percentual vai ao encontro tabela 01, na
qual mostra que o segundo percentual mais elevado de seqncias
so as descritivas.
Com o mesmo percentual de 16%, verificamos o uso de
articuladores na introduo de seqncias preditivas (... porque se
no preservar essas riquezas o Pas se tornar pobre). Tambm
na introduo de uma predio, alguns candidatos utilizam
articuladores para encadear o seu discurso.
7 Um exemplo ilustrativo.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
123
A seguir, apresentaremos um exemplo ilustrativo, atravs de
uma anlise de uma redao de vestibular, que confirma os
resultados apontados anteriormente.
O Futuro previsvel?
Futuro: palavra que para alguns significa algo indefinido,
hermtico e nebuloso, mas que para outros fruto do planejamento
e de uma pitada de aventura (descrio). O que, na verdade,
determina o futuro? A humanidade, as naes e os grupos de
indivduos dependem de algo que os orientem. Individualmente o
acaso serve de complemento por que permite o uso da
sensibilidade inata de cada ser humano.
O futuro precisa, invariavelmente, de algum planejamento.
Imagine o que seria do futuro da humanidade se os dirigentes
pblicos e privados no fossem cobrados, dentro de suas
instituies, sobre onde queremos chegar. Alm disso o
planejamento permite maximizar os esforos e recursos
necessrios para atingir os objetivos, garantindo assim o bem-estar
da coletividade. A aventura no deve ser desprezada, mas deve ser
usada quando possibilita a flexibilidade do planejamento. De outro
modo, sem objetivos definidos, as naes ficam merc dos
acontecimentos e fatos, e relegando a sorte e totalmente ao acaso o
futuro de suas geraes.
Por outro lado traar metas coletivas depende do esforo de
cada um individualmente. Cada um de ns precisa refletir e
ponderar idias sobre o que quer ser, e onde quer chegar daqui a 1
ms, 1 ano ou 5 anos (injuno). Essa iniciativa proporciona,
sempre, uma diretriz que no deixa que os desvios de rota nos
atrapalhem. Mas como comear? Inicialmente traamos os
objetivos globais (macro) e aps os mais especficos (micro), ento
definimos as metas para alcan-los, e o planejamento vem de
suporte para o encadeamento das metas, as quais nos possibilitaro
atingir os macro e os micro-objetivos. Esse pensamento adquire
conotaes mecanicistas, todavia, o acaso, como fruto da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
124
percepo e sensibilidade inatas, garante que situaes no
previstas sejam contempladas, inserindo o lado humano
(explicao).
Portanto o futuro um misto de planejamento e acaso, com
predominncia daquele. Todos ns necessitamos de planejamento,
essa viso determinista do futuro, mas no podemos desprezar o
acaso, visto que, conseqncia da nossa alma e conscincia, a
fim de que tenhamos um futuro previsvel (injuno).
A redao de vestibular intitulada O Futuro previsvel?
teve como base a seguinte proposta apresentada pela instituio:
Na sua opinio, o futuro tem mais de planejamento (expedio) ou
de acaso (aventura)?
O candidato inicia o primeiro pargrafo com uma seqncia
descritiva: Futuro: palavra que para alguns significa algo
indefinido, hermtico e nebuloso, mas que para outros fruto do
planejamento e de uma pitada de aventura. Ele faz isso na tentativa
de caracterizar e mostrar ao leitor as formas com que o futuro
compreendido, tendo em vista que h pessoas que planejam e
outras que esperam pelo acaso. Conforme Baltar, a seqncia
descritiva orientada pelo efeito de fazer ver, de guiar o olhar, de
mostrar algum detalhe dos elementos do objeto do discurso ao seu
interlocutor, sem influenciar na progresso temtica (2003: 67).
Ainda, no mesmo pargrafo, o vestibulando expe com
objetividade a questo que ser abordada: O que, na verdade,
determina o futuro? Logo aps, ele apresenta sua opinio em
relao questo: A humanidade, as naes e os grupos de
indivduos dependem de algo que os orientem. Individualmente o
acaso serve de complemento por que permite o uso da
sensibilidade inata de cada ser humano. Fica claro que a idia de
planejamento defendida, enquanto o acaso serve de
complemento, levando em considerao que ele aproveitado de
acordo com a sensibilidade natural do ser humano.
No segundo pargrafo, percebemos que no h insero de
outras seqncias em sua dissertao. O vestibulando insiste que
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
125
planejar necessrio: O futuro precisa, invariavelmente, de algum
planejamento. importante ressaltar que ele utiliza exemplos que
fazem as pessoas refletirem sobre qual seria o resultado de
algumas aes e situaes caso no houvesse planejamento:
Imagine o que seria do futuro da humanidade se os dirigentes
pblicos e privados no fossem cobrados, dentro de suas
instituies, sobre onde queremos chegar. Alm disso, ele tenta
convencer o leitor, argumentando que h vantagens ao
planejarmos: o planejamento permite maximizar os esforos e
recursos necessrios para atingir os objetivos, garantindo assim o
bem-estar da coletividade. Por sua vez, diz que a aventura deve ser
tratada como uma oportunidade, auxiliando nas metas traadas no
planejamento, como uma forma de ajuste, adaptao: A aventura
no deve ser desprezada, mas deve ser usada quando possibilita a
flexibilidade do planejamento.
Para finalizar o pargrafo, o vestibulando revela as
conseqncias que a falta de planejamento traz s naes: De outro
modo, sem objetivos definidos, as naes ficam merc dos
acontecimentos e fatos, e relegando a sorte e totalmente ao acaso o
futuro de suas geraes.
J no terceiro pargrafo, constatamos a insero de uma
seqncia injuntiva e uma explicativa na argumentao de modo
semntico, ou seja, sem a presena de articuladores. O candidato
afirma que as metas coletivas dependem de cada um dos
integrantes; todos devem contribuir com seu esforo: Por outro
lado traar metas coletivas depende do esforo de cada um
individualmente. Ele emprega a seqncia injuntiva para incitar
realizao de uma ao, de maneira que o leitor passe a aprovar e
se portar conforme sua opinio: Cada um de ns precisa refletir e
ponderar idias sobre o que quer ser, e onde quer chegar daqui a
1 ms, 1 ano ou 5 anos. Alm disso, o vestibulando argumenta
apresentando o motivo pelo qual as pessoas devem agir da forma
expressada anteriormente: Essa iniciativa proporciona, sempre,
uma diretriz que no deixa que os desvios de rota nos atrapalhem.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
126
Ainda no terceiro pargrafo, inserida uma questo que se
refere injuno anterior: Mas como comear? Percebemos o
emprego de mas que, na verdade, no desempenha a funo de
articulador de oposio, ele serve apenas para dar continuidade ao
discurso. Essa interrogativa representa o incio de uma seqncia
explicativa, ou seja, expe um problema da ordem do saber em
busca de uma soluo, que construda pelo vestibulando:
Inicialmente traamos os objetivos globais (macro) e aps os mais
especficos (micro), ento definimos as metas para alcan-los, e
o planejamento vem de suporte para o encadeamento das metas,
as quais nos possibilitaro atingir os macro e os micro-objetivos.
Esse pensamento adquire conotaes mecanicistas, todavia, o
acaso, como fruto da percepo e sensibilidade inatas, garante
que situaes no previstas sejam contempladas, inserindo o lado
humano. interessante ressaltar que esse foi o nico registro de
seqncia explicativa em todo o corpus da pesquisa.
No quarto e ltimo pargrafos, o vestibulando conclui o texto
afirmando que o futuro uma combinao de planejamento e
acaso: Portanto o futuro um misto de planejamento e acaso, com
predominncia daquele. Para finalizar, ele emprega uma seqncia
injuntiva, tambm sem o uso de articulador: Todos ns
necessitamos de planejamento, essa viso determinista do futuro,
mas no podemos desprezar o acaso, visto que, conseqncia da
nossa alma e conscincia, a fim de que tenhamos um futuro
previsvel. Logo aps, ele define o planejamento como uma viso
determinista do futuro e, por fim, revela que a razo pela qual
devemos pensar de acordo com ele a possibilidade de prevermos
o futuro.
Consideraes finais
A redao de vestibular constitui um gnero discursivo, pois
desempenha uma funo nas relaes sociais, uma vez que faz
parte do processo de seleo para o ingresso no curso superior, em
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
127
que se exige do candidato a produo de uma redao, um dos
quesitos da prova avaliativa.
A pesquisa mostrou que os vestibulandos utilizam diferentes
seqncias tipolgicas na construo de seu texto, e isso contribuiu
para dar maior consistncia argumentativa ao discurso. Ou seja,
eles usam seqncias descritivas, narrativas, injuntivas, preditivas
e explicativas servio da dissertao. A redao de vestibular ,
portanto, um gnero tipologicamente heterogneo.
Verificamos o uso predominante de seqncias injuntivas,
desempenhando a funo de incitar realizao de algo referente
ao problema discutido. Depois, constatamos a presena de
seqncias descritivas, o que revela a inteno do candidato de
mostrar aonde ele quer chegar. O pouco emprego das seqncias
narrativa, preditiva e explicativa talvez evidencie o pouco
conhecimento da redao de vestibular como um gnero, e mostra
a necessidade de um trabalho mais exaustivo na escola com
relao funo que as seqncias tipolgicas podem exercer no
gnero redao de vestibular.
Verifica-se que a coeso entre as seqncias realizada, em
sua maioria, sem o uso de articuladores; o vestibulando faz a
ligao de modo semntico, e produz um texto coerente, como
constatamos no exemplo ilustrativo analisado. Por sua vez, os
articuladores mais utilizados na ligao entre as seqncias foram
os de concluso. Esses, em sua maioria, introduzem seqncias
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
128
injuntivas, o que mostra a relao entre eles, ou seja,
correspondem ao maior percentual constatado. Em segundo lugar,
encontramos os articuladores de oposio e, em terceiro, os de
condio, sendo inexpressivos os de adio, explicao e tempo.
O ensino de redao, portanto, requer do professor um
entendimento de que os gneros, em geral, so constitudos de
diferentes seqncias tipolgicas, ligadas numa trama textual
coesa e coerente. Nem sempre, h a necessidade do uso de
articuladores nesse processo, uma vez que a coeso e a coerncia
podem ser obtidas semnticamente, ou seja, pela ligao lgica
entre as idias. Nesse sentido, espera-se poder contribuir para a
prtica pedaggica voltada ao ensino da redao de vestibular.
Referncias Bibliogrficas
ADAM, J. -M. E PETITJEAN, A. Le texte descriptif. Paris: Nat,
1989.
ADAM, J. -M.. Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan,
1992.
ANTUNES, Irand. Lutar com palavras: coeso e coerncia. So
Paulo: Parbola Editorial, 2005.
BAKHTIN, Mikhail. Esttica da criao verbal. So Paulo:
Martins Fontes, 1992.
BALTAR, Marcos Antnio Rocha. A competncia discursiva
atravs dos gneros textuais: uma experincia com o jornal de
sala de aula. 2003. 141 f. Tese (Doutorado em teorias do texto
e do discurso) - Curso de Ps-graduao em Letras,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
129
BAZERMAN, C. Social forms as habitats for actions. University
of California: Santa Brbara, Mimeo, 1994.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e
discursos: por um interacionismo scio-discursivo/ Jean-Paul
Bronckart; trad. Ana Rachel Machado, Pericles Cunha. So
Paulo: EDUC, 1999.
CHAROLLES, Michel. Introduo aos problemas de coerncia
dos textos. GALVES, C.; ORLANDI, E.P.; OTONI, P. O
texto, leitura e escrita. Campinas: Pontes, 1988.
DELFORCE, Bernard. La dissertation et la recherche des ides
ou: le retour del'inventio. Pratiques75, p. 3-16, sep. 1992.
FLORES, Valdir do Nascimento & SILVA, Carmen Luci da
Costa. O texto dissertativo em debate: uma anlise de
redaes de vestibular. In: Redao instrumental. Porto
Alegre: Ed. UFRGS, 2003. p. 89-109.
GUEDES, Paulo Coimbra. Da redao escolar ao texto: um
manual de redao. Porto Alegre: Ed.UFRGS, 2002.
HALLIDAY , M. A. K. & HASAN, Rugaia. Cohesion in English.
London, Longman, 1976.
KOCH, Ingedore Villaa. Desvendando os segredos do texto. So
Paulo: Cortez, 2005.
LEITE, R.; AMARAL, E.; FERREIRA, M.; ANTNIO, S. Novas
palavras: literatura, gramtica, redao e leitura. So Paulo:
FTD,1997.
MARCUSCHI, Luiz Antnio. Gneros textuais: definio e
funcionalidade. In: BEZERRA, Maria Auxiliadora;
DIONISIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel.
Gneros textuais & ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna,
2002. p. 19-36.
MEURER, Jos Luiz. Gneros textuais e o ensino de portugus.
Informativo do PET de Letras/UFSC, Florianpolis, ano 1, n.
3, set. 1996.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
130
PARMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Ensino Mdio.
Braslia: Ministrio da Educao, 1999.
SANTOS, Mrcia M. Cappellano dos. O texto explicativo. Caxias
do Sul: EDUCS, 1998.
SWALES, J. M. 1990. Genre analysis. English in academic and
research settings. Cambridge: Cambridge University Press.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Um estudo textual-discursivo do
verbo no portugus do Brasil. 1991. 330 f. Tese (Doutorado
em Lingstica) Curso de Ps-Graduao em Letras,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
Ensino de lngua estrangeira
e cultura no espao digital
Jacqueline Ramos da Silva UFAL
Roseanne Rocha Tavares UFAL
Introduo
O domnio de apenas uma lngua, a materna, no suficiente
para que o indivduo possa exercer efetivamente a cidadania no
mundo do sculo XXI. Assim, ao desconhecer pelo menos uma
lngua estrangeira, o indivduo se sujeita a ter acesso apenas s
informaes que esto disponveis na lngua materna. Com isso,
priva-se da participao no mundo moderno (Nicholls, 2003).
Falar ingls ou, pelo menos, ser capaz de entender um
contexto discursivo neste idioma , no mundo atual, um pr-
requisito fundamental para o indivduo ser considerado apto a
concorrer no mercado de trabalho. O avano tecnolgico e a
expanso da Internet tambm ajudaram bastante nesse predomnio
da Lngua Inglesa como lngua estrangeira, sendo esta atualmente
o idioma oficial do mundo globalizado. Por tudo isso, a procura
pelo idioma tem sido imensa, e dessa forma, o nmero de stios
virtuais tem aumentado consideravelmente.
Seja pela comodidade, seja pela falta de tempo caracterstica
do sculo XXI, ou pelas supostas vantagens que os cursos de
idioma distncia oferecem (Fale ingls em 8 semanas, fale ingls
bsico em 4 dias propostas freqentes na rede mundial
oferecidas por alguns deles), os cursos virtuais tm sido
procurados para que a distncia proveniente da falta de
conhecimento do idioma e a necessidade de entend-lo ou pratic-
lo sejam supridas. Mas ser que eles so realmente inovadores no
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
132
ensino de lngua estrangeira? Ou ser que apenas reproduzem as
aulas tradicionais, acrescidos dos recursos multimodais do
ambiente virtual?
Ao se estudar uma LE estuda-se, de forma simultnea,
tambm a cultura a que esta pertence. Para que a aprendizagem
seja considerada eficiente e desenvolva efeitos produtivos sob o
aluno, torna-se necessrio que este tome conhecimento da posio
que ocupa em cada contexto cultural, discernindo entre o que
representa a prpria cultura e o que representa a cultura alvo.
Alguns pesquisadores defendem que a aprendizagem cultural tem
afetado positivamente os estudantes, mas outros acham que a
cultura pode ser usada como um instrumento no processo de
comunicao quando convenes comportamentais culturalmente
determinadas so ensinadas (Byram et al. 1994, In: Tavares e
Cavalcanti, 1996). Questiona-se se o espao digital tem sido
realmente um lugar de mudana e inovao no ensino de LE,
contribuindo com a construo de um Entre-espao Cultural
(Kramsch, 1993; Tavares, 2005) para o aprendiz ou se estabelece
como mera reproduo da realidade de salas de aulas de LE
tradicionais. Entende-se por Entre-espao Cultural o lugar onde o
aprendiz cria significados, que s tm valor dentro da cultura, para
as lacunas que ficam entre a cultura em que cresceu e as novas em
que ele venha a ser introduzido). O material digital permite, devido
s possibilidades de escolha, que o aluno determine a forma de
navegao que seja mais adequada s suas necessidades pessoais
ou a forma de estudar que lhe seja mais confortvel.
A autonomia do aprendiz essencial para que este saiba como
explorar as possibilidades comunicativas oferecidas pelo
hipertexto, que visto como um conjunto de informaes textuais,
podendo estar combinadas com imagens (animadas ou fixas) e
sons, organizadas de forma a permitir uma leitura (ou navegao)
no linear, baseada em indexaes e associaes de idias e
conceitos, sob a forma de links (Siqueira, 2005) e pela
hipermodalidade, relao dentro de uma estrutura hipertextual de
unidades de informao de natureza diversa texto verbal, som,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
133
imagem gerando uma nova realidade comunicativa que
ultrapassa as possibilidades interpretativas dos gneros
multimodais tradicionais. O sucesso da interao depende
diretamente da adequao dos textos aos interlocutores e aos
contextos de uso previstos (Braga, 2001).
Mudanas tecnolgicas e fatores scio-culturais
As mudanas tecnolgicas interagem com outros fatores
scio-culturais, determinando novas formas de aprendizagem, na
qual a era da comunicao on-line, que ganhou fora global,
vincula-se a uma nova revoluo, que centrada no manuseio da
informao, do conhecimento e das redes de comunicao. Tais
mudanas vm moldando os hbitos sociais contemporneos de tal
modo que vem propiciando a emergncia de formas de
comunicao e estilos de vida bastante diferenciados. Segundo
Nicholls, Lngua e Cultura esto intimamente ligadas. O ensino de
uma LE vem, assim, necessariamente acompanhado de um sistema
complexo de costumes culturais, valores, modos de pensar, agir e
sentir que geralmente so introduzidos junto com contedos
lingsticos. medida que o aluno adaptar sua linguagem aos
traos culturais da LE, o seu desempenho comunicativo se tornar
bem mais significativo (Nicholls, 2001). O uso do computador
como ferramenta mediadora da comunicao leva-nos a considerar
textos que contemplam tanto a interatividade tecnolgica, onde
prevalece o dilogo, a comunicao e a troca de mensagens,
quanto interatividade situacional, definida pela possibilidade
de agir, interferir no programa e/ou contedo (Silva, 2000: pg87
In: Braga, 2001).
Como atividade da comunicao social, as lnguas constituem
fonte de ao e de interao humana. Para tanto, a Internet tem se
tornado um dos meios de difuso de mensagens mais acessveis e,
desse modo, sua linguagem tambm se propagou e se tornou
globalizada, o que foi considerado fator essencial para o contato
entre as culturas. Uma das marcas da globalizao a velocidade
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
134
com que a tecnologia evolui, e a informtica, responsvel por esse
avano, tem contribudo para a melhoria da qualidade dos servios
em todas as reas do conhecimento (Galli, 2001).
A informao no espao digital
A literatura atual tem procurado entender a natureza e o
impacto dos novos gneros textuais que surgem no contexto
digital, no havendo ainda consenso quanto a serem positivas ou
negativas as mudanas observadas, posto que o excesso de
informao oferecido no meio pode sobrecarregar cognitivamente
e desencorajar os alunos que no possuam conhecimento na rea
da pesquisa (Burbules e Callister, 2000 In: Braga, 2001). A
extrapolao dos limites impostos ao texto impresso pelo texto
virtual se deve a possibilidade do apoio visual e oral, no qual a
informao pode ser apresentada de forma esttica ou em
movimento, permitindo o auxlio de formas dinmicas e acrescidas
de som na apresentao de uma mesma informao atravs de
canais diferenciados, o que pode auxiliar alunos que tenham estilos
cognitivos distintos a encontrar sua maneira individual de
aprendizagem devido possibilidade de escolha que, segundo
Braga, permite que eles ajustem o material s suas necessidades
individuais.
A rede mundial de computadores permite ao usurio o acesso
a informaes do mundo todo. Desse modo, ele troca, armazena e
obtm informaes globalizadas. Neste sentido, o
desenvolvimento e a utilizao da Internet acabaram produzindo,
entre seus usurios, uma linguagem prpria, repleta de termos
tpicos. As expresses, no campo da lexicologia, ultrapassam o
contexto ciberntico, ou virtual, e representam um fator concreto
da globalizao (Galli, 2001). Como exemplos, temos palavras
tipo deletar, j incorporada ao portugus, ou termos como e-mail,
que apesar de existir traduo para o mesmo em portugus
(mensagem/correio eletrnico), ainda bastante usado.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
135
A virtualizao do texto
Os links eletrnicos, responsveis pela interatividade
constitutiva do hipertexto, cujo acesso se d de forma no-linear,
geram uma organizao textual que no totalmente nova (Braga,
2001). Os textos eletrnicos se apresentam por intermdio de suas
dissolues. Eles so lidos onde so escritos e so escritos ao
serem lidos (Joyce, 1995 In: Plaza, 2000). Ao utilizar a
hipertextualizao (tornar o texto virtual), o interlocutor tem a
oportunidade de ampliar as ocasies de produo de sentido e
enriquecer sua leitura (Galli, 2001). No entanto, na tela essas
ligaes atravs dos links passam a ser fundamentais para a
estrutura do texto, posto que o processo de navegao modifica a
natureza dos segmentos em si, e as relaes identificadas e criadas
entre eles passam a ser essenciais para a construo do seu
significado.
O hipertexto difere radicalmente do texto impresso na medida
em que oferece ao leitor possibilidades de trajetrias diversas, de
forma no-seqencial, ativando no leitor a expectativa de que
haver links atrelados aos diferentes segmentos textuais, sem uma
seqncia pr-estabelecida, que pode ser observada ou no pelo
leitor, exigindo que ele faa escolhas e tambm determine tanto a
ordem de acesso aos diferentes segmentos disponibilizados no
hipertexto, quanto o eixo coesivo que confere um sentido global ao
texto lido. Isso difere radicalmente o hipertexto do texto impresso
e faz com que o autor de um hipertexto tenha menos controle sobre
o seu texto, tornando-se difcil para ele prever a gama de possveis
sentidos que podem ser construdos durante a leitura (Braga,
2001).
A dinamicidade e a interatividade que pode ser considerada
como uma simulao da interao, e graas a ela o dilogo entre
realidades diferentes se torna possvel do hipertexto permitem ao
leitor seguir diferentes "rotas" ou "trilhas" de leitura, acionando,
assim, uma srie de possibilidades de construo de sentido
(Palcios, 2005). A idia de Multi-linearidade do Hipertexto
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
136
vrias seqncias possveis estabelecidas pela ordem de acesso ao
texto em contraposio a Uni-linearidade do texto tradicional
seqncia de leitura pr-estabelecida pelo autor ainda que leituras
transgressivas sejam possveis no texto tradicional, criando Multi-
linearidades ainda mais evidente nos ambientes hipermdia, nos
quais a hipertextualidade agregada a multimodalidade uso
simultneo de dados em diferentes formas de mdia, tais como:
texto, vdeo, msicas, voz, animaes, grficos e fotografias e
aquela vai alm desta da mesma forma que o hipertexto vai alm
do texto concebido tradicionalmente. Tratando-se da relao do
hipertexto eletrnico, a diferena incide somente no suporte e na
forma e rapidez do acessamento, o que caracteriza a multiplicidade
de possibilidades de construo e leitura abertas pelo hipertexto.
Construo do sentido textual
Como indica o estudo de Lemke, faz parte da nossa
experincia como leitor integrar de forma significativa textos
verbais e visuais, assim como orientar nossa leitura por uma srie
de recursos visuais. No texto hipermodal processo de co-
construo de conhecimento entre fontes e destinos de informao
por meio de estmulos que podem estar materializados sob a
combinao de mais de uma dentre as diferentes modalidades:
visual (textual, grfica), sonora (verbal, rudos), olfativa, tatual e
palatal esses recursos so ampliados e ressignificados. Lemke
explica o potencial multiplicador de sentidos inerentes aos
construtos multimodais retomando trs categorias postuladas por
Halliday: os significados aparentes, que so construdos
principalmente pelo contedo ideacional dos textos verbais e pelo
que mostrado ou retratado pela imagem nos textos visuais; o
significado performativo, que veicula o que est acontecendo na
relao comunicativa e o lugar que os diferentes participantes
assumem entre si em relao ao contedo apresentado; e o
significado organizacional, que permite que o significado aparente
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
137
e o performativo sejam integrados de forma a atingir graus mais
elevados de complexidade e preciso (Lemke In: Braga, 2001).
Como esses diferentes tipos de significados se integram na
construo do sentido textual, possvel compreender por que em
produes multimodais as possibilidades de construo de sentido
se ampliam, explicando, assim, a multiplicidade de leituras
possveis para os textos multimodais. As vantagens que o material
multimdia uso simultneo de dados em diferentes formas de
mdia e hipermdia associao entre hipertexto e multimdia,
textos, imagens e sons tornam-se disponveis conforme o leitor
percorre as ligaes existentes entre eles abrem para o
ensino/aprendizagem justificam o investimento de recursos
humanos e financeiros para sua produo (Braga, 2001).
A leitura em segunda lngua
Na compreenso de leitura em segunda lngua, enfatiza-se a
importncia que o contexto e o conhecimento prvio do leitor tm
para a melhoria da aprendizagem de textos verbais, tendo o uso de
recursos visuais como uma alternativa promissora para levar o
aluno a ativar, antes do incio da leitura, o conhecimento prvio
que relevante para a compreenso do texto (Chun e Plass, In:
Braga, 2001). As anlises apontam que a imagem, apresentada de
forma esttica ou em movimento, agregada ao texto verbal pode
contribuir positivamente para a reteno de vocabulrio em uma
lngua estrangeira. Da mesma forma, a apresentao de uma
mesma informao atravs de canais diferenciados pode auxiliar
alunos que tenham estilos cognitivos diferentes.
A autonomia do aprendiz essencial para que esse saiba como
explorar as possibilidades comunicativas oferecidas pelo
hipertexto e pela hipermodalidade. Porm alguns princpios no se
alteram: aprendemos a interagir com textos a partir da prtica
situada em contextos sociais concretos; o sucesso da interao
depende diretamente da adequao dos textos aos interlocutores e
aos contextos de uso previstos (Braga, 2001).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
138
Concluso
A interatividade digital caminha para a superao das barreiras
fsicas entre os agentes (homens e mquinas), e para uma interao
cada vez maior do usurio com as informaes (Lemos, 2005).
Dessa forma, as infinitas possibilidades de conexes entre trechos
de textos e textos inteiros favorecem a flexibilizao das fronteiras
entre diferentes reas do conhecimento humano (Correia e
Andrade, 2005).
O hipertexto desmistifica a idia de texto como um todo
composto de comeo, meio e fim definidos. A arte em rede
problematiza as trocas scio-culturais relacionadas com o
progresso tecnolgico, onde o sentido evolutivo da tecnologia
abrir novas possibilidades de ao, abrir novos espaos sociais e
culturais. Segundo Lemos, podemos compreender a interatividade
digital como um dilogo entre homens e mquinas, onde a
tecnologia digital possibilita ao usurio interagir, no mais apenas
com o objeto (a mquina ou a ferramenta), mas com a informao,
isto , com o contedo. O ciberespao tem sido assim, um
espao onde a sociedade contempornea tem redefinido suas
identidades culturais e imposto um novo modo de socializao
interpessoal.
Tomando por base a teoria cognitivista, aprende-se melhor
quando existe um conhecimento prvio do que est sendo
ensinado. Isto ocorre devido ao papel ativo do aprendiz na ativao
de esquemas mentais (schemata), relacionando a nova
aprendizagem ao conhecimento prvio. Esses esquemas ativados
no indivduo so os responsveis pelos diferentes tipos de leitura e
interpretao do texto e so acionados durante todo o processo de
leitura, de modo que a informao recebida possa ser integrada a
conhecimentos j existentes, ampliando e modificando-os,
permitindo a produo de sentidos e, dessa forma, o surgimento de
interpretaes e formas de leituras diferentes. Por isso se fala da
incompletude do texto, pois o sentido no est nem no texto nem
nos interlocutores, mas no espao discursivo criado pelos dois,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
139
autor e leitor, na interao atravs do texto. Para tanto, necessrio
que o material apresentado seja significativo ao aluno.
E nesta necessidade que o hipertexto digital ganha fora,
pois apresenta a informao com a possibilidade de se acrescentar
imagens - fixas ou em movimento - e sons, numa organizao que
permite a leitura, ou navegao, de forma no linear, atravs dos
links, possibilitando ao leitor caminhos diferentes na leitura, e
seqncias estabelecidas pela ordem de acesso.
A idia de Multi-linearidade do Hipertexto, em contraposio
a Uni-lieariedade do texto tradicional ainda que leituras
transgressivas sejam possveis no texto tradicional, criando Multi-
linearidades ainda mais evidente nos ambientes hipermdia, nos
quais a hipertextualidade agregada a multi-modalidade, a forma e
rapidez de acesso ao contedo tambm contribui para tornar a
leitura e compreenso do texto mais subjetiva. Um texto escrito
tambm um hipertexto quando a leitura feita atravs de
interconexes memria do leitor, s referncias do texto, aos
ndices e ao index que remetem o leitor para fora da linearidade do
texto.
O hipertexto, devido s vrias possibilidades de escolha que
oferece ao leitor, tanto pode aumentar a qualidade da informao,
quanto pode facilitar seu uso, medida que disponibiliza
ferramentas consistentes para apresentao e manipulao do
contedo.
A arte em rede problematiza as trocas scio-culturais
relacionadas com o progresso tecnolgico, onde o sentido
evolutivo da tecnologia abrir novas possibilidades de ao, abrir
novos espaos sociais e culturais. As redes hipertextuais permitem
uma conexo mais livre entre as informaes veiculadas pelas
unidades textuais construdas a partir de diferentes modalidades.
Esse potencial comunicativo diferenciado pode favorecer a
construo de textos e materiais mais didticos, j que uma mesma
informao pode ser complementada, reiterada e mesmo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
140
sistematizada ao ser apresentada ao aprendiz na forma de um
complexo multimodal.
O acesso a informaes do mundo todo tambm um dos
pontos positivos no uso da Internet como ferramenta de auxlio
aprendizagem, mas preciso tomar cuidado, pois o excesso de
informao no meio digital pode fazer um processo inverso se o
aprendiz no estiver apto a manipular a informao recebida. A
autonomia do aprendiz essencial para que esse saiba como
explorar as possibilidades comunicativas oferecidas pelo
hipertexto e pela hipermodalidade. E neste momento que o
conhecimento prvio do contedo auxilia na compreenso e na
forma como a leitura ser guiada. O sucesso da interao
depender diretamente dessa adequao dos textos aos
interlocutores e aos contextos de uso previstos.
Referncias bibliogrficas
BRAGA, Denise Brtoli. A comunicao interativa em ambiente
hipermdia: as vantagens da hipermodalidade para o
aprendizado no meio digital. In: Hipertexto e Gneros
Digitais: novas formas de construo do sentido/ Luiz
Antnio Marcuschi, Antnio Carlos dos Santos Xavier
(orgs.). Rio de Janeiro: Lucena, 2004.
CORREIA, Cludia e ANDRADE, Helosa. Noes Bsicas de
Hipertexto. Disponvel: http://www.facom.ufba.br/hipertexto
(Pesquisado em Setembro de 2005)
GALLI, Fernanda Correia Silveira. Linguagem da Internet: um
meio de comunicao global. In:Hipertexto e Gneros
Digitais: novas formas de construo do sentido/ Luiz
Antnio Marcuschi, Antnio Carlos dos Santos Xavier
(orgs.). Rio de Janeiro: Lucena, 2004.
KRAMSCH, Claire. Context and culture in language teaching.
Oxford: Oxford University Press, 1993.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
141
LEMOS, Andr. Anjos Interativos e Retribalizao do Mundo:
Sobre interatividade e interface digitais. Disponvel:
www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf
(Pesquisado em Setembro de 2005)
NICHOLLS, Susan Mary (ex Ucha). Aspectos Pedaggicos e
Metodolgicos do Ensino de Lngua Estrangeira. Edufal,
2001, Macei AL.
PALACIOS, Marcos. Hipertexto, fechamento e o uso do conceito
de no-linearidade discursiva. Disponvel:
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/palacios/hipertexto.h
tml (Pesquisado em Setembro de 2005)
PLAZA, Jlio. Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepo.
Disponvel: http://www.plural.com.br/jplaza/texto01.htm
(Pesquisado em Setembro de 2005)
SIQUEIRA, Dbora C. Hipertexto. Disponvel:
http://ead1.unicamp.br/e-lang/multimodal (Pesquisado em
Setembro de 2005)
TAVARES, R. R. e CAVALCANTI, I de F. S. Developing
Cultural Awareness in EFL Classroom. FORUM, vol. 34, No.
3-4, 1996.
O papel de corpora para gramticas
de referncia em lngua inglesa
Leonardo Juliano Recski UFSC
Introduo
Nas ltimas trs dcadas presenciamos o surgimento e a
consolidao de uma rea da lingstica denominada Lingstica
de Corpus, cujas doutrinas e metodologia vm exercendo um
grande impacto sobre a forma como gramticas de referncia da
lngua inglesa vm sendo idealizadas. Este artigo explora a
natureza e a extenso dos avanos que vm ocorrendo desde a
publicao da primeira gramtica de referncia em ingls
elaborada com base em corpora - A Grammar of Contemporary
English (doravante Contemporary Grammar), escrita por Randolph
Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech e Jan Svartvik em
1972. Ao preparar esta gramtica, Quirk et al empregaram trs
corpora de um milho de palavras cada: o Brown University
Corpus of Written American English (Brown Corpus), o
Lancaster-Oslo-Bergen Corpus of Written British English (LOB
Corpus), e o Survey of English Usages Corpus of Spoken and
Written British English (SEU Corpus). A partir de 1972 houve um
crescimento exponencial no tamanho dos corpora empregados
pelos idealizadores de gramticas de referncia, uma sofisticao
dos mtodos atravs dos quais dados quantitativos so analisados e
apresentados, mas mais fundamentalmente uma mudana na
atitude desses profissionais em relao ao que constitui um dado
gramatical pertinente. Em 1985, Quirk et al publicaram a A
Comprehensive Grammar of the English Language (doravante
Comprehensive Grammar), uma obra maior e mais ambiciosa que
a gramtica de 1972 e que ainda amplamente reconhecida como
a gramtica de referncia mais completa da lngua inglesa. A
Comprehensive Grammar utiliza os mesmos corpora da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
143
Contemporary Grammar (1972), mas no volume posterior a
influncia desses corpora mais evidente, com a apresentao
ocasional de resultados estatsticos (normalmente em notas de
rodap, tais como as freqncias de verbos auxiliares modais na
pgina 136, e as freqncias de certas preposies que expressam
posio relativa na pgina 679).
Em 1990 John Sinclair, Gwyneth Fox e colaboradores
publicaram a Collins COBUILD English Grammar (doravante
COBUILD Grammar). A COBUILD Grammar foi a primeira
gramtica a usar um corpus como fonte exclusiva de citaes, e
como tal representa um marco histrico no desenvolvimento de
gramticas com base em corpora.
Em 1996, Sidney Greenbaum, um dos membros da gangue
dos quatro, famosos pela autoria da Contemporary Grammar
(1972) e da Comprehensive Grammar (1985), publicou a Oxford
English Grammar (doravante Oxford Grammar). Esta gramtica
baseada em um corpus de quatro milhes de palavras e representa
uma variedade de gneros escritos e falados, envolvendo os dois
principais dialetos da lngua inglesa o britnico e o americano.
O avano recente mais significativo foi a publicao, em
1999, da Longman Grammar of Spoken and Written English
(doravante Longman Grammar), de Douglas Biber e
colaboradores. A Longman Grammar sem dvida a gramtica
mais influenciada por corpora atualmente. Alm de todos os
exemplos derivarem de corpora (assim como no caso da
COBUILD Grammar), a Longman Grammar tambm contm uma
grande quantidade de informaes quantitativas relativas
freqncia de estruturas gramaticais e suas variaes em diferentes
registros.
Neste artigo no pretendo explorar ou avaliar a natureza da
descrio gramatical das gramticas sob investigao.
Provavelmente, como conseqncia da enorme influncia da
descrio gramatical desenvolvida nas gramticas de Quirk et al,
os avanos nas gramticas subseqentes foram comparativamente
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
144
menos espetaculares. A influncia no surpreendente no caso da
Oxford Grammar, dado o envolvimento de Greenbaum nas
gramticas de Quirk et al, apesar da capa do livro utilizar o epteto
groundbreaking para sua descrio gramatical. Este mesmo epteto
usado na contracapa da Longman Grammar, cuja descrio
gramatical analogamente deixa a desejar em termos de inovaes.
De fato, Biber et al reconhecem que raramente divergem do
sistema descritivo e da terminologia da Comprehensive Grammar,
argumentando de que ela provavelmente a gramtica mais
detalhada da lngua inglesa j escrita e que sua descrio
gramatical vm sendo amplamente difundida atravs de sua
incorporao em outras gramticas, livros-texto e publicaes
acadmicas (p. 7) (minha traduo).
O objeto de descrio
Nas gramticas de Quirk et al o objeto de descrio restrito
ao ingls padro de falantes letrados, que os autores reivindicam
ser menos sujeito variaes regionais se comparados ao ingls de
pessoas com baixo nvel de escolaridade. Na Contemporary
Grammar, Quirk et al reconhecem a existncia de diferentes
padres nacionais de ingls como, por exemplo, os encontrados na
Esccia, Irlanda, Canad, frica do Sul, Austrlia e Nova
Zelndia, mas, no obstante, enfatizam a uniformidade desses
dialetos ao longo de uma multiplicidade de sistemas polticos e
sociais, notando que todos so notveis, principalmente se
levarmos em conta que at os dialetos mais estabelecidos, como o
ingls britnico e o americano, diferem um do outro (p. 19)
(minha traduo).
O escopo limitado da Contemporary Grammar e da
Comprehensive Grammar pode ser contrastados com a grande
nfase dada variao gramatical entre diferentes registros na
Longman Grammar. Enquanto Quirk et al desconsideram a
variao entre registros em sua descrio do uso da linguagem,
para Biber et al os rpidos avanos na rea de lingstica de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
145
corpus, incluindo a disponibilidade de enormes quantidades de
textos, significa que em uma gramtica com base em corpora a
descrio tanto do uso quanto da variao da linguagem precisa,
necessariamente, caminhar lado a lado. Na Longman Grammar
quatro registros so sistematicamente analisados e contrastados:
conversao, fico, textos jornalsticos e escrita acadmica.
Biber et al argumentam que estes registros representam uma
gama de variaes lingsticas e situacionais da lngua inglesa.
Conversao um registro amplamente difundido, empregado por
virtualmente todos os falantes nativos, ao passo que escrita
acadmica extremamente especializada, lida por alguns falantes
nativos e produzida por uma minoria. Fico e textos jornalsticos
situam-se entre estes dois extremos: so populares ao invs de
especializados, e so lidos, pelo menos ocasionalmente, pela
maioria dos falantes nativos.
Na Longman Grammar a variao entre registros priorizada
em relao variao entre dialetos. Segundo Biber et al (1999:
21) a justificativa reside no fato de que diferenas gramaticais
entre registros so mais acentuadas do que aquelas encontradas
entre dialetos. Mesmo assim, diferenas dialetais entre o ingls
britnico e o americano so regularmente discutidas e
quantificadas. Considere as seguintes observaes estilsticas e
dialetais envolvendo pronomes indefinidos construdos com o
sufixos body e -one:
Pronomes terminados em -body so mais comuns em
conversaes; por outro lado, pronomes terminados
em -one so preferidos em registros escritos. [...]
Pronomes terminados em -body so mais comuns no
ingls americano do que no ingls britnico (BIBER
et al., 1999: 353)
Uma novidade interessante da Longman Grammar a
investigao de territrios previamente no mapeados em
gramticas descritivas tradicionais da lngua inglesa. Por exemplo,
os autores descrevem certas caractersticas gramaticais do ingls
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
146
falado como coordination tags (e.g., Theyre all sitting down and
stuff; He has a lot of contacts and things (vide pgina 115) e
pseudocoordinations do tipo good and ready e nice and easy
(vide pgina 537). Tais usos no so incorporados em gramticas
anteriores, indubitavelmente em funo de sua baixa freqncia no
ingls escrito padro.
Finalmente, outra diferena entre a Contemporary Grammar e
a Longman Grammar a extenso dos comentrios fornecidos
sobre os diferentes usos de diversas estruturas gramaticais.
Naturalmente, o acesso a corpora maiores e mais diversificados
dialeticamente provem uma base mais slida para o
questionamento da validade de prescries mais tradicionais.
Considere, por exemplo, a concluso detalhada de Biber et al
baseada na anlise de diferentes registros sobre a escolha de
pronomes que sucedem o verbo to be, seja como predicativo do
sujeito (e.g., Hello gorgeous its me e So maybe its I, John Isidore
said to himself), ou como o foco de uma orao clivada (e.g.,
Carlos immediately thought it was me who had died e The odds
were that it was I who was wrong):
Apesar da prescrio tradicional baseada em regras
gramaticais, as construes acusativas so predominantes em todos
os registros. Em conversao, onde poderamos encontrar uma
maior variao, estas construes so praticamente universais. At
mesmo onde oraes clivadas ocorrem em conversao,
normalmente encontramos a forma acusativa com ou sem a
conjuno that. (BIBER et al., 1999: 336; minha traduo).
O corpus como fonte de informao
Outro avano das gramticas de Quirk, citado no prefcio
destas obras, o crescente emprego de corpora como fonte de
informao. Como vimos anteriormente, as gramticas de Quirk
empregam os mesmos corpora, mas a sua influncia torna-se mais
evidente na Comprehensive Grammar. Na verdade, os leitores da
Contemporary Grammar tm ao seu dispor apenas uma breve
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
147
descrio dos exemplos extrados do corpus: ampliamos nossa
prpria experincia como usurios e educadores com pesquisas
baseadas em corpora na A Grammar of Contemporary English
(QUIRK et al., 1972: v). Os autores admitem tambm, que os
exemplos ilustrativos extrados dos corpora na Contemporary
Grammar so raramente fornecidos sem serem adaptados ou
editados (ibid: v).
A COBUILD Grammar baseada em 20 milhes de palavras
extradas da Birmingham Collection of English Texts. Esta coleo
de textos considerada um corpus geral, cuja composio reflete a
disponibilidade de textos em formato eletrnico ao invs de ser
determinada pelos critrios de representatividade que nortearam
a compilao de corpora padronizados como o BROWN, o LOB e
o SEU. Na COBUILD Grammar o corpus de Birmingham no
explorado apenas como uma fonte de citaes, mas tambm como
uma forma de listar os componentes das vrias subdivises das
classes gramaticais discutidas. Infelizmente os mtodos
empregados na extrao de citaes no so discutidos em detalhe.
A COBUILD Grammar certamente confere ao leitor uma sensao
de autenticidade atravs do uso de exemplos reais; entretanto,
inmeros exemplos parecem ter sido propositalmente adequados
aos propsitos descritivos dos autores (provavelmente um nmero
maior do que sugerido pelos mesmos quando argumentam que
todos os exemplos so extrados do corpus, normalmente sem
nenhum tipo de edio) (COLLINS COUBUILD ENGLISH
GRAMMAR, 1990: vii; minha nfase).
Na Oxford Grammar, Greenbaum (1996) emprega como fonte
de suas citaes um corpus padronizado de um milho de palavras
chamado ICE-GB (o componente britnico do projeto International
Corpus of English), composto por 600 mil palavras representativas
do discurso oral e 400 mil palavras representativas do discurso
escrito. Este corpus complementado por outras trs milhes de
palavras extradas do Wall Street Journal, que so empregadas
como fonte de citaes para o ingls americano. Nenhum resultado
quantitativo reportado, presumivelmente porque 4 milhes de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
148
palavras no so suficientes para generalizaes estatsticas
significativas. Greenbaum no revela ao leitor como o corpus foi
manipulado, mencionando brevemente que o mesmo foi anotado
com o auxilio de programas desenvolvidos pelo TOSCA Research
Team da Universidade de Nijmegen.
Enquanto preparavam a Longman Grammar, Biber et al
tinham ao seu dispor o Longman Spoken and Written English
Corpus, contendo cerca de 40 milhes de palavras. Apesar de seu
tamanho, este corpus abrange apenas os quatro registros
mencionados anteriormente: conversao, fico, textos
jornalsticos e escrita acadmica. A maior parte do corpus da
Logman composta por quatro subcorpora com aproximadamente
5 milhes de palavras cada, cada uma representativa de um dos
quatro registros mencionados acima. Alm destes quatro
subcorpora, o corpus da Longman suplementado por outros dois
registros, um composto por discurso oral no-conversacional (e.g.,
palestras e discursos) e outro formado por textos escritos no-
fictivos. Alm destes subcorpora, outros dois corpora especficos
do ingls americano (conversao e textos jornalsticos) foram
acrescentados para possibilitar contrastes dialetais com o ingls
britnico.
Embora Biber et al discutam a composio e o design do
corpus em detalhe, algumas de suas decises so questionveis,
ou, pelo menos, no so explicadas integralmente. importante
que tal aspecto seja investigado, haja vista que a Longman
Grammar representa um avano significativo na evoluo de
gramticas com base em corpora. Em primeiro lugar, nenhuma
explicao fornecida para o fato de dois dos quatro subcorpora
no corpus de Longman (fico e escrita acadmica) inclurem tanto
textos britnicos quanto americanos, ao passo que os outros dois
subcorpora (conversao e notcias) incluem apenas textos de
origem britnica (conversaes e textos jornalsticos no dialeto
americano so mantidos separados, em um subcorpus dialetal
complementar). Outra deciso questionvel a incluso nos textos
de fico Britnicos/Americanos de dezenove textos (537,000
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
149
palavras) de outros cinco dialetos do ingls: Australiano,
Canadense, Caribenho, Irlands e do oeste Africano (BIBER et al,
1999, Tabela 1.5, p. 30). Tal deciso acaba divergindo do
argumento dos autores de que a Longman Grammar no pretende
incorporar diferenas dialetais do ingls (ibid: 26; minha
traduo).
A incluso de 450,200 palavras de textos escritos para
adolescentes no subcorpus de fico caracteriza uma opo dos
autores com o potencial de desviar os resultados estatsticos. Alm
disso, 27 dos 139 textos de fico foram publicados antes de 1950,
fato que pem em cheque o argumento dos autores quando dizem
que esto investigando os padres lingsticos empregados [...] no
final do seculo XX (ibid: 4).
Concluso
O que podemos esperar de gramticas baseadas em corpora no
futuro? Elas provavelmente sero compiladas com base em
corpora cada vez mais volumosos e mais variados dialtica e
genericamente. provvel tambm que a prxima gerao de
gramticas baseadas em corpora empregue mtodos cada vez mais
sofisticados de processamento e apresentao de dados
quantitativos. Apesar dos avanos significativos atingidos com a
Longman Grammar, o fato de o corpus ser apenas parcialmente
etiquetado sintagmaticamente, leva os autores a concentrarem-se
em categorizaes de palavras, privando-os de descries mais
detalhadas envolvendo sentenas e oraes.
Referencias Bibliogrficas
BIBER, D.; JOHANSSON, S.; LEECH, G.; CONRAD, S.;
FINEGAN, E. The Longman grammar of spoken and written
English. London: Longman, 1999.
Collins Cobuild English Grammar. London: Harper Collins, 1990.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
150
GREENBAURN, S. The Oxford English grammar. Oxford:
Oxford University Press, 1996.
QUIRK, R.; GREENBAUM, S. A students grammar of the
English language. London: Longman, 1990.
QUIRK, R.; GREENBAUM, S.; LEECH, G.; SVARTVICK, J. A
grammar of contemporary English. London: Longman, 1972.
QUIRK, R.; GREENBAUM, S.; LEECH, G.; SVARTVICK, J. A
comprehensive grammar of the English language. London:
Longman, 1985.
Da teoria gramatical da lngua portuguesa
sintaxe de uso brasileiro: a difcil travessia
Maria Lcia Moreira Gomes UNIVERSO-FAETEC-CEFET/CAMPOS/RJ
Estamos diante de um impasse: ou passamos a vida inteira
num terrvel lamento aos insultos que os brasileiros cometem
lngua tradicional, ou retiramos de vez a mscara que esconde a
nossa verdade: somos brasileiros e nada nos obriga a falar como
portugueses.
Inmeras discusses tm se processado em torno desse tema e
parece que ainda estamos longe de atitudes que cristalizem a
evidncia do que acontece com a nossa lngua dia-a-dia. Falamos
errado, ministramos e assistimos (a) aulas de lngua portuguesa,
perpetuando a gramatiquice que em nada ajuda o brasileiro a falar
segundo os preceitos normativos da lngua. Nossos alunos saem,
aliviados, das escolas de ensino mdio, com a certeza de nunca
mais enfrentarem as infinitas aulas chatas de lngua portuguesa
recheadas de regras de acentuao, da terrvel anlise sinttica, das
infinitas concordncias e regncias verbais e nominais que,
lgico, no os convenceram a falar duzentos gramas, quando eu
o vir, assistimos a um bom filme etc. E, ento, os professores
ainda no se cansaram de reclamar, na sala de reunio, nos
intervalos de suas aulas chatas, que nem eles suportam, que os
alunos no aprendem, que falam, lem e escrevem errado? Os to
severos professores de lngua, que em sua informalidade,
esquecidos de sua to terrvel misso cotidiana, saem por a a falar
Craudia, esqueci do livro sobre a mesa, o doce que gosto, prefiro
mais caf do que ch ...
Estamos, professores, representando todo o tempo, vivendo
uma falsa realidade e tentando convencer os nossos alunos de que
no erramos jamais, de que dominamos as regras todas que esto
na gramtica, que encarnamos o ideal da lngua.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
152
Isto, e s isto, bastaria para no querermos eternizar as aulas
de gramtica que insistem em se impor em nossas vidas
acadmicas. Mas onde est a coragem de ousar? Como questionar
uma lngua secular? Quem somos ns para entrar em discordncia
com tantas normas e tantos livros e tantos gramticos de renome?
sabido que nenhum professor domina completamente as
regras que respaldam a lngua. Nem os gramticos nem aqueles,
que, usando o espao que a mdia lhes confere, vivem espalhados
por a a fazer mofa dos deslizes cometidos pelo povo. Povo esse
que sou eu, voc, nossos amigos, que passamos horas nos meios
acadmicos, tentando aprender e ensinar, quer como alunos ou
professores, e que recebemos, a todo momento, a reprimenda de
que estamos praticando um verdadeiro crime contra a lngua.
Enfim, ficamos definitivamente convencidos: no sabemos
Portugus.
Mrio Perini costuma chamar nossa lngua, com muita
propriedade, de vernculo brasileiro, porque
h duas lnguas no Brasil: uma que se escreve (e que
recebe o nome de portugus ) e outra que se fala
(e que to desprezada que nem tem nome). E esta
ltima que a lngua materna dos brasileiros; a
outra (o portugus) tem que ser aprendida na escola,
e a maior parte da populao nunca chega a domin-
la completamente. ( 2003. p. 36)
Segundo ele, o portugus e o vernculo so lnguas muito
parecidas, mas no idnticas a ponto de se falar e escrever do
mesmo jeito. Quem pode afirmar o contrrio? Quem no fala
regularmente me empresta seu lpis enquanto aprendeu na
escola que as regras de colocao pronominal impedem a
colocao de pronome oblquo tono no incio de oraes? Ou
ento, no consegue se exprimir assim se eu a vir na escola, darei
o recado, porque soa mal e parece que se est falando errado.
Portanto, falamos o vernculo e escrevemos em
portugus.Esse vernculo torna-se ento uma lngua grafa, como
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
153
muitas que existem em civilizaes pouco conhecidas, porm em
uma proporo bem maior.
As perguntas ainda ressoam em nossos ouvidos: quem
inventou todas essas regras? Por que algum dita as normas e ns
temos que seguir? E, finalmente o que se tornou lugar comum nas
escolas: para que ou por que tem que se aprender isso (fonologia,
morfologia, sintaxe, etc.) quando se quer apenas ser mdico,
engenheiro, analista de sistema, enfermeiro, fisioterapeuta??? E os
professores, invariavelmente, no sabem responder, at porque nos
fazemos, em contrapartida, outra pergunta: para que ensinamos
isso? Que atire a primeira pedra o professor, que no alto de sua
sapincia, no se contorce a cada vez que se v obrigado a
ensinar um contedo que no domina, de que no gosta ou que
nunca entendeu...
Estamos perdidos no oceano de indagaes, indecises, medos
e falsas verdades. Verdades que nos ditaram e que nunca
questionamos, porque, no faz muito tempo, professor era
autoridade mxima e dono da verdade absoluta. Criticar
contedos, livros, regras, nem pensar. Abaixamos nossa cabea e
compactuamos com o ensino de uma lngua que est longe de nos
representar enquanto pessoas, individualizadas em regies,
culturas e nveis sociais.
Marcos Bagno, em seu livro Preconceito Lingstico, desvela
outro lado dessa verdade: existe um enorme preconceito contra
todo aquele que no domina a lngua, e por dominar entende-se
falar segundo as normas ditadas nas gramticas que a escola passa
o tempo tentando nos impingir. Todos os homens falam e se
comunicam em perfeito entendimento, no entanto, somos acusados
de total desconhecimento da lngua, numa perfeita confuso entre
o que seja usar a lngua e dominar a gramtica. Indo mais alm ele
afirma:
Se tantas pessoas inteligentes e cultas continuam
achando que no sabem portugus ou que
portugus muito difcil porque esta disciplina
fascinante foi transformada numa cincia
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
154
esotrica, numa doutrina cabalstica que somente
alguns iluminados(os gramticos tradicionalistas!)
conseguem dominar completamente. ( 2003, p. 39)
O adequado domnio da lngua considerado, em nossa
sociedade, o mais contundente instrumento para se bloquear o
ingresso ao poder. Temos o exemplo vivo de nosso atual
presidente Lula que perdeu a credibilidade para governar o pas
pelos erros que cometia nos discursos polticos, assim tachado de
ignorante e analfabeto. Como entregar o destino de nossa nao
nas mos de um semi-analfabeto? Certamente seria alvo de
chacotas e faria muita asneira. A realidade atual nos prova que no
tem sido assim e o que o poder nas mos do culto e letrado parece
no ter satisfeito muito aos donos dos votos.
Observando qualquer palestra, discurso poltico ou informal,
voltado para qualquer rea, percebemos sempre, digo sempre, que
ningum capaz de tanto talento lingstico que no cometa o que
os puristas teimam em chamar de desrespeito lngua materna. E o
que eles chamam de desrespeito ns atribumos maneira peculiar
de ser brasileiro que traa suas marcas no seu jeito irreverente de
se portar, falar, danar, sentir e pensar. Jeito invejado por muitos
que moram em outros pases e que no perdem a oportunidade de
visitar esse pas to cheio de peculiaridades atitudinais e
lingsticas, mas que o fazem uma nao singular e plural como
to bem se expressou um dia o jornalista e escritor Zuenir Ventura
em uma de suas crnicas.
Sabemos que um seleto grupo de brasileiros sente vergonha
da cultura e do povo que tem e parece ser moda fazer pose e
aproveitar encontros intelectuais para ironizar o uso popular da
nossa lngua numa tentativa de se auto-afirmar como nao que,
para existir, necessita excluir o diferente. Uma prova incisiva desse
preconceito mostra-se nas gramticas tradicionais, em que os
exemplos soam poderosos na voz de escritores de renome como
Machado de Assis e Guimares Rosa, contrastando com os poucos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
155
de escritores contemporneos como Rubem Fonseca, Joo Cabral
de Melo Neto e Rachel de Queiroz.
necessrio ressaltar que esses mesmos escritores,
priorizados nas gramticas como supra-sumos da perfeio na
lngua escrita, so donos tambm de exemplos considerados
exceo s regras.
Como um dos inmeros exemplos, podemos citar o caso
abordado de uso de onde e aonde que os autores nos dizem
embora a pondervel razo de maior clareza idiomtica justifique
o contraste que a disciplina gramatical procura estabelecer, na
lngua culta contempornea, cumpre ressaltar que esta distino,
praticamente anulada na linguagem coloquial , j no era rigorosa
nos clssicos.
E alude ao exemplo:
Vale ao entrares no porto
Aonde o gigante est!
(Fagundes Varela, VA, 76.apud Cunha
&Cintra,2001)
Ser que podemos questionar a credibilidade e o valor dos
escritos desse autor por esse uso?
Parece evidente em nossa lngua que os chamados renomados
gramticos, e eles o so, se preocupam, no em analisar os fatos da
lngua, mas em repetir as formas usadas por quem tem, na
literatura, grande credibilidade. Isto nada mais faz do que acentuar
o preconceito lingstico.
Parece-nos assim formar um pas dspar, mas no nos damos
conta de que tambm em outros pases difere a escrita da fala e a
linguagem informal uma normalidade entre os povos.
Mrio Perini, lingista brasileiro, ao lanar, em 2002, nos
Estados Unidos, a obra Modern Portuguese: a Reference
Grammar, nada mais fez do que prestar uma grande ajuda aos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
156
americanos que desejam aprender a lngua usual brasileira (e no a
portuguesa to empolada e difcil para os estrangeiros). Ele recheia
seu livro com usos comuns da lngua, aquilo que todo povo
estrangeiro pretende dominar quando sai de seu pas e deseja se
comunicar favoravelmente em outro: falar a lngua que o povo fala
e no aquela que a gramtica impe e que o povo no domina.
Outro aspecto que passou a ser mito nas escolas a confuso
entre alfabetizao e letramento. Se nossos alunos e filhos passam
tantos anos nas academias a se fartarem de regras, por que acabam
sendo alvos de irriso em jornais e pginas da internet, e at em
programas de televiso, nos to famosos Prolas do Enem e
Prolas do vestibular? Parece-nos sempre que estamos
escarnecendo de nosso prprio fracasso, porque no enxergamos a
educao como um compromisso plural, mas uma obrigao
individualizada de escolas, professores e alunos.
bvio que estamos diante de um embarao: o que ensinar na
Lngua Portuguesa se estamos comprovadamente enveredando
pelo caminho errado, ou melhor, trilhando um caminho construdo
de forma errada, tortuosa e o que pior, que no nos leva a lugar
algum? A resposta s pode ser uma: precisamos construir um novo
caminho, que nos possa levar a um lugar de luz e nos tirar das
trevas do ensino catico e vazio de Portugus, cujo resultado tem
sido a derrota constante da lngua na voz e escrita de nosso povo.
No nos colocamos contrrios ao ensino de regras e normas
que harmonizam a nossa lngua materna, como alguns
provavelmente devem estar pensando. Devemos, sim, ensinar o
brasileiro a usar a lngua, mas de forma crtica e aberta para que
ele no se sinta aprisionado por ela e dela seja refm. O ensino
crtico da norma padro o que pregamos e insistimos que faa
parte do currculo de nossas escolas, para que no condene nossas
crianas ao fracasso escolar que est pautado na escrita e leitura
incorretas e vergonhosas.
Ler e escrever vai muito alm do ensino de Portugus, do
acmulo de regras ensinadas para serem esquecidas no momento
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
157
seguinte. Ler e escrever se fazem lendo e escrevendo. E disso se
ressente nosso ensino: temos alunos alfabetizados cuja leitura no
vai alm da decodificao das palavras do texto, sem nenhuma
associao ao mundo que o cerca. Vemos perpetuar prticas de
leitura cujo nico objetivo tem sido a decodificao de sinais com
pouca ou nenhuma preocupao com o aspecto interacionista na
relao texto/ leitor. Perde-se, portanto, a sim, o foco maior da
educao que a formao de um leitor que consiga associar a
leitura imposta leitura de mundo, suscitando reflexes
permanentes que possam imprimir mudana de comportamento.
A todo esse fracasso atribui-se a culpa ao desconhecimento
das normas que regem o bom uso da lngua: no se l para alm
do texto porque no se sabe gramtica; escreve-se, pecando contra
a coerncia e coeso, porque no se aprenderam as normas que
regem a estrutura de um texto (redao). Muito pouca leitura
feita, pouco se discute em sala de aula as questes de mundo que
sugere o texto e, mesmo assim, pretende-se uma boa leitura, uma
excelente produo textual, recheada de pensamentos conexos,
claros e coerentes. Julga-se a leitura com nota e atola-se uma
redao com inmeros traos e recadinhos que repudiam a boa
inteno na produo do texto e almejam-se, como conseqncia
de atitudes coercitivas como essas, alunos bem preparados para
redaes em vestibulares e concursos em geral.
Na realidade, e vemos isso ser comprovado com bastante
freqncia, o aluno que l e escreve bem no fruto de aulas de
Portugus com suas regras castradoras. Ao contrrio, o aluno que
l e escreve satisfatoriamente tem ou teve, em casa ou na escola,
desde a infncia, estmulo para ler e escrever, para discutir idias,
para exercer sua liberdade de expresso, to tolhida em nossos
bancos escolares.
A competncia no letramento no a mesma capacidade de
ler, decodificar, como bem elucida Magda Soares:
H, assim uma diferena entre saber ler e escrever,
ser alfabetizado, e viver na condio ou estado de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
158
quem sabe ler e escrever, ser letrado. Ou seja: a
pessoa que aprende a ler e escrever que se torna
alfabetizada- e que passa a fazer uso da leitura e da
escrita, a envolver-se nas prticas sociais de leitura e
de escrita que se torna letrada- diferente de uma
pessoa que ou no sabe ler e escrever analfabeta-
ou, sabendo ler e escrever, no faz uso da leitura e
da escrita alfabetizada, mas no letrada, no
vive no estado ou condio de quem sabe ler e
escrever e pratica a leitura e a escrita. (Soares,
1998)
Paulo Freire, em uma das inmeras assertivas que lhe valeram
a imortalidade na educao, dizia que a leitura de mundo precede
a leitura da palavra. Isto j se faz longe, muitos falam de seus
conceitos e de sua coragem em imprimir mudanas, com o pensar
crtico que o caracterizava; os congressos em educao fazem
largo uso de suas palavras e l fora, nas salas de aula, perpetua-se a
prtica estruturalista da leitura e da produo de textos,
descontextualizando texto e vida.
A ao docente deve estar voltada para mudanas; muito
preciso ser feito no que diz respeito prtica em sala de aula.
Deve-se optar pelo ensino da lngua mais que pelo ensino da
Gramtica, grande vil do mau desempenho de nossa lngua na voz
do povo. necessrio ensinar a norma-padro, sim, alis, um
direito de todos e um dever do Estado ensinar a ler e escrever de
forma eficiente. Apenas repudiamos o no esclarecimento aos
usurios da pluralidade de usos da lngua, negando-lhes, assim, o
direito de identidade lingstica e de se sentir parte de uma
sociedade onde parece s ter vez quem domina e faz largo uso da
variedade de prestgio, condenando as outras ao descaso e ao
preconceito.
A mdia parece tornar-se a cada dia uma ferramenta que
insiste em dar voz viso castradora de alguns gramticos que, em
nome do bom uso da lngua, vivem pelas ruas a ironizar o povo,
impondo-lhes um constrangimento pelo mau desempenho
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
159
lingstico. Ora, j tempo de um veculo de comunicao, que
tanta influncia tem sobre o povo, estar do seu lado e no contra
ele. E, com certeza, estar do seu lado no negar-lhe o direito de
entender por que fala desta ou daquela maneira e sim faz-lo
aceitar fazer parte da diversidade lingstica que forma o pas, no
sendo responsabilizado, a todo o momento, pelo descuido com que
trata seu idioma.
Precisamos pr por terra, definitivamente, a ideologia do certo
e errado no ensino da lngua. Sabemos que ensinar portugus no
simplesmente decorar a gramtica normativa, cuja inutilidade tem
sido comprovada ano aps ano, basta estar atento aos alunos que
ingressam em nossas universidades. A convico de que existe
certo e errado na lngua reduz essa to importante ferramenta a um
lugar medocre na educao e os professores a meros juzes cujo
veredicto( certo ou errado) est em suas mos.
Marcos Bagno afirma ser a lngua apenas um disfarce sob o
qual esto camuflados outros preconceitos maiores que
secularizam a discriminao contra o povo, tais como modo de se
vestir, sexo, cor, raa, opo religiosa etc, pois segundo ele:
....a discriminao explcita contra os que no sabem
portugus ou contra os que atropelam a gramtica
discriminao estampada e difundida quase
diariamente nos meios de comunicao
simplesmente a face visvel de um mecanismo de
excluso que atua num nvel bem mais sutil e
insidioso. ( 2003, p. 52)
O direito vida e ao que faz parte da vida, como lngua,
educao e dignidade, so fatores imprescindveis formao de
uma sociedade que precisa se afirmar como nao e alar vos
mais altos, se consolidando contra a preservao de estruturas
autoritrias e ortodoxas. Est em nossas mos, como pesquisadores
ou professores, pais ou simples pessoas, a misso de salvar a
lngua de tantos estigmas e ao povo da condenao, entre tantas,
do desconhecimento e uso imprprio da lngua materna.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
160
Referncias Bibliogrficas
BAGNO, Marcos. Preconceito lingstico. So Paulo: Loyola,
2003
________.Lngua materna, letramento, variao e ensino. So
Paulo: Parbola, 2002
________. A Norma oculta. So Paulo: Parbola Editorial, 2003
________. Dramtica da Lngua Portuguesa. So Paulo: Loyola,
2001
CUNHA, Celso. & CINTRA, L. F. Lindley. Nova Gramtica do
Portugus Contemporneo. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em trs gneros. Belo
Horizonte: Autntica (Coleo Linguagem e Educao), 1998.
LUFT, Celso Pedro. Lngua e Liberdade. So Paulo: tica, 2003
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura.
Campinas :Pontes, 1997.
FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler em trs artigos que se
completam. So Paulo : Autores associados/Cortez, 1987.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de
retextualizao So Paulo: Cortez, 2001
PERINI, Mrio A. Sofrendo a Gramtica. So Paulo: tica, 2003
_______. Modern Portuguese: a Reference Grammar. New
Haven/,London, Yale University Press.
O que a Mafalda pode nos dizer sobre
o Portugus Brasileiro e a pesquisa lingstica na rea de
Letras?
Ricardo Joseh Lima UERJ
No tem importncia o que penso de Mafalda. O
importante o que Mafalda pensa de mim (Julio
Cortazar, 1973; traduo da edio portuguesa).
O que eu penso da Mafalda no importa.
Importante mesmo o que a Mafalda pensa de mim
(Julio Cortazar, 1973; traduo da edio
brasileira).
Introduo
"Portugueses e brasileiros falam a mesma lngua?.
H vrios motivos para considerar essa questo pertinente. A
distncia geogrfica e as diferenas histricas e sociais entre os
dois pases so motivos que por si s justificam o questionamento.
um raciocnio semelhante ao que feito em relao ao ingls
(britnico vs. americano), francs (europeu vs. canadense) e outras
lnguas que possuem as diferenas acima citadas. Por apresentar
justificativa to direta, tal questo pode (e muitas vezes ) ser
debatida em mbito extra-acadmico como na mdia, em encontros
casuais e outras situaes. Nesse sentido, a questo acima se
assemelha a outras tais como "Existe vida fora da Terra?", "Voc
acredita mais na cincia ou na religio", " possvel fazer uma
viagem no tempo?", etc.
A escolha nesse artigo de um tratamento acadmico,
cientfico, para a questo motivadora pode parecer redundante,
pois se trata de um artigo publicado em uma revista de uma
universidade. No entanto, essa escolha toma outro sentido na
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
162
medida em que se nota que consideraes extra-acadmicas ou de
pouco rigor cientfico podem estar se infiltrando em determinadas
explicaes acadmicas. Com isso, o objetivo dessa escolha
levantar questes e debates que sejam relevantes para a pesquisa
lingstica no curso de Letras. Desse modo, a discusso a respeito
da questo acima, que doravante ser chamada de questo
motivadora, contribuir para atingir o objetivo do artigo em trs
planos. No plano terico, ela estimula debates sobre os conceitos
de lngua e fala; do ponto de vista de pesquisas, nos auxilia na
tarefa da construo e do embasamento da argumentao para uma
resposta positiva ou negativa a ela, e do ponto de vista prtico, faz
refletir sobre a distncia entre a fala do aluno e a norma da escola
(a chamada Norma Culta ou Padro).
O elemento motivador do exerccio ao qual este artigo se
presta est presente na epgrafe. A Mafalda, personagem de
histria em quadrinhos criada pelo argentino Quino, se destaca por
ser uma menina perguntadora, contestadora, de posicionamentos
radicais. De algum modo, essas caractersticas da Mafalda estaro
presentes neste artigo, que privilegia uma viso lingstica acerca
da questo motivadora. Porm, h tambm o fato, visvel na
epgrafe, de que o livro Toda Mafalda, originalmente publicado
em espanhol, possui uma "verso brasileira" e uma "verso
portuguesa" ("Toda Mafalda", Martins Fontes, 1993, Rio de
Janeiro e "O mundo de Mafalda", Bertrand, Coimbra, 1993,
respectivamente). Tal fato deve ser levado em conta de modo
significativo ao iniciarmos o caminho para responder a questo
motivadora deste artigo.
Para tanto, na seo 1, analisaremos detalhadamente o termo
lngua e algumas definies. Indicaremos que uma abordagem que
contempla fatores estruturais consegue dar conta da questo que
estamos discutindo. A seo 2 dedicada exposio de dados
que ratificam a definio de lngua escolhida na seo anterior. Na
seo 3, apresentamos algumas conseqncias e desenvolvimentos
a partir das discusses presentes no artigo e na seo 4 faremos
algumas consideraes finais que retomam os objetivos do artigo.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
163
1. Conceituando lngua
Nossa questo motivadora, como todas as demais, deve se
assentar em um pressuposto bsico: que os termos que a compem
esto definidos de modo igual para quem a formula e para quem a
responde. Embora tal afirmao parea bvia, nem sempre ela
seguida. Concordamos, por exemplo, de modo tcito, que por
brasileiros entendemos "aqueles que adquiriram como lngua
materna a lngua majoritariamente falada em territrio brasileiro, a
qual chamamos lngua portuguesa". Algum poderia imaginar uma
definio alternativa de brasileiros como "aqueles que nasceram
em territrio brasileiro". Isso inclui qualquer pessoa que tenha
adquirido qualquer outra lngua materna que no o portugus ou
seja, tupi, kadiwu, ou outra lngua indgena. Embora essa
definio de brasileiros seja plenamente vivel no a que nos
interessa no momento. Assim, mesmo que tenhamos mencionado o
acordo tcito a respeito desse termo, fizemos nosso "dever de
casa" e com isso aprendemos nossa primeira lio terica:
"Esclarea os termos da questo em debate".
Com a definio de brasileiros, obtemos por tabela a definio
de portugueses ("aqueles que adquiriram como lngua materna a
lngua majoritariamente falada em territrio portugus na Europa,
a qual chamamos lngua portuguesa"). Nesse momento, tambm
temos o dever de aplicar a lio terica que aprendemos aos
termos restantes da questo motivadora: fala e lngua. Vamos
comear pelo termo lngua, e tentaremos mostrar que as pessoas,
em geral, possuem uma definio quase comum a respeito desse
termo, mas no momento de aplic-lo a situaes prticas, como a
questo motivadora, no a utilizam.
(a) "Se eu entendo, a minha lngua.
Essa talvez a aplicao mais difundida. Em um artigo de
jornal, o professor Pasquale (Pasquale Cipro Neto, A vida sabe
bem, O Globo, 24/02/2002), argumenta que, ao chegar em
Portugal, conseguiu compreender os avisos no aeroporto e ao
entrar em uma livraria, escolhendo um livro por acaso, conseguiu
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
164
compreender toda a introduo. No referido artigo, o "professor
Pasquale" utiliza uma retrica bem pouco acadmica, lanando
mo de expresses como "Santo Deus!" para reafirmar seu ponto
de vista. Sobre problemas a respeito do tipo de anlise realizada
por esse gramtico, veja-se Bagno (1999, 2000). A utilizao desse
tipo de anlise, explicita ou implicitamente, em meio acadmico
ilustra a situao descrita na introduo O que est por trs da
descrio desses fatos o que chamamos de inteligibilidade
mtua: eu entendo os portugueses e eles a mim, portanto falamos a
mesma lngua. A verso portuguesa da citao de Cortazar e o
dilogo em (1) abaixo parecem confirmar as impresses de
Pasquale Cipro Neto, sendo ambos os casos de fcil compreenso
por um falante brasileiro:
(1)
Quando for grande quero ter muitos vestidos! (S) (t.181, p.
97, PE).
E eu muita, muita cultura! (M) (t.181, p. 97, PE).
Vais presa se fores para a rua sem cultura? (S) (t.181, p. 97,
PE).
NO [!] (M) (t.181, p. 97, PE).
Experimenta sair sem vestido!... (S) (t.181, p. 97, PE).
uma tristeza ter de bater a quem tem razo [.] (M) (t.181,
p. 97, PE).
(Todos os exemplos do corpus dos textos da Mafalda sero
assim referidos: no primeiro parntese, a abreviao do nome da
personagem (M: Mafalda, S: Susanita, Mn: Manolito, etc.); no
segundo parntese, o nmero da tira, da pgina e a edio (PE:
portuguesa, PB: brasileira). Os nmeros das tiras variam de uma
edio para outra. Os alunos de graduao Clara Villarinho,
Daniele Kazan e Vitor Bouas foram responsveis pela digitao
do corpus.).
Os dois principais problemas dessa definio so sua
subjetividade e sua falta de limitao do que possvel ser lngua.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
165
Em primeiro lugar, tanto os exemplos de Pasquale Cipro Neto
quanto os acima so do registro escrito. Teramos a mesma
concluso em relao ao registro oral, aquele que por assuno o
que conta nesse caso? Podemos fazer um teste simples: ligar a
televiso no canal portugus por trs minutos e perguntar se
falantes brasileiros entenderam a mensagem. O que est em jogo
aqui no uma mtrica para isso, mas o simples fato de que haver
respostas dspares: alguns podero reter parte significativa da
mensagem, outras apenas alguns trechos, outros ainda quase nada.
Teramos ento uma definio de lngua flutuante? Para o primeiro
grupo, seria a mesma lngua, para o ltimo no? possvel
argumentar ainda que um espanhol falando devagar e de boa
vontade pode ser compreendido por falantes do portugus. Como
decidir sobre essa situao?
O segundo problema dessa definio que ela no permite
limites ao que se possa considerar lngua. Se o que est em jogo
a compreenso pura e simples, ento, podemos dizer que (2) e (3)
so frases do portugus s porque as entendemos?
(2) Menino o subiu rvore na
(3) Mim querer sorvete
Uma soluo para o problema que (2) e (3) colocam pode ser
Portugus aquilo que se considera ser possvel existir. Nesse
ponto, poderia entrar um elemento subjetivo, afinal temos que
definir essa possibilidade. Se, no entanto, entendermos o suficiente
sobre regras lingsticas esse problema pode ser minimizado. A
frase acima seria ento reescrita como "Portugus aquilo que
possvel ser gerado a partir das regras gramaticais". Veremos, no
item (c), como isso pode ser abordado.
(b) Se o vocabulrio diferente, no minha lngua.
Essa tambm uma aplicao bem difundida. Ela est
embasada nos fatos de que (a) h palavras somente usadas pelos
portugueses e (b) uma mesma palavra pode ter um significado em
portugus europeu e outro em portugus brasileiro, como mostram
(4) e (5):
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
166
(4) Maldito autocarro! NUNCA mais chega! (P) (t.1121,
p.291, PE).
(5) Oh, mam! Uma camisolinha para mim? Que me ests a
fazer? (t. 829, p. 228, PE).
A palavra autocarro no foi encontrada no Houaiss nem no
Michaelis. J camisolinha, em (5), tem, para os brasileiros, o
sentido de uma pea do vesturio feminino. Entretanto, em
Portugal, trata-se de algo para ambos os sexos (na verdade, a me
estava fazendo uma camisolinha para o irmo da Mafalda...).
H dois problemas, pelo menos, com essa definio de lngua.
O primeiro quantitativo: quantas palavras seriam necessrias
para se dizer que estamos diante de um simples caso de
regionalismo ou se estamos diante de duas lnguas? Qualquer que
seja uma possvel resposta a essa pergunta ser subjetiva: qual
base determinaria um limite para isso? Assim, dependendo do
critrio quantitativo, poderamos concluir que o "portugus
carioca" e o "portugus paulista" seriam lnguas diferentes j que o
que acontece em (4) e (5) em relao ao portugus brasileiro e ao
portugus europeu tambm acontece com "portugus carioca" e o
"portugus paulista" (vejam-se os casos de semforo, palavra
sem uso no Rio de Janeiro e pipa, que significa um brinquedo no
Rio, mas no em So Paulo).
O segundo problema decorrente do primeiro: no h nada
que teoricamente impea o "portugus carioca" ser considerado
uma lngua diferente do "portugus paulista" por causa desse
critrio. O problema est no fato de que essa aplicao do conceito
de lngua vai perder em objetividade, j que cada comunidade
lingstica que utiliza termos diferentes de outra ter sua lngua.
Entretanto, podemos nos perguntar se sero do mesmo nvel as
diferenas entre falantes brasileiros e falantes espanhis? O quanto
seria interessante teoricamente classificar do mesmo modo as
diferenas entre paulistas e cariocas e as diferenas entre
brasileiros e espanhis no que concerne lngua? A "prova" para
essa pergunta est na seguinte situao: se encontrarmos algum
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
167
grau de diferena significativo em um dos pares (brasileiros e
espanhis), mas no no outro (cariocas e paulistas), ento podemos
justificar termos diferentes para distinguir esses pares. Eis aqui
uma segunda lio terica: "Coloque prova as suas definies".
Cada definio de lngua deve ser testada para verificarmos se est
se aplicando somente aos casos que deve.
(c) Se h diferenas estruturais, so lnguas diferentes.
a aplicao menos difundida, mas a mais comum entre os
gramticos. Pasquale Cipro Neto a utiliza implicitamente no artigo
referido acima quando diz que no h diferenas na
superestrutura do portugus falado em Portugal e do portugus
falado no Brasil; Bechara (1999) no aborda essa questo
explicitamente, mas confirma esse raciocnio ao adotar na sua
conhecida expresso poliglota na prpria lngua a teoria de
Coseriu sobre os termos sistema, norma e fala; por fim, Azevedo
Filho (Lngua portuguesa e expresso brasileira, CooJornal,
Revista Rio Total, n
o
265, 29/06/2002) utiliza a idia do lingista
dinamarqus Darmesteter de que o que conta para diferenciar as
lnguas so os morfemas gramaticais: enquanto permanecerem os
mesmos, a mesma lngua. Tal proposta no ser tratada aqui por
dois motivos. O primeiro que ela desconsidera diferenas
sintticas sem apresentar justificativas para isso; o segundo que
ela leva a classificar o Portugus Arcaico e o Clssico (de Cames)
como lnguas distintas do Portugus Contemporneo, uma
concluso que no se sabe se Azevedo Filho (e quem segue essa
proposta) corroboraria. Para diferenas entre Portugus Arcaico,
Clssico e Contemporneo consulte-se Mattos e Silva (1993) e
Tarallo (1994).
O critrio estrutural serve bem para diferenciar o portugus do
ingls e do espanhol, como mostram os exemplos (6) e (7):
(6) It rains; *Isso chove; *Eso llueve
(7) *Has found the book John; Ha encontrado el libro Juan;
*Encontrou o livro o Joo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
168
O que relevante acerca de (6) que o ingls possui um
elemento (um expletivo) para dar conta de uma relao estrutural
(sujeito de verbo meteorolgico) que o portugus e o espanhol no
possuem; j em (7), no h elementos estranhos, apenas uma
ordenao distinta, j que em portugus a ordem parece pouco
usual, se no inexistente (voltaremos distino entre usualidade e
inexistncia em seguida), enquanto vivel em alguns contextos
do espanhol. crucial notar que esse critrio, que chamaremos de
estrutural, torna o par "portugus carioca"-"portugus paulista"
distinto do par "portugus-espanhol", j que as verses para (6) e
(7) so as mesmas ("Chove", "O Joo encontrou o livro") no Rio
de Janeiro e em So Paulo.
A aplicao estrutural do termo lngua a que reflete sua
definio mais comum: um sistema, um arranjo estrutural de
determinados elementos. No outra seno a definio de fala,
que ainda est faltando em relao questo motivadora: produo
oral de um sistema lingstico determinado. A distino entre
sistema e a concretizao desse sistema foi realizada por Saussure
(1916), expandida por Coseriu (1987) e reformulada por Chomsky
(1965), entre outros. Assim, terminamos nossa tarefa de definir os
elementos que compem a questo motivadora.
Uma grande vantagem do critrio estrutural sobre os demais
sua objetividade. Trata-se de investigar se, em dois registros
"candidatos" a lnguas diferentes, h diferentes elementos que
compem a estrutura ou se h um arranjo distinto dessa estrutura
em um deles. Claro est, no entanto, que tal investigao no
procede de modo simples e requer alguns cuidados especiais, que
sero tratados na seo seguinte, quando aplicarmos esse critrio
ao portugus brasileiro e ao portugus europeu.
2. Pesquisando o portugus
O critrio estrutural acima proposto deu conta, como visto, de
diferenciar o portugus do espanhol e do ingls enquanto evitou a
proliferao da denominao de lngua a casos como portugus
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
169
carioca e portugus paulista. Na aplicao desse critrio ao caso do
portugus brasileiro e do portugus europeu, curioso observar
que todos os autores acima mencionados que concordam com esse
critrio (Pasquale Cipro Neto, Bechara, Azevedo Filho) tambm
concordam que o mesmo no situa o portugus brasileiro como
lngua distinta do portugus europeu. A concluso unnime desses
autores de que estamos diante de dois registros de uma lngua, a
lngua portuguesa.
Cabe aqui nos perguntarmos como se chegar a tal concluso.
No faremos aqui uma anlise dos mtodos utilizados pelos
referidos autores, mas deixamos apenas uma observao sobre a
necessidade de esses mtodos serem explicitados. Aqui, ser feito
um aprofundamento dos mtodos que podem ser disponibilizados
para dar conta de tal investigao. A base deve ser, como
anunciado no final da seo anterior, a verificao dos seguintes
casos em (8):
(8)
(i) se h elementos estruturais presentes em um dos
"registros", mas no no outro;
(ii) se h arranjos estruturais presentes em um dos "registros",
mas no no outro;
Se a resposta for positiva em ambos os casos, podemos
concluir com segurana que, de acordo com o critrio adotado,
estamos diante de lnguas distintas. Podemos pensar em trs
maneiras de verificar o que est em (8), como se prope em (9):
(9)
(i) anlise quantitativa
(ii) anlise intuitiva
(iii) anlise experimental
A anlise em (9i) ser o foco desse artigo. A proposta em (9ii)
tem algum apelo subjetivo, o que pode ser alvo de crticas (ver
Lobato (1986, p.28-34) para algumas dessas crticas e respostas a
elas), e ser utilizado apenas como complementao de (9i) aqui.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
170
Especificamente, (9ii) estabelece que se um falante brasileiro
possui alguma intuio positiva para (8i) e (8ii), ento essa
intuio serve como fonte para a verificao das diferenas entre
portugus brasileiro e portugus europeu. O tipo de anlise em
(9iii) encontra-se em estgio inicial de investigao e ser
retomado no final do artigo.
Comecemos investigando (8i). Vamos verificar se h alguns
elementos estruturais, entendendo-se elemento estrutural como
aquele com funo gramatical, seja pertencente a classes fechadas
de palavras (pronomes, preposies, conjunes, etc.) seja
pertencente ao conjunto de desinncias flexionais (nmero, pessoa,
tempo, etc.), presentes no corpus do portugus europeu e ausentes
do corpus do portugus brasileiro do "Projeto Mafalda". A partir
desse ponto estaremos nos referindo a corpus-PB para os dados
retirados da verso brasileira do livro "Toda Mafalda" e corpus-PE
para os dados retirados da verso portuguesa desse livro. Para
detalhes a respeito do "Projeto Mafalda", veja-se Villarinho,
Forster & Lima (2005) e as referncias l citadas
"vos"
(10) J vos disse que quando for grande vou ter filhos?(S)
(t.213, p.103, PE)
(11) Eu j disse pra vocs que quando crescer vou ter
filhos?(S) (t.213, p.47, PB)
(12)A partir deste momento em vez de vos chamar crianas
ou pequeninos, vou chamar-vos seres humanos em vias de
desenvolvimento, est bem? (O) (t.1832, p.439, PE)
(13) A partir de agora em vez de chamarmos vocs de
meninos, crianas ou nenns, iremos cham-los de seres humanos
em vias de desenvolvimento certo? (O) (t.1839, p.393, PB)
"tu"
(14) que devias ter um carro, pap, porque no...(M)
(t.1121, p.291, PE)
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
171
(15) Voc devia ter um carro, pai. Por que voc no te....
(M) (t.1125, p.240, PB)
Foram encontradas 20 ocorrncias de vos no corpus-PE e
nenhuma no corpus-PB. Toda a comunicao realizada em
situaes que no so de extrema formalidade realizada com o
pronome tu na edio portuguesa; na edio brasileira, o pronome
tu s encontrado quando se est conjugando um verbo (Vamos
ver... eu me amo, tu me amas, ele me ama, ns nos... viu? NO
TEM! (S) (t.1710, p.365, PB)).
Que o sistema pronominal brasileiro se diferencia do
portugus j sabemos, pelo menos, a partir das pesquisas
diacrnicas realizadas por Duarte (1993, 1995). A autora estuda o
reflexo dessa diferenciao na realizao fontica do sujeito da
orao, um tpico ao qual voltaremos mais adiante.
Ainda encontramos nos corpora pelo menos dois termos que,
se so idnticos foneticamente, se apresentam distintos em
interpretao. O primeiro o pronome "a gente":
a gente
(16) Parece-te bem que a gente v trabalhar para um pas
estrangeiro? (M) (t.4, p. 61, PE)
(17) surpreendente! Toda a gente a quem pergunto isto
responde que sim. Resultado: no h maus!(M) (t.122, p. 85, PE)
(18) incrvel! Todas as pessoas pra quem eu fao essa
pergunta respondem SIM. Quer dizer ento que todo o mundo
bom! (M) (t.122, p.35, PB)
(19) Nesse caso no chegamos a grandes.(F) (t.13, p. 63,
PE)
(20) Nesse caso a gente no vai chegar a ser grande (F)
(t.13, p.8, PB)
No exemplo (16), a Mafalda no est se referindo a ela e mais
um conjunto de pessoas, como se poderia interpretar "a gente"
(como um pronome de "1
a
pessoa do plural"). Evidncia disso so
os exemplos (17) e (18): na edio portuguesa, o pronome "a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
172
gente" identifica um sujeito indeterminado, geral; tal pode ser
percebido na edio brasileira, que usa a expresso "as pessoas"
para a mesma frase. Quando na edio portuguesa se faz referncia
1
a
pessoa do plural categrico o uso do ns, enquanto que na
edio brasileira esse pronome utilizado com freqncia bem
menor do que a gente.
O segundo termo homfono o se:
se
(21) O indicador usa-se demais em poltica!...(M) (t.223,
p.105, PE)
(22) O indicador to usado pela poltica!(M) (t.224, p.50,
PB)
(23) O Miguelito tem razo: no espelho as coisas vem-se ao
contrrio...(M) (t.458, p.153, PE)
(24) O Miguelito tem razo. No espelho a gente v as coisas
ao contrrio(M) (t.462. p.100, PB)
Nos exemplos (21) e (23), temos o caso de passiva sinttica; a
edio brasileira evita essas construes em (22) e (24). Isso deve
estar ocorrendo porque a interpretao que um falante brasileiro d
a construes como as de (21) e (23) deve ser de reflexividade. Em
(23), por exemplo, no so as coisas que se vem umas as outras
ao contrrio, mas sim ns que as vemos ao contrrio. Nesse
momento, ganham importncia as anlises (9ii) e (9iii). A intuio
de falantes brasileiros revela a estranheza de (23) ser interpretado
como caso de passiva sinttica. Situaes experimentais, como
(9iii) prope, podem corroborar essas intuies: dado um
determinado trecho contendo uma passiva sinttica como em (23),
podemos medir o grau de estranhamento de um leitor ou de um
informante ao qual seja exigido passar determinada informao.
Tal medida pode ser feita em situaes controladas, evitando a
subjetividade da intuio e aumentando a base de dados (vrios
trechos podem ser aplicados a vrias pessoas).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
173
Vale notar que esse tipo de testagem, com as anlises de (9i),
(9ii) e (9iii) de uma idia (a de que o portugus brasileiro no mais
interpreta essa construo como passiva sinttica), mesmo que seja
considerada bvia, de extrema necessidade para a argumentao
que se pretende acadmica, cientfica. Sem isso, corremos o risco
anunciado na introduo desse artigo. A concluso "A
comprovao emprica faz parte da argumentao" pode ser nossa
primeira lio prtica. De outro modo: argumentos de autoridade
no tm lugar na argumentao cientfica.
A "averso" brasileira ao se observada nos casos abaixo:
(25) Ests a ver? Enterra-se a sementinha, cobre-se bem,
rega-se um pouco...(P) (t.67, p. 74, PE)
(26) Est vendo? s pr a sementinha, cobrir, regar um
pouquinho... (P) (t.67, p.21, PB)
Portanto, em relao a (8i), pudemos verificar o uso em
portugus europeu de determinados elementos estruturais (vos, tu,
a gente (com sentido indeterminado), se (com interpretao
passiva)) que no encontramos em portugus brasileiro. Veremos
que as evidncias para diferenas estruturais significativas entre
portugus brasileiro e portugus europeu se acentuam quando
analisamos a situao (8ii).
Se tomarmos o critrio de freqncia para aferirmos o caso
(8ii) e pudermos analisar esse critrio com cuidado, ento
podemos obter mais diferenas entre o portugus brasileiro e o
portugus europeu. Veja-se o caso do pronome acusativo de 3
a
pessoa em posio encltica. Seu uso restrito no portugus
brasileiro no apenas numericamente (58 ocorrncias no corpus-
PB contra 116 no corpus-PE) como estruturalmente: na edio
brasileira, seu uso est restrito a complemento de infinitivo,
enquanto o uso na edio portuguesa se expande para verbos
finitos, como vemos em (27), (28) e (29):
(27) Para o formigueiro! Esto a lev-lo para o
formigueiro!(M) (t.87, p. 78, PE)
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
174
(28) E, logicamente, o peso da cabea f-los esticar[.](M)
(t.18, p. 64, PE)
(29) A Susanita acabou de cur-lo! (Mn) (t.169, p.47, PB)
O exemplo (29) ilustra o uso restrito desse pronome no
portugus brasileiro e os exemplos (27) e (28) demonstram seu uso
mais geral no portugus europeu. Outra diferena entre esse
pronome a referncia que ele carrega: no portugus europeu pode
servir tanto para um ser animado como para uma orao; no
portugus brasileiro, apenas a primeira opo est disponvel,
como mostram (30), (31), (32) e (33):
(30) Ah! Devo avis-los que o primeiro pensamento sempre
em bruto[.](Mn) (t.61, p. 73, PE)
(31) reconfortante sab-lo!(M) (t.122, p. 85, PE)
(32) comovente v-lo com toda essa idiossincrasia
nacional (M) (t.703, p.151, PB)
(33) Isso me conforta! (M) (t.122, p.35, PB)
Em termos de arranjos estruturais, o cerne do caso (8ii),
chama ateno a presena no corpus-PE das combinaes -mo, -
ma, -to, -ta, -lho, -lha:
(34) isso... tiraste-mo da boca!(Mn) (t.547, p.171, PE)
(35) No troco que deram ao meu pap vinha esta moeda
furada e ele deu-ma (M) (t.1716, p.415, PE)
(36) Clalo, palema, mas no chego l, puqu que tos ia
pedi? (G) (t.1551, p.381, PE)
(37) Est bem, d-me a colher e eu meto-ta na boca[.](Ma)
(t.363, p.134, PE)
(38) Tenho o jornal em casa: amanh trago-lho e vimos
juntas, hem? (L) (t.1519, p.373, PE)
(39) No achas que muita gente compra porcarias s porque
lhas vendem na televiso? (M) (t.1035, p.272, PE)
Nenhuma destas combinaes foi atestada no corpus-PB.
Embora no tenham sido de uso amplo no corpus-PE (todas as
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
175
combinaes somaram 29 ocorrncias), digno de nota observ-
las em um registro de escrita informal, em uma publicao que
possui um pblico infanto-juvenil e em determinados casos, como
em (36), sendo produzidas por personagens em estgio de
aquisio de linguagem e pr-letramento. Essa anlise pode ser
estendida ao caso da mesclise. So seis as ocorrncias desse
possvel arranjo estrutural no corpus-PE e nenhuma no corpus-PB.
Mencionamos propositadamente o baixo nmero de
ocorrncias das combinaes entre pronomes e das mesclises
para abordar a observao que sempre feita em relao a
construes e arranjos estruturais ausentes de determinado corpus
(lngua oral, jornais ou, no nosso caso, registro escrito informal): o
portugus brasileiro possui a opo de realizar tais construes e
arranjos, apenas no a concretiza. Essa observao est presente
nos textos de Pasquale Cipro Neto e implicitamente (s vezes de
modo mais explcito) nas argumentaes de gramticos como
Bechara e Azevedo Filho para justificar a unidade dos registros
brasileiro e europeu da lngua portuguesa.
Tal observao pode ser resumida na seguinte sentena:
existe um conjunto de opes estruturais que so concretizados
em determinado registro mas no em outro. A questo que se
coloca de imediato : por que determinado registro (no nosso caso,
o portugus brasileiro) no concretiza tais opes? Duas so as
possveis respostas: o portugus brasileiro admite essas opes,
mas na fala opta-se, por razes lingsticas ou extra-lingsticas,
por no utiliz-las; o portugus brasileiro no admite essas opes
e por isso no as encontramos na fala. A primeira resposta a
escolhida pelos gramticos acima referidos. A segunda resposta
nos leva a admitir que h construes e arranjos estruturais no
disponveis no portugus brasileiro, tornando-o uma lngua
diferente do portugus europeu. Vamos explorar essa segunda
resposta.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
176
Nos corpora do "Projeto Mafalda", podemos observar dois
sistemas pronominais sendo utilizados, um na verso portuguesa e
outro na brasileira:
(40) sistema pronominal portugus: eu amo, tu amas, ele/a
ama, ns amamos, vocs amam, eles amam;
(41) sistema pronominal brasileiro: eu amo, voc ama, ele/a
ama, a gente ama, vocs amam, eles amam;
Como se pode perceber, o sistema pronominal portugus
possui cinco formas distintas enquanto que o brasileiro possui
apenas trs. No sistema pronominal brasileiro, uma desinncia (-a)
serve para trs formas (2 pes. sing., 3 pes. sing., 1 pes. pl.). No
sistema pronominal portugus, h apenas um sincretismo e
envolve apenas duas formas (2 pes. pl. e 3 pes. pl.). de se
esperar, portanto, que a possibilidade de sujeito nulo (Estamos
utilizando o termo "sujeito nulo" para designar o que se tem
descrito comumente como "sujeito desinencial" e de modo
informal "sujeito oculto) seja muito mais ampla em portugus
europeu do que em portugus brasileiro. Podemos dar um passo
adiante propondo a seguinte afirmao: o sistema de desinncia
verbal capaz de identificar o sujeito nulo. Essa afirmao se
encaixa no sistema pronominal portugus, mas serviria para o
sistema pronominal brasileiro?
Neste artigo, defendemos a idia de que somente um trabalho
de investigao controlado, que chamamos de pesquisa, capaz de
fornecer uma resposta adequada a esse tipo de pergunta. Os
estudos baseados em intuies (9ii) e em experimentos (9iii) nos
fornecem, juntamente com o tipo de estudo focalizado aqui (9i,
quantitativo), indicaes concretas de como abordar
adequadamente a pergunta acima. Um possvel teste dessa
afirmao pode ser visualizado da seguinte forma: se o sistema de
desinncia verbal capaz de identificar o sujeito nulo, ento
devemos esperar que o sujeito pleno ocorra apenas em situaes
restritas, como contextos pragmticos (de nfase e contraste, por
exemplo) ou ambguos (em que uma desinncia pode servir a mais
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
177
de uma forma). Assim, podemos verificar se o teste acima se
aplica com sucesso no portugus europeu e no brasileiro ou apenas
no portugus europeu. Vamos aos dados, comeando pela pesquisa
quantitativa (9i):
(42) "Ol, Susanita, _queres que te _diga o que _s heeeem?
Queres?"(Mn) (t.388, p.139, PE)
(43) O pap diz que no: CHEGA de espaguete! _Prefere
arroz[.](M) (t.1197, p.306, PE)
(44) "O papai disse que ele no quer esse refogado de novo;ele
prefere macarro" (M) (t.1201, p.258, PB)
(45) Explica-me essa coisa dos dentes de leite, mam. _Caem
todos de uma vez? PUMBA?(M) (t.515, p.164, PE)
(46) Mame, me explica esse negocio dos dentes de leite.
Eles caem todos de uma vez? POING?(M) (t.519, p.111, PB)
(47)Pap, quando _eras pequeno, de que cantor _ gostavas?
(M) (t.1915, p.454, PE)
(48)Pai, quando voc era criana de qual cantor voc
gostava? (M) (t.1915, p.409, PB)
(49) "Mafalda, no _viste por a uma caixa de fsfor..."(P)
(t.190, p. 99, PE)
(50) "Mafalda, voc VIU um caixa de fsforos por a?"(P)
(t.190, p.42, PB)
A frase interrogativa (42) ilustra o portugus europeu fazendo
pleno uso da afirmao de que a desinncia identifica o sujeito
nulo: h uma seqncia de trs verbos, todos com sujeito nulo.
Nenhuma seqncia de trs sujeitos nulos foi encontrada nas frases
interrogativas do corpus-PB. A frase (43) refora o uso do nulo no
portugus europeu e a verso brasileira, em (44), mostra algo
incomum no corpus-PE: um sujeito de 3 pessoa retomado na
orao subordinada e na orao principal seguinte. Tal uso do
pronome tambm verificado em (46), agora com um referente
inanimado. A verso portuguesa traz o sujeito nulo: no h
interrogativa no corpus-PE com pronome sujeito se referindo a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
178
inanimados; no corpus-PB, em 27 ocorrncias, 9 so com
pronome. Os pares (47)-(49), do corpus-PE, e (48)-(50), do
corpus-PB, mostram como a desinncia de 2 pes. sing.
diferenciada possui o poder de permitir o nulo: nenhuma
interrogativa com estrutura de vocativo no corpus-PE possui
pronome (em 22 ocorrncias); no corpus-PB, 75% (25 ocorrncias
em 33) trazem o pronome de 2 pes. sing.
Os dados acima demonstram como o sujeito nulo uma opo
vivel e portanto concretizada no portugus europeu e como o
portugus brasileiro no dispe dessa viabilidade. Caso dispusesse
dela, no teramos observado as verses brasileiras com sujeito
preenchido. Dessa forma, a primeira opo de resposta pergunta
em teste (o portugus brasileiro admite opes de sujeito nulo, mas
no as concretiza) se torna bastante problemtica: h uma srie de
contextos em que o portugus brasileiro poderia livremente utilizar
o sujeito nulo, mas no o faz; imaginar que o portugus brasileiro
utiliza restries (referncia, vocativo, animacidade) para impedir
o sujeito nulo complicar a anlise: por um lado, admite-se que o
nulo vivel, mas por outro admite-se uma srie de restries a
ele. A anlise mais simples, e que tambm condiz com os dados,
de que o sujeito nulo nesses contextos no uma opo do
portugus brasileiro.
Como dito anteriormente, os tipos de pesquisa em (9ii) e (9iii)
complementam as argumentaes encontradas em estudos
quantitativos (Duarte 1993, 1995; do "Projeto Mafalda", Villarinho
(2004), Forster (2004) e Lima (a sair)). Vejamos especificamente
algumas contribuies de (9ii):
(51) Esse doce, _comi todinho ontem
(52) E a Ana? _Falei que _saiu
(53) A Maria perguntou pro Joo se _vo sair de frias
(54) Essa competncia, ela de natureza mental
Podemos imaginar uma situao em que se pea a falantes do
portugus brasileiro para julgar a naturalidade das frases acima.
Um teste em voz alta auxiliaria a confirmar se as frases (51) a (53)
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
179
so pronunciadas com ou sem sujeito. Pode-se esperar um
resultado negativo para essas frases: elas no seriam consideradas
naturais, espontneas no portugus brasileiro. J a frase (54)
provavelmente receberia o tratamento inverso: em contextos em
que se quer destacar o elemento inicial, a presena do pronome no
vista como artificial. O teste estar completo ao apresentarmos
essas frases a falantes nativos do espanhol e do portugus europeu.
A expectativa, j confirmada em Duarte (1995), que obtenhamos
o comportamento inverso: aceitao de (51) a (53) e rejeio de
(54).
Em Duarte (1995), encontramos tambm a descrio de uma
situao que pode servir como base para um experimento (9iii):
em uma pea de teatro, o roteiro trazia vrias frases com sujeito
nulo que no momento da encenao foram ditas com sujeito
preenchido; no se registrou o caso inverso (frases que no roteiro
estavam com sujeito preenchido e foram ditas com sujeito nulo no
momento da encenao). Podemos pensar, ento, em uma situao
de leitura de trechos com frases com sujeito nulo, sendo a
instruo a tarefa de leitura em voz alta ou de repetio das frases.
Esta seo pretendeu verificar o proposto em (8), aqui repetido
como (55):
(55)
(i) se h elementos estruturais presentes em um dos
"registros", mas no no outro;
(ii) se h arranjos estruturais presentes em um dos "registros",
mas no no outro;
Para tanto, utilizamos mtodos de pesquisa, expostos em (9),
focalizando uma investigao quantitativa. Os dados apresentados
apontaram para anlises afirmativas do exposto em (55i) e (55ii):
h elementos e arranjos estruturais exclusivos do portugus
europeu, no atestados, no permitidos e julgados como artificiais
em portugus brasileiro.
Se (55) resume o critrio que utilizamos na seo 1 para
diferenciar lnguas, ento somos levados a concluir que o
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
180
portugus brasileiro deve ser considerado uma lngua diferente do
portugus europeu. O caso especfico que ilustrou tal afirmao foi
o do sujeito nulo: o portugus europeu possui um mecanismo
estrutural para identificao do sujeito nulo que o portugus
brasileiro no possui. Argumentamos que uma anlise que estipule
que o portugus brasileiro possui esse mecanismo mas no o
implementa possui complicaes tericas que a anlise acima no
possui.
Embora no vamos nos desfazer da diferenciao do
portugus brasileiro como sendo um sistema lingstico diverso do
portugus europeu, devemos reconhecer que tal diferenciao
ainda no se reflete por total nas produes brasileira e portuguesa.
Com isso, temos que responder a uma questo pendente: como
explicar casos de sujeito nulo no portugus brasileiro e casos de
estruturas sintticas idnticas em portugus brasileiro e portugus
europeu? Fica aqui uma segunda lio prtica: "Investigue o
quanto possveis excees podem enfraquecer sua hiptese".
Dedicamos a seo seguinte a tecer algumas consideraes que
vo nos ajudar a responder essa pergunta.
3. Explorando a definio de lngua
A abordagem da inteligibilidade mtua, exposta na seo 1,
argumentava que um conjunto suficiente de formas lingsticas
intercambiveis era suficiente para denominar portugus brasileiro
e portugus europeu como registros de uma mesma lngua. A parte
os problemas dessa abordagem, j ressaltados, percebemos que a
pergunta que encerrou a seo anterior remete tambm a aspectos
de produo. Isso significa que se observarmos as produes de
fala e de escrita, ainda encontramos muitas semelhanas entre
portugus brasileiro e europeu, o que diminuiria a fora da
afirmao de j serem lnguas diferentes. Aqui, consideraes de
vrias ordens entram em jogo.
Em primeiro lugar, vale a considerao de que uma mudana
nunca abrupta em relao ao sistema como um todo. No se
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
181
esperaria que de uma gerao lingstica para outra um nmero
muito grande de construes seja reanalisado. A idia mais
adequada de que a reanlise de uma construo leva a outras
reanlises. Tal fenmeno conhecido na Sociolingstica como
encaixamento da mudana: uma mudana leva a outra, que leva
a outra e assim por diante. A reduo do paradigma verbal do
portugus brasileiro ocorreu no incio do sculo passado. Portanto,
no h mais do que trs geraes separando o momento atual do
momento da mudana. Apenas a ttulo de exemplo, o paradigma
verbal do francs moderno levou 150 anos para se estabelecer
frente ao do francs antigo (Duarte 1993).
Em segundo lugar, poderamos adotar uma soluo tcnica
para dar conta das produes lingsticas semelhantes em
portugus brasileiro e portugus europeu. Observemos os
seguintes casos:
(56) Que fizeste tu?
(57) *Que tu fizeste?
(58) Que pos1 fizeste pos2?
(59) Vende-se uma casa
Em determinado momento da histria do portugus, as
interrogativas simples com pronome interrogativa permitiam
apenas a ordem verbo-sujeito (56), mas no sujeito-verbo (57).
Entretanto, em (58), o sujeito nulo. A partir de (56), podemos
analisar esse sujeito como ocupante da pos2; mas isso apenas
uma anlise por analogia. No h impedimento para analisar o
sujeito nulo como ocupando a pos1. Provavelmente essa segunda
anlise resultou na ordem que hoje atestada Que ( que) tu
fizeste? em portugus europeu. Caso semelhante acontece com
(59): trata-se de uma passiva sinttica, cujo sujeito uma casa,
ou de uma construo com sujeito indeterminado, sendo uma
casa o objeto? Se uma gerao analisa (59) do segundo modo
pode produzir Vende-se casas sem problemas, j que casas
objeto, no havendo concordncia. O ponto crucial que tanto em
uma anlise de passiva sinttica quanto de indeterminao do
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
182
sujeito, a estrutura (59) produzida de modo idntico. Podemos
imaginar dois sistemas matemticos produzindo a mesma
seqncia {2, 4, 6, 8...}. O primeiro pode estar seguindo a
instruo a partir de 0, some 2 indefinidamente e o segundo com
a instruo a partir de cada mpar, some 1 indefinidamente. O
resultado o mesmo, apesar das instrues diferentes. Algo
semelhante pode estar acontecendo com o portugus brasileiro e o
portugus europeu.
Por fim, em terceiro lugar, podemos considerar a relevncia
do contato entre uma gramtica brasileira e gramticas que ainda
refletem estgios anteriores da lngua. Tal contato se d,
principalmente, atravs do uso da chamada Norma Padro ou
Culta, tanto no registro oral quanto no escrito. Exemplo desse
contato esse prprio artigo: aqui, h construes com nclise,
pronome relativo cujo, pronome tono de 3 pessoa em posio de
objeto (o, a), verbo haver... todos esses, elementos e
construes, no so verificados em registros espontneos e de
crianas em idade pr-escolar, a fase em que se considera que
acontece o processo de Aquisio da Linguagem. A Norma
Padro, por definio, atua como verdadeira fora conservadora,
desacelerando o processo de mudana. Tal fator no pode ser
desconsiderado ao analisarmos as pretensas semelhanas entre o
portugus brasileiro e o europeu; pelo contrrio, podemos explorar
uma idia, que apesar de parecer radical, pode dar conta de
algumas questes a respeito de ensino de Norma Padro na escola.
Essa idia veiculada, por exemplo, na argumentao de
Soares (1990) sobre esse tema. A autora prope um ensino que
seja baseado no bidialetalismo funcional: tanto a norma que o
aluno leva escola quanto a norma da escola formariam o foco da
aula de lngua portuguesa. O uso do termo dialetal interessante.
Por um lado, a definio de dialeto faz referncia variao
geogrfica; a autora est abordando a questo da variao social
(diastrtica). Portanto, o termo mais adequado faria meno a
registro ou norma, por exemplo. Por outro lado, Soares em alguns
momentos de sua argumentao prope que o ensino da Norma
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
183
Padro seja feito como o ensino de uma segunda lngua para o
aluno que no domina essa Norma. Aqui, portanto, nem dialeto
nem registro so termos adequados.
O que se destaca desse ponto de vista de Soares, no entanto,
sua abordagem em relao prtica, considerando a Norma Padro
como segunda lngua. Outros autores, entre eles Kato (1999, a
sair), propem que todo brasileiro escolarizado possui uma
gramtica nuclear (adquirida na infncia atravs de um processo
natural) e uma gramtica perifrica (aprendida durante a
escolarizao atravs de um processo artificial). Desse modo, a
Norma Padro seria como uma segunda gramtica (logo como uma
segunda lngua), relacionada, mas autnoma, em relao
gramtica da lngua materna (nuclear).
Essa proposta d conta, por exemplo, da dificuldade de
julgamentos de algumas estruturas do portugus brasileiro.
"Contaminado" pela gramtica perifrica, os falantes fornecem
julgamentos variveis e s vezes incoerentes. Essa proposta
tambm d conta do problema que encerrou a seo anterior: todo
falante escolarizado tem na sua produo lingstica os reflexos
dessa segunda gramtica e da os casos que observamos, por
exemplo, nesse texto, como mencionado acima (uso do verbo
haver, do pronome cujo, etc.) Ainda essa proposta consegue dar
conta da dificuldade no aprendizado da Norma Padro pelos
alunos: se, de fato, a Norma Padro se configura como uma
segunda lngua, ela deve ser ensinada como tal; o fracasso do
aluno pode ser explicado em parte por estar sendo apresentado a
uma segunda lngua sem uma metodologia de ensino de segunda
lngua. Tal situao se agrava ainda mais nos adultos que no
dominam a Norma Padro. Se a hiptese do perodo crtico
(quanto mais tarde se aprende uma segunda lngua, mais difcil
esse aprendizado, ver Pinker 1994), estiver correta, ento, a
resistncia de falantes adultos a estruturas da Norma Padro
simplesmente um reflexo biolgico, no algo fruto da preguia,
ignorncia ou outro pejorativo qualquer.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
184
4. Finalizando e indo alm
Neste artigo, pretendemos discutir questes tericas e prticas
a respeito da pesquisa lingstica na rea de Letras. Para tanto,
ilustramos essa discusso com a anlise de uma questo
motivadora ("Portugueses e brasileiros falam a mesma lngua?").
Essa anlise foi revelando, aos poucos, a centralidade da atividade
de pesquisa. Tentamos mostrar que as lies tericas (na seo 1) e
as prticas (na seo 2), aqui repetidas em (60), devem guiar o
trabalho cotidiano da anlise de questes lingsticas:
(60)
1a lio terica: "Esclarea os termos da questo em debate"
2a lio terica: "Coloque prova as suas definies"
1a lio prtica: "A comprovao emprica faz parte da
argumentao"
2a lio prtica: "Investigue o quanto possveis excees
podem enfraquecer sua hiptese"
No outra se no a indicao de pesquisas o que mostram as
referncias citadas durante a anlise, o que feito de modo
explcito em Bagno (2001). A rea de Letras deve ceder a uma
insero radical na anlise cientfica, sob pena de os contedos
expostos nos cursos ficarem a merc de argumentos subjetivos, de
autoridade, tendo a tradio como talvez nico fator relevante.
A pesquisa apresentada neste artigo e as argumentaes aqui
contidas no pretenderam esgotar o assunto da questo
motivadora. Muito pelo contrrio: existe a plena conscincia de
que talvez nem o primeiro passo tenha sido dado se as idias
centrais a respeito de teoria, prtica e aplicao de resultados
tiverem sido absorvidas, a sim poderamos falar em um primeiro
passo. Alm disso, o que precisamos: "Mais pesquisas!
Referncias bibliogrficas
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
185
BAGNO, M. Preconceito lingstico: o que , como se faz. So
Paulo : Loyola. 1999.
BAGNO, M. Dramtica da lngua portuguesa: tradio gramatical,
mdia & excluso social. So Paulo : Loyola. 2000.
BAGNO, M. Portugus ou brasileiro? Um convite pesquisa. So
Paulo : Parbola. 2001.
BECHARA, E. Moderna gramtica portuguesa. Rio de Janeiro :
Lucerna. 1999.
CHOMSKY. N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge : MIT
Press. 1965.
COSERIU, E. Teoria da linguagem e lingstica geral. Rio de
Janeiro : Presena. 1987.
DUARTE, M. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetria do
sujeito no portugus do Brasil. In I. Roberts & M. A. Kato
(orgs.) Portugus Brasileiro: uma viagem diacrnica.
Campinas: EdUNICAMP. 107-128. 1993.
DUARTE, M. A perda do princpio "Evite Pronome" no portugus
brasileiro. Tese de Doutorado : UNICAMP. 1995.
FORSTER, Rua "Ns j falamos brasileiro?" - uma reflexo da
lingstica sobre as diferenas sintticas entre o portugus
brasileiro e o portugus europeu: interrogativas sem elemento
esquerda. Caderno de Resumos da XIII Jornada de
Iniciao Cientfica da UERJ. 2004.
KATO, M. Aquisio e aprendizagem de lngua materna: de um
saber inconsciente para um saber metalingstico. in:
CABRAL, G., MORAIS, J. Investigando a linguagem.
Mulheres : Florianpolis. 1999.
KATO, M. A gramtica do letrado: questes para a teoria
gramatical. in: M. A.Marques, E. Koller,J. Teixeira & A.
S.Lemos (orgs). Cincias da Linguagem: trinta anos de
investigao e ensino. Braga, CEHUM (U. do Minho), a sair.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
186
LIMA, Rua Interrogativas no Portugus Brasileiro e no Portugus
Europeu e o Parmetro do Sujeito Nulo: contribuies do
corpus Mafalda. (no prelo).
LOBATO, L. Sintaxe gerativa do portugus: da teoria padro
teoria de regncia e ligao. Belo Horizonte : Viglia. 1986.
MATTOS E SILVA, R. V. O portugus arcaico: morfologia e
sintaxe. So Paulo : Contexto. 1993.
PINKER, S. O instinto da linguagem. So Paulo : Martins Fontes.
1994.
SAUSSURE, F. Curso de lingstica geral. So Paulo : Cultrix.
1969.
TARALLO, F. Tempos lingsticos: itinerrio histrico da lngua
portuguesa. So Paulo : tica. 1994.
VILLARINHO, C., FORSTER, Rua Portugus brasileiro e
portugus europeu: uma s lngua? Anais da 1
a
JEL/UERJ. A
sair.
VILLARINHO, C., FORSTER, Rua, LIMA, Rua Material de
divulgao do Projeto Mafalda (2003-2005). Disponvel em
http://geocities.yahoo.com.br/ricardoling.2005.
VILLARINHO, C. "Ns j falamos brasileiro?" - uma reflexo da
lingstica sobre as diferenas sintticas entre o portugus
brasileiro e o portugus europeu: interrogativas com elemento
esquerda. Caderno de Resumos da XIII Jornada de
Iniciao Cientfica da UERJ. 2004.
A variabilidade lingstica no campo
da ortografia e suas conseqncias
fonticas e fonolgicas
Ncia de Andrade Verdini Clare UERJ
Ao estudar a linguagem, convivemos com a lngua em seu
aspecto dinmico. Linguagem faz-se a cada dia; processo
contnuo.
Os conceitos de sincronia e diacronia interrelacionam-se. A
linguagem no pra. No existe gramtica ou dicionrio que
acompanhe as mudanas lingsticas. Talvez por isso todo estudo
no campo da linguagem seja enriquecedor e nos conduza a um
interesse constante de descobrir.
Nesse trabalho, nosso corpus vivo. Trata-se de vinte
redaes de alunos de uma turma de 8 srie de escola municipal
de uma prestigiada escola particular. Examinaremos caso por caso,
tratando-se especificamente do lxico. Numerados os textos, os
verbetes suceder-se-o na ordem em que aparecem onde foram
extrados. As surpresas que teremos e as descobertas que faremos
s esse levantamento nos dir e as concluses surgiro no fim
desse trabalho.
Levantamento de alteraes ortogrficas em redaes de
alunos de ensino fundamental e mdio:
- 8 srie de uma escola municipal do Rio de Janeiro
Texto n 1
1 parques de diveres A palavra diveres escrita com
um problema puramente de desvio grfico, falta de domnio da
conveno ortogrfica vigente, uma vez que o fonema o mesmo:
/s/ e nada altera a ortoepia ou a prosdia e no se cria um novo
signo lingstico;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
188
2 vrios Falta de domnio das regras de acentuao leva o
aluno a ignorar o acento agudo nos paroxtonos terminados em
ditongo crescente. Essa falha pode conduzir alterao prosdica
em pessoas desavisadas;
3 gringros Variante de gringo, termo pejorativo com que
se refere a estrangeiros. O fonema /r/ um fonema lquido,
considerado instvel, da, por analogia com a slaba tnica, um
novo grupo consonantal por assimilao formado na slaba tona,
bem ao gosto popular;
4 futibol Variante fontica de futebol. A grafia com [i]
puramente fontica. Trata-se de um alteamento da vogal pretnica.
5 tamb tem por tambm tem A desnasalizao em
tambm um problema de fontica sinttica. Cria-se um grupo de
intensidade cuja nasalidade vai concentrar-se na slaba final tem.
Trata-se de um processo de dissimilao do som nasal. Sendo as
slabas inicial e final nasais, a slaba medial perde a nasalidade;
6 mal Como adjetivo, deveria ser escrito com u. A grafia
com l se d pelo fato de o l final, no portugus do Rio de Janeiro,
vocalizar-se, criando-se um 12 ditongo decrescente.
Foneticamente no h distino entre mal e mau no portugus
do Rio de Janeiro. O desconhecimento da classe gramatical leva o
aluno a escrever indistintamente mal ou mau.
7 todo o lugar A presena do artigo depois do indefinido
todo se deve a um prolongamento do arquifonema /U/ no grupo
sintagmtico. Trata-se de um problema de fontica sinttica. Outra
justificativa seria a necessidade de acompanhar o substantivo
sempre com um artigo. comum observarmos o emprego de cujo
o mais um substantivo.
8 coruptos Variante de corruptos. Os fonemas /r/ e /r forte/
so lquidos, portanto instveis. No caso, com menor vibrao das
cordas vocais, o fonema passa de velar a alveolar. O fato se d,
provavelmente, por uma assimilao parcial aos fonemas
consonantais que se seguem, /p/ /t/, labial e dental
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
189
respectivamente. Permanece apenas o fonema voclico /u/ com
aspecto velar.
Pode-se, ainda, concluir que a grafia do dgrafo para
representao do fonema /r forte/ seja desconhecida, o que levaria
a escrevercomo alveolar, mas pronunciar como velar. Nesse caso,
a letra r assumiria dois valores fonolgicos, um velar, outro
alveolar;
9 robando Variante de roubando. Ocorre a absoro do /u/
semivogal do ditongo /ou/. O fenmeno, que oral, acaba
atingindo a escrita;
10 prejudicado por prejudicando. Ocorre a desnasalizao,
fenmenoque se iniciou no latim vulgar (mensa>mesa) e se
prolonga at nossos dias.
11 porcausa Variante grfica de por causa. Tratando-se de
um nico vocbulo fonolgico, o usurio da lngua tende a
aglutin-lo numa nica forma;
12 pais por pas No dominando regras de acentuao, o
aluno torna homnimas as palavras pais (plural de pai) e pas, s
sendo capaz de distingui-las no contexto. O problema
exclusivamente grfico porque a leitura do texto impe a
pronncia oxtona;
13 pro por para o. Fenmeno j comum na lngua oral, a
sncope do primeiro a de para e a absoro assimilatria do
segundo a geram a aglutinao de para o em pro. Consagrado pelo
uso, a forma j atinge a lngua escrita.
14 seguestros Variante grfica de seqestros. O aluno
confunde as homorgnicas /q/ e /g/, optando pela sonoridade do
/g/. A falta do trema no merece ser comentada, uma vez que,
quando entrar em vigor a nova lei ortogrfica, o trema ser
abolido;
15 dezenhos Variante grfica de desenhos. O problema
no fontico nem fonolgico. Em ambas as formas, o fonema o
mesmo: /z/, fricativo, anterolingual (ou alveolar), sonoro, oral;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
190
16 contina por continua A falha aqui, provavelmente,
ser uma distrao grfica. O aluno omite o /u/ de continua, sem
que haja a inteno de sincop-lo. Talvez o faa para evitar o hiato,
tendncia essa observada no latim vulgar;
17 onesto Variante grfica de honesto. O h uma letra
etimolgica, sem valor fontico no portugus. Surgiu no perodo
medieval para marcar a tnica (he) e o hiato (trahedor). Confundia-
se com o iode e j refletia uma palatalizao.
comum vermos em textos medievais ome e omem (de
homine). A forma com h de homem deve ser resultado de uma
reconstituio.
18 comviver Variante grfica de conviver. O m marca a
nasalidade da vogal. Para Mattoso Cmara, um arquifonema
nasal, representado pelo /N/. A grafia com /m/ ou /n/
convencional: m antes de p e b por serem labiais; n diante das
demais consoantes. O desvio pode ter ocorrido, ainda, por analogia
com a preposio com;
19 e Variante de (verbo ser) . O desconhecimento de
regras de acentuao leva no-oposio entre e (conjuno) e
(verbo). S o contexto faz a distino, assim mesmo podendo
atrapalhar a decodificao da mensagem;
20 imposivel Variante de impossvel. A grafia com s no
lugar de ss, entre vogais, provoca a sonorizao do fonema: /s/ >
/z/. Isto talvez se d pela aproximao com o fricativo sonoro /v/
num processo de assimilao sonora. O desconhecimento de que o
paroxtono terminado em l deve ser acentuado pode conduzir uma
pessoa menos informada a alterar a prosdia, tornando a palavra
oxtona;
21 proplema Variante de problema. Por um processo de
assimilao total progressiva, o /b/ ensurdece e passa a ser
substitudo por sua homorgnica p/. Toda a dificuldade de
pronncia dessa palavra reside na formao de dois grupos
consonantais em que o segundo fonema lquido;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
191
22 prejudicado por prejudicando, gerndio. A
desnasalizao, aqui, provavelmente gerada por um descuido. O
comum seria encontrarmos a variante prejudicano com sncope do
/d/;
23 cotrolarem Variante de controlarem. A desnasalizao
deve ser um processo assimilatrio, uma vez que se tratzde slaba
inicial (acento frasal 2) e a pretnica tambm oral;
24 a cabar por acabar. O problema grfico. Fontica ou
fonologicamente, no se justifica o fenmeno da deglutio.
Morficamente, sim, pois o a do radical de acabar separado por
analogia com o artigo a.
Observao:
A pontuao em toda a extenso do texto escassa,
especialmente no que se refere s vrgulas. Isso vai
gerar um novo ritmo de leitura e maior dificuldade
na transmisso da mensagem.
Texto n 2
1 violencia por violncia. O desconhecimento das regras
de acentuao leva omisso do acento circunflexo em violncia
(paroxtono terminado em ia, ditongo instvel crescente). Trata-
se, to-somente, de uma questo grfica, uma vez que,
pronunciadas, as palavras no sofrem oposio: [violeN sia], no
havendo, portanto, alterao prosdica;
2 e etc O uso do e pleonstico. Revela desconhecimento
etimolgico do sentido da abreviatura etc. Paulatinamente,
tratando-se de um latinismo, o sentido se perde no tempo e
inovaes surgem na norma como reforo da idia de
continuidade;
3 emfim. Variante de enfim. A grafia da slaba nasal com m
ou n convencional. Usa-se m antes de fonema labial (/p/; /b/) e n
antes de dental ou velar. Para Mattoso Cmara, sempre o
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
192
arquifonema /N/. O problema grfico, no fontico e no
fonolgico;
4 trafico por trfico. O desconhecimento das regras de
acentuao conduz o aluno no-acentuao do proparoxtono.
Considerando-se a notvel incidncia do fato entre alunos do
ensino fundamental e do ensino mdio, poder-se-ia dizer que h
uma tendncia na lngua escrita de abolir o acento dos
proparoxtonos. Nesse caso, o conhecimento da prosdia se daria
apenas pelo contexto;
5 polecia Variante de polcia. A oscilao e/i um
fenmeno comum da lngua oral, que se estende escrita.
Tratando-se da slaba tnica, ocorre uma ligeira abertura e
abaixamento. Passa-se da vogal alta, que no apresenta oscilao
de timbre, vogal mdia de 2 grau ( nomenclatura de Helmut
Ldtke, adotada por Mattoso Cmara);
6 corronpida por corrompida. O smbolo da nasalidade ,
para Mattoso Cmara, o arquifonema nasal, representado por /N/.
Convencionalmente, usa-se m antes de p e b por serem labiais. O
aluno demonstra desconhecer regras de ortografia e bvio que
lhe falta o hbito da leitura;
7 pessouas Variante de pessoas. O encontro ao, em hiato,
difcil de ser pronunciado. Conduz formao de uma semivogal,
formando o ditongo fontico [ow];
8 meseria Variante de misria. Por fenmeno de
assimilao total, passa-se da vogal alta /i/ mdia de 2 grau: /e/
fechado. Considerando se o alteamento fontico da pretnica
(harmonizao voclica, segundo Sousa da Silveira) em palavras
como menina /minina/ e /kuzina/ , procura-se corrigir misria,
dizendo-se meseria. A falta do acento agudo na slaba que precede
o ditongo crescente no altera a prosdia. Revela, apenas, um
desconhecimento de que so acentuados os paroxtonos
(eventualmente, proparoxtonos) terminados em ia (ditongo
crescente instvel);
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
193
9 demenuir - Variante de diminuir. Ocorre um abaixamento
e uma abertura das vogais, passando de alta e fechada a mdia de
2 grau. A oscilao e/i fato rotineiro e pode ter ocorrido uma
dissimilao em relao ao i da slaba tnica;
10 empossivel Variante de impossvel. Tratando-se da
slaba inicial nasal, ocorre um abaixamento e leve abertura,
passando de vogal alta, fechada, a mdia de 2 grau. A falta de
pingo no i uma constante e o acento praticamente abolido,
mostrando-se desconhecimento da regra que acentua os
paroxtonos terminados em l;
11 violensia Variante de violncia. Observa-se a falta de
pingo no i, constante na redao desse aluno, embora de forma
assistemtica: ora pinga o i, ora no. A no-acentuao da slaba
tnica corresponde observao feita no item 2, texto n 1. A
substituio do c por s questo grfica, no havendo alterao
fontica ou fonolgica. Observa-se uma assistematizao na escrita
desse aluno. A palavra violncia aparece, na mesma redao, com
trs formas: violncia, violncia (forma dicionarizada) e violensia;
12 soluco Variante de soluo. A ausncia da cedilha no
c pode ser conseqncia de uma distrao e no a formao de
uma variante. Provoca, todavia, alterao fonolgica. O fonema /s/
passa a /k/, ou seja, de anterolingual (alveolar) a posterolingual
(velar);
13 poi por pois, conjuno coordenativa explicativa. A
ausncia do s final, arquifonema /S/, segundo Mattoso Cmara,
um caso de apcope, comum ao fonema travador de slaba. A
slaba torna-se livre, terminando no ditongo. Pode, ainda, ser
resultado da distrao permanente. Mais comum e justificvel teria
sido a absoro do /y/ semivogal, grafando-se pos;
14 conssegue Variante de consegue. A grafia com ss
questo grfica. No h alterao fontica nem fonolgica.
Mantm-se o mesmo fonema /s/. Perde-se a noo de que, aps
arquifonema nasal, realiza-se o fonema /s/, como em cansao, e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
194
sente-se, conseqentemente, a necessidade do uso de ss para obter
o fonema /s/.
Texto n 3
1 Problema (em maiscula) por problema (em minscula).
Nota-se uma assistematizao em relao ao uso de maisculas e
minsculas, o que ocorre tambm em Soluo.
Texto n 4
1 aucar por acar. A ausncia do acento no u representa
um desconhecimento da regra que determina serem acentuados os
paroxtonos terminados em r. Talvez seja uma tendncia
lingstica abolir os acentos, como ocorre no ingls. No caso de
acar, de Po de Acar, a ausncia do acento no provoca
alterao prosdica, considerando o uso cotidiano do signo;
2 tiatros Variante de teatros. Ocorre o fenmeno do
debordamento (Viggo Brndal), citado por Mattoso Cmara em
relao a voar /vuaR/ e passear /pasi1aR/. As vogais altas
debordam as mdias. O fenmeno fontico.
3 mais Variante de mas, do Latim magis. Magis/ g/>
magis /j/ > mais (hiato) > mais (ditongo) > mas..O sentido inicial
de mays/mais era de intensidade., ficando pero com o valor
adversativo. Aos poucos, mays vai adquirindo sentido adversativo
e o iode absorvido, criando-se a forma divergente mas. Sendo a
pronncia quase idntica, distinta quase que praticamente pela
tonicidade/atonicidade, normal a grafia de mas como mais por
analogia com o advrbio de intensidade;
4 esta por est (verbo estar). A ausncia de acento na
ltima slaba de est (oxtono terminado em a) pode levar a uma
alterao prosdica: [eSta] paroxtona por [eS1ta] oxtona;
5 estrupo Variante de estupro. Sendo o /r/ fonema lquido,
portanto instvel, comum sofrer mettese, como aqui ocorre. O
mesmo acontece nos dias atuais com largato (por lagarto);
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
195
6 sequestro por seqestro. A ausncia do trema no chega
a desfazer o ditongo crescente, gerando um dgrafo, por ser a
palavra de uso corrente. J abolido pela nova lei ortogrfica
aprovada no Congresso, o trema deixar de ser usado;
7 tem por tm (3 pessoa do plural do presente do
indicativo do verbo ter). A ausncia do acento que estabelece uma
certa durao da vogal e distingue singular de plural faz com que
s o contexto possa estabelecer a oposio entre as pessoas
verbais. No uso de tem (por tm) ocorre o fenmeno assimilatrio
da crase: [teeN] > [teN];
8 diminue Variante de diminui. muito freqente o final
eu no lugar de ui. Aparece, geralmente, em possue (por possui). O
iode substitudo pela vogal e que parece conferir maior status
fonolgico slaba final tnica;
9 estam Variante de esto. Desde o incio da formao da
lngua portuguesa, os finais , am, on, se confundem. A
ditongao se deu a partir do sculo XIII, mas, at hoje, nota-se
com freqncia o uso de am por o. No caso presente, ocorre
alterao prosdica: estam paroxtono; esto, oxtono;
10 super lotadas por superlotadas. Tratando-se de prefixos,
as variantes se acumulam. difcil saber quando us-los separados
por hfen e quando aglutin-los. As regras so inmeras e o
usurio da lngua no as domina. Da, a convivncia entre as duas
formas. Problema exclusivamente grfico.
Texto n 5
1 rio variante de Rio (de Janeiro). O desconhecimento do
cdigo de emprego de maisculas leva ao tratamento de comuns
dado a substantivos prprios. Rio cidade e rio corrente d
gua passam a confundir-se, distinguindo-se apenas no contexto;
2 existi variante de existe. A posio final tona da vogal
desfaz a oposio entre mdia e alta, na lngua falada, em favor da
vogal alta, levando formao do arquifonema / I /. A prosdia
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
196
continua a mesma, no se confundindo existi (como presente) com
existi (pretrito perfeito).
Texto n 6
1 espera variante de esperar. A apcope do r final
romnica. Pertence deriva da lngua e j um comportamento
esperado, uma vez que o r, quando final, tende a ser apocopado.
Na linguagem oral, a pronncia com r final s ocorre, no Rio de
Janeiro, em certas condies sociais de cunho formal . Todavia, o
a final deveria ser acentuado para tornar a palavra oxtona. A no-
acentuao torna homnimos o infinitivo verbal e a 3 pessoa do
singular do presente do indicativo, dificultando a compreenso do
texto. De qualquer maneira, tratando-se de um texto escrito, no
qual se espera o uso da variedade culta da lngua, no se justifica o
uso de espera por esperar.
Texto n 7
1 coincentisar variante de conscientizar. O s-, letra
diacrtica do dgrafo sc, anulado justamente por seu aspecto
mudo. Desenvolve-se um iode como ponto de apoio vogal nasal
/oN/. Esse /y/ pode ser resultante da mettese do /i/ da slaba
imediatamente posterior. Quanto grafia do sufixo com s. trata-se
de problemas apenas grfico, j que o fonema o mesmo: /z/;
Texto n 8
1 pra variante de para. A sncope do a de para resultante
de uma dissimilao, ocorrida graas tendncia popular de
formar grupos consonantais com a lquida /r/. Pra j forma
consagrada. Aparece em textos literrios, especialmente em
crnicas, e em qualquer expresso de linguagem coloquial, seja ela
oral ou escrita. A relao prosdica alterada, passando a
preposio de disslabo tono a monosslabo tono. Tratando-se de
palavra cltica, a supresso do a forma conjunto mais harmonioso
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
197
com o monosslabo tnico que se lhe segue (pra mim). Cria-se,
pois, um problema de fontica sinttica;
2 excees variante de excees. Trata-se de um desvio
comum e apenas grfico. O fonema o mesmo: /s/. As duas
formas convivem no uso e s o futuro dir se a forma
dicionarizada conseguir impor-se;
3 oculpar variante de ocupar. H duas explicaes
plausveis para o l de oculpar: uma de cunho analgico; outra em
nvel fontico. Por analogia com o verbo culpar, teria surgido
oculpar. Por outro lado, considerando-se que a slaba tona inicial
aberta, formada de uma s vogal, sentiu-se a necessidade de um
apoio, de um travamento, na slaba seguinte. Desenvolveu-se um l
velar, como o u da slaba, em aproximao;
4 desintendimento variante de desentendimento. Situada
entre duas slabas com o fonema voclico /e/ (slabas de e tem),
ocorre a dissimilao, alteando a vogal. A slaba sen passa a sin;
5 concincia variante de conscincia. O s-, letra diacrtica
que marca o dgrafo sc, tende a ser absorvida, justamente pela falta
de valor fontico;
6 poblema variante muito observada de problema. A
dificuldade de pronncia provocada por dois grupos consonantais
formados de oclusiva mais lquida leva dissimilao do fonema
/r/, desfazendo, assim, o primeiro grupo consonantal. As formas
problema variedade culta e poblema variedade popular-
convivem na norma e s o tempo dir qual sobreviver.
Texto n 9
1 por h (do verbo haver). Foneticamente no se
distinguem. S morfologicamente sabemos que o resultado da
contrao da preposio a com o artigo a; h verbo haver. O
usurio da lngua (no caso, o aluno) confunde os dois e, dessa
forma, trunca a mensagem.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
198
Texto n 10
1 sencivelmente variante de sensivelmente. A troca do s da
segunda slaba por c questo puramente grfica. Dir-se-ia que
ocorre uma dissimilao grfica. Fontica e fonologicamente no
h alterao. O fonema o mesmo: /s/ - fricativo, anterolingual,
surdo, oral.
Texto n 11
1 adiquiridos variante de adquiridos. O encontro
consonantal disjunto dq difcil de ser pronunciado. Degundo
mattoso Cmara, uma vogal epenttica surge sempre nesses casos
como ponto de apoio slaba que passa a aberta. No caso do
portugus do Brasil, essa vogal costuma ser i;
2 mai por mais. A apcope da consoante final fato
fontico comum. Entretanto, em se tratando do arquifonema /S/,
dificilmente esse fenmeno ocorre. Provavelmente o que houve foi
um lapso grfico corrigvel numa reviso.
Texto n 12
1 qui por que. Tratando-se da vogal tona final, ocorre
neutralizao entre vogais mdias e altas, com predomnio das
altas. Surge o arquifonema /I/. O problema ocorre em nvel
fontico, no causando alterao fonolgica.
Texto n 13
1 luxoosos variante de luxuosos . Ocorre, aqui, um
processo de assimilao. A vogal u de luxuosos, pelo contato com
a vogal seguinte tnica, sofre um abaixamento, passando de alta a
mdia. Parece-nos, no entanto, que se trata de uma confuso
apenas grfica, em que se imagina ter ocorrido uma harmonizao
voclica na pronncia oral e se prope, ento, a fazer a correo na
linguagem escrita;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
199
2 nos por ns. A omisso do acento no monosslabo tnico
em o seguido de s conduz a um problema morfolgico: o pronome
pessoal reto, tnico, ns se iguala ao pronome pessoal oblquo,
tono nos, o que pode dificultar o entendimento da mensagem;
3 em quanto variante de enquanto. Por analogia com a
preposio em, ocorre a deglutinao, problema exclusivamente
grfico, a princpio, pois pode vir a influenciar no lxico.
Lembremo-nos o caso de horologiu> o relgio .
Texto n 14
1 belesa variante de beleza. Os sufixos esa e eza oferecem
apenas oposio grfica e morfolgica, no havendo distino
fontica ou fonolgica. No caso em estudo, trata-se de um
substantivo derivado de adjetivo: o sufixo eza.
2 ruis variante de ruins. A desnasalizao no nos parece
proposital ou mesmo um fenmeno que merea ser explicado.
Parece-nos, sim, conseqncia de um relaxamento de escrita em
que letras so comidas ao acaso. Concluindo: o fenmeno
grfico e no fontico ou fonolgico como pode parecer a
princpio;
3 saiem variante de saem (verbo sair). Talvez por analogia
ao verbo no infinitivo (sair), talvez pela dificuldade de pronncia
do hiato ae, desenvolve-se um iode epenttico, que, junto vogal a
precedente, formar um ditongo. Esse iode tende a um
prolongamento sai-iem ditongo decrescente + ditongo
crescente;
4 tm por tem (verbo ter). O acento deve-se a uma
confuso na regra de acentuao. So acentuados os oxtonos
terminados em em. Tem no oxtono; monosslabo tnico.
No se encaixa, pois, na regra. Todavia, provavelmente por uma
associao analgica com palavras como tambm, aparece tm
acentuado. questo puramente grfica, no havendo
comprometimento fontico nem fonolgico;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
200
5 reevindicar variante de reivindicar. A substituio do i
por e um processo de assimilao. O iode passa a vogal,
desfazendo o ditongo, ao aproximar-se da vogal mdia da slaba
inicial.
Texto n 15
1 h por a preposio. Ocorre o fenmeno inverso do que
foi estudado no texto nmero 9. A preposio e o verbo so
homfonos. Ao usar o verbo no lugar da preposio, o aluno
dificulta o entendimento do texto. O problema no apenas
grfico. tambm fonolgico, pois altera o valor morfolgico do
signo, dando-lhe um novo significado e truncando a mensagem;
2 analizar variante de analisar. A alterao apenas
grfica. O fonema permanece o mesmo: /z/, fricativo,
anterolingual, sonoro, oral. No plano morfolgico, notam-se
alteraes, pois no se trata do sufixo iz, formador de verbos em
izar, mas, aqui, o s faz parte do radical da palavra primitiva:
anlise.
Texto n 16
1 - aconhecem por a conhecem. Desconhecendo o valor
morfolgico do a como pronome oblquo, o aluno aglutina-o ao
verbo. O problema grfico e morfolgico se estende, tambm,
significao, uma vez que a leitura do texto fica prejudicada;
2 - noticiais variante de notcias. Esse /i/ epenttico surge
como iode /y/, forando a existncia de um novo ditongo
decrescente, o que vai facilitar a pronncia, pois o ditongo ia
crescente, portanto instvel;
3 ocorrem por correm. No se trata de uma prtese, mas de
uma confuso semntica entre os verbos correr e ocorrer. O
prejuzo fica na mensagem ;
4 trs variante de traz (verbo trazer). O problema grfico,
e morfolgico, mas no fontico. Confundem-se verbo e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
201
preposio, mas, em ambos os casos, trata-se do arquifonema /S/
travador de slaba: /trs/;
5 extrutura variante de estrutura. O desvio grfico ocorre
por analogia com o prefixo ex .Pode ter havido analogia com
extrao. Foneticamente no h prejuzo. Trata-se do arquifonema
/S/;
6 plblicos variante de pblicos. A epntese do l se d por
um processo de assimilao. Tem-se, na slaba imediatamente
postnica, o /l/ lquido, que far grupo consonantal com a oclusiva
que o precede. Por influncia desse /l/, surge um novo /l/ na slaba
tnica;
7 previlgiada variante de privilegiada. O fonema /e/ na
slaba inicial resultante de uma dissimilao com o /i/ da slaba
imediatamente posterior. O acento justificado pela analogia com
a palavra primitiva privilgio.
Texto n 17
1 Maracana por Maracan. A falta do til no ltimo a gera a
desnasalizao, igualando oralmente todas as vogais num processo
de assimilao total. Entretanto, tratando-se de um nome de forte
uso popular, dificilmente essa assimilao ocorreria na linguagem
oral. Torna-se, portanto, um problema exclusivamente grfico;
2 veolncia variante de violncia. Ocorre um processo de
assimilao em relao vogal da slaba tnica. A vogal alta
abaixa-se, tornando-se mdia;
3 esso por isso. Nota-se nesse aluno uma tendncia
oscilao entre e/i. Ocorre um leve abaixamento da vogal tnica:
de alta passa a mdia, num processo de dissimilao em relao ao
arquifonema /U/ da slaba tona final;
4 polecia variante de polcia. Ocorre um processo de
assimilao parcial com a vogal tnica em relao pretnica.
Esta, mdia, provoca o abaixamento da vogal tnica, que, de alta,
passa a mdia: /i/ > /e/;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
202
5 ira por ir (futuro do v. ir). A no-acentuao do oxtono
terminado em a leva a uma alterao prosdica: de ir, verbo,
passa a ira, substantivo equivalente a raiva. Dessa forma, a
mensagem do texto fica prejudicada.
Texto n 18
1 pasagens por paisagens. O acento no i de paisagens
pode ter sido por analogia com pas, imaginando-se paisagens
como um derivado. Uma explicao fontica seria o desejo da
caracterizao de um hiato, no lugar de um ditongo, em que o i
seria uma semivogal.
Texto n 19
1 desposto variante de disposto. Ocorre um abaixamento
da vogal da pretnica, que, de alta /i/ passa a mdia /e/,
provavelmente por um processo de assimilao parcial em relao
tnica;
2 sobindo variante de subindo, gerndio de subir. Trata-se
provavelmente de um fenmeno de ultracorrea. Acreditando ser
a pronncia [ su biNdU] um caso de harmonizao voclica, por
influncia da vogal alta /i/ na slaba tnica, o aluno tenta corrigir,
substituindo a vogal alta pela mdia e criando uma dissimilao
em relao slaba tnica;
3 jeito variante de jeito. A substituio do j pelo g um
problema comum e exclusivamente grfico, uma vez que o fonema
o mesmo: fricativo, posterolingual, sonoro, oral;
4 em fim variante de enfim. A deglutio ocorre
provavelmente por analogia com a preposio em, que o aluno
julga estar presente. Trata-se de um problema apenas grfico, sem
repercusses fonticas nem fonolgicas.
Texto n 20
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
203
1 infelismente variante de infelizmente. A substituio do
z por s apenas um problema grfico, pois se trata , em ambos os
casos, do arquifonema /S/. O aluno revela desconhecimento de que
infelizmente tem com base feliz.
Concluso:
Aps o exame dessas vinte redaes de uma turma de oitava
srie de escola municipal, chegou-se a algumas concluses.
Sabe-se que o nico freio deriva o ensino. Notam-se
freqentes desvios, especialmente no que se refere ortografia,
nos textos examinados. O acento, quer seja agudo, circunflexo ou
grave, no dominado pela maioria. Este fato nos leva a refletir
que, se tal situao persistir, os acentos acabaro pertencendo
apenas aos dicionrios e s gramticas. Haver uma tendncia
geral a aboli-los.
O fenmeno da crase desconhecido da maioria, que passa a
usar indiscriminadamente o acento grave, demonstrando que no
se estabelece a relao preposio mais artigo (ou pronome).
As regras de emprego de maisculas e minsculas so
desconhecidas.
H extrema dificuldade entre o emprego de a preposio, h
verbo haver e , contrao da preposio com o artigo.
As formas verbais tem e tm, respectivamente relativas ao
singular e ao plural, tendem a igualar-se, sendo a concordncia
apenas determinada pelo contexto.
A oscilao e/i, o/u , freqente, sofrendo constante processo
de assimilao.
Os fonemas /r/ brando, /r/ forte e /l/, na qualidade de lquidos,
apresentam traos de vocalismo e de consonantismo. Essa
instabilidade leva-os a processos constantes de dissimilao,
assimilao e mettese.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
204
Desvios grficos no uso de c, , ss, s, como representantes do
fonema /s/, so vrias vezes observados, mostrando que o usurio
da lngua afasta-se do convencional, se lhe aprouver.
Tendncias no s aglutinao, como tambm
deglutinao, estabelecem a diferena entre a lngua falada onde
o fenmeno no identificado e a lngua escrita, quando o aluno
sente a necessidade de aglutinar uma palavra cltica ao vocbulo
fonolgico que se lhe segue.
Por outro lado, faz a deglutinao, especialmente do a de
determinados radicais, encarando-o como se artigo fora.
S e z, g e j tambm so usados indiscriminadamente para
representar, respectivamente, os fonemas /z/ e /j/.
O arquifonema nasal /N/ representado tanto pela letra m
como por n, sem a menor preocupao com o convencional.
Fato curioso foi a observao de um novo tipo de acento que
marca, no a intensidade da slaba tnica, mas, sim, a abertura da
vogal, geralmente de slaba inicial.
Nota-se a absoro do u semivogal, monotongando o que seria
um ditongo, mas, por outro lado, observa-se, tambm, a incluso
desse u, como semivogal, para evitar encontros desagradveis
(caso de pessoua por pessoa).
A falta de pingo nos is e jotas uma constante, representando
um desleixo de escrita.
Outro fenmeno que se repetiu foi a apcope do r final,
morfema modo-temporal de infinitivo, algumas vezes alterando a
prosdia dos vocbulos.
Palavras longas e portando dgrafos geralmente apresentam
variantes. o caso de coincentizar por conscientizar.
O mesmo ocorre em relao aos proparoxtonos que tendem a
ser transformados em paroxtonos. V-se em medilcres por
medocres.
A observao de todos esses fenmenos nos leva a concluir
como Coseriu:
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
205
A lngua um fazimento (COSERIU, 1979:.100)
No est feita nem nunca estar. Sempre termos inovaes. Se
sero adotadas e faro parte do sistema, s o futuro nos
responder.
Cite-se Charles Bally:
Les langues changent sans cesser et ne peuvent
fonctioner quen ne changeant pas. (Apud COSERIU,
1979:15)
Referncias Bibliogrficas
BECHARA, Evanildo. Moderna gramtica portuguesa. Rio de Janeiro:
Lucerna, 1999.
CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne. Iniciao fontica e fonologia. 2
ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
CMARA JR., J. Mattoso. Princpios de lingstica geral. 4 ed.Rio de
Janeiro: Acadmica, 1969.
______. Introduo s lnguas indgenas brasileiras. Ao Livro Tcnico,
1979.
______.Histria e estrutura da lngua portuguesa. Rio de Janeiro:
Padro, 1985.
______. Estrutura da lngua portuguesa. 8 ed., Rio de Janeiro: Vozes,
1977.
CLARE, Ncia de Andrade Verdini. Artigo E as mudanas
continuam. In: Ver. Idioma, UERJ, 19/06/83. p.93-104.
______. A linguagem da poltica: inovaes lingsticas no portugus
contemporneo. Rio de Janeiro: Autor, 2004.
COSERIU, Eugenio. Lies de lingstica geral. Rio de Janeiro:
Presena, EDUSP, 1982.
______.Sincronia, diacronia e histria. Rio de Janeiro: Presena, 1979.
CUNHA, Celso. Uma poltica do idioma. Rio de Janeiro,: So Jos,
1964.
______. A questo da norma culta brasileira. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1985.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
206
______ & CINTRA, Lindley. Nova gramtica do portugus
contemporneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
DUBOIS, Jean et alii. Dicionrio de lingstica. 9 ed., So Paulo:
Cultrix, 1993.
ELIA. Slvio. A unidade lingstica do Brasil. Rio de Janeiro: Padro,
1979.
HENRIQUES, Cludio Cezar, Sintaxe portuguesa para a linguagem
culta contempornea. 4 ed. Rio de Janeiro: UERJ, 2005.
MELO, Gladstone Chaves de. Iniciao filosofia e lingstica
portuguesa. Rio de Janeiro: Ao Livro Tcnico, 1981.
______. Gramtica fundamental da lngua portuguesa. 3 ed., Rio de
Janeiro: Ao Livro Tcnico, 1980.
RIBEIRO, Manoel P. Nova gramtica aplicada da lngua portuguesa.
15 ed. Rio de Janeiro: Metfora, 2005.
ROCHA LIMA. Gramtica normativa da lngua portuguesa. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1984.
SIMES, Darcilia. Fonologia em nova chave. 2 ed. Rio de Janeiro: H. P.
Comunicao, 2005.
Rastreando as teorias semiticas:
um projeto de estratgias tcnico-pedaggicas
Darcilia Simes UERJ-PUC/SP-SUESC
Para a semitica, o mundo da comunicao um
mundo de linguagens de diferentes codificaes a
colocar os mais diferentes sistemas em dilogo sem
a prevalncia de um cdigo sobre outro. (Irene
Machado 2001)
Palavras iniciais.
Considerada a importncia tcnico-didtica de trabalhos
voltados para um recolho de dados que se prestem a compor uma
viso histrica de uma teoria, tentaremos reunir neste artigo as
principais correntes semiticas a que tivemos acesso ao longo de
nossas especulaes cientficas, com vistas a distribuir entre
nossos pares no s as concluses provisrias a que chegamos,
mas, principalmente, o elenco de dvidas que vimos compondo ao
longo de nossas investigaes.
Procuraremos nortear nossa apresentao, perseguindo
algumas indagaes-chave que nos tm servido de mote para
cursos, palestras, artigos que vimos produzindo na trilha da
semitica.
Convm esclarecer ainda que o eixo de nossa leitura tem sido
restrito a aspectos da semitica que possam dar suporte a avanos
metodolgicos no ensino das linguagens, muito especialmente da
lngua portuguesa. Por isso, contaremos com a tolerncia dos
leitores no sentido de no criar expectativas muito amplas, pois, a
nosso ver, a cincia semitica e sua pluralidade de correntes
tericas um universo em explorao e expanso que, a cada
instante, revela potencialidades espetaculares e desafia a
capacidade dos estudiosos no sentido de tirarem proveito dos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
208
paradigmas construdos, aperfeioarem-nos e gerarem outros em
benefcio do esperado progresso da cincia.
A semitica e os signos.
Inicialmente, impe-se a definio de semitica. Considerada
a sua histria e as discusses travadas ao longo de sua definio
como cincia, verificam-se embates tcnicos que, a nosso ver,
ainda se encontram envoltos em questes de poder e no de
cincia. Isto porque das definies contrapostas resultariam a
tomada da semitica como uma cincia englobante ou englobada.
No primeiro caso, a semitica seria uma cincia geral que
participaria de todos os campos do saber humano, uma vez que sua
definio como cincia dos signos e dos processos significativos
(semiose) na natureza e na cultura (Nth, 1995:19), torna-a capaz
de analisar todo e qualquer engendramento sgnico e apreciar-lhes
as conseqncias ecossistmicas. No segundo caso, o de cincia
englobada, a semitica passa a ser vista como uma cincia aplicada
e, algumas vezes, confundida com uma semntica estrutural, do
que resulta uma reduo da anlise s tradues lingsticas do
pensamento humano. Observe-se que as questes de poder a que
aludimos so resultado do enquadramento da cincia semitica
como conjunto universo (englobante) ou subconjunto (englobada),
pois disto decorrem posies epistemolgico-polticas que tambm
situam as vozes que se pronunciam de um ou de outro lugar. Aqui
se explica a incluso de uma epgrafe com palavras de Irene
Machado que ressalta a no-hierarquizao dos cdigos na
perspectiva semitica.
Nas nossas leituras, verificada a ancestralidade da semitica
em relao a muitas cincias e aceito o sinequismo peirceano (a
afirmao da continuidade como uma das idias filosficas
fundamentais), entendemos como dado negativo a disputa
autoritria do lugar de cada cincia e vimos tentando propor uma
harmonizao intelectual e lgica entre as descobertas cientficas
em geral. Entendemos que a cincia uma construo oriunda da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
209
capacidade cognoscente humana e que se destina ao
aprimoramento das relaes entre homem e mundo, logo, no h
por que litigar por espao privilegiado, seno transformar o
conhecimento dialogicamente construdo como um mundo
semitico possvel de convivncia harmnica entre as espcies.
Concordamos com Martins (v. Fidalgo, 1999) quando declara
que a semitica no deve se circunscrever ao regime do signo,
seno na confluncia de dois nveis semnticos no-sgnicos
(porque so processos de articulao de dados para a produo
sgnica por parte do leitor/interlocutor, por isso no so signos em
si): o da textualidade/discursividade e o da enunciao. Nesta
perspectiva, o objeto semitico precisa ser observado tanto quanto
objeto textual, quanto como objeto de interao,
intersubjetividade, reflexividade, intencionalidade e comunicao.
Associo-me, portanto ao autor, pensando a semitica como a
disciplina da significao. Desta forma, no h como v-la no
plano de cincia englobada, ou como subconjunto, mas como uma
cincia universalizante que se ocupa da discusso de todo processo
de produo de significaes engendradas pelos objetos fsicos e
fictcios emergentes das relaes ecossistmicas e epistemolgicas.
Revendo fala de Santaella no V Congresso Brasileiro de
Semitica (SP set/2001), percebe-se que a estudiosa argumenta
sobre a semitica integral, sobre a universalidade sgnica. A farta
leitura da teoria de C. S. Peirce d autoridade autora que, com
base no sinequismo, lana a hiptese da inexistncia de separao
entre semiosfera e biosfera, ou entre bio, antropo, eco e
fisioesferas (que implicariam tipologias prvias e limitadoras). A
indiscutibilidade de que o universo est permeado de signos e que
a semiose (produo de significao) a base universal de tudo, do
fsico ao psquico, conclui-se que tempo, pensamento, inteligncia,
vida, tudo est na continuidade. E esta continuidade se funda numa
forma prototpica da causao final que a mente e que,
concordando com Peirce, h mente no protoplasma (clula).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
210
Neste encaminhamento, pode-se perceber um crescendo da
necessidade de entendimento da semitica como cincia geral. A
no-circunscrio de seu objeto a uma tipologia sgnica prvia faz-
nos v-la como paradigma de anlise para a compreenso dos
mecanismos inteligentes captveis (ou capturveis) em qualquer
organizao csmica ou cosmrgica (relativa criao do mundo).
No queremos evocar interpretaes mticas ou tico-religiosas de
qualquer natureza, pelo simples fato de nos associarmos a uma
vertente de semitica filosfica, consubstanciada na lgica. No
entanto, a cosmurgia por ns entendida como um moto-contnuo
de produo-reproduo do mundo a partir dos avanos tcnico-
cientficos que permitem ao homem aproximar-se dos processos de
criao em qualquer escala ou nvel.
Definir a semitica tal como existiu e existe exige conhecer a
sua histria. Com efeito, qualquer definio nominal ou
convencional no evitaria um certo grau de arbitrariedade. A
definio etimolgica do termo semitica como disciplina dos
signos poderia considerar-se como corroborando a posio de que
so os signos e no a significao o objeto da semitica (como
uma concepo inicial desta cincia), no entanto, um olhar mais
atento histria do timo revelaria que no ser a etimologia a
arbitrar o litgio do objeto semitico. O termo semeion constituinte
de semitica tardio no grego e deriva do termo anterior sema
(sinal, distintivo, marca, pressgio, pisada, aviso, quadro,
imagem, retrato, selo, letra, bandeira, tmulo, prova - cf. Pellizer,
1997: 831-836). Este autor identifica oito significados de sema na
Grcia pr-clssica: signo fsico, forma desenhada ou modelada,
tmulo ou sepulcro, escrita, fenmeno natural, constelao,
profecia ou resposta, evidncia circunstancial. E deste radical
que surgem tambm outras disciplinas adjacentes, concorrentes ou
mesmo pertencentes semitica, como semntica e semasiologia.
A raiz etimolgica dos termos a mesma, todavia o seu
significado varia consoante a histria destes. O termo semntica,
por exemplo, s em 1897, com o Essai de Smantique de Michel
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
211
Bral, viu a sua significao definitivamente estabelecida como a
cincia do significado.
Semitica ou Semiologia?
No a soluo da contenda terminolgica que ir resolver a
disputa em aberto, apesar das achegas importantes que possa dar.
Sabe-se que semitica comea por ser um termo da medicina
grega. Na tradio hipocrtica, Galeno de Pergamum (139 199)
classifica a semeitica como um dos seis ramos da medicina, a par
da fisiologia, etiologia, patologia, higiene e terapia. Fazendo parte
da diagnose, caberia semitica descobrir os sintomas das doenas
(Sebeok, 1984: 37-52).
Apesar da genialidade mdico-lgico-
lingstica de Galeno (v. Edlow, 1977) a relao entre os dois
campos, a sintomatologia mdica e a lingstica, no foi feita
pelos gregos. Umberto Eco assevera que Galeno se surpreenderia
se soubesse que sua tese sobre o signo pudesse analisar elementos
da lngua (Eco, 1997: 730-746).
No Sculo XX, a medicina passou a alternar o uso dos termos
semiologia e semitica com algumas variaes de sentido.
A semitica mdica, atualmente, divide-se em trs tipos: a)
anamnsica: estuda a histria mdica do paciente; b) diagnstica:
investiga os sintomas das doenas atuais; c) prognstica; constri
predies e projees de possveis doenas futuras. H certo
confinamento da semitica sintomatologia no mbito mdico.
Todavia vem surgindo uma nova semitica mdica voltada para
uma semitica geral.
Mais adiante aparece uma semitica moralis. Scipio
Claramonti (1625) postulou disciplina que investigaria o
conhecimento dos homens. Observe-se que aqui se mostra uma
ponta do fio que nos permite propor a semitica como uma cincia
da cognio.
O termo semitica tem uma genealogia prdiga. Na sua linha
de parentesco, oriundas de semio- (transliterao latinizada da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
212
forma grega semio-) e dos radicais anlogos sema(t)- e seman-,
tem-se semeitica, semeiologia, semiologia, semntica,
sematologia, semasiologia e semologia. Semntica e semasiologia
hoje se circunscrevem ao estudo das significaes na lingstica.
Semiologia, termo anterior a semitica, teria sido j usado em
1659 por um filsofo alemo, Johannes Schultens, para designar
uma doutrina geral do signo e do significado.
No sculo XX, semiologia passa a nomear uma tradio
semitica de cunho lingstico fundada por Ferdinand Saussure e
continuada por Louis Hjelmslev e Roland Barthes. Por via de
conseqncia, nos pases romnicos prevaleceu o termo
semiologia, enquanto nos anglo-germnicos predominou
semitica.
Talvez motivados pela dualidade terminolgica, estudiosos
comearam a produzir distines conceituais: a) semitica seria
uma cincia mais geral dos signos, incluindo os signos animais e
naturais; b) semiologia seria uma cincia exclusiva para os signos
humanos, culturais, especialmente, textuais.
Hjelmslev inventou e Greimas adotou e difundiu que a
semiologia seria uma metalngua ou meta-semitica que
descreveria qualquer semitica. Para eles, semitica seria um
sistema de signos com estruturas anlogas linguagem.
Em 1969, no seio da Associao Internacional de Semitica,
Roman Jakobson promoveu movimento que encerrou oficialmente
a rivalidade entre os termos semiologia e semitica, definindo este
como termo geral que englobaria as tradies da semiologia e da
semitica geral (v. Nth, 1995). No entanto, at hoje se
documentam controvrsias apoiadas na velha discusso de quem
nasceu primeiro ou de quem se ocupa do qu.
V-se ento que a questo no meramente nomenclatural,
mas de definio do objeto. No a histria do termo, mas a
histria da cincia por ele designada que vem gerando polmicas
de relevncia histrica, uma vez que chegam a, em certas horas,
deformar a idia acerca da cincia focalizada. Portanto, a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
213
delimitao do objeto da semitica seria a baliza fundamental
buscada. Ainda que o mtodo se mostre claro, sua aplicao e
resultado no trazem a mesma clareza. O que se tem de algum
modo a situao circular da charada do ovo e da galinha. Quem
ousou enfrentar o problema e deixa contribuies relevantes so
Jrgen Trabant (1982: 41-48) e Umberto Eco (op.cit.).
Trabant considera no ser possvel uma histria objetiva da
semitica, mas que haver sempre diferentes semiticas consoante
as diferentes concepes de semitica dos historiadores. Com base
em duas apresentaes da histria da semitica (Elisabeth Walther,
1974 & Sebeok, 1979), Trabant mostra como a semitica vista e
narrada consoante o respectivo ponto de partida. Segundo diviso
nietzscheana da histria em monumental, crtica e antiquarista,
Trabant considera que tanto uma como a outra das apresentaes
analisadas pertencem ao gnero monumental, interessadas em
justificar e glorificar uma determinada teoria ou prtica semitica.
Na viso de Trabant, falta-nos uma viso antiquarista em que tudo
se registra sem diferenciar o valor, mas que de alguma forma
consubstancia a temtica semitica. O autor declara ser uma
necessidade a elaborao dessa histria antiquarista da semitica,
at para por ela se aferirem as particularidades e se corrigirem as
falhas e as injustias das histrias de tipo monumental e crtico.
Isto vai ao encontro de nossas falas sobre questes autoritrias em
torno da definio do locus cientificus.
A histria antiquarista da semitica foi, entretanto feita, pois o
Manual de Posner contm uma vastssima quantidade de material
histrico que abarca todos os domnios que podem ser
considerados como pertencendo ao longo dos tempos, de longe ou
de perto, semitica (a seo B do Semiotics. A Handbook on the
Sign-Theoretic Foundations of Nature and Culture que inclui nada
menos que 68 artigos em mais de 1500 pginas, pp. 668-1198 do
1 volume e pp. 1199-2339 do 2 volume).
Em um artigo introdutrio a esta histria da semitica,
Umberto Eco analisa o problema da relao do objeto e da histria
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
214
da semitica. O autor aponta equvocos de parcialidade por parte
dos autores do passado, por no observarem o tema em sua
inteireza, mas o particularizarem em torno das noes de signo;
objeto da semitica igual ao signo; o signo no o objeto
principal, este o vasto campo de fenmenos inter-relacionados
com os signos (de que fenmenos tratam?); negam a existncia de
um campo especfico para a investigao semitica (haveria um
objeto formal?); escancaram os portais da semitica deixando-a
disposio de qualquer especulao (tudo semitico ou
semitica?) ou negam veementemente o carter cientfico da
semitica (seria apenas um mtodo de anlise?).
Compartilhamos com Eco acerca da inexistncia de um acordo
sobre uma lista mnima de conceitos bsicos e de a noo de signo
permanecer como uma categoria semitica insuficientemente
compreensiva. Por isso, adotamos a idia de que todo estudioso
deva fazer uma apresentao prvia do seu entendimento de
semitica e qual o objeto da sua pesquisa, uma vez que a
observao semitica pode distribuir-se por campos to diferentes
da reflexo cientfica e da cultura humana. Temos ainda como
ponto de partida (ou referncia) a tomada da semitica como
doutrina dos signos, para mais adiante avanar na constituio da
semitica como a cincia da semiose (significao ou autogerao
Santaella, 1995).
Atualmente, circulam vrias definies de semitica que
acabam por corresponder a outros tantos projetos, diversos entre si.
Para Peirce (Collected Papers) semitica a doutrina da natureza
essencial das variedades fundamentais de toda possvel semiose;
para Saussure (CLG), se trata de uma cincia que estuda a vida
dos signos no seio da vida social qual prope que se d o nome
de semiologia. Para Erik Buyssens (La comunicacin et
larticulacin linguistique), ao contrrio, se trata do estudo dos
processos de comunicao, ou seja, dos meios utilizados para
influir os outros e reconhecidos como tais por aquele a quem se
quer influir, denomina-a semiologia. Enquanto para Morris
(signos, linguagem e comportamento) define a semitica como una
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
215
doutrina compreensiva dos signos; para Umberto Eco una
tese de investigao que explica de maneira bastante exata como
funcionam a comunicao e a significao.
Vejamos a seguir as propostas de Jakobson (1990), Locke
(1690) e a de Sebeok (1976). Roman Jakobson define semitica na
abertura do primeiro Congresso da Associao Internacional de
Estudos Semiticos como qualquer tipo de estudo interessado
numa relation de renvoi, no sentido clssico do aliquid stat pro
aliquo. Classifica a linguagem como um sistema de signos, e a
lingstica como a cincia dos signos verbais, porm, como uma
parte da semitica, a cincia geral dos sinais que assim foi
nomeada e delineada por John Locke (mdico, filsofo e poltico
ingls. Excelente filsofo empirista segundo a origem do
conhecimento, e realista segundo a essncia do conhecimento). A
seu turno Sebeok transformou a semitica em uma cincia da vida,
ao reintegr-la s suas razes na biologia mdica. A semitica foi
por Sebeok retirada do terreno filosfico, lingstico e
hermenutico e devolvida ao domnio da biologia, sua procedncia
original. A aproximao biolgica de Sebeok inerente a uma
perspectiva que pretende investigar como todos os animais esto
dotados geneticamente da capacidade de utilizar sinais bsicos e
signos para sobreviver, e como a semiose humana ao mesmo
tempo similar e diferente da semiose no-humana (ou animal em
sentido restrito). Sebeok leva a investigao semitica para seus
princpios orgnicos, ou seja, no se limita a considerar as
mensagens como intercmbios de signos entre uns e outros
organismos, seno entende que a semiose afeta representao do
mundo particular a cada espcie. Os enfoques tradicionais se
ocupam das estruturaes das mensagens e perdem de vista a
profundidade do fenmeno semitico. Segundo Sebeok, a
semitica no versa absolutamente sobre o mundo "real", mas
sobre modelos reais complementares ou alternativos desse mundo,
e - como Leibniz (1646 - 1716) pensava - sobre um nmero
infinito de possveis mundos antropologicamente concebveis.
Deste modo, a semitica no revela nunca o que o mundo, seno
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
216
d meios de interao sensrio-cognoscente para que possamos
construir nosso conhecimento sobre o mundo; em outras palavras,
o que um modelo semitico representa no a "realidade" como
tal, porm a natureza descoberta por nosso mtodo de
investigao.
Para clarificar, o ponto principal do pensamento de Leibniz a
teoria das mnadas. um conceito neoplatnico, que foi retomado
por Giordano Bruno e Leibniz desenvolveu. As mnadas (unidade
em grego) so pontos ltimos se deslocando no vazio. Leibniz
chama de entelquia e mnada (segundo Aristteles, o resultado
ou a plenitude ou a perfeio de uma transformao ou de uma
criao, em oposio ao processo de que resulta tal criao ou
transformao) a substncia tomada como coisa em si, tendo em si
sua determinao e finalidade. Na sua doutrina das mnadas,
afirma que cada mnada espelha o universo inteiro. Tudo est em
tudo. Isso se aplica tambm ao tempo, ele diz: "o presente est
grvido do futuro.Uma mnada se diferencia da outra, porque as
coisas esto nelas presentes em maior ou menor grau, e sob
diferentes ngulos e aspectos. V-se aqui semelhana com o
raciocnio de Peirce, na tomada do universo como um construto
semitico, bem como na afirmao da semiose ilimitada.
Nesse andamento, j se torna possvel perceber (ou reiterar)
que pisar em terreno semitico no tarefa para qualquer um. A
histria desta cincia a um s tempo ndice e cone das polmicas
dela decorrentes, e isto explica a ainda inexistncia de acordo
nomenclatural, perspectiva, enfim, definio ltima do objeto, que
pudesse dar semitica uma relativa tranqilidade investigacional.
A semitica no tnel do tempo
Muito antes de Saussure e Peirce, uma teoria dos signos e da
significao j era construda no seio da filosofia. John Locke
(1632 - 1704) e Johann Heinrich Lambert (1728 1777) deixaram
significativas contribuies neste mbito. Esta formulao terica
precedia cogitaes exclusivas ou dependentes do signo verbal e se
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
217
ocupava com investigar a natureza dos signos, da significao e da
comunicao na histria e nas cincias.
Recuando no tempo, chamamos ao texto o filsofo Aristteles
(384 322 a.C.). Discpulo de Plato durante vinte anos, na
Academia, afastou-se dela aps a morte do mestre fundando
depois a sua prpria escola, o Liceu. um gnio enciclopdico,
abarcando todo o conhecimento do seu tempo e criando novas
cincias, como a lgica. Ops-se teoria platnica das idias e
fomentou o estudo da natureza, mas as suas concepes sobre o
movimento e sobre cosmologia influenciaram negativamente o
progresso da cincia at ao Renascimento, dada a enorme
influncia exercida sobre os filsofos medievais. De suas
elucubraes extraem-se dados relevantes para a fundao da
semitica. Plato e Aristteles fundaram a filosofia e, como
tericos do signo, j eram semioticistas avant la lettre.
Embora se constitua um fenmeno dos incios do sculo
passado, o estudo dos signos traa uma pr-histria, pois suas
origens remontam muito longe, aos primrdios da filosofia
ocidental, em sua gnese grega.
No perodo greco-romano, a filosofia constri uma teoria dos
signos verbais e no-verbais. Plato contribuiu com as noes de
nome, noo (ou idia) e coisa qual o signo se refere. No
Crtilo, Plato discutiu a relao entre nomes, idias e coisas e
concluiu: a) signos verbais, naturais ou convencionais, so
representaes incompletas da verdadeira natureza das coisas; b) o
estudo das palavras no revela nada sobre a verdadeira natureza
das coisas; as idias independem das representaes em forma
verbal e c) cognies concebidas por meio de signos so
apreenses indiretas, logo, inferiores s cognies diretas.
Aristteles discutiu o signo no mbito da lgica e da retrica,
nele encontrando trs componentes em analogia ao pensamento
silogstico. Assim descreveu o signo como uma premissa que
conduz a uma concluso. Chamou o signo lingstico de smbolo e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
218
o definiu como signo convencional das afeces da alma. O
modelo do signo aristotlico , portanto, tridico.
Da noo de signo como premissa, pode-se deduzir a abertura
potencial do signo polissemia resultante da pluralidade de
leituras e de leitores (intrpretes na teoria peirciana). A premissa
seria o ponto de partida de um raciocnio, geralmente inaugurada
numa construo icnica ou indicial, enquanto que a concluso
generalizao se mostraria num nvel posterior, terceiro, em que
as sensaes (primeiridade) e as reaes (secundidade) j se
organizariam simbolicamente, produzindo modelos genricos
disponveis para a formulao de novos raciocnios sobre outros
temas ou idias. O smbolo, signo em terceiridade, uma
concluso e se dispe a tornar-se paradigma para novas semioses.
Tambm os esticos viram o signo como entidade tridica (v.
Nth, 1995: 31-2). Seus componentes bsicos seriam: a) semainon,
que o significante, entidade percebida como signo; b)
semainomenon, ou lkton, que corresponde significao ou
significado; e c) tygchanon, o evento ou o objeto ao qual o signo
se refere. Sua teoria tambm estava ligada lgica e interpretavam
a cognio de um signo como um processo silogstico de induo.
Ainda classificaram os signos como comemorativos (ao referirem-
se a observaes associadas anteriormente ao signo) e indicativos
(quando indicam fatos no evidentes).
Os epicuristas se opem aos esticos e buscam um modelo
didico para o signo em que s o significante (semainon) e o
objeto referido (tygchanon) seriam considerados. O conceito
(semainomenon, ou lkton), parte imaterial do signo, no integraria
tal composio. Na base da teoria epicurista, o excessivo
materialismo prope o objeto fsico como origem das imagens
(edola), que emanam de sua superfcie. Os tomos icnicos do
objeto irradiam uma imagem que se materializa na mente receptora
e formam uma nova imagem chamada fantasia. Logo, os
componentes do signo na viso epicurista so a imagem emitida
pelo objeto e a imagem captada pelo observador.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
219
Os esticos aventaram uma precpua de capacidade de
antecipao (prolpsis) por parte do receptor. Isto consistia numa
existncia prvia de imagens mentais ou conceitos capazes de
antecipar a imagem do signo observado. Observe-se que o
processo semitico descrito pelos esticos inclui uma terceira
dimenso que o aproxima dos modelos tridicos do signo. A idia
de uma imagem mental antecipadora de uma cognio atual est
muito afinada com a concepo contempornea das cincias
cognitivas, donde o materialismo epicurista passa a ser visto como
um mero dado da histria da epistemologia.
A despeito de muitas refutaes das idias epicuristas sobre
semitica, reflexes zoossemiticas e especulaes sobre a origem
gesticular da lngua so contribuies interessantes daqueles
pensadores.
O signo como instrumento cognitivo
O apogeu da semitica antiga vem com Santo Agostinho (354
430). Telogo e filsofo dos primeiros tempos do cristianismo
procurou conciliar a filosofia grega, sobretudo a de Plato, com a
religio crist. Na sua filosofia assume relevncia a vontade, que
leva a valorizar o homem, responsvel pelo mal e pelo bem, agente
livre da histria.
Segundo Coseriu, Agostinho foi o maior semioticista da
Antigidade e o verdadeiro fundador da semitica (v. Nth, 1995).
Em As Confisses (XI, 24), o filsofo diz que:
no se pode ver seno o que existe. O que j existe
no futuro, mas presente. Quando se diz que se v o
futuro, o que se v no so os acontecimentos
futuros, que ainda no existem, porque so futuros,
mas as suas causas ou talvez os sinais que os
anunciam, causas e sinais que j existem; estes no
so futuros, mas presentes aos que os vem, e
graas a eles que o futuro pelo esprito concebido e
predito (Apud Coseriu, 1979: 21, nota 23).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
220
ainda Santo Agostinho quem divide os signos em naturais e
convencionais. Naturais so os que involuntariamente significam,
assim como a fumaa sinal de fogo, a pegada sinal de animal;
convencionais os que foram institudos pelo homem com o fim
preciso de representar, e destes, os mais importantes so as
palavras. Surge ento, nova diviso. Os signos convencionais
podem ainda ser prprios ou metafricos. So prprios quando
denotam as coisas para que foram institudos; metafricos ou
translata quando as coisas a que designam servem para significar
uma outra coisa.
O signo convencional, aquele que interessa a Agostinho no
mbito do De Doctrina, depois objeto de uma segunda e no
menos importante definio: Os signos convencionais so os
signos que mutuamente trocam entre si os viventes para
manifestar, na medida do possvel, as moes da alma, como as
sensaes e os pensamentos. Santo Agostinho considerou o signo
no plano meramente mental. Para ele, o signo uma coisa que,
alm da impresso que produz nos sentidos, faz com que outra
coisa venha mente como conseqncia de si mesmo (De
Doctrina Christiana, II, 1, 1). Tambm distinguiu signo e coisa.
Esta o que nunca foi usado como signo de outra coisa. Ex.
madeira, ferro, etc. J o signo uma coisa que representa outra
coisa. Logo, todo signo coisa, mas nem toda coisa signo. As
coisas so conhecidas por meio dos signos. Santo Agostinho
estendeu o estudo dos signos ao plano no-verbal. Segundo
Todorov (Fidalgo, 2003-2004: 33), Agostinho seria o autor do
primeiro trabalho propriamente semitico.
Joo de So Toms (dominicano portugus, 1589-1644), em
sua Ars Lgica, afirmara que todos os instrumentos dos quais nos
servimos para a cognio e para falar so signos. Nesta linha de
raciocnio, o dominicano portugus insiste fundamentalmente na
importncia da definio de signo, nas condies requeridas para
que alguma coisa seja signo, e como distinguir entre um signo e
outros manifestativos que no o so caso da imagem, da luz que
manifesta as cores ou do objeto que se manifesta a si mesmo o
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
221
signo sempre inferior ao que representa, porque no caso de ser
igual ou superior destruiria a essncia do signo. por esta razo
que Deus no signo das criaturas, embora as represente, e uma
ovelha nunca signo de outra ovelha, embora possa ser sua
imagem. Assim, as condies necessrias para que algo seja signo
so a existncia de uma relao para o representado enquanto algo
que distinto de si e manifestvel potncia; ainda necessrio
que o signo se revista da natureza do representativo; dever
tambm ser mais conhecido que o representado em relao ao
sujeito que o apreende; e ainda inferior, mais imperfeito, e distinto,
que a coisa que significa.
Sobre a diviso dos signos, da perspectiva do cognoscente,
em formais e instrumentais, a questo que se coloca saber se os
signos formais so verdadeiramente signos, ou, por outras
palavras, de que modo se revestem estes das condies necessrias
ao signo, nomeadamente, conduzir a potncia para um referente e
ser mais imperfeito que a coisa significada. A dificuldade, neste
ponto, agudiza-se porque exige, sem dvida, finas distines,
explicar de que forma o signo formal, que interior ao
cognoscente e a maioria das vezes no sequer apreendido
conscientemente, meio condutor para o representado:
"[...] e assim o signo formal para isto conduz, para
que o conceito e apercepo sejam postos na
potncia e esta se torne cognoscente; mas o prprio
conceito no meio para conhecer. Pelo contrrio,
alguma coisa dita ser conhecida igualmente
imediatamente quando conhecida em si e quando
conhecida mediante um conceito ou apercepo; com
efeito, o conceito no faz a cognio mediata"
(Toms, Joo de So, in Tratado dos Signos: 238).
Filsofo e cientista poltico ingls, Thomas Hobbes (1588-
1679, recorda em sua autobiografia que em certa ocasio, numa
roda de intelectuais, algum perguntou "O que o sentido? e
ningum soube responder. Ento lhe ocorreu que se as coisas
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
222
materiais e todas as suas partes estivessem em repouso ou
movimento uniforme, no poderia haver distino de nada e
conseqentemente nenhuma percepo: assim a causa de tudo est
na diversidade do movimento. Lanou essa idia em seu primeiro
livro filosfico, "Uma Curta Abordagem a respeito dos Primeiros
Princpios". Ele ento planejou uma trilogia filosfica: De
Corpore, demonstrando que os fenmenos fsicos so explicveis
em termos de movimento e que seria publicado em 1655; De
Homine, tratando especificamente do movimento envolvido no
conhecimento e apetite humano, que seria publicado em 1658, e
De Cive, a respeito da organizao social, que seria publicado em
1642.
O estudioso conclui que os nomes so signos das nossas
concepes e no das coisas mesmas. No Leviat (1997, 31) que
no h nenhuma concepo no esprito do homem que primeiro
no tenha sido organizada total ou parcialmente nos sentidos. E
fala de uma cadeia de pensamentos e dessa se passa para uma
cadeia de palavras (op. cit, p. 44). Portanto, os signos so
resultantes de uma rede de tramas mentais, a que mais tarde Peirce
denominou semiose ilimitada.
George Berkeley (1684 - 753), estudioso irlands que
entendeu que nossas sensaes do mundo so idias impressas
nos sentidos e no existem a no ser na mente de quem as
perceba. Berkeley nega que reste alguma coisa, se tiramos do
objeto todas as suas qualidades, tanto as primrias (extenso,
consistncia) como as secundrias (cores, sons, etc), considerando-
as produto de nossos sentidos. V-se ento que Berkeley apia sua
tese no que vem a configurar o cone, funda-se na plasticidade, que
a propriedade geradora das imagens mentais. Contudo, esta
plasticidade no est nos entes, seres ou coisas; para Berkeley,
como as qualidades dos corpos dependem da nossa mente, no
podemos atribuir aos corpos mesmos a atividade de causar-nos
sensaes. Ento, para Berkeley, Deus que causa em ns as
impresses (vide abaixo). O que pensamos serem corpos no tem
existncia real, existem apenas como impresses em nossa mente.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
223
Esse pensamento frontalmente contrrio ao que Immanuel Kant
desenvolveria cerca de cinqenta anos depois, sustentando que
algum material causa do conhecimento sensvel e est investido
das qualidades percebidas. Kant acredita inteiramente que os
corpos existem sem ns, ou seja, existem coisas as quais, apesar de
inteiramente desconhecidas para ns, sustentam as qualidades com
que as conhecemos.
Para Berkeley, a afirmao de Locke segundo a qual as nossas
idias representam alguma coisa diferente delas prprias
incoerente e gratuita. Se apenas conhecemos idias, mantenhamos
este princpio, diz Berkeley, em conseqncia do qual no tem
qualquer sentido dizer que as idias so representaes. Dado que
s conhecemos idias, e conhecemos as coisas, as coisas so
idias. De modo que no h duas realidades, as coisas e as idias,
como pretendia Locke, mas apenas uma: as idias ou percepes.
E, conseqentemente, o ser das coisas o seu ser percebido (esse
est percipi). As idias so sempre idias de uma mente que as
percebe. Se o ser das coisas consiste em ser percebido, o ser da
mente consiste em perceber. De onde recebe o nosso esprito as
idias? No tem cabimento dizer, como Locke, que de uma
realidade exterior diferente das idias. Como vimos, essa realidade
no existe. Berkeley conclui que a nossa mente as recebe de Deus.
Por outro lado, Berkeley tambm afirma a existncia de Deus
atravs da idia de causa: Deus a causa das nossas idias. Para o
filsofo, havia de serem estudadas as relaes entre signos e coisas
significadas; e o mundo natural aparece permeado de signos,
conforme diria Peirce, posteriormente.
John Locke (1632 1704). Sobre a linha do desenvolvimento
do empirismo, Locke representa um progresso em confronto com
os precedentes: no sentido de que a sua gnosiologia fenomenista-
empirista no dogmaticamente acompanhada de uma metafsica
mais ou menos materialista. Limita-se a nos oferecer,
filosoficamente, uma teoria do conhecimento, mesmo aceitando a
metafsica tradicional, e do senso comum pelo que concerne a
Deus, alma, moral e religio.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
224
Locke no parte da realidade do ser, mas do fenmeno do
pensamento. No nosso pensamento acham-se apenas idias (no
sentido genrico das representaes): qual a sua origem e o seu
valor? Locke exclui absolutamente as idias, e os princpios que
deles se formam derivam da experincia; antes da experincia o
esprito como uma folha em branco, uma tabula rasa.
No entanto, a experincia dplice: externa e interna. A
primeira realiza-se atravs da sensao, e nos proporciona a
representao dos objetos (chamados) externos: cores, sons,
odores, sabores, extenso, forma, movimento, etc. A segunda
realiza-se atravs da reflexo, que nos proporciona a representao
das prprias operaes exercidas pelo esprito sobre os objetos da
sensao, como: conhecer, crer, lembrar, duvidar, querer, etc. Nas
idias proporcionadas pela sensibilidade externa, Locke distingue
as qualidades primrias, absolutamente objetivas, e as qualidades
secundrias, subjetivas (objetivas apenas em sua causa). De
alguma forma, h aqui, embrionariamente, as noes de
primeiridade, secundidade e terceiridade que sero adiante
formuladas por Peirce.
Das contribuies de Locke, destacamos a definio de signos
como instrumento de conhecimento. Mais tarde isto contribuir
sobejamente com os achados acerca da teoria da comunicao, a
despeito de sua concepo mentalista e subjetivista acerca das
idias e palavras, que as punha ambas na condio de produtos
mentais circunscritos ao contemplador e ao emissor, o que
inviabilizaria a comunicao humana.
No pretendemos rastrear toda a histria da semitica, mas
cremos j ter trazido aos olhos do leitor parcela significativa de sua
evoluo.
Para uma Semitica no sculo XX
No entanto, para alm de uma histria geral da semitica, h a
histria da semitica como disciplina do sculo XX. Aqui
inquestionvel que Charles Sanders Peirce (1839-1914), cientista,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
225
matemtico, historiador, filsofo e lgico norte-americano
considerado o fundador da moderna Semitica. Ferdinand de
Saussure, na Europa, formulara pressupostos tericos que o
reuniria a Peirce na condio de inventores da semitica tal como
viria a constituir-se nos nossos dias. A semitica , em ltima
anlise, uma cincia recente para uma temtica antiga. No
rastreamento de sua histria, importa-nos a sua firmao como
disciplina autnoma na contemporaneidade, em cujo espao no
subsistem quaisquer dvidas de que foi concebida pelos seus
fundadores como cincia dos signos.
, sobretudo a funo representacional dos signos no
conhecimento que chama a ateno dos lgicos do sculo XIX,
como Lambert (In Hubig, 1979: 333-344), Bolzano e Husserl. Eles
vem na semitica uma cincia propedutica lgica projetada
para o estudo dos signos como instrumentos do pensamento e do
conhecimento.
Um breve parntese sobre categorias as categorias aristotlicas
e kantianas. Segundo Aristteles (in Organon), categorias so as
formas bsicas sob as quais a realidade chega at ns. Percebe-se
alguma coisa e a coisa percebida ou um ente real (exemplo: um
cenrio, um objeto fsico) ou uma qualidade (exemplo: calor,
frio, dor, amarelo); ou uma relao entre as duas coisas
(exemplo: o cenrio muito verde); ou uma ao que est sendo
praticada por algum ente (exemplo: algum produz um texto).
Todas as coisas que se pode perceber no mundo se incluem numa
destas categorias. Elas so a diviso mxima da realidade. E
seriam, equivalentemente, os vrios tipos de conceitos possveis.
Para Kant, as categorias so formas a priori necessrias para
pensar a experincia. Distingue quatro categorias gerais, cada uma
subdividida em trs secundrias: de quantidade (unidade,
pluralidade, totalidade); de qualidade (realidade, negao,
limitao); de relao (substncias e acidentes, causa e efeito,
reciprocidade entre agente e paciente); de modalidade
(possibilidade-impossibilidade, existncia e no-existncia,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
226
necessidade e contingncia). Verifica-se em um e outro quadro
categorial uma constncia relativa a qualidade, relao e existncia
real. Fecha-se aqui o parntese e retoma-se a formulao semitica
de Peirce.
no seguimento desta linha filosfico-lgica que Peirce
desenvolve o seu conceito de semitica (v. Oehler, 1987). Para
Peirce a semitica uma disciplina lgica. Sua idia sobre
sinequismo vem pr em xeque muitos pressupostos relacionados
s semiticas que se deixam dirigir para estilhaamentos
estruturalistas que perdem de vista a totalidade csmica universal e
a talidade (tal como v. Plaza, 1998) dos fenmenos. Logo nos
primeiros escritos, mais precisamente em On a New List of
Categories (Peirce, CP), estabelece os traos gerais do que seria a
sua semitica. As categorias aristotlicas e kantianas so
condensadas simplesmente em trs, qualidade, relao e
representao, havendo ento a distinguir trs tipos de
representaes (termo que viria a ser substitudo por signo),
similitudes (mais tarde, cones), ndices e smbolos.
A tese fundamental de Peirce nos primeiros escritos,
Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man e Some
Consequences of Four Incapacities, de que todo o pensamento
est nos signos e, portanto, de que a semitica tem uma aplicao
universal. Tudo pode ser um signo, bastando para isso que entre
num processo de semiose, no processo de que algo est por algo
para algum.
Diretamente na trilha de Peirce, Charles Morris apresenta a
semitica como a cincia dos signos com as subdisciplinas da
sinttica, semntica e pragmtica (Morris, 1971: 20). O mrito de
Morris o de ter estabelecido esta diviso epistemolgica da
semitica, que se tornaria cannica, na base do prprio processo
semisico. O estudo semitico dos signos pode ser sinttico
(relao entre signos), semntico (relao entre signos e
interpretantes ou referncias) ou pragmtico (relao entre signos e
intrpretes ou sujeitos), justamente em funo da natureza
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
227
relacional e relativizante do signo. Todo signo consiste na relao
de um veculo sgnico que denota algo para algum. A semitica
no concernente ao estudo de um tipo particular de objeto, mas
de qualquer objeto se (e apenas se) participante de uma semiose
(Morris, op.cit.).
Ainda que estudiosos afirmem no restarem dvidas de que
quanto semitica de provenincia peirceana, seguramente a
corrente semitica mais importante da atualidade a semitica
foi e continua a ser entendida como doutrina dos signos,
arriscamos contestar extraindo da concepo semitica do filsofo
norte-americano de nossa eleio a proposta de uma semiose da
cognio. E para ns a cognio se estende a todos os
componentes do universo, partindo da premissa peirceana da
mente universal, que se objetiva na explicao do legissigno. A
anlise lgica aplicada aos fenmenos mentais mostra que no h
seno uma idia de mente, a saber, a de que as idias tendem a
propagar-se de forma continua e a afetar a outras determinadas que
se encontram em uma relao peculiar de afetabilidade junto
quelas. Ao propagar-se perdem intensidade, e especialmente o
poder de afetar a outras, mas ganham em generalidade; e acabam
por mesclar-se com outras idias. Desta forma se convencionam os
signos e se constroem os interpretantes. Portanto, na perspectiva
peirceana, os signos em geral ganham nfase e dimenses
progressivas que, em ltima instncia, convola o mundo num
grande signo.
A negao dos signos como o objeto da semitica
A. J. Greimas produz na escola francesa a negao dos signos
como objeto da semitica. , portanto na histria da semiologia,
ou da semitica de provenincia lingstica, que se encontram
razes para a transformao da semitica tradicional.
Saussure apresenta uma idia de semiologia to clara quanto
embrionria. semiologia competiria o estudo da vida dos signos
no seio da vida social (CLG). Sendo a linguagem um sistema de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
228
signos entre outros sistemas de signos de que o homem se serve
para comunicar, a lingstica seria uma cincia particular de
determinados signos, os signos da linguagem, e enquadrar-se-ia na
cincia geral da semiologia que se debruaria sobre todos os
signos. A nova cincia, denominada a partir do grego ? ?? ????
(semeion), sinal, estudaria em que consistem os signos, que leis
os regem(CLG). Importante observar que sem que se
conhecessem ou se comunicassem Peirce e Saussure engendravam
teorias assemelhadas, ainda que com fundamentos bastante
distintos: Saussure centrou-se no signo lingstico numa
preocupao profunda com a estruturao do pensamento em
signos verbais; Peirce interpretava a produo sgnica em geral,
observando a capacidade de produo de significados a partir de
sinais naturais ou artificiais que convolavam em signos
infinitamente.
A despeito deste encontro de observao sobre o signo, os
franceses sob a liderana intelectual de A.J. Greimas propem uma
guinada no projeto semitico, apoiando-se nos pressupostos
hjelmlevianos e na semntica fundamental. Afastam o signo da
condio de objeto da semitica e constroem novo objeto:
estruturas elementares da significao. Conjuntamente com a
sintaxe fundamental, recobrem o estudo das estruturas designadas
pelos conceitos de lngua (Saussure) e de competncia (Chomsky).
As estruturas semnticas podem ser formuladas como categorias e
so susceptveis de ser articuladas pelo quadrado semitico. So
investigaes de base gerativa e perseguem programas narrativos
como processos de produo de significado.
O quadrado semitico
O quadrado semitico situa-se na semntica fundamental,
ponto de partida do processo gerativo. Este consiste na trajetria
de produo do objeto semitico, das estruturas profundas s
estruturas de superfcie, do mais simples ao mais complexo, do
mais abstrato ao mais concreto. Nesse percurso distinguem-se trs
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
229
nveis, da base para o topo: o nvel profundo e o nvel de superfcie
das estruturas narrativas, e o nvel das estruturas discursivas. Os
diferentes nveis so estudados respectivamente pelas sintaxes e
semnticas fundamentais, narrativas e discursivas (Greimas &
Courts, 1979: 157-160).
O quadrado semitico consiste na representao visual da
articulao lgica de uma qualquer categoria semntica. Partindo
da noo saussuriana de que o significado primeiramente obtido
por oposio ao menos entre dois termos, o que constitui uma
estrutura binria (Jakobson), chega-se ao quadrado semitico por
uma combinatria das relaes de contradio e assero. Este
um procedimento estruturalista na medida em que um termo no se
define substancialmente, seno pelas relaes que contrai.
Em nossa leitura, o redirecionamento do projeto semitico
pelos franceses da corrente citada refora o lume sobre uma
proposta semntico-estruturalista revificada pelas idias
gerativistas. Isto, alm de reduzir, numa primeira instncia, o foco
da investigao para o mbito do signo verbal, afasta-se da
dimenso lgico-filosfica perseguida pela semitica representada
pelo pensamento peirceano e demais estudiosos do signo como
clula da significao. Salvo melhor entendimento, para a
semitica francesa, a clula da significao passa a ser o processo,
o que predetermina um modelo de anlise por frmula o
quadrado semitico e seus desdobramentos que, a nosso ver, por
um lado, objetiva a anlise a partir das demonstraes
diagramticas possveis, mas, por outro, submete/aprisiona o
objeto de anlise a/em um modelo prvio, que, a princpio, no
estaria sujeito s imprevisibilidades do vir-a-ser.
Segundo a viso de que o discurso tornou-se um mediador
independente tanto da natureza como da sociedade, o princpio da
imanncia passou a estar na base das cincias da linguagem e
decorre da autonomia da linguagem. Por via deste princpio, o
sentido autonomiza-se. Doravante, tudo o que significa obedece a
leis internas prprias, independentes, em parte, pelo menos, dos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
230
dados exteriores. referncia sucede a iluso referencial
(impresso de que o real concreto basta a si prprio cf.
Barthes,1987: 136) e o simulacro do real (Courts, 1991: 55). Os
objetos modificam-se profundamente. Tornou-se evidente que a
linguagem no um puro signo, e que nem tudo produto da
linguagem. Depois da separao total (as coisas em si & o sujeito
transcendental), depois das aventuras da mediao, depois dos
equvocos da incomensurabilidade entre os dois plos, tudo est a
ser agora objetalizado pela imagem. E com base nesta imagem
que o quadrado semitico se consolida nos estudos da corrente
francesa sobre a significao, e, salvo melhor juzo, recupera a
dimenso semiolgica por centrar suas elucubraes na traduo
verbal do processo de produo de significados.
Negando o signo como objeto da semitica e propondo
anlises em nvel superior e inferior ao do signo, duas direes so
identificadas para a anlise com bases greimasianas: no nvel
inferior, analogamente decomposio do fonema em traos
distintivos, tem-se a atomizao dos signos em seus componentes
semnticos, ou semas; no nvel superior, a descoberta de unidades
textuais, entidades semnticas nucleares que so mais que signos.
Seu modelo de anlise evoluiu para o que denominou trajetria
gerativa (Greimas & Courts, 1979: 132-134).
A questo da imanncia
Comparando-se as ticas de Peirce e Greimas, parece-nos
possvel concluir sobre uma diferena fundamental relacionada ao
princpio da imanncia. Para Peirce, a imanncia est no signo em
si. Enquanto para Greimas a imanncia est nas relaes
construdas no programa narrativo. O primeiro discute o signo em
suas relaes endgenas e exgenas ao texto (em qualquer cdigo
ou linguagem) de que participa. O segundo circunscreve a anlise
s estruturas internas do texto (discurso, para Greimas) observado,
traduzindo-as em processos verbais.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
231
Chamando-se Ducrot (1981) ao texto, pode-se propor uma
reflexo sobre a natureza argumentativa (e no narrativa, como
querem os greimasianos) do discurso. Na Retrica moderna, a
partir de Perelman (1993) pelo emprego de tcnicas discursivas
busca-se a adeso dos espritos s teses, o que caracteriza a
argumentao como um ato de persuaso. Nesse sentido, a
linguagem no s meio de comunicao, mas tambm
instrumento de ao sobre os espritos, ou seja, um meio de
persuaso, pela interao.
Concebendo assim a linguagem que se pode postular a
inexistncia do discurso neutro, objetivo, imparcial; pelo contrrio,
a argumentatividade, segundo Ducrot (1981), est inscrita na
prpria lngua. Portanto, o uso da linguagem inerentemente
argumentativo. Do ponto de vista semitico, a produo do signo
(algo que est por algo para algum) pode ser lida como um
processo discursivo-argumentativo, uma vez que a expresso-
manifestao de uma idia sobre algo por meio de um signo traz
subjacente a inteno (mesmo inconsciente) do agente semitico
(o sujeito) de distribui-la entre seus interlocutores,
preferencialmente fazendo-lhes assumi-la como deles. Logo, um
processo argumentativo e no meramente narrativo. A funo do
pensamento unicamente a de produzir a crena (voltaremos a isto
na concluso).
No mito moderno, os objetos da crena teriam trs
particularidades. Primeiramente, possuam bordos ntidos sem
nenhuma aderncia ao mundo social. Em segundo lugar geravam
conseqncias imprevistas, que, idealmente, no deviam existir,
mas que eram descobertas por acaso ao longo da sua carreira de
objetos. Em terceiro lugar, projetavam-se sobre eles valores,
smbolos, signos que pertenciam ao mundo social. Seguindo esta
esteira, verifica-se que a mutao uma caracterstica
imprescindvel do existente (seja real ou fictcio). Logo, a
evoluo das teorias cientficas est sujeita a este movimento
contnuo de transformao. No entanto, retomando a questo do
autoritarismo intelectual (segundo Bacon, as aulas seriam reinos da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
232
mente, e os mestres, tiranos e conquistadores v. Merrel, 1998:
21), possvel verificar-se uma luta pela afirmao de uma
corrente em detrimento de outra. Assim a atitude dicotmica ainda
predomina sobre a dialtica, ainda que os movimentos
estruturalistas tenham cumprido j o seu papel, deixado suas
contribuies relevantes e aberto espaos para novos enquadres.
Mais uma marca decisiva entre a tica francesa e a norte-
americana a questo do limite da interpretao. Para Greimas a
imanncia condio fundamental e, por isso, delimita a
compreenso do texto. Para Peirce, a interpretao ilimitada e
contnua, est sujeita a processos interacionais que geram uma
semiose infinita regulada pelas relaes entre signos, intrpretes e
interpretante. A imanncia se constri em cada interao, que, a
seu turno, reconstri o objeto imediato. Logo, imanncia no
qualidade preexistente.
A imanncia integra os princpios bsicos do estruturalismo,
sobretudo no mbito da crtica literria (Barthes e Kristeva
aprofundaram de modo relevante discusses em torno do tema). A
relevncia do princpio da imanncia no deveria engendrar litgios
tericos, mas dar suporte a vises diferenciadas de um mesmo
fenmeno: o processo semitico. Segundo Nth (1995, 297 2.2),
as perspectivas tidas por divergentes so, na verdade,
complementares, pois signos, significados e redes de relaes so
todos contedos-objetos da investigao semitica, logo, no h
por que digladiar. Acrescentamos que a pluralidade de ticas
deveria ser vista como enriquecimento do processo investigativo,
uma vez que os enfoques conseguem apontar traos, geralmente,
diferenciados e, quase sempre, interessantes ao avano das
descries.
Traos distintivos, estruturas dinmicas e perspectiva
funcional.
Avanando nas polmicas em torno da construo/descrio
de uma teoria da linguagem, a Escola de Praga (fundada em 1926)
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
233
ops-se ao estruturalismo puro de Saussure e Hjelmslev,
descobriu os traos distintivos como tomos da linguagem e dos
princpios funcionais de sua descrio fonolgica, deixando assim
contribuies expressivas para a pesquisa na estrutura dos
sistemas de signos. As contribuies dos tericos dessa Escola se
projetaram para alm da lingstica, influenciando a esttica, a
potica, a estilstica e a teoria da literatura.
Dentre as contribuies dessa Escola, ressalta-se a relevncia
dada diferena entre esttico e dinmico nas perspectivas da
lingstica sincrnica e diacrnica. Produziu-se um conceito
dinmico de estrutura associado a uma perspectiva funcional de
anlise dos fenmenos artsticos, principalmente. (Observe-se que
isto vai ao encontro do sinequismo peirceano, que aponta a infinita
ressignificao proveniente da relao de tudo sobre tudo num
mundo precipuamente mutante.) Estendeu-se a anlise da
expresso lingstica para o contedo das estruturas, e da anlise
do verbal para os no-verbais e visuais meios de expresso.
Murakvski (1934) define o trabalho artstico como um signo
dotado de funo comunicativa e autnoma. Isto explicita a
dimenso do estruturalismo de Praga e o inclui entre os modelos
semiticos.
As principais contribuies dessa Escola foram: traos
distintivos, estruturas dinmicas e perspectiva funcional.
Semiticas e dimenso ciberntica.
Os russos, aps o fim do stalinismo, retomaram seus estudos
de base formalista e decidiram prosseguir na pesquisa
estruturalista que j evolua em Praga, Copenhagen, Paris e na
Amrica. Na dcada de 60, seus estudos se faziam conhecer como
estruturalismo sovitico. J aps os meados dos anos 70, passam a
ser designados como semitica sovitica.
Dois centros de estudos se projetaram na Rssia: o de Moscou
e o de Tartu (Estnia). Ficaram conhecidos como Escola Semitica
de Moscou-Tartu (Moscow-Tartu Semiotics School). Muito cedo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
234
desenvolveram projetos sobre mquinas de traduo, lingstica-
matemtica e ciberntica. Deram curso idia de uma semitica de
slidas bases na informao, na comunicao e na teoria de
sistemas. Receberam forte influncia de Saussure, Hjelmslev e
Jakobson. Estenderam seu escopo de anlise da linguagem e da
literatura para outros fenmenos culturais, tais como a
comunicao no-verbal e visual (pintura, msica, cinema), mito,
folclore e religio.
Do ponto de vista da potica e da esttica, os soviticos
introduziram a pesquisa da semantizao das formas de expresso:
traos de estilo e mtrica so passveis de interpretao semntica.
Enfim, so signos. Finalmente, definem arte e cultura como
sistemas modelizadores secundrios, concordando com a idia de
Lotman de que todo sistema semitico construdo sobre o
modelo de linguagem.
Conotao, metalinguagem, mitologia e ideologia.
Propagador da teoria de Saussure, Roland Barthes contribui
proficuamente no mbito da semitica visual (arquitetura, imagem,
pintura, cinema, publicidade), assim como na semitica da
medicina. Mas a trajetria dos estudos barthianos ampla. A
pesquisa semitica atingiu seu auge com o Fashion System
(sistema da moda), aps o que o estudioso retornou ensastica
sobre poesia, literatura e cultura.
O conceito hjelmsleviano de conotao a chave para a
anlise semitica da cultura desenvolvida por Barthes. Numa
verso simplificada da glossemtica, Barthes definiu o signo como
um sistema constitudo por uma expresso (E = significante), em
relao (R) com um contedo (C = significado): ERC. Nesta linha
de raciocnio, seu sistema sgnico se explica como: se a extenso
de contedo, o signo primrio (E
1
R
1
C
1
) gera a expresso de um
sistema sgnico secundrio: E2 (=(E
1
R
1
C
1
) R
2
C
2
). O signo
primrio, segundo o autor o denotativo; enquanto o segundo
uma conotao semitica (Barthes, 1964, 89). Com este
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
235
raciocnio, Barthes discutiu a questo da extenso dos significados
como um primeiro nvel do sistema sgnico, que se expande com a
adio de nova expresso. Assim ele explicita a funo
metalingstica, em que o signo primrio seria a linguagem-objeto
sobre a qual se discorre por meio da metalinguagem, linguagem
que fala da prpria linguagem. As terminologias cientficas so
exemplos de metalinguagem. Registra-se um equvoco na leitura
de Barthes sobre conotao e metalinguagem em relao aos
postulados de Hjelmslev, uma vez que ambas constituem signos
secundrios: a primeira, em relao expresso; a segunda, em
relao ao contedo (v. Mounin, 1970: 193).
Em suas consideraes sobre mitologia e ideologia, Roland
Barthes atribui aos meios de comunicao de massa a criao de
mitologias e ideologias como sistemas secundrios de signos
conotados com vistas a dar a suas mensagens a aparncia de
fundaes originais, como se fosse um sistema primrio de
denotados. Para ele, o nvel denotativo expressa significados
naturais; e o nvel conotativo, conceitos secundrios. Mais tarde,
Barthes refuta a idia de uma denotao como signo primeiro,
significado original, inocente, natural, e a reapresenta como iluso
denotativa resultante de um processo de conotao em ltima
instncia.
Barthes tambm constri programas de pesquisa sistemtica
em semiticas no-lingsticas, lanando mo de mtodos da
lingstica estrutural - como anlise distribucional e testes de
comutao para identificar traos distintivos e pertinentes em
sistemas formais.
Barthes reforou a tomada da lingstica como cincia
contingente (em detrimento da semitica; semiologia para ele).
Com base na tese de que os fenmenos semiticos no-lingsticos
dependem fundamentalmente da linguagem, concluiu que a
lingstica no uma parte da cincia geral dos signos, mas uma
privilegiada parte, a semiologia que uma parte da lingstica
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
236
(Barthes, 1964, 11). Esta a tese mais radical em relao
proposta de Saussure da lingstica como um ramo da semiologia.
Retomamos aqui a idia de que o signo verbal apenas um
tipo sgnico do qual se ocupa a lingstica. Logo, se existe uma
cincia geral dos signos, estaria aquela contida nesta
indiscutivelmente. Alm disso, possvel recuperar ainda a
questo acerca de semitica e semiologia. A primeira, j definida
como cincia geral dos signos e da semiose, exploraria todo
sistema sgnico e suas conseqncias significacionais; enquanto a
segunda, desde sua fundao, vem-se ocupando da anlise
discursivo-textual, analisando as tramas enunciativas segundo
modelos estruturais predeterminados. A nfase nestas delimitaes
tem uma preocupao eminentemente didtica, uma vez que j nos
enquadramos como uma estudiosa da semitica com finalidade
metodolgica. Por isso, vamos e voltamos esfera das definies
de mbito, para auxiliar os leitores iniciantes (mais que ns, pelo
menos) na construo de suas snteses tericas.
A urgncia semitica na reflexo cientfica contempornea.
Considerado o breve rastreamento da formao da cincia
semitica, de seus compassos e descompassos em funo das
perspectivas adotadas pelos estudiosos que dela vm-se ocupando
ao longo dos tempos, percebemos uma urgncia na assuno de,
pelo menos, uma atitude semitica por parte dos pesquisadores. A
reestruturao sociopoltica das naes em seu projeto de
globalizao, a nosso ver, impe um olhar mais abrangente sobre
os fatos e fenmenos. Disto decorre a rediscusso das noes de
signo e significao (semiose) com vistas a uma anlise de fato
pluridimensional dos problemas atuais.
O que se entende como signo no sculo XXI? A idia de que
algo que est em lugar de alguma coisa e que representa algo para
algum ainda d conta da definio de signo? A evoluo da mera
condio de sinal ao estatuto de signo j se faz legvel? A trajetria
cognitiva projetada sobre as construes sgnicas j se faz
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
237
inteligvel? Na produo da significao (processo semitico), o
observador j consegue compreender os graus de complexidade
que separam o cone puro e o hipocone (cone de segunda ou
cone degenerado)? J aceitvel inclurem-se cones e smbolos
no nvel das referenciaes, e os ndices no das inferenciaes e
ilaes? Estas e outras indagaes parecem-nos provocar um
reexame das relaes entre signos e tipificaes, entre signos e
objetos, entre significaes originrias e significaes
conseqentes.
Nesta perspectiva inquisitorial, verifica-se que, a despeito da
antigidade da tradio semitica, as concluses obtidas ainda se
mostram em estado incipiente. No entanto, esta incipincia se nos
mostra profcua, uma vez que abre portas para uma especulao
infinita bem nos moldes da proposta semitica de Peirce. Segundo
Bttner (1999: 6-7), trs grandes necessidades da humanidade,
que englobam muitas outras, so apresentadas como prioritrias: a
responsabilidade, confiana e solidariedade na sociedade; a
constituio da paz universal e a globalizao holstica. Isso
requer uma educao eficiente e uma ressignificao das prticas
sociais, sobretudo no mbito das pesquisas cientficas. mister
que a comunidade de investigao se reorganize como elemento
gerador duma educao holstica, orientada pelo pensar inteligente.
Uma contribuio no mbito da semitica verbal.
Sob a liderana de Darcilia Simes (Doutora em Letras
Vernculas UFRJ, 1994) e Ncia Ribas dvila (Doutora em
Cincias da Linguagem Semitica - U.P. III, Paris, Frana,
1987), foi criado com o nome de Semitica, Leitura e Produo de
Textos doravante identificado como SELEPROT durante o
Censo 2002 do Diretrio dos Grupos de Pesquisa do Brasil do
CNPq e pautou-se nas seguintes premissas: a) a importncia dos
estudos semiticos na atualidade e b) a relevncia dada aos estudos
semiticos nos Parmetros Curriculares Nacionais, o que implica a
especializao de profissionais no mbito das linguagens em geral
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
238
e incita o desenvolvimento de pesquisas relacionadas s Letras, em
especial.
Em contraponto, a incluso de subsdios semiticos nos
currculos escolares e de disciplinas de semitica nos cursos de
graduao documenta a necessidade de preparao de recursos
humanos especializados em estudos semiticos. Isto tambm se
justifica pela necessidade de insero de modelos de anlise
semitica (sincrtica ou no) nos espaos de leitura e produo
textual (verbais e no-verbais). A hiptese de que o mundo um
construto semitico e de que tudo que nos rodeia convolvel em
signo, portanto, sujeito a semioses mltiplas ou mesmo infinitas
(Peirce, Nth, Santaella, Plaza, Simes, etc.) impe no s o
aprofundamento terico para suporte das interpretaes cientficas
produzidas pelos especialistas, mas tambm a preparao de
leitores capazes de interpretaes mais profundas dos textos-objeto
que se lhes apresentem, para que se tornem leitores crticos no
somente sujeitos absoro da opinio predominante no mercado
da instruo e da informao (destacando-se a escola e a mdia).
Alm disso, necessrio realar que os leitores semiticos (cf.
Eco, Simes, etc.) desenvolvero, por conseqncia, habilidades
de produo textual, que podero influir no cenrio sociocultural
atual, promovendo a discusso do sistema e o aperfeioamento
deste em prol de melhores dias para a sociedade.
Nesta perspectiva, vimos discutindo a legibilidade textual
segundo a natureza do texto e as marcas expressivas (icnicas) e
impressivas (indiciais) manifestas, sobretudo na seleo das
imagens oriundas da combinao de signos verbais e no-verbais.
Aliamos assim os estudos lingsticos aos semiticos tomando o
texto verbal como signo visual, por apresentar caractersticas
correlatas s detectveis nos textos ditos no-verbais.
No mbito lingstico, as unidades lexicais tomadas como
objeto de uma investigao relativa forma e ao contedo fazem
emergir valores de natureza semitica e semntica. Esta vai cuidar
das significaes construdas e correntes no universo de um
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
239
sistema lingstico; aquela vai tratar do processo de produo de
sentido a partir da anlise das funes-valores que os signos eleitos
pelo produtor do texto adquirem na trama textual. A funo
lexicolgico-semitica faz das palavras (signos atualizados em
contextos frasais) signos evocadores de imagens, impregna-as de
conceitos (emergentes da cultura em que se inserem) por meio dos
quais o redator tenta estimular a imaginao do leitor. A mente
interpretadora se tornar tanto mais capaz de produzir imagens sob
o estmulo do texto quanto mais icnicos ou indiciais sejam os
signos com que seja tecido o texto, pois, a semiose um processo
de produo de significados. O sentido a resultante da
interpretao de um significado emergente da estrutura textual e
contextual de que participa, e o leitor (ou intrprete) procura
desvelar um sentido que estabelea a comunicao entre ele (leitor,
co-autor) e o autor primeiro do texto.
O projeto do grupo SELEPROT visa a enriquecer as teorias
semiticas, ampliando-lhes a aplicao nas reas de Lingstica,
Letras, Artes e Comunicao, privilegiando seu potencial terico
na formulao de uma moldura metodolgica que subsidie o
ensino das lnguas e o processo de produo de textos e da leitura
(de textos verbais e no-verbais). Composto de doutores e mestres
em Letras, Lingstica, Comunicao, Msica, Semitica, Teatro,
etc., o grupo tende a desenvolver projetos inter- e
transdisciplinares plenamente ajustados s demandas
contemporneas. Explorando a potencialidade de aplicao da
semitica no mbito da produo de textos (verbais e no-verbais),
nossas pesquisas tendem a entrecruzar semitica, anlise do
discurso, lingstica textual, artes plsticas, msica, cinema, teatro,
pintura (e outras linguagens) com vistas a analisar e tentar
explicitar o processo de produo do sentido, apontando as
especificidades de cada cdigo e suas relaes com os espaos
mentais ativados durante as atividades de produo textual e de
leitura, com vistas a ampliar o domnio lingstico dos sujeitos
viabilizando-lhes a apropriao do cdigo privilegiado nas
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
240
sociedades letradas: o verbal escrito (maiores detalhes em Simes,
2004).
Como se fosse possvel concluir...
angustiante a sensao de tentar encerrar um estudo sobre
tema rico e por isso polmico como o que o que ora abraamos
para dele falar. Os portais da semitica so, antes de tudo, mtico-
lendrios, se observados como parte da histria do conhecimento
humano. Embebidos em fundamentos filosficos, os estudiosos
debatem-se sob as ondas da investigao num modelo quo vadis e
agarram-se s iluses de descoberta que se anunciam nos osis que
se afiguram nos desertos de suas buscas.
Essa metfora no uma produo ocasional, mas uma iluso
referencial hipottica para o estado em que nos encontramos ao
tentar concluir este texto. H tanto sobre o que falar! H tanto para
discutir! No entanto, as iluses no podem apoderar-se de nossa
razo e levar-nos a lugares de um pretenso dizer completo.
Comeamos, ento, a despegar-nos da iluso e retomar a
conscincia da sempre limitao do saber e do dizer e recuperar o
compromisso da provocao, da apresentao de idias e
concluses provisrias, parciais, imperfeitas, discutveis, etc., mas
que podem estimular a busca e a polmica saudvel que faz
avanarem as descobertas e as invenes.
Com a clareza de nossa pequena leitura sobre o tema
(comeamos nossos estudos na rea em 1988), queremos crer ter
podido reunir dados que viabilizem a construo de uma imagem
(ainda que deformada, claro!) do processo de desenvolvimento e
firmao da semitica como uma cincia especulativa do processo
de conhecer, representar e significar. Mantemos nossa posio
acerca de uma semitica voltada para a cognio, ocupada com a
produo sgnica e com a semiose ilimitada, sem distinguir
hierarquias tipolgicas, seno orientando a interpretao dos
signos nos processos de interao donde emergem seus valores e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
241
funes imediatas, a partir dos quais a autogerao sgnica se
projeta ao infinito.
Pensamos com Peirce que apresenta o pensamento como um
sistema de idias cuja nica funo a produo da crena. A
unidade do sistema reside na sua funo. A funo do pensamento
unicamente a de produzir a crena. A crena, por seu lado, o
apaziguamento da dvida. Mas, ao sossegar a irritao da dvida, a
crena implica a determinao na nossa natureza de uma regra de
ao, ou, numa palavra, de um hbito. Quer isto dizer que com a
crena acaba a hesitao de como agirmos ou procedermos. Logo,
urge re-significarmos nossas crenas.
Por isso, entendemos que a semitica se impe como o grande
enquadre cientfico-epistemolgico do terceiro milnio, por meio
do qual parece-nos possvel buscar o entendimento das mudanas e
das necessrias e conseqentes compatibilizaes entre o dado e o
novo, em prol de uma convivncia harmoniosa entre os seres e
coisas que compem o ecossistema em que estamos envoltos.
Referncias bibliogrficas
BARTHES, Roland. Elements of semiology, London: Cape,
(1964), 1972.
______ O rumor da lngua. Lisboa: Edies 70, 1987.
BTTNER, Peter. Mutao no Educar: uma questo de
sobrevivncia e da globalizao de vida plena o bvio no
compreendido. Cuiab: EdUFMT, 1999.
COSERIU, Eugenio. Sincronia, diacronia e histria. Rio de
Janeiro: Presena/ So Paulo: USP, 1979.
DUCROT, Oswald . Provar e Dizer. So Paulo: Global
Universitria, 1981.
ECO, Umberto, History and historiography of Semiotics in
Posner, org., 1997.
EDLOW, Robert Blair. Galen on Language and Ambiguity,
Leiden: E.J.Brill, 1977.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
242
FIDALGO, Antnio. Da semitica e seu objecto. In
Comunicao e Sociedade 2, Cadernos do Noroeste, Instituto
de Cincias Sociais da Universidade do Minho, 1999.
http://bocc.ubi.pt/pag/fidalgo-antonio-objecto-da-
semiotica.html
______. Manual de semitica. UBI PORTUGAL - www.ubi.pt -
2003/2004
______. Semitica: A Lgica da Comunicao, Covilh:
Universidade da Beira Interior, 1998.
GREIMAS, A. J. & COURTS, J. Semiotics and language.
Bloomington: Indiana University Press, 1979.
______. Smiotique. Dictionnaire raisonn de la thorie du
langage, Paris: Hachette, 1979.
HOBBES, Thomas. Leviat. edio brasileira. So Paulo: Nova
Cultural, 1997.
HUBIG, Christoph. Die Zeichentheorie Johann Heinrich
Lamberts: Semiotik als philosophische Propdeutik in
Zeitschrift fr Semiotik 2, 1979
JAKOBSON, Roman, On Language, Cambridge: Harvard
University Press, 1990.
LOCKE, John: Ensayo Sobre el Entendimiento Humano (1690),
trad. por Edmundo OGorman, Mxico, F.C.E., 1956,
fragmentos.
MACHADO, Irene. Comunicao, um problema semitico? In
Ciberlegenda, N 5, 2001.
http://www.uff.br/mestcii/irene1.htm
MERREL, Floyd. Introduccin a la semitica de C. S. Peirce.
Maracaibo: Universidad de Zulia, 1998.
MORRIS, Charles. Writings on the General Theory of Signs, The
Hague: Mouton, 1971.
MOUNIN, Georges. Introduction la semiologie. Paris: Minuit,
1970.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
243
NTH, Winfried. Panorama da semitica. De Plato a Peirce.
So Paulo: Annablume, 1995.
______. Handbooks of semiotics. Bloomington and Indianapolis:
Indiana University Press, 1995a.
OEHLER, Klaus. An Outline of Peirces Semiotics in Martin
Krampen, org., Classics of Semiotics, New York: Plenum
Press, 1987.
PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers of Charles Sanders
Peirce, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2932-
2935, 2.545-567. [CP]
PELLIZER, Ezio, Sign Conceptions in pre-classical Greece in
Posner, org., 1997.
PEREIRA, P. Isidro, S.J. Dicionrio grego-portugus e portugus-
grego. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa.
PERELMAN, C. O Imprio Retrico. Lisboa: Asa,1993.
PLAZA, Julio. "Esttica e Semitica das Artes" (apontamentos),
Instituto de Artes, Unicamp, 1998.
SANTAELLA, Lucia. Conferncia de abertura do V Congresso
Brasileiro de Semitica (Faculdade Belas Artes em So Paulo
- SP set/2002). In
http://www.geocities.com/absbsemiotica/vcongresso.htm
______. A teoria geral dos signos. Semiose e autogerao. 1995,
SP: tica
SIMES, Darcilia. Semitica, leitura e produo de textos:
Alternativas Metodolgicas. Comunicao apresentada no
XIX Encontro da Associao Nacional de Ps-graduao e
Pesquisa em Letras e Lingstica, no GT de Semitica, na
UFAL, jul/2004. [no prelo]
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingustica Geral, Lisboa:
Publicaes Dom Quixote, 1986. (CLG)
SEBEOK, Thomas A. Symptome, systhematisch und historisch
in Zeitschrift fr Semiotik 6/2-2, 1984.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
244
______. Contributions to the Doctrine of Signs, Bloomington:
Indiana University Press, 1976.
______. Theorie und Geschichte der Semiotik, Reinbeck, 1979.
TRABANT, Jrgen, Monumentalische, kritische und
antiquarische Historie der Semiotik in Zeitschrift fr
Semiotik 3/2, 1982.
TOMS, Joo de So. Tratado dos Signos, traduo, introduo e
notas de Anabela Gradim Alves, Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 2001.WALTHER, Elisabeth.
Allgemeine Zeichenlehre. Einfhrung in die Grundlagen der
Semiotik, Stuttgart, 1974.
A Bela e a Fera:
Conto de Fadas ou de fados?
Geruza Zelnys de Almeida PUC/SP
O conto que hoje conhecemos e que tanto nos delicia pela
forma que o encerra (brevidade, intensidade e unidade) deriva-se
da tradio oral, cujas razes mticas podem ser verificadas e
vivificadas numa leitura atenta e profunda de suas entrelinhas.
Derivado do termo latino computum, o gnero breve por
excelncia se prope a enumerar fatos, ou melhor, enumerar um
fato central e acontecimentos ligados a ele. Como se centra sobre
determinado fato, a brevidade, conciso e intensidade dessa
modalidade narrativa aproximam-na da poesia.
Sendo assim, debruar sobre a anlise do conto , antes de
tudo, um percurso instigante e labirntico: cada porta no revela
uma sada, mas uma entrada para novas significaes. Nesta
anlise, o conto A Bela e a Fera, coletado por Cmara Cascudo em
Minas Gerais, ser focado a partir de uma perspectiva em trs
dimenses, a fim de ampliar a tese pigliana de que todo conto
conta duas histrias. Aqui, a Bela e a Fera ser uma unidade
composta por trs histrias distintas que se entrelaam e se
completam. Nosso estudo fundamenta-se nas trs instncias
distintas formadoras do conto maravilhoso: a forma fixa, o autor
oral e o autor artista. Vejamos como isso se processa.
1. A Bela e a Fera: da forma simples 3D
A Bela e a Fera um conto popular e por isso contm as
caractersticas elencadas por Cascudo (2000: 13): antiguidade,
anonimato, divulgao e persistncia. Tais caracteres fazem dessa
forma narrativa, uma forma primeira que, nas palavras de Grimm,
saem do corao do Todo e se edifica como uma criao
espontnea e natural. Assim, quando Jolles (1930) classifica o
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
246
conto como forma simples, se refere mobilidade e pluralidade
que o encerra; diferindo-o da forma artstica que, por ser obra de
um, e muito mais slida, elaborada e submetida a uma construo
unificadora, em vista das vrias vozes que orquestram o conto
popular.
Jolles (Idem: 198) ainda salienta a necessidade e/ou disposio
mental do leitor na recepo do conto de fadas, pois este acontece
no plano maravilhoso, ou seja, as coisas se passam nessas
histrias como gostaramos que acontecessem no universo, como
deveriam acontecer. E, s atravs da moral ingnua, o leitor
poder adotar esse espao maravilhoso como natural e crer nos
fados de Bela, Fera e demais personagens.
Ocorrendo na atemporalidade do era uma vez, o conto
satisfaz as exigncias da moral ingnua e, portanto, [os
acontecimentos] sero bons, justos segundo nosso juzo
sentimental absoluto (Idem: 200): a bela casa-se com a Fera
(des)encantada que , na verdade, um lindo e rico prncipe.
Entretanto, existe no ser humano o pendor para o trgico, ou
seja, o momento onde confluem o maravilhoso e o real, enquanto
resistncia de um universo sentido como contrrio s exigncias
da nossa tica ingnua em face desse acontecimento. Eis que,
dentro do conto ergue-se um anticonto: separaes (primeiro da
famlia, em seguida de Fera), iminncia da morte (Fera), entre
outras (des)venturas que sero eliminadas no decorrer das linhas.
Esses acontecimentos trgicos so de extrema importncia
para o conto, j que empurram a narrativa e foram o heri a agir.
Propp (1970: 246) chama situao inicial aquela na qual reina o
equilbrio, portanto, a historia s comea realmente quando h um
dano. Para o terico russo os contos podem ser comparados em
sua composio e estrutura de modo que as funes dos
personagens apresentam constantes, mas todo o resto pode variar.
Propp estabeleceu 31 funes das personagens e suas variantes
como fundamentos para a anlise do conto maravilhoso.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
247
Importante se faz salientar que, por mais que Cascudo tenha
buscado o conto na fonte oral e tentado ser o mais fiel possvel,
no se pode negar sua atualizao e, tampouco, sua elaborao
artstica. Quanto a isso Jolles afirma:
sempre que uma forma simples atualizada, ela
avana numa direo que pode lev-la at a fixao
definitiva na forma artstica; sempre que envereda
por esse caminho, ganha em solidez, peculiaridade e
unicidade, mas perde grande parte de sua
mobilidade, generalidade e pluralidade pp. 196-
197.
Por isso Benjamin (1985: 198) considera que entre as
narrativas escritas, as melhores so as que menos se distinguem
das histrias orais contadas pelos inmeros narradores annimos.
Devemos nos deter aqui para repensar o termo melhores: o que
ser que o pensador imaginava ser narrativas melhores? Talvez
sejam aquelas mais prximas da questo mtica, ou seja, aquelas
que guardam uma simbologia ou, melhor ainda, uma
comunicao por meio da analogia (CAMPBELL, 1949: 254).
Nosso raciocnio se comprova medida que estabelecemos
uma ponte entre esses tericos. Campbell (Idem, Ibidem.) analisa o
mito como poderosa linguagem pictorial para fins de
comunicao da sabedoria popular o que vai ao encontro da
concepo de narrador benjaminiana como sendo um homem que
sabe dar conselhos (Idem: 200). J que os conselhos configuram-
se como fruto da experincia adquirida, inferimos que quanto mais
a experincia se relaciona com o coletivo, maior a fora do
conselho, o qual adquire status de verdade absoluta.
Assim o conto popular/oral ajuda o homem na sua busca
interior, mais ou menos como Octavio Paes (1982: 64-65) fala
sobre a poesia: a revelao potica pressupe uma busca interior
(...) mais que busca, atividade psquica capaz de provocar a
passividade propicia ao surgimento de imagens. No caso do
conto, essas imagens mticas sero, mesmo que
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
248
imperceptivelmente para o leitor ingnuo, rememoradas,
relembradas e revividas.
Se, de certa forma, o conto intenta passar um conselho
repetir uma ao, comunicar a tradio evidentemente tais
intenes no esto desnudadas aos olhos do leitor: a imagem
forada no possui o mesmo efeito daquela que se descortina aos
poucos. Essas imagens esto cifradas o longo da histria,
construindo uma nova histria que se revela como um pacto entre
o conto e o leitor. Porm, verifica-se nos contos maravilhosos um
estranhamento ao contrrio, ou seja, enquanto que na poesia h um
obscurecimento que leva ao desvendamento, no conto a
singularizao esta na revelao abrupta dos fatos. Essa revelao
de superfcie provoca o desejo de ir mais a fundo, at que um
mergulho mais demorado leve o leitor a epifania.
Talvez a explicao para isso seja a proposta de Piglia (1994:
37) que, em suas teses, percebeu que todo conto conta duas
histrias, de maneira que o efeito de surpresa se produz quando o
final da histria secreta aparece na superfcie. Sendo assim,
podemos dizer que o conto uma construo tensionada entre duas
histrias: uma de superfcie e outra de profundidade.
Em se tratando dos contos de fadas essa segunda histria est
ainda mais velada visto que, com o passar do tempo, ele adquiriu
funo moralizante, pois a criana confia no que o conto de fada
diz porque a viso a apresentada est de acordo com a sua
(BETTELHEIM, 1980:59). Mas Foucoult (apud FERRARA,
1978: 44) quem reitera que a palavra empregada o discurso de
um homem que no concebe os nomes, mas os julga e, sendo
assim, a escolha lexical deve nortear a anlise do conto popular.
Portanto, as palavras empregadas - enquanto construo de um
smbolo ideolgico - e no as aes j que as fundamentais no
variam so os elementos singularizantes no conto de fadas.
A partir dessa conjectura, podemos inferir que se Piglia atribui
duas histrias ao conto artstico (cuja construo elaborada por
um autor), o conto de fadas possui, no mnimo, trs. Afinal, essa
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
249
modalidade narrativa participa de trs instncias distintas: uma
estrutura formal invarivel comum aos contos maravilhosos; uma
seleo lingstica/ideolgica varivel oral; uma elaborao
artstica daquele que registra e interfere ideologicamente no texto.
Assim teramos, aliceradas sobre a mesma estrutura, uma histria
de superfcie que leva da diverso moralizao; uma histria
intermediria que, partindo da moralizao, vai da psicologia
mitologia; e, uma histria de carter metalingistico/potico que
retorna a prpria histria.
Pensando assim, analisamos o conto A Bela e a Fera a partir
dessa perspectiva em trs dimenses, se no para comprovar nossa
hiptese, ao menos para valid-la. Para isso, nos valeremos do
conceito pigliano de pontos de cruzamento, ou seja, elementos
comuns s trs histrias, porm com significados divergentes:
Cada uma das histrias contada de maneira
diferente. Trabalhar com duas histrias significa
trabalhar com dois sistemas diversos de causalidade.
Os mesmos acontecimentos entram simultaneamente
em duas lgicas narrativas antagnicas. Os
elementos essncias de um conto tm dupla funo e
so utilizados de maneira diferente em cada uma das
duas histrias. Os pontos de cruzamento so a base
da construo. (1994: 38).
Assim estabelecemos trs pontos de cruzamento representando
as trs escolhas de Bela, as quais, direta ou indiretamente, esto
ligadas aos trs objetos mgicos: a flor, o espelho e o anel.
Enquanto a flor representa a escolha de Bela pela Fera, o espelho
representa o afastamento e o anel o retorno. A partir dessas
consideraes preliminares, comearemos nossa anlise.
2. O conto de fadas: uma perspectiva formal
De acordo com Propp, o conto apresenta uma Situao Inicial
onde reina o equilbrio: apresenta o mercador, suas belas filhas e
seu empobrecimento. Note-se que o mercador era rico e sentia
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
250
vergonha de sua pobreza, o que o far passar primeira funo
proppiana: o I. Afastamento - na modalidade 1: gerao mais
velha deixando Bela, futura herona mais frgil. O pai partindo
para tentar a sorte em terras distantes, ganha caracterizao
herica, pois aquele que busca algo, no s para si, mas para as
filhas.
A funo II. Proibio (1) encontra-se implcita, pois num
primeiro momento Bela diz no querer nada. Contudo, diante da
insistncia do pai, ela lhe pede a rosa mais linda, do mais lindo
jardim, algo praticamente impossvel e que j aponta para o
elemento mgico. No podemos nos esquecer que o fato de Bela
querer ser abenoada vai desenhando as caractersticas da nossa
mi(s)tica herona.
Tal proibio levar a III. Transgresso: aquilo que era uma
proibio implcita no traga nada foi transgredido: ele achou e
colheu a flor. Atente-se para a atmosfera maravilhosa que imbui o
local, os acontecimentos inexplicveis que preenchem nossa
moral ingnua e que fazem com que o conto flua. Como castigo
pela transgresso, aparece no conto o antagonista cujo papel
consiste em destruir a paz da famlia feliz, em provocar alguma
desgraa, em causar dano, prejuzo (Propp, 33).
O antagonista (Fera) ser responsvel pelas trs funes
seguintes:
IV. Interrogatrio: A Fera interroga o pai para descobrir
onde haveria mais rosas: Pois no sabes que eu me alimento s de
rosas?....
V. Informao: A Fera recebe resposta direta sua pergunta:
minha filha: Mas, eu queria levar essa flor a minha filha mais
nova.
VI. Ardil (1: proposta enganosa): A Fera prope uma
condio, pois de nada lhe adianta a rosa cortada: No; leve a flor
com a condio....
A funo VII. Cumplicidade (1: o heri deixa-se persuadir)
aparece duplamente, primeiro o pai que pensa que poder realizar
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
251
uma troca, enganando a Fera e, por ltimo, quando Bela pensa
poder apaziguar a Fera. Propp (Idem: 35) salienta que as propostas
enganosas so sempre aceitas e executadas. Se o pai se
sacrificou por ela, ela vai se sacrificar pelo pai.
Tais aes resultaro na funo VIII. Dano (8: Faz
exigncias a sua vitima), a qual, segundo Propp, a mais
importante, pois constitui o n da intriga, ou seja, aqui que
comea realmente a histria que estava em gestao. Ao separar
Bela de sua famlia, a Fera causa prejuzo ao pai. certo que o
dano j vinha sendo preparado pelas demais funes de proibio e
transgresso, funes essas que esto diretamente ligadas ao
primeiro ponto de cruzamento das histrias: flor.
Suspendem-se as funes: o heri continua preso, o pai perde
a heroicidade por no resgatar a filha, que se torna nica herona
na histria e, paralelamente, por aproveitar-se da situao para
enriquecer. Entretanto, Bela apercebe-se da sua situao atravs do
espelho que lhe mostrado pelo antagonista em mutao e resolve
tomar atitudes hericas. Ao retomarem-se as funes, podemos
listar:
IX. Deixam-no ir (3: O heri pede permisso para passear...):
Na verdade Bela resolver lutar contra o aprisionamento.
X. O heri-buscador decide reagir (Inicio da reao): Em
vista das negativas, Bela prometeu voltar ao fim de trs dias.
XI. Partida: A moa foi
XII. Prova (10: Mostra-se ao heri um objeto mgico e
prope-se-lhe uma troca): Fera lhe d o anel para que ela volte.
Esse anel marcar a outra escolha de Bela: voltar para Fera.
XIII. Reao do heri (7: o heri responde ao pedido), XIV.
Recepo do meio mgico (3) (1: o objeto se transmite
diretamente), XV. Viagem (o heri simplesmente chega ao local
de seu destino), XVI. Combate (o heri recebe um objeto que deve
auxili-lo na sua busca), XVII. Marca, XVIII. Vitria, XIX.
Reparao do dano (1. O objeto da busca se consegue mediante a
busca), XX. Regresso: Essas funes vo ocorrendo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
252
simultaneamente, com Bela aceitando o anel, recebendo-o,
aparecendo na casa dos pais. Verifica-se aqui a metamorfose do
antagonista que acaba tornando-se um doador, com quem Bela tem
uma aliana, mesmo que implcita. Quanto ao combate podemos
inferir que o dilogo entre Bela e Fera constituem um combate
velado, no qual a herona sai vencedora, porm marcada, sem
saber, pela felicidade: disse-lhes que era feliz. Todavia o dano
reparado: Bela voltou para casa.
Entretanto, a herona sofrer XXI. Perseguio (4. Os
perseguidores se transformam em algo atraente e se colocam
no caminho do heri) j que as irms invejosas escondem-lhe o
anel, no para t-la prxima, junto ao seio familiar, mas para
privar-lhes (Bela e Fera) da felicidade. Aqui tambm contm uma
funo XXII. Salvamento, visto que o marido da irm,
transforma-se em doador e restitui-lhe o objeto mgico.
Para Propp (1928: 54) em alguns contos o dano que
constituir o n da intriga se repete (...). Com isso, inicia-se um
novo conto. (...) Este fenmeno mostra que um grande nmero de
contos maravilhosos se compem de duas sries de funes, que
podemos chamar de seqncia. Isso nos prepara para aceitar
novas combinaes de funes que se formam a partir da funo
VIII bis. Tiram do heri aquilo que ele obteve (o anel mgico).
O feixe de aes de repete com IX bis. (6: O heri
condenado a morte libertado: necessidade de partir): a
herona condenada ao esquecimento (que no deixa de ser uma
morte daquela que era) e libertada pelo anel; h o X bis. Inicio da
reao, o XI bis. Partida com o XII bis. O heri submetido a
uma prova: chegar ao tempo de 3 dias; XIII bis. Reao do heri
(O heri no supera a prova): precisa de mais meio dia. Depois
de muito procurar encontra Fera: XIV bis. Fornecimento (6: o
objeto aparece sbita e espontaneamente).
Finalizando as funes, tem-se a XXIII. Chegada Incgnito
(1: o heri volta ao lar): porm nossa herona no pode ser
reconhecida porque outra, transformada pelo amor. Tal
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
253
transformao realiza-se completamente quando proposta uma
XXV. Tarefa difcil: beijar a Fera. Como XXVI. A tarefa
realizada com sucesso, XXVII. O heri reconhecido: Bela
provou possuir todas as qualidades hericas que satisfazem a
moral ingnua: forca, astcia, bondade, amor, etc.
Como prmio h o XXVIII. Desmascaramento e a XXIX.
Transfigurao: o antagonista no inimigo, ele bom e se
transforma em prncipe quebrando um feitio que jogaram contra
ele. Por fim, acontece o esperado XXXI. Casamento.
Como se observa, alm de divertir o conto quer moralizar,
pois deixa evidente que a felicidade s pode ser alcanada depois
de muito sofrimento e, mais, sofrimento fruto da desobedincia, do
roubo e das faltas.
O conto A Bela e a Fera pode ser analisado sob o enfoque das
funes proppianas, entretanto quanto mais o conto de fadas
aproxima-se da forma artstica, mais se afasta da estrutura
monotpica e linear proposta por Propp. Advm da, a dificuldade
de efetuar a distribuio das funes: a cada recontar a histria
sofre novas modulaes e recebe acentos ideolgicos mais
diversos. Isso explica as mutaes sofridas pelas personagens que
nos surpreendem pela situao de devir na qual se apresentam;
situao prpria do dialogismo fruto da oralidade, porm
afastada do monologismo tpico das histrias moralizantes.
Evidencia-se assim que o conto se assenta sobre duas
histrias:
H1: A bela Bela e a fera Fera;
H2: A no to Bela e a no to Fera.
Como prope Piglia, no necessrio interpretar para se
chegar a H2, pois ela se encontra contada enigmaticamente, nas
entrelinhas, metafrica e metonimicamente. Alm do mais, o
mais importante nunca se conta (Idem: 39) e acabamos sem saber
o porqu da Fera estar encantada. O que ela teria feito? Quem a
teria enfeitiado? Qual era a aparncia da Fera? So perguntas sem
respostas, mas que merecem ser sondadas, como faremos a seguir.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
254
3. O conto de fados: uma perspectiva psico/mitolgica
Ampliando as relaes paradigmticas no texto, notamos que
o fato do mercador j ter sido rico lhe confere autoridade,
importncia e at certa virilidade, j que tinha trs filhas.
Reparemos que no h meno sua esposa, o que se enfatiza a
beleza das filhas, em especial, de Bela que, ao passo em que as
irms reclamam o luxo perdido, acomoda-se a sorte assumindo o
papel de esposa: ficar ao lado do marido/pai.
O afastamento do pai, ao passo que fragiliza as filhas, aparece
como recompensa: ele ser substitudo pelas coisas que trar.
Como o conto remonta s tradies e aos rituais religiosos, num
passado no muito distante eram os pais que buscavam os maridos
para suas filhas, os casamentos eram acordos geralmente
baseados no lucro financeiro.
Enquanto a filha mais velha quer algo rico que possa tocar
(piano), a do meio quer algo delicado que a toque (vestido de
seda), Bela tem seus desejos voltados ao pai: que ele fosse feliz e
a abenoasse. Abenoar significa lanar bnos, fazer feliz,
proteger, louvar, glorificar; portanto, Bela quer permanecer sob a
proteo do pai, fazendo feliz um ao outro. Quando o pai-heri
insiste para que Bela escolha uma prenda (para se prender) a
garota pede algo que, se a princpio parece um pedido ingnuo, aos
poucos descortina um desejo singular: por o heri a prova, provar
a si mesma sua importncia, provar para as irms que ela a mais
bela, a mais jovem, a mais querida e merece aquilo tudo que
mais. Entretanto, Bela imagina que a prova no ser vencida, pois
o pai no achar flor, smbolo da delicadeza, pureza e virgindade,
superior a ela prpria.
O pai que no consegue seu intento, ao voltar pra num rico
castelo onde come, bebe e dorme. Apesar de muito admirado de
tudo no esquece e sonha com sua filha Bela, reforando a
relao edpica mantida entre pai e filha. Interessante se faz notar
que o pai, em meio a toda aquela riqueza, no se lembra do
piano da mais velha, nem do vestido para a do meio, mas
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
255
encontra, no rico jardim, a mais linda rosa que seus olhos j
viram e a colhe. Seria para si ou para a Bela? Se levarmos em
conta que a rosa cortada ou deflorada indica a perda da
virgindade, o pai no teria encontrado uma virgem para fazer sua
esposa (levar para casa)? Porm, o dono do castelo, monstro,
fera horrvel se enfurece e reclama o que lhe pertence.
A Fera possui, j que se diz roubado dentro de seu prprio
castelo, as virgens que alimentam virtualmente seus desejos que,
talvez por serem impuros, precisam ser purificados, ou estar em
meio puro, intocado. Vivendo entre virgens, seus anseios mantm-
se aprisionados. O pai traidor - uma vez que no soube pagar a
acolhida, muito menos respeitar a fidelidade para com a filha -
tenta restituir o que tomou, mas colhida a rosa no serve mais e a
Fera no aceita. Intencionalmente (j que no era necessrio), o pai
menciona ter uma uma filha mais nova e, como juventude e
virgindade andam juntas, a Fera prope que ele lhe traga a
primeira criatura que avistar. Se avistar ver ao longe e
Bela a primeira e nica nos pensamentos de seu pai, certamente
ela ser avistada por todo longo caminho da volta.
Assim, em face da rosa/mulher que o pai lhe
entrega/apresenta, contando a histria, a herona, ferida em seu
orgulho (de filha, de mulher) no aceita a troca e vai mostrar ao pai
que, de uma forma ou de outra, superior. Se a rosa mais linda aos
olhos do pai estava naquele jardim para l que ela vai.
Bela no quer separar-se do pai, porm ele tem uma rosa e ela
precisa, tambm, ser a rosa de algum. Ningum para sempre
criana, muito menos vive para sempre sob a proteo do pai,
mister que o matrimnio acontea para a continuao da
humanidade. Sendo assim, Bela assume-se como heri buscador,
porque sai em busca de suas dores: o afastamento do pai e a
entrada para a vida adulta. A moa colheu a rosa, no outra, mas
aquela mesma que o pai lhe dera, afinal colher e o mesmo que
ganhar, conseguir, receber. Sendo assim, Bela colheu da rosa as
informaes necessrias que ela, virgem, no tinha para
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
256
apaziguar o homem-fera e soube o que dizer e fazer: se ps a
ach-la muito bonita e acaricia-la e l fica vivendo com Fera.
Quando Bela deseja ver o pai, a seleo do termo velho
promove a descaracterizao do pai enquanto heri para a filha e a
manuteno da condio virginal de Bela que ainda nomeada
menina. Soma-se a isso o desejo do pai lev-la de volta: ela
continua sendo a rosa mais linda aos olhos do pai e h,
conseqentemente, uma possvel mutao antagonista-heri aos
olhos da menina, j que a Fera, cuja virilidade ela desconhece
ainda, no permite que o pai a leve. A garota, utilizando-se da
astcia que colheu da rosa colhida ajuda o pai a enriquecer.
Podemos inferir a inteno da Fera ao mostrar o casamento da
irm mais velha de Bela: realizar e/ou concretizar o seu
matrimnio. Para isso, leva-a a um quarto encantado e num
espelho de palavras reflete a alegria da irm na vida de Bela. Bela,
que tambm colheu brandura, pede pra voltar a casa dos pais,
fingindo que voltaria para Fera e jurando que no seria assim to
ingrata, podia ser um pouco, mas no tanto. Fera (con)sente,
porm lhe entrega um anel, ou aliana j que sela um
relacionamento at que a morte os separe: Se no voltares em trs
dias, me encontrars morto. Leva este anel e no tires do dedo,
porque se o tirares, me esquecers.
Bela vai, est livre da Fera, porm contando o que era
passado percebe que era feliz. Da, conclui-se a importncia do
contar, Bela ao delimitar seu prprio conto, apercebe-se dele e, ao
afastar-se, pode ver melhor aquilo que no via de perto. Sentiu
aquilo que o ser humano sente com relao ao passado: que todas
as coisas boas ficaram l.
Verifica-se bem a falta de carter das irms que escondem a
aliana simplesmente por inveja de sua riqueza e felicidade. No
que no fossem ricas, pois s custas de Bela j o eram, mas por
aquele sentimento de competio que se agora as toma, j havia
tomado Bela quando desejava ser a mais linda rosa para o pai.
Entretanto o que no podemos deixar de lado o fato de que Bela,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
257
contrariando a ordem/pedido de Fera, retira a aliana por livre e
espontnea vontade (afinal consta que as irms esconderam e
no a roubaram). Bela esquece-se de Fera, mas tambm no se
lembra do pai, o qual no aparece no texto, encerrando assim a
ligao edpica que mantinha com ele. Outrossim, sem a aliana
define-se o carter inconstante no s de Bela, mas da figura
feminina, ao passo que se delineia o do homem: constncia e
seriedade: (re)conhecendo a importncia do compromisso, o
cunhado obrigou a entrega do anel.
Bela demorou-se para decidir entre por ou no o anel retirado,
tal ato encerra uma morte: se tir-lo mata Bela-mulher, se coloc-
lo mata Bela-criana. Coloca-o e ao coloc-lo se lembrou de tudo
novamente. Novamente, no s porque j havia se lembrado ao
contar para as irms, mas tambm porque agora a maneira de
lembrar daquilo era nova. Partiu dessa vez decidida, porm com a
demora caracterstica de toda noiva (meio dia ou meia hora?).
Bela procura pelo bicho. Registre-se aqui que pela primeira
vez aparece no texto o termo bicho: no mais monstro ou animal,
mas bicho que tambm significa pessoa de grande importncia ou
saber. Depois de muito cham-lo, sem que ele viesse ao seu
encontro, Bela quem foi dar com (para) ele que se encontrava
estendido entre as gramas do jardim esperando para deflorar a
mais Bela rosa.
Bela sups que estivesse morto o desejo do marido por ela,
ento, ao invs de acarici-lo apenas, quis dar-lhe um beijo.
Certamente, conversara com a irm casada sobre beijos. Beijos
selam o matrimnio. A aliana ela j tinha. S no tinha e nunca
tinha tido o beijo. E o beijou. Ele recebeu-a.E ele se
transformou. E ela tambm. Estava(m) encantado(s)... (e acho
que ainda esto...).
Portanto, se verifica nessa histria intermediria que os pontos
de cruzamentos mantm-se como alicerces para as mudanas
psicolgicas da herona: nas imagens selecionadas h
transferncias de experincias passadas. Evidencia-se a natureza
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
258
feminina, alm da culpa que a faz ir ao encontro de Fera e o medo
do ato sexual na associao noivo-monstro.
Cascudo (2000: 120) em nota ao conto diz que em alguns
pases a Fera aparece como um urso branco ou como serpente;
ademais registra que a histria repete o mito de Cupido e Psiqu.
Confrontando A Bela e A Fera com a histria narrada por Apuleio
(NEUMANN, 1971: 25-26), observa-se que as irms invejosas ao
caracterizarem o marido de Psiqu, assim procedem: ... e os
abraos da vbora peonhenta que te faz companhia a noite...;
Quando ento a imunda serpente subir como de costume ao
leito...; ... aproveita para finalizar (...) de um s golpe de punhal
(...) o anel que fica entre o pescoo e a cabea da serpente.
Embora a serpente, assim como a rosa, tenha uma conotao
sexual, no nos influenciamos por esse detalhe que no aparece, de
fato, no texto. Mas, por ser tratada de um animal, lembramos o
ciclo do noivo-animal ligado ao medo anterior a relao sexual,
que culmina na aproximao parceiro-monstro (BETTELHEIM,
1980). O homem-animal duas vezes animal e representa o
retorno s origens selvagens pelo ato sexual.
Qui o sexual, que se delineia desde as ptalas da rosa at o
beijo da transformao, seja apenas um acessrio para o tema
central do matrimnio, concebido numa tradio crist que buscou,
para pintar o paraso-jardim, tintas na mitologia greco-romana. De
qualquer forma, A Bela e a Fera contm os dois motivos
comentados por Propp: o da iniciao e o da representao da
morte entrelaados: a iniciao da vida sexual/adulta de Bela e a
morte de sua fase infantil; a morte da Fera para a iniciao da vida
feliz/realizada de prncipe. Tais consideraes evidenciam a
permanncia do mito enquanto modelo exemplar de todas as
atividades humana significativa (ELIADE, 1972: 13) conferindo
ao conto maravilhoso a universalidade que o faz eficaz.
Entretanto, se a flor, objeto mgico smbolo da pureza e
virgindade, trouxe Bela para a Fera, aproximando-a do ritual
religioso do matrimnio e, por conseguinte, das questes
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
259
mitolgicas; o espelho a afasta dessas condies. Isso ocorre
graas s marcas ideolgicas que, apesar de ocorreram numa certa
atemporalidade, marcam a relatividade de um tempo no qual a
histria est sendo contada.
Conforme Benjamin (1985: 215) o conto de fadas nos revela
as primeiras medidas tomadas pela humanidade para libertar-se do
pesadelo mtico, ou seja, adquirir autonomia necessria para a
evoluo social. Sendo assim, ao mostrar a Bela o espelho mgico,
Fera no s aproxima o conto da questo mitolgica, como
tambm o afasta, pois o espelho reflete e refletir mostrar a
imagem inversa. O espelho que, na primeira anlise levou-a ao
simples conhecimento, nessa segunda leva-a ao autoconhecimento
atravs do olhar.
Vendo a tradio presentificada no espelho, Bela afasta-se de
Fera: no quer casar para seguir a irm, ou qualquer mulher desde
o incio da humanidade. Se a primeira foi uma escolha passiva, a
segunda ativa e abre ainda mais o conto para a modernidade: o
fim dos ritos, a fragmentao e inconclusibilidade humanas.
Em consonncia, se Bela volta para Fera pelo anel mgico
para concretizar o matrimnio, sua volta apenas parece afirmao
do rito, porm configura-se muito mais como negao j que
institui uma nova ideologia: a unio por amor. Ao introduzir a
vontade deliberada de estar por querer, Bela quebra com as
colunas do dever, abrindo para a condio do homem moderno.
Para Cortazar (1974: 155) o bom contista e aquele cuja
escolha possibilita essa fabulosa abertura, do pequeno para o
grande, do individual e circunscrito para a essncia mesma da
condio humana. Ele ainda afirma que essa abertura fruto da
exploso de significados conseguida na brevidade da forma
simples, fator ligado condensao prpria da poesia, a qual no
dispensa a elaborao artstica, conforme veremos a seguir.
4. O conto de falas: uma perspectiva mito/metalingstica
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
260
Ao procurarmos por uma camada ainda mais profunda a
instncia do artista da palavra, o qual, por meio da funo potica,
produz uma mensagem que se volta para si mesma, cujo
procedimento fundamental para a tessitura do texto
inevitavelmente esbarraremos numa ideologia propriamente
narrativa. Para aquele que elabora a linguagem, nada mais
importante que a prpria linguagem e a reflexo metalingstica
que ela sugere.
Se todo conto maravilhoso possui uma estrutura invarivel
capaz de comportar em si uma teorizao sobre o gnero, todo
conto contm sua teoria em si, em estado puro. Sendo assim,
uma terceira histria seria um retorno que passa pela oralidade e
busca na forma as origens da narrativa popular. Esse processo
exclui os argumentos moralizantes, bem como os psicolgicos e
mitolgicos, favorecendo, nica e exclusivamente o ato criador, ou
a gnese da criao narrativa.
Talvez por isso, o pai e as filhas vivendo a paz admica -
impossvel de crescimento, pois nessa paz reina o equilbrio que
no passvel de ser contado -, so assaltados pela pobreza
impositora de novas experincias narrativas. Bela, a mais nova
filha: a menos transformada pede-lhe a mais linda flor do mais
lindo jardim, ou seja, a forma pura/natural, aquela que criao
do Todo, pertencente ao jardim mtico, espao de criao primeiro.
Tendo achado a flor, o pai a colhe e o que era puro fora
maculado; aponta-se a a impossibilidade desse narrar e a
exigncia de uma nova histria (GAGNEBIN, s/d: 56). O
aparecimento de Fera, criatura transformada, opostamente a Bela e
ao que era, indica a modificao ou elaborao artstica pela qual
os contos de fadas passam ao longo do tempo. Essa transformao
que aparenta prejuzo da essncia, impulsiona a narrativa para
frente, porm mantm uma ligao com a forma primeira: a Fera
alimenta-se de rosas.
A rosa/narrao entregue Bela, pois narrador forma
narradores e Bela precisa conduzir uma nova histria, cheia de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
261
marcas culturais, avaliaes que podem ser verificadas na
linguagem empregada. Porm, a forma deve se manter, as aes
no devem mudar, a tradio deve ser, por meio da palavra,
transmitida de pai para filho (idem: 57).
Porm, a transformao fato concreto, a flor vista pelo
espelho reflexo e por isso outra. Ao mostrar o espelho Bela,
Fera mostra-lhe toda elaborao artstica a que ele est sendo
submetido: toda uma nova massa lexical sobreposta a uma
estrutura primeira (prncipe) que, certamente, a transforma e abre-a
para novas leituras e interpretaes.
Benjamim (1985) compara essa palavra empregada a um anel
que passado de gerao a gerao, por isso Fera entrega Bela o
anel. Tal anel marca a aliana entre forma e contedo da nova
histria: a primeira morre no esquecimento e essa se torna a
primeira que morrer para outras. Possuindo o anel, Bela possui a
histria: uma histria que passa pela forma pura da flor, pela
transformao dos vrios olhares ao espelho e, agora, se fundem
no anel que a faz senhora: de si, de sua vida, de sua narrativa.
Como verificamos atravs dessas aproximaes entre a
histria e a gnese da narrativa, Bela est para o eixo de seleo,
assim como Fera est para o eixo de combinao: Bela o
elemento feminino modificador e criativo, enquanto Fera o
elemento formador: prncipe que virou monstro e que volta a ser
prncipe, porm no o mesmo, agora outro (trans)formado sgnica
e signitivamente por Bela.
So os conceitos poticos que nos permitem ver na construo
quase anagramtica de Bela e Fera um jogo de possveis
significados:
(B)ela e (F)era
A tenso entre dois eixos de oposies imagticas quebrada
pelo aditivo e, j no titulo da narrativa, sugerindo que o
afastamento mascara para a futura unio. Assim medida que se
negam tais imagens tambm acenam para uma possibilidade de
convergncia entre sentimentos dispares (querer, dever, poder):
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
262
Bela era a prpria Fera, ora herona, ora antagonista e, ao
mesmo tempo, ningum (sem funo) antes do encontro com seu
par;
A Fera era bela porque continha a pureza e o amor (Bela)
dentro dela, ora antagonista, ora heri, continuaria monstro
incompleto sem sua amada;
A incompletude da Fera j se prenuncia no desenho do F
que alicera o desenho do B, com a fuso dessas imagens, ambas
se completam e passam a ser B(elas) porm contendo as Feras que
eram.
Sendo assim, esgotamos nossa anlise, porm no o texto que
ainda se abre a infinitas possibilidades suspensas, as quais no se
deixam esgotar. Ousar no real/fictcio bom, ousar no maravilhoso
melhor ainda, afinal no final sempre h um prncipe maravilhoso
e encantado para receber nossas palavras em casamento.
5. Referncias Bibliogrficas
APULEIO. Amor e Psiqu In: NEUMANN, Erich. Amor e
Psiqu: Uma Contribuio para o Desenvolvimento da Psique
Feminina. SP: Cultrix, 1971.
BENJAMIN, Walter. O narrador. Consideraes sobre a obra de
Nikolai Leskov e Experincia e Pobreza In: Obras
Escolhidas: Magia e Tcnicas, Arte e Poltica. SP: Brasiliense,
1985.
BETTELHEIM, Bruno. A necessidade infantil da mgica e O
noivo-animal In: A psicanlise dos contos de fadas. RJ: Paz e
Terra, 1980.
CAMARA CASCUDO. A Bela e a Fera (seguido de notas sobre
variantes desse conto no folclore de inmeros povos) e
Prefacio (do autor) em Contos Tradicionais do Brasil. SP:
Global, 2000.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
263
CAMPBELL, Joseph. Da psicologia a metafsica e Historias
folclricas sobre criao em O Heri de Mil Faces, SP:
Cultrix, 1949.
CORTAZAR, J. Alguns aspectos do conto. In: Valise de Cronopio.
SP: Perspectiva, 1974.
DEVEREUX, G. A revirginao de Hera. In: Mulher e Mito.
Campinas: Papirus, 1990.
ELIADE, Mircea. A estrutura dos mitos e Os mitos e os contos
de fadas em Mito e Realidade. SP: Perspectiva, 1972.
FERRARA, L. DAlessio. O Texto Estranho. SP: Perspectiva,
1978.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. No contar mais? In Historia e
Narrao em Walter Benjamin. SP: Perspectiva, s/d.
GOTLIB, N. Battella. Teoria do Conto. SP: Atica, 1998.
JOLLES, Andr. O mito e O conto In: Formas Simples
legenda, saga, mito, adivinha, ditado, caso, memorvel, conto,
chiste. SP: Cultrix, 1976.
LEVI-STRAUSS, C. A estrutura e a forma reflexes sobre uma
obra de Vladimir Propp
MAGALHAES JR, R. A arte do conto: sua historia, seus gneros,
sua tcnica e seus mestres. RJ: Bloch, 1972.
POE, E.A. Filosofia da Composio In Fico Completa, Poesia
e Ensaios. RJ: Aguilar, 1981.
PROPP, Vladimir. Morfologia do conto Maravilhoso, Prefcio
(B.Schaiderman).
Anexo: A BELA E A FERA
Era uma vez um rico mercador que tinha trs filhas,
cada qual a mais bela.Depois empobreceu e foi
morar longe da cidade, onde pudesse esconder a
vergonha de sua pobreza. As filhas mais velhas
ficaram muito tristes com isso, por no poderem mais
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
264
sustentar o luxo de que tanto gostavam. A mais nova,
que se chamava Bela, acomodou-se a sorte e tudo
fazia por consolar o velho pai. SI TUAAO
I NI CI AL
Vai seno quando o mercador teve noticia de um bom negocio
numas terras muito distantes e, para tentar ainda o fado, partiu para
l. Ao despedir-se perguntou as filhas o que queriam que lhes
trouxesse, caso fosse feliz nos negcios. I. AFASTAMENTO
A mais velha disse que queria um rico piano; a do meio pediu
um vestido de seda e a mais nova respondeu que no pretendia
nada, seno que ele fosse muito feliz e a abenoasse.
O pai, que esta era a filha que ele mais prezava, insistiu com
Bela que escolhesse tambm alguma prenda.
- Pois bem, meu pai, quero que me traga a mais linda rosa do
mais lindo jardim que o senhor encontrar. II. PROIBIAO
O mercador partiu e no lhe correram os negcios como
esperava. Vinha regressando muito acabrunhado, em noite
tenebrosa, sem mais esperanas de encontrar pousada, quando, em
meio de um bosque, viu brilhar muitas luzes. Tocou para l. Era
um rico castelo. Bateu a porta longo tempo: o de casa!, e ningum
respondeu. Em vista disso foi entrando e percorrendo toda a casa,
sem lhe aparecer viva alma. Por fim viu surgir um criado de farda
que lhe veio dizer que o jantar estava a mesa. O hospede foi para a
sala de jantar e la encontrou um perfeito banquete. Comeu com
apetite. Mas no tornou mais a ver o criado, seno quando este o
veio avisar de que eram horas de dormir, mostrando-lhe em
seguida o mais belo quarto que se podia imaginar.
Estava muito admirado de tudo quando via e achava tudo
aquilo muito misterioso; mas, enfim, estava fatigado e com sono.
Adormeceu sonhando com a sua filha Bela.
De manh ergueu-se, disposto a continuar a viagem. Saiu para
o ptio, a fim de tomar o animal, mas quando avistou o jardim do
castelo lembrou-se logo do pedido de Bela, e como visse a mais
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
265
linda rosa que jamais seus olhos haviam contemplado, foi logo
colh-la. Quando a teve nas mos, pensando no contentamento que
ia dar a filha, surgiu de sbito um monstro, uma fera horrvel, com
estas palavras. III. TRANSGRESSAO
-Ah!... desgraado! Em paga de eu te haver acolhido em meu
palcio, vens roubar-me o meu sustento! Pois no sabes que eu me
alimento s de rosas?
-Que no sabia respondeu o mercador muito vexado .
Errei, confesso. Mas eu queria levar esta flor a minha filha mais
nova, que me pediu de lembrana a mais linda rosa que eu
encontrasse. Posso, entretanto, restituir-lha. Ai a tem.
-No; leve a flor, mas com a condio de trazer-me aqui a
primeira criatura que avistar em sua casa, quando chegar.
Como no tinha outro remdio, o mercador aceitou a condio
imposta e partiu com a flor. Em caminho ia pensando no caso, mas
estava certo de que tudo se resolveria bem, porque a criatura que
sempre vinha ao seu encontro era a cachorrinha da casa. Assim no
aconteceu. Ao chegar, a primeira criatura que ele avistou foi sua
filha Bela, a quem entregou a rosa, contando-lhe tudo o que havia
acontecido e lamentando a sua infelicidade.
- L por isso no seja, meu pai, pois irei, e a Fera h de se
apiedar de nos.
No outro dia foram ter ao castelo, onde tudo se passou como
anteriormente.
Quando, pela manh, a moa colheu a rosa, a Fera apareceu,
mas a rapariga se ps a ach-la muito bonita e acarici-la . O
monstro apazigou-se e o mercador , chegando a hora de partir,
despediu-se, chorando, da filha que ali ficou vivendo. VIII.
DANO
Algum tempo depois Bela mostrou desejo de tornar a ver o
pai, mas a Fera no quis que ela se afastasse dali. Mandou chamar
o velho, que veio logo num timo. L passou uns dias e quando foi
para voltar disse a Fera que lhe entregasse a menina. A Fera
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
266
respondeu-lhe que nem por tudo deste mundo lhe tornava a dar,
que podia vir v-la quando entendesse. E la por dinheiro no, que
fosse ao seu tesouro e levasse as riquezas que quisesse. O
mercador voltou rico para casa.
Passado algum tempo, a Fera chamou a moa e lhe disse:
- Tua irm mais velha acaba de casar-se.
- Como sabes disto?
- Queres v-la?
- Sim, que queria.
A Fera levou-a a um quarto encantado e mostro-lhe um
espelho onde ela viu a irm, no brao com o noivo, ao lado dos
pais e dos convidados.
Bela pediu ento com muita brandura que a deixasse ir a casa.
X. REAAO
E a Fera disse-lhe:
- Se eu deixasse, voc no voltaria aqui.
A moca jurou que no seria assim to ingrata e prometeu
voltar ao fim de trs dias.
A Fera consentiu, mas disse-lhe:
- Se no voltares em trs dias, me encontraras morto. Leva
este anel e no tires do dedo, porque se o tirares, me esqueceras.
XII. PROVA
A moa foi, visitou a famlia e contou as irms tudo o que era
passado e disse-lhes que se sentia feliz. XV. VIAGEM
As outras , com inveja, na noite que completava o terceiro dia,
esconderam-lhe o anel e ela no se lembrou mais da Fera. XXI.
PERSEGUIAO
O pobre animal, ao tempo que Bela ia-se esquecendo, ia
tambm amofinando. A irm casada contou ao marido o que havia
feito com a outra e ele que era um homem serio obrigou-a a
entregar o anel a irm. Dito e feito. XXII. SALVAMENTO
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
267
Logo que teve o anel no dedo, Bela de tudo se lembrou
novamente. Partiu sem demora e chegou ao castelo quando se
completava trs dias e meio que dali havia se ausentado. Procurou
o bicho por todo os aposentos, chamou-o muitas vezes, mas no
tornou a v-lo, ate que por fim foi dar com ele quase moribundo,
estendido entre as gramas do jardim. XXIII. CHEGADA
INCGNITO
Sups que estivesse morto e , como muito o estimava, quis
dar-lhe um beijo. XXV. TAREFA DIFICIL Quando o beijou, a
Fera, de repente, tranformou-se num belo prncipe. XXVI.
TAREFA REALIZADA Estava encantado. XXIX.
DESMASCARAMENTO.
Bela, com aquele beijo, lhe tinha quebrado o encanto e o
prncipe recebeu-a em casamento. XXXI. CASAMENTO
Literatura e teologia em Julien Green
Jos Carlos Barcellos UERJ-UFF
Literatura e teologia no debate atual
As relaes entre a teologia e a literatura so muito complexas
e diversificadas e s recentemente tm sido objeto de uma reflexo
sistemtica. No Ocidente, desde a consolidao da escolstica nos
scs. XII e XIII - com telogos do porte de Santo Alberto Magno,
So Toms de Aquino ou So Boaventura at o sc. XX, a
teologia acadmica quase sempre ignorou completamente a
existncia e a importncia da literatura, no obstante a evidente
relevncia das questes teolgicas nas obras de autores como
Dante, Gil Vicente, Cames, Caldern, Milton, Hopkins, Antero
de Quental ou Dostoivski, por um lado e, por outro, o freqente
recurso linguagem potica por parte de alguns dos mais insignes
msticos cristos, como So Joo da Cruz ou Santa Teresa de
vila, ou ainda a manifesta qualidade literria dos textos de
oradores sacros como Vieira ou Bossuet.
Ao longo do sc. XX, registra-se um paulatino e crescente
interesse pelo estudo das relaes entre teologia e literatura, tanto
por parte de telogos, quanto por parte de crticos literrios. Para
os primeiros, a razo fundamental pela qual comeam a se
interessar profissionalmente pela literatura (e tambm por outras
artes) parece decorrer da desintegrao da linguagem tradicional
da f e da teologia, na esteira da assim chamada crise da metafsica
ocidental. Efetivamente, a crise do racionalismo idealista
desencadeada pela obra daqueles pensadores a quem Paul Ricoeur
chamou de mestres da suspeita (Marx, Nietzsche e Freud) e
posteriormente aprofundada por influncia de Heidegger e do
existencialismo constituiu um srio golpe na tradio do
pensamento metafsico, sobre o qual a teologia se veio apoiando
sistematicamente, pelo menos desde a Idade Mdia. Eis por que a
teologia atual se v obrigada a recorrer a linguagens de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
269
emprstimo, como as das cincias humanas, da poltica, da arte
ou da literatura, para elaborar sua prpria linguagem, fenmeno
este analisado por Michel de Certeau (1969) e Henrique Cludio
de Lima Vaz (1986).
Para crticos e tericos da literatura, por sua vez, o interesse
pelas relaes entre esta e a teologia decorre do esgotamento das
metodologias excessivamente formalistas de abordagem do
fenmeno literrio e da conseqente necessidade de se reintroduzir
no mbito dos estudos literrios a preocupao com a comunicao
de uma mensagem, com uma particular percepo das experincias
humanas, como ncleo irredutvel de toda e qualquer obra literria.
Tratar-se-ia, pois, nessa perspectiva, de um aspecto daquilo que
Antnio Blanch (1995) chama de recuperao do valor homem
em literatura.
Quando se compulsa sistematicamente a bibliografia
especializada, observa-se com nitidez, em todo o debate, a
preocupao constante com o problema do mal. De fato, essa
questo parece polarizar a ateno de muitos telogos, quando
estes falam da importncia da literatura para a teologia ou daquilo
que s a literatura seria capaz de dizer. Diante da presena
avassaladora do mal, tal qual experienciada ao longo do sc. XX,
eles se do conta da insuficincia e irrelevncia da linguagem
teolgica tradicional e, inversamente, da profundidade e
comunicabilidade dos grandes painis literrios sobre o mal (entre
outros citem-se os nomes de Edgar Allan Poe, Emily Bront,
Julien Green, Albert Camus, Georges Bernanos, Franz Kafka e,
sobretudo Dostoivski).
Mais recentemente, Adolphe Gesch (1995), professor de
Louvain, tambm se ocupou das relaes entre teologia e
literatura. Gesch defende a tese de que, para cumprir eficazmente
seu papel, a teologia deveria eleger a antropologia cultural como
interlocutora privilegiada, pois torna-se impossvel, de fato e de
direito, falar corretamente de Deus se no se conhece o homem.
A antropologia seria, assim, a epistemologia da teologia, o lugar de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
270
sua verificabilidade. Nessa perspectiva, Gesch para quem a
teologia a cincia dos limites do humano ou do seu excesso
postula a constituio de uma antropologia literria, entendida
como a compreenso do homem construda pela literatura, como
disciplina com a qual a teologia precisaria dialogar, pois na
literatura que se encontra a verdade mais profunda do ser humano.
Julien Green (1900-1998): cidado norte-americano, escritor
francs, Julian Hartridge Green, cidado norte-americano, nascido
no ltimo ano do sc. XIX, educado no protestantismo, aluno da
Universidade da Virgnia em Charlottesville, de 1919 a 1922,
motorista de ambulncia do American Field Service e da Cruz
Vermelha americana na Primeira Guerra Mundial, mobilizado
durante a Segunda Guerra atravs da usual carta do Presidente
Roosevelt... Julien Green, escritor francs, catlico desde os
dezesseis anos, nascido e criado em Paris, a sua cidade, na qual
viveu toda a vida (com exceo dos trs anos de estudos
universitrios e do exlio de cinco anos, durante a ocupao
alem), amigo de vrios dos maiores intelectuais do sc. XX,
membro da Academia Francesa... Americano entre os franceses,
francs entre os americanos, catlico entre os protestantes,
protestante entre os catlicos.
Falar de Green e de sua obra impossvel sem nos referirmos
ao problema da(s) identidade(s) et pour cause da alteridade. Vida e
obra so um longo percurso de procura, construo e reconstruo
de identidade lingstica, nacional, religiosa, sexual, literria e
epocal. Vale dizer, busca de si, encontro com o outro, encontro de
si, busca do outro.
Autor de 17 romances, alm de novelas, peas de teatro e
ensaios, Green publicou aquele que talvez seja o maior Dirio de
todas as literaturas, visto que abrange, em 18 volumes, o perodo
que vai de 1919 a 1996. Por isso mesmo, h que sublinhar a
singularidade de seu testemunho sobre o sc. XX. No entanto, sua
obra-prima possivelmente ser Jeunes Annes, autobiografia da
infncia e juventude num aparente paradoxo, obra da
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
271
maturidade do autor. Nela cruzam-se as duas grandes vertentes de
sua produo literria, uma vez que conjuga a matria do Dirio
com a tcnica do romance.
Na raiz da questo da identidade em Green, est,
possivelmente, a peculiar situao de sua famlia. Seus pais,
Edward Green e Mary Adelaide Hartridge, naturais do Sul dos
Estados Unidos, haviam-se estabelecido na Frana em 1893, na
seqncia de srias dificuldades financeiras. Na Europa, o pai do
escritor ocupou-se de negcios referentes importao de algodo.
Os antepassados do casal Green eram originrios da Gr-Bretanha.
A essa matriz cultural anglo-sax (dentro da qual cabe
destacar o influxo do elemento celta, presente nos ramos gals,
irlands e escocs da famlia), preciso acrescentar o significado
especfico do Sul para a famlia Green, em particular para Mary
Adelaide, e que ter intensa repercusso na obra do futuro escritor.
Assim, ao falarmos em Estados Unidos e americanos, a propsito
de Green, corremos o risco de no apreendermos com exatido a
problemtica mais profunda da identidade nacional e familiar. O
pas dos Green era o Sul, derrotado e humilhado na Guerra Civil
americana, dcadas antes de Julien nascer no XVII
e
arrondissement. Esse Sul, que j no existia mais, era o pas de
que falava Mary Adelaide a seus filhos, nos seres parisienses do
incio do sculo, e cuja bandeira era a nica que ela reconhecia.
Ma douzime, ma treizime anne ont t comme
endeuilles par les rcits que me faisait ma mre de
lcrasante dfaite du Sud. Ma patrie nexistait plus
comme nation, lhistoire lavait suprime. De l cette
premire et puissante impression disolement, de
cercle trac autour de moi. Au lyce, le petit Roger
Laubeuf me disait: Tu appartiens une nation qui
nexiste plus et tu es dune religion dont personne na
jamais entendu parler! (GREEN, 1969, p. 964).
Como essa ptria j no existia, foi preciso recri-la em
francs. De Mont-Cinre (1926) trilogia de Dixie (I: Les Pays
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
272
lointains, 1987; II: Les toiles du Sud, 1989; III: Dixie, 1994)
vrios dos romances e das outras obras de Green revivem aquele
Sul, supresso pela histria, suspenso na histria.
Em torno a essa problemtica de um pas perdido, constroem-
se alguns dos vetores mais importantes daquilo que Teresa de
Almeida chama a mitologia pessoal do escritor: as idias de
expatriamento, desterro, isolamento, distncia, falta de
comunicao etc. Por outro lado, o enraizamento cultural anglo-
saxo teria contribudo, segundo vrios crticos, para que boa parte
da produo de Green se tivesse construdo sob o influxo de
autores como as irms Bront, Edgar Allan Poe, Nathaniel
Hawthorne etc. De fato, a obra greeniana tem em comum, com
esses escritores o clima de mistrio, alucinao, violncia,
culpabilidade e crime.
Espao autobiogrfico e experincia crist.
A autobiografia um dos temas mais instigantes dos estudos
literrios. De fato, o relato autobiogrfico um verdadeiro ponto
de encontro de alguns dos mais complexos problemas com os
quais se tem defrontado a crtica contempornea. Como escreve
um especialista,
La autobiografa trata de articular mundo, texto y
yo, y por esta razn ocupa un lugar privilegiado, ya
que en ella tenemos que vrnoslas con los temas ms
importantes de las humanidades hoy en da: historia,
poder, yo, temporalidad, memoria, imaginacin,
representacin, lenguaje y retrica (LOUREIRO,
1993, p. 33).
Um ponto importante a realar o da especificidade da
autobiografia propriamente dita no conjunto dos gneros
autobiogrficos, tais como o dirio, as memrias, a autobiografia
romanceada etc. Em contraposio fragmentao e
descontinuidade do dirio, a autobiografia resulta duma narrao
ulterior e contnua. Centrada em torno do eu, distingue-se das
memrias que, em sua preocupao testemunhal sobre pessoas ou
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
273
acontecimentos, confinam com a crnica. Freqentemente, um
mesmo autor como o caso de Green pratica vrios desses
gneros, instaurando, assim, um verdadeiro espao
autobiogrfico.
A autobiografia prope uma interpretao global da vida e
constitui uma tentativa do indivduo para entrar na
posse de si mesmo. Mais do que um inventrio dos
diversos aspectos de uma existncia, ela uma
contnua e apaixonante busca do eu (ROCHA, 1977,
p. 78).
propsito de Jeunes Annes e da relao literatura-teologia
em Green, preciso situar ainda a questo relativa busca de
identidade sexual. Criado num ambiente marcado por um
puritanismo que o terror da sfilis tornava ainda mais intenso, e
que estabelecia uma separao radical entre a exaltao da beleza
fsica na arte e a interdio da mesma no mundo das relaes
humanas, Green ter um longo caminho a percorrer no
reconhecimento do carter homoertico dos seus prprios desejos.
Nesse sentido, o perodo passado na Universidade da Virgnia teve
particular importncia. Os sentimentos de culpa e fascnio
misturar-se-o inextrincavelmente, como os corpos com que
Gustave Dor povoou o Inferno de Dante e que to vivamente
impressionaram o pequeno Julien. Ainda nesse campo, ser
ailleurs, aux pays lointains, que ser possvel viver mais
livremente a prpria sexualidade, conhecidas como so as grandes
diferenas entre os costumes de pases como a Alemanha e a
Hungria em relao ao resto da Europa, nos anos 20 e 30 deste
sculo. Destarte, amor e sexo cindem-se irremediavelmente entre o
espao parisiense e a Europa Central, para alm do Reno.
A identidade sexual, por sua vez, pe em xeque a identidade
religiosa do catlico recentemente convertido e que, por sugesto
do Pe. Crt, seu primeiro diretor espiritual, chegou mesmo a
pensar em fazer-se beneditino na Ilha de Wight. Desse embate pela
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
274
manuteno da identidade catlica em meio fora das novas
experincias, ficou o testemunho literrio do Pamphlet contre les
catholiques de France (1924), com seus 249 pensamentos, de
ntido recorte pascaliano. A esse libelo contra o catolicismo
burgus, que , ao mesmo tempo, o clamor por um cristianismo
agnico, e no qual a pseudo-segurana e autosuficincia de um
Padre da Igreja traem a cada passo a incerteza, a dvida e o
desespero, deve-se a amizade entre Green e Jacques Maritain.
Ainda no campo da identidade religiosa, cabe lembrar que,
como muitos outros cristos ocidentais (a princpio, sobretudo no
meio intelectual; mas hoje, em amplas parcelas de todos os meios
sociais), Green, durante um certo perodo, interessou-se pelo
esoterismo e pelas religies do Oriente em particular, pelo
hindusmo e pelo budismo. Desse interesse, resultou o romance
Varouna (1940).
Superada essa possibilidade de soluo para o conflito entre f
e tica atravs de uma segunda converso ao catolicismo, Green
ter ainda um longo percurso a fazer, no qual pecado e graa
protagonizaro um drama dos mais intrincados e enigmticos:
Je voulais aller vers les autres, vers tous les autres,
et je ne le pouvais pas, parce que, me croyant seul,
jtais et je restais seul. Le pch brisa ce cercle
magique, beaucoup plus tard. Ce fut par le pch que
je retrouvai lhumanit.(GREEN, 1992, p.87)
Foi, assim, atravs da experincia ertica que Green descobriu
o outro e pde reencontrar, posteriormente, sua prpria identidade
religiosa, aprofundada e amadurecida. Por esse caminho, pde
abandonar as representaes infantis e equivocadas da santidade e
descobrir o eixo central da vida crist, que o amor ao prximo
como concretizao do amor a Deus:
Je voulais labsolu sans avoir fait le chemin
intermdiaire, je voulais beaucoup de choses
auxquelles je navait pas droit, parce que je navais
jamais vraiment men la simple vie chrtienne, qui
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
275
est une vie damour. Je desirais prement les fruits
de la victoire sans avoir jamais combattu. Je ne
rsistais aux tentations parce que ces tentations
taient faibles, non parce que jtais fort. Je ne savais
pas ce que ctait dtre tent au bout de tout son
courage, je ne savais rien, et, dans mon orgueil, je
me voulais saint.
(Ibidem, p. 293).
A experincia da alteridade, do encontro com o outro, e
mesmo do pecado propiciou a Green um aprofundamento de sua
prpria identidade humana e crist, como abertura ao mistrio do
amor de Deus. o que ele diz a Maritain, em carta de 22 de
novembro de 1951:
Cest peut-tre parce que jai plus quun autre
besoin de misricorde que je crois de plus en plus
limmense piti de Dieu. (GREEN, MARITAIN, p.
169)
Nesse percurso, foi de fundamental importncia a dolorosa
experincia da radical insuficincia e falsidade de uma esquema de
compreenso do problema da graa e do pecado, esquema este que
o prprio Green no hesita em chamar de pelagiano:
A lge que javais alors, tout se prsentait moi de
la faon la plus simple: le bien dun ct, le mal de
lautre, et entre les deux la volont humaine. Cela
tenait ce que mon religieux (o Pe. Crt), pareil
certains hommes de sa formation, tait plagien sans
le savoir. Vouloir, vouloir, tout tait l, et je voulais,
moi aussi, je voulais, perdument, mais, pour le
moment, je ne voyais dans ma vie quun dsastre.
(GREEN, 1992, p. 393)
Somente uma viso trgica da condio crist j presente
no Pamphlet contre les catholiques de France e qual o influxo
do jansenismo com certeza no deve ser estranho pode superar
o simplismo psicolgico e o equvoco teolgico dessa maneira de
equacionar o problema da graa e do pecado. essa viso trgica
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
276
da vida humana em geral e da vida crist em particular que nos
parece ser o aspecto mais rico e perene da contribuio de Julien
Green teologia, indo muito alm das circunstncias biogrficas
que dolorosamente a forjaram.
Referncias Bibliogrficas
ALMEIDA, Teresa de. O clima alucinatrio no romance de Julien
Green in Glria Carneiro do AMARAL e Maria Ceclia de
Moraes PINTO (orgs.). Parcours/Percursos. O romance
moderno francs. So Paulo: Centro de Estudos Franceses,
FFLCH-USP, 1994.
BLANCH, Antonio. El hombre imaginario: una antropologa
literaria. Madri : PPC/UPCO, 1995.
CERTEAU, Michel de. Lunion dans la diffrence. Paris : 1969.
GESCH, Adolphe. La thologie dans le temps de lhomme.
Littrature et Rvlation in Jacques Vermeylen (dir.).
Cultures et thologies en Europe : jalons pour un dialogue.
Paris : Cerf, 1995, 109-142.
GREEN, Julien. Journal vol. II: 1949-1966. Paris: Plon, 1969.
____________. Jeunes Annes. Paris: Seuil, 1992.
____________ e MARITAIN, Jacques. Une grande amiti.
Correspondence 1926-1972. Paris: Gallimard, 1982 (Ides
472).
LOUREIRO, ngel G.. Direcciones en la teora de la
autobiografa in Jos ROMERA, Alicia YLLERA, Mario
GARCA-PAGE e Rosa CALVET (eds.). Escritura
autobiogrfica. Actas del II Seminario Internacional del
Instituto de Semitica Literaria y Teatral. Madri: Visor, 1993.
ROCHA, Clara Crabb. O espao autobiogrfico em Miguel
Torga. Coimbra: Almedina, 1977.
VAZ, Henrique Cludio de Lima. Escritos de filosofia: problemas
de fronteira. So Paulo : Loyola, 1986.
A Loucura da Criao: Suze
Letcia Pereira de Andrade UEMS- UFMS
Introduo
Precisamos apenas acostumar-nos a levar a srio o
que dito em poesia e deixar uma palavra lrica
servir igualmente de testemunho do homem como
uma sentena dramtica. (Staiger)
O texto ora apresentado analisar o conto Suze, do escritor
portugus Antnio Patrcio, sob a influncia da esttica
decadentista no final do sculo XIX, mostrando que a loucura
funciona como princpio e no como ponto final de uma
investigao. De posse dos pressupostos tericos decadentistas,
pode-se reestudar obras que ficaram na obscuridade da esttica
vigente da poca, talvez porque o grande pblico as considere
estranhas e perturbadoras. Da a necessidade de se investigar
contextos que se inscreveram na influncia das caractersticas
decadentistas.
A reflexo que ora se faz da inscrio de obras no plano
decadentista, que so tidas como um simbolismo negro, profano,
etc. Para tanto, faz-se necessrio lembrar do pensamento
finissecular, especificamente da literatura portuguesa, na qual se
insere o objeto desta anlise: o conto Suze, de Antnio Patrcio,
autor que merece, segundo Moiss (1973: 283), abandonar a
obscuridade em que o laaram o preconceito e a estreiteza crtica
para ascender a um plano que, se no aquele em que se colocam
Camilo Pessanha, Antnio Nobre e Eugnio de Castro, sem dvida
ultrapassa os dos demais poetas do Simbolismo. Alis, dizer que
determinado artista louco ou obscuro no afeta de modo algum a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
278
qualidade da obra, pois ele pode ser genial por causa disso como
vice-versa.
Elege-se como corpus desta anlise o citado conto patriciano,
porque o leitor se sente confuso diante dele... enxerga uma louca
criao! que decorre de uma viso que verdadeira expresso
simblica isto , a expresso de algo realmente existente, mas
imperfeitamente conhecido. Esta viso ultrapassa a experincia
humana e pode ser indicada por intuies desconhecidas e
escondidas (Gallo, 1981: 75-76). Essa criao decadentista ser
analisada pisando as pisadas dos elementos finisseculares, sem
perder de vista as influncias decadentistas, e levando a srio o que
dito, a fim de encontrar o Tesouro Escondido.
1. Suze de Antnio Patrcio: uma Criao Decadentista
A criao de Antnio Patrcio, escritor portugus
desconhecido para um nmero razovel de pessoas, muito se
aproxima da esttica finissecular ou decadentista. Segundo
Moretto (1989: 42),
o estilo de decadncia no outra coisa seno a arte
em seu ponto de extrema maturidade a que as
civilizaes, ao envelhecerem, conduzem seus sis
oblquos: estilo engenhoso, complicado, erudito,
cheio de nuanas e rebuscado, recuando sempre os
limites da lngua, tomando suas palavras a todos os
vocbulos tcnicos, tomando cores a todas as
paletas, notas a todos os teclados, esforando-se por
exprimir o pensamento no que ele tem de mais
inefvel e a forma em seus mais vagos e mais
fugidios contornos, ouvindo, para as traduzir, as
confidncias subtis da neurose, as confisses da
paixo que envelhece e se deprava e as alucinaes
estranhas da idia fixa ao tornar-se loucura.
A esttica decadentista rasga e costura a palavra, intimando-a
a tudo exprimir e levando-a ao extremo exagero. Assim, o texto
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
279
decadentista uma verdadeira colcha de retalhos, de carter libro-
libresco, fazendo uso de experincias, como a construo e a
desconstruo, num processo hbrido por meio da bricolagem e da
montagem textual, resultando, portanto, um texto labirntico sem
compromisso com a realidade emprica, elegendo a arte pela arte,
criando uma supra-realidade capaz de satisfazer, ainda que pelo
tempo do contato entre a obra e seu receptor, a busca pela grande
Verdade, que palpita dentro de cada ser humano (Santos, 1999:
19).
Nesse jogo esttico, percebe-se a preferncia pelo artifcio e
pelo gosto esterilidade, representada pela figura do andrgino e
Salom a mulher difana, a mulher-sibila, a mulher-cadver, a
mulher smbolo do Decadentismo, que encanta e
desconcerta/destri os homens.
Assim, Suze a criao de uma Feminae Fatale, a mulher
decadentista que sugere o violento, o intenso, o exagero, o agudo
at a estridncia, o adultrio, a depravao, a beleza e o cinismo.
Dessa forma, essa mulher subversiva, vampiresca, satnica,
relembrando o mito de Salom, a mulher de dana sinuosa e
Medusa de beleza estonteante; conseqentemente, observa-se que
essa mulher sedutora, fatal e excita na alma do leitor a sensao
do belo, na qual, como diz Moretto (1989: 46), acrescenta-se um
certo efeito de surpresa, de espanto e de raridade.
Suze um conto extrado da obra Sero Inquieto, uma
coletnea de cinco contos publicada em 1910. So contos poticos,
narrados em primeira pessoa, que no se assemelham ao que
comumente chamamos de tradicional, pois, como o prprio nome
do livro sugere, foram escritos num Sero Inquieto, num perodo
noturno, inquieto, aps o expediente normal, no qual se tenta trazer
tona um sentido ao real por via da imaginao. Segundo Gallo
(1981:16), a obra de Antnio Patrcio emerge das profundidades
do eu profundo, aonde ele desceu, no af de conhecer-se e
conhecer a Humanidade.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
280
Sero Inquieto passeia sobre/sob as vrias representaes
decadentistas, privilegiando sempre: o gosto pelo requinte, numa
profanao de personagens a ilustrar o caminho que o narrador
deve seguir; a idia dominante da morte, como sendo a valorizao
insubstituvel de cada momento da vida tensa e como o elemento
mais melanclico e, conseqentemente, o mais potico (cf
Poe,1997: 915), o que nos leva a crer que ela seja o ncleo
drmatico; o artificialismo, numa encenao narcsica como a
prpria alma humana; a neurose, smbolo maior da causticante
concentrao psicolgica de Antnio Patrcio, porm sem traar
perfis psicolgicos martirizantes das suas criaes-personagens.
Mas na bricolage que se pode perceber o total domnio da sua
escrita, que recria com maestria o eterno jogo da construo e
desconstruo (cf Pires, 2003: 5).
Os cinco contos, em um equilibrado quebra-cabea, portam-se
como um labirinto. Cada conto um tecido espesso, porm
penetrvel, desde que se tenha conhecimento das metforas
polivalentes que do a flexibilidade para achar/perder os fios deste
novelo labirntico que podero nos levar ao Tesouro Escondido.
2. De olho na louca criao: Suze
Em um sero inquieto, em um espao fechado, no quarto,
inicia-se essa criao... fruto de um solilquio, a narrativa se
constri atravs de um fio condutor tecido pelo narrador que
remonta a sua relao com Suze, a partir de uma noite no teatro,
quando ele a conhece. Num processo rememorativo, o amante-
narrador trs tona o seu convvio de dois meses com a prostituta
Suze (smbolo do prazer e infertilidade, um dos vrtices do
tringulo do desperdcio), a partir da lembrana do ltimo encontro
- a despedida: Na ltima contava ela com uma coragem simples,
como o mais ftil incidente, que ia entrar pro hospital pra ser
operada. Anunciava-me isso entre um projeto de vestido gri-taupe,
que iria bem sua tinta de viciosa plida (Patrcio, 1979: 84).
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
281
Por se mostrar de maneira distinta das demais prostitutas, no
vestir-se e no portar-se de forma elegante e sofisticada, Suze
agrada ao gosto requintado do amante, que a corteja e passa a
dividir com ela suas noites, at o momento em que ela anuncia a
necessidade de operar-se, no mais voltando, da a suposio de
sua morte, como um anncio da terminalidade (cf Rute, 2003: 9).
Dias depois, sem receber notcias de Suze, o amante comea o seu
processo rememorativo. O narrador sensivelmente adivinha a
morte de Suze; s vezes, apresenta-se amargo e desencantado nas
suas consideraes acerca da vida dos homens, e evoca a vida
conjunta, explicitamente saudoso. Mas essa saudade no apenas
uma lembrana de um bem ausente, , segundo Gallo (1981: 67):
a saudade de algum que partiu, todavia ,
principalmente, a nosso ver, tomando emprestada a
expresso de Fernando Pessoa, espiritualizao da
matria, na mesma linha de Teixeira de Pascoaes:
Pela saudade, o homem reage, responde sua
situao concreta no mundo. Sofre a dor de ser
imperfeito, a nostalgia da pura vida anmica, a
divina saudade ou saudade de Deus (...). Realiza o
ausente por obra e graa da imaginao: inventa
Deus. O homem, em virtude de seu poder saudosista,
de lembrana e de esperana, eleva-se da prpria
misria e contingncia contemplao do reino
espiritual, onde as coisas e os seres divagam em
perfeita imagem divina.
Dessa forma, Suze criada por obra e graa da imaginao.
Percebe-se que este fio narrativo calcado nas prprias
reminiscncias do amante-narrador, ao evocar a mulher amada que
cuida estar morta: No posso dormir. Como h mais de oito dias
no recebi carta de Suze e a minha absurda vaidade se recusa a
crer que ela me esquea, ponho-me a pensar, com uma
perversidade triste, que tenho escrito loucura a um cadver
(Patrcio, 1979: 83). Eis o tema mais melanclico dessa escritura: a
Morte. Segundo Poe (1997: 915), a morte, pois, de uma bela
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
282
mulher , inquestionavelmente, o mais potico tema do mundo e,
igualmente, a boca mais capaz de desenvolver tal tema a de um
amante despojado de seu amor.
O narrador passa a recordar minuciosamente os encontros
passados, numa verdadeira neurose mental, e vai construindo Suze,
sua louca criao. Na sua viso estetizante de colecionador,
constri, cria e satisfaz o seu esprito eglatra permitindo que Suze
exista a partir dele, como sua prpria criao (cf Rute, 2003: 9).
Como diz Mrio de S-Carneiro (1997: 21), a literatura faz almas
e almas imortais... Assim, Suze vai sendo construda atravs das
perverses histricas, das neuroses febris e das vertigens
enlouquecedoras do amante-narrador, num frenesi de mltiplas
sensaes e desequilbrios diante da degenerescncia humana:
horas e horas com febre, com riso, com desespero,
vasculho na memria, recomponho o complexo
encanto dessa rapariga que sabia de cor toda a
Comdia Humana; tinha um vcio pessoal, erudito,
arquisutil; cinicamente ingnua, ingenuamente
cnica; amoral e herica, e que caminha pro seu leito
de cocotte com o ar redolente de Desdmona na
cano do salgueiro... (Patrcio, 1979: 86).
Ao comp-la, ele faz um passeio pelo interior da personagem,
desnudando-a de forma ambgua, composta pela candura associada
personagem de Desdmona e perverso de prostituta,
revelando-lhe nas mais ntimas peculiaridades de sua
personalidade, e vasculhando-lhe o interior numa forma de
afirmao pessoal. A revelao de Suze ao leitor precisa e
minuciosamente detalhada, neste momento de incansvel histeria
do amante em dar conta de cada detalhe:
preciso calmar a minha febre e comear pelo
comeo. Vi-a a primeira vez este vero, no teatro, e
logo a destaquei. Os seus cabelos de criana
escandinava, loiro cendrado e seda palha em que
havia reflexos quase brancos, tufava na testa sob o
chapu preto, descaiam a esquerda, subiam a direita
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
283
recortando a tmpora em ogiva, inverossmeis como
raios de um sol de vcio, qumicos, absurdos... S
depois me convenci de que eram autnticos (Patrcio,
1979:85).
Ele passa a recordar o incio da sua relao com a prostituta,
num apelo a pocas remotas, bem ao gosto decadentista.
Detalhando cada aspecto da figura feminina, ele a compara a uma
criana escandinava, dada a sua pouca idade, vinte e trs anos, e
cabelos louros; s depois ele se assegura de que so verdadeiros, j
que, em sua mente delirante, era mais fcil acreditar que os cabelos
de Suze eram artificiais. Artificiais? Quem , ento, essa Suze? Sr.
Franquistein?
Continua a descrio numa vertiginosa celebrao artstica:
os olhos eram claros, cinzento de gua e nvoa; a mscara
alongava-se num focinhito sonmbulo; nariz incorreto quase
grosseiro; boca grande, acolhedora.... (Patrcio, 1979: 85). Os
olhos, como verdadeiros espelhos dalma, so descritos como
nvoa, elucidando o carter crepuscular a partir da opacidade; a
boca revela a busca do prazer como objetivo da vida, enfocando
sempre a sensualidade atravs de detalhes e imperfeies que o
faziam resignar-se em sua condio de sdito (cf Rute, 2003: 10).
Para tanto, a sua poro voyeur que o trai e atrai para aquela
que no seu ntimo j sabia ser sua: Toda a noite, ferozmente, a
encarcerei no meu binculo (Patrcio, 1979: 86). Ao olhar pelo
binculo, assumindo-se nitidamente como um voyeur, ele faz um
quadro de Suze espionando a sua vida interior. A partir do
binculo do no convencional, Suze criada, e por isso,
considerada uma louca criao...
Essa loucura, esse estranhamento, via no grotesco, no
diferente - todos a achavam imensamente estranha e alguma coisa
feia (Patrcio, 1979: 87) - , a excitao necessria para levar
adiante seu refinado gosto de esteta e colecionador, no seu
isolamento costumeiro (estufa): aqui mesmo, no meu quarto,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
284
onde certa noite ela tomou ch entre os meus livros (Patrcio,
1979: 86).
A construo de Suze, perversa e profana, vai se transportando
para o signo da serpente, a mulher sedutora que o atrai para sua
atmosfera de desejo e lascvia com desenvoltura e magia: aqui
comea a feitiaria, o encantamento em que essa serpentina bruxa
me colheu, polarizando o meu desejo pro seu corpo elstico e
felino (Patrcio, 1979: 87). Suze se contorce, com o corpo em
chamas, numa incansvel cena de iniciao ao prazer, mostrando
com a dana a sua poro Salom smbolo maior do
Decadentismo (Rute, 2003: 7). A dana de Suze excita os desejos,
num ritual de magia, onde o movimento corpreo eleva o
pensamento do amante, fluindo a ponto de entrar em xtase. Dessa
forma, a voluptuosidade de Suze-Salom justificada medida
que comparada com uma sibila dlfica (Patrcio, 1979: 92).
A beleza diferente de Suze, que se refere intensa e pura
elevao da alma (POE, 1997: 913), o retrato do extico gosto
decadentista pelo bizarro, pelo estranho. O estranho est presente
em todos os elementos pelo excesso, na caracterizao da
personagem: prostituta, porm superior, conforme o texto afirma:
nobre e cocotte, flexvel de corpo e de esprito, amoral e herica
(Patrcio, 1979: 83-84); alm disso, sabia de cor toda a Comdia
Humana; sensata, mas no de uma sensatez impecvel; antes o
caso de algo estranhamente significativo poisar nela, um
conhecimento secreto, uma sabedoria oculta. (...) Tem ainda duas
facetas, uma luminosa, outra sombria: uma figura boa, pura, nobre
como uma deusa, por um lado e, por outro, a meretriz, a sedutora,
a bruxa. Como paradoxal essa Suze!
As suas imperfeies no so descritas como pontos
desconsiderveis, mas como algo que a diferencia do gosto
comum, do normal, repudiado pelos decadentistas. Assim o
amante de Suze d capital importncia aos seus cabelos em
desalinho: os cabelos impossveis, abusivos, excessivos, caiam-
lhe nos ombros (PATRCIO, 1979: 90), aproximando-a da beleza
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
285
medusia, da mulher viril, vampiresca, que tanto encanta quanto
mata. Esta mulher-vampira, Suze-Salom, representa a inverso de
cdigos, por isso a loucura que lhe oferece forma.
Sem terminar sua louca-criao, o amante tinha dvida do seu
amor e queria acreditar que Suze era verdadeira:
de comeo podiam julg-la artificial, to estilizada
era a sua graa, tanto o seu requinte parecia
consciente e erudito, traindo-se em tudo: no andar
elstico, no dandismo sbrio, e at no ruge-ruge da
sua voz de alcova e confidncia e todo o meu
trabalho desta noite me parece de um doido que
quisesse reconstruir uma obra prima... (Patrcio,
1979: 92).
Era assim que ele a via, como uma obra de arte, aumentando
sua galeria de refinado colecionador, atravs do dandismo sbrio
de Suze; pois s assim ele podia am-la, enquadrando-a nos seus
modelos refinados. Nesse estado de loucura, em meio s suas
memrias, ele se questiona, tentando se dar conta do que ele
realmente : Se ela me visse como eu sou, se eu no fosse com
ela sempre ator, se eu no fosse o ser falso, o clown ctico
mascarando com riso o sentimento (Patrcio, 1979: 99). Neste
momento, o amante deixa cair a mscara e se despe do artifcio da
encenao. Ele est s em seu quarto e no mais ver a amante.
J no crepsculo da madrugada, mergulhado em suas
recordaes, o amante-narrador pensa mais uma vez naquela
mulher e no estado doentio que antecipa o fim. A constatao da
terminalidade atravs da morte de Suze: pois foroso
convencer-me de que a minha pobre Suze ? era uma vez...
(PATRCIO, 1979: 83), faz com que o amante novamente recorra
aos seus refinamentos de esteta, preocupando-se com a aparncia
da amante morta, rejeitando assim o sentimento de perda: No te
souberam pentear; deixaram-te o cabelo em desalinho e, no sei
por qu, est mais claro, de uma seda mais pura, mais de infncia
(PATRCIO, 1979: 101). O pice da tenso neurtica leva-o ao
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
286
delrio e declara a perfeio de Suze num verdadeiro culto sua
memria.
Nesse sortilgio de mascaramentos sociais, o narrador sente-se
incapaz de amar uma prostituta, porm declara este amor, abalando
o que convencional nas relaes sociais, abalando o sentido do
mundo, como diz Roland Barthes.
A arte, fruto deste sero inquieto, produz a esttica do
crepsculo que anuncia a terminalidade e se deleita na falsa
impresso dos fatos, visionando um paraso artificial, que sugere
algo mais alm do mundo orgnico, material, palpvel. Dessa
forma, nessa escritura decadentista, as personagens tm tambm
qualquer coisa de imaterial, de oculto, de misterioso, por fim, de
louco.
Consideraes Finais
Escrever abalar o sentido do mundo (Roland
Barthes).
O texto decadentista projetou uma viso desconcertante da
realidade, que abala o sentido do mundo, por meio do fingimento,
do truque, da aparncia, do artificial, contrapondo-se idia
mimtica realista. O simulacro atravs do culto do artificial vai
contradizer toda noo de arte at ento, explicitado por um
narrador condutor dos fingimentos e adepto do culto da arte pela
arte.
A crise da representao que hoje, na chamada ps-
modernidade, vivida, tem sua gnese no texto decadentista, que
passa pela crise da verdade, do sentido, e principalmente da
linguagem, vendo tudo atravs das runas dos novecentos.
Assim, por meio desta anlise, percebe-se em Suze, de
Antnio Patrcio, a contribuio da literatura portuguesa para o
Decadentismo, que se enquadra nos parmetros finisseculares
estabelecidos atravs da loucura, do seu carter desconcertante.
Percebe-se que a loucura poderia, de fato, ser tomada como um
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
287
modelo do prprio processo de simbolizao, de atribuio de
significado. Dessa forma, neste conto, a criao delirante de
sentido apresenta-se em descompasso em relao ao julgamento
dito normal: ele brota seno sobre o solo de um estranhamento
radical; e esse estranhamento a perda da realidade e a construo
de uma nova.
Nessa perspectiva, nada esttico, tudo muda, e a obra de arte
e seus conceitos deslizam por concepes ora reformuladoras, ora
desconstrutoras, ainda em sentido espiralado, tentando no se
enquadrar, mas aproximar o pblico da sua arte, por meio da arte
pela arte, como se observa na construo de Suze, a louca criao
de um narrador que almeja revelar sua obra prima ao leitor, a fim
de demonstrar uma grande VERDADE... a Arte esconde esse
grande TESOURO... e os que vo a busca desse TESOURO...
devem faz-lo por sua conta e risco. Eis tudo.
Referncias Bibliogrficas
CHEVALIER, Jean et al. Dicionrio de smbolos. Trad. Vera da
Costa e Silva et al. 12. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1998.
FOUCAULT, Michel. La locura, la ausencia de obra. In Entre
filosofa y literatura. Barcelona, Paidos, 1999.
GALLO, Nilva Mariani. Bruxas e deuses em Sero Inquieto. In:
Boletim, So Paulo: Departamento de Letras Clssicas e
Vernculas da USP, n 04, 1981.
MOISS, Massaud. A Literatura Portuguesa. 11ed. So Paulo:
Cultrix, 1973.
MOISES, Massaud. A literatura portuguesa em perspectiva. In:
Simbolismo Modernismo. So Paulo: Atlas, 1994. V. 4.
MORETTO, Flvia M. L. Caminhos do Decadentismo francs.
So Paulo: perspectiva; Ed. Da USP, 1989.
PATRCIO, Antnio. Suze. In: Sero Inquieto. Lisboa: Assrio e
Alvim, 1979.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
288
POE, Edgar Allan. A Filosofia da composio. In: Fico
Completa, poesia & ensaios. Org. e Trad. Oscar Mendes. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.
PIRES, Rute Maria Chaves. Suze: o Vampiresco Signo da paixo.
Disponvel em: < http://www.dhnet.org.br >. Acesso em: 09
de setembro de 2003.
SANTOS, Rosana Cristina Zanelatto. A Representao da Mulher
em AntnioPatrcio. So Paulo, 1999. Tese de Doutorado,
FFLCH, Universidade de So Paulo.
S-CARNEIRO, Mrio de. Loucura. Rio de Janeiro: Lacerda,
1997.
Metafico historiogrfica: uma tenso criativa entre a
literatura e histria
Maria Geralda de Miranda UNESA-UNISUAM
A narrativa de fico quase histrica, na medida em que os
acontecimentos irreais que ela relata so fatos passados para a voz
narrativa que se dirige ao leitor; assim que eles se parecem com
os acontecimentos passados e a fico se parece com a histria.
(Paul Ricoeur)
Quando pensamos na metafico historiogrfica, as palavras
de Paul Ricoeur, citadas em epgrafe, adquirem mais sentido, uma
vez que apontam para aquilo que a fico e a histria tm em
comum que o fato de as duas formas de composio discursiva
serem elaboradas atravs da narrativa e se dirigirem a um leitor
que acaba estabelecendo um pacto com aquele que est fazendo o
relato.
Ricouer diz ainda que entrar em leitura incluir no pacto
entre o leitor e o autor a crena de que os acontecimentos relatados
pela voz narrativa pertencem ao passado dessa voz. Tal pacto, de
fato, ganha relevncia quando nos defrontamos com textos
construdos a partir do entrelaamento de um conjunto de outros
textos, como o fazem os romances: Partes de frica, do escritor
portugus Helder Macedo, Viva o povo brasileiro,do romancista
brasileiro Joo Ubaldo Ribeiro e A Gerao da utopia, do autor
angolano Pepetela.. Tais romances, ao relerem o passado, acabam
problematizando o presente do leitor. Este, ento, precisa interagir
e reagir aos sentidos propostos pelo texto.
Ricoeur tambm salienta que podemos ler um livro de
histria como se fosse um romance e que a fico quase
histria, tanto quanto a histria quase fico. Ora, no resta
dvida de que o autor est-se referindo aos procedimentos de
escritura dos dois gneros textuais, mas fato que as suas palavras
nos levam a pensar nos contedos histricos dos trs romances,
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
290
aqui estudados. E a, indiscutivelmente, os dois gneros se
embaralham bastante, pois os trs romances utilizam como
matria fabular as histrias das naes a que pertencem os
escritores que, ao fazerem uso de tal matria, intertextualizando-a
com dados da fico e da memria, pem em discusso a questo
da relativizao da histria. Assim, conforme indica Teresa
Cristina Cerdeira, o discurso da histria:
que resolveu reservar para si a prerrogativa da
verdade, porque assentado na res factae , esse
discurso s se pode hoje entender como uma
construo que tem que pressupor um fosso temporal
e material absolutamente instransponvel, e o
discurso, que antes sonhava em acordar o que foi,
acaba por se erigir necessariamente em cima do que
j no . O discurso da Histria deixa assim de ser
um templo de eternizao do passado, para se
instituir como dimenso criadora do futuro.
A releitura que os trs romances fazem do passado tambm
sinaliza para essa dimenso criadora de que fala Cerdeira, porque
no aponta para a nostalgia; muito pelo contrrio, o que os autores
fazem repensar o passado e, isso, sempre que feito, acaba
beneficiando o presente e o futuro. Alis, essa forma de retorno ao
passado de maneira no nostlgica, prpria da metafico
historiogrfica , conforme salienta Hutcheon, em sua Potica do
ps-modernismo, uma das caractersticas dos textos ps-modernos.
Podemos dizer que o tempo de escrita de Partes de frica, de
Helder Macedo, o de um Portugal do ps-guerras-coloniais e
ps-salazarista. Mas no plano do enunciado o tempo se amplia,
compreendendo o espao-tempo de atuao do av e do pai do
narrador, em vrias colnias africanas, como representantes do
governo imperial. Ocorre que esse espao-tempo vai sendo
construdo pelo leitor, pois, no romance, h vrios textos dentro de
um texto plural, que alcanado no pelo ordenamento seqencial,
mas por um volume de sentido produzido na interao
comunicativa entre autor e receptor. Atravs das fragmentadas
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
291
memrias apresentadas pelo narrador-autor assim que ele se
apresenta no texto que se vo desenhando o imprio e
obviamente a sua decadncia. Os mapas da frica com crculos e
cores, bem como os relatrios empilhados que vm mente do
autor quando este comea a escrever o seu livro servem de
matria para o seu romance, urdido na tenso entre dados da
histria e da memria, em outras palavras, de uma verdade
reelaborada pela fico.
As trs narrativas cobrem um amplo espectro temporal. Viva o
povo brasileiro, apesar de cobrir das origens da nao brasileira
aos finais dos anos 70 do sculo XX, centra a sua ao
principalmente no Sculo XIX, marcado pela afirmao de um
sentimento nacional que alimentou as lutas internas e externas.
exceo do segundo captulo que localiza a ao no sculo XVII
so as cenas rememoradas pela personagem Dadinha e dos dois
ltimos que contemplam os dois perodos de ditadura do sculo
XX, todos os outros dezessete, num total de vinte, situam a ao
no sculo XIX, abarcando, como analisa Olivieri-Godet:
as lutas pela independncia, o Imprio, a abolio da
escravatura, a Repblica, a guerra do Paraguai, a
guerra dos Farrapos, a campanha contra Canudos,
todos esses fatos so revistos a partir de um
confronto entre o discurso da Histria e a verso
popular, fundamentada na experincia de vida dos
personagens.
Em A gerao da utopia, a efabulao se desenvolve em
quatro momentos. A casa (1961), A chana (1972), O polvo
(1982) e O templo (a partir de julho de 1991), mas o ttulo do
romance j de imediato nos fornece importantes pistas de leitura.
Essa gerao de que fala Pepetela possua um discurso carregado
de certezas, que era orientado por uma das leituras do marxismo e
acreditava que as suas idias e as suas aes seriam capazes de
redimir os colonizados dos sofrimentos seculares impostos pelos
colonizadores. Nesse aspecto, a Casa dos Estudantes do Imprio
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
292
(CEI) foi de fundamental importncia, pois era l que se
sedimentava o iderio da utopia. No captulo A casa (referncia
CEI), narra-se o amadurecimento das idias da utopia. No
captulo intitulado A chana, fala-se sobre a luta armada, a partir
da performance de Vitor Ramos e em O polvo, representa-se o
exlio de Sbio e suas crticas ferrenhas aos dirigentes da recente
nao angolana. No captulo denominado O templo, encenam-se
os conchavos e as falcatruas realizadas por dirigentes,
candongueiros e falsos lderes religiosos. A fundao da igreja de
dominus que se constitui como metfora extremada do poder
absoluto do partido e dos dirigentes que tem seguidores fanticos
titerizados encerra o ltimo captulo da obra. A ortodoxia no
plano poltico-ideolgico e a corrupo dos que assumiram o
poder, bem como as incertezas do narrador quanto s certezas
anteriormente defendidas, pontuam o fim da utopia no ltimo
captulo.
Os trs romances, por causa dos imbricamentos intertextuais
com a histria, acabam relativizando tambm o conceito de heri,
sobretudo clssico, uma vez que, ao relerem o passado de forma
irnica, terminam por retirar a aura de muitos heris consagrados
pela historiografia oficial, sobretudo aqueles que so considerados
mitos da formao da prpria nacionalidade. Na verdade, a
desconstruo do heri e a centralidade daquele que seria o anti-
heri, nos levam a pensar naquilo que Lyotard chama de a
decomposio dos grandes relatos, ou como diz Laura Padilha,
na decretao da morte da narrativa-mestra e, em conseqncia,
dos mitos que a alimentavam.
Por tudo isso, a histria da nao tambm perde a sua aura, ou
o seu valor quase teolgico, porque as verses propostas pelos
romances retiram dela aquilo que Homi Bhabha chama de
identidades essencialistas.Citando-o textualmente: As contra-
narrativas da nao que continuamente evocam e rasuram suas
fronteiras totalizadoras tanto quanto conceituais, perturbam
aquelas manobras ideolgicas atravs das quais comunidades
imaginadas recebem identidades essencialistas. Como diria
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
293
Boaventura de Sousa Santos, nas sociedades ps-coloniais, quase
impossvel pensar a homogeneidade cultural, pois o processo
colonizatrio favoreceu a hibridez cultural e no a
homogeneizao. Assim, o prprio centro metropolitano acaba por
se modificar, ao interagir com o mundo colonizado.
E assim cada autor, de uma maneira muito peculiar, procura
reinterpretar o passado de sua nao, trazendo para o presente
valores, cores, saberes e sabores, no constantes da historiografia.
A partir do olhar de cada enunciador, percebe-se a heterogeneidade
da nao, feita de muitos povos, de muitas culturas e, como se d
na textura dos trs romances, de muitas vozes. Tais vozes so
reinterpretadas literariamente pelos escritores que, como os autores
da Histria, s tm acesso ao passado atravs de fontes
textualizadas. Assim, o que se l nos romances aqui abordados
tambm uma possvel verdade, reelaborada pela fico.
As estratgias narratolgicas adotadas pelo narrador-autor de
Partes de frica e a fragmentao do seu romance, sem dvida,
possuem tambm importantes significaes, uma vez que, nas
pginas do livro, se l a fragmentao do imprio e a formao das
novas naes africanas. A metanarratividade, que no um
expediente exclusivo da ps-modernidade, tambm exercida com
muita propriedade pelo escritor Helder Macedo, sobretudo por
causa das lacunas do texto, o que obriga o enunciador, de algum
modo, a informar o leitor acerca dos procedimentos discursivos
adotados. Por ser um escritor afeito s metforas, como ele mesmo
declara, o seu mosaico de espelhos, que o romance, articula as
vozes da histria de diversas maneiras, ou atravs de vrias
representaes. E tudo isso questiona o conceito maniquesta de
verdade histrica, j que permite vrios olhares sobre um mesmo
assunto tratado na obra.
O romance Viva o povo brasileiro estampa a ambivalncia da
nao em suas pginas e a escolha da Bahia como espao
privilegiado do desenvolvimento das aes narrativas sinaliza para
a composio multirracial do povo brasileiro. A antropofagia
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
294
praticada pelo Caboclo Capiroba tambm refora a idia da no-
homogeneidade. A encenao da prtica oral de contar histrias
um resgate sem precedentes da cultura popular, componente
importante da nao moderna. A mistura de elementos msticos da
cultura africana com elementos da cultura ocidental crist,
considerada erudita, como no episdio da guerra do Paraguai, s
demonstra que, no espao da metafico, se permite articular todos
os dados conhecidos. A metafico se constitui mesmo como
espao de negociao das diferenas culturais nas nacionalidades
modernas.
A obra de Pepetela, A gerao da utopia, apesar de parecer
encenar o fim da utopia, aquela para a qual os militantes da Casa
dos Estudantes do Imprio se mobilizaram, no deixa morrer a
possibilidade de crena no bom lugar de que fala Thomas More.
No resta dvida, contudo, de que a idia de um governo
comprometido com a causa revolucionria naufraga no romance. A
falncia deste projeto encenada atravs de quatro metforas,
sendo que a ltima, O templo, constitui-se na capitulao final
daquilo que era o projeto da gerao da utopia. A igreja de
dominus simboliza o fim de muitos valores, regidos por outras
certezas, mas tambm, por outro lado, estampa a falta de
parmetros daqueles que so conduzidos pelo dinheiro. Alis,
com ele, ou atravs dele, que se tem acesso ao Deus mercado,
como parece querer dizer a mensagem final da narrativa.
As vozes da histria sofrem uma corroso importante nos trs
romances. A ironia uma importante arma utilizada pelos trs
escritores. atravs dela que se rasuram as verdades institudas
pelos registros histricos. Como contar os desmandos do Baro de
Pirapuama e do Governador Gomes Leal seno atravs da corroso
irnica? Como construir a metfora de O templo, sem o vis da
ironia? Trata-se, na verdade, da utilizao da pardia, processo de
intertextualidade, pelo qual os escritores lem as vozes da histria,
atualizando-as no momento presente. pelo mergulho crtico no
passado das trs naes, relidas nas pginas dos romances que
podemos dizer que as histrias contadas pelos trs escritores
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
295
reinterpretam o vivido e esto totalmente entrelaadas, mostrando
que neste momento histrico em que as certezas de outrora so
questionadas e at mesmo as naes perdem os seus contornos
simblicos, a reinterpretao do vivido, pela tenso criativa da
metafico historiogrfica, pode de fato contribuir com o momento
presente, j que a releitura deste passado, pelo fato de no ser
pacfica pode intervir no presente e at mesmo no futuro.
Referncias bibliogrficas
HUTCHEON, Linda. Potica do ps-modernismo. Histria, teoria,
fico. Rio de Janeiro: Imago, 1991.
___________, Linda. Narcissistic narrative: the metaficional
paradox. New York: Methuen, 1984.
MACEDO, Helder. Partes de frica. So Paulo: Record, 1999.
OLIVIERI-GODET, Rita. Memria, histria e fico em Viva o
povo brasileiro de Joo Ubaldo Ribeiro. Universit de Paris,
s/d, no. 8. Disponvel em
<http://www.geocities.com/ail.br/ail.html>. Acesso: 13/07/03.
PADILHA, Laura Cavalcante. Novos pactos, outras fices. Porto
Alegre: EDPUC RS, 2002.
CERDEIRA, Teresa Cristina (Org.). Niteri: EDUFF, 2002.
PEPETELA. [PESTANA, Artur Carlos Maurcio]. A gerao da
utopia. Lisboa: Dom Quixote, 1993.
RAMALHO, Maria Irene; RIBEIRO, Antnio Souza. (Org.) Entre
ser e estar. Porto: Edies Afrontamento, 2002.
REIS, Eliana Loureno de Lima. Ps-colonialismo, identidade e
mestiagem cultural. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1999.
RIBEIRO, Margarida Calafate. Partes de ns; uma leitura de
Partes de frica. In A experincia das fronteiras.
CERDEIRA, Teresa Cristina (Org.). Niteri, EDUFF, 2002,
pp. 61-74.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
296
RIBEIRO, Joo Ubaldo. Viva o povo brasileiro. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1984
RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomos II e III. Campinas:
Papirus editora, 1997.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. So Paulo: Companhia
das Letras. 1995.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Entre Prspero e Caliban.
Colonialismo, ps-colonialismo e inter-identidade. In Entre
ser e estar. RAMALHO, Maria Irene; RIBEIRO, Antonio
Sousa (Orgs.). Porto: Afrontamento, 2002.
__________. Pela mo de Alice: O social e o poltico na ps-
modernidade. Porto: Afrontamento, 1996.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. So Paulo:
Companhia das Letras. 1995.
O ideal potico da negao
em Joo Cabral de Melo Neto:
Cultivar o deserto como
um pomar s avessas
Raquel Trentin Oliveira UFSM/ RS
Introduo
Em Discurso sobre lrica e sociedade, Theodor W. Adorno
discute a dimenso social e geral intrnseca lrica, que em
princpio mais subjetiva e individual e mantm uma atitude de
negao ao real objetivo. Afirma que a imerso no individual
eleva o poema lrico ao geral atravs do processo de tornar
manifesto algo no deformado, no apreendido. Na lrica est
impressa negativamente a situao social que cada indivduo
experimenta como hostil, estranha, fria, opressiva. Assim, a
prpria solido da palavra lrica est prefigurada pela sociedade
atomstica e individualista. No protesto contra essa realidade, o
poema exprime o sonho de um mundo no qual as coisas fossem de
outro modo: a idiossincrasia do esprito lrico contra a
prepotncia das coisas uma forma de reao coisificao do
mundo, ao domnio das mercadorias sobre os homens.
Portanto, a lrica traz na sua essncia e no seu reconhecimento
um momento de ruptura: a subjetividade ali imbuda define-se e
exprime-se em oposio ao geral, gravidade objetiva. No
entanto, quanto mais expresso tal rompimento, maior a
possibilidade de vir tona o reverso negado. Sua pura
subjetividade, aquilo que nela parece harmnico e sem ruptura,
testemunha o contrrio: tanto o sofrimento pela existncia estranha
do indivduo, como o amor mesma.
Alm disso, Adorno ressalta, em relao passagem da
potica romntica moderna, a transformao da individualidade
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
298
exagerada no auto-aniquilamento. Para que o sujeito possa resistir
solitariamente coisificao, j no pode tentar sequer retirar-se
para o seu ntimo como se este fosse sua propriedade; precisa, sim,
sair de si mesmo pela dissimulao, tem que se converter em
recipiente da idia de uma lngua pura. Tenta-se aqui entender
como alguns poemas de Joo Cabral de Melo Neto, da sua
primeira fase, lidam com tal questo e o que pode estar implicado
nesse processo.
Em geral, nos poemas romnticos, o sujeito afasta-se da
superfcie social para mergulhar em sua intimidade, enlevando-se
na contemplao da natureza. Ao mesmo tempo, esse
distanciamento deixa latente toda a opresso advinda da
instabilidade da realidade externa.
J o poema moderno luta contra todos os sentimentos
voluptuosos e hedonistas, subentende uma fuga do que deleitoso
e agradvel, opondo a frieza de tom sentimentalidade da tradio
romntica, a qual j se tornara lugar comum, discurso corrente.
Repudia a inspirao, como efeito de uma subjetividade impura,
que conduz embriaguez do corao. No Brasil, como considera
Antonio Candido (2000: 136) no que se refere literatura e
cultura de 1900 a 1945, assiste-se ao fim da literatice
tradicional, presencia-se a formao de padres literrios mais
puros, mais exigentes e voltados para a considerao de problemas
estticos, no mais sociais e histricos.
Nas obras de Joo Cabral de Melo Neto notria a ansiedade
de expurgar do poema qualquer resqucio de sentimentalismo e do
tom confessional da advindo. H uma exigncia de preponderar a
vontade da forma sobre a vontade da expresso. O estilo romntico
ento aparece como j desfigurado (reificado), instaurando-se no
poema uma negao de tudo aquilo com que a conveno lrica
anterior pretendeu possuir a aura das coisas.
Nesse sentido, necessrio dissimular a individualidade ali
representada, expulsando do poema o campo sentimental humano.
Para isso concorre o rompimento com o mundo vivo, animal e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
299
vegetal e, por outro lado, a elevao do mundo mineral como
princpio. Da que o ideal seja o da secura, da ordem. No entanto, a
objetividade extrema, a aridez que o sujeito busca, trazem com elas
a condio lquida, o caos que o inquieta; a vontade manifesta
arrasta consigo sentidos silenciados. A confisso dos sentimentos
ecoa negativamente no poema como um ato obsceno e
vergonhoso, logo precisa ser rejeitada, atravs do apego a uma
atitude asctica, que se ope ao crescimento prodigioso, aos
aspectos corpreos e sensveis, em nome da conscincia e da
racionalidade.
Salienta-se a perspectiva de um dos crticos mais reconhecidos
de Cabral, Joo Alexandre Barbosa (1975), em relao atitude de
negao que predomina nos poemas do autor. A preocupao do
crtico est em refletir acerca da maneira pela qual a obra potica
de Joo Cabral prope e procura resolver a questo mais ampla
do prprio processo criador potico, fundada na relao entre
linguagem e realidade (p.16). Para Barbosa, o que est em jogo
a negao da exposio, da mensagem, e o apego composio,
abstrao. O poeta rompe com a atividade que ento se realizava
quando lanou sua primeira obra, fase em que as imagens eram o
correlato do sentimento. O crtico refere-se aos poemas de 1947,
Psicologia da composio, Fbula de Anfion e Antiode,
como parmetros para a potica negativa de Joo Cabral. O que
se recusa a perpetuidade de uma potica e, por isso, ela
negativa. Esses trs poemas permanecem entre a primeira e a
segunda fase do autor:
entre uma potica da composio perigosamente
dirigida para a expresso dos dados sutilssimos, a
que s pode servir de instrumento a parte mais leve e
abstrata dos dicionrios e uma potica da
comunicao reduzindo o texto condio de
escoadouro para o rio impreciso que corre em
regies de alguma parte de ns mesmos o poeta
explora o silncio e a negao como possveis
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
300
metforas para uma definio de sua potica (1975:
58).
Assim, o que est em jogo nesse argumento, bem como
defendem a maioria dos crticos do autor, atitude opositiva de
Cabral, e da poesia moderna em geral, especialmente maneira
romntica de poetar. No entanto, aqui se tenta considerar tal
negao para alm disso.
Por seu lado, Adorno centra sua discusso em torno da atitude
de negao lrica frente ao mundo objetivo, representado pela
realidade capitalista de consumo, assim infere que as
caractersticas essenciais da lrica nascem com tal sociedade. Esse
o real hostil que oprime o homem e que, mesmo em aparente
ausncia no poema, prefigura sua condio. No entanto, correndo-
se o risco de generalizar, o elemento negado pode no se limitar ao
mundo das mercadorias e ser lido tambm como o outro, parte da
condio humana, que aflige o ser e que se insiste em negar.
Assim, do pensamento adorniano resgata-se a idia em si da
negao, do no nomeado na lrica que, paradoxalmente, silencia e
grita.
No caso de Joo Cabral, justamente o mundo mais objetivo
que elevado como ideal, pois nega o sentimentalismo
escrachado que, num certo sentido, j entregara-se ao
mercado. A objetividade buscada passa a ser o ainda no
apreendido, o imprevisto, anunciando formas novas de se fazer
poesia. No entanto, o campo negado no diz respeito apenas
recusa da lrica tradicional; paradoxalmente, vem tona, atravs
dele, principalmente, o excesso de carga emotiva que inquieta esse
sujeito e que, se fosse deixado solto, explodiria. O retraimento da
indiscrio afetiva traduz uma resistncia deliberada a foras
psquicas que o sitiam, exigindo-lhe rendio e que o poeta repele,
erguendo barreiras, [...], numa recusa obstinada de capitular, [...]
de render a prpria alma (ESCOREL, 1973: 58). Portanto, a no
nomeao do mundo mais afetivo e do mundo mais social, nos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
301
primeiros poemas de Cabral, traz latente o reverso negado, a
intensidade afetiva e a inquietao com o real.
Leitura de alguns poemas da primeira fase de Joo Cabral de
Melo Neto
De incio, nOs trs mal- amados (1943), que retoma
personagens do poema Quadrilha de Carlos Drumond de
Andrade, observa-se a atitude tomada por Raimundo quando
define reiteradamente Maria, sua amada, no aparente anseio de
delimit-la totalmente, sem deixar escapar nenhum lado. Ela
praia segura, corpo conhecido, em que o excesso, a fluidez, a
evaso so imediatamente evaporados. o mar sem mistrio e
sem profundeza; fonte controlada, campo cimentado, rvore
slida e prtica. garrafa de aguardente, correta e explorvel,
com lquido submetido vontade do sujeito. ainda jornal que
contm o mundo em sua ltima edio e mais recente; livro,
floresta numerada que leva dsticos explicativos; folha em
branco, objeto slido. Como se verifica, todas as denominaes
so presenas precisas e inalterveis opostas minha fuga, como
declara Raimundo.
Em O engenheiro (1942 1945), destaca-se a Pequena ode
mineral, em que desordem da alma, contrape-se a ordem da
pedra, dicotomia que ganha forma na diviso ntida do poema em
duas partes de oito estrofes, cada uma dedicada a explicar um dos
plos.
Do lado da desordem da alma, est o atropelo, o
transparecimento da carne, a fuga, a vaga fumaa que se
dispersa, a informe nuvem, o crescimento, o no
reconhecimento, o descontrole, a fluidez. A alma foge como
cabelos, unhas, humores, palavras ditas, assim, transforma-se
repentinamente, sem maneiras de cont-la. Do outro lado, em que
nada se gasta mas permanece, est o reconhecimento, o ser
controlado, o no crescimento, a permanncia fora do tempo, o
pesado slido que ao fludo vence, a ordem do silncio puro,
que imvel fala.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
302
Nota-se que a presena da desordem na alma no dada
como uma confisso do sujeito lrico, mas sim atribuda a uma
segunda pessoa, tua alma foge, o que, j primeira vista, sugere
a efuso afetiva do sujeito, que compreendida como uma maneira
de perder-se. Assim, fica a vontade de reprimir a vida que cresce, a
condio instvel humana, a mudana do corpo, o efeito das
palavras ao vento, a disperso, o vago, o informe; exaltando o
silncio, a ordem, a imobilidade, a permanncia da pedra, para
suspender o tempo e mobilizar a alma fugidia.
No poema A Paul Valry, a exaltao esttua e sua
condio de doce tranqilidade. A esttua, elemento inorgnico,
assume mais valor que o corpo vivente, porque congela o real,
imobiliza a vida que cresce e cria. Somado a isso, representa-se a
imagem do homem na praia, entregue luz solar, assim evaporado
pelo calor, absorvido pela areia. Dessa maneira, o sol o elemento
depurador da natureza humana impura e catica, pois o que se
busca ainda o pensamento de pedra, sem fuga, febre, vertigem.
No mesmo sentido caminha O fantasma na praia, em que se
idealiza a figura do fantasma camisa branca/, corpo difano/,
funes tranqilas/ no banho de sol. Essa a imagem
desumanizada do homem, descarnado, transparente, que d
passagem luz do sol. A descrio acrescenta espectro de
mo/sem linha de vida,/sem fsica,/qumica,/histria natural.
figura no resta nada que lembre a vida, por isso seu aspecto
tranqilo, seguro, estvel: tinha o ar, entre os homens,/ de um
barco na areia. Ele o barco ancorado que no navega, no se
entrega ao fluxo constante das guas e assim permanece inclume
aos perigos, aos desacertos, para sempre fixo.
Em Os primos novamente predomina a vontade da
desumanizao categoria descrita por Hugo Friedrich (1991)
como caracterstica da estrutura da lrica moderna quando
estancada a existncia temporal pela limitao da pedra: meus
primos todos/ em pedra [...]/ No gesso branco/ os antigos dias,/ os
futuros mortos. A atividade e a dinamicidade dos seus papis
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
303
sociais permanece marmorificada: Meus primos todos/ em
mrmore branco/ o funcionrio, o atleta,/ o desenhista/ o cardaco,
os bacharis anuais. Enfim, tem-se a exaltao do amor mineral,/
a simpatia, a amizade/ de pedra..., negando-se os reais vnculos
humanos.
A rejeio vida humana em geral vem realada pela negao
do elemento feminino, que guarda a possibilidade da gerao,
como se infere em A rvore. Aqui permanece a mesma
estratgia construtiva de A pequena ode mineral, dividindo-se
tematicamente o poema em dois plos opostos: o olhar que busca a
rvore X o olhar que busca o cimento frio. O primeiro interroga:
A rvore da vida? A rvore/ da lua? A maternidade simples/ da
fruta?. O segundo definitivamente encontra o frio olhar/ [...] ao
cimento frio/ do quarto e da alma: /calma perfeita/ pura inrcia,/
onde jamais penetrar/ o rumor/ da oculta fbrica/ que cria as
coisas/ do oculto impulso que explode em coisas. (grifo meu).
Nota-se que a pontuao diferenciada entre as duas partes,
(interrogativa na primeira e afirmativa na segunda) reala o sentido
buscado, a oposio entre a evaso, o devaneio do olhar que salta
pela janela e a pura inrcia, o pensamento fixo do que volta
pela janela ao cimento frio do quarto. Combate-se ento o xtase,
a reproduo incontrolvel que explode por fora dos elementos
femininos: a rvore da vida, a rvore da lua, a maternidade simples
da fruta, a fbrica.
Intensificando ainda mais esse sentido, est o poema As
estaes, em que se transfigura o ciclo da natureza. O inverno
anunciado pela chuva fina que inunda, criando O mundo cheio
de rios/ lagos, recolhimentos/ para nosso uso. No vero,
predomina a umidade e o calor, figurados pelos mveis que
suam e pelos sonhos, fantasmas/ mortos de sede do ambiente
domstico. Na primavera, h o florescimento da terra. Em
oposio, o sujeito busca o outono: na fruta sobre a mesa/ procuro
um verso/ que revele o outono [...]; exercito truques, palavras (ante
a fruta madura/na beira da morte,/ imvel no tempo/ que ela sonha
parar. Nota-se que apenas na ltima estrofe, dedicada ao
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
304
outono, que o sujeito assume-se enquanto pessoa que fala,
procuro um verso, enquanto que, nas trs primeiras, o discurso
permanece geral, aparentando a perspectiva do mundo, dos
homens, do ambiente domstico. Fica claro portanto a negao
condio lquida que o inverno representa, ao estado morno e
desejoso que o vero insinua, ao modo primaveril de brotamento
incontrolvel. Permanece a busca do ar seco outonal, do
amarelecimento da estao que anuncia a morte. A fruta madura
na beira da morte a possibilidade de, bruscamente, parar o
tempo, o movimento da natureza. Por outro lado, em ausncia, fica
a possibilidade de reincio do ciclo a partir da semente que ela
esconde.
Agora, presta-se ateno nos poemas Psicologia da
composio, Fbula de Anfion e Antiode, de 1946-1947. O
ltimo, que se diz contra a poesia dita profunda, a princpio,
rejeita o sentimentalismo romntico da poesia-flor, viciada em
estados de evaso, de entorpecimento e melancolia, corpo que
entorpece/ ao ar de versos?/ (Ao ar de guas/ mortas, injetando/ na
carne do dia/ a infeco da noite); que se insinua em mil
mornos/ enxertos, mil maneiras/ de excitar negros/ xtases. Para
livrar-se de tal estado, o sujeito busca educar-se progressivamente,
a fim de desvencilhar-se da embriaguez do corao, o que a forma
do poema dividida em cinco partes facilita apreender: na primeira,
poesia te escrevia:/ flor; na ltima, Poesia te escrevo/ agora:
fezes [...] Te escrevo cuspe, no mais; to cuspe/ como a terceira
[...] das virtudes teologais. Lauro Escorel, a quem tais poemas
foram dedicados, d uma interpretao bastante elucidativa para tal
escolha, ainda que se centre na perspectiva do poeta:
primeira vista, Anti-Ode um antema contra a
languidez do lirismo fcil e sentimental da tradio
romntica [...] Mas um exame mais atento da
psicologia do poeta [...] me parece dar legitimidade
outra interpretao, a meu ver mais verdadeira, da
motivao psquica desse estranho poema: a de que
ele traduz a inteno de Cabral de Melo de rejeitar a
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
305
Poesia na medida em que esta sobretudo fora
indomvel do inconsciente, por isto, o poeta a
qualifica de fezes, isto , aquilo que pela sua
impureza e irredutibilidade ao cristalino da
conscincia deve ser eliminado [...]. Ao identificar
poesia com fezes, o poeta a qualifica de cuspe. Ora,
cuspir ato de desprezo ou repugnncia, gesto de
repulsa ao que recusamos provar ou engolir (1973:
43-44).
Assim, conforme a leitura de Escorel, a qual vem alimentar a
argumentao aqui defendida, o sujeito busca livrar-se daquilo que
no consegue tolerar e, sobretudo, controlar. Essa imagem to
violenta e distanciada da postura potica defendida, tranqila e
livre de sentimentos extremos, d bem a medida de sua tendncia
introverso e reserva, procurando libertar-se da substncia da
sua alma ou de seu prprio inconsciente. (1973:44)
Psicologia da composio favorece ainda mais a mesma
concluso. Percebe-se o objetivo de depurar a poesia dos sentidos,
da moral, do cotidiano, do sonho Neste papel/ pode teu sal/
virar cinza;/ pode o limo/ virar pedra; Neste papel/ logo
fenecem/ as roxas, mornas/ flores morais;/ todas as fludas/ flores
da pressa;/ todas as midas/ flores do sonho; cristaliz-la pelo
sol da ateno, cont-la atravs da forma, em verso ntido e
preciso. Nota-se que a condio da qual se quer curar, novamente,
atribuda a uma segunda pessoa teu sal enquanto o eu
mantm-se inclume, estril, refugiado nesta praia pura/ onde
nada existe/ em que a noite pouse./ Como no h noite/ cessa toda
fonte;/ [..] cessa toda fuga;/ como no h fuga / nada lembra o fluir
/ do meu tempo, ao vento. Nesse ltimo verso percebe-se o que,
profundamente, incomoda o sujeito lrico seu tempo a fluir o
que, na folha branca, no papel mineral, na escrita vazia, ele
busca silenciar. Assim, aps neutralizar a pessoalidade, numa
forma que vai da primeira terceira pessoa e dessa para a
impessoalidade, alcanada pelo uso do infinitivo na ltima das oito
partes do poema, possvel cultivar o deserto; logo onde foi
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
306
ma/ resta uma fome; onde foi palavra (potros ou touros contidos)
resta a severa forma do vazio. No entanto, tanto a fome quanto o
vazio falam de um estado a ser completado, de uma ausncia e do
desejo de preench-la.
Por fim, l-se a Fbula de Anfion. Lembra-se, em primeiro
lugar, que o nome Anfion formado com base em amph, de um e
de outro lado, duplo; talvez por ser irmo gmeo de Zeto,
explica Junito Brando (1991: 72). Lembra-se que, segundo a
mitologia grega, Anfion, filho de Zeus e Antope, com a lira que
recebeu de Hermes, dedicou-se msica, enquanto o irmo, de
gnio violento, empregava seu tempo em lutas e trabalhos pesados.
Ambos, quanto reinaram em Tebas, resolveram murar a cidade.
Zeto transportava enormes pedras nos ombros e Anfion, apenas ao
som da lira, arrastava e encaixava as mesmas no lugar exato.
Quanto a seu fim, algumas verses afirmam que ele enlouqueceu e
tentou destruir um templo de Apolo, que o liquidou a flechadas.
O poema divide-se em trs grandes partes: O deserto, O
acaso, Anfion em Tebas. Na primeira, Anfion apresentado
como um eremita que comunga o deserto, o ar mineral isento
mesmo da alada vegetao, o gesto puro de resduos, a terra
branca e vida como o cal, o tempo claro, onde nada sobrou da
noite. Ao sol do deserto, sua flauta permanece seca, em
silncio, sem entoar melodias doces de gua e de sono, nem
soprar gros de amor. O sol, lcido, resseca qualquer
possibilidade de fermentao da vida, de gerao de mistrio,
preside apenas a fome vazia. Em O Acaso, depois de o ideal
solar e seco ter sido encontrado, ter transformado o antigo
vocabulrio de Anfion em esqueleto, quando a personagem est
banhada pelo auge da luz, no castio linho do meio dia, depara-
se com o Acaso. Ento, o acaso ataca e faz soar a flauta;
descrito como animal, vespa oculta nas dobras da alva
distrao, inseto vencendo o silncio, esfinge que lhe
mordia a mo escassa;/ que lhe roa/ o osso antigo/ logo florescido
da flauta extinta. Assim. Tebas se faz, cidade onde a noite
persiste, sem se dissolver. Anfion busca ali o deserto perdido e
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
307
lamenta-se diante de sua obra: como j distinguir/onde comea a
hera, a argila/ ou a terra acaba?, enquanto ele desejou
longamente/liso muro, e branco/ puro sol em si. Enfim, Anfion
explica sua relao com a flauta: Uma flauta: como/ domin-la,
cavalo/ solto, que louco?/ Como antecipar/ a rvore de som/ de
tal semente?. Ento, a soluo jog-la aos peixes surdo-mudos
do mar.
Para analisar tal poema, importante notar como Cabral
revisita o mito, especialmente em um detalhe, a adoo da flauta
no lugar da lira. Sabe-se que a lira um instrumento apolneo;
enquanto a flauta lembra a natureza de seu criador, P, engajado ao
cortejo dionisaco, metade animal e metade homem, personificao
da fertilidade, do esprito selvagem da natureza. J por sua prpria
forma, a flauta parece possuir um significado flico. No poema, a
possibilidade de acordar o seu som parece ser sinnimo de pnico,
do que perturba o esprito e enlouquece os sentidos. Alm disso, a
descrio do Acaso apresenta-o como uma fora demonaca,
uma tentao enigmtica que amedronta. Ento, o retiro no deserto
uma maneira de Anfion purgar-se do lado noturno, selvagem que
o atormenta; pois a ao do sol capaz de secar a flauta, faz-la
perder seu smen, abolindo o crescimento descontrolado e
alcanando a criao perfeita: o silncio.
Assim, a escolha da flauta significativa, pois adensa os
significados que a personagem parece guardar, a comear pelo seu
nome que lembra uma natureza dupla. Anfion o personagem
ideal porque apenas ao som da lira capaz de levantar uma
construo perfeita, de pedra. Por outro lado, seu gmeo,
representado pelo irmo Zeto, encarna o gnio violento,
indomvel, contra o qual muitas vezes Anfion lutou. Logo, colocar
a flauta dionisaca nas mos de Anfion reacender o significado
de sua personalidade dupla. O ato de sec-la, ao sol, parece
representar a vontade de libertar-se desse outro lado, purificar-se
de qualquer resqucio do outro mundo. No entanto, as foras
dionisacas da dissoluo, da tenso psquica, engendradas pelo
acaso, o dominam e sua criao no consegue fornecer os exatos
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
308
limites que idealizava. Enfim, Anfion parece desistir de tentar
dominar a flauta, mergulhando-a no mar. A atitude do sujeito
assim de quem afunda, esconde por no poder controlar, impor
exatos limites ao seu objeto.
Ento, a experincia do sujeito no deserto parece simbolizar a
tentativa malograda de evadir-se do mundo afetivo, eliminar os
impulsos instintivos e as emoes autnomas, mesmo que tal
experincia asctica permanea como ideal. Por outro lado, a
busca da ascese desrtica, que se ope ao acaso, pode ser
interpretada como uma tentativa de fugir do real. Como lembra
Hugo Friedrich, em Mallarm, o acaso uma palavra-chave para
indicar a simples realidade (1956: 114). Nesse sentido, no
contexto do poema, o real acomete o sujeito e no h chances de
livrar-se dele totalmente.
Concluso
De qualquer maneira, o sentido que a Fbula de Anfion
parece encerrar pode dar crdito a uma das concluses a que se
chega, ao fim da leitura dos poemas aqui escolhidos: a
subjetividade ali representada no se mostra tranqila, harmnica,
pelo contrrio, testemunha tanto o sofrimento da existncia
estranha como o amor a ela; o eu busca o deserto, o mundo
mineral, mas est vulnervel ao acaso, poesia profunda, aos
sentimentos comuns, natureza lquida, animal e vegetal, dos
quais tenta livrar-se, atribuindo-os, tantas vezes, a uma segunda
pessoa (Na Fbula de Anfion, encontra-se tambm: ali, no h
como pr vossa tristeza). A forma de resolver esse conflito est
na busca da impessoalidade, da objetividade da linguagem, numa
tendncia reserva, recusa a qualquer efuso que o reveja em
pblico, que devasse a sua intimidade, que o exponha
indiscretamente ao prximo. Entretanto, no h rigor formal que
suspenda o ndice humano, a liquidez das imagens ali construdas.
A abdicao da individualidade deixa mostras, por outro lado,
de uma sensibilidade extrema em luta consigo mesma para
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
309
conseguir apreender, atravs da poesia ideal, a exata condio
humana (objetivo para o qual a descrio e o uso de verbos de
essncia parecem contribuir), sem recorrer aos sentimentalismos
tradicionais. necessrio exaltar a esttua, o barco parado na areia
porque eles representam a vida que pode ser entendida, contra o
ininterrupto movimento do mundo e o fluir constante do tempo
que assombram o sujeito. H nos poemas o resqucio de uma
personalidade que sofre porque o mundo cria e transforma-se
prodigiosamente, da o anseio por um jornal que o traga em sua
ltima edio e mais recente, da a busca da alma tranqila e fria
em que no penetre o rumor da oculta fbrica que cria as coisas,
do oculto impulso que explode em coisas. O mundo inorgnico
elevado a ideal na poesia de Cabral nega, sim, a realidade impura e
catica. O sentido de seus poemas, enfim, transita entre a palavra e
o que ela silencia.
Portanto, tais poemas de Cabral negam a tradio romntica
no s porque se tornou piegas. Sobretudo, a confisso dos
sentimentos retrada, numa tentativa de disfarce da emoo
descontrolada que acomete esse sujeito diante do real e da vida. A
intensidade dos sentimentos sugerida pela prpria ansiedade em
neg-los.
A insistncia na preciso formal rejeita a expresso fcil, a
inspirao, mas, por outro lado, sugere que a pureza concreta
onde o sujeito encontra segurana, pois j no consegue refgio
em seu prprio eu, que est sempre em fuga. Na dureza das
imagens, no dissolver-se e despedaar-se em diferentes vozes
parece atuar o fracasso da proximidade intimamente procurada,
mas tambm a busca de salvao mediante a linguagem criativa.
Referncias Bibliogrficas
ADORNO, Theodor W. Discurso sobre lrica e sociedade. Trad.
Maria Ceclia Londres e Heidrun Krieger Olinto. In: COSTA
LIMA, Luiz (org.) Teoria da literatura em suas fontes. Rio de
Janeiro, Francisco Alves, 1975.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
310
BARBOSA, Joo Alexandre. A imitao da forma. So Paulo:
Duas Cidades, 1975.
BRANDO, Junito de Souza. Dicionrio mtico-etimolgico. 4.
ed. Petrpolis: Vozes, 1971.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8 ed. So Paulo: T.
A. Queiroz, 2000.
COSTA LIMA, Luiz. Lira e antilira. 2 ed. rev. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1995.
ESCOREL, Lauro. A pedra e o rio. So Paulo: Duas Cidades,
1973.
FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lrica moderna. Trad. Marise M.
Curione. 2 ed. So Paulo: Duas Cidades, 1991.
GRIMAL, Pierre. Dicionrio de mitologia grega e romana. Trad.
Victor Jaboville. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1997.
MELO NETO, Joo Cabral. Poesias completas. 3. ed. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1979.
SENNA, Marta de. Joo Cabral: tempo e memria. Rio de
Janeiro: Antares, 1980.
As amarras da leitura desejante
(sobre Lavoura arcaica)
Renata Farias de Felippe UFSC
[...] na leitura todas as emoes do corpo esto
presentes, misturadas, enroladas: a fascinao, a
vagncia, a dor, a volpia; a leitura produz um corpo
transtornado. [...] a leitura condutora do Desejo de
escrever. [...] e a cadeia dos desejos comea a
desenrolar-se, cada leitura valendo pela escritura
que gera, at o infinito. (BARTHES,1988: pp.49-50)
Pensar a leitura como um processo, simultaneamente,
prazeroso e desconcertante, como afirma Barthes, uma certeza
que se confirma com a leitura de Lavoura arcaica, de Raduan
Nassar, romance que talvez no encontre rivais, nesse sentido,
na literatura brasileira ou mesmo na literatura contempornea. Este
imenso rio de palavras, por onde escorrem os estilhaos dos
gneros, conduz o leitor por uma construo tortuosa que
reconstri a saga da perdio e confrontos que marca esse novelo
de laos consangneos (TEIXEIRA, 2002: pp.17-8). Texto
intermediado por um narrador tomado pela paixo e pela clera, a
leitura do mesmo est muito longe de ser fcil: passar por esse rio
de palavras antes ser tragado por ele, para depois ser devolvido
ao solo frgil das certezas cotidianas. Dessa experincia, samos
maravilhados com a densidade e a tcnica discursivas, mas
estranhamente mais leves por, enfim, nos vermos libertos desta
cadeia de desejos perturbadores.
Ainda que a unanimidade tenha as suas armadilhas, pode-se
dizer que a leitura do romance de Nassar, no mnimo, elimina do
leitor qualquer vestgio de um estado letrgico. Entre a perturbao
causada e o desejo da linguagem que impulsiona produo de
outras escrituras - h uma distncia reduzida, o que talvez
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
312
justifique a diversidade de textos gerados em torno dessa narrativa
singular.
Se a leitura o gesto inaugural na cadeia de desejos que
impulsiona escritura, os textos posteriores no deixam de ser um
tributo tessitura geradora, ainda que se escreva contra a mesma.
Ao leitor desejante, condio primeira da figura que passar de
receptor escrevente, o texto primeiro delega a prpria
insubmisso, j que o sentido estar sempre frente da
interpretao, desdobrando-se, criando novas associaes,
potencialmente infinitas. quele que se coloca em posio de
desvendar as potencialidades textuais, para escapar condio de
amante ingnuo dever, portanto, ver na estrutura sobre a qual se
debrua, bem como no texto que concebe, um espao de fuga,
devires, desejos, e no de afirmaes.
A partir desses pressupostos, o texto Uma lavoura de
insuspeitos frutos, de Renata Pimentel Teixeira, desenvolve uma
anlise crtica do romance que ignora os lugares-comuns da
psicanlise freudiana, da abordagem hermenutica e das tenses
dialticas para propor uma leitura rizomtica do texto, processo
que aponta multiplicidade, simultaneamente, consistente e
indecifrvel dos infinitos sentidos da escritura. Sendo assim, a
anlise assinada por Teixeira valoriza exatamente o estado de devir
dessas possibilidades.
o desejo da linguagem, voltado ao texto de Nassar e leitura
crtica de R. Teixeira, o elemento que impulsiona tambm esta
anlise. Nesta urdidura de desejos, uma srie de outros textos sero
usados na tentativa de esboar uma escritura rizomtica e tambm
crtica (ainda que nesta possa haver vestgios de uma paixo
declarada). A condio primeira de leitor(a) desejante talvez
justifique o interesse em abordar a figura de um leitor especfico:
Andr.
Portador de um discurso violento, envenenado, que reivindica
a impacincia e o individualismo, a fala de Andr, no entanto, s
se materializa contra o pai em um nico dilogo que, apesar de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
313
denso no exatamente colrico. O confronto entre o discurso
patriarcal e a reivindicao do indivduo finalizado por um
suposto recuo por parte do protagonista.
- Como posso te entender meu filho? Existe
obstinao na tua recusa, e isto tambm eu no
entendo. Onde voc encontraria lugar mais
apropriado para discutir os problemas que te
afligem?
- Em parte alguma, menos ainda na famlia; apesar
de tudo nossa convivncia sempre foi precria, nunca
permitiu ultrapassar certos limites; foi o senhor
mesmo que disse h pouco que toda palavra uma
semente: traz vida, energia, pode inclusive trazer
uma carga explosiva no seu bojo: corremos graves
riscos quando falamos.
- [...] ningum em nossa casa h de falar com
presumida profundidade, mudando o lugar das
palavras, embaralhando as idias, desintegrando as
coisas numa poeira, pois aqueles que abrem demais
os olhos acabam por enxergar a prpria cegueira
[...] No foi o amor, como eu pensava, mas o
orgulho, desprezo e o egosmo que te trouxeram de
volta casa!
- Estou cansado, pai, me perdoe. [...]
E o meu suposto recuo [grifo meu] na discusso com
o pai logo recebia uma segunda recompensa: minha
cabea foi de repente tomada pelas mos da me.
(NASSAR, 1982: pp.147-150)
O discurso agressivo de Andr, apesar de ser contrrio s
normas generalizantes da lgica patriarcal, no afronta diretamente
ao pai, causando maior perturbao a trs figuras especficas: ao
leitor; a Pedro, o irmo mais velho a quem Andr confessa o
incesto, e, em um certo momento Ana, o objeto de seu desejo. No
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
314
entanto, no exatamente o discurso do narrador que interessa ao
trabalho em questo, mas a figura de Andr como leitor dos
discursos do corpo (do seu e dos integrantes da famlia). Mapear
os rastros dos apelos corporais no interior da narrativa ser um dos
temas deste ensaio. No entanto, em Lavoura arcaica, a urgncia
dos corpos anunciada passa pela leitura de um ser convulso,
portador de palavras perversas que semeiam no leitor o desejo e a
vertigem. O ensaio, portanto, aborda, direta e/ou indiretamente, a
posio de diferentes leitores: a figura do narrador como leitor dos
corpos, o leitor para quem o narrador se dirige e um
desdobramento deste ltimo: aquele que, tomado pela paixo que o
texto desperta, origina uma outra escritura.
1. Corpos de palavras
Para ns o corpo existe; traz a gravidade e limites ao
nosso ser. Sofremo-lo e gozamo-lo; no uma roupa
que estamos acostumados a habitar, nem alguma
coisa alheia a ns: somos o nosso corpo. [...] o corpo
no vela a intimidade, e sim a revela. (PAZ. Otvio.
Apud TEIXEIRA: 2002, p.72)
Ler os movimentos de Ana e os apelos da sexualidade
impressos nas roupas; conter o desejo afundando os ps na terra;
ouvir na voz materna as calcificaes uterinas; fundar uma religio
sobre a prpria carne: a leitura, a lgica e o discurso de Andr
baseiam-se sobre os apelos corporais. O corpo, essa indumentria
incmoda e reveladora, a fonte de apelos incisivos que afligem o
narrador-protagonista e que se transformam em escrita. Pode-se
pensar que os anseios de sua prpria corporalidade, contidos pelo
opressivo discurso paterno, so os pressupostos que induzem e
autorizam o protagonista a ler os corpos do cl. Personagem que
se diz incapaz de sair da carne dos prprios sentimentos, ser o
prprio desejo o agente que impulsionar a leitura de Andr, e no
necessariamente o suposto interesse em desvendar os anseios
alheios. Nesse sentido, a passagem na qual o protagonista l as
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
315
impresses corporais nas roupas sujas da famlia bastante
reveladora, pois o fragmento revela no s as peculiaridades desta
leitura especfica como daquele que a realiza.
[...] era o pedao de cada um que eu trazia [grifo
meu] nelas quando afundava minhas mos no cesto,
ningum ouviu melhor o grito de cada um, eu te
asseguro, as coisas exasperadas da famlia deitadas
no silncio recatado das peas ntimas ali guardadas
[...] bastava afundar as mos pra colher o sono
amarrotado das camisolas e dos pijamas e descobrir
nas suas dobras, ali perdido, a energia encaracolada
e reprimida do mais meigo cabelo do pbis, e nem
era preciso revolver muito para encontrar as
manchas peridicas de nogueira no fundilho dos
panos leves das mulheres ou escutar o soluo mudo
que subia do escroto engomando o algodo branco e
macio das cuecas, era preciso conhecer o corpo da
famlia inteira [...] ningum afundou mais as mos
ali, Pedro, ningum sentiu mais as manchas de
solido. (NASSAR, 1988: pp.37-8)
As expresses destacadas no fragmento evidenciam a viso do
protagonista, que se julga um leitor irrefutvel, o guardio nico e
unvoco do sentido dos corpos. O carter incisivo das afirmaes
feitas resulta dos seus prprios e urgentes anseios, o que faz de
Andr um leitor sem dvida desejante, mas no exatamente crtico
(at porque o personagem admite uma nica leitura: a sua). A
leitura do mesmo, tambm desejante, no deseja os signos que
acredita decifrar, mas a revisitao do seu prprio desejo,
desencadeado pela leitura das marcas corporais impressas nas
peas alheias. Aqueles que esto fora do eu, portanto, tornam-se
perceptveis exatamente naquilo que despertam e/ou podem ter em
comum com o narrador.
Em um outro fragmento, Andr revela mais uma vez o
egocentrismo que norteia a sua leitura ao ler nos movimentos de
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
316
Ana a projeo dos elementos potencialmente perniciosos de sua
prpria personalidade.
[...] e no tardava Ana, impaciente, impetuosa, o
corpo de campnia, a flor vermelha feito um coalho
de sangue prendendo de lado os cabelos negros e
soltos, essa minha irm que como eu [grifos meus],
mais que qualquer outro em casa trazia a peste no
corpo. (Ibidem: p.26)
A passagem destacada no a nica a estabelecer uma relao
de equivalncia e complementaridade entre Andr e Ana. Em
outros momentos, como na recusa inicial de Ana e na consumao
do incesto, essa a suposta identidade entre os irmos assinalada:
[...] ns dois que at ento ramos um s, vi com
espanto que meu continente se bifurcava [...].
(Ibidem: p.90)
[...] e fiquei pensando que muitas vezes, feito
meninos, haveramos os dois de rir ruidosamente,
espargindo a urina de um contra o corpo do outro, e
nos molhando como h pouco, e trocando sempre
atravs de nossas lnguas laboriosas a saliva de um
com a saliva de outro [...] e s pensando que ns
ramos de terra, e que tudo o que havia em ns s
germinaria em um com a gua que viesse do outro.
(Ibidem,:p.100)
Nos fragmentos, Ana percebida como uma extenso do
narrador, identidade que sublinhada se considerarmos o fato de o
nome da irm corresponder ao pronome eu em rabe (Cf
PERRONE-MOYSS, 1996: p.65). Tal identificao leva a refletir
sobre a natureza do desejo de Andr como sendo uma
reivindicao da prpria individualidade, forma encontrada para
romper com a rgida lgica patriarcal. Se Ana e Andr so um s,
o protagonista s estar completo quando possu-la. Este, no
deseja Ana como um indivduo, mas como um apndice. Sendo
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
317
assim, se a figura autoritria do pai inibe a individualidade dos
seus, Andr repetir este gesto ao ignorar a individualidade de
Ana. personagem tambm so negadas as palavras: o nico
discurso permitido Ana o do corpo, expresso que se faz
atravs da dana, e que tambm intermediada pela leitura de
Andr.
[...] ela varava ento o crculo que danava e logo eu
podia adivinhar seus passos precisos de cigana se
deslocando no meio da roda, desenvolvendo com
destreza gestos curvos entre as frutas e as flores dos
cestos, s tocando a terra na ponta dos ps
descalos, os braos erguidos acima da cabea,
serpenteando lentamente ao trinado da flauta mais
lento, mais ondulante, as mos graciosas girando no
alto, toda ela cheia de uma selvagem elegncia [...].
(NASSAR, 1988: pp.26-7)
As palavras esto interditadas personagem mesmo quando
esta questionada pelo irmo/amante: [...] querida Ana, te chamo
ainda simplicidade, te incito agora a responder s por reflexo e
no por reflexo[...] (Ibidem p.118). A fala incisiva de Andr quer
de Ana a ao (ou melhor, o corpo), e no as palavras. Alis, na
narrativa, as palavras so um direito masculino e a verborragia, um
privilgio paterno.
A nica voz feminina que, por vezes, se pronuncia a da me,
e ainda assim, alm de escasso, o seu discurso portador de uma
ternura sufocante, vista por Andr como corrompedora. As
referncias me, bem como s figuras que de alguma forma se
associam ao universo feminino passam quase que exclusivamente
pela corporalidade (exceo feita s raras palavras maternas).
[...] quando fui procurar por ela [a me], eu quis
dizer a senhora se despede de mim agora sem me
conhecer, e me ocorreu que eu pudesse tambm dizer
no aconteceu mais do que eu ter sido aninhado na
palha do teu tero por nove meses e ter recebido por
muitos anos o toque doce da tua mo e da tua boca;
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
318
eu quis dizer por isso que eu deixo a casa [...].
(Ibidem: p.56)
O corpo materno percebido como a fonte essencial de afeto e
conforto, associado ao desvio por constituir o extremo oposto
rigidez paterna. Nas palavras do narrador: se o pai no seu gesto
austero, quis fazer da casa um templo, a me, transbordando no
seu afeto, s conseguiu fazer dela uma casa de perdio (Ibidem,
p.118). Perdido entre esses extremos, o indivduo formula o seu
prprio cdigo, que no menos radical que os de seus
progenitores. Ainda com relao me, destaco mais uma
passagem na qual o narrador faz uma leitura da angstia materna
causada pela suspeita de sua fuga.
[...] e ela queria dizer alguma coisa, e eu pensei a
me tem alguma coisa pra dizer que vou talvez
escutar, alguma coisa pra dizer que deve quem sabe
ser guardada com cuidado, mas tudo que eu pude
ouvir, sem que ela dissesse nada, foram as trincas na
loua antiga do seu ventre, ouvi dos seus olhos um
dilacerado grito de me no parto, senti seu fruto
secando com meu hlito quente, mas eu no podia
fazer nada [...]. (Ibidem: p.57)
As palavras maternas, portanto, no so relevantes, so
expresses que o narrador talvez escute, mas no considere. A
relativa fora do discurso materno est no corpo e na dor que este
revela. Ainda assim, os apelos da me no so suficientes para
persuadir Andr a desistir de seu desejo de fuga.
Como leitor desejante, Andr adota uma posio que revela as
possveis armadilhas de uma leitura que, incapaz de sair da carne
dos sentimentos de quem l, torna-se redutora e unilateral. Se o
discurso paterno peca pela generalizao e homogeneizao,
ignorando a individualidade dos membros do cl, tal negao
tambm feita por Andr, cuja busca identitria leva-o a ignorar a
multiplicidade possvel daqueles que o cercam, em especial, das
mulheres da famlia, que so lidas, sobretudo, pelos seus corpos.
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
319
Em se tratando de Ana, a leitura realizada no s essencializa-a ao
corpo (abordagem tpica figura que objeto do desejo), como
tambm reduz a personagem mera projeo de Andr. sobre o
silncio de Ana - ou sobre a imposio deste - que me deterei a
seguir.
2. O silncio revelador
O universo de Lavoura arcaica , sem dvida, um universo
patriarcal e Andr, o narrador-protagonista-convulsivo desta
parbola avessa, apesar de voltar-se contra esse sistema totalizante,
que nega ao sujeito a expresso de sua individualidade, no rompe,
com a lgica androcntrica na qual se insere. Uma das marcas que
evidenciam a adoo de uma postura patriarcal por parte do
personagem est nas pginas finais do romance, quando o
protagonista dedica um discurso em memria ao pai, fato que
sugere a tomada do lugar deste.
(Em memria do pai, transcrevo suas palavras: e,
circunstancialmente, entre posturas mais urgentes,
cada um deve sentar-se num banco, plantar bem um
dos ps no cho, curvar a espinha, fincar o cotovelo
do brao no joelho, [...] e com os mesmos olhos
amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e
dos ventos, e com os mesmos olhos amenos assistir
manipulao misteriosa de outras ferramentas que o
tempo habilmente emprega em suas transformaes,
no questionando jamais sobre os seus desgnios
insondveis, [...] que o gado sempre vai ao poo.)
(Ibidem: pp.172-3)
Passagem que sugere a resignao diante dos desgnios do
destino, na mesma no encontramos o mpeto iconoclasta,
reivindicador da vontade individual que caracterizava a fala do
protagonista. Ao tratar da passagem, R. Teixeira, questiona se a
mesma representaria uma rendio lgica paterna, embora a
autora destaque que esta rendio possvel no fez de Andr um
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
320
reprodutor inconteste desse discurso (2002: p.105). Independente
do fato de a aceitao do discurso patriarcal ser relativa ou
absoluta, a questo que, mesmo durante o processo de
questionamento, mesmo a tentativa de ruptura com a lgica
paterna em prol da individualidade, o discurso de Andr reveste-se
da mesma lgica que pretendeu contestar, o que fica evidente a
partir da essencializao das personagens femininas ao corpo,
abordagem que se intensifica ao voltar-se a Ana, personagem cuja
corporalidade seria uma extenso da carne e dos anseios do
narrador/protagonista. Percebe-se, ento, que mesmo a
reivindicao do individualismo pode ser perversa, na medida em
que silencia ou ignora os anseios individuais alheios. A leitura
de Andr relativa irm, bem como sexualidade desta, portanto,
repete a percepo do sistema patriarcal sobre as mulheres.
Segundo Teresa de Lauretis:
[...] na conceitualizao patriarcal ou androcntrica
a forma feminina seja uma projeo da masculina,
seu oposto complementar, sua extrapolao assim
como a costela de Ado. De modo que mesmo
quando localizada no corpo da mulher (vista, como
escreveu Foucault,como que completamento
saturada de sexualidade) a sexualidade percebida
como um atributo ou uma propriedade do masculino.
(LAURETIS, In HOLLANDA1994: p.222)
Apesar da falta de palavras, no romance, Ana portadora de
um discurso, ainda que intermediado pela leitura redutora de
Andr. esse discurso indireto que pretendo ler, movida pela
paixo que o texto e as suas construes (e Ana uma delas!) me
despertam. O interesse pelo silncio da personagem parte do
pressuposto de G. Bataille que revela que o ato de calar-se consiste
no momento supremo no qual a conscincia furta-se. Silenciar
talvez seja o mais revelador dos atos, uma vez que a verdade pode
estar exatamente no no-dito. Tal possibilidade faz de Ana a figura
mais autntica do romance e talvez a principal antagonista do
sistema patriarcal. O sacrifcio desta, portanto, inevitvel em um
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
321
romance no qual mudam os patriarcas, mas as mulheres
permanecem sombra do corpo. Se ao silenciar a irm, Andr
ignora a individualidade desta, que estaria sujeita sua prpria, tal
postura tambm produz um efeito dinamizador. De acordo com
Bataille, a impotncia est exatamente naquilo que falamos (1988:
p.243). Se personagem negado o direito da fala, esta falta no
uma impotncia: Ana corpo e ao. Exatamente por isso, ela
no se rende ao patriarcalismo, assumindo a verdade terrvel do
seu desejo ao vestir os acessrios mundanos trazidos por Andr na
execuo de sua sensual e fatal coreografia.
[...] Ana (que todos julgavam na capela) surgiu
impaciente numa s lufada, os cabelos soltos
espalhando lavas, ligeiramente apanhados num dos
lados por um coalho de sangue (que assimetria
provocadora!), toda ela ostentando um deboche
exuberante, uma borra gordurosa no lugar da boca,
uma pinta de carvo acima do queixo [...] foi assim
que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas
da minha caixa, tomou de assalto a minha festa,
varando com a peste no corpo o crculo que danava,
introduzindo com segurana, ali no centro, sua
petulante decadncia, [...], mas dominando a todos
com seu violento mpeto de vida, [...] ela sabia fazer
as coisas, essa minha irm, [...] (NASSAR, 1988:
p.167)
Ana, antes perversamente silenciada pelo narrador e
certamente silenciada pelo pai, j no precisa mais das palavras,
pois seus atos no precisam de uma fala (que como vimos, uma
impotncia). Ao ignorar a fala em um mundo familiar patriarcal e
regido pelas palavras pela adoo da linguagem do corpo, Ana
caminha para o prprio sacrifcio, mas no como uma mera vtima
deste. Sua dana sacrlega constitui o breve momento de expresso
de sua prpria individualidade, representando a reivindicao de
uma existncia particular. Talvez por isso, ao fim do romance,
Andr no lamente a morte da irm que, no momento anterior ao
Caderno Seminal Digital, Ano 12, N 5, V 5 (Jan/Jun 2006) ISSN 1806-9142
322
sacrifcio, expressa-se como um agente de sua prpria paixo e no
como um simples reflexo do protagonista. Como indivduo, Ana
no tem espao na famlia sob as ordens do pai, assim como no o
teria sob as ordens de Andr. A morte, portanto, pode ser vista
como o gesto que assinala a insubmisso da personagem. Ana a
personagem que macula com o prprio sangue a lgica patriarcal e
a cegueira de uma leitura individualista e androcntrica, realizada
por um narrador cuja parcialidade no menos tirnica que a do
patriarca deposto.
A leitura apaixonada tem seus encantos. E suas armadilhas.
Referncias Bibliogrficas
BARTHES, Roland. O rumor da lngua. So Paulo: Brasiliense,
1988
BATAILLE, Georges. O erotismo. Lisboa: Antgona, 1988
DELEUZE, Gilles. GATTARI, Flix. Mil plats: capitalismo e
esquizofrenia (vol.1). Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gnero. In HOLLANDA,
Helosa Buarque de. Tendncias e impasses: o feminismo
como vitria da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira: 1982
PERRONE-MOISS, Leyla. Da clera ao silncio. In Cadernos de
Literatura Brasileira: Raduan Nassar. So Paulo: Instituto
Moreira Salles, 1996.
TEIXEIRA, Renata Pimentel. Uma lavoura de insuspeitos frutos.
So Paulo: Annablume, 2002
ro: Antares, 1980.
Вам также может понравиться
- Letramentos Multiplos - ROJOДокумент11 страницLetramentos Multiplos - ROJOVitor Abdullah75% (4)
- Enfim, Alfabetizadora! E Agora? Uma Releitura da Formação e da PráticaОт EverandEnfim, Alfabetizadora! E Agora? Uma Releitura da Formação e da PráticaОценок пока нет
- Múltiplas Linguagens para o Ensino MédioДокумент18 страницMúltiplas Linguagens para o Ensino MédioOdiléa Corrêa50% (2)
- Propostas didático-pedagógicas de língua portuguesa e literatura: Múltiplos olharesОт EverandPropostas didático-pedagógicas de língua portuguesa e literatura: Múltiplos olharesОценок пока нет
- Recursos Didáticos PNAIC UFRGS e BookДокумент96 страницRecursos Didáticos PNAIC UFRGS e BookvanessaОценок пока нет
- PRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoДокумент252 страницыPRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoIvonete NinkОценок пока нет
- Mas o Que e Mesmo Gramatica 1Документ30 страницMas o Que e Mesmo Gramatica 1Marco Aurélio100% (1)
- Língua Portuguesa: Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Formação DocenteДокумент390 страницLíngua Portuguesa: Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Formação DocenteViviane Godoi100% (1)
- Análise Linguística No Contexto Escolar em Diferentes PerspectivasДокумент249 страницAnálise Linguística No Contexto Escolar em Diferentes PerspectivasAlex Meneghete VazОценок пока нет
- Linguística Aplicada e Ensino de Línguas Estrangeiras - Reflexões, Experiências e DesafiosДокумент322 страницыLinguística Aplicada e Ensino de Línguas Estrangeiras - Reflexões, Experiências e DesafiosJeimesОценок пока нет
- Metodologia para o Ensino da Língua PortuguesaДокумент90 страницMetodologia para o Ensino da Língua PortuguesaLeandro Machado100% (1)
- João Maria Funzi ChimpoloДокумент54 страницыJoão Maria Funzi ChimpolodjoemarlanОценок пока нет
- LIVRO BAGNO e BRITTO Práticas de Ensino Leitura Escrita e DiscursoДокумент13 страницLIVRO BAGNO e BRITTO Práticas de Ensino Leitura Escrita e DiscursoLis Barbosa100% (2)
- Problemas Com Equações Do 1º GrauДокумент11 страницProblemas Com Equações Do 1º GrauRubens Siqueira100% (1)
- Reflexões Sobre A Concepção de Escrita Dos Documentos Curriculares de Ensino de Português em Portugal 2014-2018Документ308 страницReflexões Sobre A Concepção de Escrita Dos Documentos Curriculares de Ensino de Português em Portugal 2014-2018Rosângela PimentaОценок пока нет
- Educação Das Pessoas Surdas - SchreibenДокумент196 страницEducação Das Pessoas Surdas - SchreibenKarine AlbuquerqueОценок пока нет
- Leitura Crítica: Origens e Sugestões de Atividades DidáticasОт EverandLeitura Crítica: Origens e Sugestões de Atividades DidáticasОценок пока нет
- Praticas-De-Letramento-No-Ensino-Leitura-Escrita-E-Discurso INSTITUIÇÃO ESCOLAR, MÉTODO E ENSINO PDFДокумент13 страницPraticas-De-Letramento-No-Ensino-Leitura-Escrita-E-Discurso INSTITUIÇÃO ESCOLAR, MÉTODO E ENSINO PDFCíntia Martins50% (2)
- Porque A Escola Nao Ensina Gramatica AssimДокумент14 страницPorque A Escola Nao Ensina Gramatica AssimKé50% (2)
- Tecendo Conexões EntreДокумент495 страницTecendo Conexões Entreaercio_manuel100% (1)
- Estudos Surdos-LIVRO IIIДокумент299 страницEstudos Surdos-LIVRO IIIAdriano Pontes100% (1)
- Aprendizagem Supermercados MPNДокумент38 страницAprendizagem Supermercados MPNJosé IvoОценок пока нет
- LIVROДокумент11 страницLIVROFernanda Sevarolli100% (1)
- Livro Texto Norma Linguistica - UFSCДокумент152 страницыLivro Texto Norma Linguistica - UFSCcristine20100% (2)
- Aula 01 - Administraçao de MateriaisДокумент43 страницыAula 01 - Administraçao de MateriaisHumbertoPratica100% (1)
- Semana Letras 2016Документ844 страницыSemana Letras 2016Aline Paiva PiresОценок пока нет
- livroДокумент168 страницlivroJrabeloОценок пока нет
- Caderno de Resumos e ProgramaçãoДокумент62 страницыCaderno de Resumos e ProgramaçãoRosivaldo GomesОценок пока нет
- Itinerarios Formativos No Profletras Circularidade de VozesДокумент175 страницItinerarios Formativos No Profletras Circularidade de VozesLuana FrancisleydeОценок пока нет
- Revista-Linguagem em Foco 2011Документ186 страницRevista-Linguagem em Foco 2011Víctor Quezada100% (1)
- Livro_O Ensino de LínguasДокумент310 страницLivro_O Ensino de LínguasJrabeloОценок пока нет
- Revista da FACED aborda histórias infantis e linguagemДокумент13 страницRevista da FACED aborda histórias infantis e linguagemProf. Mariano Da Rosa (Luiz Carlos)Оценок пока нет
- E-Book Dos Planos de Aula (Sociolinguística UVA 2020.1)Документ269 страницE-Book Dos Planos de Aula (Sociolinguística UVA 2020.1)Thiago CostaОценок пока нет
- Ensino de Lingua Portuguesa para A ConteДокумент334 страницыEnsino de Lingua Portuguesa para A ConteMarinaldo SilvaОценок пока нет
- eBook Dialogos Sobre Ensino e Aprendizagem de Linguas Em Tempos Pos PandemicosДокумент359 страницeBook Dialogos Sobre Ensino e Aprendizagem de Linguas Em Tempos Pos PandemicosIzadora Amador DamacenoОценок пока нет
- Ebook Dialogos Sobre Ensino e Aprendizagem de Linguas em Tempos Pos PandemicosДокумент359 страницEbook Dialogos Sobre Ensino e Aprendizagem de Linguas em Tempos Pos PandemicosleodiasrОценок пока нет
- Revista de estudos linguísticos e semióticosДокумент228 страницRevista de estudos linguísticos e semióticosNaiara BispoОценок пока нет
- Inferencias Textuais Como Estrategias MeДокумент291 страницаInferencias Textuais Como Estrategias MeFernanda Lemos de LimaОценок пока нет
- 2012 - Aspectos Preliminares Da Variação Das Médias Pretônicas No Falar de Aurora - Anais Cids 2012Документ201 страница2012 - Aspectos Preliminares Da Variação Das Médias Pretônicas No Falar de Aurora - Anais Cids 2012Jany Eric Queiros FerreiraОценок пока нет
- 6 e 7. V SELLITCON, UENP, 2021Документ63 страницы6 e 7. V SELLITCON, UENP, 2021Isabelle Maria SoaresОценок пока нет
- Rascunhos PDFДокумент29 страницRascunhos PDFBruno Silva NascimentoОценок пока нет
- 2023 - Recursos Didáticos para o Ensino de LínguasДокумент141 страница2023 - Recursos Didáticos para o Ensino de LínguasletrassolidariasОценок пока нет
- A Escolarização Da Literatura Ferramenta para AДокумент129 страницA Escolarização Da Literatura Ferramenta para AAndreia_pbОценок пока нет
- Analise Do DiscursoДокумент14 страницAnalise Do DiscursoaldivamfsilvaОценок пока нет
- Maria Carlota Rosa, Viagem Com A LinguísticaДокумент233 страницыMaria Carlota Rosa, Viagem Com A Linguísticamarcos paulo ventura da silva limaОценок пока нет
- Revista de Ciências da Educação UNISALДокумент544 страницыRevista de Ciências da Educação UNISALJorge Monteiro JúniorОценок пока нет
- RessignificacoesДокумент200 страницRessignificacoesEdson SilvaОценок пока нет
- Ra PoesiaДокумент85 страницRa PoesiaLaricssiaОценок пока нет
- 029 Prpgi ReitДокумент478 страниц029 Prpgi ReitMatemaTicaОценок пока нет
- Na Terceira Margem - 10 de AgostoДокумент277 страницNa Terceira Margem - 10 de AgostoHelena AraújoОценок пока нет
- Emergencias ContemporaneasДокумент245 страницEmergencias ContemporaneasMARINALDOОценок пока нет
- Leiaumtrecho LinguisticaaplicadaensinodeportuguesДокумент7 страницLeiaumtrecho LinguisticaaplicadaensinodeportuguesAdriano de SouzaОценок пока нет
- TCC Rodrigo Klassen FerreiraДокумент120 страницTCC Rodrigo Klassen FerreiraRodrigo Klassen FerreiraОценок пока нет
- A argumentação em propostas didáticas de Língua PortuguesaДокумент579 страницA argumentação em propostas didáticas de Língua PortuguesaVanessa FariaОценок пока нет
- Anais Do IV Salic II Colic-1Документ163 страницыAnais Do IV Salic II Colic-1Hakuna BatataОценок пока нет
- Análise de Atividades de Compreensão Oral em FLE - Do Livro Didático Ao Ambiente VirtualДокумент263 страницыAnálise de Atividades de Compreensão Oral em FLE - Do Livro Didático Ao Ambiente VirtualLeonardo SouzaОценок пока нет
- Práticas de Textualização em 1 S Séries - Escrever - para QuêДокумент103 страницыPráticas de Textualização em 1 S Séries - Escrever - para QuêMariana SantiagoОценок пока нет
- D9a12-Mediaes Formativas para o Ensino de Lngua Portuguesa1Документ380 страницD9a12-Mediaes Formativas para o Ensino de Lngua Portuguesa1εïз Priscila R. Mendes εïзОценок пока нет
- PDF 17 09 15 21 21 14Документ22 страницыPDF 17 09 15 21 21 14Luzinete PaulaОценок пока нет
- 2011 Literatura Infantil CapaДокумент204 страницы2011 Literatura Infantil CapaAna Paula SuchОценок пока нет
- Educação e Linguagem: Culturas Plurais, Leituras e Tecnologias na Construção dos SaberesОт EverandEducação e Linguagem: Culturas Plurais, Leituras e Tecnologias na Construção dos SaberesОценок пока нет
- Inteligência Artificial, Medicina e Médicos - 31 - 01 - 2020 - Opinião - FolhaДокумент4 страницыInteligência Artificial, Medicina e Médicos - 31 - 01 - 2020 - Opinião - FolhaAna Laura NakazoniОценок пока нет
- Interpretação Pedagógica Da Escala de Leitura Da ANA em 2013Документ1 страницаInterpretação Pedagógica Da Escala de Leitura Da ANA em 2013Ana Laura NakazoniОценок пока нет
- BNCC Na Prática - Nova Escola - 2018Документ66 страницBNCC Na Prática - Nova Escola - 2018Daniel IgarashiОценок пока нет
- 1981 Flutuacao de Criterios Na Avaliacao de RedacoesДокумент16 страниц1981 Flutuacao de Criterios Na Avaliacao de RedacoesAna Laura NakazoniОценок пока нет
- Do Tipo Textual Ao Gênero de Texto. A Redação No VestibularДокумент19 страницDo Tipo Textual Ao Gênero de Texto. A Redação No VestibularAna Laura NakazoniОценок пока нет
- 16 - Anos Vestibular Unicamp-AbaurreДокумент84 страницы16 - Anos Vestibular Unicamp-AbaurreAna Laura NakazoniОценок пока нет
- 346Документ11 страниц346Luis CarlosОценок пока нет
- Emoções e vivências em VigotskiДокумент348 страницEmoções e vivências em VigotskiAna Laura NakazoniОценок пока нет
- Esporte - Bandeirinha Que Anulou Gol Do Santos É Suspenso Do Paulista - 10 - 04 - 2012Документ2 страницыEsporte - Bandeirinha Que Anulou Gol Do Santos É Suspenso Do Paulista - 10 - 04 - 2012Ana Laura NakazoniОценок пока нет
- Teoria Vygotskyana Aplicada Ao Ensino Médio para EnsinarДокумент3 страницыTeoria Vygotskyana Aplicada Ao Ensino Médio para EnsinarAna Laura NakazoniОценок пока нет
- Aula 05 - Porque Plantar Novas IgrejasДокумент15 страницAula 05 - Porque Plantar Novas IgrejasMarcony JahelОценок пока нет
- Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim SerraДокумент24 страницыAgrupamento de Escolas Poeta Joaquim SerraesaapoioОценок пока нет
- Estratégias de leitura de alunosДокумент7 страницEstratégias de leitura de alunosSilvano GrossОценок пока нет
- Guia rápido para resenhas acadêmicasДокумент12 страницGuia rápido para resenhas acadêmicasJuliana AlmeidaОценок пока нет
- Um Olhar para As Altas Habilidades - Construindo Caminhos SublinhadoДокумент13 страницUm Olhar para As Altas Habilidades - Construindo Caminhos SublinhadoGabriela Duarte100% (1)
- Cláudio Félix TrindadeДокумент6 страницCláudio Félix TrindadeValter RibeiroОценок пока нет
- Endomarketing Como Ferramenta para Melhoria Do Clima OrganizacionalДокумент18 страницEndomarketing Como Ferramenta para Melhoria Do Clima OrganizacionalGerd BarretoОценок пока нет
- Boletim 5Документ56 страницBoletim 5Ana JordãoОценок пока нет
- Terapia da palavraДокумент5 страницTerapia da palavraMayqueSouzaОценок пока нет
- Guião Da Reforma de EstadoДокумент112 страницGuião Da Reforma de EstadoFilipe Caetano0% (1)
- Manual de Capacitacao em Direitos Humanos Das Mulheres Jovens e A Aplicacao Da CEDAWДокумент380 страницManual de Capacitacao em Direitos Humanos Das Mulheres Jovens e A Aplicacao Da CEDAWJorge MateusОценок пока нет
- Organização de Eventos e FeirasДокумент76 страницOrganização de Eventos e FeirasMika Sant'ana100% (1)
- Planejamento e desigualdades em SCДокумент18 страницPlanejamento e desigualdades em SCGabriela BragaОценок пока нет
- Planeamento e Gestão Do DesportoДокумент16 страницPlaneamento e Gestão Do Desportolmczmm100% (1)
- Modelos evolução gestão pessoasДокумент10 страницModelos evolução gestão pessoasAline SantosОценок пока нет
- O Papel Da Tutoria No Desenvolvimento CurricularДокумент17 страницO Papel Da Tutoria No Desenvolvimento CurricularMaria CasanovaОценок пока нет
- Relatorio DIEESE - Terceirização e Seus Efeitos Sobre Os Trabalhadores No BRДокумент104 страницыRelatorio DIEESE - Terceirização e Seus Efeitos Sobre Os Trabalhadores No BRantoniocso73Оценок пока нет
- O Padrão de 8 PassosДокумент22 страницыO Padrão de 8 PassosloisoalОценок пока нет
- Processo de Tomada de Decisao PDFДокумент12 страницProcesso de Tomada de Decisao PDFatauffo100% (2)
- Plano de Continuidade de Negócios para EFPCДокумент21 страницаPlano de Continuidade de Negócios para EFPCLex MachinaОценок пока нет
- Apresentação e Discussão Do Estudo de CasoДокумент3 страницыApresentação e Discussão Do Estudo de CasoKiko BragaОценок пока нет
- Fundamentos e práticas para o ensino e treino do futebolДокумент50 страницFundamentos e práticas para o ensino e treino do futebolPaulinho OliveiraОценок пока нет
- Manual de Normas Sonae SierraДокумент27 страницManual de Normas Sonae SierraAna JesusОценок пока нет
- A Origem Da Estratégia - Rev - 1 PDFДокумент3 страницыA Origem Da Estratégia - Rev - 1 PDFMelissa AlmeidaОценок пока нет
- O Modelo Integrativo de Tratamento em TCC para A Psicose Wright Et Al 2014 PDFДокумент16 страницO Modelo Integrativo de Tratamento em TCC para A Psicose Wright Et Al 2014 PDFdouglasОценок пока нет