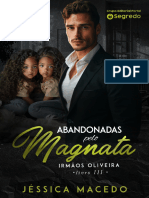Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Vasconcelos, José Iran. O Suporte Fático Da Vontade Jurídica.
Загружено:
José Vasconcelos0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
43 просмотров199 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
43 просмотров199 страницVasconcelos, José Iran. O Suporte Fático Da Vontade Jurídica.
Загружено:
José VasconcelosАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 199
1
Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Cincias Jurdicas
Faculdade de Direito do Recife
O suporte ftico da vontade jurdica:
A vontade como fato de atuao despersonalizado
Jos Iran Bezerra de Lira Vasconcelos
Recife
2008
2
Jos Iran Bezerra de Lira Vasconcelos
O suporte ftico da vontade jurdica:
A vontade como fato de atuao despersonalizado
Monografia apresentada ao Curso de
Graduao em Direito da Universidade
Federal de Pernambuco, como requisito
parcial para obteno do ttulo de
Bacharel em Direito.
Orientador: Flvio Lima
Recife
2008
3
Jos Iran Bezerra de Lira Vasconcelos
O suporte ftico da vontade jurdica:
A vontade como fato de atuao despersonalizado
Monografia apresentada ao Curso de
Graduao em Direito da Universidade Federal
de Pernambuco, como requisito parcial para
obteno do ttulo de Bacharel em Direito.
__________________________________________________
Flvio Lima (Orientador) UFPE
__________________________________________________
Marlene Ramos UFPE
__________________________________________________
Lenio Alves UFPE
Recife, 18 de novembro de 2008.
4
RESUMO
Esta monografia realizou um estudo sobre o suporte ftico da vontade jurdica. Seu
objetivo foi encontrar as origens do conceito de vontade e demonstrar que os aspectos
racionalistas que predominam na sua caracterizao no correspondem ao processo
volitivo tal como descrito pelas teorias psicolgicas. A pesquisa histrica mostrou que
a vontade uma construo social e no um dado. Mostrou tambm a possibilidade de
construo de um novo conceito de vontade baseado nas descobertas da Psicanlise, da
Psicologia Social e da Psicologia Evolucionria.
Palavras-chave: Direito privado. Teorias jurdicas da vontade. Teorias psicolgicas do
comportamento. Evoluo histrica da vontade.
5
Introduo
Parte I Apresentao do problema 1
Parte II Apresentao do marco terico 5
Parte III Apresentao da hiptese 8
Parte IV Apresentao do mtodo 8
O que a Vontade?
Parte I - A descoberta da Substncia
1. Phsis e Lgos 12
1.1. A descoberta da Phsis 12
1.2. A descoberta do Lgos 17
2. O monismo eleata e os paradoxos do movimento 21
2.1. Xenfanes e o monismo teolgico 21
2.2. Parmnides e o monismo ontolgico 21
2.3. Zeno e os paradoxos do movimento 25
3. A resposta pluralista 26
3.1. As quatro razes de Empdocles 26
3.2. As sementes de Anaxgoras 30
4. A rplica eleata 34
5. O atomismo 37
Parte II - A descoberta do Eu
1. O Eu a partir da Substncia 40
1.1. Racionalismo 40
1.1.1. Plato e a imaterialidade da alma 40
1.1.2. Aristteles e o racionalismo da vontade 42
1.1.3. O impulso estico 44
1.2. Livre arbtrio 48
1.2.1. Na Patrstica 49
1.2.2. Na Escolstica 53
1.2.3. No tomismo contemporneo 64
1.3. Mecanicismo 66
1.3.1. O compatibilismo de Epicuro 66
1.3.2. O materialismo de Hobbes 68
1.3.3. O determinismo do sculo XIX 70
1.3.3.1. O darwinismo 70
1.3.3.2. O novo hedonismo de Spencer 72
1.3.3.3. O fisiologismo de Ribot 73
2. A Substncia a partir do Eu 77
2.1. O princpio imanentista 77
2.2. O compatibilismo de Descartes 82
2.3. Associacionismo 86
2.3.1. O empirismo de Locke 87
2.3.2. O imaterialismo de Berkeley 89
2.3.3. Hume e a nova cincia da moral 91
2.3.4. O associacionismo do sculo XIX 95
2.4. O novo racionalismo 96
2.4.1. Thomas Reid e o senso comum 96
2.4.2. A filosofia transcendental de Kant 99
2.5. Sentimentalismo 102
6
2.5.1. A esttua de Condillac 102
2.5.2. Hutcheson e o sentido moral 103
2.5.3. O sentimentalismo de Franz Brentano 105
2.6. Voluntarismo 107
2.6.1. Ockham e a liberdade de indiferena 107
2.6.2. O pragmatismo de William James 109
Parte III - A Unidade do Eu e a da Substncia
1. A Unidade do Humano e do Divino 112
1.1. O pantesmo na filosofia antiga 112
1.1.1. Digenes de Apolnia 112
1.1.2. O platonismo 114
1.2. A influncia do platonismo na filosofia medieval 119
1.2.1. No cristianismo 119
1.2.2. No islamismo 124
1.2.3. No judasmo 126
1.3. O pantesmo na filosofia moderna 127
1.3.1. A Substncia de Spinoza 128
1.3.2. A resposta a Spinoza 130
1.3.2. Schelling e a essncia da liberdade 135
2. A Unidade da Mente e do Corpo 138
2.1. Psicanlise 139
2.1.1. A teoria do impulso 141
2.1.2. O Inconsciente e a represso 144
2.1.3. A estrutura da Mente 149
2.2. Psicologia experimental 150
2.2.1. O estruturalismo e a Escola de Wrzburg 150
2.2.2. Kurt Lewin e a Gestalt 151
2.2.3. A teoria behaviorista do impulso 153
2.3. O existencialismo na Psicologia 155
2.3.1. Psicologia Humanista 156
2.3.2. A ordem das necessidades segundo Maslow 163
3. A unidade do Indivduo e do Grupo 166
3.1. Unidade sincrnica 166
3.1.1. O comportamento em grupo 166
3.2. Unidade diacrnica 168
3.2.1. Chardin e o lugar do homem na Natureza 168
3.2.2. O Inconsciente Coletivo 172
3.2.3. Psicologia Evolucionria 173
Concluso: O que a Vontade Jurdica?
Parte nica - O suporte ftico da Vontade Jurdica
1. O contedo da Vontade Jurdica 178
1.1. A ascenso do racionalismo 178
1.1.1. A entrada da vontade no mundo do direito 179
1.1.2. A racionalizao da vontade jurdica 181
1.2. A quebra do racionalismo 182
1.2.1. Socializao e coletivizao da vontade jurdica 182
1.2.1. Evolucionismo na vontade jurdica? 183
2. A forma da Vontade Jurdica 185
7
Introduo
Parte I Apresentao do problema:
Insuficincia das teorias jurdicas da vontade
A vontade um dos conceitos basilares de todo o sistema jurdico mas no
obstante a sua importncia tambm um dos conceitos acerca do qual menos se
dispensou ateno. As discusses a seu respeito j partem do pressuposto de que
coincidncia de nomes corresponde uma coincidncia de objetos e que a vontade
jurdica pode ser compreendida como vontade real. No surpreende, portanto, que
pululem pelos livros inmeras teorias jurdicas da vontade, sem que ainda hoje
tenhamos, porm, uma teoria da vontade jurdica.
Os estudos sobre a vontade no direito podem ser classificados em duas
tendncias: uma que, partindo dos fatos, pretende neles encontrar a vontade real a
que, no mundo do direito, corresponderia a vontade jurdica; e outra que, partindo das
regras, nega que a vontade jurdica possa derivar de (ou corresponder a) algum fato,
pois a vontade jurdica seria conceito normativo atribuvel a pessoas (e no a seres
humanos). Chamemos a primeira de realismo e a definamos como aquela tendncia que
busca nos fatos (ou seja, fora do direito) o fundamento da vontade jurdica; e a segunda
chamemos de nominalismo e a definamos como aquela tendncia que busca nas regras
(ou seja, fora fora mesmo do direito) o fundamento da vontade jurdica.
O realismo fornece a resposta mais bvia questo sobre a natureza da vontade
jurdica, identificando-a com a vontade real a vontade psicolgica
1
. Esta vontade real,
explica Jolivet, seria a sntese de todos os estados, imagens e idias, tendncias e
apetites, conscientes e subconscientes, que constituem o eu num momento dado. Seria a
expresso da unidade pessoal, da personalidade (JOLIVET, 1947, p. 577 ss.). O ato
volitivo se caracterizaria por ser uma atividade interior, prpria do eu (GEMELLI;
ZUNINI, 1953, p. 330 ss.), a atualizao do si-mesmo consciente de si, que torna a ser o
que deve ser segundo a sua essncia (STRENGER, 2000, p. 46 ss.).
Ora, da anlise do movimento voluntrio, descobre-se que a vontade: 1) tem por
ponto de partida uma representao (percepo, imagem ou idia), que tem por efeito
apresentar ao apetite sensvel ou intelectual um objeto a desejar ou a evitar; 2)
1
No por acaso vrios juristas a adotam (MAZEAUD, 1978, p. 374), (MESSINEO, 1948, p. 341), (RIBAS,
2003, p. 421), (FREITAS, 1983, p. 150), (STRENGER, 2000, p. 62).
8
representao esta na qual se apresenta certo tnus afetivo, que desperta um desejo ou
uma tendncia; 3) a que a vontade se inclina ou da qual se afasta somente em razo de
um juzo prtico (JOLIVET, 1947, 555 ss.). No fenmeno volitivo, encontramos todas as
faculdades psquicas a sensao, trazendo objetos sobre os quais ela desperta desejos;
e a inteligncia, pesando as razes para estimul-los ou inibi-los. A vontade real est,
necessariamente, ligada a um indivduo e sua personalidade (PAULHAN, 1903, p. 47).
Impossvel, portanto, pensar na existncia de vontade sem, concomitantemente, pensar
na existncia de um plo emissor desta vontade e, mais ainda, de um plo consciente
de si e de sua vontade (ou seja, um ser humano).
Se o realismo correto, ento a vontade real deve ser o fundamento da vontade
jurdica mais que isso, sendo correto, no se poderiam encontrar no sistema jurdico
disposies que o contradissessem ou que no relevassem da vontade real. Analisemos o
nosso Cdigo Civil:
O seu art. 1 tautolgico exprime conceito do sistema lgico que informa o
sistema jurdico. Segundo ele: Toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem
civil, ou seja, pessoa, de acordo com o sistema lgico, todo ente capaz de se apresentar
como plo ativo ou passivo de uma relao jurdica (= pessoa a possibilidade de ser
sujeito de direito). Devemos persistir nestas consideraes.
Pessoa no Ser Humano - fato jurdico em cujo suporte ftico pode ou no
estar Ser Humano ( o que se conclui da leitura dos arts. 40 ss. do Cdigo Civil). Da que
no somente o Ser Humano pode figurar em um dos plos de uma relao jurdica. As
Pessoas podem ser: (a) humanas (se tm suporte ftico humano), (b) sociais (se tm por
suporte ftico sociedade, associao, organizao religiosa ou partido poltico), (c)
fundacionais (se tm por suporte ftico fundao) e (d) estatais (se tm por suporte
ftico a Unio, Estado, Distrito Federal, Territrio, Municpio ou autarquia).
(1 Dificuldade)
No direito, a manifestao de vontade ato exclusivo das Pessoas e o Cdigo Civil
parece supor, na manifestao de vontade, a existncia de uma vontade real subjacente,
identificada sob o nome de inteno. (Art. 112 do Cdigo Civil: nas declaraes de
vontade se atender mais inteno nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem). Estranha suposio, pois no h no sistema jurdico qualquer limitao
capacidade volitiva o direito no discrimina quais pessoas so capazes de vontade. Ora,
mas sabemos que as sociedades, associaes, fundaes, o prprio Estado no
9
apresentam qualquer atividade psquica e que, portanto, so incapazes de vontade real
a que vontade subjacente, pois, a que inteno poderiam corresponder as suas
declaraes de vontade? Seria lcito concluir que, para o direito, toda Pessoa capaz de
exprimir vontade ainda que seja incapaz de atos psquicos? Estranha concluso e
folheando o Cdigo Civil encontraremos muitas outras estranhezas.
(2 Dificuldade)
No art. 111: O silncio importa anuncia, quando as circunstncias ou os usos o
autorizarem, e no for necessria a declarao da vontade expressa. Em outras
palavras, dizer: H manifestao de vontade ainda que no haja manifestao de
vontade ou mais ainda: H manifestao de vontade ainda que no haja vontade! Sim,
pois o silncio (e por silncio entendamos no apenas a mudez, mas tambm a
inexistncia de atos que possam fazer presumir a existncia de vontade manifestao
tcita) o silncio no nos permite qualquer concluso a respeito do estado psquico de
uma Pessoa.
(3 Dificuldade)
Reza o art. 433: Considera-se inexistente a aceitao, se antes dela ou com ela
chegar ao proponente a retratao do aceitante. A hiptese aqui inversa: No h
manifestao de vontade ainda que haja manifestao de vontade! Ou seja, ainda que
exista uma vontade real e que ela tenha sido manifestada, esta manifestao e a
prpria vontade inexistem.
Esta anlise, embora breve, mostra a insuficincia do realismo para explicar a
vontade jurdica e permite concluir que aquilo a que o direito d entrada no mundo
jurdico sob o nome de vontade no se confunde com a vontade real psquica. A
conseqncia aparentemente necessria desta concluso seria a de que a vontade
jurdica se reduziria vontade atribuda pelas regras (o nominalismo).
Entre a vontade real e a sua declarao por qualquer modo exteriorizada pode
existir uma discrepncia, na medida em que a esta declarao atribudo um sentido
diferente daquele que se quis exprimir (KELSEN, 2006: 286). No campo do direito, a
vontade no passaria, ento, de simples metfora, visto que no plano das normas no
haveria nada que se assemelhasse vontade, porquanto somente haveria imputao,
isto , uma estrutura lgica, que seria o modo de enlace caracterstico de dois fatos numa
norma, ou de um fato a uma pessoa. Nesse caso, ocorreria que, na vida jurdica, muitas
vezes um fato imputado a um sujeito que efetivamente o tenha querido e o realiza,
10
mas, em outros, pode ocorrer que um comportamento realmente o efeito voluntrio do
sujeito sem que lhe seja imputado (e.g.: art. 443 do Cdigo Civil). Apesar de ser um efeito
real do comportamento de algum, juridicamente no lhe seria imputado, no
produziria conseqncias. A imputao jurdica, a partir de um ponto de vista
normativo, no se basearia na srie causal, voluntria ou involuntria, nem estaria
necessariamente ligada s suas conseqncias, pois a teoria da vontade, ao suplantar a
vontade real psicolgica individual pela vontade da ordem jurdica, derivaria
insensivelmente para uma posio normativista (STRENGER, 2000, pp. 63-64).
Identificada a vontade jurdica com a vontade atribuda, parecem resolvidos
alguns problemas que o realismo no pde enfrentar; em especial aqueles atinentes
contradio entre a vontade real e a vontade jurdica (arts. 111 e 433, e.g.). No caso do
art. 111, a contradio afastada na medida em que irrelevante para o direito a
existncia de um ato volitivo real. E no caso do art. 433, a contradio desaparece
porque nem toda vontade real manifestada necessariamente vontade jurdica
manifestada. Naquele, o direito atribui vontade a um sujeito, independentemente de ter
havido alguma volio neste, o direito impede a entrada no mundo jurdico de uma
vontade existente.
(1 Dificuldade bis)
Contudo, em ambos os casos, atribuem-se s Pessoas atos que, embora no
tenham praticado, poderiam ou seriam capazes de praticar, i.e., atribui-se a algum uma
declarao (ou omisso) de vontade que no foi por ele manifestada (ou omitida), mas
que, no entanto, poderia s-lo atribui-se, pois, uma vontade que poderia ser
manifestada. Se se trata de atribuir vontade a um ser humano, essa dificuldade no se
apresenta, pois o ser humano, ainda que em ato no tenha manifestado vontade, ele
potencialmente capaz de faz-lo e em razo dessa potncia que se atribui a vontade.
No entanto, se se trata de atribuir vontade a um ente no-humano, a dificuldade se
mostra com toda a sua fora, pois: o que significa atribuir um ato psquico a algo incapaz
de ter qualquer atividade psquica?
Limitando suas observaes a um horizonte normativo, o nominalismo apenas
consegue identificar o mecanismo pelo qual o direito constri o seu conceito de vontade
mas aquilo a que o direito d entrada em seu mundo sob o nome de vontade,
exatamente isto, que constitui o contedo desse conceito, isto o que escapa ao
nominalismo. No surpreende, pois, que no desenvolva, a partir da, nada mais do que
11
uma teoria normativa da vontade, carecendo por completo de qualquer conceituao
jurdica a vontade a conceito vazio de significao para o direito. Por este motivo,
na psicologia que, inevitavelmente, todo nominalismo se volta para preencher o conceito
de vontade. Do que decorre que a vontade atribuda pelas regras no passa, no
nominalismo, de atribuio normativa de vontade real. Mas o que significa dizer que uma
vontade (real) atribuda a uma Pessoa no-humana? Significa dizer que se lhe atribui
um ato que ela no praticou, mas que poderia praticar? E que ato seria esse, j que
sabemos que as Pessoas no-humanas so incapazes de atos psquicos que ato, pois,
seria esse que chamaramos de vontade? Seria ainda a vontade real? Estas so questes
que o nominalismo nem sequer se pe.
O nominalismo difere do realismo apenas em que, para este, a vontade
encontrada no ser humano e, para aquele, atribuda pela regra mas em ambos o
conceito de vontade o mesmo. Em razo disso, o nominalismo no consegue escapar s
contradies implicadas por uma conceituao psicolgica da vontade jurdica: no
consegue, por exemplo, explicar por que, para o direito, toda Pessoa capaz de vontade
ainda que seja incapaz de atos psquicos, restando-lhe insolvel a questo sobre a
natureza da vontade das pessoas sem suporte ftico humano.
A que o direito se refere quando fala de vontade da Pessoa social, fundacional ou
estatal? Certamente no se refere vontade real (estas pessoas so incapazes de atos
psquicos), tampouco se resume a uma vontade atribuda (no se pode atribuir vontade
real a um ente incapaz de atos psquicos) e impossvel tanto para o nominalismo
quanto para o realismo encontrar uma soluo. Esta impossibilidade deriva do prprio
ponto de partida de seus estudos a aceitao da definio psicolgica do conceito de
vontade. Suas investigaes esto apenas voltadas a mostrar como o direito d entrada
em seu mundo vontade psquica da porque podem ser chamados de teorias jurdicas
da vontade. Ambas as tendncias se limitam a explorar, de um ponto de vista do direito,
as relaes entre o mundo jurdico e a vontade psicolgica um estudo jurdico de um
conceito no jurdico.
Parte II Apresentao do marco terico:
O sistema lgico do direito
12
O marco terico, o ponto de referncia, a base de todos os estudos que nessa
monografia se seguem a crena (a) de que o direito (em um dos seus sentidos) um
sistema lgico e (b) de que somente enquanto tal ele pode ser objeto de pesquisa. Para
compreender essa afirmao preciso antes discernir cinco sentidos principais em que
a palavra direito pode ser tomada:
(1) Direito pode-se referir ao processo social de adaptao (PONTES DE
MIRANDA, 1926, p. 20), i.e., aos processos cognitivo e motivacional de adequao do
pensamento e da conduta de um indivduo ao pensamento e conduta de outro
indivduo.
(2) Pode-se referir abstrao de um dos elementos desse processo de
adaptao, a saber, o sistema normativo que o informa (VASCONCELOS, 2007B, p. 156).
(3) Pode-se referir a outra abstrao desse mesmo processo, a saber, o fato
mesmo da adequao, i.e, a adequao tomada no como processo (informado por um
sistema normativo), mas como um fato, integrado aos fenmenos da natureza
(VASCONCELOS, 2007, p. 156).
(4) Pode-se ainda referir ao sistema lgico que ordena e classifica os fatos e as
regras ou a algum dos seus elementos como, por exemplo, a relao jurdica
(comumente chamada de direito subjetivo).
(5) E, por fim, pode-se referir s diversas cincias que tm por objeto os quatro
primeiros sentidos mais comumente, porm, a cincia que tem por objeto o sistema
normativo, tambm chamada de dogmtica jurdica.
Dissemos e continuamos a afirmar que somente (4) objeto digno de
pesquisa, ou, pelo menos, digno de pesquisa por um jurista. O estudo de (1) est
reservado sociologia, antropologia e psicologia social. O estudo de (2) leva a um
conjunto de conhecimentos empricos sem unidade, mas no leva cincia ou aos
princpios; estritamente falando, (2) um dado (se possvel usar um termo desses) um
dado moral ou prescritivo, portanto, algo fora de qualquer questionamento a
existncia da regra no discutida; e o seu contedo quando muito apenas objeto da
interpretao do seu alcance O mximo que se pode alcanar em (2) uma lgica
dentica. O estudo de (3) pertence sociologia, cincia poltica ou cincia econmica;
em si mesmo, (3) nada tem a ver com a finalidade dos estudos do jurista. O estudo de (5)
pertence epistemologia aplicada um estudo sobre a possibilidade de estudo de um
objeto. Resta-nos assim apenas (4) o sistema lgico a nossa tbua de salvao.
13
Causa espanto saber que a proposio fundamental do Tratado de Direito Privado
ainda hoje cause espanto. Os sistemas jurdicos so sistemas lgicos (PONTES DE
MIRANDA, 2000, p. 13) eis o marco terico que toda e qualquer pesquisa jurdica deve
ter em mente. Mas o que significa dizer que o sistema jurdico um sistema lgico?
Em primeiro lugar, significa dizer que os sistemas jurdicos so espcies de
sistemas lgicos, i.e., que no possvel encontrar um sistema jurdico sem ao mesmo
tempo encontrar um sistema lgico em sua base. Em segundo lugar, significa dizer que
os dados jurdicos, presentes no processo de adaptao, no formam de imediato um
sistema, pelo contrrio, eles se tornam um sistema, em outras palavras, eles so
sistematizados pela observao lgica.
Mas claro que toda atividade humana possui em sua base uma sistematizao
lgica, pois a lgica integra o prprio processo cognitivo por meio da lgica (dentre
outros instrumentos cognitivos) que o ser humano consegue criar sentido no mundo. Ao
criar sentido, o ser humano atende aos seus impulsos de racionalizao e de segurana
um mundo racionalizado um mundo com sentido; e um mundo com sentido um
mundo mais seguro. O sistema normativo mesmo fruto desse impulso racionalizante.
Contudo, embora se possa certamente dizer que exista um sistema lgico
subjacente a toda atividade humana, no se pode com a mesma certeza dizer que os
agentes humanos tenham conscincia desse sistema. Enquanto impulso, o sistema lgico
persiste geralmente no inconsciente do mesmo modo que as regras da linguagem (da
langue, diria Saussure) so inconscientes. Por essa razo que no se diz que o sistema
normativo seja um sistema lgico ele em verdade um pr-sistema lgico, ou melhor,
um sistema lgico inconsciente, ou ainda, um sistema lgico em vias de conscientizao.
O sistema lgico a que nos referimos em (4) um sistema consciente, propositadamente
projetado e construdo criao intencional de sentido. Dizer que o sistema jurdico
um sistema lgico, portanto, dizer que o sistema jurdico criao intencional de
sentido jurdico, i.e., de organizao, racionalizao e classificao do mundo em
categorias jurdicas.
Os fatos em (3) so a matria (em sentido aristotlico, isto , pura
indeterminao, pura potencialidade), os fatos em si no tem qualquer direo, nenhum
sentido. Eles no so nada (juridicamente) mas exatamente por isso que eles podem
ser tudo. A regra (ou norma) a forma (novamente em sentido aristotlico, isto , pura
determinao, pura atualizao), a regra determina e atualiza o fato, dentre tudo aquilo
14
que o fato podia ser a regra escolhe apenas uma potncia e a atualiza atualizando-a,
d-lhe sentido jurdico e a integra no mundo que o processo cognitivo cria para o direito.
Desse hilemorfismo nasce uma nova substncia, que no se confunde nem com o fato
nem com a regra: nasce o fato jurdico. O fato jurdico no fato, pois o fato pura
potencialidade; tambm no regra, pois a regra pura atualidade o fato jurdico a
potncia atualizada, o sentido criado.
Assim fazemos valer a nossa crena inicial nenhum estudo jurdico profcuo se
no leva em conta o sistema lgico e os fatos jurdicos que o compem.
Parte III Apresentao da hiptese:
A vontade jurdica como um fato desumanizado
Esta monografia tem por finalidade buscar desenvolver as bases para uma teoria
da vontade jurdica i.e., para um estudo sobre os elementos que constituem o suporte a
que o direito d entrada em seu mundo sob nome de vontade. Em vez de observar como a
vontade psquica entra no mundo jurdico, observar os elementos que compem o fato a
que o direito chama vontade e que se pode para diferenci-lo da vontade real
chamar de vontade jurdica.
Levando em conta as dificuldades que as teorias jurdicas da vontade apresentam,
formula-se a seguinte hiptese (cuja verificao ir servir de guia para todo o
desenvolvimento deste estudo): a vontade jurdica um fato despsicologizado (i.e., a
vontade psicolgica no um seu elemento necessrio) e desumanizado (i.e., no exige a
existncia de um indivduo humano).
A princpio, esta hiptese parece resolver as dificuldades apresentadas
inicialmente. Afastando o conceito psicolgico da vontade, pode-se superar a 2 e a 3
dificuldades da teoria realista; e afastando a existncia humana, pode-se superar a 1
dificuldade, que comum a ambas as teorias, tanto a realista quanto a nominalista.
Se esta hiptese pode servir de base para construir uma teoria da vontade
jurdica, o que devemos descobrir.
Parte IV Apresentao do mtodo:
Os trs ngulos de observao
15
No estudo da vontade jurdica (que um fato jurdico) devemos antes de tudo
compreender a matria (o fato) a que ela corresponde. Em seguida, devemos descobrir
as potncias que a forma (a regra) seleciona para atualizar (para tornar jurdicas). Essas
potncias selecionadas so aquilo que compem o chamado suporte ftico. A
compreenso da vontade jurdica exige que abandonemos, por alguns instantes, o
mundo jurdico e que a ele retornemos. Mas como estudar a vontade no-jurdica?
Em meados da dcada de 20, surge a primeira luz para resolver esse nosso
problema refiro-me ao famoso Ensaio sobre a Ddiva de Marcel Mauss
2
. Neste
trabalho, somos apresentados a um conceito to fascinante quanto misterioso: o fato
social total. Esses fatos pem em evidncia a totalidade (ou uma grande parte) da
sociedade e das suas instituies (MAUSS, 1950, p. 274). Todos esses fatos so ao
mesmo tempo jurdicos, econmicos, religiosos, ticos, morfolgicos etc. E apenas ao
considerar o conjunto como um todo que podemos perceber o essencial, o movimento
do todo, o aspecto vivo da sociedade.
Depois de haver dividido e abstrado fora, preciso que o socilogo se esforce
para recompor o todo (MAUSS, 1950, p. 276). Mas o fato total no se resume a ser uma
simples reintegrao de aspectos descontnuos. preciso tambm que ele se encarne em
uma experincia individual, sob dois pontos de vista: (1) de um lado, em uma histria
individual que permita observar o comportamento de seres totais, e no divididos; (2)
em seguida, em uma antropologia, ou seja, um sistema de interpretao que leve em
conta simultaneamente os aspectos fsico, fisiolgico, psquico e sociolgico de todas as
condutas. O fato social total se apresenta assim com um carter tri-dimensional: ele deve
fazer coincidir (1) a dimenso propriamente sociolgica com seus mltiplos aspectos
sincrnicos; (2) a dimenso histrica ou diacrnica; e (3) a dimenso fisio-psicolgica.
Por conseqncia, a noo de fato total est em relao direta com a dupla preocupao
de ligar o social ao individual, de um lado, e o fsico (ou fisiolgico) ao psquico, de outro
(LVI-STRAUSS, 1950, p. XXV).
Ora, a vontade um fato que traz tona diversos institutos sociais a sua
discusso gira em torno de conceitos filosficos, ticos, religiosos, cientficos,
econmicos, jurdicos etc. Falar de vontade discutir o livre-arbtrio, a pr-
destinao, a responsabilidade, a auto-regulao do mercado, o comportamento de
grupos sociais. Sob esse ponto de vista, fcil caracteriz-la como um fato social total
2
No original francs: Essai sur le don forme et raison de lchange dans les socits archaches.
16
e assim a caracterizando, devemo-nos perguntar: em que consiste a tridimensionalidade
da vontade enquanto fato social total?
Poderamos responder dizendo que a sincrnica da vontade seria o estudo
sociolgico da ao; a diacrnica, o estudo histrico das idias filosficas sobre a
liberdade; e a fisio-psquica, o estudo psico-biolgico do comportamento. Mas assim
respondendo, estaramos sendo fiis letra, no ao esprito das palavras de Mauss e
favoreceramos o dogmatismo em lugar da clareza de investigao.
O fundamental no conceito de fato social total no reside na diviso
investigativa proposta por Lvi-Strauss (que, em verdade, mais um exemplo de como
utilizar o conceito de fato social total do que propriamente um desenvolvimento lgico
de suas premissas) a originalidade de Mauss est em nos apontar que a investigao de
um fenmeno (fsico, social ou psquico) s completa quando transcende o campo
especfico, dentro do qual o fenmeno limitado, para abranger toda a realidade. Ao
investigar o fenmeno da ddiva, por exemplo, que em geral limitado ao campo de
investigao social, Mauss nos mostra que a ddiva, alm da realidade social, implica e
( implicada em) vrias realidades distintas, tais como a econmica, a psicolgica, a
esttica e at mesmo a geogrfica. Com o seu conceito de fato social total ele nos quer
dizer que nada existe isoladamente e que todo fenmeno est inserido na realidade total.
Por essas razes que no estudo da vontade enquanto fato total ns no nos
restringimos ao quadro proposto por Lvi-Strauss. Pretendendo mostrar a ligao entre
os aspectos por assim dizer ontogenticos e os aspectos filogenticos da vontade,
que apresentamos o nosso estudo em trs movimentos:
- O primeiro movimento, que consiste na percepo da co-existncia da mudana
e do imutvel, do fugaz e do eterno, do instvel e do permanente. Essas oposies esto
na base da nossa compreenso da ao humana e levam, em primeiro lugar,
descoberta da Substncia, isto , do algo imutvel, eterno e permanente, a partir do
qual toda mudana explicada como aparncia
- O segundo movimento, que nos leva descoberta do Eu, isto , do algo fugaz e
instvel, fonte de contingncia na Substncia e a partir do Eu vrias oposies
nascem: entre o Humano e o Divino, entre o Pensamento e a Matria, entre o Indivduo e
a Sociedade, entre a Mente e o Corpo.
17
- O terceiro movimento, que nos leva compreenso da unidade do Eu e da
Substncia e superao das suas oposies. Na frase lapidar de Schelling, percebe-se
que Tudo o Eu e que Eu o Todo.
O presente estudo se preocupa em analisar esses trs movimentos, no intuito de
encontrar, ao final, alguma noo do conceito de vontade. Na concluso se h de
analisar se essa noo satisfaz ou contradiz a hiptese levantada para a construo de
um conceito jurdico de vontade (a vontade jurdica). Dessa forma, para encontrarmos
os subsdios necessrios para confirmar (ou no) as nossas hipteses, devemos ampliar
nossos pontos de vista, abdicar de uma investigao restrita ao campo do direito ou ao
campo da psicologia, abarcar a vontade como um fato social total devemos, em suma,
realizar um estudo no jurdico de um conceito jurdico.
18
O que a Vontade?
Parte I A descoberta da Substncia
3
1. Phsis e Lgos
1.1. A descoberta da Phsis
Tales considerado o fundador da Escola de Mileto, mas da sua doutrina apenas
nos restam doxografias, nas quais dito que, para Tales, a gua era a coisa fundamental
de que todas as outras seriam apenas formas transitrias. Tratava-se justamente da
substncia primordial, que era a base de toda a mudana, mas que mudana no estava
sujeita. O mrito de Tales consiste em que ele foi o primeiro a se perguntar no o que era
a coisa original (como fizeram Hesodo e Ferecides em suas mitologias racionalistas),
mas o que ela e a sua resposta foi: a substncia primeira a gua (BURNET, 1952, p.
48).
O primeiro nome que chegou a ns depois de Tales foi o de Anaximandro.
Anaximandro, assim como Tales, era cidado de Mileto e Teofrasto o descreve como um
companheiro de Tales (BURNET, 1952, p. 52) o que deve ser entendido como um
seguidor da Escola fundada por Tales em Mileto e no como um colega ou um
companheiro de Tales. Da sua doutrina original s nos chegou este nico fragmento:
Aquilo de onde vem a gerao das coisas que existem vem a ser tambm para
elas a sua destruio, segundo a necessidade; pois do justia e castigo umas s
outras, pela sua injustia, de acordo com o decreto do Tempo.
com essas palavras enigmticas que tem incio a Filosofia. O que elas nos
dizem? O que elas nos podem ensinar? preciso antes uma leitura crtica da traduo.
O fragmento que Simplcio nos trouxe de Anaximandro nos fala de uma gerao
() e de uma destruio () das coisas que existem (corporeamente porque
o significado do verbo poca de Anaximandro ainda estava impregnado de
matria), de acordo com a necessidade ( ). Este ltimo termo ( )
3
As tradues dos fragmentos aqui apresentados so baseadas em KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD,
M. Os filsofos pr-socrticos, 4. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994; BURNET, John. Laurore de la
philosophie grecque, Paris: Payot, 1952; HEIDEGGER, Martin. Early greek thinking, San Francisco: Harper,
1984; KAHN, Charles. Anaximander and the origins of greek cosmology, Indianapolis: Hackett, 1994; e
BAILLY, Anatole. Dictionnaire grec franais, Paris: Hachette, 2000.
19
comumente traduzido por necessidade; essa traduo, contudo, pode-nos levar a erro,
porque tendemos a interpretar a necessidade sob a nossa perspectiva, 2500 anos
depois do texto haver sido escrito.
Hoje falamos de necessidade e o que vem s nossas mentes o modelo lgico-
mecanicista, em que a necessidade se resume impossibilidade de um evento no
ocorrer ou de uma proposio no ser verdadeira. Para ns modernos, o necessrio se
produz sem esforo, de forma impessoal. Essa viso, no entanto, fruto de vrias
distines que a discusso filosfica, ao longo dos milnios, pde realizar, mas das quais
Anaximandro no podia ter conhecimento. Ela supe, por exemplo, as distines entre
matria e esprito, entre corpo e alma, entre fato e valor, entre ser e dever
ser. Para descobrirmos o que Anaximandro tinha em mente ao utilizar a expresso
, vejamos que outros significados lhe podem ser atribudos.
pode significar: necessidade; obrigao; indenizao; satisfao;
restituio de um objeto roubado; dvida. Comeamos, com isso, a formar uma noo
daquilo que para Anaximandro significaria dizer que algo era necessrio. No se
tratava da impossibilidade de no ocorrncia de um evento mas da relao entre dois
objetos, em que um era atrado pelo outro em funo de uma dvida, uma obrigao,
que o impelia a agir de um modo determinado. Supunha: (1) algum dano sofrido por
aquele a quem a obrigao visava reparar; (2) e algum sacrifcio indenizatrio daquele
que havia provocado o dano. Esse significado permite uma melhor compreenso do
restante do fragmento.
Segue a afirmao de que as coisas do justia e castigo umas s outras pela sua
injustia ( ). O verbo se
refere ao ato de dar algo a algum; no se trata de um ato compulsrio e sim de um ato
voluntrio. D-se, no porque seja impossvel no dar, mas porque, mesmo sendo
possvel no faz-lo, quer-se dar ou, ao menos, est-se obrigado a dar. As coisas do
umas s outras a (ou seja, a justia, a regra, o direito) e a (ou seja, o
castigo, a punio, a vingana) em razo da (ou seja, a injustia, a falta)
que cometeram umas contra as outras. O que Anaximandro talvez quisesse dizer aqui
que as coisas eram para si mesmas a causa
4
, a origem da ordem (justia) e da
desordem (injustia). Mas o que isso significaria?
4
E devemos ter em mente que ao tempo de Anaximandro o conceito de causa () ainda era usado de
um modo no tcnico.
20
Sabemos que Anaximandro dizia que a gerao () e a destruio ()
das coisas ocorriam segundo a necessidade ( ). Sabemos tambm que
pode ser traduzido como obrigao ou dvida e que, nesse sentido, supe a existncia
de um dano injusto e de outro dano, justo, para repar-lo. Ora, vemo-nos tentados a
identificar o dano justo com a e o seu significado seria ento o de dano
indenizatrio que restabelecia a e o dano injusto com a que seria ento o
dano que gerava a obrigao ( ). Assim, poderamos interpretar essa parte do
fragmento como afirmando que, em certos casos, a ao de uma coisa A sobre outra
coisa B provocaria, pela destruio de B, a gerao de A e, em sendo essa ao injusta (ou
seja, no necessria, no decorrente de obrigao anterior), A estaria obrigado
ento a admitir a sua prpria destruio a fim de permitir que B fosse novamente
gerado.
No devemos estranhar o uso de termos como justia, castigo ou dvida na
explicao de Anaximandro sobre a (phsis). As observaes incipientes da
natureza descreviam os processos naturais em termos de eventos comuns na esfera
humana. Noes jurdicas e morais se misturavam com as noes naturais e fsicas
(VLASTOS, 1947, p. 156). Ao tratar das coisas que existem ( ), Anaximandro se
referia ao mltiplo ( ); no a uma multiplicidade arbitrria e sem limites, mas
totalidade do ser. Assim, significava para Anaximandro o ser total da
realidade, o que inclua no apenas os seres fsicos, no sentido estrito, como tambm os
homens, as coisas produzidas pelos homens e a situao ou o ambiente afetado e
realizado pelos fatos e omisses dos homens (HEIDEGGER, 1984, P. 21).
O fragmento termina dizendo que a gerao e a destruio das coisas ocorrem
segundo o decreto do Tempo ( ). A palavra se refere ao
arranjamento, ordenao de um conjunto de objetos e, por extenso, pode-se referir
ordem que estabelece a ordenao. Por sua vez, se refere ao tempo e, mais
especificamente, durao do tempo. A traduo de como decreto do
Tempo talvez passe a falsa impresso da existncia de um legislador csmico, cujas
regras determinariam a obrigao das coisas em indenizarem umas as outras. O que
era provvel que Anaximandro tivesse em mente era a idia de que as coisas se
destroem e se indenizam de acordo com um arranjamento ou uma ordenao natural
(talvez intrnseca a elas prprias) que se estabelecia ao longo do tempo e das estaes.
21
Por fontes doxogrficas, o que se sabe que Anaximandro ensinava que havia
uma substncia infinita e eterna, de que todas as coisas nasciam e para a qual todas as
coisas retornavam. H dvidas quanto exata compreenso do termo , que
em geral se traduz por infinito. Provavelmente ele no se queria referir ao
espacialmente infinito, cuja noo no poderia ter sido apreendida claramente antes
das questes formuladas por Melisso e Zeno sobre a extenso e a divisibilidade
contnuas (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 109). O mais certo que
significasse sem limites, sem fronteiras, indeterminado, qualitativamente
indefinido (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 110).
A razo que conduziu Anaximandro a considerar a substncia primordial infinita
foi talvez a sua concepo do mundo como uma guerra de opostos em que as coisas
cometiam injustias umas sobre as outras (BURNET, 1952, p. 60) ou seja, aniquilavam-
se, assim como o calor destri o frio e a gua extingue o fogo. Considerando o devir e a
mudana como a contnua destruio (injustia) dos opostos uns sobre os outros
(reciprocidade da destruio), Anaximandro imaginou que a substncia primordial,
fonte de todas as coisas, a fim de abastecer continuamente a mudana e o devir no se
poderia opor a nenhuma coisa existente, sob pena de ela prpria ser mutvel em no
se opondo a nenhuma coisa, a substncia primordial no participava da guerra de
opostos e era, portanto, indeterminada, ou seja, qualitativamente indefinida e, por essa
razo, era dita infinita (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 113). Por no haver coisas
opostas a ela, a substncia primordial no podia ser destruda e era, nesse sentido, eterna
e imortal.
Essa teoria de Anaximandro era o desenvolvimento natural do pensamento que
se atribua a Tales o argumento que o sustentava ainda podemos reconstruir
razoavelmente. Vejamos: Tales havia dito que a gua era de todas as coisas que
conhecemos aquela a partir da qual todas as outras provinham. Sendo a fonte de todas
as coisas, essa substncia era necessariamente indestrutvel e sendo a origem de todas
as mudanas, era necessariamente infinita. Anaximandro ento provavelmente se
perguntou como que a substncia primordial podia ser uma das coisas particulares.
Ora, estando as coisas particulares que ns conhecemos em oposio entre si (como a
gua fria e o fogo quente), se uma delas fosse infinita e indestrutvel, ento todas as
outras deixariam de existir (BURNET, 1952, p. 56) e a injustia prevaleceria. Logo,
devia existir algo distinto das coisas particulares que no estivesse em oposio a
22
nenhuma delas algo indeterminado. Essa substncia distinta Anaximandro chamou de
(BURNET, 1952, p. 57). A (substncia infinita) de Anaximandro,
embora seja ainda uma substncia corprea, a precursora daquilo que os atomistas
viriam a chamar de no ser ( ), isto , a substncia imaterial, incorprea. O
caminho aberto por Anaximandro permitiu aos atomistas explicarem o movimento e a
Plato, desmaterializar a alma.
Enquanto as especulaes de Anaximandro se distinguiam pela sutileza e pela
amplitude, as de Anaxmenes, seu sucessor, eram marcadas pelas qualidades exatamente
opostas. Ele elabora um sistema prprio no qual rejeita as teorias audaciosas de
Anaximandro (BURNET, 1952, p. 77), em especial a concepo da substncia primordial
como algo distinto de todas as outras coisas. Assim como seu predecessor, Anaxmenes
dizia que a substncia fundamental era infinita mas no, como imaginava
Anaximandro, indeterminada. Para Anaxmenes, a substncia primordial era
determinada e ele a identificava com o ar (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 146). Do
ar nasciam as coisas que existem, que existiram e que existiro, dele nascem os deuses e
as coisas divinas (BURNET, 1952, p. 78).
primeira vista, pode parecer que a doutrina de Anaxmenes representa um
retrocesso se comparada com a teoria mais exuberante e refinada de Anaximandro. No
entanto, ela representa um passo decisivo para todo o pensamento ocidental. Ao
introduzir na sua teoria a idia de rarefao e condensao, Anaxmenes construiu a
primeira cosmologia inteiramente consistente. As transformaes da substncia
primordial passaram a ser vistas como puramente quantitativas a destruio ()
e o nascimento () eram apenas aparentes, pois consistiam apenas na rarefao e
na condensao, respectivamente, da substncia primordial (BURNET, 1952, p. 78). A
substncia infinita de Anaximandro no podia ser considerada homognea, pois nela
residiam as oposies de todas as coisas do que se seguia que a substncia primordial
seria diferente de si mesma em sendo a fonte das coisas que se opunham. A nica
maneira de salvar a unidade da substncia primordial era dizendo que toda a
diversidade e toda a oposio so devidas presena de uma quantidade maior
(condensao) ou menor (rarefao) de certa substncia em um espao determinado
(KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 150). Aps dar esse passo, Anaxmenes ento no
precisou fazer da substncia primordial algo distinto das coisas existentes ela podia
ser uma delas (BURNET, 1952, p. 79).
23
A influncia de Anaxmenes sobre a filosofia grega antiga foi mais importante do
que a de Anaximandro podemos ver aspectos de sua doutrina em Pitgoras,
Empdocles, Anaxgoras, nos atomistas e no pantesmo de Digenes de Apolnia
(BURNET, 1952, p. 84). Anaxmenes marca o ponto culminante do movimento
intelectual iniciado por Tales e, nesse sentido, a filosofia de Anaxmenes simboliza toda a
doutrina milesiana (BURNET, 1952, p. 85). Ao oferecer uma explicao quantitativa da
mudana, Anaxmenes orientou a filosofia grega antiga para o materialismo e o
mecanicismo, culminando na teoria atomista de Leucipo e Demcrito.
Nos primrdios da filosofia grega, encontramos j em formao os dois caminhos
que a filosofia ocidental ir trilhar: o caminho do incorpreo, do racional e do espiritual,
aberto por Anaximandro; e o caminho do material, do mecnico e do quantitativo, aberto
por Anaxmenes.
1.2. A descoberta do Lgos
Herclito se considerava com acesso a uma verdade de suma importncia acerca
da constituio do mundo. A grande maioria era incapaz de reconhecer essa verdade (fr.
1)
5
, que era acessvel a todos os homens (fr. 2)
6
, bastando para isso que fizessem uso da
observao e do entendimento (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 193). O que eles
deviam reconhecer era o Lgos (). O que seja o Lgos, essa uma questo ainda
em aberto. Desde a antiguidade o Lgos de Herclito foi interpretado de vrias
maneiras: como Ratio, como Verbum, como lei csmica (HEIDEGGER, 1984, p. 60).
, em um sentido, se ope a (ao) e nessa oposio significa palavra;
noutro sentido, se ope a (esprito, pensamento, inteligncia) e significa o
pensamento expresso, falado (oposio semelhante de Saussure entre langue e parole).
deriva do verbo (falar, declarar, anunciar, querer dizer, significar, ordenar
etc). O Lgos de Herclito, contudo, apesar de certamente trazer consigo todos esses
5
Fr. 1. Os homens do sempre mostras de no compreenderem que o Logos como eu o descrevo, tanto
antes de o terem ouvido como depois. que, embora todas as coisas aconteam segundo este Logos, os
homens so como as pessoas sem experincia, mesmo quando experimentam palavras e aes tal como eu
as exponho, ao distinguir cada coisa segundo a sua constituio e ao explicar como ela ; mas os demais
homens so incapazes de se aperceberem do que fazem, quando esto acordados, precisamente como
esquecem o que fazem quando dormem.
6
Fr. 2. Por isso, necessrio seguir o comum; mas, se bem que o Logos seja comum, a maioria vive como
se tivesse uma compreenso particular.
24
significados, nos apresenta um novo sentido e a fim de apreend-lo devemos observ-
lo no contexto da sua doutrina.
A verdade que Herclito anunciava consistia em que todas as coisas numerosas
de que temos conhecimento, aparentemente independentes umas das outras e em
conflito umas com as outras, eram em realidade uma e que essa unidade era mltipla. A
luta dos contrrios era na verdade uma harmonia (); a sabedoria no estava
no conhecimento dos mltiplos, mas na percepo da unidade que se escondia sob os
contrrios em luta (fr. 50)
7
(BURNET, 1952, p. 160-161). A palavra (harmona)
tinha para Herclito talvez o significado de estrutura, o que se pode entender pelos
exemplos por ele usados para explic-la (e.g.: o exemplo no fr. 51
8
da lira, cuja estrutura
harmonia exigia a tenso de suas cordas para formar a unidade do som) (BURNET,
1952, p. 186-187).
Anaximandro dizia que os contrrios tinham a sua origem, por diferenciao, no
Ilimitado, mas que eles se resolviam e eram punidos pelas injustias que cometiam uns
com os outros. Essa concepo implicava que a guerra dos contrrios era um mal e que a
existncia do Mltiplo era uma falha (uma injustia) da unidade do Um (a substncia
primordial). O que Herclito ento sustentava era que o Um no podia existir sem o
Mltiplo e nem o Mltiplo sem o Um. O mundo (a phsis) era ao mesmo tempo uno e
mltiplo e era a tenso dos contrrios do Mltiplo que constitua a unidade do Um (fr.
10)
9
(BURNET, 1952, p. 161). A diferenciao do Um em Mltiplo e a integrao do
Mltiplo no Um eram eternas e simultneas (BURNET, 1952, p. 162). O que Herclito
descobriu no foi um princpio lgico, como Plato nos faz crer no Sofista ou no Crtilo. A
identidade na (e pela) diversidade que Herclito afirmava era puramente fsica a lgica
no existia ainda no seu tempo (e, por conseqncia, no se havia ainda formulado o
princpio da identidade) (BURNET, 1952, p. 163).
possvel distinguir quatro espcies diferentes de conexo entre contrrios: 1) a
mesma coisa produz efeitos contrrios sobre diferentes classes de seres (fr. 61)
10
; 2)
diferentes aspectos da mesma coisa podem justificar descries contrrias (fr. 60)
11
; 3)
7
Fr. 50. Dando ouvidos, no a mim, mas ao Logos, avisado concordar em que todas as coisas so uma.
8
Fr. 51. Eles no compreendem como que o que est em desacordo concorda consigo mesmo: h uma
conexo de tenses opostas, como no caso do arco e da lira.
9
Fr. 10. As coisas tomadas em conjunto so o todo e o no-todo, algo que se rene e se separa, que est em
consonncia e em dissonncia; de todas as coisas provm uma unidade, e de uma unidade, todas as coisas.
10
Fr. 61. A gua do mar a mais pura e a mais poluda; para os peixes potvel e salutar, mas para os
homens impotvel e deletria.
11
Fr. 60. O caminho para subir o mesmo para descer.
25
coisas boas e desejveis s so possveis se se reconhecem os seus contrrios (fr. 111)
12
;
4) certos contrrios esto essencialmente ligados porque se sucedem uns aos outros e
nada mais (fr. 88)
13
. Essas quatro espcies podem ser reduzidas a duas: (1), (2) e (3) so
contrrios inerentes a (ou simultaneamente produzidos por) um s sujeito; (4) so os
contrrios que esto ligados, devido a serem diferentes fases de um processo invarivel
e nico (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 196). Esses contrrios, apesar da
multiplicidade, formavam em verdade um todo, algo que se rene e se separa, que est
em consonncia e em dissonncia (fr. 10). Quando Herclito falava, e.g., que a noite e
dia so um, com isso ele queria dizer no que a noite era o dia, mas que noite e dia eram
as duas faces do mesmo processo e que nenhum dos dois era possvel sem o outro
(BURNET, 1952, p. 188-189). Se no existisse o frio no existiria o calor se no
existisse o mido no haveria o seco: essas eram as duas oposies primordiais de
Anaximandro; Herclito mostrava que a guerra entre elas era, na realidade, paz, porque
a paz era o elemento comum a elas e se manifestava como luta. A luta era ento a justia
e no (como Anaximandro havia ensinado) a injustia que as coisas cometem umas
contra as outras e que deve ser expiada pela reabsoro de todas as duas na substncia
primordial. A luta era a substncia comum e ela era eterna (BURNET, 1952, p. 189-190).
Essa nova concepo da realidade obrigou Herclito a buscar uma nova
substncia primordial, uma coisa que, por sua prpria natureza, se pudesse transformar
em qualquer outra. Essa coisa ele a encontrou no fogo () (BURNET, 1952, p. 163).
Herclito provavelmente devia estar pensando no fenmeno da combusto, na qual o
fogo consumia a lenha (terra) ou o leo (gua) e se transformava em fumaa (ar) e
cinzas (terra); a substncia estava continuamente em mudana. Do que se segue que a
realidade era semelhante a um rio que corria perpetuamente e que nada podia existir
em repouso (fr.12)
14
. Essa teoria habitualmente resumida na frmula segundo a qual
todas as coisas correm ( ) (BURNET, 1952, p. 164).
Em qualquer momento dado, cada uma das trs formas da matria (Fogo, gua e
Terra) era formada de duas pores iguais, uma das quais tomava o sentido para o alto
e outra o sentido para baixo. Era pelo fato dessas duas metades serem atiradas em
direes opostas, criando uma tenso de opostos, que as coisas se mantinham unidas
12
Fr. 111. A doena torna a sade agradvel e boa, como a fome, a saciedade, a fadiga, o descanso.
13
Fr. 88. E como uma mesma coisa, existem em ns a vida e a morte, a viglia e o sono, a juventude e a
velhice: pois estas coisas, quando mudam, so aquelas, e aquelas, quando mudam, so estas.
14
Fr. 12. Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras so as guas que por eles correm.
26
segundo um equilbrio que no podia ser quebrado seno temporariamente e dentro de
certos limites. Essa tenso, essa luta constitua a harmonia escondida do Universo. A
guerra (ou seja, a luta, a tenso) era ento para Herclito o pai e o rei de todas as
coisas (fr. 80)
15
. Aqueles que ansiavam por ver cessar a luta estavam em verdade
ansiando pela destruio do mundo (BURNET, 1952, p. 187), pois o equilbrio total do
cosmos s podia ser mantido se a mudana numa direo (a destruio de uma coisa)
conduzisse eventualmente mudana na outra (a gerao de outra coisa), ou seja, se
houvesse uma discrdia infindvel entre os contrrios (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD,
1994, p. 200).
O significado tcnico de Logos em Herclito aparece ento relacionado com o
sentido geral de medida, clculo ou proporo da mudana. O resultado da
disposio segundo um plano ou medida comuns consistia no fato de todas as coisas,
apesar de aparentemente mltiplas e totalmente distintas estarem realmente unidas
num complexo coerente, de que os prprios homens eram uma parte e cuja
compreenso era por isso logicamente necessria para a atuao adequada de suas
prprias vidas. Por vezes, Logos foi, provavelmente, concebido por Herclito como um
verdadeiro constituinte das coisas, e, em muitos aspectos, era co-extensivo com o
constituinte csmico primrio, o fogo. (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 194).
Com o seu conceito de Logos, Herclito sugeria que o conhecimento de algo exigia
o conhecimento de seu contrrio e que ambos, em verdade, formavam um nico e
mesmo fenmeno: o conhecimento de um objeto estava relacionado ao conhecimento do
seu contrrio. Essa observao de Herclito foi o fundamento sobre o qual Protgoras e
os sofistas desenvolveram as suas teses. Partindo do ponto de vista do conhecimento,
Protgoras distinguiu dois contrrios: o objeto (aquilo que era conhecido) e o sujeito
(aquilo que conhecia) e, seguindo a doutrina de Herclito, buscou explicar o objeto a
partir do sujeito (o homem a medida de todas as coisas). Essa oposio sofista entre
o objeto e o sujeito (juntamente com a intuio de Anaximandro e a descoberta da
imaterialidade pelos atomistas) uma das razes da descoberta platnica da .
2. O monismo eleata e os paradoxos do movimento
2.1. Xenfanes e o monismo teolgico
15
Fr. 80. necessrio saber que a guerra comum e que a justia discrdia e que tudo acontece
mediante discrdia e necessidade.
27
No fr. 23
16
o uso dos termos homens e deuses constitui um recurso retrico e
no deve ser entendido como parte do argumento no se pode, com base nele, atribuir-
se a Xenfanes a crena na existncia de deuses menores abaixo do Deus nico e acima
dos homens. O que interessa do fr. 23 perceber que Xenfanes diferencia o Deus nico
tanto em corpo () quanto em pensamento () dos homens do que se infere
que Xenfanes ainda o considerava algo corpreo. O fr. 25 e o fr. 26
17
parecem sugerir
que o Deus imvel pela simples razo de no ser prprio dele ir a diferentes lugares.
No s imprprio do deus se mover, como o movimento efetivamente desnecessrio,
pois o deus tudo abala com o pensamento do seu discernimento. Esse discernimento
est relacionado com a vista e o ouvido, sentidos estes que so derivados no de rgos
especiais, mas de todo o corpo imvel do Deus (fr. 24)
18
(KIRK; RAVEN; SCHOFIELD,
1994, p. 175).
Xenfanes foi mais poeta do que filsofo a sua importncia, contudo, para o
desenvolvimento da filosofia antiga crucial. com ele que a tendncia racionalista das
teogonias gregas alcana o seu clmax, negando a existncia de mais de um Deus. Assim
como as teogonias de Hesodo e de Ferecides (que sugeriam a existncia de um deus
primordial de que todos os outros seriam provenientes) influenciaram a pesquisa
milesiana da substncia primordial, assim tambm a teologia de Xenfanes (que admite
a existncia de apenas um nico Deus, imvel e homogneo) foi de profunda influncia
na revoluo de Parmnides e na sua afirmao do ser.
2.2. Parmnides e o monismo ontolgico
O poema comea especificando as nicas vias possveis de investigao tais vias
so assumidas como logicamente exclusivas (fr. 2)
19
. Uma delas a daquilo que e que
impossvel no ser ( ); a outra a daquilo
16
Fr. 23. Um s Deus, entre os deuses e os homens o maior, em nada semelhante aos mortais, nem no
corpo nem no pensamento.
17
Fr. 25-26. Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover; nem prprio dele ir a diferentes lugares
em diferentes ocasies, mas antes, sem esforo, tudo abala com o pensamento do seu discernimento.
18
Fr. 24. Todo ele v, todo ele pensa, todo ele ouve.
19
Fr. 2. Anda da e eu te direi (e tu trata de levares as minhas palavras contigo, depois de as teres
escutado) os nicos caminhos da investigao em que importa pensar. Um, que e que impossvel no
ser, a via da Persuaso (por ser companheira da Verdade); o outro, que no e que necessrio que no
seja, esse te declaro eu que um caminho totalmente indiscernvel, pois no poders conhecer o que no
tal no possvel nem exprimi-lo por palavras.
28
que no e que necessrio que no seja (
) (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 255). A traduo desses fragmentos
apresenta duas dificuldades:
A primeira dificuldade consiste em determinar o significado do verbo ser ()
no poema de Parmnides. Modernamente, podemos quase de forma instintiva discernir
duas funes bsicas do verbo ser a substantiva, que afirma que algo (existe, possui
essncia etc.); e predicativa, que afirma que algo algo. Diante disso, existem pelo
menos duas interpretaes possveis: 1) ou Parmnides quer dizer que impossvel no
pensar como existente aquilo que existe (e vice-versa, pensar como existente o que no
existe); 2) ou quer dizer que impossvel no pensar em algo como sendo o que (e vice
versa, pensar em algo como sendo o que no ) (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
256). A discusso a respeito da interpretao mais exata no leva em conta um fato de
suma importncia: essas distines no existiam ao tempo de Parmnides (BURNET,
1952, p. 205) elas so descobertas da lgica de Aristteles. Logo, era impossvel para
Parmnides falar do verbo ser de modo unvoco e tcnico. A melhor interpretao
talvez seja aquela que leve em conta simultaneamente os dois sentidos (KIRK; RAVEN;
SCHOFIELD, 1994, p. 256). Mesmo assim, o fr. 8
20
nos permite concluir que o sentido
predominante atribudo por Parmnides ao verbo ser o substantivo.
A segunda dificuldade consiste em saber o que esse algo que . Parmnides
simplesmente diz: O que , . Para ns, modernos, essa afirmao no nos parece clara,
pois nunca pensaramos em duvidar dela e, por isso, no podemos compreender porque
20
Fr. 8. (a) De um s caminho nos resta falar: o do que . Neste caminho h indcios em grande nmero de
que o que ingnito e imperecvel existe, por ser completo, de uma s espcie, inabalvel e perfeito. (b)
Nunca foi nem ser, pois agora como um todo, um s, contnuo. Pois que origem lhe poders buscar?
Como e de onde cresceu? No te permitirei que digas ou que penses a partir do que no ; e que
necessidade o teria levado a surgir mais tarde, em vez de mais cedo, se viesse do nada? Assim, fora ou
que seja inteiramente, ou absolutamente nada. Nem a fora da persuaso consentir que, junto do que ,
algo possa surgir alguma vez do que no . Por isso a Justia jamais soltou as grilhetas para lhe permitir
nascer ou perecer, antes as segura firmemente. E a deciso acerca disto reside no seguinte: ou no . (...)
E como poderia ser no futuro o que ? Como poderia gerar-se? que, se se gerou, no : nem , se alguma
vez vier a ser no futuro. Assim se extingue a gerao, e a destruio coisa inaudita. (c) Nem divisvel,
pois que homogneo; nem mais aqui e menos ali, o que o impediria de manter a coeso, mas tudo est
cheio do que . Assim, todo contnuo: pois o que aproxima-se do que . (d) Mas, imobilizado nos limites
de potentes grilhetas, existe sem comeo ou interrupo, j que gerao e destruio se transviaram para
muito longe, e a convico verdadeira as repeliu. Ao manter-se o mesmo e no mesmo lugar, em si mesmo
repousa e assim firme h de permanecer. (...) (e) Por isso justo que o que no deva ser imperfeito; pois
de nada precisa se assim no fosse, de tudo careceria. A mesma coisa pensar e por isso que h
pensamento. Pois, em tudo o que se disse, no encontrars o pensar sem o que . Nada h ou haver para
alm do que , visto que o Destino o acorrentou por forma a ser um todo inamovvel (...). Mas uma vez que
h um limite extremo, est completo, como a massa de uma esfera bem rotunda de todos os lados, em
igual equilbrio em todas as direes a partir do centro (...) que por ser igual a si mesmo por todos os
lados, encontra-se uniformemente nos seus limites.
29
ela aparece em tantas ocasies e com tanto vigor (BURNET, 1952, p. 205).
Provavelmente esse algo, se considerarmos o verbo ser no seu sentido predicativo,
seja qualquer assunto de investigao (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 255) ou, se o
considerarmos no seu sentido substantivo, seja a matria ou o corpo (pois o verbo
antes dos atomistas estava invariavelmente referido ao corpreo) (BURNET, 1952,
p. 205). De qualquer modo, ele certamente compreendido como algo extenso no
espao (fr. 8 e).
Superadas essas dificuldades, podemos seguir as conseqncias que Parmnides
retira da sua premissa fundamental (BURNET, 1952, p. 209). O resultado dos seus
argumentos, como se ver, uma forma de monismo (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994,
p. 259).
Em primeiro lugar, aquilo que , necessariamente incriado e indestrutvel (fr. 8
b). Para fundamentar essa conseqncia, Parmnides apenas enumera argumentos
contra o nascimento, considerando como bvia uma argumentao paralela contra o
perecer (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 260). A questo saber: Como e de onde
cresceu? ( ;). Como cresceu? Parmnides responde com o princpio
da razo suficiente ao assumir que tudo o que nasce deve conter em si algum princpio
de desenvolvimento, alguma necessidade () intrnseca para existir. De onde
cresceu? Parmnides responde que aquilo que nasce deve necessariamente nascer de
algo alm dele ora, mas se apenas aquilo que existe, como possvel que ele possa
nascer de algo alm dele? Seria admitir que ele pudesse nascer do nada, o que
Parmnides assume como impossvel. Logo, o Ser (aquilo que ) necessariamente
incriado e possui em si mesmo a razo da sua existncia. Algo somente pode ser
destrudo por alguma coisa alm dele mas se o Ser a nica coisa que existe, se
incriado e se possui em si a razo da sua prpria existncia, ento o Ser indestrutvel.
Em segundo lugar, o Ser necessariamente uno e contnuo (fr. 8 c). Parmnides
pretende mostrar que o Ser contnuo em qualquer dimenso que ocupe. Mas
provvel que a dimenso temporal no lhe seja atribuda, em razo dos seus argumentos
no fr. 8 b contra a destruio e a gerao do Ser: como poderia ser no futuro o que ?
( ;) que, se se gerou, no : nem , se alguma vez vier a
ser no futuro ( , , ). Afora isso, est
Parmnides caracterizando cada assunto de investigao (no sentido predicativo do ser)
como possuidor de uma continuidade interna ou est afirmando (no sentido
30
substantivo) que toda a realidade una? (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 261). A
questo parece irrespondvel, ainda mais porque os argumentos que Parmnides
apresenta para sustentar a sua tese no so suficientes. O importante ter em mente
que o Ser, para Parmnides, um plenum, um contnuo (BURNET, 1952, p. 206).
Em terceiro lugar, imutvel (fr. 8 d). Parmnides parece adotar o seguinte
raciocnio: impossvel para o que nascer ou morrer; assim, ele existe imutvel nas
cadeias de um limite; dessa forma, permanece o mesmo e no mesmo lugar e se mantm
sozinho (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 262).
Em quarto lugar, perfeito, imvel e esfrico (fr. 8 e). Se o Ser limitado (ou seja,
se se basta a si mesmo), no pode ser deficiente (ou seja, no pode carecer de algo); e se
no pode ser deficiente, no pode ser imperfeito (ou seja, incompleto) (KIRK; RAVEN;
SCHOFIELD, 1994, p. 262). Logo, o Ser necessariamente perfeito, o que implica dizer
que, em sendo o universo um plenum, no existe o espao vazio, nem no interior nem no
exterior do mundo. O que , : e no pode ser nem mais nem menos. Ele no existe mais
em um lugar do que em outro e o mundo um plenum contnuo e indivisvel. Resulta
imediatamente que ele deve ser imvel. Se ele se movesse, deveria se mover em um
espao vazio, mas no existe espao vazio. O espao est preenchido por todas as partes
por aquilo que , pelo real. Por essa razo, ele deve ser finito e no pode existir coisa
alguma alm dele. Ele completo em si mesmo e no tem qualquer necessidade de se
estender indefinidamente no espao vazio que no existe. Segue-se ento que ele
esfrico (BURNET, 1952, p. 209-210).
Em vez de atribuir ao Um uma tendncia ao movimento e mudana, como o
havia feito Herclito, e de tornar possvel a explicao do mundo, Parmnides descarta a
mudana como sendo uma iluso. Ele mostra de uma vez por todas que se se observa
seriamente o Um, -se obrigado a negar todo o resto. As solues precedentes, segundo
Parmnides, no haviam apreciado esse aspecto. Anaxmenes, que pensava poder salvar
a unidade da substncia primordial com a sua teoria da rarefao e da condensao, no
levou em conta que admitir que a substncia pudesse existir menos em um lugar
(rarefao) e mais em outro (condensao) era afirmar a existncia daquilo que no
(fr. 8). A teoria de Herclito no menos incompleta, pois ela se baseia sobre a
contradio de que o fogo ao mesmo tempo e no (BURNET, 1952, p. 206-207).
A intuio fundamental de Parmnides (de que o Ser ) constituiu a primeira
grande revoluo do pensamento ocidental. As refutaes e as defesas que os
31
pensadores a partir de ento passaram a formular a respeito da sua teoria
representaram um avano gigantesco para a construo e a preciso da linguagem
filosfica. Pode-se dizer que um dos mais importantes conceitos da Filosofia (o conceito
do Ser) foi uma contribuio de Parmnides e em razo disso que estamos todos ns
em dbito com ele.
2.3. Zeno e os paradoxos do movimento
O fr. 3
21
o nico fragmento de Zeno inquestionavelmente autntico que nos
chegou intacto. A sua finalidade parece ser a de nos levar a refletir sobre aquilo que faz
com que uma coisa seja nica e no mltipla (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 278).
Empdocles e Anaxgoras provavelmente foram instigados por essa antinomia de Zeno
em um dos fragmentos de Anaxgoras, inclusive, possvel encontrar uma parfrase
ao fr. 3 de Zeno.
Contudo, a fama de Zeno se deve aos seus paradoxos do movimento esses
paradoxos exerceram enorme influncia em todas as teorias filosficas da antiguidade (e
ainda hoje, na lgica), especialmente em Melisso e nos atomistas. Chegaram at ns, pela
doxografia, apenas quatro desses paradoxos; todas elas tm por objetivo demonstrar
que, em um tempo determinado, impossvel que um corpo se desloque de um ponto A
a outro ponto B. A premissa fundamental estabelece que entre dois pontos quaisquer do
espao possvel encontrar um ponto mdio e assim ad infinitum. Desse modo, para
que o corpo se desloque do ponto A ao ponto B necessrio que ele atinja um nmero
infinito de pontos mdios entre A e B. Zeno afirmava ento que era impossvel atingir
um nmero infinito de pontos e, por isso, o movimento no podia existir.
As antinomias e os paradoxos de Zeno exerceram grande influncia sobre os
atomistas, em especial as suas questes sobre a continuidade do movimento. As teorias
de Anaxgoras e de Melisso parecem ter sido formuladas em parte como respostas aos
desafios de Zeno.
3. A resposta pluralista aos eleatas
21
Fr. 3. Se h muitas coisas, fora que elas sejam tantas quantas existem, e nem mais nem menos do que
estas. Mas se so tantas quantas existem, tero de ser limitadas. Se h muitas coisas, so ilimitadas as
coisas existentes; pois h sempre outras entre as coisas que existem, e de novo outras do meio delas. E
assim as coisas que existem so ilimitadas.
32
3.1. As quatro razes de Empdocles
A crena de que todas as coisas eram uma foi comum aos filsofos gregos; mas
Parmnides havia mostrado que se essa coisa nica existisse realmente, ento se deveria
abandonar a idia de que ela pudesse assumir diferentes formas. Os sentidos, que nos
apresentam um mundo mltiplo e em mudana, so falhos (BURNET, 1952, p. 229).
Constatamos, no entanto, que, desde a poca de Parmnides at a poca de Plato, todos
os pensadores que fizeram um real progresso na filosofia abandonaram essa hiptese
monista (BURNET, 1952, p. 229-230). Em resposta aos eleatas surgiram as teorias
pluralistas da realidade, que atribuam as mudanas s combinaes de um nmero
imenso de corpos minsculos (BREHIER, 1928, p. 67).
Empdocles foi talvez o primeiro grande pensador a desenvolver um sistema
pluralista da Natureza e isso sugerido pelo prprio modo como, desde o comeo do seu
poema, busca marcar a diferena entre ele e os investigadores que o precederam.
Empdocles fala daqueles que, embora no tendo qualquer experincia parcial, se
vangloriavam de haver tudo descoberto. Sem dvida, ele se refere a Parmnides. Sua
atitude para com ele no era, no entanto, de ceticismo. Ele se propunha tentar
compreender as coisas tal como elas se apresentavam aos sentidos (BURNET, 1952, p.
257). Embora Empdocles lamentasse a compreenso extremamente limitada das coisas
que a maiorias dos homens alcanava pelos sentidos (fr. 1)
22
, ele prometia que uma
utilizao inteligente de toda evidncia sensorial juntamente com a sua prpria intuio,
haviam de esclarecer cada uma das coisas (fr. 3)
23
(KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
298-299), pois, por frgeis que eles fossem, eles eram os nicos canais pelos quais o
conhecimento podia penetrar em nosso esprito (BURNET, 1952, p. 258).
J se disse que o sistema de Empdocles constitui uma tentativa de conciliao
entre Parmnides e Herclito seria, contudo, mais correto caracteriz-lo como uma
conciliao entre o Eleatismo e o testemunho dos sentidos. Empdocles repete em parte
22
Fr. 1. Reduzidos so os poderes que se encontram espalhados pelo corpo e muitas so as mazelas que
nele se declaram e que embotam o pensamento.
23
Fr. 3. Vamos, oberva com todas as tuas faculdades como casa coisa clara, sem confiar mais na vista que
no ouvido, nem no ouvido ruidoso acima dos esclarecimentos da lngua, nem recuses crdito a nenhum
dos outros membros, por qualquer caminho h uma passagem para a compreenso, mas apreende cada
coisa por onde ela clara.
33
o argumento eleata ao afirmar a unidade real e a indestrutibilidade do Ser (fr. 12)
24
(BURNET, 1952, p.258). Ele ento se deve ter perguntado se essa suposio da perfeita
homogeneidade da Esfera seria realmente necessria. A sua resposta foi no. Se, no
lugar de um nico Ser esfrico, ns imaginarmos um nmero determinado de coisas
existentes, ento perfeitamente possvel atribuir a cada uma delas tudo aquilo que
Parmnides atribui realidade e, alm disso, as formas de existncia que ns
conhecemos poderiam ser explicadas pela reunio e pela separao dessas realidades.
Assim, as coisas particulares, tais como nossos sentidos nos informam, realmente
nasceriam e morreriam, mas se elas fossem observadas em seus elementos ltimos, ns
diramos com Parmnides que aquilo que incriado e indestrutvel (fr. 17)
25
(BURNET, 1952, p. 259).
As quatro razes de todas as coisas ( ) (fr. 6)
26
que Empdocles
enumerou se tornaram os quatro elementos () clssicos: Fogo (), Terra
(), gua () e Ar () (BURNET, 1952, p. 259). Empdocles deu tambm s
quatro razes os nomes de certas divindades: Zeus (), Hera (), Edoneu
() e Nestis (). Essa caracterizao divina como deuses se destinava,
provavelmente, tanto a indicar o que havia de vlido nas concepes tradicionais da
divindade quanto a reclamar para as quatro razes poderes e propriedades at ento
24
Fr. 12. Pois impossvel que algo nasa do que no existe, e inexeqvel e inaudito que o que existe
possa ser completamente destrudo, pois onde quer que algum o coloque, a, por certo, sempre se h de
encontrar.
25
Fr. 17. Uma dupla histria te vou contar: uma vez, elas [as razes] cresceram para serem uma s a partir
de muitas, de outra vez, separaram-se, de uma que eram, para serem muitas. Dupla a formao das
coisas mortais e dupla a sua destruio; pois uma gerada e destruda pela juno de todas as coisas, a
outra criada e desaparece, quando uma vez mais as coisas se separam. E estas coisas nunca param de
mudar continuamente, ora convergindo num todo graas ao Amor, ora separando-se de novo por ao do
dio da Discrdia. Assim, tal como elas aprenderam a tornar-se numa s a partir de muitas, e de novo,
quando uma se separa, geram muitas, assim elas nascem e a sua vida no estvel; mas, na medida em
que jamais cessam o seu contnuo intercmbio, assim existem sempre imutveis no ciclo (...). Uma vez, eles
cresceram para serem um nico, vindos de muitos, outra, dividiram-se para serem muito de um que eram
o fogo e a gua e a terra e altura imensa do ar, e a amaldioada Discrdia, deles separada, igual em todas
as direes, e o Amor no meio deles, igual em comprimento e largura. Esse, contempla-o tu em esprito e
no fiques de olhos esbugalhados: ele que se supe congnito mesmo com os membros dos mortais, ele
que o faz ter pensamento amigveis e executar atos pacficos, ao lhe darem o nome de Alegria e de
Afrodite. Mortal algum se d conta dele, quando por entre eles circula (...). Todos estes so iguais e da
mesma idade, mas cada um tem uma diferente prerrogativa e cada um o seu prprio carter, e cada um
prevalece vez, quando chega o seu momento prprio. E sem eles nada mais nasce nem cessa de existir.
Como que poderia, de fato, ser isso totalmente destrudo, se nada est vazio deles? Porquanto, s se eles
estivessem continuamente a perecer, no mais existiriam. E que poderia aumentar este todo? De onde
poderia ter vindo? No, s esses que existem, mas correndo uns atravs dos outros, se convertem em
coisas diferentes em diferentes ocasies e, contudo, so continuamente e sempre os mesmos.
26
Fr. 6. Escuta, em primeiro lugar, as quatro razes de todas as coisas: Zeus resplandecente, Hera dadora
da vida, Edoneu e Nestis, que com suas lgrimas inunda as fontes dos mortais.
34
indefinidas. Nestis claramente a gua, mas desde a Antiguidade havia dvidas quanto
aos outros trs. Teofrasto parece ter identificado Zeus com o fogo, Hera com o Ar e
Edoneu (ou seja, Hades) com a terra (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 300).
O fr. 17 nos fala de uma dupla histria primeiro as razes de muitas que eram
teriam crescido para serem uma; e depois de uma que se haviam tornado se teriam
separado para serem muitas. Esse processo se repeteria incessantemente: reunio das
razes os homens do o nome de nascimento e separao, o nome de morte (fr. 9)
27
.
Em razo dessa incessante alternncia entre unidade e pluralidade era que Empdocles
dizia que as razes eram imutveis (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 301). Alm de
imutveis, elas eram indestrutveis, uma vez que nada podia surgir do nada ou ser
reduzido ao nada (fr. 12) do que se segue que elas eram eternas (ou imortais). O Ser e
no h lugar para o seu nascimento ou destruio (fr. 8)
28
. Antes de tudo, os elementos
eram indivisveis. Todos os outros corpos podiam ser divididos at chegar aos elementos
fundamentais as razes (BURNET, 1952, p. 261). As quatro razes compreendiam
todas as qualidades do mundo sensvel. Em verdade, o que Empdocles fez foi tomar os
opostos de Anaximandro e declarar que eles eram as coisas a partir das quais toda a
realidade era constituda (BURNET, 1952, p. 262).
O criticismo dos eleatas havia levado os pensadores subseqentes ao dever de
explicar o movimento. Empdocles parte de um estado original em que as quatro razes
eram uma massa homognea e contnua (e aqui elas no diferem da Esfera de
Parmnides). O fato de a Esfera consistir numa mistura tornava a mudana e o
movimento possveis; mas se no houvesse nada de fora que pudesse nela entrar para
separar os quatro elementos, nada ento poderia nascer. Empdocles ento sups a
existncia de uma substncia dessa natureza e lhe deu o nome de dio. Mas o efeito do
dio seria o de separar completamente todos os elementos encerrados na Esfera e ento
nada poderia existir; faltava ento alguma outra coisa para aproxim-las novamente.
Empdocles chamou essa substncia de Amor e ele a tomou como idntica ao impulso
inato aos corpos humanos de se unirem (fr. 17) (BURNET, 1952, p. 263).
27
Fr. 9. E quando elas [as razes] se misturam na forma de um homem e vm para o ar (...), ento dizem
que isto nascer; mas quando elas se separam, chamam-lhe m sorte.
28
Fr. 8. De tudo quanto mortal, nada tem nascimento, nem qualquer fim na morte execrvel, mas apenas
mistura e troca das substncias misturadas a isto o que os homens chamam nascimento.
35
Depois de a Discrdia haver separado as razes, o Amor comea a uni-las de novo
(fr. 21)
29
(KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 311). Quando o Amor une completamente
as quatro razes em toda a sua extenso, estas do origem Esfera (KIRK; RAVEN;
SCHOFIELD, 1994, p. 309). O Amor e o dio de Empdocles no so foras imateriais,
pelo contrrio, so ainda elementos corpreos, assim como as quatro razes. poca de
Empdocles, essa concepo era inevitvel: no se tinha ainda sequer sonhado com a
existncia de algo imaterial (BURNET, 1952, p. 264). O Amor, em Empdocles algo que
vem do interior e produz uma atrao dos dessemelhantes e no se confunde com a
atrao entre semelhantes, que no um elemento distinto como os outros (BURNET,
1952, p. 265).
Uma vez os elementos separados pelo dio, o que determina a direo do seu
movimento? Empdocles parece no ter dado outra explicao alm de dizer que eles
corriam de diferentes direes de acordo com a sua vontade, ou seja, corriam ao
acaso (fr. 35)
30
(BURNET, 1952, p. 265). Com Empdocles, portanto, temos pela
primeira vez a utilizao do acaso como expediente para explicar a determinao do
mundo. Plato e Aristteles o criticaram por isso, mas Epicuro desenvolveu as suas
idias na teoria do movimento espontneo.
Com Empdocles temos a primeira aproximao das premissas eleatas com os
dados dos sentidos, o que resultou em uma teoria pluralista da realidade. Em lugar de
afirmar que toda a realidade era una e indivisvel, Empdocles sugeriu que apenas os
constituintes ltimos da realidade fossem unos e indivisveis. Assim, a mudana e o
movimento podiam ser explicados pela unio e pela separao desses constituintes
ltimos. Essa concepo influenciou diretamente Anaxgoras e Melisso e, indiretamente,
os atomistas Leucipo e Demcrito.
A oposio entre Parmnides e Empdocles teve sua reedio moderna com a
oposio entre Spinoza e Leibniz a primeira uma oposio ontolgica, a segunda uma
oposio metafsica. De um lado, a afirmao de que a realidade fsica una
(Parmnides) ou de que existe apenas uma nica Substncia primeira de infinitos
29
Fr. 21. Na Clera tudo de diferentes formas e est separado, mas no Amor todas as coisas se unem e se
desejam umas s outras. Delas procede tudo o que existiu, existe e existir no futuro.
30
Fr. 35. Assim que a Discrdia atingiu as mais baixas profundezas do redemoinho, e o Amor se encontra
no meio do vrtice, ento que todas as coisas se congregam para serem uma s, no de sbito, mas
reunindo-se a partir de diferentes direes, de acordo com a sua vontade. E medida que se misturavam,
brotavam incontveis tribos de coisas mortais (...). Ento logo se tornaram mortais as coisas que antes
haviam aprendido a serem imortais, e se misturaram, ao trocarem de vias, as que antes se no tinham
misturado.
36
atributos (Spinoza) e, do outro, a afirmao de que a realidade fsica mltipla
(Empdocles) ou de que existem infinitas Substncias primeiras de atributos nicos
(Leibniz).
3.2. As sementes de Anaxgoras
O sistema de Anaxgoras, como o de Empdocles, visava conciliar a doutrina
eleata (da substncia corprea imutvel) com a existncia de um mundo que
apresentava a aparncia do nascimento e da destruio. O fr. 1
31
mostra a reao de
Anaxgoras ao monismo eleata e a adoo da premissa pluralista de Empdocles (KIRK;
RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 377). Em vez de dizer, como Parmnides, que o Ser era um
todo nico ( , ), Anaxgoras sustentava, como Empdocles, que o Ser era ao
mesmo tempo todas as coisas ( ). Nada poderia ser adicionado ao
conjunto das coisas, pois no poderia existir nada mais do que o todo e o todo seria
sempre igual a si mesmo. Pela mesma razo, nada poderia ser destrudo. Aquilo que os
homens comumente chamavam de nascimento e de destruio no passavam na
realidade de unio e separao (fr. 17)
32
(BURNET, 1952, p. 300).
Anaxgoras, contudo, divergia de Empdocles quanto constituio da realidade.
Antes de Anaxgoras haviam existido duas formas principais de pluralismo: uma que,
como Anaximandro e Herclito, tinha, de um modo ou de outro, considerado o mundo
como um campo de batalha entre contrrios; e outra que, como Empdocles, havia
solidificado os contrrios em luta nos quatro elementos eternos e imutveis. Para
Anaxgoras, nenhuma dessas formas de pluralismo foi longe o suficiente. A mistura
original teria de conter no apenas os contrrios tradicionais ou os elementos de
Empdocles, mas tambm uma quantidade infinita de sementes ( ) (fr.
4)
33
. Enquanto Empdocles ensinava que o mundo era constitudo por quatro razes,
Anaxgoras, por sua vez, replicava que o mundo era constitudo por sementes infinitas.
31
Fr. 1. Estavam juntas todas as coisas, infinitas tanto na quantidade como na pequenez; pois infinito era
tambm o pequeno. E, estando todas juntas, nenhuma delas era evidente devido sua pequenez; porque o
ar e o ther, sendo ambos infinitos, tudo dominavam; que estes so os maiores ingredientes da mistura
de todas as coisas, tanto em quantidade como em grandeza.
32
Fr. 17. Os Gregos laboram num erro ao admitir o nascimento e a morte; pois coisa alguma se cria ou se
perde, mas tudo se une ou separa das coisas que existem. Por isso, andariam melhor em chamar ao criar-
se, unir-se, e, ao perder-se, separar-se. (Esse fragmento uma parfrase do fr. 9 de Empdocles).
33
Fr. 4. Mas antes de estas coisas se haverem separado, enquanto tudo estava junto, nem sequer havia
uma nica cor que se reconhecesse; pois o impedia a mistura de todas as coisas, do mido e do seco, do
37
Anaxgoras percebia (como todos os jnios) a diversidade infinita das coisas e, ao
mesmo tempo, a aparente irredutibilidade de uma coisa outra (BREHIER, 1928, p. 71).
Como o cabelo poderia vir do que no era cabelo? E a carne do que no era carne? (fr.
10)
34
. Foi a partir de questes como essas que Anaxgoras elaborou a sua hiptese de
que cada coisa est em cada coisa ( ) (fr. 11)
35
. Essa
indicao no deve ser compreendida como se ligando simplesmente unio original
das coisas antes da formao do mundo (fr. 1). Pelo contrrio, mesmo atualmente todas
as coisas estariam juntas e cada uma delas, por maiores ou menores que pudessem ser,
encerrariam em si um nmero igual de pores () (fr. 6)
36
(BURNET, 1952, p.
301). Por maior ou menor que algo fosse, ele continha exatamente o mesmo nmero de
pores, ou seja, uma poro de cada coisa (BURNET, 1952, p. 302). O termo
significa para Anaxgoras uma poro no sentido de quinho, mais do que no de
partcula (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 386-387). A caracterstica essencial de
uma tal poro parece ser a de que ela algo que, nem na teoria nem na prtica, se
pode jamais realmente alcanar e separar daquilo que o contm. Por mais que se
pudesse subdividir a matria e por mais infinitesimal que fosse uma poro dela que se
pudesse, assim, conseguir, Anaxgoras respondia sempre que, longe de ser irredutvel,
ela continha ainda um nmero infinito de pores (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
387). Para entender o que isso significava para Anaxgoras devemos analisar a sua
resposta s antinomias de Zeno quanto constituio da matria.
Anaxgoras construiu a sua teoria da matria a partir das antinomias de Zeno a
respeito da pluralidade (fr. 3 de Zeno). O fr. 5
37
de Anaxgoras foi provavelmente uma
resposta ao fr. 3 de Zeno. Nesse fragmento, Zeno havia inferido que a pluralidade
devia ser em nmero limitado. Seu argumento tinha por objetivo demonstrar que a
quente e do frio, do brilhante e do escuro, porquanto muito era a terra que havia na mistura e bem assim
uma quantidade infinita de sementes, que em nada se assemelhavam umas s outras. Pois, das demais
coisas, nenhum se assemelha outra. E uma vez que isto assim , foroso supor que todas as coisas esto
contidas no todo.
34
Fr. 10. Como que o cabelo podia vir do que no cabelo, ou a carne do que no carne?
35
Fr. 11. Em todas as coisas h uma poro de tudo, exceto Esprito; e h alguma em que tambm existe
Esprito.
36
Fr. 6. E visto as pores do grande e do pequeno serem iguais em nmero, assim tambm todas as coisas
estariam contidas em tudo. Nem possvel haver nada de isolado, mas todas as coisas tm uma parte no
todo. Como o mnimo no pode existir, nada se pode dividir nem formar por si, mas, tal como inicialmente,
tambm agora tem de estar tudo junto.
37
Fr. 5. E depois dessas coisas assim terem sido separadas, foroso que reconheamos que todas elas
no so nem mais nem menos; pois no possvel haver mais do que todas, mas que todas as coisas so
sempre iguais.
38
noo da divisibilidade infinita era paradoxal se uma coisa fosse divisvel em um
nmero infinito de partes, cada uma delas com uma grandeza positiva, ento deveria ser
infinitamente grande. Anaxgoras, ao acreditar que a realidade constava de um nmero
infinito de coisas (fr. 1), rejeitou essa inferncia. O fato de no haver nem mais nem
menos coisas do que as que j existem no era suficiente para concluir que o seu nmero
fosse finito. Essa afirmao sugere que Anaxgoras possua uma viso mais clara do que
Zeno acerca da natureza do infinito (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 381). A
mesma idia est contida no fr. 3
38
de Anaxgoras. Nele Anaxgoras demonstra no
haver qualquer paradoxo na noo de divisibilidade infinita. A matria, apesar de
infinitamente divisvel, encontrava-se coagulada desde o princpio em partculas de
semente () (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 387). Cada semente possua
uma poro de tudo.
Uma antiga opinio representava a teoria de Anaxgoras como se ela dissesse que
o trigo, por exemplo, continha as partculas de cabelo, de sangue, de osso etc
39
. Mas
sabemos que a matria divisvel ao infinito (fr. 3) e que, no entanto, existe o mesmo
nmero de pores tanto no maior quanto no menor (fr. 6). Isso fatal para a antiga
opinio. Por maior que seja a diviso, no chegaremos nunca a uma coisa no
misturada; no pode, portanto, haver nela nenhuma partcula pequena de qualquer
espcie definida (BURNET, 1952, p. 302) o que existe a poro, a mistura e no o
cabelo, o osso etc. O que existe o todo e no as suas partes. No fr. 8
40
, ao dar
exemplos de coisas que no estavam separadas a golpes de machado Anaxgoras se
refere ao calor e ao frio; e em outros lugares (fr. 4) feita meno a outros opostos
tradicionais (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 389-390). desses opostos, portanto, e
no das diversas formas particulares da matria (como o trigo, a carne, o cabelo etc.), de
que cada semente contm uma poro. Cada semente, por maior ou menor que ela fosse,
conteria todas essas qualidades opostas. Aquilo que quente seria tambm, em certa
medida, frio. A influncia de Herclito evidente (BURNET, 1952, p. 303)
38
Fr. 3. Nem existe uma mais pequena parte do que pequeno, mas h sempre uma parte menor (visto ser
impossvel que o que deixe de o ser). Semelhantemente, h sempre algo maior do que aquilo que
grande. E igual em nmero ao que pequeno, sendo cada coisa, em relao a si mesma, simultaneamente
grande e pequena.
39
Era a chamada teoria da fuso, defendida, e.g., por Bailey (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 387).
40
Fr. 8. As coisas existentes num s mundo no esto separadas umas das outras, nem cortadas a
machado, nem o quente do frio, nem o frio do quente.
39
A diferena, portanto, entre a teoria de Anaxgoras e a de Empdocles est em
que Empdocles ensinava que se as coisas que constituem a realidade fossem divididas,
em um dado momento se chegaria a quatro razes ou elementos indivisveis, os quais
seriam por conseqncia os constituintes ltimos da realidade. Anaxgoras, pelo
contrrio, sustentava que, por mais que se dividissem as coisas nunca se encontraria
algo indivisvel e que, por isso, nunca se chegaria a uma parte to pequena que no
pudesse ser dividida ou que no contivesse as pores de todos os opostos. As
sementes de cada forma da matria conteriam uma poro de cada coisa, ou seja, de
todos os opostos, embora em diferentes propores. As sementes eram para Anaxgoras
o que as razes eram para Empdocles
41
(BURNET, 1952, p. 303-304).
Uma das exigncias de Parmnides com a qual Anaxgoras teve de se submeter
foi a de que o movimento no se devia dar simplesmente como suposto, mas antes devia
ser explicado (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 384). Assim como Empdocles,
tambm Anaxgoras sentiu a necessidade de alguma causa externa que causasse o
movimento na mistura de sementes (). Contudo, em vez do Amor e do dio
de Empdocles, Anaxgoras sups a existncia de uma nica fora motriz, o Esprito
() (BURNET, 1952, p. 307). Anaxgoras fala de Esprito () e no de Alma
(), talvez de modo a sugerir uma inteno ou uma inteligncia na Phsis. Assim
como o Amor e o dio, o Esprito era a mais sutil de todas as coisas e podia, por isso,
penetrar em todas elas. Alm disso, era tambm a mais pura (ou seja, no participava da
mistura e no continha, como as outras coisas, uma poro de tudo) e, em razo dessa
pureza, o Esprito tinha poder sobre todas as coisas, colocando-as em ordem e em
movimento (fr. 12)
42
. Anaxgoras aqui est se esforando (como o haviam feito vrios
dos seus antecessores) para imaginar e descrever uma entidade incorprea (KIRK;
RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 384). Contudo, para Anaxgoras (assim como para os que
vieram antes dele) o nico critrio da realidade continuava sendo a extenso no espao
41
A tradio aristotlica viria a chamar as razes () de elementos () e as sementes
() de homeomerias (), de modo a descrever as teorias de Empdocles e de
Anaxgoras conforme os conceitos de Aristteles.
42
Fr. 12. Todas as outras coisas tm uma poro de tudo, mas o Esprito infinito e autnomo e no se
mistura com o que quer que seja, mas existe sozinho (...). que o Esprito a mais sutil e a mais pura de
todas as coisas e possui um conhecimento total de tudo e o maior poder. o Esprito que dirige tudo o que
tem vida (...) Foi o Esprito que tambm teve poder sobre toda a revoluo, de tal modo que foi ele que, no
incio, lhe deu o impulso (...) E tudo o que estava para ser (...) a tudo o Esprito ps em ordem, bem como a
esta revoluo que agora executam os astros (...) E foi esta revoluo a causa de se haverem separado (...)
Nenhuma coisa se separa ou distingue completamente exceto o Esprito. O Esprito todo igual, quer se
trate das maiores ou das menores quantidades dele, ao passo que nenhuma outra coisa igual a qualquer
outra, mas cada simples corpo e era mais claramente aquilo de que possua maior quantidade.
40
e o Esprito no era ainda concebido por Anaxgoras como tendo uma existncia extra-
espacial continuava, portanto, sendo ainda algo corpreo (BURNET, 1952, p. 309).
questo levantada por Zeno acerca da divisibilidade da matria, Anaxgoras
forneceu a primeira das duas respostas possveis: a matria infinitamente divisvel.
Com base nela, os atomistas forneceram a segunda resposta: a matria composta por
unidades indivisveis. Ao desafio de Parmnides, Anaxgoras respondeu com o conceito
(ainda corpreo) de Esprito e os atomistas, influenciados por Anaxgoras, com o
conceito de vazio (substncia imaterial).
4. A rplica eleata
Melisso se opunha aos jnicos e aos pluralistas e em especial a Anaxgoras.
Contra os jnicos, ele afirmava que o ponto fraco de suas teorias estava na suposio
(que todas elas faziam) de certa falta de homogeneidade do Um, o que, para Melisso,
constitua uma flagrante incoerncia. Alm disso, todas elas admitiam a possibilidade da
mudana; mas se todas as coisas so uma, a mudana seria uma forma de gerao ex
nihilo e de destruio ad nihilo (BURNET, 1952, p. 374). Se se admite que uma coisa
possa mudar, ento no se pode sustentar que ela seja eterna. O arranjamento das
partes da realidade no podia ser algo mutvel, como Anaximandro e Anaxmenes
haviam acreditado. O movimento, em geral, e a rarefao e a condensao, em particular,
seriam impossveis, pois ambas implicavam a existncia do espao vazio. A divisibilidade
do Ser era excluda pela mesma razo (BURNET, 1952, p. 375).
Em oposio aos jnios que Melisso escreve o seu livro com a pretenso de,
partindo de uma nica proposio verdadeira, derivar todas as suas conseqncias
necessrias. Essa proposio era aquela expressa por Parmnides: o Ser . A partir dela,
Melisso propunha a demonstrao rigorosa das suas propriedades. Ele comeava o seu
tratado sobre as propriedades do Ser demonstrando que, se algo existe, ento incriado
(fr. 1)
43
. Para Melisso, como para Parmnides, a realidade era eterna, pois ela no
poderia ter nascido do no-Ser (BURNET, 1952, p. 372). Parmnides, contudo, havia dito
que o Ser no foi nem ser, mas que num eterno presente. Melisso rejeitou essa
43
Fr. 1. Sempre era o que era e sempre h de ser. Pois se se gerou, necessrio que nada fosse antes de se
ter gerado. Ora, se nada era, de modo algum podia o que quer que fosse nascer do nada.
41
concluso e admitiu o passado e o futuro como instantes reais da existncia eterna do
Ser (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 414).
Outro ponto de discordncia entre Melisso e Parmnides reside nas suas
concepes dos limites espaciais do Ser. Enquanto Parmnides defendia a tese de que o
Ser, por conta de sua perfeio, era espacialmente limitado (e constitua uma Esfera),
Melisso concluiu da premissa da existncia do Ser que se algo no tem princpio nem
fim, ento no pode ser limitado nem no tempo nem no espao (fr. 2)
44
. Sua
argumentao parece consistir na observao de que, se o Ser no nasce nem morre, se
no tem comeo nem fim, ento no pode ter uma primeira ou uma ltima parte e, por
conseqncia no pode ser limitado em extenso (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
415). Alm disso, Melisso percebeu que no se podia imaginar uma esfera finita sem ao
mesmo tempo imagin-la envolta pelo espao vazio infinito; se a realidade fosse
limitada, ento ela seria circundada pelo vazio; mas como, de acordo com o resto da
escola eleata, o vazio no tinha existncia (era o No-Ser), Melisso ento se viu forado a
dizer que a realidade era infinita no espao (fr. 3)
45
. Isso constitui um progresso sobre
Parmnides (BURNET, 1952, p. 373-374) e tornou a teoria eleata mais compreensvel.
Assim como da existncia do Ser decorre necessariamente que ele eterno e
infinito, assim tambm, e isso Melisso o demonstra no fr. 6
46
, por ser infinito decorre
necessariamente que ele uno (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 416). Sendo uno,
deve ser tambm absolutamente homogneo. Alm disso, por ser eterno e homogneo o
Ser tambm imutvel e, por ser imutvel imvel (fr. 7)
47
. A realidade ento um
44
Fr. 2. Visto, pois, no ter sido gerado, mas , sempre foi e sempre h de ser, e no tem princpio nem fim,
mas ilimitado. que, se tivesse nascido, teria tido um comeo (pois teria, em determinada altura,
comeado a existir) e um fim (pois teria, em determinada altura, deixado de existir). Mas como no teve
comeo nem fim, sempre foi e sempre ser e no tem princpio nem fim; pois o que no todo no pode
ser sempre.
45
Fr. 3. Mas, assim como sempre, assim tambm deve ser sempre ilimitado em grandeza.
46
Fr. 6. Pois se fosse <infinito>, seria uno; que se fosse dois, os dois no poderiam ser infinitos, mas
limitar-se-iam mutuamente.
47
Fr. 7. Assim, pois, ele eterno e ilimitado e uno e todo semelhante. E nada poder perder, nem tornar-se
maior, nem reordenar-se, nem sente dor ou angstia; pois, se qualquer destas coisas o afetasse, deixaria
de ser uno. que, se se altera, fora que o que no fosse semelhante, mas o que era antes perea e o
que no chegue a ser (...). E visto nada ser acresentado ou destrudo ou alterado, como que poderia ser
reordenada uma coisa que ? (...) Nem sequer sente dor, j que no seria inteira, se tivesse dores,
porquanto uma coisa que sofre de dores no podia ser sempre (...). E nada disso est vazio, pois o que est
vazio nada. Ora, o que nada no podia realmente existir. Nem se move, pois no se pode de modo
algum deslocar, mas est cheio. que se houvesse uma tal coisa assim vazia, havia de se deslocar para o
que est vazio; mas como no existe tal coisa assim vazia, no tem para onde se deslocar (...). Se algo se
desloca ou se acomoda, no est cheio; mas se no se desloca nem se acomoda, est cheio. Portanto, fora
que esteja cheio, se no est vazio. Ora, se est cheio, no se move.
42
plenum corpreo, simples e homogneo, que se estende pelo espao e pelo tempo
infinitos (BURNET, 1952, p. 374).
No fr. 8
48
, Melisso se ope ao pluralismo e, em especial a Anaxgoras (que havia
admitido que as nossas percepes eram insuficientes para verificar a sua teoria da
divisibilidade infinita, o que se devia sua intrnseca fragilidade). Melisso buscou
demonstrar que, uma vez deixados de lado os sentidos como as testemunhas ltimas da
realidade, no se poderia de nenhuma forma rejeitar a teoria eleata. A afirmao de
Anaxgoras de que as coisas so uma pluralidade, implica dizer tambm que cada uma
delas constituda da mesma maneira que o Um dos eleatas. Em outros termos, o nico
pluralismo possvel de ser sustentado, conclui Melisso, a teoria atmica (BURNET,
1952, p. 377). Essa concluso, projetada por Melisso como uma reductio ad absurdum da
crena na pluralidade das coisas, foi aceita pelos atomistas, que a converteram numa
outra tese fundamental do seu sistema (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 422).
A importncia de Melisso no consiste na originalidade de concepes
metafsicas ou na exposio de paradoxos, mas na sua clara deduo das propriedades
do Ser. Com o seu trabalho, Melisso faz do eleatismo um verdadeiro sistema e foi sua
verso da doutrina de Parmnides a que os atomistas responderam e que deu forma
apresentao que dela fizeram Plato e Aristteles (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
423). Alm disso, ele foi o primeiro a ver (antes mesmo dos pluralistas, como
Empdocles e Anaxgoras) que a nica via segundo a qual se poderia elaborar sem
contradio uma teoria pluralista da realidade seria a do atomismo (BURNET, 1952, p.
377).
5. O atomismo
48
Fr. 8. Se houvesse uma pluralidade, as coisas teriam de ser da mesma espcie da que eu afirmo ser a do
uno (...). Se isto assim, e se a nossa vista e ouvido no nos enganam, fora que cada uma destas coisas
seja tal como ns antes declaramos, e no podem mudar-se ou alterar-se, mas cada uma deve ser sempre
precisamente como . Mas, na realidade, ns dizemos que vemos e ouvimos e compreendemos
corretamente, e alm disso acreditamos que o que est quente arrefece, e o que est frio aquece; que o que
duro amolece, e o que mole endurece; que o que vive morre, e que as coisas nascem do que no tem
vida; e que todas as coisas se transformam, e o que elas eram e o que agora so no tm entre si qualquer
semelhana (...). Ora estas coisas no concordam umas com as outras (...). evidente, pois, que, no fim das
contas, no vemos vem, nem temos razo, quando acreditamos que todas estas coisas so muitas. No se
transformariam, se fossem reais, mas cada coisa seria precisamente o que ns acreditamos que (...). Mas
se se transformou, o que pereceu e o que no nasceu.
43
No seu fr. 3, Zeno havia inferido que a pluralidade devia ser em nmero
limitado. Se uma coisa fosse divisvel em um nmero infinito de partes, cada uma delas
com uma grandeza positiva, ento deveria ser infinitamente grande o seu argumento
tinha por objetivo demonstrar que a noo da divisibilidade infinita era paradoxal.
Melisso fez uso do mesmo argumento contra Anaxgoras e mostrou tambm, por via da
reductio ad absurdum, que se fosse o caso de existirem vrias coisas, ento cada uma
delas deveria ser tal como os eleatas sustentavam ser o Um.
Havia duas respostas antinomia de Zeno: aceitar a divisibilidade como sendo
infinita ou faz-la cessar em algo indivisvel. Anaxgoras adotou a primeira e foi refutado
por Melisso. A segunda foi adotada pelos atomistas (como Leucipo e Demcrito), os
quais, conseqentemente, postularam, como princpio fundamental da sua fsica, que a
realidade se compunha de corpos indivisveis: os tomos (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD,
1994, p. 381). Mais que isso, os atomistas aceitaram a observao de Melisso e
atriburam a cada um dos tomos aos quais chegaram os mesmos predicados do Um
eleata (BURNET, 1952, p. 386). A concluso atomista alcanada pelo seguinte
raciocnio: (1) Hiptese: Os corpos so divisveis em um nmero infinito de partes; (2)
Suponha que o corpo simultaneamente dividido em um nmero infinito de partes; (3)
As partes resultantes no podem ter qualquer extenso, pois se tiverem, significa que o
corpo no foi ainda dividido em um nmero infinito de partes; (4) As partes inextensas
resultantes ou so pontos ou no so nada; (5) Se o corpo pode ser dividido em partes
inextensas, significa que ele pode ser recomposto a partir de pontos inextensos ou do
nada absoluto mas isso impossvel; (6) Portanto, a hiptese (1) no se sustenta: um
corpo no pode ser dividido em um nmero infinito de partes; (7) Portanto, os corpos
no so divisveis em um nmero infinito de partes, logo a tese atomista deve ser
verdadeira (SEDLEY, 2006, p. 267).
Os tomos eram concebidos como sendo substncias pequenas a ponto de serem
invisveis. Eles eram infinitos em nmero e em formato e se encontravam dispersos pelo
vazio infinito (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 438). O tomo para Leucipo no era
matematicamente indivisvel, pois ele possua uma grandeza era, no entanto,
fisicamente indivisvel, pois estava envolto no espao vazio. Todo tomo era dotado de
extenso e todos os tomos eram exatamente iguais em substncia. As diferenas que as
coisas apresentavam deviam ser explicadas ou pela forma dos tomos ou pelo seu
arranjamento. As diferenas de forma, de ordem e de posio tinham por finalidade
44
explicar as oposies, considerando (tal como Anaxgoras) os elementos como
agregados de tomos () (BURNET, 1952, p. 387). Os atomistas foram os
primeiros a introduzir o conceito de forma ou idia () na Filosofia mas tarde
Plato o utilizou para descrever as essncias () (BREHIER, 1928, p. 78).
Leucipo afirmou a existncia ao mesmo tempo do Cheio ( ) e do Vazio (
) (conceitos provenientes de Melisso). Segundo Melisso, o movimento somente
seria possvel se fosse admitida a existncia do espao vazio (e o vazio, para os eleatas,
era o mesmo que o nada absoluto). Do vazio, no entanto, apesar de identificado com o
que no , Leucipo admitiu a existncia o argumento no qual ele se baseou talvez fosse
o de que quando um lugar no est ocupado por o que quer que seja, na medida em que
o ocupante (no caso, o vazio) nada, no existe ( ), mas na medida em que
ocupa um lugar, existe. O vazio no espao ou lugar, mas uma entidade misteriosa,
a negao da substncia corprea (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 439). Haveria
algo que existiria sem ter corpo esse algo era o vazio, que, para Leucipo, no se devia
confundir com o nada. Aqui Leucipo d um grande passo na Filosofia ele expande o
significado do ser. At ento o verbo ser era empregado pelos filsofos apenas com
referncia aos corpos. Com Leucipo, a existncia transcende pela primeira vez a
materialidade e ele exprime essa descoberta afirmando que o vazio existe (BURNET,
1952, p. 388). passa a exprimir o ser imaterial, o ser que no corpo, em
oposio a , o ser que corpo. Ambos ( incorpreo e corpreo)
existem () em oposio ao no-ser ( ), que no existe ( ) trata-se da
primeira ampliao do sentido do ser.
Leucipo representava os tomos como tendo estado sempre em movimento
(BURNET, 1952, p. 391), Ele no julgava necessrio, como Empdocles e Anaxgoras,
supor a existncia de uma fora que desse nascimento ao movimento bastava-se com a
mecnica corpuscular, em que os nicos agentes eram as propriedades da figura, da
impenetrabilidade e da posio dos corpos (BREHIER, 1928, p. 79). Tanto Empdocles
quanto Anaxgoras partiam de um estado da matria em que as razes ou as
sementes estavam misturadas de modo a formarem uma unidade e lhes faltava por
conseqncia alguma coisa que rompesse essa unidade (BURNET, 1952, p. 392-393).
Leucipo, que parte de um nmero infinito de Uns parmenidianos, no tinha
necessidade de nenhum agente exterior para separ-los. O que ele tinha a fazer era
45
justamente o contrrio: retornar velha e natural idia de que o movimento no
necessitava de qualquer explicao (BURNET, 1952, p. 393).
Partindo dos princpios atomistas, Demcrito desenvolveu alguns conceitos
importantes para o mecanicismo no que respeita a constituio da alma e do processo
volitivo:
1) A concepo da alma como um conjunto especfico de tomos ligado a outro
conjunto (o corpo) (VLASTOS, 1946, P. 63). Demcrito acreditava que a alma consistia
em tomos esfricos espalhados pelo corpo e, provavelmente, considerava o esprito
como uma concentrao de tomos-alma. Dessa forma, o pensamento era visto como um
processo anlogo sensao, ocorrendo quando os tomos-alma eram postos em
movimento pela coliso com tomos congruentes vindos do exterior (KIRK; RAVEN;
SCHOFIELD, 1994, p. 453). Essa concepo sugere que a alma e o corpo so constitudos
da mesma substncia e que ambos podem ser explicados pelas qualidades intrnsecas
dos seus constituintes ltimos (os tomos). O atomismo oferece assim as bases para as
explicaes mecanicista da relao alma-corpo
49
.
2) O bem estar, ou seja, o estado moral e fsico de alegria da alma como o
principal determinante da conduta humana e, por conseqncia, o prazer (ou seja, a
aparncia de bem-estar) como a sua principal motivao (VLASTOS, 1946, P. 63). Com
esses conceitos, os atomistas construram o primeiro sistema hedonista da tica, que
influenciou desde Epicuro at Spencer, servindo ainda como o precursor do conceito
behaviorista de impulso.
Parte II A descoberta do Eu
49
E aqui devemos lembrar que a relao alma-corpo somente veio a ser plenamente formulada com
Plato; e que somente se tornou um problema com Descartes. O atomismo, portanto, no forneceu (nem
poderia fornecer) uma resposta direta questo o que no impediu que outros pensadores (como
Epicuro, nos tempos antigos, ou Hobbes, nos tempos modernos) utilizassem seus princpios com essa
finalidade.
46
1. O Eu a partir da Substncia
1.1. Racionalismo
1.1.1. Plato e a imaterialidade da alma
O segundo movimento comea com Plato dele o mrito de haver descoberto
a alma (ou o esprito) tal como ns hoje a entendemos. At Plato, aquilo que
animava os seres era visto como uma substncia corprea: como um sopro () ou
como o ar () ou como fogo (). Ainda que no caso de Herclito a identificao com
o fogo pudesse ser vista como uma metfora ainda assim, para Herclito, a alma no
era mais do que uma substncia corprea que se comportava ou possua caractersticas
comuns do fogo.
Essas antigas teorias gregas sobre a alma derivavam do sentido eminentemente
materialista que impregnava o conceito de ser. Para um grego, o ser ( ) era
sinnimo de ser corpreo e a incorporeidade era sinnimo de nada, de no ser (
). Foi aos atomistas, particularmente a Leucipo, que ocorreu imaginar algo que
existisse, mas no possusse extenso, no fosse corpreo. A esse algo que existia
incorporeamente Leucipo deu o nome de no-ser ( ) e o distinguiu do nada
absoluto ( ). Assim, opondo, de um lado, aquilo que existe tanto corprea quanto
incorporeamente quilo que, de outro lado, no existe em absoluto, Leucipo conseguiu
resolver os paradoxos do movimento, que desde Parmnides intrigaram os gregos.
Contudo, para os atomistas, a alma continuou sendo uma substncia corprea.
com Plato que a alma perde a sua corporeidade e se torna uma substncia
imaterial. Plato se apropriou das distines de Leucipo e as aplicou sua Teoria das
Idias a fim de explicar a independncia do Mundo das Idias em relao ao Mundo dos
Sentidos. Os sentidos apenas apreendem o mltiplo, o corruptvel, o corpreo mas a
alma () apreende o Um, o Eterno, o Imaterial. E por essa sua ligao com as Idias
que Plato atribui alma as mesmas caractersticas das Idias a alma passa ento a ser
Una, Eterna e Imaterial.
Timeu se pergunta: em que consiste aquilo que existe sempre, sem nunca ter
nascido? Em que consiste aquilo que sempre vem a ser e no jamais? (PLATO, 1969,
p. 410). O primeiro, Timeu identifica com aquilo que se apreende pelo pensamento com
ajuda do raciocnio, pois sempre o mesmo; o segundo, com a opinio acompanhada da
47
sensao irracional, pois nasce e morre, sem jamais existir realmente. Tudo aquilo que
se apreende pelos sentidos tem um comeo e uma causa e tudo aquilo que tem comeo
e causa mortal. Mas qual a causa daquilo que mortal? Plato percebe as duas nicas
respostas: ou as causas so infinitas; ou existe algo que causa de si mesmo e que,
assim, causa de todo o resto.
Aquilo que se move a si mesmo tem a si mesmo por causa logo, eterno e
imortal. O que move uma coisa, mas por outra movida, anula-se uma vez terminado o
movimento. Somente o que a si mesmo se move, nunca saindo de si, jamais cessar de
mover-se; e , para as demais coisas movidas, fonte e incio de movimento. Tudo o que
se forma, forma-se de um princpio mas esse princpio de nada provm, pois se de algo
proviesse no seria princpio. Sendo o princpio coisa que no se formou, segue-se que
tambm algo que no pode ser destrudo (PLATO, 2003B, p. 81). Se no pode ser
destrudo, imortal. Cada corpo movido de fora inanimado, mas o corpo movido de
dentro animado, pois que o movimento da natureza da alma. Se aquilo que a si
mesmo se move no outra coisa seno a alma, necessariamente a alma ser algo que
no se formou e , portanto, imortal (PLATO, 2003B, p. 82). Se a alma imortal, ela
no pode ser corrompida e se no pode ser corrompida, eterna. Ora, o que eterno e
imortal no est sujeito ao devir; logo, no sensvel e em no sendo sensvel
incorpreo, imaterial.
A respeito da alma, nA Repblica (PLATO, 2002, p. 109), Plato distingue trs
classes fundamentais de fenmenos psquicos, compreendendo, cada uma, atividades
psquicas particulares: a concupiscvel ( ), a irascvel ( ) e a
racional ( ). A essas trs partes da alma correspondem trs partes do corpo,
que servem de assento quelas: a parte racional reside na cabea; a irascvel no corao;
e a concupiscncia no ventre. A primeira separvel do corpo e corresponde parte
imortal da alma; as outras duas esto ligadas ao corpo e sua existncia. A racionalidade
surge como propriedade exclusiva da alma humana, que compartilha com os animais a
irascibilidade e com os animais e as plantas a concupiscncia (BRENTANO, 1944, p.
185).
Plato constri dessa forma uma teoria da conduta humana sem o auxlio de
conceitos motivacionais, ou seja, conceitos de foras inconscientes e irracionais. A causa
disso clara: tal conceito no era necessrio, pois o homem era visto como um agente
efetivamente racional, livre para fazer o que quisesse (BOLLES, 1969, p. 22). Essa viso
48
racionalista, aberta por Scrates e consolidada por Plato, ser plenamente
desenvolvida por Aristteles, influenciando todo o pensamento Ocidental.
1.1.2. Aristteles e o racionalismo da vontade
Embora se possa dizer que uma teoria racionalista da vontade j existisse em
Plato, somente com Aristteles que ela plenamente desenvolvida. no seu tratado
sobre alma ( De Anima, na traduo latina) que Aristteles desenvolve a
sua teoria racionalista.
Ele inicia obervando que, entre as substncias, os corpos parecem ser as
principais, pois eles so o princpio para todas as outras. Se entendermos por vida, diz-
nos Aristteles, a capacidade de algo se nutrir, crescer e decrescer, ento, entre os
corpos, teremos que alguns tm vida e outros no do que se segue que toda substncia
que tem vida uma substncia composta (ARISTTELES, 1962, p. 49). Mas, desde que se
trata sempre de um corpo que tem ou no vida, no pode o corpo, por si prprio, ser a
origem da vida o corpo aquilo a que se atribui a vida e no a vida que se lhe
atribuda. Assim, deve haver uma substncia que seja a origem da vida e que no seja um
corpo e essa substncia a alma (ARISTTELES, 1962, p. 50). A alma, no entanto, no
uma substncia no mesmo sentido quando dizemos que um corpo uma substncia
pois ser substncia ser em ato, mas a vida somente existe em potncia nos corpos. A
alma, portanto, uma substncia na medida em que a atualizao do corpo ou seja,
o corpo atualizado. De acordo com a teoria hilemrfica, o corpo seria a matria
(substncia determinada) e a alma seria a forma (substncia determinante).
Aquilo que em si tem alma difere daquilo no a tem, na medida em que do
primeiro se diz ser vivo. Mas viver tem muitos significados: pode-se referir a pensar
ou perceber ou descansar ou se mover ou se nutrir. assim que pensamos nas
plantas como seres viventes, pois elas possuem em si mesmas um poder pelo qual elas
se nutrem e crescem (ARISTTELES, 1962, p. 56). Esse poder de autonutrio pode ser
isolado dos demais poderes mencionados, mas estes, por sua vez, no podem ser
separados da autonutrio. O poder de autonutrio o poder original, a partir do qual
podemos falar de coisas como viventes; mas somente a sensao que nos permite falar
de seres viventes como animais (ARISTTELES, 1962, p. 57). A alma a origem de todos
esses fenmenos. Contudo, h um poder que se atribui alma, mas do qual no existe
49
qualquer evidncia corprea: o poder de pensar. Esse poder parece ser de um tipo
radicalmente diferente dos outros, tal como o que eterno difere do que perece
somente ele capaz de existir isolado de todos os outros poderes fsicos (ARISTTELES,
1962, p. 59).
Franz Brentano oferece duas classificaes para esses trs poderes da alma: (1)
de um lado as atividades psquicas ligadas ao corpo e do outro as atividades incorpreas
as primeiras pertencentes parte mortal da alma, e as outras parte imortal
(BRENTANO, 1944, p. 186); (2) segundo a sua difuso entre os seres vivos, as atividades
comuns a todos os animais e as atividades prprias do gnero humano. Essa diviso
tripartida: a alma vegetativa; a alma sensitiva; e a alma intelectual. A primeira, que
compreende a nutrio, o crescimento e a reproduo, comum a todos os seres
viventes, inclusive as plantas; a segunda, que compreende os sentidos, a imaginao e
outros fenmenos anlogos, especfica dos animais; a terceira, que compreende as
faculdades superiores do pensamento e da vontade, reservada exclusivamente aos
seres humanos (BRENTANO, 1944, p. 186).
Outra diviso proposta por Aristteles distingue os fenmenos psquicos em
pensamento () e apetite (). Por pensamento Aristteles compreende no
apenas as atividades mais altas do entendimento, tais como a abstrao, a formao de
juzos gerais e o raciocnio cientfico, mas tambm a percepo sensvel, a imaginao, a
memria e a experincia (BRENTANO, 1944, p. 187). O apetite o gnero do qual o
desejo e a paixo so espcies to logo um animal tenha sentidos (ainda que tenha
apenas um), sendo capaz de sentir o prazer e a dor, a ele so apresentados objetos
dolorosos e prazerosos; onde quer que esses objetos se apresentem, nasce o desejo, que
o apetite pelo que prazeroso (ARISTTELES, 1962, p. 62).
Investigando os atos da inteligncia, Aristteles concluiu que esses atos
consistiam em tornar as coisas inteligveis para o intelecto. A faculdade que percebe as
coisas que podem ser trazidas existncia atual pelo ser humano ele chamou de
inteligncia prtica; a faculdade que percebe os inteligveis de um modo pelo qual o ser
humano no pode traz-los existncia atual ele chamou de inteligncia terica; e a
faculdade pela qual aquilo que percebido pela inteligncia prtica trazido existncia
ele chamou de vontade e escolha (AL-FARABI, 1962, p. 123). A vontade e a escolha, diz-
nos Al-Farabi, interpretando o De Anima de Aristteles, so faculdades subordinadas com
atos subservientes. Entretanto, nem a vontade nem a escolha existem no homem para
50
atender qualquer finalidade sua elas existem para que o homem atinja a perfeio
intelectual (AL-FARABI, 1962, p. 124).
Robert Bolles, ao demarcar a histria das teorias psicolgicas do comportamento,
refere-se a esse perodo como a era racionalista. Nesta era racionalista (cuja influncia
ainda persiste), aquilo a que hoje chamamos de determinantes motivacionais do
comportamento tinha uma importncia muito pequena para a explicao do
comportamento humano. Uma vez que o intelecto era livre para decidir a respeito do
curso de ao do indivduo, a habilidade do ser humano de selecionar objetivos fazia de
sua escolha o determinante do curso subseqente do seu comportamento. Reconhecia-
se a existncia de movimentos forados, como aqueles produzidos pela emoo ou
pelas paixes animais, mas estes no eram considerados como atividades naturais do
ser humano (BOLLES, 1969, p. 22).
1.1.3. O impulso estico
Rejeitando o modelo de complexidade psquica proposta por Plato e por
Aristteles, no qual as foras psquicas racionais e irracionais lutavam entre si, os
esticos insistiram que toda motivao deveria ser analisada como uma forma de crena
(INWOOD, 2003, p. 259), ou seja, como uma forma de assentimento ou acordo racional
com uma impresso. Para o estoicismo, toda racionalidade era racionalidade teortica,
pois todas as faculdades racionais estavam ligadas sua funo cognitiva aquilo que se
chama racionalidade prtica era, em verdade, uma forma de irracionalidade teortica,
isto , de desconhecimento do estado de coisas.
Os esticos dividiam a filosofia em Lgica, Fsica e tica (BREHIER, 1928, p. 299).
A Lgica era a lgica formal, mas tambm inclua os problemas que constituem o que
hoje chamamos de Teoria do Conhecimento. A Fsica no se restringia fsica enquanto
estudo da matria, nem mesmo filosofia da natureza abrangia ambas e tambm a
metafsica e a teologia. A tica era muito mais o que um mero catlogo de normas
morais, consistia em uma verdadeira antropologia filosfica, com seus aspectos
psicolgicos, jurdicos e polticos (GARCIA VENTURINI, 1969, p. 1054).
Embora essas partes, por conta da diversidade de seus objetos, pudessem ter
certa autonomia, encontravam-se de tal forma ligadas que era impossvel para um
estico explicar o ser humano sem consider-lo sob esses trs pontos de vista
51
(BREHIER, 1928, p. 300). A teoria estica da motivao se baseava, portanto (1) em uma
epistemologia para explicar o modo pelo qual o ser humano apreende o mundo; (2) em
uma fsica para explicar a situao do agir humano dentro da natureza; (3) e em uma
psicologia para explicar a ao do ser humano sobre o mundo.
A epistemologia estica se baseia na doutrina das impresses. Uma impresso
() uma alterao da alma (), comumente (mas no necessariamente)
trazida ao agente por um objeto sensvel. Embora os animais irracionais tambm
recebam impresses, so apenas nos seres humanos adultos que as impresses so
racionais, ou seja, esto correlacionadas a uma nica proposio (), que , em
parte, constitutiva da identidade da impresso (INWOOD, 2003, p. 260). Enquanto os
animais e as crianas respondem diretamente s impresses tomando alguma ao
sugerida pelo seu contedo aparente (e.g.: fugir da impresso do perigo), os seres
humanos adultos (1) respondem ao status da impresso como um todo, buscando
estabelecer uma relao entre o seu contedo e o estado de coisas que ela pretende
representar; quando os seres humanos aceitam o contedo da impresso como uma
representao precisa do estado de coisas, diz-se que h um acordo ()
entre a impresso e a representao; (2) somente ento o contedo da impresso move
o agente. Apenas quando algum acorda, segundo a sua impresso, que algum perigo
iminente que ele foge ou prepara as suas defesas (INWOOD, 2003, p. 262); mas se ele
toma a impresso como uma representao inadequada do mundo, ento ele pode
suspender o seu assentimento e a impresso j no mais o pe em movimento.
As impresses para poderem funcionar como fontes de impulso () precisam
antes ser aceitas pelo agente como uma representao fiel (INWOOD, 2003, p. 65). So
dois os tipos de impresso: a impresso catalptica ( ) e a no-
catalptica. A primeira a impresso que vem de algo existente e que a representao
fiel da prpria coisa existente; a segunda ou vem de algo no-existente ou, se vem de
algo existente, no a sua representao fiel (INWOOD, 2003, p. 60). A impresso
catalptica, no entanto, embora seja uma representao fiel, no capaz de, por si
prpria, impulsionar o agente. Ela apenas se apresenta como a impresso mais vantajosa
a ser seguida, restando mente acordar ou no com ela (INWOOD, 2003, p. 60). Assim,
todo acordo supe a existncia de uma crena, ou seja, de um critrio de escolha entre as
impresses. Existem dois tipos principais de crena: a opinio (), um critrio
incerto e obscuro que no tem conscincia da verdadeira constituio da realidade; e o
52
conhecimento (), o critrio mais certo e claro de todos, que tem plena
conscincia da real constituio dos objetos. Para o estoicismo, portanto, a toda ao
corresponde uma cognio que a precede e a determina e, por isso, o agir bem
pressupe: 1) o conhecimento da constituio intrnseca dos objetos das impresses (ou
seja, a Fsica); 2) e o conhecimento de si mesmo (ou seja, a Psicologia).
O objetivo da vida humana, segundo o estoicismo, seria o de viver conforme a
natureza ( ) (INWOOD, 2003, 124). A fsica aparece ento
como o conhecimento dessa conformidade. Os esticos dividiam a fsica em vrios
assuntos. Uma classificao genrica os dividia em assuntos sobre: 1) o cosmos; 2) os
elementos; 3) e a investigao das causas. Outra classificao, mais especfica, os dividia
em assuntos sobre: 1) os corpos; 2) os princpios; 3) os elementos; 3) os deuses; 4) os
limites; 5) o lugar; 6) e o vazio (INWOOD, 2003, p. 125). Do que se percebe que a fsica
estica no se restringia ao campo da fsica moderna nem ao da filosofia da natureza,
abrangia tambm a metafsica e a teologia.
A idia fundamental da fsica estica a de que tudo que real tambm
corpreo. primeira vista, pode-se ter a impresso de que o estoicismo representa um
retorno s doutrinas pr-atmicas, mas essa impresso incorreta. Em primeiro lugar, o
real ( ) no estoicismo inclua, alm dos objetos corpreos, os objetos incorpreos
ou subsistentes ( ), como o vazio, o lugar, o tempo, e os objetos dizveis (
), como os significados. Em segundo lugar, o conceito de corporeidade do cosmos
no conotava o mundo corpreo de matria inerte que a filosofia do sculo XVIII
concebeu, mas sim um mundo vivo, animado e racional, que tinha como princpio
regulador () o ter () (INWOOD, 2003, p. 128-129).
Para os esticos, o princpio ativo e racional do cosmos era to corpreo quanto o
princpio passivo e material (INWOOD, 2003, p. 129) e por serem ambos os princpios
corpreos, o cosmos constitua uma unidade coesa e inseparvel (INWOOD, 2003, p.
132). A unidade do cosmos implica que tudo aquilo que existe seguido por alguma
coisa que, por necessidade, dele depende como causa; e tudo aquilo que existe tem
alguma coisa que o precede e qual est ligado como a uma causa. Trata-se do
determinismo estico, em que nada existe no universo sem que tenha havido uma
causa, pois nenhuma das coisas que agora existem, em razo da unidade do cosmos,
pode estar separada ou desconexa de todas as outras coisas que as precederam
(INWOOD, 2003, p. 139). Essa unidade era mantida pelo princpio ativo, cuja ao era
53
geralmente identificada com o destino ( ou fatum), isto , as causas
antecedentes, que Ccero caracterizava como as causas auxiliares e prximas (caus
adiuuantes et proxim) em oposio s causas completas e principais (caus perfect
et principales) (INWOOD, 2003, p. 138). O determinismo estico era minimizado por
essa distino entre as causas perfeitas e as causas antecedentes: as causas perfeitas
eram chamadas de causas sinticas () e se caracterizavam: (1) pela
necessidade do seu resultado; (2) pela coincidncia temporal com o seu resultado; e (3)
por ser vista como a fora (vis) ativa e interna das coisas que produz o seu efeito. Os
atos humanos de acordo ou aceitao requerem causas antecedentes na formao das
impresses sensveis, mas essas impresses no so as causas sinticas do acordo. O ato
de aceitao est sob o poder do agente, pois a causa sintica do acordo expressa a sua
natureza racional (INWOOD, 2003, p. 144-145).
A psicologia estica aponta como uma condio necessria (e em certos casos
suficiente) para a ao o impulso. Cada impulso um acordo e, dessa forma, um
movimento da alma (INWOOD, 2003, p. 265). A palavra impulso, tal como ela
utilizada pelos esticos, no deve ser compreendida como obsesso ou capricho
impulsos, na viso estica, so eventos psicolgicos que se transformam em aes
(INWOOD, 2003, p. 266). O impulso contm em si todos os requisitos da ao: no
apenas a ponderao das atitudes contrrias e favorveis, mas tambm a especificidade
suficiente para realizar a ao contemplada. Por essa razo, o impulso estico no se
confunde com a premissa maior do raciocnio prtico aristotlico o impulso a sntese
psicolgica das duas premissas (a maior e a menor); um evento que sintetiza a
descrio de um particular, determina o estado de coisas com a ponderao das atitudes
relacionadas e leva ao imediata. O impulso , em suma, a motivao psicolgica
causalmente suficiente e imediatamente anterior a um ato intencional (INWOOD, 2003,
p. 267).
A teoria estica da vontade, assim como a teoria de Epicuro, tenta conciliar uma
explicao determinista da realidade com uma explicao racionalista do esprito.
Porm, diferentemente de Epicuro, que atribui espontaneidade matria (o que permite
uma interpretao materialista e um desenvolvimento mecanicista de sua doutrina), os
esticos fazem residir a liberdade no maior bem do ser humano, que a razo (o que d
sua doutrina um carter racionalista). As propostas compatibilistas de Epicuro e do
estoicismo foram retomadas, com matizes neoplatnicos e aristotlicos, pelos
54
pensadores cristos da Idade Mdia para tentar explicar a contradio (aparente) entre
a vontade humana e a oniscincia divina.
1.2. Livre arbtrio
dito que o livre-arbtrio uma descoberta medieval e que as antigas teorias
sobre a natureza humana foram desenvolvidas na completa ausncia de tal faculdade.
Isso controverso, mas o que parece claro que Agostinho foi o primeiro grande filsofo
a dar uma explicao da vontade e do livre-arbtrio semelhante s explicaes
contemporneas e pode-se mesmo dizer que as discusses sobre a liberdade e o
determinismo derivam, em grande parte, da sua obra e da sua influncia.
Uma das mais importantes questes nessa rea era a relao entre a razo e as
paixes. So Paulo havia descrito como a carne tenta o esprito e como esprito se ope
carne. Eles esto em conflito entre si e voc no faz as coisas que voc quer. Agostinho
analisou esse fenmeno como uma falha da vontade no uma fraqueza da vontade, mas
um defeito inato da vontade, que tornava impossvel querer completa e inteiramente
de um modo que pudesse ser eficaz (MCGRADE, 2003, p. 223).
Embora o texto de So Paulo sugerisse que o esprito e a carne estivessem em
luta, os autores medievais tenderam a ver a relao entre a vontade e as paixes como
assimtrica, na medida em que apenas a vontade (voluntas) poderia produzir atos
voluntrios. Se as paixes conquistassem literalmente a vontade, da forma como So
Paulo sugeria, a ao resultante seria um ato involuntrio, pelo qual o agente no teria
qualquer responsabilidade (MCGRADE, 2003, p. 223).
A maioria dos autores medievais identificou a vontade com o apetite racional,
significando com isso que ela escolhia o que intelecto julgava ser o bem. No entanto, essa
concepo tornou o conflito entre a vontade e a paixo ainda mais confuso, uma vez que
assim as paixes pareciam impotentes para influenciar a vontade. Mas, claro, todos ns
sofremos tentaes tentaes estas fortes o suficiente para influenciar (por vezes
decisivamente) a nossa vontade. De onde elas viriam? Para salvar o racionalismo, a
carne passou a ser vista como um agente indireto, que atuava deturpando o modo como
a mente concebia uma situao (MCGRADE, 2003, p. 223). O racionalismo, contudo, no
foi unanimidade durante o perodo medieval e vrios pensadores propuseram respostas
55
alternativas. Essas discusses, apesar de intensas, nutriam certos acordos bsicos,
geralmente aceitos, a respeito da natureza humana:
(1) Os seres humanos tm uma alma, mas no so apenas alma so compostos
de alma e corpo;
(2) A alma humana imaterial e criada por Deus;
(3) A alma no existe antes do corpo a alma trazida por Deus ao corpo quando
o feto est suficientemente desenvolvido e, a partir da, a alma existe para sempre;
(MCGRADE, 2003, p. 208)
1.2.1. Na Patrstica
Duas convices eram de fundamental importncia para os autores medievais:
primeiro, que o ser humano era livre e, por isso, merecedor de reprovao e de louvor;
segundo, que o ser humano era imortal e, por isso, sujeito eterna felicidade ou ao
eterno sofrimento. Havia, no entanto, controvrsia em relao a como o livre arbtrio
poderia ser reconciliado com a divina providncia, com a graa e com a prescincia, de
um lado, e com a influncia determinante do intelecto, do outro. A questo central era
saber, nesse ltimo caso, como e em que extenso a vontade era determinada pelo
intelecto e suas foras (MCGRADE, 2003, p. 224)
O primeiro grande debate do cristianismo sobre a liberdade humana se deu em
torno do pelagianismo. O pelagianismo no foi propriamente um movimento histrico
definido. Seu nome deriva de Pelgio, um nativo da Britnia romana, nascido em 360 e
morto em 430. Ele atuou em Roma nos anos que precederam o ataque dos godos em
410. L Pelgio exortava os cristos a transcenderem a mediocridade moral dos tempos
de ento e a se manterem num padro exemplar de perfeio (KRETZMANN; STUMP,
2001, p. 51). Pelgio iniciou o primeiro grande debate sobre o livre-arbtrio. Das suas
obras, algumas ainda existem completas, outras apenas em fragmentos. Aquelas que ora
mais nos interessam pertenciam ao livro que dedicou ao estudo do Livre Arbtrio (De
Libero Arbitrio).
Pelgio distinguia trs faculdades: o poder (posse), o querer (velle) e o agir (esse).
O poder pertencia natureza (natura), o querer ao arbtrio (arbitrium) e o agir
conduta (affectu). O poder era faculdade exclusiva de Deus, que a utilizava para ajudar as
suas criaturas; o querer e o agir eram faculdades humanas, pois decorriam do arbtrio. A
56
possibilidade de o homem querer e fazer o bem dependia do poder de Deus. Por esse
motivo, o poder de Deus podia existir mesmo quando no existissem o querer e o agir
humanos, mas esses dois sem o poder de Deus no podiam existir. Embora o ser humano
no pudesse, por nenhum modo, no ser capaz de querer e de fazer o bem, ele, no
entanto, era livre para ter ou no uma boa vontade, para realizar ou no uma boa
conduta. Essa liberdade lhe era inerente, ainda que ele no a quisesse. Por exemplo: a
possibilidade de usar os olhos para ver no algo que dependa do arbtrio humano; por
outro lado, o bom ou mau uso dos olhos sim. A possibilidade de fazer, dizer ou pensar o
bem algo que depende exclusivamente dAquele que deu aos homens essa capacidade e
que os auxilia no seu uso; mas o fazer, o dizer ou o pensar algo que depende apenas do
ser humano, pois todas essas aes podem ser usadas tanto para o mal quanto para o
bem. A graa divina no podia de modo algum determinar absolutamente a conduta
humana. Deus no podia impor pela sua graa um comando aos homens apenas podia
ajud-los a alcanar mais facilmente pela graa o que lhes era exigido de todo modo
realizar pelo seu livre-arbtrio. A ajuda de Deus se dava pela doutrina e pela revelao,
abrindo o os olhos do corao humano, mostrando aos homens o futuro para que o
presente no os absorva, desmascarando as insdias do demnio etc.
Agostinho desenvolveu a sua doutrina do livre-arbtrio (e, em particular, das
relaes entre o livre-arbtrio e a graa) em oposio aos escritos de Pelgio.
(KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 130). Em De dono perseverantiae, Agostinho reduziu o
pelagianismo a trs graves erros: 1) pensar que Deus redime de acordo com o mrito
humano; 2) imaginar que algum ser humano capaz de ter uma vida sem pecados; 3)
supor que os descendentes dos primeiros seres humanos a pecar haviam nascido
inocentes (KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 52).
No livro que dedicou exclusivamente ao assunto (o De libero arbitrio), Agostinho
defendia que toda a bondade existente no ser humano, incluindo a bondade do arbtrio,
era um presente de Deus. Os seres humanos, conforme esse ponto de vista, seriam
incapazes de formar alguma volio boa sem que Deus a produzisse ou ao menos
ajudasse a produzi-la. No obstante, quando os seres humanos escolhiam pecar, segundo
Agostinho, eles eram culpveis. Por conseqncia, uma pessoa poderia ser moralmente
responsvel por um pecado do seu arbtrio mesmo quando no lhe fosse possvel no
querer pecar. Para Agostinho, sem o auxlio da graa ningum poderia fazer outra coisa
seno pecar, mas, mesmo assim, continuaria sendo moralmente responsvel pelos
57
pecados que cometesse. Contudo, no De libero arbtrio Agostinho sustentava tambm
que um ser humano cujo arbtrio fosse constrangido pela necessidade ou pela natureza
no seria culpvel. Assim, a vontade causalmente determinada no seria livre
(KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 131). Em sua controvrsia com os pelagianos, Agostinho
enfatizou no De libero arbitrio que os seres humanos sem a ajuda da graa no podiam
escolher outra coisa seno o pecado; no entanto, ele admitiu que Deus concedesse a sua
graa ao intelecto e vontade das pessoas que a desejassem. Pela sua graa Deus
comunicaria a sua Lei s pessoas para que elas soubessem o que deviam fazer e para
que, sabendo-o, pudessem pedir a Deus o auxlio para realiz-lo (KRETZMANN; STUMP,
2001, p. 132). A culpabilidade da pessoa residia exatamente na falta desse desejo de
buscar Deus e de pedir o auxlio da sua graa (KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 134).
A teoria de Agostinho parece reunir alguns elementos da doutrina estica, em
especial da sua teoria da causalidade. Os esticos buscavam explicar a coexistncia da
necessidade natural e da liberdade humana com uma dupla causalidade: a causalidade
antecedente, que se aplicava natureza (inclusive ao homem); e a causalidade completa
(ou sintica), que se aplicava, entre outras coisas, determinao do acordo humano. A
conduta do indivduo era determinada pelo seu assentimento s impresses dos seus
sentidos enquanto as impresses derivavam de uma cadeia causal antecedente, o
assentimento nascia de um impulso prprio, inerente racionalidade humana e
independente da causalidade antecedente. De forma anloga, Agostinho parece defender
que a vontade humana livre da causalidade antecedente, pois o indivduo no
moralmente responsvel se a sua conduta constrangida pela natureza ou pela
necessidade. Alm disso, apesar da impossibilidade humana de agir bem sem o auxlio
da graa divina, Agostinho parece conceder ao indivduo a liberdade de desejar ou no
esse auxlio.
Para os esticos, assim como para toda a tradio racionalista da filosofia grega, a
diferena entre uma boa e uma m ao estava na cognio que o agente possua ao
tempo do seu assentimento
50
se essa cognio lhe permitisse uma exata compreenso
das suas impresses (conhecimento), o seu assentimento seria o melhor possvel e a sua
conduta seria necessariamente boa; se, pelo contrrio, ela no lhe fornecesse nada alm
de informaes obscuras (opinio), o seu assentimento seria inseguro e a sua conduta
50
Essa tradio remonta a Scrates, cujo ensino doutrinava que aquele que chega ao conhecimento ou
cincia alcana a virtude. Da a sua famosa afirmao de que ningum faz o mal voluntariamente, pois o
mal a se confunde com a ignorncia e a vontade com a razo (NICASIO BARRERA, 1960, p. 132).
58
teria uma probabilidade maior de ser m. Porm, partindo da sua prpria experincia,
Agostinho descobriu que contrariamente ao que dizia Scrates saber o que era certo
no era suficiente para fazer o que era certo (MCGRADE, 2003, p. 221). Embora
Agostinho estivesse intelectualmente pronto para mudar de vida, sua vontade no
estava. Como isso era possvel? O que o privava de querer o que ele queria querer? Tudo
o que era necessrio nesse ponto era um ato de vontade mas o problema era que a
vontade estava dividida em duas (MCGRADE, 2003, p. 222). Ao analisar o conflito que ele
prprio experimentou, Agostinho distinguia a sua nova vontade de seguir Deus e a sua
antiga vontade, forjada pelo hbito e pelo costume (consuetudo) enfatizou ento que
essa oposio era algo intrnseco ao sujeito, e no algo independente do agente ou
imposto por alguma entidade externa. No havia dois Eus (um mau e outro bom), nem
um Eu verdadeiro (bom) em guerra contra alguma fora estranha (m). As duas
vontades eram expresses de um nico sujeito que se encontra dividido (KRETZMANN;
STUMP, 2001, p. 220). Essa concepo unitria da vontade marca a primeira grande
diferena entre a psicologia da antiguidade e a filosofia moral do cristianismo.
Embora os pensadores antigos assim como os pensadores cristos discutissem o
apetite racional, a deciso, a inteno e outras tantas noes associadas ao conceito da
vontade, a nfase dos antigos recaa na diviso entre os vrios poderes da alma (em
especial, a diviso entre o poder racional e o no-racional). Assumindo o intelecto (o
poder racional por excelncia) como o verdadeiro Eu, os pensadores da antiguidade
tendiam a ver as emoes ordinrias como no-racionais e, desse modo, como estranhas
ao verdadeiro Eu (KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 221). Os cristos e entre eles
Agostinho foram os primeiros a defender a unidade da alma. Em seus primeiros
escritos, de forte influncia platnica, Agostinho ainda definia a alma humana como uma
certa substncia que participava da razo e que governava o corpo; dizia tambm que o
ser humano, enquanto ser humano, era uma alma racional que usava um corpo
mundano e mortal. Em escritos tardios, porm, ele ps maior nfase na unidade do ser
humano. Embora a alma e o corpo fossem substncias distintas (uma incorprea e a
outra corprea), ao se unirem criavam uma nica substncia, um nico ser humano. O ser
humano ento passava a ser definido como uma substncia particular com um corpo e
com uma alma
51
(KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 116). Em contraste com o racionalismo
51
A teoria agostiniana da alma teve forte influncia sobre todo o pensamento cristo posterior at ser
revisada por Alberto Magno e Toms de Aquino no sc. XIII.
59
antigo, Agostinho atribua alma trs poderes: a razo (ou intelecto), a memria e a
vontade. Em Agostinho a vontade passou a ser considerada o verdadeiro Eu, ou seja, o Eu
moralmente responsvel. Nenhuma diviso era feita entre a vontade e as emoes,
sendo possvel inclusive, na opinio de Santo Agostinho, compreender as diversas
emoes como diferentes tipos de volio (KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 221).
Ao refletir sobre Ado e Eva, o primeiro exemplo do pecado humano, Agostinho
se perguntava: como era possvel explicar seu pecado seno pela vontade? Todas as suas
necessidades eram satisfeitas; nenhuma perturbao lhes afligia a mente ou o corpo; e
Deus lhes dava apenas um nico comando, extremamente fcil de obedecer como
explicar a sua desobedincia? A explicao, contrariamente s psicologias antigas, no
estava na ignorncia ou na falta de raciocnio ou ainda em algum distrbio emocional.
Tambm no estava em qualquer defeito da natureza que houvesse tornado impossvel
para Ado e Eva obedecerem a Deus. A nica explicao que Agostinho podia conceber
era que seu pecado derivava de uma m vontade que, por sua vez, no possua nenhuma
causa prxima ou externa. Para Agostinho, a vontade era a primeira e nica causa do
pecado (KRETZMANN; STUMP, 2001, p. 222).
Diferentemente do racionalismo grego, que estabelecia um vnculo entre a
vontade e a ao, Agostinho afirmava que a liberdade era fundamentalmente uma
manifestao da vontade individual, que colocava o homem em contato com suas
faculdades interiores. Com Agostinho, a vontade adquire independncia no em relao
ao que dela deriva, como os antigos, mas em relao a si mesma (COSTA, 1997, p.
123). E assim nasce o verdadeiro conceito do livre-arbtrio: a liberdade de escolher,
seguida, mas no necessariamente, pela liberdade de agir. Para Agostinho, a vontade
operava at mesmo na ausncia total da ao, pois o querer era uma faculdade interior,
que no precisava se expressar em ao para possuir sua essncia. Ao separar a vontade
da ao dela decorrente, Agostinho estabeleceu uma diferena fundamental entre o
querer e o poder. O querer a faculdade interior, que existe independente de toda e
qualquer manifestao do mundo exterior. O poder, ocasionalmente, pode participar da
escolha do querer, mas no participa de sua essncia (COSTA, 1997, p. 124). A distino
entre querer e poder o precursor da distino de Pedro Abelardo entre intencional e
voluntrio.
1.2.3. Na Escolstica
60
As teorias medievais se dividiam no que hoje chamamos de compatibilismo (a
vontade livre, mesmo quando determinada) e libertarismo (a vontade
necessariamente espontnea). A escolstica debateu esse ponto vigorosamente. So
Toms no defendeu claramente nenhum dos dois lados, mas a gerao posterior tomou
uma posio bastante clara. Henry de Ghent, Olivi e Scoto defendiam o libertarismo.
Godfrey de Fontaines e Buridan eram compatibilistas (MCGRADE, 2003, p. 225). Godfrey
defendia que, em vez de abandonar um princpio bsico da metafsica de que nada
pode mover a si mesmo , seria melhor reconsiderar os pressupostos requeridos pela
liberdade (MCGRADE, 2003, p. 225). Outros, como Scoto, defensor da espontaneidade da
vontade, questionariam esse alegado princpio bsico da metafsica. Scoto distinguia
entre dois modos pelos quais algo podia ser indeterminado: ou porque fora
insuficientemente atualizado ou porque possua uma superabundante suficincia que
lhe permitia mover-se a si mesmo (MCGRADE, 2003, p. 226). A indeterminao da
vontade seria desse segundo modo.
Santo Anselmo, um dos iniciadores da escolstica, dedicou uma obra ao estudo da
vontade. Nela Anselmo reconhece a equivocidade do termo voluntas e lhe atribui trs
sentidos: o de instrumento do querer (instrumentum volendi), tal como a viso o
instrumento do ver (eu vejo pela viso; eu quero pela vontade); o de afeto desse
instrumento (affectio instrumenti), tal como a ateno pelo filho, que sempre est na
vontade (ou melhor, no instrumento do querer) da me, a afeta de modo a sempre
querer a sua sade, esteja ela consciente ou no desse afeto; e o de uso do instrumento
(opus instrumenti), como quando se quer algo por meio do pensamento.
Os principais afetos so de dois tipos: o afeto de querer os bens (commoda); e o
afeto de querer a justia (justitia). O afeto de querer os bens existe sempre e
inseparavelmente no instrumento; o afeto de querer a justia, porm, nem sempre
inato. A partir desses dois afetos que queremos tudo o que podemos querer. Ou
queremos os bens ou queremos a justia; e estes, ou os queremos em razo dos bens ou
os queremos em razo da justia.
A vontade que se diz uso do instrumento (opus instrumenti) no existe seno
naquele que a pensa. Essa vontade ou existe em razo da coisa que se diz querer (assim
como, pensando na sade, ns a queremos) ou por qualquer outra razo (assim como,
em razo da sade, ns queremos cavalgar).
61
Existe tambm outra diviso dessa vontade: com ela, ou queremos fazer algo ou
no queremos. So trs os modos pelos quais dizemos fazer algo e tantos outros modos
pelos quais dizemos no fazer. Essa vontade pode ser chamada ou de eficiente (efficiens)
ou de aprovante (approbans) ou de permitente (permittens). Eficiente a vontade que
realiza (efficit) aquilo que quer ou que o realizaria se pudesse. Aprovante aquela que
aceita (approbat) o que existe ou que o aceitaria se viesse a existir. Permitente a
vontade que permite (permittit) o que se diz querer ser se de fato , ou que permitiria se
de fato fosse. A vontade eficiente tanto aprovante quanto permitente; a aprovante, por
sua vez, permitente; a permitente nem eficiente nem aprovante. De acordo com a
vontade eficiente foi dito que tudo aquilo que Deus quis Ele fez; de acordo com a
aprovante, diz-se que Deus quer salvar todos os homens; e, por fim, Deus permite a
existncia e a Ele agradam todos os justos, porque so justos e esto salvos no
obstante, tambm permite a existncia e tambm O agradariam os injustos, se fossem
justos e se salvassem.
A teoria da vontade de Santo Anselmo fornece os primeiros elementos
racionalistas da escolstica. Ao identificar a vontade com o instrumento do querer
e ao dizer que o instrumento da alma a vontade Santo Anselmo parece aceitar que a
alma e o querer sejam um mesmo fenmeno. Ora, o conceito de alma em Santo Anselmo
deriva das fontes agostinianas, platnicas e aristotlicas, para as quais a alma (ou ao
menos a sua parte imortal) se contrapunha aos sentidos e essa contraposio se
baseava em sua racionalidade.
Tratando a vontade como um instrumento da razo (= do querer = da alma
imortal), Anselmo pde transcender a condio humana. A sua teoria pretende possuir
validade universal e abranger todos os seres racionais (no s os homens, mas tambm
os Anjos e at mesmo Deus). Isso lhe permitiu construir uma teoria transcendental da
vontade no que se afasta da tradio de Agostinho. Enquanto a teoria da vontade de
Agostinho se limitava a descrever a inata (e incurvel) deficincia do querer humano (e
dessa forma caa em um sentimentalismo em que preponderava o conceito da Graa),
Anselmo sugeriu que a vontade fosse a mesma, tanto nos homens quanto nos Anjos e em
Deus, e props uma teoria universal (transcendental) da vontade, baseada na razo.
Anselmo parece adotar um compatibilismo ele expressamente nega que o livre
arbtrio requeira a possibilidade de escolher ou no uma coisa (MCGRADE, 2003, p.
225). No seu Dilogo sobre o livre arbtrio (Dialogus de libero arbtrio), Anselmo
62
considera que, se a definio do livre arbtrio consistisse na possibilidade de pecar ou
no pecar, por exemplo, ento Deus (que no pode jamais pecar) no teria nenhuma
liberdade de deciso o que uma incoerncia, pois se certo que Deus e os homens
so livres e que Deus incapaz de pecar, ento a definio da liberdade no pode
consistir em um atributo exclusivamente humano. Esse argumento de Anselmo ser
retomado mais tarde por Schelling no seu escrito sobre a essncia da liberdade humana
a fim de explicar a liberdade da vontade humana e a necessidade da sua conduta.
Pedro Abelardo se apresenta como uma figura de transio entre o
sentimentalismo agostiniano e o racionalismo escolstico que comeara a nascer com
Santo Anselmo. Ele desenvolveu a sua prpria teoria da vontade para explicar o pecado
e as ms aes.
De incio, ele apresenta trs teses sobre o que no o pecado e uma tese sobre o
que o pecado. Em primeiro lugar, o pecado no um vcio mental, tal como a
irascibilidade, que nos inclina a fazer coisas ms; em segundo lugar, o pecado no a m
ao em si; e em terceiro lugar, o pecado tambm no a vontade de realizar a m ao.
O pecado , de acordo com Abelardo, o desprezo por Deus (BROWER; GUILFOY, 2004,
280).
(1) O pecado no um vcio mental, pois algum poderia ter um vcio e, mesmo
assim, por sua resistncia, no pecar. Os vcios nos inclinam para o pecado, mas no so
eles prprios os pecados para os quais nos inclinamos.
(2) O pecado no a m ao em si, pois um fato externo no conclusivo quanto
ao estado mental do agente. Nenhum fato externo pode ser bom ou mau em si, dado que
todos os movimentos corpreos so moralmente neutros. Os predicados morais de
bondade e maldade esto refridos apenas a contedos internos do agente, ou seja, aos
estados e s atividades do seu esprito (BROWER; GUILFOY, 2004, 281).
(3) O pecado no a vontade de realizar a m ao. Para explicar essa tese,
Abelardo fez uso de um exemplo de Santo Agostinho: um servo foge de seu mestre
sdico, que havia prometido tortur-lo e mat-lo. Encurralado pelo mestre e temendo
por sua prpria vida, o servo mata o seu mestre. Ambos, Agostinho e Abelardo,
concordavam que o servo havia cometido uma ao m. Suas diferenas residiam em
explicar por que essa ao era m (BROWER; GUILFOY, 2004, 282). A resposta de
Agostinho foi que o pecado consistia na desordem do desejo do servo. Sendo a sua vida
63
to valiosa quanto a do seu mestre, apenas o desejo equivocado de preserv-la a
qualquer custo (o que o levaria a superestim-la) seria a causa do erro e do pecado
(BROWER; GUILFOY, 2004, 283).
Para Abelardo, no entanto, no havia nada de errado no desejo do servo de
preservar a sua vida. Se o desejo de autopreservao no era errado, porque o desejo de
matar o mestre, para se preservar, seria? A resposta de Abelardo foi de que o servo no
possua tal vontade no caso descrito, o servo teria matado o seu mestre
involuntariamente, ou seja, o servo no teria tido o desejo de mat-lo. Mas ento, em que
consistiria a reprovao do ato, se ele era involuntrio? (BROWER; GUILFOY, 2004, 283).
Para entender a sua resposta, preciso levar em conta que uma mesma ao
poderia, segundo Abelardo, ser realizada involuntria e ao mesmo tempo
intencionalmente. Um ato intencional no precisava ser a ao que tivesse atrs de si os
desejos mais fortes. Quando Abelardo usa os verbos volo (querer) e nolo (no querer),
ele se refere exclusivamente aos desejos. Quando ele fala da vontade (voluntas) de um
agente, ele est-se referindo ao que o agente gostaria de fazer, assumindo que o agente
no est submetido a nenhum tipo de coero. O exemplo do servo ilustraria a
possibilidade de um agente agir intencionalmente e, ao mesmo tempo,
involuntariamente (BROWER; GUILFOY, 2004, 284). O pecado residiria no no desejo
(ou na vontade) do agente, mas na sua inteno.
A teoria da ao de Abelardo distingue, portanto, duas regies: a regio do
voluntrio, que corresponderia s circunstncias externas de determinao da conduta;
e a regio do intencional, que corresponderia s circunstncias internas. Em geral, a
conduta do indivduo era determinada pela sua inteno e materializada pela sua
vontade. Havia casos, porm, em que as circunstncias externas impediam a liberdade
de determinao da vontade, como nos casos de legtima defesa (atos involuntrios);
mas ainda nesses casos, a inteno era livre para se determinar (atos intencionais). Essa
teoria de Abelardo, como se v, apresenta traos do racionalismo escolstico (a
liberdade de determinao da inteno) que comeava a nascer com Anselmo, mas
tambm apresenta traos do sentimentalismo de Agostinho (a inteno como um
impulso, como algo que o agente gostaria de realizar). Sua configurao ecltica permite
caracteriz-la como um elo entre a patrstica (de tendncia neoplatnica) e a escolstica
(de tendncia aristotlica).
64
Deveu-se a So Toms de Aquino a sistematizao da teoria escolstica da
vontade. Para constru-la, Aquino buscou elementos tanto da tradio (neo) platnica
quanto da tradio aristotlica. A fora dos seus argumentos permitiu que o
racionalismo se tornasse a teoria da vontade predominante por quase quatro sculos
somente vindo a ser contestada seriamente pelos modernos do sculo XVII (em especial,
Descartes e Hobbes).
O tema central da filosofia de Aquino sobre a vontade o que ele chama de alma
racional (anima rationalis). A base da sua explicao da vontade, portanto, se encontra
em sua teoria da alma, de que a alma racional apenas uma das espcies.
(KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 128).
Aps considerar as criaturas corpreas e espirituais, S. Toms passa, na Quaestio
75 da Primeira Parte da Summa Theologiae, a considerar o homem, que composto
tanto de substncia corprea quanto de substncia espiritual. Essa noo com que Toms
de Aquino abre o seu Tratado sobre o Homem se contrape diretamente a uma tradio
que remonta a Santo Agostinho. Para se ter uma medida exata da importncia dessa
nova concepo tomista, devemo-nos deter um pouco mais na considerao dessa
doutrina at ento tradicional.
So Boaventura, um dos grandes expoentes do pensamento medieval do sculo
XIII, desenvolveu toda uma doutrina com base na antiga tradio patrstica a respeito da
alma. Com Boaventura, a alma atinge o mximo de independncia com relao ao corpo.
Em primeiro lugar, a alma (e aqui Boaventura se contrapunha a Aristteles) no era
apenas uma forma ela era um composto distinto, constitudo por uma matria e por
uma forma espirituais (GILSON, 1921, p. 106). Considerar a alma como um composto de
matria e de forma era lhe atribuir tudo aquilo que Aristteles exigia de uma verdadeira
substncia. Por um lado, enquanto pura forma, faltava-lhe alguma matria estranha
qual se pudesse unir a fim de alcanar a plena substancialidade; composta de matria e
forma, por outro lado, ela se completava a si mesma e, substncia distinta, podia-se
manter independente do corpo a que se unia (GILSON, 1921, p. 107).
Disso resulta que todo composto se explica pela presena de uma multiplicidade
de formas hierarquizadas. O ser humano, e.g., tem em si, pelo menos, duas formas: a da
alma, que informa a sua matria espiritual; e a do corpo, que organiza a sua
corporeidade. Quando a alma se une ao corpo, a fim de penetr-lo com vida e formar,
dessa unio, uma substncia nova, ela subordina as formas mltiplas do corpo e confere
65
ao composto humano a sua perfeio. A intimidade dessa unio, tal como So
Boaventura a concebe, permite a completa independncia da alma, atribuindo-lhe toda a
atividade e toda a perfeio. A alma uma substncia j completa e superior que penetra
intimamente outra substncia, o corpo, tambm completo, mas inferior, animando-o tal
como Deus a anima (GILSON, 1921, p. 107).
Toda a doutrina de Boaventura se caracteriza por um movimento em direo a
um objetivo bem definido o amor de Deus. Tal o esprito que anima toda a sua obra e
esse mesmo esprito que est associado sua teoria sobre a alma. Para So
Boaventura, a nossa vida no mais do que uma peregrinao em busca de Deus e o
mundo sensvel a rota que nos conduz a Ele. Por isso, a doutrina de So Boaventura ,
antes de tudo, um itinerrio da alma em direo a Deus. A via que nos leva a Deus a
via Iluminativa. Essa via, contudo, em razo do Pecado Original, no pode o homem
trilh-la com o auxlio apenas de suas foras necessrio, alm de um esforo
constante da vontade, a ajuda da Graa Divina (GILSON, 1925, p. 145). A Graa o
fundamento da vontade justa e da razo clara e somente por ela que o ser humano
pode iniciar a via Iluminativa (GILSON, 1925, p. 146).
O propsito da sua teoria da alma o de garantir a sua Iluminao e a sua
Imortalidade. A alma destinada imortalidade e beatitude e porque ela est
destinada beatitude que ela imortal; e por ser imortal que ela separvel do corpo;
e porque ela separvel do corpo que ela no apenas uma forma, mas uma
verdadeira substncia (GILSON, 1921, p. 108).
Alberto o Grande, que, junto com o seu discpulo, Toms de Aquino, foi um dos
maiores responsveis pela cristianizao de Aristteles, no que concerne
substancialidade da alma, parece haver conservado alguns escrpulos. Ele se separa da
tradio agostiniana ao negar que a alma seja um composto de matria e forma. A alma,
diz-nos Abelardo, uma criatura e, em razo disso, no pode pretender a perfeita
simplicidade de Deus, sendo, por isso, composta metafisicamente de essncia e
existncia. Essa composio proposta por Alberto no se confunde com a composio
hilemrfica de So Boaventura Alberto chega a considerar que algum material seja
indispensvel para assegurar alma um grau suficiente de substancialidade; ele, porm,
parece haver hesitado em admitir a unidade absoluta da forma no composto humano.
Para Alberto, assim como para So Boaventura, a alma se une a um corpo j organizado.
(GILSON, 1921, p. 108).
66
A ruptura com a tradio agostiniana completa e se apresenta de forma clara e
concisa na resposta do artigo 5 da questo 75 da primeira parte da Summa Theologiae: a
alma no tem matria (anima non habet materiam). A alma no mais concebida por So
Toms como a forma de um corpo j organizado (j informado), mas sim como a forma
de uma matria que ela mesma organiza em corpo. A corporeidade de um corpo
qualquer (inclusive do corpo humano) no outra coisa do que a forma substancial que
a situa em um determinado gnero e em uma determinada espcie. Essa unio no
acidental, mas sim uma unio substancial, na qual os dois seres, incompletos quando
separados, fazem surgir, ao se unirem, um ser completo (GILSON, 1921, p. 146).
Para Aquino, no necessrio supor a existncia, no homem ou em qualquer
outro ser, de mltiplas formas substanciais (uma que o faa ser uma substncia, outra
que o faa ser um corpo ou um animal; e outra enfim que o situe na espcie humana),
pois para So Toms o ser humano encerra em si apenas dois seres incompletos: uma
matria que o corpo e uma forma que a alma (GILSON, 1921, p. 147). Uma vez que
uma forma substancial se liga a uma determinada matria para inform-la, todas as
outras formas posteriores no so nada mais do que formas acidentais, incapazes de
engendrar, por si ss, uma substncia (GILSON, 1921, p. 109). Desses dois seres
incompletos deve surgir um ser completo, que se chama ser humano (GILSON, 1921, p.
147). A nica substncia verdadeiramente completa de que se pode falar, portanto,
aquela constituda pelo composto de alma e corpo.
A alma, tomada em si mesma, seguramente uma substncia, mas no uma
substncia completa. Para So Toms, a alma exclui radicalmente a matria assim como
a forma exclui radicalmente a potncia. impossvel, portanto, conceber que a alma
enquanto tal seja composta de matria e de forma
52
. A alma , pela sua prpria definio,
uma forma e precisamente porque a alma no nada mais do que uma forma que ela
insuficiente para constituir uma substncia completa. A alma humana s se encontra
52
A alma a forma do corpo (isso aceito tanto por So Boaventura quanto por So Toms); a diferena
est em que, para So Boaventura, a alma, alm de ser a forma do corpo, tambm uma substncia
distinta, constituda por forma e matria espirituais e o corpo, alm de ser a matria da alma, uma
substncia, constituda por forma e matria corpreas. So Toms desenvolve as conseqncias dessa
afirmao e, para ele, a alma [1] aut igitur est forma secundum se totam; [2] aut secundum aliquam
partem sui. [1] Si secundum se totam, impossibile est quod pars eius sit materia, si dicatur materia aliquod
ens in potentia tantum, quia forma, inquantum forma, est actus; id autem quod est in potentia tantum, non
potest esse pars actus, cum potentia repugnet actui, utpote contra actum divisa. [2] Si autem sit forma
secundum aliquam partem sui, illam partem, dicemus esse animam, et illam materiam cuius primo est actus,
dicemus esse primum animatum (Sum. Th., Ia, q. 75, a. 5, ad Resp.), do que se segue que se a alma a forma
do corpo, ento ela no pode ser constituda por matria e forma prprias.
67
em seu estado de perfeio natural quando unida ao corpo. Para So Boaventura, uma
alma j completa vinha, pelo desejo da pura Graa, aperfeioar um corpo j organizado e
elev-lo dignidade de corpo humano. Para So Toms, uma alma, que no uma
substncia completa, busca se unir a um corpo, pois precisa dele para alcanar toda a
sua perfeio (GILSON, 1921, p. 110). A partir da, S. Toms formula a sua teoria do
conhecimento e a sua teoria da vontade levando em conta que o ser humano, e no
apenas a sua alma, que conhece e que deseja (GILSON, 1921, p. 147).
Aquino adota a distino aristotlica entre alma racional, alma sensitiva e alma
vegetativa. A alma racional (anima rationalis), diferentemente das outras duas, uma
faculdade da alma cuja atividade excede a natureza corprea, na medida em que no
exercida por nenhum rgo do corpo. As atividades da alma sensitiva (anima sensibilis)
so exercidas pelos rgos do sentido; e as atividades da alma vegetativa (anima
vegetabilis) decorrem do princpio intrnseco do corpo de autonutrio (Sum. Th., Ia, q.
78, a. 1, ad Resp.). As plantas possuem apenas a alma vegetativa; os animais possuem a
alma vegetativa e a alma sensitiva; mas somente os seres humanos possuem a alma
racional. Entre as atividades prprias da alma racional, duas so necessariamente
concomitantes: a inteligncia e a vontade (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 144).
Contudo, a vontade possui uma origem na alma muito mais primitiva do que a
inteligncia e voltando a esse passado primitivo que So Toms procura explicar a
natureza da vontade.
Toda e qualquer forma possui uma tendncia ou inclinao essencialmente
associada a ela e igualmente todo composto hilemrfico, mesmo inanimado, possui
uma inclinao natural. Essa inclinao o que So Toms chama de apetite (appetitus).
As coisas inanimadas e as animadas que no possuem faculdades cognitivas, possuem
inclinaes prprias, chamadas apetites naturais (appetitus naturalis) (e.g.:
fototropismo e atrao gravitacional). A vida animal apresenta a cognio sensorial e
com ela objetivos acidentais, que dependem do que apresentado ao animal como
sendo desejvel ele no possui apenas o apetite natural, mas tambm o apetite
sensitivo (appetitus sensitivus), que S. Toms s vezes chama de sensualidade
(sensualitas) (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 144). Por fim, existe tambm o apetite
intelctual (appetitus intelectivus) que decorre da cognio intelectual (Sum. Th., Ia, q.
80, a. 2, ad Resp.).
68
A alma humana tambm apresenta apetites naturais (e.g.: a fome, que a
inclinao para buscar algum tipo de comida), mas seus modos de cognio sensitivo e
intelectual trazem com eles os apetites sensitivos, ou paixes (e.g., a inclinao para
comer esse tipo de comida) e o apetite intelectual, ou vontade (e.g., a inclinao para
comer uma comida saudvel) (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 144). O poder apetitivo
associado cognio sensorial aquele que compartilhamos com seres no humanos
inclinaes a que estamos, por natureza, passivamente sujeitos. O apetite sensitivo pode
ser visto como um conceito precursor daquilo que, no sculo XVII, ser chamado de
Instinto e que, no sculo XX, ser chamado de Pulso.
A sensualidade (ou apetite sensitivo) pode ser dividida em duas outras potncias:
a concupiscvel (concupiscibilis) (a inclinao para buscar o agradvel [conveniens] e
fugir do doloroso [nocivum]) e a irascvel (irascibilis) (a inclinao para resistir e vencer
o que quer que obstaculize o acesso ao que agradvel ou a fuga do que doloroso)
(Sum. Th., Ia, q. 81, a. 2, ad. Resp.). Vrias emoes esto associadas a essas potncias: a
alegria e a tristeza, o amor e o dio, o desejo e a repugnncia, com a concupiscvel; a
ousadia e o receio, a esperana e o desespero, a raiva, com o irascvel (KRETZMANN;
STUMP, 1999, p. 145).
O irascvel e o concupiscvel obedecem, no entanto, parte superior da alma, em
que se encontra o intelecto (ou seja, a razo e a vontade). (1) Obedecem razo no que
concerne determinao dos seus atos, pois, enquanto os animais, que apenas possuem
a cognio sensorial, agem segundo princpios particulares, o ser humano, que possui
tambm a cognio intelectual, age segundo princpios universais os quais, por meio do
silogismo, a partir de proposies universais lhe fornece concluses singulares. (2)
Obedecem vontade no que concerne execuo, pois o ser humano no
imediatamente movido de acordo com os apetites irascvel e concupiscvel, mas aguarda
pelo comando da vontade, que um apetite superior (Sum. Th., Ia, q. 81, a. 3, ad Resp.).
Aquino distingue entre atos humanos (actus humani) e atos do ser humano (actus
hominis). Os actus hominis representam todas as atividades e operaes que podem ser
atribudas a um ser humano (enquanto animal, enquanto corpo fsico etc.); os actus
humani representam os as atividades atribudas ao ser humano enquanto humano. A
ordem moral reside nestes ltimos e nesse sentido que Toms de Aquino diz que todo
ato humano um ato moral (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 196). Apenas as atividades
voluntria e conscientemente realizadas ou desejadas so atos humanos os actus
69
humani tm a sua fonte na razo e na vontade, faculdades especficas do ser humano.
graas razo e vontade que os seres humanos tm domnio sobre os seus atos. S.
Toms define ento o livre-arbtrio (liberum arbitrium) como a faculdade de razo e de
vontade
53
(KRETZMANN; STUMP, 1999, 196).
Embora Aquino admita que ns tenhamos o controle sobre os nossos atos na
medida em que est sob o nosso poder escolher uma entre vrias aes
54
, ele afirma que,
no entanto, a nossa busca por um fim supremo no algo que esteja sob o nosso
controle
55
. Uma vez que a nossa felicidade naturalmente um fim supremo e necessrio,
toda e qualquer volio a deve levar necessariamente em conta, assim como a
inteligncia leva em conta os princpios primeiros do conhecimento. Nossas escolhas,
dessa forma, concernem apenas o modo e os meios pelos quais podemos encontrar a
felicidade (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 147).
O aparente abandono por S. Toms da autodeterminao como differentia da
vontade uma mudana significativa, mas isso no implica o determinismo ou o
compatibilismo. Toms de Aquino distingue quatro tipos de necessidade, que
correspondem s quatro causas de Aristteles
56
. Apenas a necessidade de coero (que
corresponde causa eficiente de Aristteles) incompatvel com a vontade livre, pois
contrria inclinao do objeto (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 146).
A diferena pertinente entre a apreenso sensorial e a intelectual est em que o
sentido, enquanto conhecedora apenas de particulares, apresenta sensualidade um
objeto, o qual a move de forme determinada; a cognio racional, por outro lado,
conhecedora de universais, apresenta vontade um conjunto de bens particulares de
uma mesma espcie, e assim o apetite intelectual, a vontade, pode ser movida por vrias
coisas e no apenas por uma, de forma necessria
57
. Uma vez que aquilo que o intelecto
apreende como um bem ele o apresenta vontade como um fim (subordinado
53
Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem, unde et liberum arbitrium esse
dicitur facultas voluntatis et rationis (Sum. Th., IaII, q. 1, a. 1, ad Resp.).
54
Sumus domini nostrorum actuum secundum quod possumus hoc vel illud eligere (Sum. Th., Ia, q. 82, a.
1, ad 3).
55
Electio autem non est de fine, sed de his quae sunt ad finem. Unde appetitus ultimi finis non est de his
quorum domini sumus (Sum. Th., Ia, q. 82, a. 1, ad 3).
56
Causa (), num sentido, significa a matria () de que so feitas as coisas; em outro sentido,
causa significa a forma () e o modelo (); noutro, significa o princpio primeiro da
mudana ou do repouso ( ); e noutro, significa fim (),
ou seja, o propsito da coisa (ARISTTELES, 2005B, p. 191).
57
Vis sensitiva non est vis collativa diversorum, sicut ratio, sed simpliciter aliquid unum apprehendit. Et
ideo secundum illud unum determinate movet appetitum sensitivum. Sed ratio est collativa plurium, et
ideo ex pluribus moveri potest appetitus intellectivus, scilicet voluntas, et non ex uno ex necessitate (Sum.
Th., Ia, q. 82, a. 2, ad 3).
70
felicidade), movendo a vontade apenas enquanto causa final, o intelecto no coage a
escolha da vontade. A vontade, por sua vez, naturalmente orientada ao que bom para o
ser humano, move o intelecto e todos os poderes da alma coercitivamente, enquanto
causa eficiente
58
.
Assim, o arbtrio da vontade, no que se refere aos bens particulares coletivamente
apresentados a ele pelo intelecto, livre em um sentido que S. Toms assume ser tanto
necessrio quanto suficiente para os propsitos tericos e prticos, e sua liberdade se
destaca pelo seu poder coercivo sobre o intelecto, o que lhe permite dirigir a ateno do
intelecto para outras coisas ou para outros aspectos do objeto que o intelecto lhe
apresenta (KRETZMANN; STUMP, 1999, p. 148).
1.2.4. No tomismo contemporneo
Jolivet prope definir os temas centrais do problema do livre-arbtrio. Segundo
ele: a) necessrio o que no pode no ser, ou o que no pode ser diferente do que . O
oposto de necessrio o contingente; b) contingente o que poderia no ser, ou poderia
ser diferente do que ; c) determinado o que pode ser explicado pelos seus
antecedentes: h tantos tipos de determinao quantos so os tipos de causalidade. Por
conseqncia, contingente se ope a necessrio, mas no a determinado. (JOLIVET, 1947,
p. 589)
O contingente implica ao mesmo tempo a determinao e a indeterminao. A
determinao vem de ela exigir uma razo para a existncia daquilo que ; a
indeterminao define o fato de que aquilo que poderia no ser o que , ou ser algo
distinto do que . Em outras palavras, o contingente determinado enquanto se explica
pelos seus antecedentes e indeterminado, enquanto seus antecedentes, ou no eram
necessrios para produzi-lo, ou poderiam ser diferentes do que eram (JOLIVET, 1947, p.
590).
Jolivet conclui que o ato livre o ato contingente. Essa contingncia o que
constitui a indeterminao ideal da vontade. Concretamente, o ato de vontade
determinado, ou seja, explicado pelos seus antecedentes. Mas esses antecedentes no
58
Aliquid dicitur movere dupliciter. Uno modo, per modum finis; sicut dicitur quod finis movet
efficientem. Et hoc modo intellectus movet voluntatem, quia bonum intellectum est obiectum voluntatis, et
movet ipsam ut finis. Alio modo dicitur aliquid movere per modum agentis; sicut alterans movet
alteratum, et impellens movet impulsum. Et hoc modo voluntas movet intellectum, et omnes animae vires
(Sum. Th., Ia, q. 82, a. 4, ad Resp.).
71
so determinados seno pelo juzo prtico da vontade. A indeterminao ideal do querer
e sua determinao efetiva compem a autodeterminao (JOLIVET, 1947, p. 590).
O ato livre, no domnio da vontade, exclui toda espcie de necessidade (tanto
externa libertas a coactione quanto interna libertas arbitrii). No domnio da ao,
um ato externo dito livre quando no constrangido por uma fora externa.
Distinguem-se, pois, dois tipos de liberdade: a liberdade de fazer e a liberdade de querer
(JOLIVET, 1947, p. 590)
A liberdade de fazer: A nica condio dessa liberdade a de estar isenta de todo
constrangimento externo. a esse gnero de liberdade que pertencem a liberdade fsica
(liberdade de movimento), a liberdade cvica (poder de agir conforme o seu prprio
arbtrio, dentro dos limites do direito), a liberdade poltica (direito de tomar parte no
governo dos diferentes grupos polticos), a liberdade de conscincia ou de pensamento
(poder de agir externamente segundo a sua conscincia e de exprimir seu pensamento).
Nenhuma das liberdades externas coincide com a liberdade interior ou livre arbtrio:
todas elas podem ser exercidas sem que exista a liberdade interna (JOLIVET, 1947, p.
591).
A liberdade de querer: Essa liberdade chamada de liberdade moral (ou interior)
ou livre-arbtrio, pois ela define a volio que no sofre constrangimento e que procede
de um ser mestre de si mesmo (arbiter sui), condicionando a atividade moral. Essa
liberdade se exerce sob diversas formas. Distinguem-se: a liberdade de exerccio ou de
contradio (ou seja, de agir ou de no agir), a liberdade de especificao (de agir desta
ou daquela maneira, de produzir este ou aquele ato), a liberdade de fazer o bem ou o mal
ou de contrariedade. Nenhuma dessas formas de livre-arbtrio exclui a determinao,
pois sempre se tem uma razo para agir ou para no agir, de tal ou tal modo, de fazer o
bem ou de fazer o mal. A ausncia de determinao, longe de constituir o ato livre, o
arruinaria como tal, pois equivaleria ao puro azar (JOLIVET, 1947, p. 591).
Jolivet busca provas para o livre-arbtrio tanto na Experincia (emprica e moral)
quanto na Metafsica. Psicologicamente, um fato incontestvel que ns nos
experimentamos como sendo livres. Moralmente, a liberdade deve ser pressuposta para
que os deveres e as obrigaes tenham sentido. Socialmente, os contratos, as promessas
e as ameaas supem a realidade do livre-arbtrio. Metafisicamente, sendo a vontade um
poder racional, que tem por objeto o bem conhecido pela razo sob a forma universal
(bonum in communi), somente esse bem universal determinaria necessariamente a
72
vontade; mas como as coisas que atualizam concretamente a inclinao da vontade em
direo ao bem no representam mais do que aspectos desse bem (bona particularia), a
vontade no seria determinada necessariamente por nenhum deles, ou seja, seria livre;
do que segue que a liberdade uma conseqncia necessria da razo (JOLIVET, 1947,
p. 597).
O ato livre espontneo e autodeterminado. Espontneo, pois exclui todo
constrangimento externo. Autodeterminado, pois exclui todo constrangimento interno.
A autoderminao consiste no poder de dominar o curso das representaes e de fix-
las ou afast-las segundo um juzo prtico, dizendo o que deve ser feito (JOLIVET, 1947,
p. 602). A autodeterminao significa, pois, no sujeito inteligente, o poder de ser, ele
prprio, aquilo que ele quer ser. A liberdade a forma desse poder em relao ao ato
(JOLIVET, 1947, p. 602)
A vontade para Jolivet aparece ento como a faculdade pela qual o homem
mestre de si mesmo e dos seus atos, ou seja, o poder de se determinar em funo de um fim
escolhido (JOLIVET, 1949, p. 176-177). A vontade, Jolivet admite, impulsionada pelo seu
objeto; essa impulso condiciona o movimento da vontade, mas no o torna necessrio,
pois impulso e movimento no so a mesma coisa: o movimento da vontade procede da
alma e no do objeto. Se a vontade nasce de um princpio interno, ento ela dita
espontnea; e se entre a impulso vinda do objeto e o movimento vindo da alma no
existe uma relao de necessidade, ento a vontade dita livre (JOLIVET, 1949, p. 177).
1.3. Mecanicismo
1.3.1. O compatibilismo de Epicuro
Os eleatas, para quem o ser e o corpreo eram sinnimos, negavam, contra
tudo aquilo que os nossos sentidos nos mostravam, a possibilidade do movimento ora,
o que movimento seno o deslocamento de um corpo a partir de uma regio densa em
direo a uma regio rarefeita? Isso seria afirmar que, na natureza, existiriam locais em
que haveria uma concentrao maior do ser (os locais densos) e outros em que a
concentrao seria menor (os locais rarefeitos), o que implicaria assumir, indiretamente,
a existncia do no-ser (o incorpreo).
Opondo-se a essa viso, Leucipo e Demcrito afirmaram a realidade do
movimento e do no-ser (o incorpreo). A realidade, ento, de una, homognea e
73
imvel que era para os eleatas, tornava-se mltipla, heterognea e mvel, composta por
vrios tomos, unidades corpreas indivisveis, s quais se atriburam as qualidades
que os eleatas atribuam ao Ser (indivisibilidade, homogeneidade, unidade etc.).
Explicado o movimento, os atomistas puderam retomar a antiga suposio (de
Tales, Anaximandro e Anaxmenes) de que ele era um dado cuja origem no precisava
ser explicada. Com isso, o atomismo pde construir uma explicao da realidade sem
precisar supor algum princpio intrnseco na matria (tal como o Amor e o dio de
Empdocles ou a Inteligncia de Anaxgoras) e oferecer a primeira teoria mecanicista
consistente da realidade, em que todas as substncias, animadas e inanimadas, se
reduziam a tomos de diferentes tamanhos e formas (BOLLES, 1969, p. 23). Tanto os
eventos fsicos quanto os eventos psquicos eram explicados pelo movimento dos
tomos do que se segue que o comportamento humano, para o atomismo, no era
determinado pela razo (como propunham Plato e Aristteles), mas pelo tamanho, pela
forma e pela posio dos tomos.
A fsica de Epicuro , em grande parte, uma reproduo daquela de Demcrito e
de Leucipo (SEDLEY, 2006, p. 261). Mas Epicuro era antes de tudo um filsofo moralista
e foi apenas por um desenvolvimento lgico de seu sistema tico que ele foi conduzido,
no obstante as suas preocupaes prticas, a penetrar no domnio da pura especulao
e a construir uma lgica e uma fsica apropriadas sua doutrina (LENGRAND, 1906, p.
50).
Segundo Epicuro, o maior bem para a humanidade era o prazer (o verdadeiro
prazer), ou seja, o prazer constitutivo, aquele que possibilitava a ausncia de penas e
sofrimentos a verdadeira felicidade era a ausncia de dor (tanto do corpo quanto da
alma). Mas um duplo receio o medo da morte e o medo dos deuses lanava na alma
do sbio uma grande inquietao. O objetivo da filosofia de Epicuro, portanto, somente
seria alcanado se pudesse afastar esses dois obstculos ataraxia devia dissipar o
mistrio em que os fenmenos celestes estavam envoltos e destruir a crena tanto na
interveno dos deuses em questes humanas quanto na imortalidade da alma. Para
afastar os deuses e acabar com as crenas supersticiosas sobre a ao divina, era preciso
uma fsica materialista, que explicasse o universo e a natureza das coisas mecanicamente
(LENGRAND, 1906, p. 51).
Epicuro, ento, props um sistema atmico, tal como o de Demcrito e de Leucipo
mas com duas importantes diferenas:
74
(1) Acerca da ontologia das qualidades fenomnicas Demcrito afirmava que
apenas as propriedades intrnsecas dos tomos eram reais e que as propriedades
fenomnicas dos corpos no eram nada mais do que os estados fsicos de agregados
atmicos. Epicuro, por sua vez, sustentava que as propriedades fenomnicas dos corpos
visveis eram to reais quanto as propriedades intrnsecas dos tomos (SEDLEY, 2006, p.
279). Essa compreenso das qualidades fenomnicas levou Epicuro a aceitar a mudana
qualitativa dos tomos (enquanto Leucipo e Demcrito defendam exatamente o
contrrio).
(2) Para explicar a mudana das propriedades dos tomos Epicuro props uma
importante inovao: o movimento espontneo, que Lucrcio viria a chamar de
clinamen. Segundo Epicuro, o tomo seria dotado de um poder interno, imanente, capaz
de produzir variaes nos seus movimentos e nas combinaes com outros tomos.
(LENGRAND, 1906, p. 63). Haveria, ento, uma cadeia mecnica de causas desde os
tomos da alma at os tomos do corpo, em que os tomos da alma teriam a propriedade
do movimento espontneo a cadeia causal de eventos, assim, poderia ser alterada
pela vontade (BOLLES, 1969, p. 24).
A tentativa de Epicuro a de conciliar o racionalismo platnico-aristotlico e o
mecanicismo atomista conciliar o determinismo e o livre-arbtrio. O sistema de
Epicuro assume o corpo mecanicista e tenta conservar a alma racionalista. Essa
soluo ser discutida pelo Cristianismo na explicao da vontade individual frente
onipotncia divina.
1.3.2. O materialismo de Hobbes
Thomas Hobbes foi um materialista ferrenho, para quem a explicao de todas as
coisas devia ser encontrada nos seus movimentos fsicos (SORELL, 1996, p. 157).
Segundo Hobbes, os pensamentos humanos, considerados isoladamente, so todos eles
Representaes (Representations) ou Aparncias (Apparence), de alguma qualidade ou
acidente de um corpo externo. Esse corpo externo Hobbes chama de Objeto (Object) e
postula a sua existncia independentemente do sujeito. A ao do Objeto nos rgos do
sentido produz, pela diversidade de ao, uma diversidade de Aparncias. A origem de
todas as Aparncias est naquilo que chamamos de Sentido (Sense) todo o resto
derivado dele. A causa do Sentido o Objeto. A presso do Objeto sobre o rgo do
75
Sentido produz um movimento que levado pelos nervos at o Crebro e at o Corao,
causando l uma resistncia, ou contrapresso, ou esforo. Essa resistncia produz um
movimento contrrio e esse movimento contrrio o que chamados de Aparncias. A
realidade fsica e a realidade psquica so explicadas por Hobbes mediante a lei de
conservao de movimento (HOBBES, 2006, p. 7). A nica caracterstica que distinguia a
atividade mental dos movimentos fsicos era a sua localizao na cabea (BOLLES, 1969,
p. 27).
Existem nos animais dois tipos de movimento: o movimento vital, referente
circulao do sangue, respirao, nutrio e a outros processos biolgicos, independe
do movimento dos Sentidos (SORELL, 1996, p. 159); e o movimento animal (ou
voluntrio), que se manifesta na locomoo, na fala etc., tal como so imaginados nas
nossas mentes e que derivam da relao entre o movimento vital e os movimentos do
Sentido (SORELL, 1996, p. 160). Dado que o Sentido constitudo pelo movimento dos
rgos internos, em funo do movimento dos corpos externos; que a Aparncia deriva
desse mesmo movimento, subsistindo mesmo aps o trmino do Sentido; e que andar,
falar e outros movimentos voluntrios dependem sempre de um pensamento
precedente de como, por que e o que evidente que a Imaginao o princpio
interno de qualquer movimento voluntrio. Os princpios mais bsicos do movimento,
anteriores a qualquer ao visvel, so chamados de Esforos (Endeavour).
O Esforo, enquanto considerado frente quilo que o causa, chamado de
Apetite (Appetite) ou Desejo (Desire). Enquanto considerado frente quilo que o inibe,
chamado de Averso (Aversion). Hobbes relaciona os conceitos de Apetite e de
Averso aos conceitos gregos de e de , respectivamente (HOBBES, 2006, p.
28). A prpria Natureza imprimia nos homens essas tendncias estamos aqui diante do
conceito arcaico de Instinto, que ser desenvolvido no sculo XVIII e XIX e substitudo,
no sculo XX, pelo conceito de Pulso.
O prazer, no sistema de Hobbes, era devido acelerao do fluxo de sangue,
enquanto que a dor era atribuda ao impedimento do sangue (BOLLES, 1969, p. 27). As
variaes desses processos fisiolgicos produziam no apenas os sentimentos
emocionais, mas tambm reaes gerais do corpo que aumentavam ou inibiam a
tendncia para a ao. Uma ao era iniciada, na psicologia de Hobbes, por um esforo
76
(endeavor)
59
. Os esforos eram, em hiptese, aes incipientes ou comeos de aes. A
qualquer instante em que um esforo se dirige a um objeto conhecido pela experincia
como agradvel, nasce um apetite; e com o apetite, o movimento vital do corpo
desencadeado, o esforo ganha energia, o sangue acelera e a ao necessariamente se
segue (BOLLES, 1969, p. 28). Contrariamente, em caso de um objeto conhecido pela
experincia como doloroso, os esforos so repelidos e a ao no se desencadeia.
A originalidade de Hobbes consiste em explicar mecanicamente o que era tido
como um dos principais pressupostos do racionalismo: a capacidade humana de
antecipar um evento futuro e de determinar sua conduta com base nessa antecipao.
Hobbes tambm foi o pai de um novo tipo de hedonismo. Segundo ele, por mais que ns
tentemos nos enganar, todas as nossas aes so motivadas pelo desejo de encontrar o
prazer ou de fugir da dor. O hedonismo psicolgico proposto por Hobbes retira do
princpio prazer-dor todo e qualquer implicao tica e faz dele um princpio de
motivao e determinao da conduta (BOLLES, 1969, p. 28). A vontade, acreditava
Thomas Hobbes, era apenas uma idias que o homem tinha sobre si mesmo. Mas quais
so os fatos no que se refere vontade? Ns deliberamos. Ns pensamos
alternadamente no medo e no orgulho; ns somos alternadamente dados averso e ao
apetite; ns alternadamente experimentamos, de forma antecipada, a dor e o pazer. A
ltima dessas condies, por estar mais prxima ao presumivelmente a mais forte
e ns pensamos nela, em retrospecto, como se fosse a nossa prpria vontade (BOLLES,
1969, p. 29).
Descartes havia oferecido uma explicao mecanicista do comportamento dos
animais. O prximo passo foi dado por Hobbes, ao estudar o homem tambm como uma
mquina ele foi talvez o primeiro a perceber que a explicao do comportamento no
precisa ser teleolgica. Tomando esse passo, Hobbes se tornou o primeiro grande
oponente moderno do racionalismo e se tornou tambm o primeiro determinista. A
psicologia de Hobbes forneceu as bases para o desenvolvimento do associacionismo
britnico (BOLLES, 1969, p. 29).
1.3.3. O determinismo do sculo XIX
1.3.3.1 O darwinismo
59
Por esforo, Hobbes no queria dizer apenas uma prontido ou um desejo de agir. O esforo no era
um evento mental com ele Hobbes se referia a um pequeno movimento, a um movimento incipiente.
77
As primeiras explicaes da evoluo tendiam a interpretar o desenvolvimento
filogentico como a evidncia de um plano divino. A existncia de animais superiores e
do homem era tida como evidncia de um princpio teleolgico de evoluo. Esse ponto
de vista estava de acordo com a antiga concepo do instinto como o guia na natureza
que dirigia os impulsos. No era possvel traar uma linha divisria entre a inteligncia,
tal como era encontrada nos seres humanos, e o instinto, tal como era encontrado nos
animais. Lamarck havia enfatizado que a marca do comportamento instintivo nos
animais consistia na sua adaptabilidade, ou inteligncia aparente. A adaptabilidade,
quando se tornava habitual e passava de gerao em gerao como parte da herana
evolucionria, podia tomar a aparncia de comportamento inteligente (BOLLES, 1969, p.
37). A vida e o esforo dos animais possuam ento um propsito: as espcies se
adaptavam para que os indivduos pudessem, aps vrias geraes, reagir
instintivamente.
A idia darwiniana de evoluo, pelo contrrio, se caracterizava pela afirmao
de que os instintos eram apenas impulsos cegos. Eles estavam presentes porque os
animais que os possuam, em uma variao aleatria de inumerveis impulsos possveis,
haviam tido a sorte de sobreviver e procriar. Para Darwin, era desnecessrio supor que a
natureza tivesse algum propsito o nico critrio natural consistia em descobrir se um
aspecto particular do comportamento promovia a sobrevivncia: se a promovesse, ento
persistiria na evoluo; se no a promovesse, ento desapareceria (BOLLES, 1969, p.
38). Darwin ento sups que, se a variao aleatria e a seleo natural eram suficientes
para explicar a diversidade de formas dos animais inferiores, os mesmos princpios
eram logicamente aplicveis para explicar a evoluo de todo o reino animal, inclusive a
do homem.
A teoria da evoluo de Darwin envolvia quatro preceitos:
(1) Existe uma constante luta pela sobrevivncia. Essa competio leva seleo
natural do melhor adaptado. Aqueles que resistiam seleo natural sobreviviam por
causa de alguma adaptao especializada (BOLLES, 1969, p. 38);
(2) Toda vez que a caracterstica de um animal lhe parece ser demasiado nica
ou, contrariamente, demasiado geral entre as espcies, podemos supor que ela assume
um papel crucial na sobrevivncia. Se ela no fosse importante, no se teria tornado to
78
geral ou, conforme o caso, to especfica. A sobrevivncia ento se torna um critrio com
base em que podemos julgar qualquer comportamento (BOLLES, 1969, p. 39);
(3) A natureza no tem qualquer propsito ou plano. O nico mecanismo que ela
requer para explicar a diversificao dos animais a variao aleatria nas
caractersticas herdadas e a operao contnua da seleo natural (BOLLES, 1969, p. 39);
(4) A filogenia contnua. A teoria darwiniana implica a continuidade entre o
homem e os animais (BOLLES, 1969, p. 40).
A continuidade da evoluo levou alguns psiclogos a buscarem, no estudo dos
animais, as faculdades mentais do homem. Uma importante conseqncia dessa
abordagem molecular foi que os homens comearam a pensar o comportamento
humano e o animal como dependentes de um nmero de reflexos especficos de resposta
a estmulos. Essa explicao do comportamento, por no precisar supor a interveno da
razo humana na conduta, era intrinsecamente determinista e anti-racional. Um dos
grandes mritos da psicologia animal foi desenvolver o conceito de arco reflexo, que
levaria ao que Robert Bolles chama de revoluo behaviorista a explicao no
racional do comportamento (BOLLES, 1969, p. 41).
1.3.3.2. O novo hedonismo de Spencer
O hedonismo at Herbert Spencer estava sempre referido busca do prazer e
fuga da dor. Spencer ento props uma nova e conceitualmente ponderosa forma de
hedonismo, deslocando a explicao hedonstica do comportamento do campo da
filosofia para o campo da biologia e da psicologia.
Herbert Spencer via na dor e no prazer os principais determinantes do
comportamento no por eles serem aquilo que buscamos, mas por controlarem aquilo
aprendemos (BOLLES, 1969, p. 41). A teoria spenceriana do comportamento era assim
construda sob uma nova suposio: as aes humanas seriam governadas pelo prazer e
pela dor, no porque eles fossem os seus objetivos, mas porque eles haviam sido
reforados na herana evolucionria como uma caracterstica para a sobrevivncia
(BOLLES, 1969, p. 43).
Se a concepo naturalista de Darwin a respeito da sobrevivncia do mais forte
funcionava to bem para explicar os fenmenos biolgicos, ento e essa era a sugesto
de Spencer ela tambm serviria para explicar os fenmenos psicolgicos e sociolgicos
79
(BOLLES, 1969, p. 42). De algum modo, durante o curso da evoluo, devia-se ter
estabelecido na espcie uma correlao entre os comportamentos que a levavam ao
prazer e os comportamentos que promoviam a sua sobrevivncia (BOLLES, 1969, p. 42).
Spencer tentou mostrar, passo a passo, o mecanismo definido como vontade,
descrevendo as etapas da evoluo que, partindo do simples reflexo, chegou volio.
Sob a sua forma simples, o reflexo no seria mais do que um fenmeno de associao das
vias nervosas. Pouco a pouco, pelo fato da acumulao das experincias individuais
sensivelmente uniformes, a organizao do sistema nervoso se adaptaria ao meio e se
tornaria hereditria: aos simples reflexos se ajuntariam os reflexos compostos e os
comportamentos especficos (JOLIVET, 1947, p. 570). Um novo progresso seria marcado
entre homens pelo fato que o crebro, que se torna preponderante, no seria mais um
simples lugar de passagem das excitaes, mas um instrumento prodigiosamente
complexo de informao, de elaborao e de reao.
Todos os fenmenos psicolgicos poderiam ser deduzidos desse estado nervoso e
particularmente do estado cerebral. No estgio de simples reflexo, a conscincia
(quando ela existe) se resumiria a constatar, sob a forma de diversas sensaes, a
excitao e a resposta que da excitao resulta automaticamente quanto ao interregno
entre uma e outra, tudo isso escaparia a essa conscincia. Tambm assim no estgio dos
reflexos compostos, com a diferena de que a complicao e a durao do processo
nervoso fariam aparecer os estados afetivos. Com o instinto e os movimentos
especficos, a conscincia compreenderia no apenas as sensaes atuais, mas tambm
as imagens e as idias das excitaes e das reaes passadas. Quando se passasse do
estgio de movimentos especficos quele dos movimentos individuais, a extraordinria
complexidade das vias nervosas e dos mecanismos cerebrais daria, segundo Spencer,
uma intensidade especial ao fenmeno de compreenso do passado e do presente. Ela
revelaria as excitaes e as reaes passadas de natureza anloga e, por esse fato
mesmo, ela viria a tomar conscincia das inmeras respostas possveis e poderia prever
e antecipar a reao (idia ou movimento) que havia de se produzir. A vontade seria
exatamente isso: ela se explicaria, at nas suas formas mais complexas, como previso e
antecipao da idia ou do movimento que se vai produzir em resposta a uma situao
dada (JOLIVET, 1947, p. 571).
1.3.3.3. O fisiologismo de Ribot
80
Ribot adota esse ponto de vista de Spencer, mas sob uma forma um pouco
diferente. A volio, segundo ele, que impulso e inibio, deve-se definir como a
reao prpria do indivduo, tanto em sentido psicolgico quanto fisiolgico.
Fisiologicamente, significa (1) que o ato voluntrio difere tanto do ato reflexo, tanto dos
mais simples quanto dos mais complexos; e (2) que ele o resultado de toda a
organizao nervosa, refletindo ela mesma a natureza de todo o organismo. Da porque o
eu quero constata uma situao, mas no a constitui (JOLIVET, 1947, p. 571).
Em sua obra As enfermidades da vontade
60
, Thodule Ribot pretende analisar a
vontade a partir das experincias interna e externa. Ele toma a vontade por um fato
inserido em uma cadeia causal, sem se preocupar em descobrir se essas causas supem
uma causalidade infinita ou se so espontneas (RIBOT, 1888, p. 3). Segundo ele, o
princpio fundamental que domina a psicologia da vontade que todo estado de
conscincia tem sempre uma tendncia a se exprimir, a se traduzir em um movimento
por um ato, a se desprender em um ato psicolgico ou fisiolgico, consciente ou
inconsciente (RIBOT, 1888, p. 4).
A vontade, contudo, tal como ns a experimentamos, o resultado de uma longa
evoluo (filo e ontogentica). Ontogeneticamente, Ribot distingue trs perodos:
1 perodo: O recm-nascido um ser espinhal, ou seja, suas atividades so
puramente reflexas. Sejam essas atividades conscientes ou no, em nenhum caso elas
representam uma atividade voluntria, mas so, no entanto, o material a partir do qual a
vontade construda (RIBOT, 1888, p. 5).
2 perodo: O desejo marca uma etapa ascendente do estgio reflexo ao estgio
voluntrio. Por desejo Ribot entende as formas mais elementares da vida afetiva, as
nicas que podem existir antes do surgimento da inteligncia. Fisiologicamente, o desejo
no difere dos reflexos, em ordem de complexidade. Psicologicamente, difere pelo
estado mais intenso de conscincia que o acompanha (RIBOT, 1888, p. 5). No estado
natural, o desejo tende a se satisfazer imediatamente esta a sua lei. As crianas
pequenas fornecem excelentes exemplos. Entre os adultos, o desejo no se encontra
mais em estado natural; a educao, o hbito, a reflexo, todos eles o mutilam e o
refream. O desejo marca um progresso sobre o primeiro perodo porque ele denota o
comeo da individualidade (RIBOT, 1888, p. 6).
60
Les maladies de la volont, no original francs.
81
3 perodo: Quando uma soma suficiente de experincias permite o nascimento
da inteligncia, produz-se uma nova forma de atividade, que pode ser chamada ido-
motriz, pois se trata de idias que causam movimentos (RIBOT, 1888, p. 6). Como uma
idia, pergunta-se Ribot, pode produzir um movimento? Para encontrar a resposta,
Thodule Ribot prope uma investigao da fisiologia subjacente atividade voluntria.
Segundo ele, a base anatmica de todos os nossos estados mentais compreende tanto os
elementos motores quanto os elementos sensitivos. As imagens e as idias, mesmo as
abstratas, supem um substrato anatmico sobre o qual os movimentos so
representados.
Ribot distingue duas espcies de elementos motores: (a) aqueles que servem para
constituir um estado de conscincia e (2) aqueles que servem para inibi-lo. Os primeiros
so intrnsecos; os segundos, extrnsecos (RIBOT, 1888, p. 7). Essa estreita relao
estabelecida pela fisiologia entre a idia e o movimento permite entrever, acredita Ribot,
como uma produz o outro. Na realidade, uma idia enquanto tal no produz um
movimento. No o estado de conscincias, mas o estado fisiolgico correspondente que
se transforma em ato. A relao no entre um evento psquico e um movimento, mas
entre dois estados da mesma natureza, entre dois estados fisiolgicos, um sensitivo e
outro motor (RIBOT, 1888, p. 8). As idias podem ser agrupadas em trs classes
conforme a sua tendncia de se transformar em ato forte, moderada ou frgil (ou, de
certo modo, nula):
- O primeiro grupo compreende os estados intelectuais, extremamente intensos
(as idias fixas, e.g.). Eles passam ao ato com uma fatalidade quase igual quela dos
reflexos. A maior parte das paixes entram nesse grupo como principios de ao, como
elementos afetivos predominantes (RIBOT, 1888, p. 9).
- O segundo grupo o mais importante para a teoria da vontade de Ribot. Ele
representa a atividade racional, a vontade no sentido corrente da palavra. A concepo
seguida de um ato depois de uma curta ou longa deliberao. A maior parte das nossas
aes se liga a esse tipo de idia. Nesse grupo, a tendncia de se transformar em ato no
nem instantnea nem violenta. O estado afetivo concomitante moderado (RIBOT,
1888, p. 11).
- O terceiro grupo constitudo pelas idias abstratas, com as quais a tendncia
para o movimento vai ao seu mnimo. Essas idias, por serem representaes, esquemas,
extratos fixos de um signo, o elemento motor se empobrece na mesma medida em que se
82
enriquece o elemento representativo. Sua tendncia motriz se reduz palavra interior
que as acompanha (RIBOT, 1888, p. 11).
A atividade voluntria aparece como um momento na evoluo ascendente que
vai do simples reflexo, em que a tendncia para o movimento irresistvel, idia
abstrata, em que a tendncia para o ato est em seu menor grau. A transio de uma
dessas formas para a outra quase insensvel (RIBOT, 1888, p. 12). Nesse primeiro
momento, Ribot define a vontade como um ato consciente, mais ou menos deliberado, que
busca um fim simples ou complexo, prximo ou distante (RIBOT, 1888, p. 13). Mas essa
definio, diz-nos Ribot, apenas leva em conta o carter associativo da vontade ela
muito mais do que isso: ela tambm um poder de inibio.
De um ponto de vista analtico, a vontade consiste na transformao de alguns
estados de conscincia em movimento e no poder de inibio de outros. Entendida em sua
totalidade, a vontade consiste na reao de prpria de todo um indviduo. Os movimentos
voluntrios tm como caracterstica principal a de serem adaptados a circunstncias
particulares (RIBOT, 1888, p. 24).
Os reflexos ordinrios so reaes da medula espinhal, adaptadas a condies
bastante genricas e, por conseqncia, bastante simples, uniformes e invariveis de um
indivduo a outro. Os reflexos possuem ento um carter especfico, ou seja, so
caractersticas de todos os individuos da espcie. Um outro grupo de reflexos representa
as reaes da base e da regio mdia do encfalo. Essas reaes so tambm adaptadas a
condies genricas pouco variveis, mas de uma ordem muito mais complexa: trata-se
da atividade sensrio-motriz. Elas ainda tm um carter mais especfico do que
individual. Os reflexos cerebrais, sobretudo os mais elevados, consistem em uma reao
adaptadas a condies bastante complexas, variveis, instveis, que diferem de um
indivduo a outro e, de um instante a outro, em um mesmo indivduo. Elas so as reaes
ido-motrizes, as volies (RIBOT, 1888, p. 25).
Considerada como estado de conscincia, a volio no nada mais do que uma
afirmao (ou negao). Ela anloga ao julgamento, com a diferena de que o
julgamento exprime a relao de convenincia (ou inconvenincia) entre as idias e a
volio essa mesma relao entre as tendencias. Mas a volio, por ela mesma, como
estado de conscincia, no tem eficcia para producir o ato que julga convenente (RIBOT,
1888, p. 29).
83
A razo ltima da escolha est, portanto, no carter, ou seja, naquilo que constitui
a marca prpria, psicologicamente falando, do indivduo e o diferencia de todos os
outros indivduos da sua espcie. O carter um dado ltimo, uma verdadeira causa
mas se o carter uma causa em si ou se o efeito de outra causa, essa questo
transcende, segundo Ribot, a capacidade de investigao da cincia (RIBOT, 1888, p. 31).
A vontade , assim, uma reao individual, que escolhe uma tendncia com base naquilo
que constitui um indivduo num momento dado (idias e sensaes passadas, ou
presentes, ou representadas no futuro) (RIBOT, 1888, p. 29).
2. A Substncia a partir do Eu
2.1. O princpio imanentista
A partir de Descartes, a filosofia se torna exclusivamente uma filosofia do sujeito.
Toda a especulao centrada sobre o sujeito para tentar descobrir como se pode
engendrar, a partir de sua subjetividade, o mundo emprico das aparncias. Durante dois
sculos, a filosofia se preocupou em resolver o singular problema de saber como um
sujeito que no era capaz de conhecer nada alm de si ou do seu pensamento podia no
obstante conhecer e afirmar outra coisa alm de si (JOLIVET, 1946, p. 59-60).
Toda a sua doutrina parte de um princpio que se tornou axiomtico na filosofia
moderna: o princpio da imanncia, segundo o qual os nicos objetos do conhecimento so
as idias e as sensaes. Esse princpio, no entanto, no criao sua, mas sim o
desenvolvimento de uma dupla discusso filosfica: de um lado, o fenomenismo, ou seja,
a doutrina segundo a qual o nico objeto do conhecimento o fenmeno (i.e. a
aparncia); e do outro, o inesmo, ou seja, a doutrina segundo a qual as idias ou os
conceitos so inatos ao esprito humano
61
.
FENOMENISMO
O fenomenismo uma doutrina cujas razes remontam aos cticos pirronistas e
que Sextus Empiricus resume assim: O nosso ceticismo consiste fundamentalmente em
61
A vinculao do (1) imanentismo ao (2) inesmo e ao (3) fenomenismo apenas histrica logicamente,
os trs princpios podem ser formulados de forma independente. Santo Agostinho, por exemplo, ao
defender a tese de que as idias eram participaes do intelecto humano na inteligncia divina, sustentava
(2) sem, contudo, cair em (1) ou em (3); o ceticismo de Sextus Empiricus, que o levou a (3), no o fez
afirmar nem (1) nem (2); o sistema de Descartes tinha por fundamentos (1) e (2), mas no (3); Locke e a
sua teoria empirista partia de (1) e de (3) sem recorrer a (2); Berkeley e Fichte se baseavam unicamente
em (1).
84
opor os fenmenos s essncias; apenas estas ltimas no podem ser conhecidas; mas
dizer que o nosso ceticismo destri os fenmenos [ou seja, os dados subjetivos] no
nos entender (JOLIVET, 1946, p. 36). A epistemologia fenomenista de Sextus Emprico
partia do reconhecimento da importncia daquilo que atualmente chamamos de dado
segundo Sextus, uma anlise adequada do conhecimento emprico levaria quilo que
inevitvel e indubitavelmente presente na experincia (CHISHOLM, 1941, p. 376). O
dado era a impresso sensvel, isto , a aparncia, o fenmeno e era tambm o
nico objeto evidente por si mesmo e alm de qualquer dvida. Toda afirmao para ser
verdadeira devia ser confirmada por esse dado fenomnico (CHISHOLM, 1941, p. 377),
pois no se podia ter certeza de nada alm das realidades subjetivas. Por conseqncia,
a existncia do mundo das realidades objetivas era posta em dvida (JOLIVET, 1946, p.
36-37).
O fenomenismo levava crtica do universal como instrumento de conhecimento
(JOLIVET, 1946, p. 36): em primeiro lugar, se o universal, que uma idia fixa e
imutvel, existisse ento seria um objeto real, mas os dados empricos mostram que os
objetos reais esto em perptuo movimento e em contnua mudana, logo no possvel
que o universal seja um objeto real e, por conseqncia, no possvel que ele exista; em
segundo lugar, se o universal existisse e fosse um objeto real ento ele seria cognoscvel
ou como um dado ou como um signo (i.e., por correspondncia a um dado), mas o dado
uma coisa particular e mutvel, logo no possvel que o universal seja um dado, mas
tambm o universal no corresponde a nenhum dado fenomnico, logo no possvel
que o universal seja um signo, por conseqncia, o universal no cognoscvel; em
terceiro lugar, se o universal existisse e fosse um objeto real e fosse cognoscvel, ento
ele seria comunicvel por meio de palavras, mas as palavras no possuem nada de
estvel, ao contrrio do pensamento que elas pretendem expressar e, alm disso, elas s
se podem expressar por meios sensveis, ou seja, por meios particulares e mutveis, logo
o universal incomunicvel.
Uma conseqncia possvel, mas no necessria, do fenomenismo o
nominalismo. O ponto de partida do nominalismo a forte crtica fenomenista ao
universal, ou seja, ao conceito ou idia geral, cujo valor negado, restando apenas como
verdadeiro o conhecimento ligado ao indivduo. Roscelinus foi tido pelos seus
contemporneos e pela posteridade como o representante de um grupo de filsofos que
confundiam a idia geral com o termo pelo qual se a designa (GILSON, 1925, p. 39). Suas
85
idias tinham origem nos comentrios de Bocio ao Isagoge de Porfrio. Bocio
sustentava, com base em Simplcio, que as categorias de Aristteles se referiam no s
coisas, mas s palavras enquanto signos das coisas. Roscelinus ento concluiu que todas
as distines dialticas entre gnero e espcie, substncia e qualidade, seriam apenas
distines verbais, devidas ao discurso humano a nica distino fundada na realidade
seria a das substncias individuais (BREHIER, 1928, p. 564). Para um realista, a
humanidade seria uma realidade, mas para o nominalista nada alm dos indivduos
humanos seria real (GILSON, 1925, p. 38). A inteligncia somente poderia conhecer o
singular. As idias gerais eram apenas os termos que indicavam um conjunto de objetos
singulares da experincia (JOLIVET, 1946, p. 53).
William Ockham e Nicolas dAutrecourt desenvolveram todas as conseqncias
da teoria nominalista do conhecimento.
Ockham negava qualquer realidade objetiva ao universal, mas admitia que esse
universal existisse realmente no esprito (trata-se de uma tentativa de conciliao entre
o realismo e o nominalismo, que ficou conhecida como conceptualismo ou terminismo)
(BREHIER, 1928, p. 721). A funo do universal, desse ponto de vista, no poderia ser
outra seno a de reunir as realidades singulares da experincia; o universal no era
uma representao das coisas, mas um simples signo, que evocava um objeto de
natureza inteiramente diferente. Assim, o objeto imediato e direto do esprito no era a
coisa em si, mas aquilo que a reunia, aquilo que era o seu signo mental, natural ou
arbitrrio, a inteno ou o conceito, a idia ou o termo. A coisa em si, enquanto
realidade extra-mental, se tornava, com Ockham, o objeto indireto do esprito,
cognoscvel apenas por inferncia (JOLIVET, 1946, p. 54).
Para Nicolas dAutrecourt os fenmenos no estavam ligados entre si, ordenados
e unidos como acidentes do sujeito (ou substncia) real. Eles apenas formavam um
conjunto de aparncias naturais que eram, enquanto tais, a nica realidade de que os
seres humanos estavam verdadeiramente certos. O resto seria construo dos sonhos ou
da imaginao (JOLIVET, 1946, p. 55). Em razo dos mesmos princpios, dAutrecourt
tentava explicar os objetos empricos unicamente pelo mecanicismo; todos os
movimentos das aparncias naturais se explicariam pela maneira mais simples e mais
clara, sem qualquer recurso a noes obscuras de formas ou de substncias, pois o
movimento local dos tomos, tal como era dado aos sentidos, seria suficiente para
fornecer uma explicao adequada (JOLIVET, 1946, p. 55). Nicolas dAutrecourt conclua
86
que a nica coisa da qual os seres humanos podiam estar absolutamente certos era da
sua prpria existncia atual (JOLIVET, 1946, p. 56).
INESMO
O inesmo no foi uma descoberta de Descartes ou uma revelao acidental do
seu sistema. Nenhum dos estudantes de filosofia do seu tempo ignorava a clebre
doutrina que So Toms havia resumido e depois combatido (GILSON, 1921, p. 166).
No se poderia, contudo, admitir que Descartes houvesse recolhido no prprio
ensinamento de So Toms uma doutrina criticada e abandonada e ainda houvesse
conservado a esperana de se fazer entender, se ele no estivesse baseado em
autoridades que, mesmo no sendo superiores ou mesmo iguais a So Toms, eram, no
entanto, suficientes para que a sua doutrina pudesse ser aceita (GILSON, 1921, p. 166-
167).
A autoridade de pseudo-Dionsio e de Santo Agostinho j havia feito mais de um
telogo aceitar algumas concepes em desacordo com a filosofia de Aristteles. Uma
dessas concepes era sugerida aos telogos por certos textos de Santo Agostinho e pelo
escrito pseudo-agostiniano De spiritu et anima.: em lugar de considerar a imagem-objeto
como introduzida nos sentidos por um objeto material, admitia-se, segundo essa outra
tese, que a alma formava instantaneamente em si a imagem desse objeto; o sentido no
faria aqui mais do que o papel de um excitante, de um mensageiro que anunciava o
objeto e convidava a alma a represent-lo (GILSON, 1921, p. 168). Em um doutor como
Jean de la Rochelle, por exemplo, possvel descobrir facilmente uma teoria inesta do
conhecimento de Deus, muito mais prxima de Descartes do que de So Toms (GILSON,
1921, p. 167). No era um acidente: antecedendo So Toms de Aquilo, havia toda uma
escola de telogos que ensinava expressamente a doutrina das idias inatas. Essa
corrente, de origem platnica, se manifestava, nos sc. XIV e XV, tanto no apelo direto ao
inesmo quanto no afastamento mais ou menos intenso da doutrina de Aristteles e de
So Toms (GILSON, 1921, p. 168).
Nos sc. XV e XVI possvel encontrar um movimento de crtica do aristotelismo
escolstico e de resgate da tradio platnica da patrstica com Marsilio Ficino, Pico
della Mirandola, Patrizi da Cherso e Giordano Bruno. Em Discussiones peripatetic, por
exemplo, Patrizi (influenciado por Agostinho, pseudo-Dionsio e Marsilio Ficino), ao
comparar os pontos de vista de Aristteles e de Plato, dizia que o platonismo era
prefervel, em especial a sua teoria das Idias exposta no Timeu, segundo a qual, o
87
mundo fsico teria sua existncia derivada das realidades supramundanas. No sc. XVII
houve uma renovao do inesmo platnico no seio mesmo da escolstica (GILSON,
1921, p. 172) e at em autores profundamente impregnados de tomismo e aristotelismo
como Francisco Suarez. Para Suarez, assim como para So Toms, o intelecto no era
capaz de formar uma espcie inteligvel sem que ela fosse tambm determinada pela
espcie sensvel (phantasma). Mas a phantasma (e aqui Suarez diverge de So Toms),
em razo de sua natureza material e por subsistir em uma potncia inferior (a
sensibilidade), no seria capaz de concorrer na operao espiritual de uma potncia
superior (o intelecto). Era preciso, portanto, supor, no que o intelecto agente
iluminasse a espcie sensvel para elev-la ordem inteligvel, mas sim que ele
possusse, no intelecto passivo, as espcies das coisas que conhecia pelos sentidos
(GILSON, 1921, p. 169). A doutrina de Suarez sugeria a possibilidade de uma conciliao
entre o aristotelismo e o neoplatonismo o princpio inesta se desenvolveu em meio
discusso dessa possibilidade (GILSON, 1921, p. 171).
Assim, Descartes pode haver estado em contado, desde os seus tempos em la
Flche, com uma corrente de idias favorvel ao inesmo (GILSON, 1921, p. 172). Entre
os primeiros telogos a adotar essa teoria e com os quais Cartsio conviveu bastante
esto o cardeal de Brulle, fundador do Oratrio, e o seu discpulo o padre Gibieuf. Sabe-
se que Descartes manteve com eles durante algum tempo uma relao estreita (GILSON,
1921, p. 173). Em Gibieuf, mais filsofo que o seu superior, a doutrina das idias inatas
se afirmou claramente, desprovida de alegorias msticas e da transposio teolgica.
Para estabelecer a existncia da liberdade, Gibieuf fazia uso do testemunho interior da
sua conscincia. O que era certo da liberdade o era tambm de todas as noes primeiras
e mais universais a respeito das qualidades e das coisas. Elas no eram criadas pelo
artifcio humano, nem construdas ao sabor dos filsofos; mas eram encontradas
inscritas pela natureza na prpria alma (GILSON, 1921, p. 174).
PRINCPIO DA IMANNCIA
Pierre Auriol foi o primeiro a propor a tese do princpio da imanncia, segundo a
qual o objeto do conhecimento no o objeto real, mas a idia ou a imagem (JOLIVET,
1946, p. 53). Segundo Auriol, as coisas produziriam impresses no intelecto que
poderiam ser diferentes em fora e em preciso; em seguida, produzir-se-ia no intelecto
uma aparncia que Pierre chamou de ser intencional (esse intentionale), reflexo (forma
specularis), conceito ou aparncia objetiva; a aparncia no seria (como a species
88
tomista) o instrumento pelo qual a alma conhece a coisa, mas sim o prprio objeto do
conhecimento (BREHIER, 1928, p. 720).
Cartsio adotou esse princpio e, indo alm da observao de Nicolas
dAutrecourt, fez do imanentismo a pedra angular de toda a sua filosofia. Os grandes
pensadores dos sc. XVII, XVIII e XIX assim como as principais explicaes desse perodo
a respeito da vontade fizeram do princpio imanentista um axioma. O imanentismo s
viria a ser atacado seriamente quando Schelling, levando ao extremo as suas
conseqncias, sugeriu a tese da unidade do Eu e da Substncia.
2.2. O compatibilismo de Descartes: res extensa e res cogitans
A teoria de So Toms de Aquino se tornou a explicao predominante da
vontade por mais de 400 anos. Somente no sculo XVII a sua posio foi seriamente
contestada. A revoluo cientfica sugeria uma explicao mecanicista da realidade
(tanto fsica quanto psquica), a qual a filosofia tomista no estava pronta para fornecer.
Ren Descartes surge como o primeiro grande pensador moderno a propor um sistema
mecanicista da realidade em oposio ao sistema finalista da escolstica. Segundo ele,
todos os fenmenos fsicos podiam ser explicados mecanicamente (COTTINGHAM, 2006,
p. 349). A interveno divina somente era necessria para pr o sistema em movimento
porm, uma vez em movimento, o sistema podia prosseguir independentemente do
auxlio divino, por suas prprias leis fsicas (BOLLES, 1969, p. 25).
Essa idia mecanicista no era nova. Podemos encontr-la, ainda em gestao, no
pensamento de Anaxmenes e na sua Teoria da Condensao e Rarefao. Tambm as
doutrinas de Empdocles e Anaxgoras ofereciam uma explicao proto-mecanicista do
mundo. A idia amadurece com o atomismo de Leucipo e de Demcrito. Aristteles e
Epicuro, cada um sua maneira, retomam os sistemas mecanicistas e os permeiam com
certa intencionalidade ou finalidade no movimento (Aristteles com a sua teoria da
causa final; Epicuro com a sua teoria do movimento espontneo ou clinamen).
O que Descartes percebeu foi que tanto o mecanicismo quanto o finalismo
possuam uma caracterstica em comum, qual seja: o universalismo, isto , a aplicao
dos seus princpios explicativos a toda a realidade (tanto fsica quanto psquica).
Demcrito, por exemplo, julgava ser possvel explicar os desejos humanos a partir da
forma, do tamanho e do movimento dos tomos da mente; ao passo que Epicuro
89
julgava ser necessrio, para explicar a liberdade humana, atribuir aos tomos da alma
um certo movimento espontneo que pudesse dar incio srie causal de movimento
entre os tomos (fsicos e mentais). Demcrito, partindo da sua teoria da realidade fsica,
buscava uma explicao anloga para os fenmenos psquicos; e Epicuro, inversamente,
partindo da sua teoria da liberdade dos fenmenos psquicos, buscava uma forma de
amold-la realidade. Para esses filsofos, a possibilidade de um fenmeno psquico ser
determinado por um evento fsico (ou vice-versa, a possibilidade de um evento fsico ser
determinado por um fenmeno psquico) era um dado que no precisava ser explicado.
A originalidade de Descartes consistiu em apontar essa universalidade como a
causa dos erros dos sistemas fsicos. Na busca por uma resposta, Cartsio acabou
subvertendo os princpios bsicos da discusso filosfica da escolstica
62
.
Para salvar o mecanicismo e o finalismo, Descartes props, pela primeira vez,
uma radical separao entre a mente (res cogitans) e a matria (res extensa)
(DESCARTES, 2007B, p. 59). De acordo com essa teoria, a matria (res extensa) somente
podia ser explicada pelo seu movimento, pela sua forma e pela sua extenso; ao passo
que a mente (res cogitans), apenas pela sua finalidade (livre-arbtrio) (RUTHERFORD,
2006, p. 138). Portanto, assim como era um despropsito explicar a mente utilizado
conceitos tais como forma e extenso (que eram propriedades da matria), tambm
seria um erro tentar explicar a matria utilizando os conceitos de finalidade ou
inteno (que eram propriedades da mente). A mente e o corpo estavam
absolutamente separados (BOLLES, 1969, P. 25).
Com isso, Cartsio buscava um compatibilismo, ou seja, uma teoria que
validasse tanto o mecanicismo quanto o finalismo. O dualismo radical que ele ento
props, entre a mente e a matria, constituiu, no entanto, o ponto de partida para o
problema da relao do corpo com a mente: se a res extensa e a res cogitans eram
realidades to completa e radicalmente distintas, como era possvel que a uma mente
pudesse corresponder um corpo e, mais que isso, como era possvel que o corpo pudesse
62
Para escolstica e para a filosofia medieval em geral: (1) Os seres humanos tinham uma alma, mas no
eram apenas alma eram compostos de alma e corpo; (2) A alma humana era imaterial e criada por Deus;
(3) A alma no existia antes do corpo. Esses trs princpios foram subvertidos por Descartes: (1) ele
sustentou que os seres humanos eram essencialmente res cogitans e separou de forma inconcilivel a alma
do corpo; (2) os escolsticos explicavam a alma a partir de Deus (e.g., Ergena e a sua Diviso da Natureza,
que partia daquilo que no criado e que cria [Deus] para chegar quilo que criado e que no cria [o
homem]; Anselmo que, para provar a existncia de Deus em seu Proslogium, pressupunha um
conhecimento inato do infinitamente grande [Deus]), mas Descartes inverteu a situao e, embora ainda
considerasse Deus a causa essendi da alma, a alma passou a ser a causa cognoscendi de Deus; (3) a
existncia da alma, a partir de Descartes, independe da existncia do corpo.
90
agir sobre a mente (por meio das paixes) ou a mente agir sobre o corpo (por meio da
vontade)? Em Les passions de lme, Descartes apresentou a sua prpria soluo.
Nessa obra, contudo, Descartes contradiz os seus prprios princpios, expostos
nas Meditaes Metafsicas. mesmo surpreendente ouvi-lo dizer que no achamos
nada que atue mais imediatamente em nossa alma do que o corpo a que ela est unida
(DESCARTES, 1944, p. 26) e, na mesma obra, mais frente, afirmar que a alma de uma
natureza tal que no tem relao nenhuma com a extenso, com a dimenso ou outras
propriedades da matria de que se compe o corpo (DESCARTES, 1944, p. 45) e ainda,
no mesmo captulo, desdizendo o que acabara de dizer, alegar que a alma est
verdadeiramente unida a todo o corpo (DESCARTES, 1944, p. 45).
No obstante, Descartes distingue as funes do corpo e as funes da alma:
competem alma todos os gneros de pensamentos; e ao corpo, todos os movimentos
que no dependem do pensamento
63
(DESCARTES, 1944, p. 27).
Os pensamentos da alma se dividem em dois gneros: as aes e as paixes. As
aes so todas as volies, visto que elas procedem diretamente da alma e dependem
apenas dela. As paixes so todas as espcies de percepo ou conhecimento, visto que
alma os recebe das coisas de que so representaes (DESCARTES, 1944, p. 38). As
volies so de duas classes: umas so aes da alma que terminam em si mesma, como
acontece quando se quer amar a Deus ou dirigir o pensamento a algum objeto imaterial;
outras so aes que terminam no corpo, como acontece quando, por se ter vontade de
passear, as pernas se movem e se comea a andar (DESCARTES, 1944, p. 39).
Os movimentos do corpo dependem dos msculos e todos os movimentos dos
msculos, como tambm todos os sentidos, dependem dos nervos. Estes nervos contm
certo ar ou vento sutilssimo, ao qual se chama esprito animal (DESCARTES, 1944, p.
30). As partes mais vivas e sutis do sangue, rarefeitas pelo calor do corao
(DESCARTES, 2007A, p. 50), entram sem cessar e em grande quantidade nas cavidades
do crebro. Essas partes sutilssimas do sangue constituem os espritos animais
(DESCARTES, 1944, p. 31). Os espritos animais so corpos, que no tm outra
propriedade alm da propriedade de serem corpos muito pequenos que se movem com
muita velocidade. medida que alguns deles entram no crebro, outros saem de l pelos
poros da substncia cerebral e, por meio dos nervos, chegam aos msculos. Desse modo,
63
Como um movimento (attributum rei extensae) pode estar ligado a um pensamento (attributum rei
cogitantis)? Ou como um pensamento pode ser a causa de um movimento? Isso Descartes no explica.
91
eles movem o corpo (DESCARTES, 1944, p. 32). O corpo humano, para Descartes,
explicado como uma mquina hidrulica.
Para Descartes, apesar da radical distino entre res extensa e res cogitans, a alma
se encontrava unida ao corpo. A alma exerce as suas funes por todo o corpo, mas
existe um lugar em que ela age de forma mais especfica esse lugar Descartes identifica
como sendo a glndula pineal (DESCARTES, 1944, p. 46). Essa glndula, que o
principal assento da alma, est suspensa de tal sorte entre as cavidades do crebro que
contm os espritos animais que pode ser movida por eles de tantas maneiras distintas
quantas variedades sensveis existem nos objetos. Mas pode ser tambm movida pela
alma, a qual de tal natureza que recebe em si tantas impresses distintas quantos
movimentos distintos se produzem em dita glndula. Basta que a glndula seja movida
diferentemente pela alma, ou por qualquer outra causa, para que impulsione os espritos
que a rodeam em direo aos poros do crebro, que os conduzem por meio dos nervos
at os msculos, onde produzem o movimento correspondente (DESCARTES, 1944, p.
48).
Por fim, Cartsio fala da racionalidade e da maravilhosamente adaptada natureza
biolgica dos seres humanos, dada por Deus. Aqui Descartes se refere ao conceito do
sculo XVII de Instinto. O Instinto era visto como a fonte das foras que impeliam o ser
humano a satisfazer os seus apetites (no ainda as foras em si, mas apenas a fonte
dessas foras). Esse conceito de Instinto est na base do moderno conceito de Impulso
ou Pulso, de grande importncia para a Psicanlise e para o Behaviorismo (BOLLES,
1969, p. 26).
Essa teoria cartesiana das paixes foi a primeira tentativa de construir uma teoria
da motivao que levasse em conta os aspectos fisiolgicos, comportamentais e
experimentais da conduta (BOLLES, 1969, p. 26). Embora defendesse que a alma era
livre para determinar o comportamento do corpo, de acordo com a sua razo
(racionalismo), o seu modelo terico permitia uma interpretao completamente
mecanicista e por essa via mecanicista seguiram La Mttrie (LHomme Machine) e
Thomas Hobbes.
Apesar da fora que Descartes atribui s paixes, na sua Quarta Meditao, ele
sustenta que a vontade consiste no fato de que quando o intelecto nos apresenta a
afirmao ou a negao de algo, a busca ou a fuga de algo, ns no nos sentimos
determinados por nenhuma fora externa a escolher entre uma dessas opes
92
(DESCARTES, 2007B, p. 157). Nem o intelecto nem as paixes determinam a vontade a
escolher uma direo existe sempre um equilbrio de razes que deixa a vontade
indiferente (JOLIVET, 1947, p. 598). Essa indiferena, contudo, o grau mais baixo da
liberdade, pois Descartes sustenta que quanto mais a vontade se deixa determinar por
suas percepes, tanto mais a sua escolha livre. Quando ns temos percepes claras e
distintas, uma grande luz do intelecto seguida por uma grande propenso da vontade
desse modo, a espontaneidade e a liberdade so tanto maiores quanto maior a falta de
indiferena (RUTHERFORD, 2006, p. 160).
2.3. Associacionismo
Descartes e Hobbes deflagraram o primeiro movimento contra a viso
racionalista do homem ao proporem uma filosofia mecanicista. Um segundo e talvez
mais devastador movimento foi o associacionismo, cuja premissa era que existiam leis
psicolgicas as quais, tal como a lei da gravidade de Newton, no precisavam levar ao
materialismo ou ao dualismo, mas que descreviam o que o homem pensaria, o que ele
poderia saber e o que ele deveria fazer (BOLLES, 1969, p. 30). O associacionismo consistia
na aplicao da observao emprica relao entre as idias e as experincias. O que
ele buscava eram regularidades observveis, na esperana de formular leis psicolgicas
que nos permitisse ordenar os contedos da mente. Em geral, os associacionistas
admitiam trs desses princpios a contigidade, a similaridade e o contraste.
A doutrina mecanicista e a doutrina associacionista so logicamente
independentes. possvel encontrar um pensador associacionista que repudie o
mecanicismo (e.g. Hume) ou um mecanicista que no aceite o associacionismo (e.g. La
Mettrie) (BOLLES, 1969, p. 30). Ambas as posies tm em comum o determinismo, ou
seja, a aceitao de que os fenmenos somente so satisfatoriamente explicados se
considerados em uma cadeia causal de acontecimentos. A diferena est em que, para o
mecanicismo, os fenmenos psquicos podiam ser explicados pelas relaes causais
entre eles e o seu substrato fisiolgico (e.g.: Hobbes, Spencer, Ribot), ao passo que, para
o associacionismo, os fenmenos psquicos podiam ser explicados pelas relaes causais
que eles prprios mantinham entre si, sem necessidade de postular a existncia de algo
alm das idias (assim como Newton, cujas leis apenas descreviam as regularidades
93
observveis, sem se preocupar em supor a existncia de algo alm delas, como a matria
ou a substncia).
2.3.1. O empirismo de Locke
A idia (Idea) o objeto do pensamento (thinking) (LOCKE, 1999, p. 86) com
essas palavras Locke denuncia a influncia de Descartes e o princpio imanentista que
rege toda a sua obra. Mas, ao dizer que todas as nossas idias so provenientes da
sensao (sensation) e da reflexo (LOCKE, 1999, p. 87), Locke abre um novo caminho na
filosofia: o empirismo. A originalidade de Locke consiste em haver conciliado a doutrina
imanentista de Descartes com a teoria realista do conhecimento de Aristteles de
Descartes ele aceita que as Idias (e no as Coisas ou a Substncia) so os nicos objetos
dos quais podemos estar cnscios; e de Aristteles (e, em certa medida, da tradio
rabe Ibn Tufail e da escolstica Alberto Magno e Roger Bacon) ele aceita que as
Idias so dadas Conscincia pelos sentidos (ou seja, no so inatas).
Apesar do seu princpio imanentista, Locke defendia (talvez por influncia de
Hobbes) a existncia de dois tipos de qualidades sensveis das coisas: as secundrias
(como a cor e o som), existentes apenas no sujeito, e as primrias (como a extenso e a
figura), fornecidas mente por objetos externos (external objects) (LOCKE, 1999, p. 88).
Com base em que se Locke afirmava essa procedncia das qualidades secundrias? Se
ele havia feito das Idias os nicos objetos da conscincia, como era possvel que
afirmasse a existncia de algo que estivesse alm delas e (o que era pior) que fosse
tambm a causa delas?
Essa contradio no exclusiva de Locke tambm a encontramos em
Descartes, em Hume e em Kant. Apenas alguns pensadores assumiram o princpio
imanentista em todas as suas conseqncias: em oposio a Descartes, Spinoza afirmou
a completa separao entre a mente e o corpo; em oposio a Kant, Fichte defendeu que
o Mundo (nicht-Ich) a construo do Eu (Ich) ao tomar a si prprio como objeto; e em
oposio a Locke, Berkeley sustentou que ser ser percebido (esse est percipi).
John Locke foi um oponente do racionalismo, mas no foi, como Hobbes, um
materialista. Assumindo que a mente era uma folha em branco e que todo conhecimento
era derivado da experincia, Locke buscou entender os contedos da mente adulta em
termos de uma gradual construo das idias a partir da experincia. Para Locke, a
94
mente era essencialmente passiva, capaz apenas de receber sensaes e de lembrar-se
delas como idias. A mente no podia criar idias originais, nem as idias lhe eram dadas
de forma inata (BOLLES, 1969, p. 30). Primeiramente, os Sentidos (Senses), de acordo
com os diferentes modos pelos quais eram afetados pelos objetos, levariam mente as
diversas percepes correspondentes; esse processo, que Locke chamava de sensao
(sensation), seria a primeira fonte de Idias. A segunda fonte seria a percepo das
operaes da mente com as Idias (e.g.: do pensar algo, do duvidar de algo, do acreditar
em algo, do querer algo etc.); a conscincia dessas operaes seria semelhante quela
concernente aos dados da sensao; a esse processo Locke dava o nome de reflexo
(reflection) (LOCKE, 1999, p. 87). As idias recebidas pela percepo (tanto dos sentidos
quanto das operaes da mente) eram chamadas idias simples; as idias que a
imaginao compunha a partir das simples eram chamadas idias complexas.
Entre as idias simples, havia duas que Locke considerava de particular
importncia para a explicao do comportamento: a idia de dor (pain) e a idia de
prazer (pleasure). Essas idias, assim como todas as idias simples, no podiam ser
descritas ou definidas; apenas podiam ser conhecidas por meio da experincia. As coisas,
segundo Locke, seriam boas ou ms enquanto fossem prazerosas ou dolorosas,
respectivamente. Aquilo que se chamava bem era em verdade algo capaz de causar ou
aumentar o prazer ou de diminuir a dor; e inversamente aquilo que se chamava mal
era algo capaz de causar dor ou de diminuir o prazer (LOCKE, 1999, p. 214).
Na primeira edio do seu Ensaio sobre o Conhecimento Humano, Locke adotou
uma teoria da vontade segundo a qual as volies procederiam da percepo daquilo
que era bom ou daquilo que seria bom se acontecesse. Na segunda edio, ele mudou seu
ponto de vista. Uma mera percepo ou crena sobre o que fosse bom no poderia por si
s levar uma pessoa da volio para a ao. Na primeira edio, o determinante da
vontade era o conceito puramente cognitivo do bem supremo Locke buscou algo
ento que fosse motivacional e no meramente cognitivo. Essa motivao Locke
encontrou no desconforto (CHAPPELL, 1999, p. 95).
Quando algum age, pretende criar algum estado de coisas A e a tentativa de
cri-lo somente tem incio se ele est insatisfeito com a presente condio no-A. A
conscincia de que a no obteno de A insatisfatria consiste em um desconforto e
a ao uma tentativa de afastar esse desconforto pela obteno de A (CHAPPELL,
1999, p. 94). A vontade era estritamente determinada pelo desconforto cuja presso era
95
a mais forte. O desconforto era chamado de desejo, ou seja, um desconforto da mente
para querer algum bem ausente (LOCKE, 1999, p. 215). Para Locke, Deus havia posto no
ser humano desejos naturais para mover e determinar a sua vontade a fim de preserv-
los e de continuar a espcie. A vontade e as emoes eram entendidas como meras idias
que surgiam das sensaes que se apresentavam mente (BOLLES, 1969, p. 30).
2.3.2. O imaterialismo de Berkeley
Com George Berkeley, o princpio imanentista alcana o seu pleno
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, revela a sua completa insuficincia.
Berkeley inicia o seu Tratado enumerando os objetos do conhecimento humano:
(1) ou eles so idias atualmente impressas nos sentidos, (2) ou idias percebidas
prestando ateno s paixes e s operaes da mente, (3) ou finalmente idias
formadas com o auxlio da memria e da imaginao, por meio da composio, diviso
ou representaes das duas primeiras percepes originais (BERKELEY, 2003, p. 29).
Essa enumerao dos objetos do conhecimento humano adotada por Berkeley se baseia
na obra de Locke, a qual, por sua vez, se baseia na obra de Cartsio (WINKLER, 2005, p.
179) e tem por fundamento o princpio da imanncia.
Eram duas as premissas de Berkeley:
(1) Uma coisa, segundo Berkeley, so sensaes (ou qualidades sensveis) reunidas
sob a marca de um nome comum que julgamos formarem uma unidade (BERKELEY,
2003, p. 29). Tal concepo j havia sido proposta alguns anos antes por John Locke a
inovao de Berkeley consiste em que ele rejeita a distino de Locke entre qualidades
primrias e secundrias (WINKLER, 2005, p. 182). A rejeio conseqncia direta do
princpio da imanncia se todos os objetos do conhecimento so idias, ento todas as
qualidades sensveis de uma coisa, em sendo objetos de conhecimento, somente podem
ser afirmadas enquanto idias, ou seja, enquanto existentes no sujeito, no na coisa
(BERKELEY, 2003, p. 37).
(2) Mas, ao lado das idias, era preciso que houvesse, dizia Berkeley, algo que as
percebesse, as pensasse, as lembrasse e as quisesse. Trata-se de uma segunda
conseqncia do princpio imanentista: a reduo dos objetos de conhecimento s
idias, alm de exigir que as coisas se resumam a idias, tambm exige que essas idias
existam em algo que as pense e que as perceba. Esse algo, esse ser ativo e percipiente
96
foi o que Berkeley chamou de mente, ou esprito, ou alma, ou Eu. O esprito era algo
distinto das idias a substncia percipiente no se confundia com a substncia
percebida (BERKELEY, 2003, p. 30).
A concluso a que Berkeley chega a de que (1) se as coisas, segundo Locke, so
apenas colees de qualidades sensveis e todas as qualidades so idias e (2) se as
idias no podem existir sem algo que as perceba, ento (3) uma coisa s pode existir
enquanto percebida e impossvel que exista alguma substncia ou substratum no
pensado que esteja sua base (BERKELEY, 2003, p. 33). A existncia (esse) de uma idia
ou de uma coisa consiste em ser percebida (percipi) da a famosa frmula de Berkeley:
esse est percipi (BERKELEY, 2003, p. 31), que caracteriza a sua doutrina como
imaterialista.
Com essa concluso, o imanentismo alcana o seu completo desenvolvimento
mas Berkeley parece haver percebido o quo deficiente ele se mostrava. A primeira
dificuldade consistia em explicar o Eu, a substncia percipiente: como era possvel saber
algo sobre ela se ela prpria no era uma idia? Se o esprito no se confunde com a
coisa, ento ele no pode ser percebido; mas ento, se ele no pode ser percebido e se,
de fato, assumimos que ele existe, o seu esse no exige o percipi; o esprito seria, assim,
algo que existiria sem ser percebido.
A segunda dificuldade consistia em explicar a independncia das idias sensveis
com relao vontade do sujeito. Se todas as qualidades sensveis so idias e se todas
as idias dependem de um sujeito que as perceba e se impossvel que uma coisa exista
sem ser pensada, ento por que algumas idias podem ser operadas pela vontade e pela
imaginao do esprito e outras no? Isso somente se explicaria se houvesse no (ou para
o) esprito alguma limitao no seu operar com idias se limitao interna (impulso
inconsciente ou necessidade derivada da constituio do esprito) ou se limitao
externa (existncia de substncias no pensadas ou de um Esprito-Autor das idias
percebidas), em qualquer dos casos a limitao seria algo que existiria sem ser
percebido
64
.
O mrito de Berkeley est em haver mostrado de forma clara as conseqncias (e
as deficincias) de um sistema filosfico que assume o princpio da imanncia como um
postulado. O princpio da imanncia apenas permite dizer que as coisas existem
64
A Doutrina da cincia de Johann Fichte uma tentativa de resposta (ainda dentro dos limites do
princpio da imanncia) a essas duas questes.
97
enquanto so percebidas mas se existe algum substrato ou matria como fundamento
dessas coisas, ou se existe algum esprito ou agente percipiente, isso no pode ser
respondido unicamente com base nele. Levado s suas ltimas conseqncias, o
imanentista somente pode afirmar a existncia do percebido no do percipiente.
O erro de Berkeley, porm, est em no haver ousado ir alm do princpio da
imanncia. Ao se deparar com as deficincias do imanentismo, em vez de descart-lo e
buscar um novo ponto de partida, ele tentou maqui-lo, de modo a disfarar as suas
contradies internas. A filosofia ainda teria de esperar as investigaes de Friedrich
Schelling para poder-se libertar.
2.3.3. Hume e a nova cincia da moral
Juntando elementos da fsica de Newton, do empirismo de Locke e do
imaterialismo de Berkeley, David Hume pde pela primeira vez formular claramente a
tese associacionista. De Newton ele tomou o mtodo experimental de observaes de
padres regulares; de Locke ele desenvolveu a teoria da derivao das idias; e de
Berkeley ele aceitou as conseqncias do imanentismo, negando a possibilidade de
conhecer a coisa em si ou o Eu em si.
Na introduo ao seu Tratado, Hume declara o seu intento de fundar o que ele
chamava de nova cincia da natureza humana. Ele argumenta que o desenvolvimento
de tal cincia, baseada no mtodo experimental de raciocnio, deve preceder a
qualquer outra investigao, uma vez que apenas ela capaz de fundamentar todo o
conhecimento (HUME, 2003, p. X-XI). A nova cincia da moral de Hume prope aplicar
o mtodo de observao de Newton ao estudo do Eu no enquanto Eu em si
(incognoscvel), mas enquanto Eu constitudo pela dinmica das idias. A aplicao
desse mtodo moral difere da sua aplicao na filosofia natural apenas na
impossibilidade de realizar experimentos com premeditao (HUME, 2003, p. XII).
Aqui Hume se refere s tpicas experincias controladas das cincias laboratoriais em
oposio s experincias de pensamento comuns na filosofia. Em lugar das experincias
controladas, Hume prope retirar os experimentos dessa sua cincia nova da moral da
cautelosa observao da vida humana tal como eles aparecem a partir do
comportamento do homem (HUME, 2003, p. XIII). A referncia a experimentos no
deve ser compreendida maneira contempornea. Com ela Hume no pretende
98
significar algo similar aos experimentos, por exemplo, do behaviorismo ou da psicologia
cognitiva, mas algo mais restrito e menos seguro como a observao introspectiva
(BROADIE, 2003, p. 63).
Dizer, com Hume, que existe uma cincia da mente dizer que o pensar, o sentir e
o querer podem ser explicados segundo uma relao de causalidade descrita por uma lei
natural (NORTON, 2005, p. 121). Essa compresso da natureza humana se opunha ao
racionalismo, cuja tese colocava a razo no centro da atividade psquica e no
considerava as paixes e os desejos como partes constituintes do verdadeiro Eu
(NORTON, 2005, 122-123). O racionalismo via na escolha duas possibilidades: ou ela era
guiada pelas paixes e, nesse caso, era dita passional e o comportamento era
considerado passivo (isto , determinado por algo estranho ao sujeito); ou era guiada
pela razo e, nesse caso, era dita racional (ou livre) e o comportamento era considerado
ativo (ou espontneo, isto , determinado por um princpio interno ao sujeito). Hume, no
entanto, explicava a escolha como o resultado da associao de idias no apenas das
idias que podemos chamar racionais, mas tambm das paixes.
Partindo do princpio da imanncia, Hume reduz o objeto do conhecimento
humano s percepes, ou seja, as representaes mentais das coisas. As percepes ele
as divide em duas espcies, que se distinguem pelos seus diferentes graus de fora e
vivacidade. As percepes menos vivas so chamadas de idias ou pensamentos. As mais
vivas so chamadas de impresses (HUME, 2004, p. 8). Estas ltimas, as impresses, se
referem aos dados imediatos dos sentidos, ou seja, a sensao (por exemplo: o ouvir, o
ver etc.). As idias, segundo Hume, so apenas cpias (ou imagens obscurecidas) das
impresses, ou, em outras palavras, dados mediatos dos sentidos, lembranas, memrias
de experincias passadas (HUME, 2004, p. 9).
Por meio da observao introspectiva, Hume descobre o processo associativo das
idias, isto , a faculdade no racional por que as idias se juntam segundo um padro
ordenado (BROADIE, 2003, p. 67). Ele chama essa faculdade de imaginao ou
instinto e o seu produto de hbito ou de costume. A imaginao definida como
sendo uma propenso ou inclinao para formar idias e crenas (NORTON, 2005, p.
39). A matria prima com que essa faculdade opera e da qual toda a vida mental
construda so as impresses e as suas dbeis cpias, as idias (NORTON, 2005, p. 40). A
partir dessa matria prima, a mente capaz de construir crenas e idias que vo alm
das suas impresses fundamentais (e.g.: possvel abstrair a partir da impresso a idia
99
simples de asa e a idia simples de cavalo e, por meio da imaginao, formar a idia
complexa de cavalo alado). Aqui Hume traz de volta a doutrina de Locke da derivao
das idias. A mente, por meio da imaginao, une, separa e ordena as impresses e as
idias simples, formando idias complexas. A diferena est no novo papel que Hume
atribui imaginao no um instrumento passivo, mas uma faculdade ativa de
associao de idias. A atividade da imaginao deriva da compresso de Hume sobre a
natureza da mente para Hume, a mente deve ser concebida como essencialmente
dinmica, como estando sempre em movimento, independentemente de qualquer
impulso externo inerente a ela o movimento, deriva de um impulso prprio,
intrnseco. A influncia de Newton na filosofia de Hume patente, no apenas quanto ao
mtodo de investigao (por meio de experimentos e observaes), mas tambm
quanto ao contedo. Para Hume, as idias simples so anlogas s partculas da teoria
gravitacional de Newton: assim como a lei da gravidade se refere atrao que cada uma
das partculas do universo exerce sobre a outra, assim tambm a lei de associao se
refere atrao que cada idia simples exerce sobre a outra (BROADIE, 2003, p. 67).
Hume distingue trs princpios associativos: (1) a semelhana (resemblance), (2)
a contigidade (contiguity) e (3) a causalidade (causation) (HUME, 2004, p. 13). O
movimento das idias explicado pela semelhana (e.g.: a idia lpis se associa por
semelhana idia caneta), pela proximidade temporal ou espacial (e.g.: a idia
barco se associa por contigidade idia mar) e pela relao de causalidade (e.g.: a
idia veneno se associa como causa idia morte) (HUME, 2003, p. 8). Esses
princpios se referem apreenso pela mente de certas propriedades ou regularidades
nas suas percepes. Usando expresses de Freud, tal apreenso no precisa pertencer
(e geralmente no pertence) ao consciente dinmico; e pode mesmo em certa medida ser
dinamicamente inconsciente. Ou seja, nas palavras de Hume, impossvel ter acesso pela
observao introspectiva a todo o processo associativo (NORTON, 2005, p. 42).
Assim como todas as percepes se dividem em impresses e idias, assim
tambm as impresses se dividem em originais e secundrias. As impresses originais
(ou da sensao) so aquelas que nascem na alma sem qualquer outra percepo
antecedente. Nelas so includas todas as impresses provenientes dos sentidos e todos
os prazeres e todas as dores corporais. As impresses secundrias (ou da reflexo) so
aquelas que procedem de alguma impresso original. As paixes, segundo Hume,
correspondem a essas impresses secundrias (HUME, 2003, p. 196).
100
Hume ordenava as paixes conforme duas classificaes: (1) paixes diretas, que
surgem imediatamente do prazer ou da dor, em funo de um impulso ou de um instinto
natural (as paixes diretas incluem alguns dos mais fundamentais determinantes do
comportamento humano, a saber: os desejos); e paixes indiretas, que procedem dos
mesmos princpios, mas em conjuno com as qualidades de algum objeto (por exemplo:
o amor, que se refere sensao de prazer, mas que, ao mesmo tempo, se refere s
qualidades de algum objeto, no caso, outra pessoa); (2) paixes violentas, que implicam
um conflito interno na determinao da escolha, como o amor e o dio, o orgulho e a
humilhao; e paixes calmas, que se resolvem sem conflito, como o sentido do belo
(HUME, 2003, p. 197). Uma mesma paixo pode ser em um instante calma e em outro,
violenta. A brandura da paixo no implica fragilidade na determinao da conduta, pelo
contrrio, em geral quando a paixo se torna a inclinao predominante da alma que
ela se apresenta da forma mais branda, pois ento j no est mais em conflito com
nenhuma outra paixo. Hume distingue assim a intensidade (que se refere ao conflito
interno percebido) e a fora da paixo (que se refere influncia exercida nas escolhas e
nas condutas). Uma paixo pode ser calma e ao mesmo tempo forte assim, os casos em
que o racionalismo enxergava o triunfo da razo sobre as paixes eram, para Hume,
casos em que uma paixo calma se tornava mais forte do que uma paixo violenta
(HUME, 2003, p. 297).
Com base em sua teoria das paixes, Hume ataca o racionalismo em duas frentes:
(1) Diminuindo a importncia da razo na motivao dos atos voluntrios. Segundo
Hume, a razo possui apenas duas funes: a descoberta de relaes entre as idias,
como na matemtica, e a descrio da realidade (matter of fact), como nas cincias
empricas e na vida comum (NORTON, 2005, p. 127-128). A importncia prtica da
primeira funo se limita aos casos em que os clculos so cruciais na investigao
emprica; e a da segunda funo, a mostrar aos seres humanos as causas e os efeitos dos
objetos j desejados ou repelidos. So os desejos, portanto, que inclinam os seres
humanos a perseguir ou a fugir dos objetos da sua escolha a razo apenas indica o
modo pelo qual se pode chegar ou fugir deles (NORTON, 2005, p. 128). (2) Diferenciando
as idias e as impresses secundrias. A razo somente pode operar com idias, as quais
se referem a objetos; as paixes, no entanto, so impresses secundrias e a elas lhes falta
a qualidade representativa das idias. Assim, as paixes no podem nunca contradizer a
verdade e a razo, uma vez que essa contradio supe um defeito na qualidade de
101
representao do que se segue tambm que as paixes no podem ser consideradas
irracionais, mas apenas os juzos que eventualmente as acompanhe (NORTON, 2005, p.
128).
O associacionismo de Hume traz alguns elementos que se tornaram fundamentais
na pesquisa psicolgica do sculo XX. O primeiro deles a explicao da mente pelos
seus padres observveis, que veio a ser o ponto de partida do behaviorismo e da
psicologia cognitiva. O segundo a sugesto da existncia de uma faculdade
(parcialmente) inconsciente e ativa (a imaginao), que precursora das investigaes
psicanalticas. E, por ltimo, a apresentao de uma teoria da vontade em que no
apenas a razo (como no racionalismo) ou os sentidos bsicos da dor e do prazer (como
no hedonismo de Hobbes e de Spencer) determinam a escolha da conduta. David Hume
apresenta um terceiro elemento: as paixes, impresses secundrias que, partindo das
impresses bsicas da dor e do prazer, a elas no se resume.
2.3.4. O associacionismo do sculo XIX
Alexander Bain foi um dos principais expoentes e defensores do associacionismo
na filosofia escocesa do sc. XIX. Conciliando elementos do mecanicismo de Spencer e do
associacionismo de Hume (BAIN, 1885, p. 47), Bain dizia que no momento em que o
prazer ocorria certos eventos se associavam na mente. A associao inclua no apenas a
situao e o ato sucedido, mas tambm a idia da situao, a idia do ato sucedido e a
idia das conseqncias prazerosas. Assim, quando algum desses componentes ocorria
no futuro, todos os outros podiam ser rememorados, por conta das leis de associao
(BOLLES, 1969, p. 43). A psicologia de Bain, no entanto, retinha um contedo
racionalista, pois a ao humana era ainda largamente descrita como sendo governada
pelos eventos que ocorriam na razo (BAIN, 1885, p. 474). Mesmo assim, o seu conceito
de ato sucedido e o de rememorao associativa foram importantes para o
estabelecimento, no sculo XX, do behaviorismo (BOLLES, 1969, p. 44).
Na Frana do sc. XIX, enquanto Gabriel Tarde aplicava os princpios
associacionistas na explicao sociolgica com as suas leis de imitao e de inveno
(TARDE, 1903, p. 169), Frdric Paulhan os desenvolvia em uma teoria da vontade com
a suas leis de associao e de inibio sistemticas (PAULHAN, 1903, pp. 48-49). Segundo
Paulhan, o ato de vontade era uma sntese que agia sempre de modo (1) a unir as idias
102
e os sentimentos a outras representaes e (2) a fazer desse novo conjunto um elemento
dominante no esprito e no organismo, isto , um elemento ativo (PAULHAN, 1903, p.
46). Como todos os fenmenos psquicos, a volio era regida por duas leis: (1) a lei de
associao sistemtica, segundo a qual todo fenmeno psquico tendia a suscitar por
associao os outros fenmenos que se podiam unir a ele em vista de um fim comum
(PAULHAN, 1903, p. 48); (2) e a lei de inibio sistemtica, segundo a qual todo
fenmeno psquico tendia a reprimir tudo aquilo que se opusesse a ele (PAULHAN, 1903,
p. 49).
2.4. O novo racionalismo
2.4.1. Thomas Reid e o senso comum
A filosofia do sculo XVIII estava em crise. O progresso atordoante das cincias
positivas levantou a questo: por que a filosofia no progrediu junto com elas? De um
lado, Hume afirmava que o erro da filosofia consistia no fato de que os filsofos haviam
falhado em usar o mtodo experimental da nova cincia. De outro, Kant creditava o
retardo da filosofia aos excessos cometidos pela razo teortica. O diagnstico de
Thomas Reid, no entanto, era diferente de todos os seus contemporneos o atraso,
segundo ele, era devido aos desvios dos princpios do senso comum (common sense).
Quase todos os filsofos modernos haviam-se desviado dos princpios do senso
comum ao abraarem o sistema cartesiano. Esse sistema, tal como Reid o descreve,
possui dois elementos:
1) o fundamentalismo epistemolgico, segundo o qual (a) as nossas crenas
possuem vrios tipos de mrito epistmico (percebido, afirmado, justificado etc.), (b) as
crenas que assumem um determinado mrito epistmico ou se baseiam em outras
crenas ou no se baseiam em crena alguma, (c) existem condies pelas quais uma
crena pode ser imediatamente percebida ou mediatamente percebida. A tendncia
dominante da filosofia moderna, de acordo com Reid, afirmava que as crenas
imediatamente perceptveis eram escassas em nmero (CUNEO; WOUDENBERG, 2004,
p. 4). A sugesto de Reid a de que a tese fundamental da filosofia moderna era aquela
segundo a qual as crenas imediatamente perceptveis se resumiam quelas
concernentes aos pensamentos e s operaes da nossa mente consciente (CUNEO;
WOUDENBERG, 2004, p. 5);
103
2) O sistema cartesiano, de acordo com Reid, liga o fundamentalismo
epistemolgico tese metodolgico chamada por ele de caminho da analogia (way of
analogy), que uma maneira pela qual os homens formam as suas noes e opinies
concernentes mente e aos seus poderes e operaes. A tendncia daqueles que seguem
o caminho da analogia pensar a mente em termos mecanicistas (CUNEO;
WOUDENBERG, 2004, p. 5). O caminho da analogia leva ao caminho das idias (way of
ideas), que a tese segundo a qual as coisas que no existem na mente, somente podem
ser percebidas, lembradas ou imaginadas por meio de idias ou imagens suas na mente,
que so os objetos imediatos da percepo, da lembrana e da imaginao (CUNEO;
WOUDENBERG, 2004, p. 6).
Esses dois elementos levavam ao ceticismo quanto existencia do mundo
exterior. Primeiro: partindo nicamente do principio da existncia dos nossos
pensamentos, muito pouco ou quase nada pode ser deduzido pelo raciocinio. Segundo:
assumindo que as idias so os nicos dados imediatos da percepo, elas no so
capazes de explicar como ns podemos conhecer algo da realidade externa (CUNEO;
WOUDENBERG, 2004, p. 7). Reid, ento, prope a rejeio do sistema cartesiano. Isso
significa, em primeiro lugar, repudiar a verso do fundamentalismo epistemolgico em
favor de uma verso mais moderada; em segundo lugar, rejeitar o caminho da analogia
e o caminho das idias (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 8).
Para recuperar a filosofia dos desvios do cartesianismo no se devia, segundo
Reid, comear por uma crtica da razo (como o fez Immanuel Kant), mas comear na
abundncia da experincia humana, prestando a devida ateno ao uso e estrutura da
linguagem ordinria, aos princpios tomados como garantidos no curso das aes
humanas e s operaes da nossa mente (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 9). Interessa-
nos as observaes de Reid sobre esse ltimo elemento.
A convico de Reid era que, dentre todas as entidades que mais necessitavam de
acomodao no mundo descrito pela ciencia newtoniana, a liberdade de escolha do ser
humano tinha prioridade especial (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 12). A teoria da
vontade elaborada por Thomas Reid tem por finalidade justificar o libre-arbtrio Ele
desenvolveu sua doutrina em combate ao materialismo de Hobbes e dos antigos
filsofos franceses (como La Mttrie), usando algums aspectos do associacionismo de
Locke e Hume (BOLLES, 1969, p. 33).
104
Tanto Reid quanto Kant estavam de acordo no que se refere necessidade de
justificar a liberdade frente s exigncias da nova cincia, mas adotaram diferentes
estratgias para acomodar o livre-arbtrio ao universo newtoniano, pois entendiam a
natureza desse universo diferentemente. Para Kant, o universo newtoniano era o
universo dos fenmenos nessa regio, as leis eram necessrias e no havia lugar para a
contingncia; o universo da liberdade era o universo dos noumenons, das coisas-em-si
nessa regio a liberdade era possvel. Para Reid, no entanto, a liberdade tinha lugar
dentro do universo newtoniano (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 13).
O necessitarismo newtoniano se baseiava em dois princpios: (1) os desejos
humanos so eventos; (2) qualquer evento E est relacionado a outro evento E* do
seguinte modo: necesariamente (como uma lei da natureza) dado E*, ento E. Desses
dois princpios se segue que os nossos desejos no so realizados por ns e que nenhum
de ns poderia querer de outra forma alm daquela que efetivamente quis (CUNEO;
WOUDENBERG, 2004, p. 16). Mas para Reid um erro pensar que as aes voluntrias
como submetidas s leis da natureza. As aes humanas no podem ser chamadas de
fenmenos naturais ou ser consideradas como reguladas pelas leis fsicas da Natureza.
Nossas aes voluntrias esto, segundo Reid, sujeitas moral, no s leis fsicas. A
moral assim como as leis da fsica so atuadas pelo grande Autor da Natureza, mas so
essencialmente distintas. As leis da natureza so as regras pelas quais a Deidade age em
seu governo do mundo. As leis morais so as leis que o supremo Legislador prescreve s
suas criaturas racionais para a sua conduta (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 17).
Um dos conceitos de Reid que mais nos pode interessar o de poder. Para ele, o
conceito de poder est na base da concepo do agente como causa de sua conduta
(BROADIE, 2003, p. 74). Esse conceito deriva de John Locke, que distinguia entre o poder
passivo e o poder ativo. O poder ativo seria aquele apto a realizar uma mudana e o
poder passivo aquele apto a sofr-la (LOCKE, 1999, 218). Para Thomas Reid, contudo,
todo poder necessariamente ativo (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 224) e a
passividade no existe seno indiretamente, em razo da atividade de outro poder
(BROADIE, 2003, p. 75).
Todo ato voluntrio, segundo Reid, implica a idia de algum evento, alm da
crena de que esse evento ser a conseqncia do ato (e.g.: O nosso querer (ou decidir)
realizar algo implica a concepo do realizar algo e a crena de que o nosso ato pode
produzir a situao em que esse algo se realize efetivamente). A concepo de poder
105
anterior a qualquer ato deliberado, mas nem todo ato implica a noo de poder. Os atos
das crianas e dos recm-nascidos so tidos por Reid como instintivos pois eles no
esto acompanhados pela concepo de um objetivo a ser alcanado. Apenas quando a
experincia nos ensina que a certos atos seguem-se certos eventos que ns
aprendemos a realiz-los deliberada e voluntariamente a fim de produzir o evento.
Somente quando ns acreditamos que um evento depende de nosso ato, que ento ns
temos a concepo do nosso poder de realiz-lo (CUNEO; WOUDENBERG, 2004, p. 222).
O exerccio do poder se distingue da volio (o ato de vontade) para produzir o
evento essa distino lembra aquela feita por Pedro Abelardo entre voluntrio e
intencional: o exerccio de poder, tal como o voluntrio, consiste nas circunstancias
externas da determinao da conduta (o caminhar, o matar etc.); a volio, tal como o
intencional, consiste nas circunstancias internas da determinao da conduta (o querer
caminar, o querer matar etc.). Embora, em geral, o exerccio do poder e a volio
coincidam no mesmo ato, h casos em que volio pode no se seguir o exerccio do
poder (por alguma impossibilidade externa de realizao da conduta).
Apesar do racionalismo de sua doutrina, Reid aceitou a possibilidade de condutas
determinadas e baseou essa determina no conceito de Instinto, o qual definiu como o
impulso de ao anterior ao pensamento. Esse conceito assumiu um importante papel na
sua psicologia da faculdade (faculty psychology). No entanto, uma vez que um dos
pressupostos da filosofia de Reid era de que o homem fazia o que fazia porque queria
faz-lo, o alcance do conceito de Instinto foi bastante limitado, ficando restrito
explicao de alguns atos reflexos (BOLLES, 1969, p. 33).
2.4.2. A filosofia transcendental de Kant
Partindo da mesma problemtica de Thomas Reid (como conciliar a liberdade
humana com o sistema mecanicista da realidade fsica), Immanuel Kant chega a uma
soluo bastante peculiar. Reid buscou salvar a racionalidade humana e a liberdade da
sua vontade fazendo da fsica e da moral uma nica realidade Immanuel Kant, pelo
contrrio, cindiu a realidade em duas: de um lado colocou os fenmenos e as suas leis
necessrias e, com esses fenmenos, colocou o homo phenomenon, cujos atos eram
fenmenos e, enquanto tais, determinados pelas leis da natureza (as leis do ser); e do
outro lado colocou a vontade e a sua lei de liberdade e com elas colocou o homo
106
noumenon, cujos atos eram livres e determinados pelas leis da liberdade (as leis do
dever-ser).
A psicologia de Kant se utiliza de alguns conceitos construdos pela filosofia
alem na primeira metade do sculo XVIII. Uma classificao que o influenciou bastante
foi aquela que Mendelssohn e Tetens estabeleceram na segunda metade do sculo XVIII.
Eles haviam repartido as faculdades da alma em trs classes coordenadas e admitiram
uma faculdade psquica especfica para cada uma. Tetens chamava essas trs faculdades
fundamentais de sentimento, entendimento e atividade (vontade); Mendelssohn lhes
dava o nome de faculdade de conhecimento, faculdade de sensao e faculdade de
apetite (BRENTANO, 1944, p. 188). Kant adotou essa classificao sua maneira; ele
designava as trs faculdades da alma sob o nome de faculdade de conhecimento,
faculdade de apetite e sentimento de prazer e desprazer ele fez dessa classificao o
fundamento da diviso de sua filosofia crtica (Crtica da razo pura (teortica); crtica
da razo (pura) prtica; e crtica do juzo, respectivamente) (BRENTANO, 1944, p. 189).
Para Kant, a razo teortica e a razo prtica eram usos distintos de uma nica e
mesma razo. A diferena entre eles estava em que o uso terico da razo se ocupava
dos objetos da simples faculdade de conhecer; e o uso prtico da razo se ocupava dos
princpios de determinao da vontade. Por vontade, Immanuel Kant entendia a
faculdade ou de produzir objetos que correspondam s representaes, ou de se
determinar a si mesma na produo de tais objetos, ou seja, a faculdade de determinar a
sua causalidade (KANT, 2004B, p. 23). Aqui se encontrava o primeiro obstculo para a
conciliao da liberdade e do mecanicismo: a razo, somente por si, suficiente para
determinar a vontade ou ela apenas pode determinar a vontade enquanto
empiricamente condicionada? Para Kant, a questo se referia ao conceito de causalidade
e podia ser dita assim: a razo est submetida mesma causalidade dos fenmenos
(determinismo) ou ela possui uma causalidade prpria (liberdade)? Toda a teoria da
vontade de Kant construda com a finalidade de demonstrar a liberdade humana.
Na primeira parte da Metafsica dos Costumes, dedicada fundamentao
metafsica da doutrina do Direito
65
, Kant estabelece algumas importantes definies
psicolgicas (KANT, 2005, p. 19):
65
No original alemo, respectivamente Metaphysik der Sitten e Metaphysische Anfangsgrnde der
Rechtslehre.
107
(1) O desejo a faculdade de ser causa dos objetos de nossas representaes por
meio das prprias representaes. O desejo corresponde faculdade apetitiva.
(2) O sentimento a capacidade de experimentar prazer ou desprazer com a idia
de uma coisa.
(3) O desejo (ou a averso) vem sempre acompanhado de prazer (ou desprazer),
mas nem sempre o prazer acompanhado de desejo. Isso no implica que o prazer seja a
causa do desejo.
(4) Se o prazer est inseparavelmente unido ao desejo do objeto cuja representao
afeta o sentimento, ento um prazer prtico.
(5) Se o prazer no est necessariamente unido ao desejo do objeto e apenas se
refere simples representao desse objeto, ento um prazer inativo (ou
contemplativo). O prazer inativo chamado de gosto.
(6) Apetite a determinao da faculdade apetitiva (i.e., do desejo) que
necessariamente deve ser precedida pelo prazer prtico e que o tem por causa.
(7) O apetite habitual chamado de inclinao.
(8) unio do prazer e da faculdade apetitiva, enquanto o entendimento julga
essa unio vlida, se chama interesse. Nesse caso, o prazer prtico um interesse da
inclinao.
(9) Quando o prazer somente pode vir depois de uma determinao anterior da
faculdade apetitiva, trata-se de um prazer intelectual. O interesse que se refere a esse
prazer chamado de interesse de razo.
(10) A concupiscncia uma determinao sensvel da alma, porm no
convertida ainda num ato da faculdade apetitiva.
(11) A faculdade apetitiva, enquanto seu princpio de determinao se encontra
em si mesma e no no objeto, chama-se faculdade de fazer ou de no fazer discrio.
(12) Se a faculdade apetitiva est unida conscincia da faculdade de operar para
produzir o objeto, ento se chama arbtrio.
(13) Se a faculdade apetitiva no est unida a essa conscincia, ento se chama
voto ou aspirao.
(14) A faculdade apetitiva, cujo princpio de determinao interna, e
conseqentemente at o consentimento, se encontra na razo do sujeito, chama-se
vontade. A vontade , portanto, a faculdade apetitiva considerada menos com relao
ao (como o arbtrio) do que com relao ao princpio que determina o arbtro ao;
108
no precedida de nenhum princpio de determinao; visto que ela pode determinar o
arbtrio, a prpria razo prtica. A vontade pode compreender o arbtrio, assim como o
simples desejo, entendendo por isso que a razo pode determinar em geral a faculdade
apetitiva.
(15) O arbtrio que pode ser determinado pela razo pura chamado de livre
arbtrio.
(16) O arbtrio que no determinvel a no ser por inclinao (movil sensible,
stimulus) um arbtrio animal (arbitrium brutum).
(17) A liberdade do arbtrio , negativamente, a independncia de todo impulso
sensvel enquanto relacionado a sua determinao e, positivamente, a faculdade da razo
pura de ser prtica por si mesma.
Esses conceitos so a base da psicologia kantiana e possvel enxergar neles o
mesmo esprito que inspirou Plato e que inspirou Aristteles o desejo de demonstrar
a superioridade humana sobre os seus impulsos animais. Kant identificou na razo a
sede dessa superioridade e, assim como Anselmo, transcendeu a condio humana. A
teoria kantiana da vontade ao mesmo tempo uma teoria transcendental (na medida em
que, tal qual Santo Anselmo, no trata apenas da vontade humana, mas da vontade de
todo e qualquer ser racional) e transcendente (na medida em que e nisso consiste a
grande originalidade de Kant atribui vontade racional uma causalidade prpria [a
liberdade] distinta da causalidade dos fenmenos).
2.5. Sentimentalismo
2.5.1. A esttua de Condillac
No seu Tratado das Sensaes, Condillac estudou cada um dos sentidos
separadamente, a fim de descobrir a que idias eles estavam relacionados. O plano da
sua obra faz uso de um artifcio curioso trata-se de uma experincia de pensamento,
na qual imagina uma esttua cuja compleio interna seja idntica do ser humano, mas
que possua, a cada vez, um nico sentido. Assim Condillac pretende analisar o efeito de
cada sentido isoladamente em nossa mente.
Se a esttua possui apenas o sentido do olfato, ento seus conhecimentos se
limitam ao odor e nada mais. Ela no ter idia do que seja a extenso ou a figura, ou
ainda a cor, o som ou o sabor (CONDILLAC, 1788, p. 11). Ela tambm no ter idia do
109
que seja a matria. Mas, apesar de tudo, ele ser capaz de fixar a sua ateno em algo
no caso, no odor que apresentado ao seu olfato. A partir desse instante ela comea a ter
prazer ou sofrimento, pois se a sua ateno estiver referida a um odor agradvel, ter
prazer, se estiver referida a um odor desagradvel, sofrimento (CONDILLAC, 1788, p.
14). Nossa esttua, porm, no tem ainda qualquer idia de mudana ou de sucesso ou
de durao ela existe sem poder formar desejos (pois o desejo implica, pelo menos, o
conhecimento da causalidade) (CONDILLAC, 1788, p. 15).
No momento em que a esttua percebe que ela pode cessar de ser aquilo que ela
para voltar a ser aquilo que ela era nesse momento, vemos nascer o desejo da esttua
de passar de um estado de dor, que ela est experimentando, para um estado de prazer,
que a memria lhe recorda (CONDILLAC, 1788, p. 16). por esse artifcio que o prazer e
a dor so os nicos princpios que determinam todas as operaes da alma.
Todo desejo supe (1) que a esttua possui a idia de alguma coisa melhor do que
aquilo que ela vivencia no momento e (2) que conhece e capaz de ponderar a diferena
de dois estados que se sucedem. Se a diferena pequena, a esttua sofre menos pela
privao do melhor o sentimento que nasce da o mal-estar ou o ligeiro
descontentamento e a ao das faculdades que ele incita bastante frgil. Pelo
contrrio, se a diferena considervel, a esttua sofre mais e a esse sentimento d-se
o nome de inquietude ou tormento e ao que ele incita mais intensa (CONDILLAC,
1788, p. 52).
A lembrana de haver satisfeito alguns dos seus desejos faz com que a nossa
esttua espere satisfazer todos os outros. Se quilo que ela deseja se segue o prazer,
ento ela buscar realiz-lo e se aquilo que ela busca realizar ela julga estar em seu
poder, ento ela j no mais o deseja, ela o quer, pois a vontade um desejo de tal modo
absoluto que ns pensamos que uma coisa desejada est em nosso poder (CONDILLAC,
1788, p. 57). Para Condillac, portanto, a vontade consistia em um desejo
predominante, do mesmo modo que a ateno consistia, para ele, em uma sensao
predominante (JOLIVET, 1947, p. 566).
2.5.2. Hutcheson e o sentido moral
Os pensadores do Iluminismo escocs tinham um largo campo de infuncias
intelectuais, de filsofos como Montesquieu e Rousseau at juristas como Barbeyrac e
110
Pufendorf e historiadores com Lafitau e Charlevoix. Dois ingleses, no entanto, so de
especial importncia: Bernard Mandeville e Lord Shaftesbury. Ambos os pensadores
concordavam que a estrutura humana era composta de paixes, as quais estavam na
base de nossas relaes com os outros, nossos costumes, nossas convenes e nossa
moralidade (BROADIE, 2003, p. 83).
Francis Hutcheson adotou essa premissa e, partindo de um estoicismo
cristianizado, desenvolveu a tese segundo a qual a anlise das nossas paixes e dos
nossos sentimentos, da sua histria social e natural e das manifestaes histricas no
homem daria acesso estrutura bsica da natureza humana (BROADIE, 2003, p. 83).
Deus nos teria dado, segundo Hutcheson, uma grande quantidade de formas de afeio,
desde as familiares at a de amor humanidade, que predispunham os seres humanos a
viverem juntos. Os seres humanos tambm seriam dotados de uma capacidade natural
de se sentirem atrados por essas afeies e de serem repelidos por seus contrrios
(BROADIE, 2003, p. 136). Nossa estrutura teria sido desenvolvida para harmonizar
nossas relaes com os outros seres humanos e criar instituies sociais que
maximizassem a felicidade humana (BROADIE, 2003, p. 83).
De Locke, Hutcheson tomou a doutrina de que os homens no possuem idias
inatas e de que eles derivam as suas idias complexas sobre as coisas e as aes a partir
da experincia. Segundo Locke, o homem deriva essas idias a partir das aes dos
corpos sobre os rgos do sentido ou a partir das operaes da mente. A essa estrutura
Hutcheson adicionou novos sentidos que produziam idias simples, tais como o sentido
de beleza e o sentido moral (moral sense), concebendo esses sentidos internos em
analogia com os sentidos internos (BROADIE, 2003, p. 136). Hutcheson compara a
percepo do sentido moral nossa percepo das qualidades secundrias. Segundo ele,
Deus nos teria dado o prazer peculiar do sentido moral para dirigir as nossas aes; ele,
ento descreve a virtude como a qualidade que procura aprovao para o agente frente
aos observadores (BROADIE, 2003, p. 137).
Hutcheson distingue trs tipos de bens conectados a trs tipos diferentes de
prazer. Os sentimentos de prazer conectados s idias produzidas em ns pelos objetos
externos nos dotariam da idia original, a partir da qual ns construiramos nossa idia
complexa de felicidade ou bem natural. Os sentimentos de prazer conectados s idias
dos objetos que apresentam uniformidade com variedade nos dotariam da idia de
beleza. Finalemnte, os sentimentos de prazer conectados s idias das aes humanas
111
que revelam intenes gentis e benevolentes no agente (i.e., o desejo de buscar a
felicidade dos outros) nos dotariam da idia de bem moral (BROADIE, 2003, p. 137).
Interesse ou amor prprio seria a inclinao natural de perseguir os prazeres
provenientes dos objetos externos ou os meios para satisfaz-los. Uma inclinao
natural e desinteressada levaria o ser humano a apreciar os belos objetos da natureza ou
da arte, a elegncia dos teoremas, a regularidade e a ordem na natureza. A benevolncia
nos leva a buscar o bem natural ou a felicidade dos outros. Trata-se de um instinto, que
seria anterior a qualquer razo ou interesse e seria mais frgil do que o amor-prprio. A
benevolncia tambm concebida como a qualidade comum inerente em muitas
afeces ou paixes que motivam as aes humanas (BROADIE, 2003, p. 137). O sentido
moral uma espcie de sentido (tal como o sentido externo), porque independente da
nossa vontade, comum a toda a humanidade e, acima de tudo, imediato, ou seja, as
suas deliberaes no so concluses mediadas por premissas. Em particular, no
mediado por consideraes de vantagem pessoal ou de prejuzo (BROADIE, 2003, p.
138).
Francis Hutcheson no foi um sucessor intelectual de Locke, pelo contrrio, ele
buscou no sentido moral uma forma de atacar o associacionismo. Hutcheson tambm
se preocupou com o conceito de instinto, mudando a nfase para que o instinto se
tornasse a prpria fora motivacional em vez de sua fonte. Ele tambm adicionou ao
conceito de instinto a idia de que o instinto produz a ao antes de qualquer
pensamento a respeito das conseqncias da ao. Em Hutcheson pode-se encontrar a
primeira concepo moderna do instinto como uma fora que impele ao sem idia
do objeto da ao (BOLLES, 1969, p. 31).
2.5.3. O sentimentalismo de Franz Brentano
Franz Brentano divide as atividades psquicas, de acordo com o seu modo de
relao com o objeto, em: representao (Vorstellung), julgamento (Urteil) e
movimentos afetivos (Gemtsbewegung) de interesse (Interesse) ou de amor (Liebe)
(STEGMLLER, 1977, p. 25). (1) Fala-se de representao cada vez que um objeto nos
apresentado. Quando vemos algo, ns nos representamos uma cor; quando escutamos
algo, ns nos representamos um som; quando imaginamos algo, ns nos representamos
uma imagen (BRENTANO, 1944, p. 203). (2) Por julgamento Brentano entende, seguindo
112
o uso geral admitido na lngua filosfica, a afirmao de uma verdade ou a rejeio de
um erro (BRENTANO, 1944, p. 204). (3) Para a terceira classe falta uma expresso
apropriada. Essa classe, diz-nos Brentano, deve compreender todos os fenmenos
psquicos que no so abrangidos pelas duas primeiras classes. Mas por movimento
afetivo comumente se entende apenas os estados que so acompanhados de uma
excitao fsica perceptvel. A clera, a angstia, o desejo violento so evidentemente
movimentos afetivos; mas com a extenso geral que Brentano lhe d, esse termo se
aplica tambm a todo desejo, a toda resoluo e a todo desgnio (BRENTANO, 1944, p.
204). Esses movimentos podem ser de interesse (a curiosidade, e.g.) ou de amor (de
amor e de dio).
Apoiando-se na experincia direta, Brentano se pergunta qual o limite entre o
sentimento e a vontade (BRENTANO, 1944, p. 235) e o que ele descobre que entre
essas duas classes no se pode encontrar com clareza uma demarcao que as distinga
(JACQUETTE, 2004, 81). Como exemplo, ele toma a seguinte srie: tristeza desejo por
um bem que no se possui mais esperana de que ele ser devolvido tentao de
procur-lo coragem de ousar busc-lo deciso voluntria de passar ao. Um dos
extremos um sentimento, o outro uma volio. Mas se se leva em conta os termos
intermedirios e se compara no apenas os dois extremos, mas toda a srie, ento se
percebe a existncia de uma ligao ntima e de uma transio quase imperceptvel
entre a emoo e a volio (BRENTANO, 1944, p. 236).
Brentano, ento, se pergunta: qual o modo de relao desses estados com o
objeto? Nos juzos, o relacionamento se d pela afirmao ou negao de um fato
consiste na verdade ou na falsidade da proposio. Mas um fenmeno da classe dos
sentimentos e da vontade no um juzo tal como: isto amvel ou isto desprezvel
(o que seria, em verdade, julgar da bondade ou da maldade de um fato e no, quer-lo
ou senti-lo); tal fenmeno um ato de amor ou de dio (BRENTANO, 1944, p. 239).
Todo querer participa do carter comum prprio terceira classe fundamental
de fenmenos psquicos. Em se definindo aquilo que se quer como qualquer coisa que se
ama, tem-se j caracterizada de qualquer forma, exteriormente, a natureza geral da
atividade voluntria (BRENTANO, 1944, p. 247). No domnio do sentimento e da vontade
no se manifesta qualquer diferena antittica, formando pares to heteregneos quanto
o par amor-dio com relao ao par afirmao-negao. Mesmo quando comparamos a
alegria e a tristeza com o querer e o no-querer, reconhecemos que em ambos os casos
113
estamos diante da mesma oposio (JACQUETTE, 2004, 81). Cada um deles apresenta
seguramente certas modificaes, segundo as diveras nuanas dos fenmenos; mas a
diferena no maior do que aquela que existe entre as oposies de alegria e de
tristeza, de esperana e de desespero, de coragem e de covardia, de desejo e de repulso,
etc. (BRENTANO, 1944, p. 249). Em resumo:
1. A experincia interior nos mostra que no existe nenhum limite claramente
traado entre o sentimento e a vontade
2. No domnio do sentimento e da vontade, a oposio entre amor e dio, assim
como suas diferenas de intensidade permitem definir as classes particulares segundo a
particularidade dos fenmenos que as constituem
3. No se encontra no sentimento e na vontade uma variao de circunstncias tal
que estabelea uma diferena no modo de consincia (BRENTANO, 1944, p. 253).
2.6. Voluntarismo
2.6.1. Ockham e a liberdade de indiferena
Uma das mais importantes crticas ao racionalismo escolstico foi feita por Scoto,
que props dois tipos de inclinaes internas da vontade. Desenvolvendo uma sugesto
de Anselmo, Scoto distinguiu entre uma inclinao para a prpria vontade (affectio
commodi) e uma inclinao para a justia (affectio justitiae) (MCGRADE, 2003, p. 223).
Duns Scoto retoma a teoria de Anselmo das inclinaes da vontade com uma diferena
crucial. Enquanto, para Anselmo, a inclinao para a justia era perdida pelo pecado
original e recuperada apenas pela graa divina, para Scoto ela se tornou o fundamento
da liberdade inata da vontade. Todos os seres humanos, s pelo fato de possurem a
vontade, tinham em si as duas inclinaes: a inclinao natural de desejar a
autosatisfao e procurar o que bom para si; e a inclinao de amar os bens por eles
mesmos, em razo do seu valor intrnseco. No havia, segundo Scoto, qualquer censura
inclinao de buscar a felicidade e a autosatisfao. No apenas essa inclinao era dada
naturalmente por Deus, como tambm ela formava a base psicolgica da virtude da
esperana. Por outro lado, a inclinao de justia formava a base psicolgica da caridade,
uma virtude maior do que a esperana. Em razo dessa inclinao o ser humano se
liberava do impulso natural de buscar acima de tudo a autosatisfao (MCGRADE, 2003,
p. 239) e se tornava capaz de amar Deus e outros seres humanos pelo seu valor
114
intrnseco em vez de apenas pela felicidade que a retribuio do seu amor poderia
eventualmente provocar ou por qualquer outra vantagem individual (MCGRADE, 2003,
p. 240).
O poder da vontade, para Duns Scoto, consistia no poder de autodeterminao do
sujeito. Scoto distinguia dois modos pelos quais algo podia ser indeterminado: (1) ou
porque era insuficientemente atualizado; (2) ou porque possua uma suficincia
superabundante que lhe permitia mover-se em qualquer direo. A vontade seria um
poder indeterminado desse segundo modo (MGGRADE, 2003, p. 226). Por ser
suficientemente superabundante, a vontade era totalmente independente de qualquer
tendncia e livre para agir de vrias maneiras contrrias por isso Scoto considerava a
vontade o nico poder racional. Contudo, apesar da independncia da vontade, Scoto
sustentava a noo de que o objeto prprio do querer era, basicamente, bom e do no
querer era mau (SPADE, 1999, p. 253), pois, ao promover a justia, o ser humano podia
promover tambm (e em geral promovia) a sua prpria felicidade. Com isso, Scoto
admitia na sua tica o princpio eudaimonista de Plato e de Aristteles: o fim ltimo da
vontade humana a felicidade.
Ockham foi ainda mais longe do que Scoto ao afastar o princpio eudaimonista.
Ele defendia que, no importa quo grande seja a felicidade oferecida, a vontade podia
sempre recus-la. A liberdade humana de recusar a felicidade se estendia recusa da
felicidade perfeita da beatitude. Ockham sugeria que uma pessoa poderia at negar
Deus, se acreditasse que a sua existncia lhe fosse desvantajosa. Essa pessoa, claro,
estaria errada em seu julgamento, mas enquanto esse julgamento fosse possvel, a
pessoa poderia agir de acordo com ele (MCGRADE, 2003, p. 241). O princpio
eudaimonista sustentava que as pessoas agiam tendo em vista um fim moralmente bom,
til ou prazeroso sem um tal fim, as pessoas no teriam motivos para agir. Ockham
rejeitou esse princpio: o prazer experimentado no querer algo, segundo ele, era o efeito,
no a causa do querer. O prazer que experimentamos, por exemplo, ao amar uma pessoa
no o que nos determina a am-la mas decorrncia do prprio ato de amar. O
prazer no necessrio para o amor, pois possvel amar e continuar amando mesmo
sem sentir qualquer prazer (MCGRADE, 2003, p. 242).
O conceito de suficincia superabundante de Duns Scoto foi desenvolvido por
Ockham que, a partir dele, formulou a sua doutrina da liberdade de indiferena para
Ockham, a vontade podia, por conta de sua liberdade (independente de qualquer fora
115
determinante do hbito), escolher ou no entre duas aes contrrias. Ockham no
usava essa definio para esvaziar o poder da vontade de toda e qualquer tendncia ou
inclinao; ele reconhecia que muitas inclinaes pertenciam vontade humana (por
exemplo: as inclinaes de Anselmo; as inclinaes eudaimonistas; a inclinao dos
hbitos). Mas Ockham negava que essas inclinaes fossem naturais tanto no sentido de
serem o escopo da vontade quanto no sentido de determinarem causalmente as suas
aes. Enquanto Anselmo, Toms de Aquino e at mesmo Duns Scoto permitiam que as
tendncias da vontade definissem o objeto prprio do seu querer como bom e o do seu
no querer como mau, Ockham deixava que o poder de autodeterminao da vontade
juntamente com as capacidades intelectuais do agente definissem o escopo do querer
(SPADE, 1999, p. 255).
2.6.2. O pragmatismo de William James
William James distinguia trs conceitos: o desejo (desire), o anelo (wish) e o
querer ou vontade (will). O desejo se referia inclinao de possuir ou de sentir os
objetos que em um dado momento no eram sentidos ou possudos. Se ao desejo se
juntasse a representao da impossibilidade da sua ocorrncia, ento estaramos frente
a um mero anelo. Mas se ao desejo se juntasse a crena de que o fim desejado possvel
e que est no poder do agente alcan-lo, ento estaramos verdadeiramente frente
vontade. Como os nicos fins imediatos da vontade eram, segundo James, os movimentos
corpreos, ele ento se prope a estudar o mecanismo de produo dos movimentos
voluntrios (JAMES, 1908, p. 415).
Para James, todas as aes inicialmente eram involuntrias, pois derivavam das
chamadas funes primrias do organismo, representadas pelos reflexos, cujos
movimentos inconscientes correspondiam a uma resposta certa e imediata aos
estmulos externos (JAMES, 1908, p. 415). Em alguns casos uma idia sensvel do
movimento era formada. Isso criava um atalho entre o crebro e o rgo motor
correspondente de modo que a mera conscincia dessa idia era capaz de produzir a
ao. O conjunto de idias dos vrios movimentos possveis gravado na memria pelas
experincias do movimento involuntrio era, segundo James, o primeiro pr-requisito
do movimento voluntrio (JAMES, 1908, p. 416).
116
Nos casos mais simples, como o da vontade ideo-motriz, no haveria
necessidade de qualquer fiat ou esforo. Mas os seres humanos, por serem to
complexos, gravavam na memria no s as representaes dos vrios eventos
possveis, mas tambm as representaes dos eventos contrrios, o que gerava um
conflito interno entre os mveis e os motivos, emperrando a descarga motora. Tal
conflito, segundo James, no poderia ser resolvido por outra idia, exigindo, pelo
contrrio, a ocorrncia de um esforo, de um agente externo ao conflito e distinto das
representaes, que decidisse por uma das idias contrrias e permitisse que apenas ela
preenchesse a conscincia por um tempo suficiente e com suficiente intensidade para
desobstruir a descarga motora. Esse esforo de deciso era o prprio ato voluntrio e
correspondia funo secundria do organismo (PUTNAM, 1997, p. 57).
Segundo o esquema do processo voluntrio desenvolvido por Victor Cousin, era
possvel distinguir trs fases sucessivas da volio: (1) a pr-determinao da ao a ser
produzida ou concepo do fim a ser atendido; (2) a deliberao, relativa aos motivos
que se tem para agir ou para no agir, de tal ou tal modo; (3) e a deciso ou ato prprio
da vontade (JOLIVET, 1947, p. 560). William James retomou a descrio de Cousin e a
tornou mais precisa. Ao princpio da atividade voluntria, segundo James, havia uma (1)
representao do fim a ser atendido. Depois vinha a fase da (2) deliberao, que
comportava: (2.a.) a concepo das diferentes alternativas; (2.b.) as razes a favor ou
contra cada uma, sendo essas razes ou de ordem sensvel e afetiva (mveis) ou de
ordem racional (motivos); e, por fim, (2.c.) a discusso das razes (JOLIVET, 1947, p.
560). Porm, mesmo quando a deliberao conduzia a um julgamento especulativo do
gnero: eis o melhor partido, no existia ainda vontade, pois querer decidir. A fase
capital e essencial da atividade voluntria era, portanto, (3) a deciso, o eu quero ou
fiat soberano que dava incio ao (JOLIVET, 1947, p. 561).
Cousin via uma operao prpria da vontade somente na fase da deciso ou do
fiat. As fases anteriores (representao e deliberao) eram para ele puramente
especulativas. Tudo isso, observou James, era pouco conforme experincia psicolgica,
que mostrava que a vontade estava presente em tudo, ou seja, que cada uma das fases do
ato voluntrio comportava atos de vontade mais ou menos numerosos. (1) Na
deliberao, a vontade se manifestava como inibio da ao ido-motriz das imagens e
das idias e tambm como ateno ativa aos motivos e aos mveis. (2) Na deciso, que
no resultava necessariamente do motivo ou do mvel mais forte, era a vontade quem
117
escolhia soberanamente, por um ato positivo, o motivo ou o mvel que devia ser
favorecido sobre os outros. (3) Na execuo, ao menos quando ela era difcil e longa, a
vontade intervinha no no mecanismo de execuo, mas para conservar sua
preponderncia idia que comanda a execuo, o que podia exigir novas deliberaes e
novas decises (JOLIVET, 1947, p. 561).
118
Parte III A unidade do Eu e da Substncia
O princpio imanentista, que fazia do Eu o ponto de partida de qualquer
investigao, embora dominante em grande parte dos sc. XVII, XVIII e XIX, no foi,
contudo, unanimidade. Sempre existiram aqueles que viam no Eu e na Substncia mais
do que uma oposio: uma unidade. Para esses pensadores a questo no era descobrir
qual dos dois (a Substncia ou o Eu) era o dado imediato ou a verdade fundamental, mas
sim compreender, de um lado, a co-existncia da matria e da conscincia e, do outro, a
possibilidade de que da matria surgisse a conscincia e de que pela conscincia se
conhecesse a matria.
Schelling foi o primeiro pensador da idade moderna a formular a tese da unidade
do Eu e da Substncia mas as suas influncias remontam a pocas bem mais afastadas.
A tese da unidade, o monismo, foi, de certo modo, o pressuposto bsico dos milsios e
dos eleatas. Coube a Digenes de Apolnia formul-la no primeiro sistema pantesta da
filosofia. A partir de Digenes e principalmente com a tradio platnica, o monismo e o
pantesmo se tornaram sinnimos somente nos sc. XIX e XX o monismo voltou a ser
articulado de forma independente do pantesmo, devido aos trabalhos de Haeckel,
Bergson, Brunschvicg e Chardin.
A filosofia da identidade de Schelling abriu espao para as teses (1) da Unidade
da Mente e do Corpo, empreendida pela Psicanlise de Sigmund Freud e (2) da Unidade
do Individuo e do Grupo, em dois sentidos: unidade sincrnica, isto , formao social do
comportamento; e unidade diacrnica, Isto , formao filogentica do comportamento
a primeira empreendida pela Psicologia Social e a segunda pela Psicologia Evolucionria
(com antecedentes na teoria do Inconsciente Coletivo).
1. A Unidade do Humano e do Divino
1.1. O pantesmo na filosofia antiga
1.1.1. Digenes de Apolnia
66
Em oposio aos sistemas pluralistas, que partiam da discusso do Ser de
Parmnides, Digenes de Apolnia desenvolveu o monismo cosmolgico, uma sugesto
66
As tradues dos fragmentos de Digenes de Apolnia se baseiam no livro KIRK, G. S.; RAVEN, J.
E.; SCHOFIELD, M. Os filsofos pr-socrticos, 4. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994.
119
comum dos milsios, mas abandonada pelos eleatas e pelos seus crticos em favor do
monismo (ou pluralismo) ontolgico. De acordo com Digenes, todas as coisas
existentes (pnta t nta) se diferenciam (heteroiosthai) da mesma coisa (to auto) e
so (enai) a mesma coisa (t aut) (fr. 2)
67
. O seu argumento, contudo, para sustentar
essa tese no a mesma que os pensadores de Mileto utilizavam: enquanto os milsios,
influenciados pela tradio mtica e pelas teogonias de Hesodo, tinham por fundamento
para as suas doutrinas apenas a afirmao de que a existncia de uma nica substncia
bsica e originria era um expediente terico mais simples, Digenes argumentava, alm
disso, que a prpria interao entre substncias absoluta e essencialmente distintas era
impossvel sem a postulao da Substncia bsica (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p.
463-464), pois se alguma das coisas que existem neste mundo fosse diferente da outra,
isto , diferente na sua prpria natureza (hteron n ti idai phsei), e no retivesse
uma identidade essencial enquanto passasse por mudanas e diferenciaes, ento no
seria possvel que se misturasse com as outras coisas, a menos que todas as coisas
fossem compostas de modo a serem a mesma coisa (fr. 2).
No fr. 3
68
Digenes atribui Substncia bsica a Inteligncia (Nos). Ele considera
que o mundo e as suas partes por se encontrarem dispostos da melhor forma possvel
(anystn kllista literalmente: da mais bela forma possvel) revelam uma inteno ou
um plano na ocorrncia das mudanas. Essa inteno a inteligncia, que divide o dia e a
noite, o Vero e o Inverno, a tempestade e o bom tempo. Mas se todas as coisas
existentes derivam de uma mesma Substncia bsica e se todas as coisas, em verdade,
continuam sendo a mesma Substncia, ento a inteligncia deve ser uma caracterstica
da prpria Substncia e no um elemento distinto (como o Amor e o dio em
Empdocles ou o Esprito em Anaxgoras). Enquanto o pluralismo diferenciava
ontologicamente, falando em termos aristotlicos, a causa material (Empdocles: as
67
Fr. 2. A minha opinio, em suma, que todas as coisas existentes se diferenciam da mesma
coisa e so a mesma coisa. E isto manifesto: pois se as coisas que existem presentemente neste mundo
(...), se alguma delas fosse diferente da outra (isto , diferente na sua prpria natureza), e no retivesse
uma identidade essencial, enquanto passa por grande nmero de mudanas e diferenciaes, no seria, de
modo algum, possvel que se misturassem umas com as outras, ou que uma ajudasse ou prejudicasse a
outra, ou que uma planta crescesse da terra ou que uma criatura viva ou qualquer outra coisa nascesse, a
menos que fosem compostas por forma a serem da mesma coisa. Mas todas estas coisas, sendo
diferenciadas da mesma coisa, convertem-se, em pocas diferentes, em espcies diferentes e regressam
mesma coisa.
68
Fr. 3. Pois, sem inteligncia, no lhe seria possvel [ substncia subjacente] ser dividida, de
maneira a ter medidas de todas as coisas (...). Quanto s outras coisas, tambm, se as quisssemos
considerar, ach-las-amos dispostas da melhor maneira possvel.
120
quatro razes; Anaxgoras: as sementes) da causa eficiente (Empdocles: Amor e dio;
Anaxgoras: Esprito) e concebia o movimento como produzido aleatoriamente (i.e. sem
causalidade final, sem inteno), Digenes unia a causa material e a causa eficiente das
coisas em uma nica e mesma Substncia e ainda lhes atribua inteno, finalidade.
Dessa forma, Digenes desenvolveu o primeiro sistema pantesta da filosofia.
No fr. 7 e no fr. 8
69
Digenes atribui Substncia bsica as mesmas qualidades
que os milsios atribuam Arkh a Substncia imortal (athnaton), eterna (adion),
grande (mga), forte (iskhyrn) e conhecedora de muitas coisas (poll eids). Chamando-
a de grande, Digenes lhe atribua materialidade, corporeidade. O pantesmo de
Digenes, assim, ainda um pantesmo corpreo a imaterialidade seria uma
descoberta dos atomistas e a caracterizao da alma (ou da inteligncia) como algo
incorpreo seria uma inveno de Plato.
1.1.2. O platonismo
O pantesmo nunca foi claramente formulado por Plato e, em certos dilogos,
parece mesmo haver sido rejeitado, como na passagem do Timeu em que se diz que a
matria organizada pelo Demiurgo (PLATO, 1969, p. 431), o que implica dizer que a
matria preexiste ou, pelo menos, coexiste ao Demiurgo, do que se segue que, conforme
essa passagem, a matria, princpio passivo do mundo, no emanaria nem seria parte de
Deus (ou a Alma, ou o Demiurgo), o princpio ativo ambos seriam reais e co-eternos.
Outros dilogos, no entanto, oferecem uma viso diferente. No Fdon, por
exemplo, Scrates, tentando demonstrar a imortalidade da alma a Cebes, constri o
famoso argumento dos contrrios: se os contrrios nascem um do outro; se os vivos
so o contrrio dos mortos; e se certo que os mortos nascem dos vivos; ento
necessrio que os vivos nasam dos mortos (PLATO, 2005, p. 36-39). O argumento
primeira vista parece ingnuo, mas ele encerra um problema profundo: ele se refere
origem da vida. Scrates observa a existncia de um movimento contnuo do animado
(vivo) para o inanimado (morto) e ento se pergunta: Como possvel que o mundo todo
no seja inanimado? Se certo que tudo que animado se torna inanimado, como
69
Fr. 7. E esta mesma coisa um corpo ao mesmo tempo eterno e imortal, mas das demais umas
nascem, outram morrem.
Fr. 8. Mas isto me parece evidente, que ele no s grande e forte, como eterno e imortal e
conhecedor de muitas coisas.
121
possvel que a vida persista? Como possvel que tudo no seja morte? A resposta de
Scrates de que deve existir um processo desconhecido pelo qual o inanimado se torna
animado. Ou seja, porque o animado se torna inanimado e porque este se torna aquele,
segue-se que ambos, em verdade, formam uma unidade, uma mesma realidade. Aqui a
doutrina platnica tende ao monismo e permite, embora no o proponha, um
pantesmo.
A tese pantesta se mostra de maneira mais evidente quando Scrates busca
explicar a Fedro a natureza imortal da alma (PLATO, 2003, p. 81-82). O argumento de
Scrates o seguinte: tudo aquilo que se move (ou seja, animado) ou tem em si a
causa do seu movimento (movimento originrio) ou a tem em outra coisa (movimento
derivado); se a tem em outra coisa, ento essa coisa, ou a tem em si ou a tem em outra;
se a tem em outra... ad infinitum; mas, se a tem em si, ento seu movimento persiste
eternamente. Scrates no desenvolve toda a riqueza de conseqncias do seu
argumento, mas aqui devemos faz-lo (da mesma forma como os neo-platnicos viriam
a fazer): (1) Scrates identifica a mortalidade com a possibilidade de cessao do
movimento e atribui essa possibilidade ao movimento derivado; se o movimento
derivado, ento ele pode cessar conforme o arbtrio da coisa que o origina. Scrates,
contudo, no expe completamente a identificao oposta a imortalidade no se
identifica (como o argumento nos pretende fazer acreditar) com a impossibilidade de
cessao do movimento, mas apenas com a possibilidade de no-cessao do movimento,
ou seja, a coisa que possui o movimento originrio pode continuar seu movimento
eternamente, mas pode igualmente cess-lo neste instante, isto , pode morrer. (2)
Scrates no determina o nmero de coisas que possuem movimento originrio (i.e., de
almas), nem a relao entre si: (a) ou existem vrias almas; (b) ou existe apenas uma.
(2.a.) Se existem vrias almas e se elas tm ao uma sobre a outra (o que se pode
supor), ento o movimento de uma delas pode ser interrompido pelo movimento de
outra, i.e., uma alma pode matar a outra; (2.b.) Se existe apenas uma alma, ento a
possibilidade da sua morte , de acordo com (1), questo do seu arbtrio. (3) Mas
sabemos que Scrates afirmava decisivamente (no s no Fedro, mas no Fdon, na
Repblica, no Mnon e em tantos outros dilogos) que a alma era imortal e que no
podia ser destruda, no podia morrer; assim, devemos descartar (2.a.) e reformular
(2.b.) (4) A possibilidade de morte em (2.b.) real ou apenas, por assim dizer,
hipottica? Scrates no responde, mas os seus dilogos sugerem que a sua resposta
122
seria: aquilo que tem em si a causa do seu Ser, no pode, ao mesmo tempo, ter em si a
causa do seu no-Ser; algo que tivesse em si a causa do seu no-Ser nem sequer poderia
chegar a existir; logo, a causa do no-Ser deve necessariamente vir de outra coisa. Dessa
forma, a possibilidade de destruio da alma apenas hipottica, nunca real significa
que a alma somente seria destruda se tivesse em si mesma a causa da sua morte. (5) Se
alma nica e se apenas ela imortal, ento ela origem no apenas do seu movimento,
mas do movimento de todos os corpos do Universo. (6) E se ela nica, ento todas as
conscincias individuais so expresses da Alma Universal. As conseqncias do
argumento do Fedro so semelhantes teoria construda no Timeu, exceto que, no
Timeu, a realidade da matria no posta em dvida, enquanto que no Fedro isso
ainda um ponto obscuro.
Em algumas passagens dA Repblica, o pantesmo novamente sugerido com a
exposio de uma teoria emanatista do conhecimento (PLATO, 2002, p. 206). Ao usar a
imagem do Sol e da iluminao para explicar o modo pelo qual as almas apreendem a
verdade das Idias, Scrates permitiu uma interpretao em que, levando em conta as
conseqncias do argumento do Fedro, o Sol poderia ser visto como a Alma Universal
(ou o Um, ou o Bem ou Deus) a partir da qual todas as Idias emanariam.
Explorando a ambigidade de Plato acerca da realidade da matria e teoria
emanatista dA Repblica, a doutrina de Plotino buscou explicar o mundo (no apenas o
inteligvel, mas tambm o mundo sensvel) como emanao do Um. A conseqncia (6)
em especial se mostrou de grande influncia no apenas no platonismo, mas tambm em
algumas teologias islmicas e judaicas. A imagem da iluminao inaugurou com o De
Magistro de Agostinho toda uma tradio crist (de tendncias pantestas) de explicao
do conhecimento como emanao divina (SANTO AGOSTINHO, 2002, p. 402) a diviso
da natureza de Ergena ou a via Iluminativa de Boaventura so alguns exemplos da
tradio que se seguiu.
Plotino fala de trs hipstases (ou substncias) iniciais princpios da natureza. A
mais prxima de ns e a menos perfeita a Alma (psykh). Aqui Plotino adota o
argumento do Fedro de que a Alma imortal e possuidora de um movimento originrio.
A Alma para Plotino, no entanto, no se limita a mover a matria mais do que isso, ela
criadora do mundo sensvel (PLOTINO, 2002, p. 71). No apenas causa eficiente, mas
tambm causa formal e material.
123
Embora a Alma seja um princpio (uma hipstase), ela no perfeita nem
incriada: ela uma imagem da Inteligncia (Nous). Assim como um pensamento
expresso na palavra uma imagem do pensamento da mente, assim tambm a Alma
uma imagem do pensamento da Inteligncia. Como a existncia da Alma procede da
Inteligncia ela intelectiva, mas sua inteleco tem o modo do raciocnio discursivo. A
existncia da Alma provm da Inteligncia e a sua razo torna-se ato contemplando a
Inteligncia (PLOTINO, 2002, p. 73). Enquanto a Alma cria o mundo sensvel, no qual
habita o Corpo, a Inteligncia cria o mundo inteligvel (a Inteligncia, de certo modo, o
prprio mundo inteligvel), no qual habita a Alma. Aqui Plotino parece unir duas
concepes: a de Inteligncia ou princpio ativo de Digenes de Apolnia e a de Mundo
das Idias de Plato. O que Plotino faz atribuir ao Mundo das Formas a Inteligncia,
isto , torna-o princpio ativo.
Mas quem gerou a Inteligncia? A Inteligncia mltipla e antes da
multiplicidade est a Unidade. O mltiplo um segundo e, originando-se do Uno, por
ele limitado, enquanto a Unidade ilimitada por sua prpria natureza (PLOTINO, 2002,
p. 77). Antes de todas as coisas, portanto, antes da Alma e da Inteligncia, tem de existir
o Simples, diferente de tudo o que dele advm, uma autntica unidade. Esse algo simples
deve ser descrito como Alm do Ser ou Sobre-Ser, pois se ele no fosse algo alm de
toda composio e alm de todo ser, no seria o primeiro princpio. Intocado pela
multiplicidade, ele auto-suficiente e absolutamente primeiro, enquanto o que vem
depois precisa do que vem antes, e tudo o que no simples precisa do simples em si
mesmo, como o prprio fundamento de sua existncia composta (PLOTINO, 2002, p. 55-
56). Tendo estabelecido as trs hipstases, Plotino se pergunta: como se realiza o
mltiplo, como ele pode vir do Simples? Plotino responde que o mltiplo vem do Um por
uma procisso que compreende vrios graus (JOLIVET, 1946, p. 471) e vrios atos de
gerao.
Em primeiro lugar, preciso compreender o paradoxo que Plotino nos coloca,
segundo o qual o Simples (o Uno) ao mesmo tempo todas as coisas e nenhuma delas
(GERSON, 1996, p. 42). O Uno o princpio de todas as coisas, mas no nenhuma delas,
sendo, no entanto, todas as coisas de um modo transcendente, pois, de certo modo, elas
esto no Uno. Para que o Ser possa existir, o Uno no Ser, mas sim o gerador do Ser.
Esse o primeiro ato da gerao: nada possuindo e nada buscando em sua perfeio, o
Uno transbordou e sua superabundncia produziu algo diverso dele mesmo. O que foi
124
produzido voltou-se de novo para a sua origem e, contemplando-a e sendo por ela
preenchido, tornou-se a Inteligncia. O ato de ter-se detido e se voltado para o Uno deu
origem ao Ser; o ato de ter contemplado o Uno deu origem Inteligncia (PLOTINO,
2002, p. 63). O ato de ter-se detido e se voltado para o Uno a fim de contempl-lo
tornou-o simultaneamente Ser e Inteligncia. A Inteligncia est para o Um assim como a
conseqncia est para o princpio. A Inteligncia procede do Um como os raios emanam
do sol (JOLIVET, 1946, p. 471).
Tornando-se semelhante ao Uno por contempl-lo, a Inteligncia repetiu o ato do
Uno e emitiu um grande poder. Esse segundo transbordamento, o da essncia da
Inteligncia, a Alma, que veio assim existncia, mas a Inteligncia permaneceu
inalterada. A Alma surgiu como uma idia e um ato da Inteligncia imvel que tambm
proveio de uma origem que permaneceu imvel e inalterada , mas a operao da Alma
no imvel, pois ela gera a sua prpria imagem pelo movimento: a contemplao do
que lhe deu origem a preenche e, empreendendo um movimento no sentido contrrio
(descendente), ela gera a sua imagem. Essa imagem da Alma so os sentidos e o
princpio vegetativo (PLOTINO, 2002, p. 64). No caso da alma que entra em alguma
espcie vegetal, o que est ali uma hipstase (ou um modo de ser da alma), a mais
rebelde e menos intelectual delas. No caso da alma que entra num animal, o que
prevalece e a conduz para l a faculdade sensorial. No caso da alma que entra no
homem, o que prevalece no movimento exteriorizante a faculdade racional. Como a
Alma, tendo se originado da Inteligncia, tem esse princpio imanente em si, ela tem um
desejo inato pela atividade intelectual e pelo movimento em geral (PLOTINO, 2002, p.
65).
Proclo, que viveu no sc. V, desenvolveu as idias de Plotino e influenciou
diretamente a obra do pseudo-Dionsio, o Areopagita o primeiro a realizar a sntese
entre o cristianismo e neoplatonismo.
Todas as coisas mltiplas, diz Proclo, participam do Um e o Um , ao mesmo
tempo, o princpio e o fim de todas as coisas (BASTID, 1969, p. 213). O Um superior a
todas as coisas, pois todo ser que produz outro ser de ordem superior ao seu produto,
no podendo ser nem igual nem inferior.
(1) Se fosse igual, ou o produto teria o poder de produzir efeitos, ou seria estril;
se fosse estril, seria inferior, o que contradiz a hiptese logo, se fosse igual,
necessariamente seria capaz de produzir efeitos. Sendo capaz de produzir efeitos, ou os
125
seus produtos seriam capazes de produzir outros efeitos iguais assim como os produtos
destes ad infinitum, ou algum desses produtos seria estril; se fosse estril, seria inferior,
o que novamente contradiz a hiptese logo, se o produto fosse igual ao produtor, ento
todos os seus efeitos seriam iguais entre si e no haveria qualquer distino entre o
produto e produtor. Mas necessrio que exista alguma diferena entre o produto e o
produtor logo, eles no podem ser iguais (BASTID, 1969, p. 216).
(2) Se o produtor atribui a substncia ao seu produto, ento o produtor possui o
poder que conforme atribuio dessa substncia. Se um ser pudesse produzir um ser
mais perfeito do que ele mesmo, ento estaria atribuindo a si mesmo um poder maior do
que a sua prpria substncia, o que impossvel logo, o produtor no pode ser inferior
ao produto (BASTID, 1969, p. 217).
O Um (ou a Unidade) a causa de todas as coisas que podem ser concebidas como
simples quanto mais geral e simples uma propriedade, mais ela participa do Um e do
Bem; pelo contrrio, quanto mais uma coisa simples, isto , quanto mais ela participa
exclusivamente de uma nica propriedade, mais distante ela est do Um. Assim, o Ser
enquanto propriedade est mais prximo do Bem do que a Vida e a Vida est mais
prxima do que a Inteligncia. Por outro lado, uma coisa que apenas um ente est mais
distante do Um do que a coisa que um ente vivente e este est mais distante do que
o ente vivente e inteligente (BREHIER, 1928, p. 478).
Os atos de gerao, de acordo com Proclo, envolvem mais estgios do que aqueles
enumerados por Plotino: em primeiro lugar, o Um (o Alm-Ser, o Sobre-Ser); em
seguida, as Hnadas (ou Mnadas), entidades metafsicas, princpios de unidade do
mltiplo; depois os nmeros, isto , a quantidade; o Ser; a Vida; o Intelecto; a Alma; e,
por fim, a Natureza, ou o Mundo Sensvel (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 94).
1.2. A influncia do platonismo na filosofia medieval
1.2.1. No cristianismo
A distino entre platnicos e neo-platnicos moderna e no corresponde ao
sentimento de Plotino e de seus discpulos, que se consideravam apenas os
continuadores de uma tradio que remontava ao prprio Plato e sua Academia
(GERSON, 1996, p. 10), de modo que no exato falar de uma influncia propriamente
neo-platnica sobre a filosofia crist. Antes mesmo de Plotino, o platonismo j exercia
126
sobre os filsofos cristos uma forte influncia (como em Orgenes e em Clemente de
Alexandria) e continuaria exercendo por centenas de anos aps a morte do fundador da
escola neo-platnica (GERSON, 1996, p. 386). A importncia de Plotino para o
cristianismo no est em haver substitudo Plato, mas em ter oferecido uma nova
leitura, uma nova interpretao do mestre ateniense, que se tornou predominante nos
meios platnicos (GERSON, 1996, p. 386).
Enquanto florescia a nova tradio platnica com pensadores pagos como
Porfrio, Jmblico e Proclo, uma nova crena se desenvolvia: o cristianismo. Apesar das
semelhanas entre as duas doutrinas, algumas diferenas cruciais impediram por certo
tempo uma sntese entre elas. A tese emanatista, em especial, que fazia todos os Seres
existentes emanarem do Um, dava ao neo-platonismo um carter inaceitavelmente
pantesta aos olhos de um cristo.
A primeira e mais influente sntese entre o cristianismo e o neo-platonismo
somente foi realizada no sc. V por um telogo que usava o pseudnimo de Dionsio, o
Areopagita. A sua verdadeira identidade se perdeu com o tempo, mas a sua obra
permaneceu. A sntese que o pseudo-Dionsio sugeria somente viria a ser retomada no
sc. IX por um irlands de nome Joo chamado Escoto pelos francos; chamado Ergena
por si mesmo
70
.
Joo Escoto Ergena nasceu na Irlanda e foi o primeiro nome verdadeiramente
grande do cristianismo medieval. Com Teodoro da Canturia a Irlanda havia-se tornado
o asilo para os ingleses que queriam se dedicar ao estudo e contemplao. Beda, o
Venervel, afirmava ter ainda conhecido os discpulos de Teodoro que, segundo ele,
falavam o latim e o grego como suas lnguas maternas. Ergena nasceu nesse ambiente
intelectual (GILSON, 1925, p. 11) e, graas aos seus conhecimentos de grego, foi
chamado corte franca de Carlos o Calvo em 840. L Ergena realizou alguns de seus
trabalhos mais importantes entre eles (e isso viria a ser de crucial importncia para o
seu pensamento e para toda a filosofia medieval) a traduo, do grego para o latim, das
obras de pseudo-Dionsio, o Areopagita e do seu comentador Mximo, o Confessor
(BREHIER, 1928, p. 540). Com a sua traduo, Ergena submeteria permanentemente a
filosofia medieval influncia do neoplatonismo (GILSON, 1925, p. 12).
70
Joo era chamado de Escoto (Scotus) em aluso terra de onde vinha (a Scotia) e chamou a si mesmo
em seus escritos de Ergena em aluso sua origem (Eri + genus = nascido ou gerado na Irlanda).
127
Para combater a idia da dupla predestinao, defendida por Gottschalk, segundo
a qual algumas pessoas estavam predestinadas a serem salvas e outras a serem
condenadas (o que seria uma conseqncia imediata da oniscincia e da onipotncia
divinas), Ergena escreveu o De prdestinatione. Nessa obra, partindo da doutrina de
Santo Agostinho, Ergena afirmava que a verdadeira filosofia era a verdadeira religio e,
vive-versa, a verdadeira religio era a verdadeira filosofia
71
e foi com base na
especulao filosfica sobre a natureza divina que Ergena buscou refutar as idias
religiosas de Gottschalk (BREHIER, 1928, p. 542).
A dupla predestinao, dizia Ergena, era contrria unidade da essncia divina,
pois uma nica e mesma causa no era capaz de produzir dois efeitos contrrios. Se
Deus, segundo Gottschalk, determinava absolutamente o ser humano salvao, ento
ele tambm deveria determin-lo ao pecado o que era contrrio bondade divina. Por
outro lado, sendo Deus a essncia suprema, Ele s podia ser a causa do bem, que algo
real, e no do pecado, que o nada (BREHIER, 1928, p. 543). Com esses argumentos,
Ergena retoma dois princpios neoplatnicos de Agostinho: a identidade de Deus com o
Bem; e a negao do mal enquanto realidade positiva.
A sua obra-prima (De divisione naturae) escrita em forma de dilogo. As
principais influncias para as suas concepes foram o pseudo-Dionsio, Maximo, o
Confessor, Santo Agostinho, Gregrio de Nissa, Baslio de Cesaria, Santo Ambrsio,
Orgenes e So Jernimo (BREHIER, 1928, p. 541). Quanto ao desenvolvimento da sua
argumentao, Ergena faz uso de uma dialtica forte e sutil, que se apia solidamente
nas Categorias e no De Interpretatione de Aristteles (GILSON, 1925, p. 13).
A diviso da natureza que Ergena se dispe a descrever no apenas a simples
classificao das coisas em diversas espcies. Toda diviso (e isso uma influncia
neoplatnica) a descenso de um princpio uno em inumerveis espcies particulares;
ela se completa sempre pela reunio que remonta das espcies particulares ao princpio
uno. Estudar a diviso da natureza , portanto, ver surgir da sabedoria e da providncia
suprema as idias, os gneros, as espcies e os indivduos, mas tambm assistir
reunio dos indivduos em espcie, das espcies em gnero, dos gneros em idias e ao
retorno das idias sabedoria suprema de onde elas surgiram (GILSON, 1925, p. 15).
Ergena estabelece quatro divises da natureza:
(1) A natureza que cria e que no criada;
71
Veram esse philosophiam veram religionem, conversimque veram religionem esse veram philosophiam.
128
(2) A natureza que criada e que cria;
(3) A natureza que criada e que no cria;
(4) A natureza que no cria e que no criada.
A segunda e a terceira formam a totalidade da criao e constituem uma nica
subdiviso: a Criatura. Por sua vez, a primeira e quarta podem ser reduzidas a outra
subdiviso: o Criador. Quanto ao Criador, no se trata de uma diviso, mas de dois
aspectos de Deus, diferenciados na idia que ns temos dEle. a nossa razo que tanto
O considera como princpio (a natureza que cria e que no criada) quanto como fim (a
natureza que no cria e que no e criada). A distino apenas uma forma de ns
podermos conceb-Lo (GILSON, 1925, p. 16).
Tudo aquilo que existe foi criado por Deus criado quer dizer produzido do nada.
A origem de tudo remonta divina Trindade:
No Verbo, que co-eterno com o Pai, repousam por toda a eternidade as causas
primeiras, ou seja, as Idias. Elas so as espcies ou formas eternas, as essncias
imutveis, segundo as quais (e pelas quais) o mundo visvel e invisvel formado e
regido. Todas as coisas somente existem pela participao nesses princpios primeiros.
Aquilo que bom, por exemplo, no o seno por participar do bom em si (GILSON,
1925, p. 17). O mesmo vale para a razo, para a Inteligncia, para a Sabedoria.
As Idias so criadas elas correspondem exatamente segunda diviso da
natureza. Com elas ns entramos no domnio da criatura, mas de uma criatura que co-
eterna com o criador ou, ao menos, quase co-eterna. (GILSON, 1925, p. 17). Aquilo que
produz precede aquilo que produzido Deus precede as Idias, no no tempo, mas na
medida em que a causa do ser destas. As Idias recebem o seu ser do criador. Assim,
uma linha separa Deus de suas obras e impede que ele se confunda com elas Ergena
pretende dessa forma afastar o pantesmo neoplatnico (veremos Schelling utilizar uma
estratgia semelhante para afastar o pantesmo do sistema de Spinoza).
O homem resta manifestamente na terceira diviso da Natureza. Sua origem, sua
substncia mesma se encontram na Idia de homem, que reside eternamente em Deus. O
homem essencialmente o conhecimento eterno que Deus possui dele. Enquanto
esprito, o ser humano se define por trs operaes ou faculdades de conhecimento, que
apenas exprimem ou reproduzem em ns a imagem da Trindade (GILSON, 1925, p. 20):
(1) A parte mais nobre da nossa natureza o intelecto ou a essncia; ou seja, dito
de outra forma, a nossa essncia, cuja operao mais elevada aquela do intelecto. Por
129
essa operao a nossa alma se inclina diretamente para Deus e se esfora para encontr-
Lo em Si mesmo. um ato simples, que ultrapassa as capacidades da alma e que no
chega a um conhecimento propriamente dito de seu objeto; a alma movida
simplesmente para um objeto desconhecido, cuja excelncia tal que se deve situ-lo
alm de toda essncia, alm de toda substncia e se deve renunciar a defini-lo (GILSON,
1925, p. p. 20).
(2) A segunda operao da alma aquela da razo. Por ela, ns definimos aquele
Deus desconhecido enquanto ele a causa de todas as coisas; ns nos elevamos ento
contemplao das Idias que existem eternamente em Deus sem intermdios das coisas
sensveis. Em verdade, porm, as Idias eternas no so, elas mesmas, mais acessveis a
ns do Deus. Embora nos escapem, elas podem produzir em ns as teofanias, ou seja,
aparies divinas compreensveis para as naturezas intelectuais (GILSON, 1925, p. 21).
(3) A terceira operao da alma re refere s essncias das coisas singulares
criadas pelas causas primeiras e consiste no conhecimento das coisas pelos sentidos. Ela
determinada pelas imagens dos objetos sensveis que nos transmitem os sentidos
externos. Essas imagens so de dois tipos: as expressas, que nascem nos rgos
sensveis sob a ao das coisas externas, e as que ns formamos em razo das primeiras.
As imagens expressas dependem do corpo; as outras dependem da alma. As primeiras,
ainda que estejam nos sentidos, no se sentem por si mesmas; as outras se sentem por si
mesmas e recebem as primeiras (GILSON, 1925, p. p. 21).
Aquilo que o intelecto e a razo apreendem pela intuio das idias puras, o
sentido divido em todas as essncias prprias das coisas particulares que foram criadas
desde a origem pelas causas primeiras. Todas as essncias que na razo so unas, so
diferenciadas pelos sentidos em essncias diferentes (GILSON, 1925, p. p. 22).
O homem assim dotado de uma alma incorruptvel era tambm, primitivamente,
dotado de um corpo incorruptvel, mas, como ele se distanciou livremente de Deus, seu
corpo se tornou grosseiro e sujeito s mesmas necessidades dos animais. O homem
decaiu porque se voltou para si mesmo em vez de se voltar para Deus, mas ele ainda
pode-se salvar. Do mesmo modo que pelo Verbo da unidade primitiva surgiu a
multiplicidade das coisas, tambm pelo Verbo essa multiplicidade retornar quela
unidade (GILSON, 1925, p. 22).
A doutrina de Ergena exposta no De divisione naturae formula as contradies
fundamentais que moldaro todo o pensamento medieval. A contradio que nos
130
interessa anunciada por Ergena ao final de sua exposio: se as Idias derivam de
Deus e todas as coisas sensveis derivam das Idias; se as Idias so co-eternas com
Deus; se existe uma Idia do ser humano (a alma racional), que co-eterna com Deus; se
existe uma coisa sensvel do ser humano (o corpo e os apetites sensveis); e se a vontade
e o livre-arbtrio so atributos da alma racional e no do corpo humano; ento como
possvel que uma Idia (a alma racional) que uma com Deus e que deriva diretamente
de Deus possa produzir coisas (pois as Idias so criaturas que criam) que no estejam
de acordo com Deus (como, e.g., possvel que os seres humanos pequem)? A resposta
de Ergena que o ser humano dotado de liberdade e por isso pode agir em desacordo
com Deus mas, claro, essa sua resposta surge como um deus ex machina e representa
um verdadeiro anticlmax de toda a sua doutrina.
1.2.3. No islamismo
Ab Ysof ibn Ishq al-Kind o primeiro filsofo da tradio islmica cuja obra
nos chegou ao menos parcialmente. Nasceu no ano 185 da Hgira (796 d.C.) na Arbia e
morreu em 260 a.H. (873 d.C.) em Bagd (CORBIN, 1991, p. 164). A sua obra filosfica,
bastante abrangente, partia da idia bsica de que a pesquisa filosofia e a revelao
proftica mantinham entre si um acordo substancial
72
. A sua gnosiologia distinguia a cincia
humana (ilm insn), compreendendo a lgica, o quadrivium e a filosofia, e a cincia
divina (ilm ilh), revelada aos profetas. Trata-se de duas formas de conhecimento que
no se ope, mas se complementam em harmonia (CORBIN, 1991, p. 165).
Ao se deparar com o problema dos universais, al-Kind, tomando por base a
teoria do ato e da potncia de Aristteles, considera que um ente no pode passar da
potncia ao ato a no ser sob a influncia de outro ente j em ato necessrio, portanto,
a existncia de uma Inteligncia Ativa, sempre em ato e que sempre pensa os
universais. Desse modo al-Kind explica como a Inteligncia Passiva que existe na alma
(ou seja, a capacidade de pensar os universais) pode-se tornar a Inteligncia que passa
da potncia ao ato e alcana a Inteligncia adquirida (BREHIER, 1928, p. 615).
As idias de al-Kind implicavam o pantesmo mas no foi al-Kind quem o
desenvolveu e sim al-Frb (BREHIER, 1928, p. 615). Ab Nasr Mohammad ibn
72
Por coincidncia, vemos a essa mesma poca no reino franco um pensador cristo defender a mesma
idia refiro-me a Joo Escoto Ergena, nascido em 800 d.C. e morto em 870 d.C.
131
Mohammad ibn Tarkhn ibn Uzalagh al-Frb nasceu em Wsij, na Transoxiana, em 259
a.H. (872 d.C.) e morreu em 339 a.H. (950 d.C.) no Cairo (CORBIN, 1991, p. 168). A sua
obra, uma das mais influentes na filosofia islmica, tomava elementos da doutrina de
Aristteles e da tradio platnica. De Plotino, e.g., ele toma de emprstimo a imagem
dos atos de produo do Um, assim como Plotino, al-Frb deriva a Inteligncia e da
Inteligncia al-Frb deriva, de acordo com os graus de conhecimento, vrias outras
Inteligncias at chegar ltima, a Inteligncia Ativa (BREHIER, 1928, p. 616).
Segundo al-Frb, havia apenas uma nica Inteligncia Ativa para toda a
humanidade (MCGRADE, 2003, p. 108). Os inteligveis emanavam da Inteligncia Ativa
para todos os seres humanos mas somente alguns seres humanos eram capazes de
entender todos os inteligveis. A estes homens ele dava o nome de falasifa. Havia, de
acordo com al-Frb, dois tipos de inteligveis: os comuns, que todos eram capazes de
entender; e os especficos, de compreenso restrita ao falasifa. Os inteligveis comuns
eram de trs tipos: (1) os princpios das habilidades produtivas; (2) os princpios pelos
quais algum toma conscincia da bondade e da maldade nas aes humanas; (3) os
princpios usados para conhecer as coisas existentes que no so objeto da ao
humana. Para al-Frb, portanto, no apenas os inteligveis metafsicos, mas tambm os
inteligveis ticos emanavam da Inteligncia Ativa e eram, assim, apreensveis pelo
intelecto humano (MCGRADE, 2003, p. 108).
Contudo, seguindo Alexandre de Afrodsias, al-Frbi ainda associava a
Inteligncia Passiva matria corprea e, por existir apenas em potncia, a considerava
imperfeita. Graas Inteligncia Ativa, o ser humano era capaz de atualizar e aperfeioar
a sua Inteligncia Passiva (ADAMSON; TAYLOR, 2005, p. 61). Avicena, desenvolvendo as
idias de al-Frb, deu o segundo passo em direo ao pantesmo.
Abl-Wald Mohammad ibn Ahmad ibn Mohammad ibn Roshd, nasceu em Crdoba
em 520 a.H. (1126 d.C.) e morreu em 595 a.H. (1198 d.C.) no Marrocos (CORBIN, 1991, p.
250-251). Ele sustentava haver no apenas uma Inteligncia Ativa para toda a
humanidade, mas sim tambm uma nica Inteligncia Material ou Passiva
73
.
Se a inteligncia se exerce pondo seu saber em um mundo inteligvel, distinto e
separado do mundo sensvel, pode-se dizer ento que no , estritamente falando, a
inteligncia finita que pensa em ns, mas imediatamente o Pensamento divino (JOLIVET,
73
A Inteligncia Material , na realidade, imaterial, mas chamada material pelo papel que assume:
similar ao da matria no composto hilemrfico (MCGRADE, 2003, p. 112).
132
1946, p. 50). Averris afirma no somente que o Intelecto Ativo nico e que constitui a
Razo impessoal, comum a todas as inteligncias, mas tambm que o Intelecto Material
(ou inteligncia propriamente dita) sendo, em sua parte superior, separado, espiritual e
imaterial, tambm necessariamente nico para todos os homens. No existe seno um
nico Pensamento, assim como no existe seno uma nica Razo. As inteligncias
singulares no passam de formas fugazes e finitas pelas quais a Razo impessoal pensa o
necessrio e o eterno, por ocasio das imagens e da percepo sensvel (JOLIVET, 1946, p.
51-52).
Essa teoria foi dirigida contra a interpretao de Alexandre de Afrodsias, que
fazia da Inteligncia Material, existente no indivduo, um ser gerado e corruptvel. Ora,
sendo corruptvel, como era possvel, por meio dela, pensar os universais
incorruptveis? A nica soluo, para Avicena, estava em abandonar a tese de que esse
ato intelectual fosse uma inteleco nova, produzida pelo indivduo e que o unia ao
Intelecto Ativo. Era necessrio, em troca, considerar a existncia de uma Inteligncia
Material incorruptvel, distinta, portanto, dos indivduos. Aquilo que no ser humano era
identificado como sendo um ato intelectual no passaria, segundo Avicena, de uma
simples disposio por meio da qual o indivduo recebia a emanao eterna do Intelecto
Ativo (BREHIER, 1928, p. 623).
1.2.2. No judasmo
A filosofia judia da Idade Mdia se desenvolve no mundo rabe: o neoplatonismo
judeu se insere, portanto, no movimento ainda mais amplo do neoplatonismo rabe, pois
utiliza tanto a lngua quanto as obras e tradues rabes de obras de filosofia e teologia,
em especial a chamada Teologia de Aristteles (em verdade, uma das Enadas de
Plotino), o Liber de Causis (ou Kalam fi mahd al-khayr), o Livro das Cinco Substncias de
pseudo-Empdocles, as obras de al-Kind, al-Frb e Ibn Sina, as tradues de Plato, de
Aristteles e dos tratados neopitagricos (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 93).
Os pensadores judeus escreviam comentrios Bblia e ao Livro da Criao (Sefer
Yetzira), assim como poemas seculares e devocionais, muitos dos quais esto repletos de
detalhes filosoficamente reveladores (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 93). A influncia
neoplatnica se revela no apenas nesses escritos como tambm na prpria Cabala, que
designa, em verdade, menos uma doutrina particular do judasmo do que uma variao
133
judia da mstica do neoplatonismo (BREHIER, 1928, p. 623). Os textos neoplatnicos
montam em geral um quadro de gradaes da realidade, em que um nvel leva, por meio
de uma srie de graus ascendentes, ao prprio Deus, o mais alto nvel da hierarquia (do
grego: hiero + arkhias poder (ou ordem) sagrado) (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 94) o
neoplatonismo judaico no foi diferente.
Alguns dos primeiros pensadores judeus a incorporar elementos da doutrina
neoplatnica foram Isaac Israeli e Salomo ibn Gabirol (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 92).
Isaac Israeli (contemporneo de al-Kind e de Ergena), nascido em 845 e morto em 940,
tambm desenvolve uma procisso do ser nos moldes do neoplatonismo. Segundo
Israeli, em uma hierarquia em que o inferior procedia do superior e era a sua imagem
imperfeita, primeiro vinha a Inteligncia, seguida pela Alma Racional, pela Alma Animal e
pela Alma Vegetativa. Israeli tambm oferecia gradaes dentro da prpria Inteligncia:
a Inteligncia em ato, a Inteligncia em potncia, a Imaginao e o Sentido (BREHIER,
1928, p. 624).
Mas foi Salomo ibn Gabirol (1020-1070), cujo nome latinizado Avicebron,
quem realizou a grande sntese do judasmo e do neoplatonismo em sua obra Fonte da
Vida (Mekor Hayyim, ou Fons Vitae, em latim). Nessa obra, partindo da premissa de que
todas as coisas que emanam de uma mesma origem so semelhantes quando esto
prximas a ela e diferenciadas quando dela se distanciam, Avicebron constri uma nova
hierarquia do Ser (BREHIER, 1928, p. 624). Acima de tudo, Deus em seguida a Vontade,
depois a Forma (inseparvel da Matria que ela determina), a Inteligncia Universal, a
Alma Racional do Mundo, a Alma Animal (ou Sensitiva) do Mundo, a Alma Nutritiva (ou
Vegetativa) do Mundo e, por fim, a Natureza (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 94).
Gabirol aparentemente rejeita a afirmao de Plotino e Proclo de que Deus o
Um acima do Ser. Em vez de um supra-Ser, Gabirol identifica Deus com o Ser (anniyya,
em rabe), o Ser nico (Esse Tantum) (FRANK; LEAMAN, 2003, p. 95). A identificao de
Deus com o Ser o precursor da identificao que Spinoza mais tarde ir fazer entre
Deus e a Substncia.
1.3. O pantesmo na filosofia moderna
1.3.1. A Substncia de Spinoza
134
Poucos filsofos so capazes de despertar avaliaes to contrrias e
interpretaes to distintas e certamente no h doutrina que seja capaz de excitar
tanto entusiasmo e tanta indignao quanto aquela de Benedito de Spinoza. De fato,
Spinoza um daqueles pensadores cuja leitura no nos permite a indiferena. A sua
principal obra, a tica, capaz de a um s tempo nos seduzir e espantar com a sua
magnfica arquitetura lgica e de nos desafiar com a singularidade das suas concluses e
das suas premissas.
A doutrina de Spinoza no se insere em nenhum movimento filosfico do sc.
XVII. Nessa poca, os pensadores ocidentais, seguindo as diretrizes imanentistas de
Descartes, criaram sistemas gnosiolgicos com base nas impresses imediatas da
conscincia assim, por exemplo, o racionalismo de Cartsio, o empirismo de Locke, o
imaterialismo de Berkeley, o ocasionalismo de Malebranche etc. O ponto de partida da
doutrina de Spinoza se aproxima mais das teosofias neoplatnicas do que da filosofia
cartesiana (BREHIER, 1932, p. 163) trata-se, antes de tudo, de uma doutrina para o
conhecimento de Deus.
Por outro lado, tambm Spinoza no se insere em nenhuma tradio teosfica
neoplatnica. A sua doutrina est bem longe da atmosfera de experincias vagas, de
devoo e de misticismo que em geral est ligada aos sistemas do neoplatonismo. A
teoria spinozista do amor de Deus repousa sobretudo no conhecimento, na razo
(BREHIER, 1932, p. 164) e aqui o desenvolvimento da sua doutrina est mais prximo
da filosofia cartesiana do que das teosofias neoplatnicas.
O axioma 1 da Parte I da tica diz que tudo o que existe, existe ou em si mesmo
ou em outra coisa
74
(SPINOZA, 2008, p. 15). De acordo com definio 3 da Parte I,
aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo concebido chamado de
substncia
75
e aquilo que existe em outra coisa e por meio dela concebido chamado
de modo
76
ou afeco da substncia (SPINOZA, 2008, p. 13). Enquanto para Aristteles a
substncia era cognoscvel apenas quando determinada por seus acidentes e
propriedades (por suas afeces), para Spinoza a substncia podia ser conhecida pelos
seus atributos (BREHIER, 1932, p. 171), isto , por aquilo que o intelecto era capaz de
74
Ax. I. Omnia quae sunt vel in se vel in alio sunt.
75
Def. III. Per substatiam intelligo id quod in se est et per se concipitur.
76
Def. V. Per modum intelligo substantiae affectiones, sive id quod in alio est, per quod etiam concipitur.
135
perceber como constituindo a essncia de uma substncia
77
, em outras palavras, Spinoza
admitia o conhecimento da substncia em si.
Admitindo o que Leibniz viria a chamar posteriormente de princpio da
indiferena, Spinoza afasta a possibilidade de existirem duas substncias de mesmo
atributo
78
, a razo simples: se uma substncia A possusse os atributos a e b e outra
substncia B possusse os atributos b e c, seria ento, de acordo com o princpio da
indiferena, impossvel distingui-las e o intelecto as apreenderia como sendo uma nica
substncia C de atributo a, b e c (SPINOZA, 2008, p. 17). Aqui h duas possibilidades: (1)
ou existem infinitas substncias de atributos nicos; (2) ou existe uma nica susbtncia
de infinitos atributos. Spinoza opta pelo segundo caminho e afirma a existncia de uma
Substncia Infinita, que ele chama de Deus
79
(GARRETT, 1996, p. 64). A identificao de
Deus com a Substncia talvez influncia do neoplatonismo judaico, representado por
Avicebron, que identificava Deus com o Ser.
Por ser infinito, Deus a nica substncia que pode existir ou ser concebida
80
, do
que se segue que tudo o que existe, existe em Deus e que sem Deus nada pode existir
nem ser concebido
81
(SPINOZA, 2008, p. 31). Para Spinoza, portanto, o que Descartes
identificava como duas substncias distintas (o pensamento res cogitans e a extenso
res extensa) no eram em verdade seno atributos de uma mesma substncia
82
. Todo
pensamento e toda extenso, se coexistem, no podem ser outra coisa alm de atributos
de uma substncia nica, dois aspectos parciais do universo, ambos essncias infinitas,
independentes enquanto precisamente aspectos distintos de uma mesma e nica
realidade, mas ambos inseparveis e inconcebveis separadamente. Atributos de uma
mesma substncia que, em se diversificando de modos infinitos, resta sempre indntica
a si mesma (JOLIVET, 1946, p. 473-474).
No que se refere s relaes entre Deus e as suas modificaes, Spinoza afirma
que uma coisa que determinada a operar de alguma maneira foi necessariamente
assim determinada por Deus e a que no foi determinada por Deus no pode determinar
77
Def. IV. Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit tamquam eiusdem essentiam
constituens.
78
Prop. V. In rerum natura non possunt dari duae aut plures substantiae eiusdem naturae sive attributi.
79
Prop. XI. Deus, sive substantia constans infinitis attributis, quorum unumquodque aeternam et infinitam
essentiam exprimit, necessario existit.
80
Prop. XIV. Praeter Deum nulla dari neque concipi potest substantia.
81
Prop. XV. Quicquid est in Deo est, et nihil sine Deo esse neque concipi potest.
82
Prop. XIV, Cor. II. Sequitur rem extensam et rem cogitantem, vel Dei attributa esse, vel affectiones
attributorum Dei.
136
a si prpria a operar, isto , no pode converter a si prpria em indeterminada
83
(SPINOZA, 2008, p. 49), do que se segue que nada existe que seja contingente
(GARRETT, 1996, p. 75), pois tudo determinado pela necessidade da natureza divina a
existir e a operar de uma maneira definida
84
(SPINOZA, 2008, p. 53). Pela mesma razo os
atos intelectuais, como o pensamento, a vontade, o amor etc., por serem modos definidos
do atributo pensante de Deus, no podem ser contingentes
85
(SPINOZA, 2008, p. 55).
1.3.2. A resposta a Spinoza
Na bifurcao a que a prop. 5 da Parte I da tica de Spinoza leva Leibniz escolhe
um caminho diverso: para ele no se trata de uma nica Substncia de atributos
infinitos, mas de infinitas substncias de atributos nicos (LEIBNIZ, 1999, p. 57). , de
certo modo, a reedio metafsica da oposio entre Parmnides e Empdocles (ou
Anaxgoras). A essa substncia simples Leibniz d o nome de mnada (JOLLEY, 1995,
p. 132). O uso do termo mnada nos remete a Proclo e a sua teoria das hnadas e
podemos enxergar aqui talvez um desenvolvimento da doutrina neoplatnica.
Por ser simples, a mnada no possui partes e, conseqentemente, no possui
extenso, nem figura, nem pode ser dividida. A mnada no , portanto, uma substncia
corprea, ela est alm do mundo fsico. A matria, porque possui figura e extenso,
essencialmente um composto, pois a figura e a extenso implicam a existncia de partes.
Sendo um composto, a matria necessariamente divisvel ad infinitum. Leibniz afasta
assim qualquer concepo atomista dos corpos para ele, apenas a mnada indivisvel
e apenas ela pode constituir os tomos da Natureza. Sendo simples, as mnadas no
podem ser destrudas nem construdas exceto pela aniquilao ou pela criao absolutas
(LEIBNIZ, 1999, p. 349), ou seja, no h gradaes de destruio da mnada, ela somente
pode existir ou deixar de existir por completo. Pela mesma razo as mnadas no podem
ser alteradas por algo externo a elas (LEIBNIZ, 2004, p. 220), pois essa alterao
83
Prop. XXVI. Res, quae ad aliquid operandum determinata est, a Deo necessario sic fuit determinata; et
quae a Deo non est determinata, non potest se ipsam ad operandum determinare.
Prop. XXVII. Res, quae a Deo ad aliquid operandum determinata est, se ipsam indeterminatam reddere
non potest.
84
Prop. XXIX. In rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate divinae naturae
determinata sunt ad certo modo existendum et operandum.
85
Prop. XXXII. Voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum necessaria.
137
somente seria possvel pela agregao de novos elementos, o que faria da mnada no
mais uma substncia, mas um composto, o que contradiria a sua natureza.
Mas preciso que as mnadas tenham qualidades ou atributos que as distingam
entre si, do contrrio, pelo princpio da indiferena, no seria possvel apreender a
diversidade das substncias (JOLLEY, 1995, p. 133). Sabemos, contudo, que os corpos
(os compostos) diferem entre si e possuem diversos atributos necessrio, assim, que
as substncias simples que os compem (as mnadas) tambm tenham entre si alguma
diferena qualitativa, pois se no a tivessem os corpos seriam idnticos entre si
(LEIBNIZ, 2004, p. 220-221). Sabemos tambm que os corpos sofrem mudanas essas
mudanas no seriam possveis se as mnadas no pudessem elas tambm ser alteradas.
Essa alterao, contudo, no pode vir de algo externo logo, deve provir de um princpio
inerente s prprias mnadas (LEIBNIZ, 2004, p. 221). A ao do princpio interna
chamada por Leibniz de apetite (apptition).
Aqui Leibniz retoma a teoria de Epicuro do movimento espontneo (que Lucrcio
chamou de clinamen) e tenta reconstruir uma fsica finalista. Para Leibniz, o
mecanicismo era incapaz de explicar, por meio de figuras e de movimentos, a percepo
(perception)
86
, isto , o estado que desenvolve e representa o mltiplo na unidade, ou
seja, o universal. O mecanicismo apenas podia explicar as alteraes sofridas pelos
compostos, i.e., as alteraes externas mas no o impulso que provocava a mudana
nas substncias simples, pois nesse caso era preciso supor a existncia de uma ao
interna, de um apetite (LEIBNIZ, 2004, p. 223). Mas no porque o apetite um
princpio interno, estranho s explicaes mecanicistas, que ele deve ser arbitrrio ou
contingente. A apercepo das percepes revela que uma percepo no pode ter
origem seno em outra percepo, assim como o movimento tem origem em outro
movimento (LEIBNIZ, 2004, p. 225). Toda percepo possui uma razo suficiente para
ocorrer.
Disso, porm, no se segue que Leibniz sustentasse um determinismo nos
mesmos moldes de Benedito Spinoza. Embora ele tenha criticado vivamente a liberdade
de indiferena e mostrado que no existia ato voluntrio sem motivo ou sem razo, o ato
assim produzido, afirmava Leibniz, continuava sendo livre. Para compreend-lo
86
Leibniz distingue a percepo (perception) da apercepo (aperception) a primeira a representao
do mltiplo na unidade, a segunda so os dados imediatos da conscincia (as idias, os sentidos etc.)
(LEIBNIZ, 2004, p. 222). Com essa distino Leibniz, assim como Spinoza, se afasta do princpio da
imanncia e so, por esse motivo, capazes de formular a tese da unidade do pensamento e da matria.
138
preciso ter em mente a peculiar concepo que Leibniz tinha da necessidade e da
contingncia.
As verdades da razo, diz-nos Leibniz, so de dois tipos: (1) as que so chamadas
de verdades eternas so absolutamente necessrias, pois a oposio a elas implica
contradio; elas correspondem s verdades lgicas, metafsicas e geomtricas, que no
podem ser negadas sem levar a absurdos; (2) as que so chamadas verdades positivas
so as leis que Deus atribuiu natureza; elas so apreendidas ou pela experincia, isto
a posteriori, ou pela razo, isto , pela considerao dos motivos que levaram Deus
escolha da lei; esse motivo possui as suas prprias leis e razes, mas consiste em uma
escolha livre de Deus e no em uma necessidade absoluta, pois a oposio a elas no
implica contradio (LEIBNIZ, 1999, p. 51). Essas duas verdades se baseiam em dois
princpios: (1) o princpio da contradio, segundo o qual uma proposio no pode ao
mesmo tempo ser falsa e verdadeira; e (2) o princpio da razo suficiente, segundo o
qual nada acontece sem uma razo por que ela deva ser assim e no de outro modo
(LEIBNIZ, 2004, p. 227). Enquanto a contradio governa logicamente as verdades
necessrias, vlidas para todos os mundos possveis, a razo suficiente governa as
verdades contingentes, vlidas apenas no nosso mundo (GUYER, 2006, p. 382).
Uma vez que Deus o ser supremamente perfeito, segue-se (de acordo com o
princpio da razo suficiente) que Deus somente pode escolher o melhor dos mundos
possveis. Leibniz negava que fosse absolutamente necessrio para Deus criar o melhor
dos mundos possveis, mas tambm admitia que, de certa forma, Deus devia escolher o
melhor mundo, pois qualquer outro mundo violaria o princpio da razo suficiente
(GUYER, 2006, p. 382). Leibniz aplicou o mesmo princpio anlise da liberdade
humana. Ele negava que as aes voluntrias dos agentes racionais finitos fossem
absolutamente necessrias, uma vez que a sua no ocorrncia no envolvia qualquer
contradio, mas ao mesmo tempo insistia que a sua ocorrncia era certa (e
eternamente conhecida por Deus), uma vez que a sua no ocorrncia violava o princpio
da razo suficiente (GUYER, 2006, p. 382-383).
O ato humano era livre, pois era (1) inteligente (o motivo mais forte no era tal
seno pelo reconhecimento ou pelo menos a crena de que um curso de ao era,
conforme as circunstncias, o melhor) (2) espontneo (produzido sem constrangimento
externo) (3) e contingente (no era absolutamente necessrio) (LEIBNIZ, 1999, p. 124).
139
Leibniz resumia tudo isso dizendo que o ato livre era aquele que se produzia infalibiliter,
certo, sed non necessario (JOLIVET, 1947, p. 599).
A segunda resposta ao desafio de Spinoza foi dada por Fichte. Tomando por base
o imaterialismo de Berkeley e as investigaes de Leibniz e de Kant sobre a liberdade,
Fichte construiu um sistema filosfico que ele prprio chamava de Doutrina da cincia
(Wissenschaftslehre). A doutrina de Fichte tinha por finalidade responder s duas
questes que o imaterialismo de Berkeley havia deixado no ar: (A) qual a natureza do Eu
e se possvel pens-lo; e (B) como explicar a sensao de independncia de certas
idias com relao vontade do Eu.
Fichte partia de trs importantes convices: (1) a de que Kant havia conseguido
estabelecer o mais frutfero sistema filosfico da modernidade, um sistema que era
profundamente comprometido com a idia da unidade da razo e que permitia uma
viso coerente do mundo em todos os seus diferentes aspectos; (2) ao mesmo tempo, a
convico de que Kant no havia conseguido desenvolver adequadamente sua
abordagem sistemtica por estar preso a um modo dualista de pensamento, que
contradizia o seu prprio objetivo de unidade; (3) e, finalmente, a convico de que era
preciso superar o dualismo kantiano, complementando a sua filosofia com uma base
monista (AMERIKS, 2005, p. 117).
Na primeira introduo doutrina da cincia, Fichte comea por distinguir dentre
as vrias determinaes imediatas da conscincia (i.e., representaes) aquelas que vm
acompanhadas do sentimento de liberdade e aquelas que vm acompanhadas do
sentimento de necessidade. Ao sistema de representaes acompanhadas pelo
sentimento de necessidade Fichte deu o nome de experincia (FICHTE, 1934, p. 10-11).
Para explicar a questo (B), que se refere experincia, Fichte apresenta a importante
relao entre o fundado e o fundamento.
A busca do fundamento de uma coisa consiste em mostrar outra coisa por cuja
natureza se deixe compreender por que o fundado tem, dentre as mltiplas
determinaes possveis, exatamente esta determinao e no outra. Ambos, fundado e
fundamento, enquanto tais opem-se um ao outro, referem-se um ao outro e por isso
que este pode explicar aquele (FICHTE, 1934, p. 13). Tendo de encontrar o fundamento
da experincia, a filosofia necessariamente se deve voltar a um objeto distinto da
prpria experincia (FICHTE, 1934, p. 14).
140
O pensamento do ente racional finito encontra toda a sua matria na experincia.
Contudo, capaz de abstrair e de separar, graas imaginao, aquilo que na
experincia se encontra unido
87
(FICHTE, 1934, p. 15). Na experincia esto unidas (1) a
coisa, ou seja, aquilo que deve estar determinado independentemente da liberdade e ao
qual se deve dirigir o conhecimento (2) e a inteligncia, aquilo que deve conhecer. Por
meio da abstrao, possvel separar esses elementos e, dessa forma, elevar-se sobre
toda a experincia. Se abstrai da primeira, chega a uma inteligncia em si; se abstrai da
segunda, chega a uma coisa em si. A questo agora se resume a saber qual dos dois o
fundamento e qual o fundado. Fichte distingue nas duas solues possveis duas
atitudes filosficas: o idealismo, para o qual as representaes acompanhadas pelo
sentimento de necessidade so produtos da inteligncia; e o dogmatismo, para o qual as
representaes so produtos de uma coisa em si (FICHTE, 1934, p. 15-16). O
fundamento explicativo da experincia proposta por uma filosofia o que Fichte chama
de objeto da filosofia.
Para esclarecer o objeto da filosofia idealista, Fichte apresenta um elenco dos
objetos da conscincia. Conforme a relao que esses objetos tm com o que por eles
representado, distinguem-se trs classes: (1) O objeto produzido pela inteligncia; (2)
O objeto produzido sem a interveno da inteligncia (2.1) ou tanto na sua existncia
quanto no seu contedo (2.2) ou apenas quanto sua existncia, sendo determinvel
quanto ao seu contedo pela inteligncia. A relao (1) constitui o objeto da imaginao;
a relao (2.1) constitui o objeto da experincia; a relao (2.2) constitui o objeto do
idealismo (FICHTE, 1934, p. 18).
A relao (2.2), explica Fichte, refere-se a um fato que experimentamos
internamente: a autodeterminao. Ns somos capazes de nos determinarmos
livremente a pensar esta ou aquela coisa. Se abstramos do pensado e miramos
simplesmente o Eu mesmo, tornamo-nos para ns mesmos o objeto de uma
representao determinada. Que o Eu nos aparea como algo que pensa e, entre todos os
pensamentos possveis, como pensando em algo determinado, isso depende apenas da
autodeterminao. No entanto, o Eu mesmo, o Eu em si, no criado por nossa
autodeterminao, mas algo que devemos pensar como aquilo que existe previamente e
que deve ser determinado pela autodeterminao. O Eu mesmo para ns um objeto cujo
87
Aqui Fichte faz uso do transcendentalismo de Kant e da teoria de Locke sobre a derivao das idias.
141
contedo depende, em certas condies, apenas da inteligncia, mas cuja existncia deve
sempre ser pressuposta (FICHTE, 1934, p. 18-19).
O Eu, para o idealista, apenas um atuar. Nem sequer pode-se cham-lo de ente
ativo ou princpio ativo, porque com essa expresso se alude a algo estvel, inerte,
morto (o ente) que acidentalmente gera a atividade. O idealismo explica as
determinaes da conscincia pelo atuar do Eu. Como do atuar do Eu devem ser
deduzidas representaes determinadas, e como do indeterminado no se pode deduzir
o determinado, ento o atuar do Eu, posto como fundamento da experincia, deve ser
um atuar determinado e, mais que isso, um atuar determinado no por algo fora dele,
mas pela sua prpria essncia (FICHTE, 1934, p. 42-43). O Eu atua, mas somente pode,
em razo da sua prpria essncia, atuar de um modo determinado so as lei
necessrias do pensamento. Por aqui se compreende o sentimento de necessidade que
acompanha algumas representaes (FICHTE, 1934, p. 43). A coisa surge do atuar
segundo essas leis necessrias do pensamento.
Fichte distingue a individualidade e a Eudade. Pela Eudade ns nos opomos a
tudo (inclusive as pessoas) que est fora de ns. A Eudade compreende no apenas a
nossa personalidade determinada, mas tambm o nosso esprito (FICHTE, 1934, p. 152).
A individualidade apenas um modo particular de expressar o Eu apenas o Eu
universal e eterno, o indivduo sempre particular e efmero (FICHTE, 1934, p. 153-
154). A razo comum a todos e em todos os entes racionais exatamente a mesma. O
que se encontra em um ente racional se encontra em todos (FICHTE, 1934, p. 155). Aqui
somos remetidos a al-Frb e a Averris e aos conceitos de Inteligncia Ativa e
Inteligncia Passiva.
1.3.3. Schelling e a essncia da liberdade
Se, ao fim da Civilizao Ocidental, nada mais restasse das produes filosficas
seno a obra completa de Schelling, o fillogo dessa futura civilizao julgaria ter
encontrado apenas fragmentos do seu pensamento. Schelling foi um perfeito romntico
personificou o movimento e fez de sua vida uma extenso dessas idias. A fora e a
pujana esttica dos seus textos so de impressionar a beleza e o mistrio da sua
concepo de mundo encantam a todos que o lem mas to logo nos vemos livres do
142
seu discurso fantstico, percebemos o quanto de fantasioso nele existe e o quanto de
incompleto.
O nosso filsofo nunca chegou propriamente a formular um sistema a sua
impetuosidade o levava de uma idia a outra idia de uma concepo a outra
concepo. Schelling, nas palavras de Hegel, conduziu seus estudos em pblico,
externando as suas impresses antes de submet-las a um crivo sistemtico. Da que no
exista um livre-clef embora a sua produo (tanto literria quanto filosoficamente) no
seja de se desprezar.
Em razo desse carter fragmentrio que nos limitamos a expor o pensamento
de Schelling num de seus livros mais importantes, chamado Investigaes filosficas
sobre a essncia da liberdade humana. Nele exposta uma doutrina difcil de
classificar: apresenta elementos pantestas e elementos testas; advoga tanto a liberdade
quanto o determinismo. Em verdade, Schelling, assim com Leibniz, Agostinho e tantos
outros pensadores, tenta conciliar o inconcilivel e, de uma maneira ou outra, acaba
por ter de descartar uma das teses que buscava unir (embora no o admita).
Schelling retoma o sistema de Spinoza e lhe fornece uma nova interpretao luz
da doutrina da cincia e do princpio da razo suficiente. Seu argumento o de que o
pantesmo no implica necessariamente o fatalismo e que possvel (e at necessrio)
conciliar o dogmatismo de Spinoza com o idealismo de Fichte. Para Schelling, o defeito
do spinozismo estava em tratar de modo idntico o Eu e a Substncia, aplicando a
mesma causalidade a ambos enquanto que o defeito da doutrina da cincia estava em
excluir de suas consideraes a Substncia (SCHELLING, 1950, p. 60-63). Um sistema
filosfico completo no se pode restringir ao Eu nem Substncia preciso
demonstrar no apenas que a Eudade tudo, mas tambm que o Todo a Eudade
(SCHELLING, 1950, p. 63-64). Por conta dessa unidade, a liberdade humana somente
pode ser explicada dentro do contexto de uma filosofia da natureza.
Assim como Spinoza, a filosofia da natureza de Schelling se inicia com a descrio
do modo pelo qual o mundo gerado por Deus. A diferena est em que Schelling explica
a existncia de Deus (influncia de Fichte) com a relao entre fundado e fundamento.
Como nada existe antes de Deus ou fora dele, preciso que ele tenha em si mesmo o
fundamento da sua existncia. No entanto, esse fundamento, que Deus tem em si, no
Deus considerado absolutamente enquanto existente, pois o fundamento apenas o
fundamento da existncia e no a prpria existncia. O fundamento a natureza em Deus,
143
uma essncia inseparvel, mas distinta dele (SCHELLING, 1950, p. 72). Deus tem em si o
fundamento de sua existncia, que, nesse sentido, o precede enquanto existente; mas
Deus tambm anterior ao fundamento, pois o fundamento enquanto tal no poderia
existir se Deus no existisse em ato (SCHELLING, 1950, p. 73). As coisas tm seu
fundamento naquilo que em Deus mesmo no Ele mesmo, ou seja, no que
fundamento de sua existncia desse modo possvel afastar a imanncia das coisas em
Deus, existente no sistema de Spinoza, e atribuir-lhes uma causalidade prpria.
A inclinao que o eternamente Uno possui o de se produzir. Essa inclinao
no o Uno, mas com ele igualmente eterno quer produzir Deus porque em si mesma
no ainda a unidade. Considerada em si mesma, a inclinao tambm vontade mas
vontade em que ainda no h entendimento e que, por conseqncia, no autnoma:
uma vontade inconsciente
88
(SCHELLING, 1950, p. 74). No fundamento originrio h
sempre o confuso, a desordem, o obscuro somente Deus habita na luz, pois somente Ele
existe por si mesmo. A falta de entendimento a escurido mas todo nascimento
nascer da escurido para a luz: do escuro da privao do entendimento nascem as idias
claras do entendimento, pois a prpria inclinao originria de auto-realizao do Uno
que o exige (SCHELLING, 1950, p. 76).
Correspondendo inclinao do fundamento obscuro, produz-se em Deus uma
representao reflexa de si mesmo, por meio da qual (como Deus no pode ter objeto
alm de si mesmo) Deus se contempla em sua prpria imagem. Essa representao
aquilo que primeiramente em Deus se realiza e ao mesmo tempo o entendimento.
Unido inclinao obscura, o entendimento se converte em vontade livremente criadora
e onipotente, que traz ordem e claridade ao fundamento (SCHELLING, 1950, p. 76-77). O
primeiro efeito do entendimento na Natureza o de separao das foras: somente pela
separao possvel desenvolver a unidade inconsciente do fundamento, assim como
algum que, separando o catico acmulo de idias, encontra a unidade oculta que os
liga. A inclinao, estimulada pelo entendimento, aspira por sua vez a conservar a sua
viso desordenada da vida e a se fechar em si mesma para que continue sempre um
fundamento primitivo. As foras separadas nessa diviso so a matria, a base sobre
88
Eis aqui a concepo de um inconsciente ativo que desde Hume no se tinha com a diferena
de que, em Hume, a atividade algo que pertence dinmica da mente, enquanto que em Schelling,
pertence dinmica da prpria Natureza. Schopenhauer desenvolve todo um sistema com base nisso e
provvel que a teoria das pulses de Freud (que permite a tese da unidade da mente e do corpo) seja um
desenvolvimento das idias de Schelling e de Schopenhauer.
144
qual se configura o corpo; e o vnculo vivo que nasce da separao como ponto central de
unidade das foras a alma (SCHELLING, 1950, p. 78).
Cada um dos seres nascidos na Natureza tem si dois princpios, que, no entanto,
no fundamento primitivo so apenas um, considerado sob dois aspectos. O primeiro
princpio aquele pelo qual os seres so separados por Deus e em razo do qual fazem
parte do fundamento primitivo. Enquanto procede do fundamento e obscuro, esse
princpio a vontade particular da criatura; e enquanto no se eleva perfeita unidade
com o entendimento, enquanto no o capta, mero desejo ou apetite, i.e., vontade cega
(SCHELLING, 1950, p. 79). A essa vontade particular da criatura se ope o entendimento
como vontade universal, que o segundo princpio, aquele pelo qual os seres se elevam
unidade representada por Deus (a luz). Quando o entendimento eleva totalmente luz o
ponto mais obscuro da obscuridade inicial, a vontade desse ente, enquanto indivduo,
ainda vontade particular, mas enquanto o centro de todas as vontades particulares,
forma uma unidade com o entendimento vontade universal (SCHELLING, 1950, p.
80). O ser humano, pelo fato de surgir do fundamento primitivo, tem em si um princpio
independente com relao a Deus; mas pelo fato de que precisamente esse princpio se
transfigura em luz, eleva-se nele ao mesmo tempo algo superior, o esprito (SCHELLING,
1950, p. 80-81).
A dicotomia apresentada por Schelling est na base no s da filosofia de
Schopenhauer (e indiretamente na Psicanlise de Freud), mas tambm do
existencialismo de Kierkegaard e, por conseqncia, da Psicologia Humanista. Graas
filosofia da identidade de Schelling foi possvel afastar em definitivo o princpio da
imanncia e enxergar entre o humano e o divino, entre o corpo e a mente, uma unidade,
no uma oposio.
2. A Unidade da Mente e do Corpo
Reunindo a concepo de Hume de uma faculdade irracional e a concepo de
Schelling de um princpio inconsciente, Schopenhauer formulou o seu conceito de
vontade como uma faculdade inconsciente e irracional de determinao do
comportamento. Esse conceito de vontade em Schopenhauer antecipa em muitos
sentidos o conceito de inconsciente em Freud (JANAWAY, 1999, p. 380).
145
Schopenhauer no formulou um modelo terico para descrever e explicar as
operaes do inconsciente, mas, no obstante, foi o responsvel por abrir espao para a
metapsicologia de Freud (JANAWAY, 1999, p. 376). Com Schopenhauer o inconsciente
deixa o seu papel passivo e latente para assumir uma funo decisiva no comportamento
humano (SCHOPENHAUER, 1880, p. 22).
Outro importante filsofo que junto com Schopenhauer moldou o ambiente
favorvel para as idias psicanalticas foi Friedrich Nieztsche (JANAWAY, 1999, p. 375).
Em Para alm do Bem e do Mal, Nietzsche prope ver na vontade no algo simples,
mas sim algo extremamente complexo constitudo por uma pluralidade de sensaes e
de afetos (NIETZSCHE, 2002, p. 45-46). A inclinao de toda criatura viva em dar razo
sua fora, isto , em se auto-preservar, em procriar etc. era o que Nietzsche chamava
de vontade de potncia (NIETZSCHE, 2002, p. 44). A vontade de potncia o precursor
do instinto (ou impulso) da teoria psicanaltica de Freud.
2.1. Psicanlise
A Psicanlise surge em oposio psicologia associacionista e psicologia das
faculdades. Em virtude dessa oposio, a Psicanlise construiu para si alguns princpios
e concepes que se tornaram bastante influentes no desenvolvimento posterior da
psicologia.
PRINCPIOS GERAIS DA TEORIA PSICANALTICA
(1) Princpio do determinismo psquico: Freud sustenta que todo fenmeno
psquico possui no somente inteno, mas tambm motivao. No um fenmeno
espordico, acidental ou isolado, mas um elo ou um elemento de uma srie causal,
encontrando-se, assim, determinado (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 57). Esse princpio se
tornou central para o behaviorismo.
(2) Princpio da transferncia afetiva: assim como at o advento da Psicanlise se
acreditava que era impossvel a existncia de um sentimento, ou carga afetiva, que no
estivesse vinculado a um contedo intelectual, de modo a constiturem uma experincia
ou vivncia indissolvel, Freud afirmou que esta carga afetiva tinha existncia autctone,
i.e., preexistia e sobrevivia idia ou dado gnstico que aparentemente a determinava,
mas que, em realidade, apenas servia de suporte circunstancial. O potencial afetivo
podia, assim, deslocar-se de um para outro tema e saltar de uma idia para outra. Esse
146
deslocamento, em virtude do qual uma percepo ou representao qualquer, neutra e
sem valor podia adquirir, s vezes bruscamente, uma fora atrativa ou repulsiva
extraordinria, suficiente para determinar a conduta individual, foi chamado de
transferncia (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 57-58).
(3) Princpio do pandinamismo psquico: nada se encontra morto em nosso
psiquismo, diz Freud. primeira vista essa afirmao parece no ser de todo exata,
porque confundimos a aparncia com a realidade: o que supomos inerte est somente
inibido ou reprimido. O capital circulante ou ativo de nossa capacidade psquica varia
muito de acordo com a intensidade que alcana esta represso inibitria. Seu valor, no
entanto, permanece inaltervel no curso dessas modificaes. De acordo com esse
princpio, a vida psquica se apresenta como o perptuo devir de uma corrente
energtica que, encontrando obstculos em sua marcha, concentra-se e ganha exagerada
tenso, at saltar por cima deles ou soterr-los, mediante um processo secundrio ou
mecanismo de defesa (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 59).
(4) Princpio do equilbrio: correlato ao pandinamismo se encontra o princpio do
equilbrio. O equilbrio a tendncia do sistema nervoso de descarregar todo aumento
de excitao. Os nervos teriam por funo manter uma quantidade constante de energia;
se eles eram estimulados, buscavam ento descarregar o acrscimo de energia (BOLLES,
1969, p. 55). Por volta de 1900, em Interpretao dos Sonhos Freud abandonou a sua
anterior orientao mecanicista ao escrever que o trabalho do aparato psquico
primitivo era regulado pelo esforo de evitar a acumulao de excitao e de se manter o
mximo possvel livre de excitao por essa razo que existe o aparato dos
movimentos reflexos. A acumulao de excitao sentida como dor e provoca nesse
aparato uma operao com a finalidade de trazer de novo um estado de satisfao, no
qual a diminuio de excitao era percebida como prazer. Tal fluxo no aparato psquico,
evitando a dor e buscando o prazer, o que se chama desejo (BOLLES, 1969, p. 55-56).
(5) Princpio da estrutura: afirmar que os neurnios (ou estados de conscincia)
tendem a descarregar sua excitao implica reconhecer que a descarga apenas possvel
por meio de canais pr-estabelecidos. A tendncia da excitao em ser descarregada
conforme um padro estabelecido reconhecida como um prottipo daquilo que Freud
viria a chamar de processo secundrio ou mecanismo de defesa, i.e., a tenso somente
pode ser reduzida encontrando-se uma sada pelas represses e inibies que a
estrutura do ego coloca para a sua descarga. Aqui ns chegamos importante distino
147
entre energia e estrutura. Para explicar o que o indivduo faz a psicanlise determina no
apenas qual energia ou qual fora motivacional se esconde por trs do comportamento,
mas tambm por que estrutura o ego possibilita que as foras motivacionais se
expressem (BOLLES, 1969, p. 57).
2.1.1. A teoria do impulso
O fisiologismo de Ribot j havia desenvolvido o conceito de estmulo fisiolgico
e o aplicado na explicao do ato reflexo. Em geral se diferenciava o estmulo fisiolgico
do estmulo instintivo (ou impulsivo) apenas pela localizao externa do primeiro e
interna do segundo. Freud, no entanto, rejeitou essa distino. Em sua opinio, a
diferena entre impulsos e estmulos era mais profunda: (1) primeiro, era certo que um
estmulo instintivo no surgia do mundo externo mas do interior do prprio organismo;
porm (2) ele no podia ser satisfeito do mesmo modo que os impulsos fisiolgicos. O
estmulo fisiolgico sempre um impacto momentneo e, quando nocivo, pode ser
evitado pelo mecanismo de fuga, que afasta o organismo da fonte do estmulo. O
estmulo instintivo, porm, nunca age como um impacto momentneo, mas sempre
como uma fora constante e, quando nocivo, no pode ser evitado pelo mecanismo de
fuga (S. FREUD, 1994A, p. 118). Os impulsos so caracterizados pela sua energia (ou
impulso para a ao). Os homens aprendem a se ater a certos objetos ou fins que
tornam possvel a descarga de energia. Essa descarga faz com que o fim se torne mais
desejvel e reduz o impulso original para a ao (BOLLES, 1969, p. 61). Do ponto de vista
biolgico, o impulso aparece como um conceito na fronteira entre o mental e o somtico
(DI MATTEO, 2000, p. 89). Com o impulso a psicanlise realiza no plano das cincias
positivas o que Schopenhauer e Nietzsche haviam realizado no plano da filosofia a
integrao, a unidade da Mente e do Corpo.
A impossibilidade de usar o mecanismo de fuga para evitar os impulsos leva a
mente a desenvolver certos mecanismos de defesa. O termo defesa designa a revolta
do Eu contra as representaes e os afetos nocivos ou insuportveis (A. FREUD, 1949, p.
37). Anna Freud distingue dez mtodos diferentes de defesa do Eu contra os impulsos
nocivos, sendo os mais importantes: a sublimao, o processo em virtude do qual a
energia de uma tendncia reacional que tropea com inibies em seu caminho
transferida para outras vias motoras, onde possvel se expandir livremente, originando
148
uma satisfao substitutiva (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 61); a catatimia, a ao que as
tendncias afetivas exercem sobre a percepo da realidade (MIRA Y LOPEZ, 1968, p.
62); a projeo, o mtodo em virtude do qual se efetua a extroverso das tendncias
afetivas do indivduo, que so projetadas fora dele e dirigidas para outras fontes de
origem (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 63); a racionalizao, que consiste em criar uma falsa
motivao subjetiva que permita justificar aparentemente a satisfao da tendncia
qual se ope a censura (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 64); a holotimia, em virtude dos
mecanismos anteriores, pode o indivduo conseguir quase sempre uma dose suficiente
de auto-engano que lhe permita conciliar suas tendncias opostas. Mas se tais
mecanismos falham, possvel que ainda se conforme com a obteno de um resultado
parcial ou, inclusive, com a renncia total de seus desejos, se capaz de prometer a si
mesmo um bem maior e ulterior com tal atitude de sacrifcio. (MIRA Y LOPEZ, 1968, p.
65).
Sigmund Freud fala tambm da presso, da finalidade, do objeto e da fonte
dos instintos. A presso (Drang) de um impulso, segundo ele, deve ser entendida como
sua capacidade motriz, i.e., a quantidade de foras ou a medida de demandas que ele
representa; a finalidade (Ziel) de um impulso a satisfao, que somente pode ser obtida
pela remoo do acmulo de energia psquica (ou seja, pela liberao da presso); o
objeto (Objekt) de um impulso a coisa por meio da qual o organismo pode liberar o
acmulo de energias; a fonte (Quelle) de um impulso o processo somtico que ocorre
em algum rgo ou parte do corpo e cujo estmulo representado na vida mental por
um impulso (S. FREUD, 1994A, p. 122-123).
Para explicar a fonte dos impulsos, Freud desenvolveu uma de suas teorias mais
interessantes a teoria da libido. Freud afirma que a fora ou energia psquica
transmitida ao Ser no ato da fecundao e , por assim dizer, consubstancial. Sob o ponto
de vista teleolgico, devemos consider-lo como um obscuro impulso criado, cujo fim
assegurar a expanso e a perpetuao do Ser, no espao e no tempo. Sua natureza
fundamental parece ser, de acordo com certas passagens da obra freudiana, hormonal e
instintiva. preciso advertir, no entanto, que acerca dessa fora Freud se limita a
postular que ela engloba (mas no se resume a) as energiais sexuais, motivo pelo qual a
denomina Libido sexual. Isto, porm, no significa que seja exclusivamente sexual, pois
contm elementos no diferenciados e comuns a outras funes vitais Quando uma
criana nasce, sua libido no tem objeto nem finalidade sexual concreta e se revela
149
somente por uma vaga impresso de prazer, sentida quando se satisfazem suas
necessidades trmicas e nutritivas. Cedo, porm, a mucosa bucal comea a constituir a
primeira zona ergena. Se a criana inicialmente chorava e acalmava-se com o alimento,
dentro de poucas semanas se acalma chupando apenas o peito ou o bico de mamadeira
e, mais tarde, contenta-se com a chupeta ou com a suco de seus prprios dedos. E assim
essa suco, primitivamente desprovida de significao, passa com o tempo a constituir
uma fonte interna de prazer libidinoso, por localizao perifrica deste na zona oral
(MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 66).
A teoria psicanaltica de Freud sustenta que nas proximidades do segundo ano de
vida, o prazer libidinoso emigra para outro extremo do aparelho digestivo e se localiza
na zona anal, dando lugar, assim, segunda fase evolutiva designada com o nome de fase
anal, em cujo perodo o prazer libidinoso despertado principalmente pela lenta e
intermitente frico dos excrementos contra a referida mucosa. As crianas acostumam-
se, ento, a reter seus excrementos, visando um prazer maior no momento de sua
expulso. Outras vezes, introduz seus dedos no nus com o mesmo fim. Coincidindo com
esta fase, ou talvez um pouco mais tarde, verifica-se uma terceira localizao
extragenital da libido, no aparelho excretor urinrio, constituindo o chamado erotismo
uretral. As crianas habituam-se a reter a urina ou, ento, querem urinar a todo instante,
chegando a esfregar com os dedos a poro externa da uretra. So freqentes os casos
em que se introduzem objetos atravs do orifcio uretral ou anal. A prtica da introduo
intermitente destes objetos atravs de um conduto revestido por uma mucosa sensvel
o fator comum que permite referir todas estas aparentes criancices a seu verdadeiro
motivo: a busca do prazer libidinoso (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 67).
Quando a criana se torna um pouco maior e se aproxima da segunda infncia, a
libido continua-se estendendo e alcana um perodo final em que o auto-erotismo se
encontra disseminado por toda a superfcie cutnea. Apesar disto, continuam existindo
determinadas zonas ergenas que monopolizam freqentemente o prazer libidinoso.
Nesse perodo se descobre um novo meio de encontrar o prazer sexual: a vista. a poca
durante a qual a criana gosta de contemplar seu prprio corpo e tem um especial
interesse em se exibir nua diante dos outros (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 67-68). um
perodo de transio entre a fase narcisstica, em que a satisfao libidinosa obtida no
corpo do prprio indivduo, coincidindo o sujeito e o objeto sexuais, e a fase em que se
realiza a projeo da libido para o exterior. Segue-se ento um perodo de
150
recolhimento. A criana que era (no dizer de Freud) um perverso polimorfo desenvolve
durante este tempo, sob a influncia da educao, uma srie de mecanismos inibidores
de suas tendncias libidinosas e cria em si mesmo um conjunto de fatores repressivos
(vergonha, repugnncia, etc.) que conduzem ao progressivo desaparecimento dessas
tendncias (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 68).
A libido em aparente retrocesso continua, no entanto, a sua evoluo. A criana,
cada vez mais interessada pelo exterior, abandona seu narcisismo e projeta seu afeto
sexual, fixando-o primeiramente na pessoa de seu genitor de sexo contrrio. Durante
alguns anos, afirma Freud, os filhos se encontram ligados aos pais por uma dupla reao
ertica: amor e dio dio prontamente reprimido, assim como o amor materno,
passando ambos para o subconsciente e depois para o inconsciente, constituindo o
clebre complexo de dipo, nos meninos, e o complexo de Electra, nas meninas. (MIRA Y
LOPEZ, 1968, p. 69).
Quando chega a puberdade e comeam a se operar as mudanas
anatomofisiolgicas prprias, oberva-se geralmente um denominado perodo de retorno,
caracterizado pelo aumento da fora da libido que, unida ao fracasso de decepes
produzidas na criana, e por suas investigaes sexuais, determina um novo despertar
das perverses sexuais primitivas e o menino e a menina voltam momentaneamente
fase do auto-erotismo, com todas as suas manifestaes, acrescida da satisfao onanista
e masturbadora. A evoluo da libido, porm, persiste, continua atravs de todos esses
fracassos e debaixo da presso crescente que o novo desenvolvimento genital comea a
exercer, a criana, j quase pbere, sai novamente de seu auto-erotismo e projeta pela
segunda vez a libido no exterior. A influncia da educao e da moral impede-lhe fix-la
agora em seus pais e, por isto, exteriorizam algo mais, elegendo como objeto sexual
algum indivduo do sexo oposto que pertena a crculos mais excntricos de que seu
curriculum familiar (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 71).
2.1.2. A represso e o Inconsciente
No ano de 1880 o hipnotismo estava em moda. Todos os pacientes que
apresentavam perturbaes funcionais do sistema nervoso eram submetidos a sua
poderosa ao sugestiva. No de se estranhar, portanto, que Josef Breuer procurasse
obter com tal mtodo o desaparecimento dos sintomas histricos que uma de suas
151
doentes apresentava. Era uma jovem, que sofria de uma srie de manifestaes
espasmdicas sob a forma de uma espcie rara de hidrofobia: logo que a doente sentia
sede e queria beber gua, comeava a tremer diante do copo que, subitamente, num
gesto de horror, era lanado fora, ao pretender aproxim-lo dos lbios, seguindo-se um
ataque histrico. Certo dia, encontrando-se a enferma hipnotizada, comeou a falar e
repentinamente acordou e explicou que tivera uma governante inglesa a quem odiava.
Tal governante possua um cachorro e a doente surpreendera um dia o animal bebendo
gua em um copo de seu uso, o que a encheu de asco. Uma vez recordada, com todos os
detalhes, esta cena e revividas as sensaes desagradveis que primitivamente evocara a
enferma, esta despertou, pediu e bebeu gua sem dificuldade, ficando definitivamente
curada. Este fato e outros parecidos levaram Breuer a se convencer de que os sintomas
histricos eram resultados de traumatismos psquicos esquecidos e o fizeram entrever a
possibilidade de cur-los mediante sua rememorao, acompanhada da re-vivncia da
emoo adjunta (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 24-25). Segundo a concepo de Breuer, os
acontecimentos desagradveis so capazes de provocar em ns uma espcie de
indigesto espiritual (S. FREUD, 1999A, p. 8). E a teraputica racional conseguir a
catarse, isto , a expulso ou eliminao do agente perturbador. Na esfera psquica a
catarse hipntica produz a ab-reao dos elementos mentais cuja eliminao anterior
no fora possvel. Ab-reao a crise emotiva que se produz no momento em que o
enfermo recorda o trauma psquico originrio e libera a energia psquica que este havia
acumulado (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 25).
Os xitos obtidos por Breuer com seu procedimento levaram outro neurlogo
vienense, Sigmund Freud, a procurar sua colaborao para comprovar sua eficincia.
Freud no se mostrava, entretanto, satisfeito com a tcnica utilizada para conseguir a re-
evocao dos traumas psquicos em seus pacientes. Nestas condies, comeou a pensar
no processo que Bernheim utilizava para fazer recordar os fatos ocorridos durante a
hipnose e que consistia, simplesmente, em pr a mo sobre a fronte do enfermo,
assegurando-lhe que instantaneamente se recordaria do que lhe pedissem. Este mtodo
de presso era, assim mesmo, muito difcil de pr em prtica, posto que cedo se verificou
que existia uma fora sob a forma de resistncia que se opunha evoluo normal e
espontnea dos fatos procurados. Freud teve, ento, se perguntou se a fora que impedia
o imediato xito do mtodo de presso no era, em realidade, a mesma que havia
determinado o esquecimento dos acontecimentos determinantes do trauma psquico.
152
Para resolver esta pergunta, estendeu suas investigaes ao campo das outras neuroses
e, com grande surpresa de sua parte, viu que na imensa maioria dos casos, os traumas
psquicos determinantes daquelas neuroses eram de natureza sexual e representavam
desejos e tendncia inconfessveis que atentavam contra a tica, contra a Moral. Ao
mesmo tempo comprovou que muitos destes desejos e tendncias datavam da segunda
infncia, isto , anteriores poca puberal. Isso o induziu a fazer trs afirmaes que j
constituam a essncia de sua teoria (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 26):
(1) que o processo de esquecimento, em vez de puramente passivo e resultado do
simples desgaste das recordaes, um processo ativo, devido a uma fora que expulsa
violentamente da conscincia as referidas recordaes, com intensidade tanto maior
quanto mais inteis ou prejudiciais elas so para o bem-estar individual. Essa fora a
mesma que se ope evocao espontnea ou artificial das recordaes, exercendo, a
todo instante, uma represso (Verdrngung) destes (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 26);
(2) que os acontecimentos que atuaram como traumatismo mental (choques
mentais), surgindo como agentes das perturbaes psiconeurticas, so, sem exceo, de
ordem sexual, e esto ligados sempre a algum desejo que, sendo incompatvel com as
normas sociais e morais, foram reprimidos e rechaados da conscincia, depois de uma
luta mais ou menos intensa (conflito mental) (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 26);
(3) que nos casos de psiconeurose pura e, singularmente, nos casos de histeria os
desejos causadores dos sintomas mrbidos, foram reprimidos em uma poca de
desenvolvimento psquico individual, isto , na infncia. justamente tal represso o
motivo do esquecimento, apesar de j se encontrar bem desenvolvida, nesta poca, a
memria. (MIRA Y LOPEZ, 1968, pp. 26-27).
Com o intuito de encontrar novos argumentos em defesa de suas idias Freud
comeou a estudar o desenvolvimento evolutivo da sexualidade infantil e tambm
empreendeu o estudo e interpretao dos atos psquicos sintomticos dos adultos. Um
dos mritos indiscutveis de seus trabalhos foi justamente o de demonstrar que estas
supostas distraes ou falhas de nosso esprito no o eram em realidade, e que todas
elas tinham significao e serviam para exteriorizar algum desejo reprimido (MIRA Y
LOPEZ, 1968, p. 27).
ANLISE DOS SONHOS
Para fundamentar as suas concluses, Freud comeou a estudar tambm os
sonhos dos enfermos e no tardou em se convencer de que, longe de constituir material
153
incoerente e desprezvel, representavam um excelente meio de anlise da personalidade
humana (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 27). Freud resume, em um dos seus ltimos trabalhos,
sua concepo de sonho, afirmando que um produto da atividade do Inconsciente e
que tem sempre um sentido intencional, a saber: a realizao ou a tentativa de
realizao mais ou menos dissimulada, de uma tendncia reprimida (MIRA Y LOPEZ,
1968, p. 33). Diariamente afastamos da conscincia pensamentos, dados e experincia
sem interesse, mas tambm, de tempos em tempos, procuramos destruir e esquecer
foradamente outros cujo contedo nos desagradvel. As tendncias cuja realizao
nos colocaria em conflito com os demais, ou com o nosso prprio sentido tico, so
inibidas durante a viglia. Mas entrando nosso sistema nervoso em repouso, diminuindo,
conseqentemente a censura consciente, toda a energia de que dispe esse material
reprimido orienta-se para a realizao dos atos que representa de forma potencial. Isto,
s vezes, sucede totalmente e d lugar ao denominado sonambulismo onrico, durante o
qual o indivduo executa, dormindo, o que no poder realizar acordado. Em gera, existe
a suficiente represso cortical para evitar esta ocorrncia e ento, como resultado de
cum compromisso, surge o sonho, que dar lugar a uma descarga tensional, mediante
uma realizao imaginria das pulses contidas no inconsciente. O carter pr, para
ou alilgico do pensamento inconsciente e, de outra parte, da ao deformante dos
resduos da censura consciente (agora atuando como censura do sonho), explicam o
aspecto absurdo e incoerente com o qual o indivduo vive em seus sonhos. Estes
constituem assim uma espcie de hierglifo de trama fisiognmica expressiva, cujo
sentido deve ser decifrado para se descobrir o que significam na dinmica psico-
individual (MIRA Y LOPEZ, 1968, pp. 33-34).
ANLISE DOS ATOS FALHOS
Durante a vida diria convm observar com escrpulo a conduta do indivduo,
porque nos atos que parecem menos explicveis, isto , menos lgicos e voluntrios,
costuma-se descobrir seu fundo mental: os equvocos e os lapsos de linguagem, os
esquecimentos e transposies de expresses, em uma palavra, as falhas revelam,
segundo Freud, muito mais que os atos que poderamos denominar normais. Se levamos
em conta o potencial cintico que conserva toda tendncia reprimida, compreende-se
que esta procure sua descarga por qualquer via, mesmo interferindo no decurso das
aes no submetidas represso (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 54).
154
A essncia da represso consiste no em pr um fim (ou a aniquilar a) idia que
representa o impulso, mas em evitar que ela se torne consciente. Quando isso acontece,
a idia passa para um estado de inconscincia contudo, mesmo nesse estado a idia
capaz de produzir efeitos que atingem a conscincia. primeira vista poderia parecer
que o inconsciente e o reprimido fossem conceitos de mesma extenso no entanto,
embora tudo aquilo que reprimido seja inconsciente, o inconsciente no se resume s
idias reprimidas. Freud ento se prope a estudar a estrutura do inconsciente (S.
FREUD, 1999A, p. 166).
Observando o caminho pelo qual um ato psquico reprimido, Freud distingue
duas fases: na primeira fase o ato psquico inconsciente e pertence ao que ele chama de
sistema Inc (Inconsciente); se durante o teste o ato rejeitado pela censura, a sua
passagem para a segunda fase vedada; diz-se ento que ele foi reprimido e que deve
permanecer inconsciente; mas se o ato passa pelo teste, ele entra na segunda fase e
passa a pertencer ao que Freud chama de sistema Cs (Consciente). Mas o fato dele
pertencer ao sistema Cs no determina inequivocamente sua relao com a conscincia.
Ele ainda no consciente, embora seja certamente capaz de se tornar consciente. A essa
capacidade de se tornar consciente Freud chama pr-conscincia e lhe d o nome de
sistema Pcs (S. FREUD, 1999A, p. 173).
As idias que pertencem ao sistema Pcs no so conscientes, pois no pertencem
ao sistema Cs mas ao mesmo tempo, tambm no podem pertencer ao sistema Inc, pois
so capazes de se tornar conscientes. Freud ento distingue dois tipos de inconsciente
o latente (que pode vir a ser consciente), que corresponde ao sistema Pcs e que
inconsciente apenas do ponto de vista descritivo; e o reprimido (que no pode vir a ser
consciente), que corresponde ao sistema Inc e que inconsciente tambm do ponto de
vista dinmico da represso (S. FREUD, 1999B, p. 15).
Embora a existncia de uma atividade psquica marginal e, at certo ponto,
independente da conscincia tenha sido assinalada desde os tempos mais remotos por
diversos investigadores e filsofos, certo que o interesse por seu estudo sistemtico
data dos estudos de Freud. A noo de pr-consciente, de consciente e de inconsciente
(que Jung dividiria em pessoal e coletivo) permitiu criar a denominada Geologia
Psquica ou Psicologia Abissal ou Profunda, que penetra na zona obscura da
individualidade, visando descobrir em tal zona as foras e fatores que determinam o
aparecimento e a sucesso dos fenmenos da conscincia (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 23).
155
2.1.3. A estrutura da Mente
A distino de trs sistemas o Consciente, o Pr-Cosciente e o Inconsciente se
mostraram insuficientes para explicar o Eu. Ao estudar o Eu (ou o Ego), Freud percebeu
que no podia situ-lo no sistema Consciente, pois boa parte daquilo que constitui o Ego
(a saber, as suas memrias) pertenciam ao sistema Pr-Consciente. No entanto, mesmo
situando o Ego no consciente dinmico (o sistema Cs e o sistema Pcs), Freud percebeu
que alguns elementos do Ego eram dinamicamente inconscientes (S. FREUD, 1999B, 17).
Freud ento sups a existncia de uma estrutura dinamicamente inconsciente, distinta
das idias reprimidas, e que constituiria o Ego Inconsciente a essa estrutura Freud deu
o nome de Id (S. FREUD, 1999B, p. 23-24).
O Id corresponderia fonte energtica mais prxima do fundo orgnico
(ancestral) e se manifesta sob a forma de impulsos ou tendncias primrias de reao. O
Id obedece a duas classes de instintos: os denominados instintos tnicos, destruidores, ou
instintos de Morte, de natureza sado-masoquista, e os instintos criadores, ou vitais, que
se agrupam sob o qualificativo de Eros platnico, ou Libido. Essas foras, inicialmente
amorfas e multvocas, constituem o extrato mais profundo da atividade pessoal, e seu
conjunto, fundamentalmente inconsciente, integra o Id (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 59).
O contato com o mundo exterior levaria formao de uma estrutura consciente
sobre o Id: o Ego. O Ego corresponderia fonte energtica que deriva paulatinamente da
ao corretora e modeladora da experincia e da educao (que cria por meio de
reflexos resultantes da observao a bipolaridade consciente e permite separar o Eu
realidade subjetiva do no Eu realidade objetiva , delimitando assim a noo de
auto-existncia e auto-determinao). A funo do Ego a de mediar a relao do Id com
o mundo exterior para consegui-lo, o Ego dotado de mecanismos de defesa.
Em virtude do mecanismo de defesa de reverso (ou introjeo, que dirige, contra
o prprio indivduo, as foras impulsivas das tendncias agressivas e as coloca a servio
da autopunio expiatria dos primitivos desejos incestuosos e criminosos dos
chamados complexos de dipo ou de Electra), o progenitor odiado incorporado
personalidade e se converte em seu mais implacvel juiz ou censor (MIRA Y LOPEZ,
1968, p. 60). Em sua luta contra o Id, o Ego acabaria formando uma terceira estrutura: o
Superego (S. FREUD, 1999B, p. 28).
156
2.2. Psicologia experimental
2.2.1. O estruturalismo de Wundt e a Escola de Wrzburg
O ponto de vista predominante na Alemanha do comeo do sc. XX era o
estruturalismo de Wilhelm Wundt, que se baseva na premisa de que a psicologia poderia
resolver todos os seus problemas por meio da investigao emprica da mente. A
convico fundamental era a de que para a compreenso da mente era necessrio
apenas conhecer a estrutura sincrnica das suas associaes (BOLLES, 1969, p. 68).
Tratava-se de uma tese claramente associacionista, com a diferena de que Wundt no
se restringia introspeco que Hume oferecia como base de observao da mente
pelo contrrio, o estruturalismo de Wundt se baseava no estudo fisiolgico para
fornecer explicaes empricas e observveis da mente.
Wundt parte do fato de que toda representao corresponde a um estado afetivo
e de que todo estado afetivo acompanhado por movimentos viscerais e orgnicos,
geralmente inconscientes. Quando as circunstncias lhes permitem, os sentimentos que
correspondem s representaes se organizam e se reforam entre si e produzem a
emoo, que o resultado original dos afetos elementares. A emoo, por sua vez,
provoca os movimentos ou os atos que podem ter o efeito de faz-la desaparecer (assim,
por exemplo, o animal faminto que se joga sobre a sua presa e a devora: a fome d lugar
ao prazer).
Tanto a emoo quanto ato que ela provoca e que a faz desaparecer constituem o
processo voluntrio. Sob a sua forma mais simples, a vontade consiste na atividade
impulsiva, ato voluntrio simples determinado por um sentimento nico. Entre os
homens, o processo voluntrio se torna um ato de escolha quando um sentimento de
hesitao, nascido do conflito entre os diversos motivos e mveis, traduz as oscilaes
das foras afetivas em presena, at a vitria de uma delas. Em todo caso, a
representao, que faz o papel de motivo, acompanhada por um sentimento, que faz o
papel de mvel: mas so sempre os mveis os que tm importncia decisiva (JOLIVET,
1947, p. 567).
Essa abordagem estrutural foi levada ao problema das funes superiores da
mente por um grupo de psiclogos de Wrzburg sob a liderana de Oswald Klpe.
Contudo, o estruturalismo logo se mostrou incapaz de fornecer um modelo satisfatrio
157
da mente, em especial de uma das suas funes superiores: o pensamento. Em primeiro
lugar, os pesquisadores de Wrzburg descobriram que o pensamento podia ocorrer sem
qualquer contedo mental. Em segundo lugar, e mais importante, eles descobriram que
era necessrio introduzir novos termos explanatrios no-associativos (BOLLES, 1969, p.
68). De acordo com Narzi Ach, um assunto podia ter uma tendncia determinante que
podia agir sobre a estrutura associativa da mente selecionando as associaes possveis.
Para Henry Watt isso significava que o princpio seletivo, a tendncia determinante,
possua uma natureza diferente dos processos por ela governados. Esse princpio era
considerado um fator dinmico do processo mental e era visto como algo distinto das
caractersticas puramente estruturais da mente (BOLLES, 1969, p. 69). O fator dinmico
da mente foi chamado de vontade ou processo volitivo.
A suposio dos pensadores de Wrzburg da existncia de um fator dinmico (ou
de uma fora energizante) que ativava o contedo associativo da mente e a experincia
mental do comportamento seguia a influncia do princpio freudiano do dinamismo
psquico (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 59) e se tornou a base da teoria behaviorista do
motivo ou impulso. A estrutura associativa da mente, composta pelas experincias
passadas, passava a ser apenas o material usado pela fora energizante, ela prpria no
possuindo nenhum poder para causar qualquer evento mental (BOLLES, 1969, p. 69).
2.2.2. Kurt Lewin e a Gestalt
Kurt Lewin forneceu aos Gestaltistas a sua frmula da atividade voluntria. Ele
parte das teses de Narzi Ach e lhes d um alcance ainda mais abrangente: (1)
assumindo o princpio determinista da psicanlise (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 57) de que
todos os processos mentais so na realidade causados por alguma tenso de energia
psquica, ou seja, de que todo comportamento motivado; (2) e aceitando a crtica de Ach
e de Watt ao estruturalismo associacionista de Wundt (BOLLES, 1969, p. 70).
H casos distingue Lewin em que o ato depende inteiramente das foras
controladas por elementos constituintes do campo exterior ao sujeito e outros casos
em que o ato depende das foras controladas pelo sujeito (campo psquico) (JOLIVET,
1947, p. 569). As primeiras so aes controladas e as ltimas, aes intencionais. Aes
controladas so aquelas cuja conexo associativa direta e depende de simples ligaes
predeterminadas entre a ocasio de agir e a prpria ao; mas as aes intencionais
158
seguem princpios do campo psquico. Em uma ao intencional o organismo traz todo
o seu ser psicolgico na produo do seu comportamento (BOLLES, 1969, p. 71). O ato
voluntrio corresponde evidentemente a esse ltimo tipo.
A organizao das foras do campo exterior e do campo psquico distinta da
organizao das foras na atividade reflexa. Esta, que mecnica, se define pela
uniformidade e pela infalibilidade da reao aos estmulos externos. Na atividade
voluntria, existe uma interdependncia entre o campo externo e o campo psquico: o
aspecto do objeto depende do sujeito, mas a necessidade do sujeito depende do aspecto
do objeto. Dito de outra forma, o campo externo e o campo psquico do nascimento a
um campo total que o resultado de uma tenso entre as foras presentes (JOLIVET,
1947, p. 569).
A inteno voluntria de realizar algum ato cria no organismo um estado de
tenso, o qual persiste at que a tenso possa ser dissipada pela realizao do ato
intencionado. A inteno uma fora que cria uma tenso, ou seja, uma presso interna
com direo definida. O estado interno de tenso pressiona o indivduo a realizar o ato
intencionado mesmo sem existir qualquer relao predeterminada entre a ocasio de
agir e a ao propriamente dita (BOLLES, 1969, p. 73-74). desse estado de tenso que
nasce a experincia do querer, que no outra coisa seno o sentimento dessa tenso,
varivel segundo o jogo das diferentes foras que a compem, que a transformam ou que
a resolvem. A vontade se resume assim a um sentimento de conflito (JOLIVET, 1947, p.
569).
Lewin distinguia entre necessidades genunas e quase-necessidades. As
necessidades genunas nascem de condies tais como a fome, para cuja satisfao o
organismo biologicamente funciona. As tenses que nascem das intenes (i.e., atos de
vontade) so quase-necessidades; elas so necessidades puramente psquicas (BOLLES,
1969, p. 74). Para cada necessidade psicolgica existe um sistema em estado de tenso
cuja finalidade satisfaz-la as tenses so causadas, portanto, pelas necessidades e
persistem at que as necessidades sejam satisfeitas (BOLLES, 1969, p. 75).
Segundo Lewin, as aes do ser humano devem ser explicadas com base no que
percebido pelo indivduo como sendo caminhos ou meios adequados de descarga para
as suas tenses, ou seja, para a satisfao das suas necessidades. Essas atividades que o
indivduo percebe como tornando possvel a liberao das tenses o atraem e possuem
para ele valncia positiva. Outras atividades podem ter o efeito oposto; elas so vistas
159
como geradoras de tenses e possuem assim valncia negativa (BOLLES, 1969, p. 72). O
conceito de valncia foi introduzido por Lewin no seu sistema para fornecer s tenses
uma direo. Se o indivduo no tem necessidades, ento o ambiente no possui para ele
qualquer valncia e no gera nenhuma fora, nenhuma tenso. As valncias podem ser
vistas como geradoras de foras direcionadas de atrao ou de repulso. O
comportamento resultante era tido por Kurt Lewin como determinado por uma espcie
de sntese psicolgica de todas essas diferentes foras (BOLLES, 1969, p. 75-76).
2.2.3. A teoria behaviorista do impulso
Uma das contribuies mais importantes da psicanlise foi a demonstrao de
Freud de que a experincia humana de racionalidade e de poder voluntrio eram
essencialmente ilusrias. Enquanto uma doutrina central da psicanlise havia sido a
negao da razo e da vontade humana, ao mesmo tempo essas mesmas faculdades
haviam sido retomadas e postas a servio como instrumentos do ego. O comportamento
era explicado de forma determinista, mas ao mesmo tempo, o ego era livre para seguir
qualquer caminho que ele pudesse ao encontrar as demandas colocadas sobre ele
(BOLLES, 1969, p. 65). O behaviorismo via nessa superatividade do ego concedida pela
psicanlise um dos seus maiores defeitos. O ego na psicanlise era afastado de
explicaes mecnicas e era demasiado livre de determinaes (BOLLES, 1969, p. 62).
A psicanlise, diz-nos Bolles, explica o porqu do comportamento, mas no o
como (BOLLES, 1969, p. 61). A teoria psicanaltica nunca teve por escopo explicar todos
os comportamentos. Freud havia formulado o conceito de impulso inconsciente para
descrever uma pequena classe de fenmenos clnicos. Essas categorias claramente no
se aplicam a todo comportamento; elas provavelmente excluem a maioria das coisas que
as pessoas fazem (BOLLES, 1969, p. 63). A psicanlise adequada apenas para explicar o
bizarro, o patolgico, o inexplicvel (BOLLES, 1969, p. 64).
O behaviorismo desenvolve o conceito de impulso apresentado pela psicanlise.
Antes da psicanlise no havia uma clara distino entre impulsos e instintos. A teoria
psicanaltica jogou luzes sobre a questo ao distinguir os estmulos externos dos
estmulos internos. O behaviorismo reconstruiu o conceito de impulso sob a diretriz
mecanicista e estruturalista e afastou definitivamente o instinto das suas explicaes,
pois, apesar de ambos (instintos e impulsos) fornecerem uma base fisiolgica para o
160
comportamento, apenas os impulsos podiam ser observados diretamente, ao passo que
os instintos estavam atados aos intricados mecanismos da gentica (BOLLES, 1969, p.
107). A reconstruo do conceito de impulso se deu em dois momentos: (a) identificao
do impulso com os estmulos: o impulso era explicado como uma conseqncia de
determinados estmulos; (b) identificao do estmulo com os impulsos: o impulso era
explicado como sendo ele prprio um estmulo.
(a) Estmulos como impulsos:
Freud j havia desenvolvido um ponto de vista similar. A sua teoria da motivao
se baseava no fato de que um organismo no podia escapar dos estmulos internos
nocivos a ele do mesmo modo como podia fugir dos estmulos externos (BOLLES, 1969,
p. 109). As duas principais teorias behavioristas que identificaram o impulso com o
estmulo foram a Teoria Local de Walter Cannon e a Teoria Central de Frank Beach.
Teoria local da motivao: Walter Cannon sups, a partir dos barulhos internos,
que as sensaes de fome (pangs) eram causadas pelas contraes do estmago. Ele
persuadiu Washburn a engolir um balo no fim de um tubo conectado a um oscilgrafo
pneumtico em que tambm eram gravadas as marcas produzidas por Wahsburn toda
vez que tinha a sensao de fome. A correlao de contraes com as sensaes de fome
indicavam que a suposio de Cannon estava correta (BOLLES, 1969, p. 109). No
entanto, algumas evidncias clnicas apontavam numa direo diferente das concluses
de Cannon. Tanto Hoelzel quanto Wangensteen e Carlson tinham pacientes cujo
estmago havia sido removido e cujo esfago se ligava diretamente ao intestino. Os
hbitos alimentares desses pacientes, assim como as sensaes de fome no haviam sido
afetados pela remoo do estmago (BOLLES, 1969, p. 111). O impulso representado
pela sensao da fome, portanto, no estava ligado necessariamente aos estmulos
enviados pelas contraes estomacais.
Teoria central da motivao: Analisando as evidncias ento disponveis sobre o
comportamento sexual masculino, Frank Beach postulou o que ele chamava de
mecanismo central de excitao, o qual, nascido de estmulos e de fatores hormonais (e
at mesmo experienciais), atuava de modo a iniciar e sustentar a variedade de padres
comportamentais que constituam a atividade sexual masculina. Morgan props um
conceito similar: os Estados centrais de motivo (Central Motive States - CMS). Segundo
Morgan, os CMS teriam por caractersticas: (1) a persistncia, i.e., atuao contnua
sobre o organismo; (2) a atividade geral, i.e., aumento do nvel de atividade corporal; (3)
161
a atividade especfica, i.e, evocao de formas especficas de comportamento; (4) a
condio preparatria, i.e., preparao do organismo para um comportamento adequado
s condies ambientais (BOLLES, 1969, p. 113).
(b) Impulsos como estmulos:
O efeito do impulso sobre a atividade geral: Norman Leslie Munn observou que o
comportamento podia s vezes parecer aleatrio por no possuir em certos casos uma
direo especfica. Essa aleatoriedade, segundo Munn, podia ser observada ou como
atividade espontnea ou como atividade geral. Segundo a atividade espontnea, o
comportamento era explicado pela suposio de que nenhum estmulo externo era
responsvel por sua regulao e determinao. Segundo a atividade geral, o
comportamento no era explicado por nenhuma suposio, mas apenas observado e
descrito (BOLLES, 1969, p. 114-115). As observaes de Munn levaram o behaviorismo a
estudar os determinantes internos do comportamento.
Curt Richter descobriu que a atividade geral tendia a ocorrer no continuamente
(como Morgan e Munn pensavam), mas periodicamente. Ele ento relacionou os
perodos de atividade com os perodos de distrbio fisiolgico (tal como as contraes
estomacais) (BOLLES, 1969, p. 115). Richter descobriu que os perodos de maior
atividade correspondiam aos perodos em que o organismo era privado de algo
necessrio para o seu bem-estar (BOLLES, 1969, p. 116). Em 1925, ao observar o
comportamento de animais em um labirinto, Dashiell percebeu que os animais privados
de alimentos exploravam mais o labirinto do que os animais alimentados. A necessidade
de comida havia dado nascimento a um impulso de fome, que estimulava o animal a
explorar o ambiente em busca de comida (BOLLES, 1969, p. 117). Com base nessas
experincias, os behavioristas chegaram a duas concluses:
(1) Certos estmulos ou condies hormonais de um organismo o levam a adotar
um comportamento que alivie as condies motivacionais. Por exemplo: se um animal
precisa de comida, ele sente fome, o que o leva a comer; se precisa de gua, sente sede, o
que o leva a beber (BOLLES, 1969, p. 117).
(2) Na ausncia de um objeto adequado ao seu fim, o organismo adota uma
atividade geral ou difusa. Assim, na ausncia de comida, o animal explora o ambiente,
aumentando a sua atividade corporal (BOLLES, 1969, p. 118).
2.3. O existencialismo na Psicologia
162
Uma das preocupaes fundamentais do existencialismo saber como o Eu pode
se tornar o Eu mesmo, o Eu verdadeiro, o Eu autntico o conceito e experincia da
identidade so, para o existencialista, condies necessrias da natureza humana e de
qualquer cincia ou filosofia do ser humano (MASLOW, 1968, p. 9). O existencialismo
lida no apenas com o que o ser humano , mas tambm e principalmente com aquilo
que ele gostaria e que poderia ser trabalha com o abismo entre as aspiraes e as
limitaes humanas.
O existencialismo remonta s questes formuladas por Sren Kierkegaard sobre a
angstia e o desespero (KIERKEGAARD, 2002, p. 19) e busca de Martin Heidegger da
autenticidade da existncia (GUIGNON, 1993, p. 228). A chamada Psicologia Humanista
toma por base o existencialismo para analisar as necessidades dos seres humanos
enquanto questes que a sua prpria condio existencial lhes coloca
2.3.1. Psicologia Humanista
Erich Fromm estudou as motivaes humanas segundo as necessidades colocadas
pela prpria condio existencial. Para Fromm, a natureza humana era dicotmica de
um lado pertencia ao mundo animal e com ele compartilhava de certas necessidades
fisiolgicas; de outro, era divina e buscava atingir certos fins que transcendiam a esfera
animal.
O homem, enquanto corpo e funes fisiolgicas, pertence ao reino animal. O
funcionamento do animal determinado pelos instintos, os quais, por sua vez, so
determinados por estruturas neurolgicas herdadas. Quanto mais alto estiver o animal
na escala do desenvolvimento, tanto maior ser a flexibilidade do molde de ao e tanto
mais incompleto ser o ajustamento estrutural nele identificado ao nascimento. O
animal vivido pelas leis biolgicas naturais; parte da natureza e jamais a
transcende. No tem conscincia de natureza moral, e nenhuma noo do eu e de sua
existncia; no tem razo, se, por razo, qualificamos a capacidade para penetrar a
superfcie percebida pelos sentidos e compreender a essncia situada mais ao fundo
(FROMM, 1959, p. 35); o animal no tem, portanto, o conceito de verdade, embora possa
ter uma idia do que seja til. Vive em harmonia com a natureza, no sentido de estar o
animal equipado pela natureza para fazer frente s condies que tenha de enfrentar.
163
A certa altura da evoluo animal se d um acontecimento singular: a ao deixa
de ser essencialmente determinada pelo instinto; a adaptao da natureza perde o seu
carter coercivo e a ao deixa de ser fixada por mecanismos hereditrios. Quando o
animal transcende a natureza, quando transcende o papel puramente passivo da
criatura, quando ele se torna, biologicamente falando, o animal mais desamparado, nasce
o homem. Transcendendo a natureza, a vida se torna consciente de si mesma. A
autoconscincia, a razo e a imaginao rompem a harmonia caracterstica da
existncia animal. O seu surgimento transforma o homem em uma anomalia, em um
capricho do universo. Ele parte da natureza, sujeito s suas leis fsicas, mas incapaz de
modific-las, mas transcende o resto da natureza. posto parte, embora seja uma
parte; no tem um lugar prprio, estando, no obstante, acorrentado ao lugar que
compartilha com todas as criaturas. Lanado neste mundo em ponto e poca acidentais,
compelido para fora dele, de novo acidentalmente. Tendo a conscincia de si, aquilata a
sua impotncia e as limitaes de sua existncia (FROMM, 1959, p. 36). Visualiza o seu
prprio fim; a sua morte. Jamais est liberto da dicotomia da existncia: no pode livrar-
se de seu esprito, mesmo que deseje; no pode livrar-se do seu corpo enquanto vivo for
e o seu corpo o faz desejar viver. A razo, bno do homem, tambm a sua maldio;
fora-o a lutar eternamente pela soluo de uma dicotomia insolvel. A vida humana
difere, a esse respeito, da vida de todos os demais organismos; permanece em estado de
desequilbrio constante e interminvel.
A vida do homem no pode ser vivida pela repetio do modelo de sua espcie;
ele tem de viv-la. O homem o nico animal que se pode sentir aborrecido, que se pode
sentir expulso do paraso. O homem o nico animal que considera a sua existncia um
problema que precisa ser resolvido e do qual no pode escapar. No pode voltar ao
estado pr-humano de harmonia com a natureza; tem de prosseguir no aprimoramento
de sua razo at tornar-se o senhor da natureza e de si mesmo (FROMM, 1959, p. 37). A
vida do homem determinada pela inevitvel alternativa entre a regresso e a
progresso, entre a volta existncia animal e o alcance da existncia human. Qualquer
tentativa de regresso penosa, conduzindo inevitavelmente ao sofrimento e doena
mental morte fisiolgica ou morte mental (loucura). Cada passo avante tambm
temeroso e doloroso, at ser atingido um certo ponto em que o temor e a dvida tenham
apenas propores reduzidas. Alm das necessidades fisiologicamente nutridas (fome,
sede, sexo), todas as necessidades humanas essenciais so determinadas por essa
164
polaridade (FROMM, 1959, p. 40). O homem tem de resolver um problema, jamais
podendo descansar na situao de adaptao passiva natureza. Nem mesmo a mais
completa satisfao de todas as suas necessidades instintivas resolve o seu problema
humano; suas paixes e necessidades mais intensas no so aquelas arraigadas em seu
corpo, mas na prpria peculiaridade de sua existncia (FROMM, 1959, p. 41).
O problema da existncia do homem , portanto, nico em toda a natureza: ele
saiu da natureza, por assim dizer, mas ainda est nela; em parte divino e em parte
animal; em parte infinito e em parte finito. A necessidade de encontrar solues sempre
renovadas para as contradies de sua existncia, de encontrar formas cada vez mais
elevadas de unidade com a natureza, com seus prximos e consigo mesmo, a fonte de
todas as foras psquicas motivadoras do homem, de todas as suas paixes, seus afetos e
ansiedades. Na medida em que o homem humano, a satisfao das necessidades
instintivas no suficiente para faz-lo feliz; no sequer suficiente para faz-lo
mentalmente sadio. O ponto arquimdico do dinamismo especificamente humano est
nessa singularidade da situao humana; o conhecimento da psique humana tem de
basear-se na anlise das necessidades do homem resultantes das condies de sua
existncia (FROMM, 1959, p. 38).
A est, tambm, a chave da psicanlise humanista. Freud, procurando a fora
motivadora bsica das paixes e desejos humanos, acreditou t-la encontrado na libido.
Mas, por mais poderosos que sejam o desejo sexual e todos os seus derivativos, no so,
de forma alguma, as foras mais poderosas no interior do homem; a sua frustrao no
causa a perturbao mental. As mais poderosas foras motivadoras do comportamento
do homem resultam da condio de sua existncia, a situao humana. Todas as
paixes e empenhos do homem so uma tentativa para encontrar uma resposta para a
sua existncia, ou seja, so uma tentativa de evitar a loucura. Tanto a pessoa
mentalmente sadia como a neurtica so impelidas pela necessidade de encontrar uma
resposta, e a nica diferena est em que uma das solues corresponde mais s
necessidades totais do homem, sendo, portanto, mais conducente ao desabrochar de
suas capacidades e de sua felicidade, do que a outra (FROMM, 1959, p. 41).
Quais so essas necessidades e paixes que se originam da existncia humana?
(1) UNIO x ISOLAMENTO: Sendo, ao mesmo tempo, dotado de razo e de
imaginao, o homem est ciente de sua solido e separao, de sua impotncia e
ignorncia, do carter acidental de seu nascimento e de sua morte. No poderia suportar
165
esse estado de coisas por um segundo sequer, no encontrasse ele novos laos com os
seus semelhantes, substituindo os velhos laos regulados pelos instintos. Ainda que
todas as suas necessidades fisiolgicas fossem satisfeitas, ele continuaria sentindo a sua
solido e individualizao, como uma priso da qual teria de escapar a fim de conservar
o equilbrio mental (FROMM, 1959, p. 43). Essa relao, contudo, no pode lev-lo
perda da sua integridade e da sua liberdade. H apenas uma paixo que satisfaz
necessidade humana de se unir com o mundo, adquirindo ao mesmo tempo sensao de
integridade e individualidade, e esta paixo o amor. Amor unio com algum ou algo
fora da criatura, sob a condio de manter a separao e integridade prprias (FROMM,
1959, p. 44). Quando entre iguais e com referncia a todos os homens, pode ser chamado
de amor fraterno. Quando entre desiguais com referncia a um protetor e um protegido,
amor materno. Quando se refere a outro indivduo, amor ertico. (FROMM, 1959, p. 46).
(2) CRIAO x DESTRUIO: Outro aspecto da situao humana, estreitamente
ligado necessidade de relao, a situao do home como criatura e sua necessidade
de transcender esse mesmo estado de criatura passiva. O ser humano movido pelo
impulso de transcender o papel de criatura, o carter acidental e a passividade de sua
existncia, procurando tornar-se um criador.
O ser humano pode criar. No ato da criao o ser humano transcende a si mesmo
como criatura, eleva-se acima da passividade e do carter acidental de sua existncia at
esfera da iniciativa e liberdade. Na necessidade de transcendncia que tem o homem
esto as razes do amor, bem como da arte, religio e produo material (FROMM, 1959,
p. 49).
O ser humano pode destruir. A destruio outra resposta para a necessidade de
transcendncia (FROMM, 1959, p. 49). No ato de destruir o homem se coloca acima da
vida; transcende a si mesmo como criatura. Assim, a alternativa ltima do homem, no
tocante ao seu impulso de transcender a si mesmo, criar ou destruir, amar ou odiar
(FROMM, 1959, p. 50).
(3) INCESTO x FRATERNIDADE: O nascimento implica a sada do ambiente
natural e o rompimento dos vnculos naturais. Porm, esse mesmo rompimento
temvel: se o homem perde as suas razes, onde ficar e que ser ele? Ficaria sozinho,
sem ambiente, sem razes; no poderia suportar o isolamento e o desamparo dessa
situao (FROMM, 1959, p. 50). S pode prescindir das razes naturais se encontra razes
humanas, e somente depois de encontr-las pode sentir-se novamente vontade no
166
mundo. No de surpreender que se encontre no homem um profundo desejo de no
romper seus laos com a natureza, de lutar contra o seu afastamento da natureza, da
me, do sangue e do solo (FROMM, 1959, p. 51).
O mais elementar dos laos naturais o que une a criana sua me. A criana,
nos primeiros anos de vida, v a sua me como a fonte da vida, como um poder que a
envolve, protege e nutre. A me alimento, amor, calor, solo. Ser amada por ela
significa estar vivo, ter razes, ter ambiente. Todo adulto necessita de ajuda, calor,
proteo, sob muitos aspectos diferentes, mas tambm sob muitos aspectos idnticos s
necessidades das crianas (FROMM, 1959, p. 51). O homem, para nascer, para progredir,
tem que romper o cordo umbilical, tem que vender o profundo desejo de permanecer
unido me. O desejo incestuoso no recebe a sua fora da atrao sexual pela me, mas
do profundo desejo de continuar no ventre materno, ou de voltar a ele, ou aos nutritivos
seios maternos (FROMM, 1959, p. 53).
O incesto no se limita fixao na me. O vnculo com ela apenas a forma mais
elementar de todos os vnculos naturais do sangue, que do ao homem a sensao de
arraigamento e de pertencer a um grupo. A famlia, o cl e, mais tarde, o Estado, a nao
ou a Igreja, assumem a mesma funo, para a criana, originariamente assumida pela
me (FROMM, 1959, p. 53). Somente quando o homem consegue desenvolver a sua
razo e o seu amor alm do amor material, somente quando ele se sente arraigado no
sentimento de fraternidade universal, que encontra uma forma nova de arraigamento,
que transforma o seu mundo em uma ptria verdadeiramente humana (FROMM, 1959,
p. 71).
(4) INDIVIDUALIDADE x CONFORMIDADE GREGRIA: Podemos definir o homem
como o animal que pode dizer eu, que pode ter conscincia de si mesmo como
entidade independente (FROMM, 1959, p. 71). O homem, afastado da natureza, precisa
formar um conceito de si mesmo, necessita dizer e sentir: Eu sou eu. Por no ser
vivido, mas viver, por haver perdido a unidade originria com a natureza, tem que
tomar decises, tem conscincia de si mesmo e de seu vizinho como pessoas diferentes,
e tem que ser capaz de sentir-se a si mesmo como sujeito de suas aes. O grau em que o
homem tem conscincia de si mesmo como um ser separado dependa da medida em que
se haja libertado do cl e da medida em que se tenha desenvolvido nele o processo de
individualizao (FROMM, 1959, p. 72). A necessidade de experimentar um sentimento
de identidade nasce da condio mesma da existncia humana e fonte dos mais
167
intensos impulsos. Esta mesma necessidade est por trs da forte paixo por um status
e pala conformidade, sendo por vezes, mais forte at do que a necessidade de
sobrevivncia fsica (FROMM, 1959, p. 73). Na medida em que no sou diferente, na
medida em que sou como os demais, e em que estes me consideram uma pessoa
normal, posso sentir-me a mim mesmo como eu. Em vez de identidade pr-
individualista do cl, surge uma nova identidade gregria, na qual o sentimento de
identidade descansa no sentimento de vinculao indubitvel com a multido (FROMM,
1959, p. 72).
(5) RACIONALISMO x IRRAXIONALISMO: O fato de o homem ser dotado de razo e
imaginao no s necessidade de ter o sentimento de sua prpria identidade, mas
tambm de se orientar intelectualmente no mundo. Esta necessidade pode ser
comparada ao desenvolvimento da orientao fsica porm, quando adquirida a
capacidade para andar e falar, foi dado apenas o primeiro passo no sentido da
orientao. O homem se encontra rodeado de inmeros fenmenos enigmticos e,
dispondo do uso da razo, tem de procurar entend-los, tem de inclu-los em um
contexto que lhe seja compreensvel e lhe permita manej-los em seus pensamentos
(FROMM, 1959, p. 74). A razo a faculdade que permite ao homem captar o mundo
pelo pensamento, diferentemente da inteligncia, que a habilidade humana para
manipular o mundo com a ajuda do pensamento. A razo o instrumento do homem
para chegar verdade e a inteligncia o instrumento do homem para manipular o
mundo com maior xito; a primeira essencialmente humana e a segunda pertence
parte animal do homem (FROMM, 1959, p. 75).
A necessidade de uma estrutura de orientao existe em dois planos. A primeira
necessidade e a mais fundamental a de ter alguma estrutura de orientao,
independentemente de que seja falsa ou verdadeira; por mais irracional e imoral que
seja uma ao, o homem sente um impulso insupervel de racionaliz-la, isto , de
demonstrar a si mesmo e aos demais que sua ao foi determinada pela razo, pelo
consenso comum, ou, pelo menos, pela moralidade convencional; no tem dificuldade
em agir irracionalmente, mas quase impossvel para ele no dar sua ao a aparncia
de uma motivao razovel. No segundo plano, a necessidade consiste em estar em
contato com a realidade mediante a razo, de captar o mundo objetivamente (FROMM,
1959, p. 76).
168
Os seres humanos tm necessidade de possuir no apenas alguns sistemas de
idias, mas tambm um objeto de devoo que d sentido sua existncia e sua
situao no mundo (FROMM, 1959, p. 77). Da o ter todo sistema satisfatrio de
orientao que conter no apenas elementos intelectuais, mas tambm elementos
sentimentais e sensoriais, que se manifestem na relao com um objeto de devoo
(FROMM, 1959, p. 76).
Assim como Erich Fromm, o psiclogo Carl Rogers tambm buscou compreender
o comportamento humano de acordo com as imposies da sua condio existencial.
Rogers pensava que cada pessoa vive e constri sua personalidade a partir de certos
objetivos; o objetivo mais alto seria o de ser feliz, o de se auto-realizar. Trata-se de uma
idia que Rogers toma de emprstimo de Kierkegaard: o nico modo de se auto-realizar
e de ser feliz aceitar a si mesmo e ser aquilo que se sem mscaras. Rogers estava
convencido de que toda a infelicidade das pessoas provinha do no se aceitarem como
so e no deixarem que sua personalidade se desenvolvesse sem entraves.
Os seres humanos (considerava Rogers) tinham uma tendncia natural para a
realizao. Segundo ele, os seres humanos necessitam e buscam basicamente sua
satisfao pessoal e o estabelecimento de relaes mais estreitas com os outros.
Considerava que a nossa postura frente ao mundo se decidia fundamentalmente na
percepo que temos da realidade e das demais pessoas, por isso lhe interessava buscar
uma boa forma de nos relacionarmos com o mundo. Algumas pessoas se relacionam com
o mundo de forma mais objetiva, considerando tantas fontes quantas so possveis (e.g.:
diversos dados sensoriais, as opinies de outras pessoas, os resultados de estudos
cientficos), enquanto outras tentam evitar o contato com informaes possivelmente
conflitantes (e.g.: opinies dos demais etc) e se comportam dando mais valor a suas
impresses subjetivas.
De acordo com Rogers, ns nos encontramos sempre em um estado de ser e de
se converter em algo sempre estamos a caminho de nos convertermos em algo
diferente daquilo que somos a fim de fazer nossa vida mais plena. Para Rogers, a
tendncia realizao o nico motivo bsico do ser humano. Ele cria que o
organismo humano tende de maneira intrnseca a se conservar e a se esforar para se
tornar melhor e a esse esforo e a essa conservao Rogers deu o nome de realizao.
O ser humano basicamente ativo e se as condies so favorveis, tentamos
desenvolver nossas potencialidades ao mximo; quando no se d esse
169
desenvolvimento, o indivduo entra em crise e se converte em um ser problemtico e
infeliz.
A noo de eu ou auto-conceito to importante na psicologia de Rogers que a
sua teoria pode ser chamada de teoria do eu. A forma como uma pessoa se v o fator
mais importante para predizer a sua conduta futura, porque junto com o auto-conceito
realista existe uma percepo realista sobre a realidade externa e a situao na qual o
indivduo se encontra. O auto-conceito se forma a partir das experincias (internas e
externas) que temos ao longo da nossa vinda.
O eu um conceito fluido e varivel; no temos uma personalidade fixada de
antemo ns a vamos modificando na medida em que nossas experincias internas e
externas se modificam. muito importante para o desenvolvimento do auto-conceito a
aceitao pelos demais a essa aceitao Rogers chamava de necessidade de amor. Ele
cria que a necessidade bsica para o desenvolvimento de forma plena e feliz era o amor.
O fundamental compreender que aprendemos a nos ver pela forma com que os outros
nos vem e tendemos a nos comportar conforme os valores que os outros atribuem a
ns.
2.3.2. A ordem das necessidades segundo Maslow
Em um famoso artigo
89
, Abraham Maslow refuta o behaviorismo enquanto
modelo terico suficiente para explicar a motivao da conduta humana. Uma teoria da
motivao, segundo Maslow, devia considerar no os meios (o aspecto externo da
conduta), mas os fins (o aspecto interno) e, em considerando os fins, observar que nem
todos tm a sua origem em impulsos fisiolgicos. Por existirem vrios meios culturais
para se alcanar o mesmo fim, o centro ativo da motivao, considera Maslow, no devia
ser buscado no consciente (ou apenas nele), mas (tambm e principalmente) no
inconsciente (MASLOW, 1943, p. 370). Abraham Maslow aceita o princpio de Freud e de
Lewin de que toda ao motivada, ou seja, toda ao visa satisfazer um impulso ou
necessidade Maslow, no entanto, lhe d um sentido mais abrangente, pois, segundo ele,
os atos podem possuir (e geralmente possuem) mais de uma motivao. Mas a sua
contribuio mais importante consiste na sua idia de escalonamento ou de
hierarquizao das necessidades, i.e., a satisfao de uma necessidade exige a
89
Uma teoria da motivao humana (A theory of human motivation).
170
satisfao de uma necessidade anterior e exigida para a satisfao de outra que se lhe
segue (MASLOW, 1943, p. 371).
A teoria de Maslow no est, como a psicanlise, centrada em casos patolgicos,
mas nas pessoas ss seu esforo o de desenvolver as potencialidades, a capacidade
de escolha e a criatividade dessas pessoas. idia de Rogers (de que todo o nosso
mundo se baseia na relao existente entre nossa experincia interna e nossa
experincia externa) Maslow junta um conceito fundamental: o de necessidades. Para
Maslow, a personalidade de cada pessoa tem dois aspectos fundamentais: as
necessidades, ou seja, as coisas que ela busca durante a sua vida, e as experincias, ou
seja, aquilo que ocorre enquanto busca essas necessidades.
A teoria da personalidade de Maslow tem dois planos:
(a) Um nvel biolgico, que igual para todas as pessoas nele se encontram as
necessidades: todas as pessoas tm as mesmas necessidades.
(b) Um nvel pessoal, que nico e especfico de cada um nele se encontra o
conjunto das experincias acumuladas nas tentativas de satisfazer as necessidades.
As pessoas, segundo Maslow, tm dois tipos de necessidade:
- Necessidades deficitrias: so as que esto associadas com aquilo sem o qual
uma pessoa no pode viver.
- Necessidades de crescimento ou de auto-realizao: so aquelas que as pessoas
buscam para se auto-realizar e alcanar a felicidade, mas que no so, de nenhum modo,
fisiologicamente necessrias para a vida.
As necessidades esto ordenadas de forma hierrquica as primeiras tm de ser
satisfeitas antes das ltimas. Isso significa que uma pessoa no resta inerte quando
satisfaz uma necessidade, pelo contrrio, ela imediatamente deseja satisfazer a
necessidade seguinte e assim sucessivamente.
(1) As necessidades fisiolgicas so imprescindveis para se poder viver e so
prioritrias; somente se as temos satisfeitas que tratamos de satisfazer as demais
(MASLOW, 1943, p. 372). Se nenhuma necessidade foi satisfeita, o organismo ento
dominado pelas necessidades fisiolgicas e todas as outras necessidades podem-se
tornar simplesmente inexistentes ou podem ser levadas a um valor motivacional
mnimo. Todas as capacidades so colocadas a servio da satisfao fisiolgica e a
organizao dessas capacidades quase inteiramente determinada pelo propsito de
encontrar essa satisfao as capacidades inteis a esse propsito so adormecidas.
171
Para algum extremamente faminto nenhum fim mais desejado do que o que satisfaz a
sua fome e nenhuma capacidade mais usada do que a que lhe oferece os meios para
consegui-lo: ele pensa em comida, ele sonha com a comida, ele quer a comida
pensamento, imaginao, memria e vontade, todas as suas faculdades so
determinadas pelo mesmo objeto, pela mesma necessidade. Liberdade, amor, respeito,
filosofia nada disso capaz de motiv-lo, nada disso capaz de determinar o seu
comportamento enquanto ele inteiramente dominado pela necessidade fisiolgica
(MASLOW, 1943, p. 373).
(2) As necessidades de proteo e segurana fazem referncia proteo diante
dos perigos (fsicos ou psquicos) so necessidades muito importantes durante a
infncia e durante todo o processo de crescimento. Satisfeitas as necessidades
fisiolgicas, elas deixam de existir como determinantes ativos do comportamento e
subsistem apenas em potncia. Se a fome satisfeita, ela perde a sua importncia na
determinao da conduta do indivduo e em seu lugar passam a existir necessidades
mais elevadas (MASLOW, 1943, p. 375) as necessidades de segurana. Esse tipo de
necessidade surge da ameaa que as pessoas julgam encontrar na inconstncia do
comportamento das outras e na imprevisibilidade da natureza buscam satisfaz-la por
meio da ordenao do mundo (prescrevendo as condutas e racionalizando a natureza),
de modo a tornar menos contingente e mais previsvel o futuro (MASLOW, 1943, p. 377).
(3) As necessidades de afeto e aceitao so um grau superior de motivao da
conduta humana. Satisfeitas as necessidades fisiolgicas e de proteo, as necessidades
de afeto passam a ser o principal centro motivacional. Nesse nvel, a pessoa tem por
motivao a busca de amigos, de cnjuges, de filhos desejando manter relaes
afetivas com as outras pessoas em geral e, especificamente, desejando pertencer a um
grupo: a famlia, os colegas de trabalho etc. O amor, a amizade, a sexualidade etc.
tornam-se necessidades predominantes no organismo (MASLOW, 1943, p. 381).
(4) As necessidades de auto-estima so as que fazem referncia busca de um
conceito positivo de si mesmo. A auto-estima compreende relaes mais satisfatrias
com os outros e uma espcide de fundamento bsico para a sobrevivncia psquica. A
valorizao tambm se refere aos juzos de valor que os outros emitem sobre ns
(MASLOW, 1943, p. 381-382).
(5) Uma vez satisfeitas todas essas necessidades deficitrias (ou bsicas), a
pessoa est motivada a comear a desenvolver as necessidades de auto-realizao. Essas
172
necessidades podem ser definidas como a realizao das prprias possibilidades,
capacidades e talento e tambm como o conhecimento e a aceitao da prpria natureza.
As pessoas tm como tendncia bsica a busca por auto-realizao (MASLOW, 1943, p.
382). Maslow prope um novo modelo ideal de pessoa: a pessoa auto-realizada.
3. A unidade do Indivduo e da Sociedade
3.1. Unidade sincrnica
3.1.1. O comportamento em grupo
Talvez o modo mais comum de explicar os motivos de uma conduta seja atribuir a
um fato antecedente o carter de causa. A dificuldade desse gnero de explicaes
reside em que no abrangem toda a amplitude e a flexibilidade da conduta humana. O
behaviorismo considerava que o problema da motivao consistia em descrever a
atividade desenvolvida pelo organismo frente s situaes que o ambiente lhe
proporcionava (SHIBUTANI, 1971, p. 172). Em seus estudos os behavioristas
conseguiram identificar alguns impulsos bsicos (como o sexo e a fome) e medir a sua
intensidade todo comportamento era explicado pelas necessidades biolgicas e pela
resposta impulsiva a elas.
Contudo, qualquer tentativa de explicar toda conduta humana nesses termos est
fadada ao insucesso, pois, como Abraham Maslow mostrou, tais disposies internas
somente adquirem importncia em circunstncias muito limitadas, em casos de privao
extrema. Comumente, o que caracteriza a conduta humana exatamente a capacidade
de prorrogar a satisfao das suas necesidades, especialmente quando a satisfao possa
implicar reaes adversas de outras pessoas os seres humanos so, pois, capazes de
planejar sua conduta. Todo esquema que explique a motivao deve incluir a direo da
conduta, em especial o movimento persistente em direo a um fim (SHIBUTANI, 1971,
p. 173).
A psicanlise, por sua vez, enfatizou a importncia dos motivos inconscientes.
Muitos dos significados que estruturam o mundo de cada pessoa so inconscientes e do
origem a impulsos que o agente no compreende e que podem s vezes resultar em
condutas aparentemente sem sentido. Essa atividade tem sempre por fim a reduo da
tenso provocada pelo acmulo de energias psquicas proveniente do combate entre os
impulsos e os mecanismos de defesa. Os motivos inconscientes, no entanto, no so
173
suficientes para explicar toda conduta humana preciso levar em conta tambm o
propsito consciente existente em toda ao (SHIBUTANI, 1971, p. 173).
A conduta humana pode ser estudada sob diversos aspectos. Pode-se, por
exemplo, considerar a conduta enquanto um proceso bioqumico de contraes
musculares ou enquanto manifestao das estruturas da personalidade. A psicologia
social, porm, v a conduta do ser humano enquanto participante de um grupo: muitas
das atitudes que as pessoas tomam se devem no tanto a um proceso instintivo de
resposta ou sua liberdade de escolha, mas necessidade de se adaptarem aos seus
semelhantes (SHIBUTANI, 1971, p. 29-30).
William James havia percebido que a vontade designava uma fora adicional
capaz de pr fim ao conflito de representaes na mente. Mas ele no havia conseguido
explicar de onde essa fora adicional provinha, pois para isso necessrio transcender o
indivduo e fazer apelo ao processo social de cognio, que no cessa de pesar sobre os
indivduos e de determinar um comportamento diferente daquele que resultaria do
determinismo dos desejos e dos apetites individuais (JOLIVET, 1947, p. 576).
O que caracteriza o enfoque interacionista a afirmao de que a natureza
humana e a ordem social so produtos da comunicao. A conduta no meramente a
resposta aos estmulos do ambiente nem enquanto expresso de necesidades orgnicas
internas nem enquanto manifestao de prescries culturais. A direo adotada pela
conduta de uma pessoa algo que se forma segundo a comunicao recproca de seres
humanos interdependentes que se adaptam uns aos outros. A motivao da conduta
construda socialmente (SHIBUTANI, 1971, 32).
A construo social da vontade se d por dois processos: a cognio e a
motivao. Por meio da cognio, o ser humano busca construir para si mesmo um
mundo com sentido. As respostas que os indivduos do s coisas e s outras pessoas se
baseiam no seu mundo cognitivo. Cada pessoa tem uma imagen individualizada do
mundo, pois essa imagem o produto: (1) da sua estrutura fisiolgica; (2) do seu
propsito consciente; (3) das suas experincias pasadas; e (4) do seu ambiente fsico e
social (KRECH; CRUTCHFIELD; BALLACHEY, 1962, p. 17-18). Como um indivduo
concebe o mundo depedente, antes de tudo, da natureza do ambiente fsico e do
ambiente social em que est inserido.
As aes de um indivduo so guiadas pela sua cognio, i.e., pelo que ele pensa,
acredita e antecipa. A determinao da conduta pela cognio se d por meio de um
174
processo chamado motivao (KRECH; CRUTCHFIELD; BALLACHEY, 1962, p. 68). O
aparato fisiolgico coloca para o ser humano certas necessidades (comida, procriao,
auto-preservao etc.). Para atender a essas necessidades, o aparato psicolgico dota o
indivduo de certos impulsos que criam nele tenses psicolgicas, impulsionando-o
atividade. O alvio da tenso ocorre quando o indivduo alcana o objetivo do impulso
quando, e.g., movido pela sede, bebe gua. Mas o aparato cognitivo, i.e., a sua viso de
mundo que lhe indica quais os objetos suficientes para atender s suas necessidades. A
seletividade social, ao determinar o mundo cognitivo, determina tambm,
indiretamente, a motivao do indivduo (KRECH; CRUTCHFIELD; BALLACHEY, 1962, p.
20).
3.2. Unidade diacrnica
3.2.1. Teilhard de Chardin e o lugar do homem na Natureza
Chardin distinguia trs extremos do Universo: o infinitamente grande; o
infinitamente pequeno; e o infinitamente complexo. Cada extremo do Universo se
caracteriza por certos efeitos especficos, cujas manifestaes, sendo mais evidentes na
sua escala particular, no lhe so, no entanto, exclusivas (CHARDIN, 1956, p. 33). Assim
os Quanta para o Minsculo; assim a Relatividade para o Imenso; assim a Vida para o
altamente Complexo. Para a experincia cientfica, a Vida seria apenas o efeito especfico
da matria complexificada mas no se resumiria ao complexo: a Vida, segundo
Chardin, uma propriedade co-extensiva a toda a Substncia csmica, embora para ns
apenas perceptvel no instante em que a sua complexidade atinge um determinado valor
crtico (CHARDIN, 1956, p. 34). Por conta disso que Chardin considera impossvel
apreciar de forma satisfatria a posio do homem no Mundo sem antes fixar o lugar da
Vida no Universo.
A Vida, de acordo com Teilhard de Chardin, no uma mera anomalia que
floresce esporadicamente na Matria, mas sim a exagerao de uma propriedade
csmica universal no um epifenmeno, mas a essncia mesma do Fenmeno o efeito
material da Complexidade (CHARDIN, 1956, p. 25). O que Chardin entende por
complexidade no se restringe simples agregao, i.e., o conjunto de elementos no
arranjados, nem simples repetio geomtrica, indefinida, de unidades, i.e., a
cristalizao. Por complexidade ele entende a combinao, i.e., a forma particular e
175
superior de agrupamento, cuja caracterstica consiste em reunir em si certo nmero fixo
de elementos com ou sem o auxlio da agregao e da repetio em um sistema
fechado de extenso determinada (e.g.: o tomo, a molcula, a clula etc.). Da combinao
nasce o Corpsculo, a unidade organicamente fechada, base para o desenvolvimento da
Matria (CHARDIN, 1956, pp. 28-29).
Assim como a Vida, a Conscincia no uma exceo bizarra, uma funo
aberrante. Uma vez aceita afirmao de que qualquer fenmeno, em virtude da unidade
fundamental do Mundo, expressa necessariamente uma propriedade comum a todo o
Universo, ento se deve necessariamente aceitar que a Conscincia, aparecendo com
evidncia no fenmeno humano, possui tambm, em razo disso, uma extenso csmica
(CHARDIN, 1955, p. 50). Apenas uma descrio do Mundo que atentasse unicamente
para o lado externo (dehors) da Matria poderia excluir a Conscincia de suas
construes do Universo. As coisas, diz-nos Chardin, de forma co-extensiva ao seu
exterior, possuem tambm um interior (dedans) (CHARDIN, 1955, p. 50/53). A
Conscincia o efeito da Complexidade do lado interno da Matria, assim como o
Corpsculo o efeito da Complexidade do lado externo da Matria.
A evoluo da Matria abrange tanto o seu exterior quanto o seu interior. Em
verdade, a perfeio espiritual (ou centralizao consciente) e a sntese material (ou
complexidade) so as duas faces ou partes ligadas de um mesmo fenmeno.
Considerado, no entanto, no estado pr-vital, o interior da Matria no deve ser
imaginado como um tecido contnuo, mas, tal qual o exterior, como um conjunto de
gros. Praticamente homogneos entre si origem, os gros de Conscincia (tal
como os elementos Corpusculares que lhes sustentam) vo ao poucos se tornando mais
complexos. A complexificao de um est ligada complexificao do outro, de modo
que possvel, de acordo com Chardin, afirmar que a concentrao de uma Conscincia
varia em razo inversa da simplicidade do composto corpuscular a que corresponde
ou ento, que uma Conscincia mais desenvolvida se a ela corresponde um edifcio
corpuscular mais rico e melhor organizado (CHARDIN, 1955, p. 57). Mas como
determinar a complexidade de um Corpsculo e mais que isso, como determinar a sua
interiorizao psquica?
As partculas subatmicas (prtons, nutrons etc.) so mais simples do que os
tomos (prtons, nutrons etc. so os elementos que formam o sistema fechado
atmico). O Hidrognio mais simples do que o Carbono e este mais complexo do que
176
o Hlio (e aqui a Complexidade decorre do nmero de partculas subatmicas). Os
tomos so mais simples do que as molculas (porque as molculas so sistemas
fechados formados por tomos). Os cristais so mais simples do que os polmeros (e
aqui a Complexidade determinada pela forma como se encontram arranjados os
tomos). Mas passadas as molculas, a cifra de Complexidade nos escapa pela
enormidade dos valores encontrados. Como estimar as complexidades comparadas de
uma Planta e de um Animal ou de um Inseto e de um Vertebrado?
A resposta de Chardin a cerebralizao e seu argumento o de que: se aquilo
que a cada instante determina o desenvolvimento do Universo , por definio, o grau de
vitalizao alcanado pela Matria no ponto considerado e, por sua vez, aquilo que
determina a vitalizao de um Corpsculo o seu grau de interiorizao, ento, se existe,
nos seres vivos, alguma parte ou algum rgo seu mais diretamente ligado ao
desenvolvimento psquico do ser, apenas a complexidade desta parte que poder e
que dever ser empregada para apreciar o grau de Corpusculizao alcanado pelo ser
vivo examinado (CHARDIN, 1956, p. 68). Este rgo o crebro e a cefalizao ou
cerebralizao, portanto, se torna o fio condutor na investigao de Chardin acerca da
Complexidade dos seres vivos.
Adotando o critrio de cerebralizao, Chardin levado a considerar, dentre os
Metazorios, os Animais como sendo os mais complexos. Dentre os diversos Filos
animais, os Vertebrados e mais especificamente, a Classe dos Mamferos. Ainda
seguindo o parmetro da cerebralizao, chegamos Ordem dos Primatas e Famlia
dos Homindeos. Com o aparecimento do Homem, a onda de Complexidade-Conscincia
chegou a um domnio absolutamente novo para o Universo: o da Reflexo. O advento do
Ser Humano marca o ponto de Reflexo, a partir do qual tem incio uma exploso de
Conscincia e a formao da Noosfera.
A socializao ou associao simbitica, sob ligaes psquicas, de corpsculos
histologicamente livres e fortemente individualizados expe uma propriedade
primria e universal da Matria vitalizada. Cada linhagem animal, ao alcanar uma
maturidade especfica, desenvolve, sua maneira, uma tendncia ao agrupamento, na
forma de complexos supra-individuais (CHARDIN, 1956, p. 116). Assim tambm
aconteceu com a linhagem humana, exceto que, para o Ser Humano, entra em jogo um
novo elemento a cultura. A influncia do psiquismo faz surgir, ao lado da herana
gentica, uma herana cultural, extra-individual. A conservao e a acumulao do
177
Adquirido passa a ter de sbito uma importncia enorme para o desenvolvimento da
espcie humana. Graas ao artifcio da socializao num meio Reflexivo, um novo tipo de
organizao psicognica, de natureza educativa e coletiva, aparece na Natureza a
Noosfera.
Mas a Noosfera somente poderia encontrar um sentido pleno e definitivo sob
uma condio: a de, espalhando-se por todo o Mundo, formar um imenso Corpsculo
produto supremo do esforo biosfrico de cerebralizao. Na formao da Noosfera,
Chardin distingue duas etapas pelas quais as sociedades humanas devem passar:
(1) A etapa de Expanso, durante a qual tem incio o povoamento de todo o
Planeta. Ao final do Neoltico, completa-se o povoamento e neste momento se pode dizer
que as primeiras linhas da Noosfera j estavam definitivamente traadas, ainda que de
forma incipiente e precria (CHARDIN, 1956, p. 117). Consolidar e estruturar esta frgil
membrana foram a grande obra da Civilizao. A Civilizao, para Chardin, no outra
coisa seno a especializao zoolgica de um grupo animal (o Homem) em que certa
influncia (a do psiquismo), at ento imperceptvel, assume repentinamente um papel
preponderante no desenvolvimento da espcie (CHARDIN, 1956, p. 125 ss.).
No instante em que a Civilizao comeou a se desenvolver, uma crescente
agitao no cessou mais de se manifestar cada elemento individual se sentiu tomado
por um poder e por uma necessidade mais vivos de atividade autnoma. Na medida em
que, em razo dos progressos da Corpusculizao, os elementos da cadeia filtica
cresciam em interioridade e em liberdade, aumentava tambm a tentao entre eles de
se constiturem cada um no fim ou na cabea da Espcie e de decidir que o instante era
chegado em que eles deveriam viver cada um por si. O final do sc. XIX corresponde
plena Expanso da Noosfera e ao estabelecimento da primeira Civilizao mundial.
Corresponde tambm ao mximo de individualismo: a Idade dos direitos do Homem
perante a Coletividade; da Democracia concebida como um sistema em que tudo existe
em funo do indivduo e em que o indivduo tudo; do Super-Homem, que emerge
solitrio da massa annima (CHARDIN, 1956, p. 136). E precisamente neste momento
que a segunda etapa na formao da Noosfera tem incio: a etapa de Compresso.
(2) Na etapa de Compresso, longe de ser domesticada para o uso privado dos
indivduos, a Socializao continuou sua marcha em frente, seguindo um processo
inevitvel de unificao cujo mecanismo se desdobrava em trs instantes bem distintos:
178
(a) Compresso tnica: Foi o motor inicial do fenmeno de Totalizao da
Noosfera. Caracteriza-se pelo aumento de presso (atrito, contato) entre as Civilizaes
pela saturao do povoamento humano (CHARDIN, 1956, p. 140).
(b) Organizao tcnica e econmica: A compresso tnica gera uma tenso que
obriga a Humanidade a descobrir meios, sempre renovados, de organizar seus
elementos para economizar energia e espao (CHARDIN, 1956, 142). Esta tenso, longe
de ser uma tenso mecnica ou um reagrupamento quase-geomtrico imposto massa
humana, se traduz num aumento de interioridade e de liberdade e num conjunto de
partculas reflexivas mais harmnicas.
(c) Aumento concomitante de Conscincia, de Cincia e de raio de ao: O
crescimento de interioridade mental, na medida em que aumenta simultnea e
inevitavelmente o raio de ao e o poder de penetrao de cada elemento humano frente
aos outros, tem o efeito direto de sobre-comprimir em si a Noosfera. Essa sobre-
compresso comea automaticamente uma sobre-organizao, que inicia, por sua vez,
uma sobre-conscientizao, seguida, a seu turno, de uma sobre-sobre-compresso e
assim por diante (CHARDIN, 1956, pp. 142-143). o que caracteriza propriamente o
fenmeno de Totalizao.
3.2.2. O Inconsciente Coletivo
Nas suas anlises dos sonhos, Jung realizou descobrimentos de grande
importncia acerca da estrutura do inconsciente. Nessa imensa zona de individualidade
parecia haver contedos psquicos que no correspondiam a experincias ou aquisies
feitas durante a vida do sujeito, e que, em troca, se verificaram com singular freqncia,
nas produes do pensamento primitivo. Tais conceitos de natureza simblica tm
principalmente um carter sexual, porm havia os referentes a outros aspectos da vida
psquica. Esse aspecto bsico da mente humana era chamado por Jung de Inconsciente
coletivo. Jung o concebeu integrado pelas imagens arcaicas, que mais tarde chamou
de arqutipos (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 152-153).
De acordo com esta idia, ns possumos, na parte mais profunda do nosso Ser,
no s um dispositivo de reao neuromuscular herdada (instintos e reflexos inatos),
mas tambm representaes simblicas que fornecem os tipos das crenas primitivas,
especialmente quando se referem ao Poder o Fora, que em cada povo e religio
179
so concebidos, atualmente, de maneira diferente. Tais representaes aparecem
especialmente nos sonhos e tambm nos denominados estados crepusculares ou
onricos de certos enfermos mentais; seu contedo resulta extraordinariamente
instrutivo para a interpretao das tendncias conflitos e atitudes primrias de que as
revela ou, melhor, as desvela (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 153).
A delimitao do conceito de arqutipo constitui um dos pontos mais obscuros da
doutrina de Jung (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 157). Afirma Jung que seus arqutipos
constituem uma parfrase do eidos (Idia) platnico e so leis eternas incriadas,
determinados formalmente, porm no em contedo material. Constitui uma presena
eterna que pode ou no ser percebida pelo conhecimento e apresentar-se diante dele
sob diversas formas concretas. Levy Bruhl designa algo parecido com suas
representaes coletivas que fazem referncia a sucessos e vivncias tpicas,
primitivas que, mais tarde, sero base de fbulas e mitos tradicionais. A soma dos
arqutipos constitui a soma de todas as possibilidades latentes da Psique humana (MIRA
Y LOPEZ, 1968, p. 157).
Jung busca e investiga os arqutipos nas doutrinas das tribos primitivas, nas
doutrinas secretas esotricas, nas religies, nos mitos e nas lendas, nos smbolos do
Tar, nas imagens da Alquimia e, especialmente, nos sonhos. O arqutipo, para Jung,
representa a unidade entre o Indivduo e a evoluo da sua Espcie o encontro entre
o ontogentico e o filogentico. A Psicologia Evolucionria chegou a concluses
semelhantes s de Jung, mas por um caminho diverso o caminho da Biologia
Evolucionria e da Psicologia Cognitiva.
3.2.3. Psicologia Evolucionria
Por volta dos anos 60 do sculo XX, os psiclogos comearam a rejeitar o
behaviorismo, por duas razes: (1) por uma simples constatao lgica, os filsofos
perceberam que eles simplesmente no podiam deixar de falar sobre crenas e desejos
em suas explicaes do comportamento humano; (2) o desenvolvimento dos
computadores e a pesquisa com inteligncia artificial providenciaram um modo de
testar e refutar as teoria behavioristas de aprendizagem. O primeiro caminho levou
Psicologia Humanista e aplicao do existencialismo ao estudo da mente; o segundo
levou psicologia cognitiva e aplicao da teoria da computao ao estudo da mente. A
180
psicologia cognitiva parte de duas premissas: (1) as aes so causadas por processos
mentais; (2) a mente um computador (EVANS; ZARATE, 2003, p. 4)
A primeira idia bsica da psicologia cognitiva afirmar a validade cientfica do
conceito de mente. Nesse sentido, a psicologia cognitiva se aproxima da psicologia do
senso comum, explicando as aes por referncia a processos mentais. Contudo,
diferentemente da psicologia do senso comum, a psicologia cognitiva tem uma idia
precisa do que sejam processos mentais para ela, tais processos so computaes
(EVANS; ZARATE, 2003, p. 7). A segunda idia bsica da psicologia cognitiva que a
mente um programa de computador. Baseados nos trabalhos pioneiros do
matemtico britnico Alan Turing, os psiclogos cognitivos definiram a computao
como um conjunto de operaes para o processamento de dados. Ou seja, um computador
no uma mquina fsica, mas em vez disso uma especificao abstrata de uma possvel
mquina nesse sentido, um computador pode ser construdo de diferentes modos
(EVANS; ZARATE, 2003, p. 8). As mquinas so fisicamente diferentes, mas quando nelas
instalamos o mesmo programa, elas se comportam do mesmo modo. A chave para
entender o comportamento no o material de que a mquina feita, mas o seu
programa. Para a psicologia cognitiva a mente um software, um complicado tipo de
programa. Os psiclogos cognitivos descrevem esse programa na linguagem de
informao-processamento, sem necessidade de descrever os detalhes do crebro o
crebro apenas a mquina fsica no qual o programa que se chama mente funciona. O
crebro o hardware a mente o software (EVANS; ZARATE, 2003, p. 9).
Comparar a mente ao computador no uma metfora, pois a linguagem precisa
de informao-processamento permite que hipteses verificveis sobre a mente sejam
claramente formuladas. Isso porque a mente e o computador possuem a mesma funo
ambos processam informao. Assim, a comparao entre a mente e o computador pode
ser entendida literalmente a mente no apenas se parece com um computador; a
mente um computador (EVANS; ZARATE, 2003, p. 11).
As observaes de Noam Chomsky sobre a aprendizagem de uma lngua abriram
uma nova perspectiva na psicologia cognitiva. Chomsky mostrou que uma a criana
somente podia aprender uma lngua ouvindo o uso que os adultos dela faziam. Mas o uso
que os adultos fazem da lngua contm vrios erros e nenhuma indicao do que
correto e do que no o . A essa falta de dados chama-se pobreza de estmulo.
Aprender uma lngua baseado apenas nessas informaes seria como tentar
181
compreender as regras do xadrez apenas pela observao de alguns poucos jogos de
xadrez nos quais alguns dos movimentos fossem ilegais, mas sem saber qual deles era
ilegal. Isso, pensou Chomsky, seria impossvel exceto se a criana j soubesse que
informaes procurar (EVANS; ZARATE, p. 33). Assim, o nico programa capaz de
aprender uma lngua humana seria aquele que j estivesse pr-programado com
informaes especficas referentes a como aprender uma lngua. Chomsky concluiu que
deveria haver um equipamento de aquisio de linguagem (language acquisition device
LAD) na mente que lhe permitisse conhecer todos os tipos de regras que as lnguas
humanas podem ter. As crianas ento selecionam, a partir do seu conhecimento inato
de uma gramtica universal, as regras que elas ouvem serem usadas ao seu redor
(EVANS; ZARATE, p. 34). As descobertas de Chomsky foram seguidas por descobertas
similares em outras reas da psicologia. David Marr, por exemplo, mostrou que tambm
a viso requeria um software especfico, com regras especficas para detectar limites,
movimentos, cores e profundidades (EVANS; ZARATE, p. 35).
Com base nas descobertas de Chomsky e de Marr, Jerry Fodor props conceber a
mente no como um programa genrico, mas, em vez disso, como uma coleo de vrios
programas especficos, cada um com as suas prprias regras. Fodor chamou esses
programas especiais de mdulos (EVANS; ZARATE, p. 36). A teoria modular de Jerry
Fodor retomava em certos aspectos a psicologia da faculdade iniciada por Thomas
Reid no sc. XVIII. A psicologia da faculdade, em oposio ao asociacionismo e
radicalizando certas premissas do racionalismo, dividia a mente em vrios
compartimentos, em vrias faculdades. A psicanlise, a Gestalt e o behaviorismo,
partindo do princpio da unidade dos fenmenos psquicos, haviam posto em descrdito
a teoria de Reid. A teoria modular de Fodor resgata a concepo de Reid,
fundamentando-a com as descobertas da psicologia cognitiva.
John Tooby e Leda Cosmides, pioneiros da psicologia evolucionria,
desenvolveram a tese de Jerry Fodor e afirmaram que a mente humana poderia ter
centenas (ou at milhares) de programas especficos (ou mdulos). Ao contrrio de
Fodor, para quem os mdulos apenas alimentavam um programa central geral, chamado
de processo central (o que, de certo modo, era um retorno tese inicial da psicologia
cognitiva de que a mente um programa genrico), Tooby e Cosmides apenas admitiram
a existncia de processos especficos (EVANS; ZARATE, p. 39-40). A psicologia cognitiva
levanta a questo: como as diferentes partes da mente se desenvolveram? A biologa
182
evolucionria responde: por meio da seleo natural. A psicologia evolucionria surge
ento como a investigao que busca responder o modo pelo qual a seleo natural
desenvolveu os diversos programas da mente (EVANS; ZARATE, p. 41). A psicologia
evolucionria a combinao da psicologia cognitiva a da biologia evolucionria: a
psicologia cognitiva nos mostra a estrutura sincrnica da mente; e a biologia
evolucionria nos mostra a formao diacrnica dessa estrutura. A mente no um
computador ela se tornou por meio da seleo natural um computador (TOOBY;
COSMIDES, 1992, p. 50).
De acordo com a psicologia evolucionria, os diversos mdulos so adptaes
projetadas pela seleo natural. Cada adaptao projetada para resolver um problema
adaptativo. Um problema adaptativo algo de que um organismo precisa resolver a fim
de sobreviver e reproducir (EVANS; ZARATE, p. 42). Diferentes ambientes produzem
diferentes problemas adptativos e por isso requerem diferentes adaptaes (TOOBY;
COSMIDES, 1992, p. 61-62). Para compreender uma adaptao necessrio, portanto,
conhecer algo sobre o ambiente em que ela se desenvolveu.
Qual foi o ambiente em que os vrios mdulos da mente humana se
desenvolveram? No existe um ambiente especfico em que todos os mdulos tenham
surgido, pois eles no se desenvolveram todos ao mesmo tempo. Frente a cada nova
necessidade de adaptao, um novo mdulo se desenvolve; contudo, assim como todas
as adaptaes, uma vez que aparecem, os mdulos continuam na espcie mesmo quando
as condies ambientais mudam; eles no param mais de se transformar junto com o
ambiente (EVANS; ZARATE, p. 44). Alguns mdulos se desenvolveram num tempo
relativamente recente, aps a origem do ser humano so os mdulos especificamente
humanos (EVANS; ZARATE, p. 43) outros mdulos se desenvolveram em tempos bem
mais afastados so os mdulos que os seres humanos compartilham com os outros
animais. Para descobrir os mdulos especificamente humanos, a psicologia
evolucionria se volta para o ambiente em que os ancestrais humanos viviam no
instante em que a linhagem humana se separou dos chimpanzs (EVANS; ZARATE, p.
45).
A separao da linhagem humana se deu h 6 milhes de anos dessa poca at
100.000 anos os seres humanos viveram nas savanas do leste africano. Por volta de
100.000 anos que os seres humanos comearam a emigrar da frica e a se espalhar
por todo o planeta. No entanto, 100.000 anos um tempo muito curto para evoluo
183
produzir qualquer mudana relevante isso significa que toda a histria da civilizao e
da cultura humanas, desde o seu nascimento at os dias atuais, so irrelevantes para
entender a estrutura da mente humana (EVANS; ZARATE, p. 45-46). Todos os mdulos
especficamente humanos se desenvolveram entre 6 milhes e 100.000 anos atrs qual
o ambiente que esses seres humanos tiveram de enfrentar durante esse perodo? Para
compreender a evoluo da mente, preciso considerar, de um lado, o ambiente fsico e,
de outro (e at mais importante), o ambiente social. O ambiente fsico era quente e
ensolarado, com plancies cobertas de grama com algumas poucas rvores ricas em
frutas e nozes. O ambiente social, como o de muitos primatas, era formado por pequenos
grupos com uma complexa estrutura (EVANS; ZARATE, p. 47).
Quais foram os problemas adaptativos enfrentados por esses primeiros
humanos? Vrias consideraes da biologia, da primatologia, da arqueologia e da
antropologia sugerem que os mais importantes problemas adaptativos devem ter sido:
evitar predadores; comer o alimento correto; formar alianas e amizades; ajudar os
filhos e outros parentes; compreender as intenes das outras pessoas. Todas essas
coisas so cruciais para o relacionamento social e para a sobrevivncia. Assim, de se
esperar que a seleo natural tenha projetado os mdulos mentais a fim de permitir que
os nossos ancestrais alcanassem esses objetivos em seu ambiente ancestral e todos
esses mdulos ficaram gravados nos genes para serem passados pelas geraes (EVANS;
ZARATE, p. 49).
184
Concluso: O que a Vontade Jurdica?
Parte nica O suporte ftico da Vontade Jurdica
1. O contedo da Vontade Jurdica
Considerando que o suporte ftico recorta da realidade a fazenda com que tece os
fatos jurdicos, certo que o corte no precisa obedecer s linhas naturalmente traadas.
A regra no encontra o seu suporte ftico ela o constri. Pode parecer estranho, mas a
reflexo nos mostra que nenhuma abstrao necessria toda conceptualizao atende
a necessidades. Que isto seja assim no nos admiremos: o nosso aparato cognitivo no
foi feito para explicar o mundo, mas para modific-lo.
Se os recortes no so necessrios, devemo-nos perguntar (1) quem foi o alfaiate
que traou os seus limites, isto , qual o seu fundamento terico e (2) para que roupas
foram destinados, isto , que finalidade buscam cumprir e a que necessidade visam
satisfazer.
Quem foram os alfaiates do nosso direito? E que roupas jurdicas costuraram?
1.1. A ascenso do racionalismo
O que o estudo da histria dos antigos nos mostra que a vontade, tal como
hoje a concebemos e juridicamente tutelamos, no existia. Os egpcios, os sumrios, os
acdios, os assrios, os elamitas, os minicos, os hititas, os caldeus, os fencios, os persas
at mesmo os gregos e os romanos nenhum deles desconfiou da existncia da
vontade, o que no significa que eles desconhecessem a categoria dos contratos.
Parece difcil hoje pensar em contrato sem ao mesmo tempo conceber uma
vontade livre e criadora de direitos e obrigaes o contrato ( o que pensamos) a
prpria vontade em trajes jurdicos, inovando o direito, movimentando o comrcio. Um
contrato sem vontade eis a heresia! um contrato sem vontade o corpo sem as
vsceras, a cabea sem o crebro.
Mas soprando a poeira milenar de idias mortas, a arqueologia do saber nos diz e
nos desafia a conceber exatamente isso: um contrato sem vontade e isso nos remete a
problemas ainda mais fundamentais: O que , afinal de contas, um contrato? O que uma
relao jurdica? O que a vontade e por que no podemos hoje viver sem ela?
185
A vontade (como ns vimos) enquanto poder de agir (i.e., liberdade de ao)
comeou a ser desenvolvida por Plato e por Aristteles e alcanou a plena maturidade
com a autarkheia estica. a essa vontade a que os romanos se referem quando falam
de contratos consensuais mas no a ela que ns, os modernos, nos referimos. Isso
porque a nossa vontade no apenas liberdade de ao tambm e principalmente
liberdade de escolha, i.e., livre-arbtrio. E a nossa concepo de livre-arbtrio deriva do
longo debate cristo travado durante o Medievo.
So os canonistas os primeiros a afirmar que os pacta sunt servanda e que a
mendacium um pecado. E so os escolsticos que desenvolvem duas das mais
importantes teses do racionalismo jurdico: de um lado, representado por Santo
Anselmo e So Toms de Aquino, o racionalismo da vontade e, do outro, representado
por Duns Scoto e William Ockham, o voluntarismo ou a liberdade de indiferena. Com o
racionalismo tomista a vontade passa a ser capaz de escolher, por meio da razo, a
melhor ao e com o voluntarismo a vontade passa a ser independente de toda e
qualquer influncia externa ou interna.
Contudo, a nossa vontade ainda no apenas isso.
A vontade moderna, alm de liberdade de agir, alm de liberdade de escolha,
tambm autonomia, ou seja, a fonte do seu prprio movimento, causa sui causa
encausada o motor primeiro que tudo move ser por nada ser movido. A autonomia
da vontade presente do Idealismo Alemo em especial de Kant e de Fichte.
A ironia do destino quis que um dos maiores expoentes do Idealismo Alemo
desferisse o primeiro golpe no corao do racionalismo foi Schelling quem sugeriu
ento a existncia de foras inconscientes que agiam diretamente na determinao da
vontade. Pela senda aberta por ele passaram Hegel, Schopenhauer e Freud.
1.1.1. A entrada da vontade no mundo do direito
A histria da vontade jurdica comea exatamente com a entrada no mundo do direito
da vontade com a atribuio de sentido jurdico ao processo volitivo. Essa histria longa,
muito longa. Os povos antigos da Sumria e da Acdia viveram por milnios sem nunca terem
precisado desse conceito, dessa categoria jurdica. A mentalidade moderna talvez estranhe
esse fenmeno mas esse estranhamento certamente nos mostra o quanto arraigadas se
encontram em ns as velhas teorias platnicas e aristotlicas.
186
A civilizao mesopotmica j era, ao tempo dos sumrios, profundamente urbanizada
seu sustento vinha do comrcio. Por esse motivo que os fragmentos nos mostram, desde os
tempos mais remotos que a histria escrita nos pode levar, a existncia no apenas de trocas e
de relaes comerciais, mas tambm de documentos que as registravam (DELAPORTE, 1923,
p. 131). O termo rikistu, que hoje se traduz comumente por ligao ou obrigao, se
aplicava a todo e qualquer contrato. Para o direito babilnio, o rikistu estava completo com a
simples expresso da vontade das partes, i.e., com a forma. A exigncia da expresso da
vontade no tinha o significado que hoje ns lhe atribumos. Expressar a vontade, hoje,
tornar pblico uma deciso ntima, uma escolha interna, livre e espontnea para um
babilnio, porm, expressar a vontade era apenas dizer o que se ia fazer, i.e., tornar pblico
no um princpio intrnseco, mas a apenas conduta externa. Por esse motivo que os vcios de
consentimento no eram sequer cogitados entre eles (MONIER; CARDASCIA; IMBERT,
1955, p. 64-65). A clusula ina hud libbisu (literalmente: na alegria do meu corao) talvez
sugerisse a exigncia de uma vontade livre e espontnea essa clusula, porm, surge apenas
nos contratos neo-babilnios, i.e., no sc. VII a.C., uma poca em que j se comeava a
cogitar-se sobre os princpios intrnsecos do comportamento.
Ao tempo dos chamados Altos Comissrios (sc. XX e XVI a.C.), o direito elamita
recebeu bastante influncia da civilizao mesopotmica. Em algumas centenas de
documentos jurdicos desse perodo se encontram, com poucas variaes, as mesmas frmulas
dos documentos acdios (HUART; DELAPORTE, 1957, p. 98). Em alguns desses
documentos se encontra impressa a unha do contratante (HUART; DELAPORTE, 1957, p.
100) o real sentido desse ato permanece obscuro; provvel que tivesse um carter
mgico de ligao e de obrigao. Tambm os hititas foram influenciados pelos acdios a
prpria palavra hitita para obrigao (ishiul) derivava do termo acdio rikistu. Ishiul era o
lao, as obrigaes impostas. Mamitu (juramento) era o ato pelo qual o contratante
aceitava as obrigaes (DELAPORTE, 1957, p. 148).
No Egito, at o tempo da XVIII dinastia, no Novo Imprio, a obrigao contratual se
formava por um juramento ou pela aceitao de uma contraprestao. O juramento tinha uma
dupla funo: determinava a conduta a ser realizada; e atava o promitente sua realizao.
No havia meno vontade-princpio-interno, somente conduta (MONIER; CARDASCIA;
IMBERT, 1955, p. 80). Apesar da fertilidade de suas terras, o comrcio externo do Egito era
bastante limitado. Os egpcios s vieram a conhecer a moeda com a dominao macednia no
sc. IV a.C. (AYMARD; AUBOYER, 1953, p. 44).
187
Nenhuma dessas civilizaes jamais cogitou daquilo que hoje entendemos por
vontade. Mas ento nos perguntamos: quando e por que a vontade se tornou to importante
para os contratos? O que a histria nos mostra que a elevao da vontade a categoria jurdica
um fenmeno intimamente ligado valorizao do indivduo. A Mesopotmia, o Elam, o
Hatti e o Egito eram civilizaes voltadas principalmente ou para a agricultura ou para a
guerra em ambas essas atividades, o valor recaa no sobre o indivduo, mas sobre o grupo.
Na alta antigidade, encontraremos somente uma civilizao que deu ao indivduo um valor
semelhante ao que hoje ns lhe atribumos: foi a civilizao egia.
Os egeus eram um povo disperso em pequenas ilhas. A disperso levou os homens
dessa regio a sentirem uma atrao irresistvel para o mar e a escassez de produtos os
fizeram desenvolver pela primeira vez na histria o comrcio martimo e a colonizao
(GLOTZ, 1956, p. 4). Cada ilha possua uma vida prpria havia tantos estados quantos
centros habitveis. A conseqncia inevitvel foi o fracionamento poltico mas tambm a
sensao de liberdade e de autonomia (GLOTZ, 1956, p. 5). Os egeus deram incio a um novo
modo de conceber o homem e o mundo, que seria a base de todo o pensamento grego. No
apenas algum inserido em um grupo, em uma famlia mas um indivduo, com valor prprio
e capaz de tomar decises autnomas.
Os gregos herdaram a tradio egia e foram os primeiros a darem entrada no mundo
do direito vontade. A distino de Aristteles entre atos voluntrios e atos involuntrios
(ARISTTELES, 2008, p. 56), assim como a enumerao dos casos de vcio da vontade,
denunciava j a grande descoberta grega a vontade. Com os gregos o contrato se torna
consensual, i.e., criado pela vontade das partes no por uma forma ou por um ritual
(BEAUCHET, 1897, p. 14).
1.1.2. A racionalizao da vontade jurdica
Os gregos haviam dado entrada no mundo do direito vontade mas no
conseguiram imprimir nela as suas teorias filosficas, que apontavam para o
racionalismo. A racionalizao da vontade foi obra dos esticos e dos peripatticos
romanos.
A teoria romana da vontade jurdica se alimentava de Aristteles e de Zeno de
Citio os proculeianos deram entrada doutrina aristotlica e os sabinianos doutrina
estica. O resultado foi uma das mais completas sistematizaes do racionalismo
188
jurdico. Pela primeira vez o indivduo era considerado livre para escolher a sua conduta
e para proteger essa liberdade que os romanos desenvolveram todo o seu
mecanismo de vcios da vontade. A coao, o dolo, o medo e o erro, por exemplo, foram
trazidos para o mundo do direito sob a categoria de vcios da determinao da vontade.
Outro passo em direo racionalizao foi dado pelo conceito cristo de livre-
arbtrio. A partir da, o indivduo era livre no apenas para determinar a sua conduta,
mas tambm para determinar o seu prprio querer. Essa dualidade representada pelos
conceitos de ato intencional e ato voluntrio de Pedro Abelardo. O direito cannico
interiorizou o lao que ligava os contraentes a mendacium se torna um pecado
(VASCONCELOS, 2007B, p. 77) e o cumprimento do contrato um dever moral.
O racionalismo alcana o seu pice com Metafsica dos Costumes de Immanuel
Kant. A partir de Kant, o indivduo no apenas livre para determinar a sua conduta ou
para determinar o seu querer a sua prpria vontade se torna o critrio de moralidade.
Somente a ao autnoma, i.e., aquela cujo princpio se encontra na vontade pura,
somente essa ao pode ser boa.
Apesar dos matizes universalistas e pantestas que Fichte posteriormente lhe
deu, o certo que a autonomia da vontade, tal como pensada e projetada pelo Idealismo
Alemo serviu de base terica para justificar o liberalismo do sc. XIX. O jusnaturalismo
racionalista de Pufendorff, Thomasius, Portalis e tantos outros construram a vontade
jurdica do liberalismo. Os juristas do sc. XIX tenderam a deturpar o sentido original da
autonomia da vontade e lhe deram uma conotao poltica vontade autnoma era
aquela em que as partes contraentes decidiam sobre as suas obrigaes a moralidade
desse acordo era garantida pelo afastamento do Estado. Autonomia passava ento a ser
ausncia de regras estatais.
1.2. A quebra do racionalismo
1.2.1. Socializao e coletivizao da vontade jurdica
Marx e Engels apontaram o erro que era supor que a vontade racional,
juridicizada pelo direito liberal, correspondia vontade real. As crticas de Freud ao
voluntarismo e ao racionalismo acabaram por derrubar o magnfico edifcio do
racionalismo jurdico.
189
Primeiramente, a luta operria do sc. XIX forou alteraes na concepo
tradicional da vontade. Por meio do direito do trabalho, entraram no mundo jurdico
elementos motivacionais ignorados at ento pelo racionalismo a vontade deixava de
ser privilgio de um indivduo e passava a ser direito de uma classe. Os acordos e
convenes coletivas do trabalho so exemplos da maior amplitude que a vontade
jurdica passou a ter.
Ao lado das negociaes coletivas, deram tambm entrada no mundo do direito
os chamados interesses coletivos. A entrada desses interesses o reconhecimento da
importncia do processo social de cognio e motivao. Os interesses coletivos so
valores de extenso indeterminada que agem diretamente no comportamento dos mais
diversos indivduos.
1.2.2. Evolucionismo na vontade jurdica?
A psicologia de hoje mais dinmica, mais profunda, mais extensa e, em troca,
menos normativa, menos ambiciosa, menos heurstica. Em todos os sistemas psicolgicos
atuais se observa, em primeiro lugar, a necessidade de estudar o desenvolvimento dos
atos psquicos no tempo, isto , considerando-os no isolados, mas ligados entre si por
antecedentes e conseqentes sem o conhecimento dos quais seria impossvel interpretar
devidamente tais fatos (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 16). Outra caracterstica no menos
essencial da Psicologia de hoje, se traduz pelo desprezo definitivo votado ao ressaibo
intelectualista que havia impregnado o esprito dos primeiros autores da orientao
experimental e behaviorista. A paixo interessa hoje mais do que a razo, a atitude
preocupa mais que a situao. O desejo ou o temor, a intuio, a prospeco, em uma
palavra, todas as manifestaes irracionais da vida psquica, passaram a ocupar o
primeiro plano. J no existe, pois, uma zona neutra da vida psquica que possa ser
submetida ao frio escalpelo da lgica visando sua compreenso e estudo (MIRA Y LOPEZ,
1968, p. 17). Uma terceira nota consiste em se haver aproveitado, at o mximo, de
todos os modernos conhecimentos da Filosofia e da Patologia humana, alcanando uma
concepo muito mais dctil e mais compreensiva da psicognese. J no com efeito o
crebro, mas a totalidade do organismo que aparece como sede da pessoa. O lento
processo de individualizao que marca a passagem da Pessoa Personalidade muito
190
melhor conhecido e os mltiplos fatores que a intervm so mais exatamente avaliados
que ontem (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 17-18).
Da mesma forma que na etapa que acabamos de resumir, domina a orientao
reintegradora da individualidade do ser psico-biolgico em oposio ao anterior
atomismo analtico ou esoterismo especulativo , no perodo que j se pode entrever
para um futuro prximo, vai predominar o esprito biosocial, isto , a considerao do
grupo supra-individual como fator de importncia decisiva na dinmica psicolgica
(MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 18). Cada vez mais a Sociedade absorve o Indivduo da
determinao da conduta. O scio penetra pessoal ou anonimamente na estrutura
individual, que carecia de sentido se no se encontrasse apoiada nele. Assim, a Psicologia
Antropolgica, baseada na ontologia existencial de Heidegger, estuda no o Ser em si,
mas o Ser-no-Mundo. A Psicologia de Meyer considera o homem como unidade
biosocial. A Psicoterapia de Schilder se torna cada vez mais coletiva. A Psicopedagogia
louva as excelncias do ensinamento e do trabalho em comunidade ativa e a
especializao tcnica destri tambm progressivamente o solipsismo profissional e pe
em destaque o trabalho em equipe (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 18-19). A denominada
Psicologia Social vai absorvendo paulatinamente o campo de ao dos diferentes ramos
de Psicologia. Os problemas derivados da ao de Personalidades Sociais supra-
individuais convertem o que, na Psicologia eram Todos, em partes destes novos Todos. E
assim como em Biologia a Parte somente adquire sentido e significao em relao com
o Todo ao qual se acha adstrita, tambm em Psicologia Social no so as parcelas que
explicam e determinam a soma, mas esta que defina e d valor quelas (MIRA Y LOPEZ,
1968, p. 19). A Psicologia Evolucionria ganha cada vez mais espao e explica o homem
no apenas como o produto do seu instante presente mas como o resultado de
milhares de geraes passadas.
Facilmente se adivinha que esta nova concepo, resultante, sem dvida, de
influxos paralelos que sobre a Psicologia atual execem as novas concepes filosficas,
histricas, poltico-sociais e biolgicas, v impor outros objetivos aos psiclogos.
Conseguir, pois, a melhor adequao das clulas individuais ao grande Organismo
Humano que est surgindo da tremenda crise atual, h de ser nada mais, nada menos
a tarefa imensa que esperamos da Psicologia de amanh (MIRA Y LOPEZ, 1968, p. 20).
Frente a essas novas direes da Psicologia e a essas novas concepes da
vontade, deve o jurista permanecer com os seus conceitos racionalistas ou deve, pelo
191
contrrio, dar o salto e ousar construir uma nova dogmtica com base na condio
humana? O direito afinal deve servir como um instrumento para adequar o indivduo ao
meio social mas como usar corretamente esse instrumetno se ns desconhecemos (ou
queremos ignorar) a natureza humana?
2. A forma da Vontade Jurdica
A primeira questo que devemos enfrentar a de saber a que ttulo o direito d
entrada em seu mundo Vontade Jurdica. No devemos reduzir o problema aos fatos
(como a teoria realista) nem s regras (como a teoria nominalista) o direito nasce da
relao entre esses dois elementos e, por isso, irredutvel a qualquer um deles. Nossa
anlise deve-se voltar ao instante de incidncia da regra sobre o fato deve buscar nos
fatos aquilo a que a regra d entrada no mundo jurdico sob o nome de vontade. Deve-
se, em suma, buscar o suporte ftico da vontade jurdica.
Quando o direito fala de vontade no se est referindo diretamente vontade
real mas isso no nos permite concluir que para o direito a vontade real seja
irrelevante. A vontade real no critrio, mas parmetro de entrada no mundo jurdico
de certos fatos a que chamaremos fatos de atuao. Parmetro, ns dissemos, e isto
porque para o direito a relevncia da vontade real est, no necessariamente na sua
existncia psicolgica, mas nos seus aspectos conceituais.
A vontade, psicologicamente, o motor das aes humanas quem, em razo da
liberdade humana e da contingncia do mundo, frente a inmeras possibilidades de
conduta decide o caminho a ser traado. E para o direito, falar de vontade , antes de
tudo, referir-se a este aspecto de movimento, de atualizao; falar de fatos que pem
em ao as Pessoas, que tornam a potncia em ato falar, pois, de fatos de atuao.
Os fatos de atuao, contudo, no se limitam a ser fatos que pem em movimento
o comrcio jurdico (= criam, modificam e extinguem relaes jurdicas) preciso
ainda (em analogia vontade real) que importem na escolha de uma situao entre
diversas outras possveis, e que tenham sua origem condicionada conduta de uma
Pessoa. Quando o art. 111, por exemplo, diz que o silncio importa anuncia est-se
referindo a um fato de atuao (o silncio), cuja realizao condicionada conduta
de uma Pessoa (o permanecer silente) e importar na atualizao de uma potncia (i.e.
192
na criao de uma relao jurdica) da porque o silncio considerado manifestao
de vontade, mesmo quando no existe vontade real.
O fato de atuao a um s tempo um fato despsicologizado (isto , no exige a
ocorrncia de fenmenos psquicos) e desumanizado (isto , no exige em sua origem
nenhum ser humano determinado).
fato despsicologizado:
Nas Pessoas humanas, o fato de atuao por excelncia a vontade real embora
existam casos em que esta vontade real seja insuficiente para entrar no mundo jurdico
(art. 433 do Cdigo Civil) ou que seja irrelevante para a atribuio de vontade. J nas
Pessoas sociais, fundacionais e estatais, o fato de atuao no pode ser a vontade real,
porque tais Pessoas so incapazes de atos psquicos. Em que consiste, ento, a vontade,
quando referida a estas Pessoas?
fato desumanizado:
As Pessoas no-humanas so capazes de direitos e deveres (= so capazes de ser
sujeitos de direito) e participam ativamente do comrcio jurdico, sendo a sua atividade,
em alguns setores do direito, mais importante do que a atividade de Pessoas humanas
(e.g.: no comrcio e nas relaes internacionais, nas relaes de produo e distribuio
de bens, nas operaes financeiras etc.). Atuam no comrcio jurdico movimentando-o
e tm por motor a vontade jurdica (i.e. o fato de atuao). Esta vontade (j o sabemos)
no psquica consiste, no entanto, na reunio de certos fatos suficientemente anlogos
vontade real. Tais fatos so determinados pelo direito expressa ou implicitamente.
Expressamente, nas hipteses legais referentes administrao das pessoas
jurdicas. Como exemplo, o art. 47 do Cdigo Civil: Obrigam a pessoa jurdica os atos dos
administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. O
Cdigo fala que os atos do administrador obrigam a pessoa jurdica, ou seja, criam
relaes jurdicas nas quais a pessoa jurdica figura como sujeito de direitos (em outras
palavras, movimentam o comrcio jurdico). Os atos do administrador constituem fato
de atuao da Pessoa jurdica e estes fatos podem, ou no, consistir em atos psquicos
de vontade do administrador, mas independentemente disto, no entanto, consistem
sempre na vontade jurdica da Pessoa.
Outro exemplo, o incio do art. 48 do Cdigo Civil: Se a pessoa jurdica tiver
administrao coletiva, as decises se tomaro pela maioria de votos dos presentes. Aqui,
o fato de atuao a deciso coletiva e tal fato nunca consistir num ato psquico de
193
vontade (os atos psquicos so individuais, no coletivos), mas sempre consistir na
vontade jurdica da Pessoa.
Implicitamente, por conseqncia da Teoria Organicista das Pessoas no-
humanas. Segundo esta teoria, tais Pessoas seriam constitudas por rgos, necessrios
para faz-las presentes no comrcio jurdico para moviment-las no mundo do direito.
Os atos do rgo so atos da Pessoa e assim, o fato de atuao realizado por um rgo
fato de atuao realizado pela Pessoa: vontade jurdica da pessoa.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
LIVROS
194
- ADAMSON, Peter; TAYLOR, Richard (org.). Arabic philosophy. Cambridge: University
Press, 2005.
- AL-FARABI. Philosophy of Plato and Aristotle. New York: Free Press of Glencoe, 1962.
- AMERIKS, Karl (org.). German idealism. Cambridge: University Press, 2005.
- ARISTTELES. Aristotelis opera cum Averrois commentariis: De Anima. Veneza: apud
Iunctas, 1562, ed. fac.-sim., Frankfurt am Main: Minerva, 1962.
- ______. Metafsica. v. II, So Paulo: Loyola, 2005B.
- ______. tica a Nicmaco. 3. ed. So Paulo: Martin Claret, 2008.
- AYMARD, Andr; AUBOYER, Jeannine. Histoire gnrale des civilisations, t. 1: lOrient et
la Grce Antique, Paris: Presses Universitaires de France, 1953.
- BAILLY, Anatole. Dictionnaire grec franais, Paris: Hachette, 2000.
- BAIN, Alexander. Les emotions et la volont, Paris: Felix Alcan, 1885
- BASTID, Paul. Proclus et le crpuscule de la pens grecque, Paris: Librairie
Philosophique, 1969.
- BEAUCHET, Ludovic. Histoire du droit priv de la rpublique athnienne, Paris:
Chevalier-Marescq, 1897.
- BERKELEY, George. A treatise concerning the priciples of human knowledge, Mineola:
Dover, 2003.
- BOLLES, Robert C. Theory of motivation, New York: Harper & Row, 1969.
- BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Cdigo Civil. So Paulo:
Edies Vrtice, 2005.
- BREHIER, mile. Histoire de la philosophie, t. I: LAntiquit et le moyen ge. Paris: Flix
Alcan, 1928.
- ______. Histoire de la philosophie, t. II: La philosophie moderne, Paris: Flix Alcan, 1932.
- BRENTANO, Franz. Psychologie du point de vue empirique, Paris: Aubier, 1944.
- BROADIE, Alexander (org.). The Scottish enlightenment, Cambridge: University Press,
2003.
- BROWER, Jeffrey; GUILFOY, Kevin (org.). Peter Abelard, Cambridge: University Press,
2004.
- BURNET, John. Laurore de la philosophie grecque, Paris: Payot, 1952.
- CHAPPELL, Vere (org.). Locke, Cambridge: University Press, 1999.
- CHARDIN, Pierre Teilhard de. Le phnomene humain, Paris: ditions du Seuil, 1955.
- ______. La place de lhomme dans la nature, Paris: ditions du Seuil, 1956.
- CONDILLAC, tienne Bonnot de. Trait des sensation, Paris: Barrois an, 1788.
- CORBIN, Henry. Storia della filosofa islamica, Milano: Adelphi, 1991.
- COTTINGHAM, John (org.). Descartes, Cambridge: University Press, 2006.
- CUNEO, Terence; WOUDENBERG, Ren van (org.). Thomas Reid, Cambridge: University
Press, 2004.
- DELAPORTE, Louis. La msopotamie les civilisations babylonienne et assyrienne, Paris:
La Renaissance du Livre, 1923.
195
- ______. Los hititas, Mexico: UTEHA, 1957.
- DESCARTES, Ren. Las pasiones del alma, Buenos Aires, Elevacin, 1944.
- ______. Discours de la mthode, Paris: Librio, 2007A.
- ______. Mditations mtaphysiques, 13. ed., Paris: Livre de Poche, 2007B.
- ESMEIN, Adhmar. tudes sur les contrats dans le trs-ancien droit franais, Paris>
Larose et Forcel, 1883.
- EVANS, Dylan; ZARATE, Oscar. Introducing evolutionary psychology, Cambridge: Icon
Books, 2003.
- FICHTE, Johann Gottlieb. Primera y segunda introduccin a la teora de la Ciencia,
Madrid: Revista de Occidente, 1934.
- FRANK, Daniel; LEAMAN, Oliver (org.). Medieval jewish philosophy, Cambridge:
University Press, 2003.
- FREUD, Anna. Le moi et les mcanismes de dfense, Paris: Presses Universitaires de
France, 1949.
- FREUD, Sigmund. The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund
Freud, v. XIV: On the history of the psycho-analytic movement & Papers on
Metapsychology, London: Hogarth Press, 1999A.
- ______. The Standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, v.
XIX: The Ego and the Id, London: Hogarth Press, 1999B.
- FROMM, Erich. Psicanlise da sociedade contempornea, Rio de Janeiro: Zahar, 1959.
- GARRET, Don (org.). Spinoza, Cambridge: University Press, 1996.
- GEMELLI, Agostino; ZUNINI, Giorgio. Introduccin a la psicologa, Barcelona: Luis
Miracle, 1953.
- GERSON, Lloyd (org.). Plotinus, Cambridge: University Press, 1996.
- GILSON, tienne. tudes de philosophie mdivale, Strasbourg: Universit de
Strasbourg, 1921.
- ______. La philosophie au moyen ge, Paris: Payot, 1925.
- GLOTZ, Gustave. La civilizacin egea, Mexico: UTEHA, 1956.
- GUIGNON, Charles (org.). Heidegger, Cambridge: University Press, 1993.
- GUYER, Paul (org.). Kant, Cambridge: University Press, 1999.
- ______. Kant and Modern Philosophy, Cambridge: University Press, 2006.
- HANNAY, Alastair; MARINO, Gordon (org.). Kierkegaard, Cambridge: University Press,
1998.
- HEIDEGGER, Martin. Early greek thinking, San Francisco: Harper, 1984.
- HOBBES, Thomas. Leviathan, Mineola: Dover, 2006.
- HUART, Clment; DELAPORTE, Louis. El Irn antiguo (Elam y Persia) y la civilizacin
irania, Mexico: UTEHA, 1957.
- HUME, David. A treatise of human nature, Mineola: Dover, 2003.
- ______. An enquiry concerning human understanding, Mineola: Dover, 2004.
196
- IMBERT, Jean; SAUTEL, Grard; BOULET-SAUTEL, Marguerite. Histoire des institutions
et des faits sociaux (des origines au Xe sicle), Paris: Presses Universitaires de France,
1957.
- INWOOD, Brad (org.). The Stoics, Cambridge: University Press, 2003.
- JACQUETTE, Dale (ed). Brentano, Cambridge: University Press, 2004.
- JAMES, William. Psychology, New York: Henry Holt and Co., 1908.
- JANAWAY, Christopher (org.). Schopenhauer, Cambridge: University Press, 1999.
- JOLIVET, Rgis. Trait de philosophie, t. III: Mtaphysique, 3. ed., Paris: Emmanuel Vitte,
1946.
- ______. Trait de philosophie, t. II: Psychologie, 2. ed., Paris: Emmanuel Vitte, 1947.
- ______. Trait de philosophie, t. IV: Morale, 3. ed., Paris: Emmanuel Vitte, 1949.
- JOLLEY, Nicholas. Leibniz, Cambridge: University Press, 1995.
- KAHN, Charles. Anaximander and the origins of greek cosmology, Indianapolis: Hackett,
1994.
- KANT, Immanuel. Fundamentao da metafsica dos costumes e outros escritos, So
Paulo: Martin Claret, 2004A.
- ______. Crtica da Razo Prtica, So Paulo: Martin Claret, 2004B.
- ______. Doutrina do direito, 3. ed., So Paulo: cone, 2005.
- KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, 7. ed., So Paulo: Martins Fontes, 2006.
- KIERKEGAARD, Sren Aabye. O desespero humano, So Paulo: Martin Claret, 2002.
- KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os filsofos pr-socrticos, 4. ed., Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1994.
- KRECH, David; CRUTCHFIELD, Richard; BALLACHEY, Egerton. Individual in society,
New York: McGraw-Hill, 1962.
- KRETZMANN, Norman; STUMP, Eleonore (org.). Aquinas, Cambridge: University Press,
1999.
- ______. Augustine, Cambridge: University Press, 2001.
- LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Essais de thodice, sur la bont de Dieu, la libert de
lhomme et lorigine du mal, Paris: Flammarion, 1999.
- ______. Discours de mtaphysique, Monadologie, Paris: Gallimard, 2004.
- LENGRAND, Henri. picure et lpicurisme, Paris: Librairie Bloud, 1906.
- LVI-STRAUSS, Claude. Introduction, In: MAUSS, Marcel. Sociologie et anthropologie,
Paris: Presses Universitaires de France, 1950.
- LOCKE, John. An essay on human understanding, Hazleton: Pennsylvania State
University, 1999.
- MASLOW, Abraham. Toward a psychology of being, 2. ed., New York: Van Nostrand
Reinhold, 1968.
197
- MAUSS, Marcel. Sociologie et anthropologie, Paris: Presses Universitaires de France,
1950.
- McGRADE, Arthur Stephen (org.). Medieval philosophy, Cambridge: University Press,
2003.
- MIRA Y LOPEZ, Emilio. Os fundamentos da psicanlise, Rio de Janeiro: Cientfica, 1968.
- MONIER, Raymond; CARDASCIA, Guillaume; IMBERT, Jean. Histoire des institutions et
des faits sociaux des origines laube du moyen ge, Paris: Montchrestien, 1955.
- NIETZSCHE, Friedrich. Para alm do bem e do mal, So Paulo: Martin Claret, 2002.
- NORTON, David Fate (org.). Hume, Cambridge: University Press, 2005.
- PAULHAN, Frdric. La volont, Paris: Octave Doin, 1903.
- PLATO. Sophiste, Politique, Philbe, Time, Critias, Paris: Garnier Frres, 1969.
- ______. Repblica, So Paulo: Martin Claret, 2002.
- ______. Fedro, So Paulo: Martin Claret, 2003.
- ______. Fdon, So Paulo: Martin Claret, 2005.
- PLOTINO. Tratado das Enadas, So Paulo: Polar, 2002.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Introduo sociologia geral, Rio de
Janeiro: Pimenta de Melo & Cia., 1926.
- ______. Sistema de cincia positiva do direito, t. 1, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1972.
- ______. Tratado de direito privado, t. 1, 2. ed., Campinas: Bookseller, 2000.
- PUTNAM, Ruth Anna (org.). William James, Cambridge: University Press, 1997.
- RIBOT, Thodule. Les maladies de la volont, 5. ed., Paris: Flix Alcan, 1888.
- RUTHERFORD, Donald (org.). Early modern philosophy, Cambridge: University Press,
2006.
- SANTO AGOSTINHO. Confisses, So Paulo: Martin Claret, 2002.
- SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. La esencia de la libertad humana, Buenos Aires:
Ministerio de Educacion, Universidade de Buenos Aires, 1950.
- SCHOPENHAUER, Arthur. Essai sur le libre arbitre, 2. ed., Paris: Germer Baillire, 1880.
- SEDLEY, David (org.). The Oxford studies in ancient philosophy, v. 30, Oxford: University
Press, 2006.
- SHIBUTANI, Tamotsu. Sociedad y personalidad, Buenos Aires: Paids, 1971.
- SORELL, Tom (org.). Hobbes, Cambridge: University Press, 1996.
- SPADE, Paul Vincent (org.). Ockham, Cambridge: University Press, 1999.
- SPINOZA, Baruch. tica, 2. ed., Belo Horizonte: Autntica, 2008.
- STEGMLLER, Wolfgang. A filosofia contempornea, v. 1, So Paulo: Universidade de
So Paulo, 1977.
- STRENGER, Irineu. Da autonomia da vontade, 2. ed., So Paulo: LTr, 2000.
- TARDE, Gabriel. Les transformations du droit, 4. ed., Paris: Flix Alcan, 1903.
198
- TOOBY, John; COSMIDES, Leda; BARKOW, Jerome (org.). The adapted mind:
evolutionary psychology and the generation of culture, New York: Oxford University
Press, 1992.
- XAVIER, Maria Leonor Lamas de Oliveira. Razo e ser. Trs questes de ontologia em
Santo Anselmo, Lisboa: Calouste Gulbenkian, Fundao para a Cincia e a Tecnologia,
1999.
- WINKLER, Kenneth (org.). Berkeley, Cambridge: University Press, 2005.
ARTIGOS
- CHISHOLM, Roderick. Sextus Empiricus and modern empiricism, In: Philosophy of
science, v. 8, n. 3, jul. 1941, pp. 371-384, Chicago: University Press.
- COSTA, Marcos Roberto Nunes. O amor, princpio da moral interior em Santo
Agostinho, In: Perspectiva filosfica, v. 4, n. 9, Jul./Dez., 1996, Recife: UFPE, 1997, pp.
117-127.
- DI MATTEO, Vincenzo. A vida na perspectiva filosfica, In: Perspectiva filosfica, v. 6, n.
12, Jul./Dez., 1999, Recife: UFPE, 2000, pp. 79-101.
- FERNNDEZ SABAT, Edgardo. Introduccin a los presocrticos. In: Revista Jurdica,
Tucumn: Universidad Nacional de Tucumn, n. 7, 1960, pp. 65-111.
- GARCIA VENTURINI, Jorge. Evaluacin del estoicismo, In: Revista de la Universidad
Nacional de Crdoba, nov./dez. 1969, 2 serie, ano 10, n. 5, Crdoba: Universidad
Nacional de Crdoba, pp. 1049-1055.
- MASLOW, Abraham. A theory of human motivation, In: Psychological review, v. 50, n. 4,
Washington: APA, 1943, pp. 370-396.
- NICASIO BARRERA, Jos. Aspectos jurdico-filosficos y polticos en Scrates, In:
Revista Jurdica, Tucumn: Universidad Nacional de Tucumn, n. 7, 1960, pp. 129-140.
- SARMENTO, Daniel. Os princpios constitucionais da liberdade e da autonomia privada,
In: Boletim cientfico, ano 4, n. 14, jan./mar., 2005, Braslia: ESMPU, 2005, pp. 167-217.
- VASCONCELOS, Jos Iran. A noo e a evoluo histrica das obrigaes e a sua relao
com a teoria dos atos de fala de John Langshaw Austin. In: Estudantes Caderno
Acadmico, ano 10, n. 11, jan. 2005/jun. 2007, Recife: UFPE, 2007A, pp. 65-86.
- ______. Precises lgicas do termo direitos do nascituro. In: Anais do VI Congresso
Jurdico de Estudantes de Direito, Recife: Nossa Livraria, 2007B, pp. 155-160.
- VLASTOS, Gregory. Ethics and physics in Democritus, In: The philosophical review, v. 55,
n. 1, jan. 1946, pp. 53-64, Ithaca: Cornell University.
199
- ______. Equality and justice in early greek cosmologies, In: Classical philology, v. 42, n. 3,
jul. 1947, pp. 156-178, Chicago: University Press.
LIVROS E ARTIGOS NA INTERNET
- AQUINO, So Toms de. Corpus thomisticum, disponvel em: < http://www.
corpusthomisticum.org/iopera.html>, acesso em: 15 out. 2008.
- GRAHAM, George. Scottish philosophy in the 19th century, disponvel em:
<http://plato.stanford.edu/entries/scottish-19th/#4>, acesso em 29 out. 2008.
- PURNELL, Fred. Francesco Patrizi, disponvel em: <http://plato.stanford.edu/
entries/patrizi>, acesso em 29 out. 2008.
Вам также может понравиться
- E-Book Campo VibracionalДокумент78 страницE-Book Campo VibracionalMalena Alves100% (7)
- Pe. Leonel Franca, S.J. - A Psicologia Da FéДокумент242 страницыPe. Leonel Franca, S.J. - A Psicologia Da FéDouglasОценок пока нет
- Introdução Aos Fundamentos Da Tarologia Mística - Ozampin OlafajeДокумент135 страницIntrodução Aos Fundamentos Da Tarologia Mística - Ozampin OlafajeAndre Kadanr100% (3)
- Carma e Compromisso - Jan Val EllanДокумент389 страницCarma e Compromisso - Jan Val EllanNelson SáОценок пока нет
- A Constituição Da Realidade Segundo A PsicanáliseДокумент108 страницA Constituição Da Realidade Segundo A PsicanáliseFlavia BessoniОценок пока нет
- Mulheres Que Correm Com Os Lobos Clarissa Pinkola EstesДокумент16 страницMulheres Que Correm Com Os Lobos Clarissa Pinkola EstesMika Sant'anaОценок пока нет
- Ocampo - 26-08 A Hora Do Jogo PDFДокумент30 страницOcampo - 26-08 A Hora Do Jogo PDFMarcos100% (4)
- Jornal de Umbanda Sagrada Jan 2016Документ12 страницJornal de Umbanda Sagrada Jan 2016Wanderson MacielОценок пока нет
- Jean Hani - O Simbolismo Do Templo CristãoДокумент177 страницJean Hani - O Simbolismo Do Templo CristãoLucas Ciuffa100% (11)
- Bordado de VianaДокумент89 страницBordado de VianaSaraSou88% (8)
- A História, A Retórica e A Crise Dos ParadigmasДокумент296 страницA História, A Retórica e A Crise Dos ParadigmasEliane Martins de Freitas100% (2)
- Bambu Construção de Galpão PDFДокумент142 страницыBambu Construção de Galpão PDFAdelmo Oliveira100% (1)
- Apostila Redação FuvestДокумент13 страницApostila Redação FuvestEvertonОценок пока нет
- Positivismo Lógico WittgensteinДокумент9 страницPositivismo Lógico WittgensteinNatyPBОценок пока нет
- ArgumentaçãoДокумент2 страницыArgumentaçãodecosampaОценок пока нет
- Abandonadas Pelo Magnata (Irmao - Macedo, JessicaДокумент302 страницыAbandonadas Pelo Magnata (Irmao - Macedo, JessicaSuelen SilvaОценок пока нет
- Di15 AntropologiaДокумент129 страницDi15 AntropologiaGustavo Lopes MachadoОценок пока нет
- TRABALHO E CONHECIMENTO ESTÉTICO - TXT - Bloco de NotasДокумент41 страницаTRABALHO E CONHECIMENTO ESTÉTICO - TXT - Bloco de NotasFelipe de OliveiraОценок пока нет
- Torpor Edicao0 Web PDFДокумент299 страницTorpor Edicao0 Web PDFCarolinaОценок пока нет
- Corporalidade MovimentoДокумент175 страницCorporalidade MovimentoSandra NascimentoОценок пока нет
- A Compreensão Do Eu MáscaraДокумент14 страницA Compreensão Do Eu MáscaraSilvana santosОценок пока нет
- Síntese Da TeologiaДокумент4 страницыSíntese Da TeologiaBianca CesenaОценок пока нет
- O Lugar Incomum No Livro Morangos MofadosДокумент12 страницO Lugar Incomum No Livro Morangos MofadosTHAIS100% (1)
- Dissertação de Mestrado - Rita Almeida FilipeДокумент194 страницыDissertação de Mestrado - Rita Almeida FilipeatudelaОценок пока нет
- 02 - Apostila 01Документ50 страниц02 - Apostila 01Robson HonoratoОценок пока нет
- Trabalho Coletivo A Reuniao Pedagogica Semanal Como Espaco de Gestao Do Projeto e de Formacao Continua Do Professor 1Документ9 страницTrabalho Coletivo A Reuniao Pedagogica Semanal Como Espaco de Gestao Do Projeto e de Formacao Continua Do Professor 1Mara SousaОценок пока нет
- A Pratica em BourdieuДокумент17 страницA Pratica em BourdieuCássia CostaОценок пока нет
- Desenho Da Figura Humana 3 para Compreender A Simbólica Da Figura Humana.Документ12 страницDesenho Da Figura Humana 3 para Compreender A Simbólica Da Figura Humana.Manu SatoОценок пока нет
- Origem Do IndividualismoДокумент12 страницOrigem Do IndividualismoGuardaFlorestalОценок пока нет
- Contribuições Da Psicologia Existencialista para A Psicologia Social CríticaДокумент6 страницContribuições Da Psicologia Existencialista para A Psicologia Social CríticaJoão HorrОценок пока нет