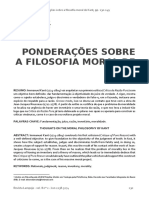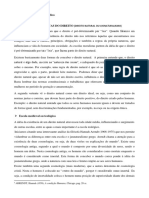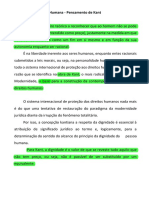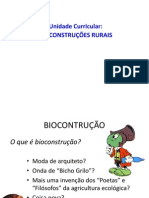Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Barbara Freitag - A Questão Da Moralidade Da Razão Prática de Kant À Ética Discursiva de Habermas
Загружено:
cidinha20140 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
836 просмотров141 страницаОригинальное название
Barbara Freitag - A Questão Da Moralidade Da Razão Prática de Kant à Ética Discursiva de Habermas
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
836 просмотров141 страницаBarbara Freitag - A Questão Da Moralidade Da Razão Prática de Kant À Ética Discursiva de Habermas
Загружено:
cidinha2014Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 141
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
1
A QUESTO DA MORALIDADE:
da razo prtica de Kant tica discursiva de
Habermas
BARBARA FREITAG
Professora da Universidade de Braslia
(UnB), Coordenadora do mestrado e
doutorado em Sociologia.
RESUMO: A moralidade, enquanto princpio que orienta a ao, permite vrias
abordagens, que sugerem um tratamento interdisciplinar. Neste ensaio a autora limita-se a
quatro abordagens: a filosfica (Kant), a sociolgica (Durkheim), a psicogentica
(Kohlberg) e a discursiva (Habermas). A grade que orienta esta seleo e delimita os temas
abordados o estruturalismo gentico de Piaget, que fornece os elementos para se pensar
adequadamente a questo em seu conjunto. O estruturalismo gentico se funda na razo,
inclui a sociedade na reflexo, reconstri a gnese do julgamento e considera fundamental o
discurso. Por isso, Piaget repousa em Kant, debate-se com Durkheim, prepara o terreno
para Kohlberg e antecipa a teorizao de Habermas.
PALAVRAS-CHAVE: Moralidade: na filosofia; na sociologia; na psicologia gentica; na
teoria da ao comunicativa.
Em 1978, duzentos anos atrs, Kant lanava sua Crtica da razo prtica, reassentando a
questo da moralidade em novas bases. Reinterpretando a filosofia da ilustrao (Rousseau,
Bentham, Kant), a sociologia clssica (Marx, Durkheim, Weber) debateu essa questo sob o
ngulo da normatividade e regularidade do comportamento social, enquanto a sociologia
moderna (Parsons, Luhmann, Habermas) focalizou-a de duas pticas distintas: a sistmica e
a do mundo vivido. A questo da moralidade encontra, porm, uma nova expresso na tica
discursiva (Apel, Wellmer, Habermas) que procura, calcada nas pesquisas do
estruturalismo gentico (Piaget, Kohlberg), reatar o elo perdido com a filosofia moral de
Kant. O presente artigo se prope retomar a discusso sobre a questo da moralidade a
partir da ptica desse estruturalismo, discutindo quatro momentos significativos desse
perodo de debates:
1. A fundamentao filosfica: Kant x Piaget
2. A fundamentao sociolgica: Durkheim x Piaget
3. A fundamentao psicolgica: Piaget x Kohlberg
4. A tica discursiva, uma tentativa de sntese: Habermas x Piaget
A moralidade assim fundamentada permite questionar o positivismo sociolgico, sugerindo
ainda um tratamento interdisciplinar da questo. A grade terica escolhida o
estruturalismo gentico tem uma funo simultaneamente seletiva e delimitativa.
Permite selecionar as dimenses do debate consideradas relevantes para fundamentar
terica e experimentalmente a questo, e permite delimitar a discusso no tempo e no
espao. Enquanto estruturalismo gentico, d destaque s estruturas lgicas, psquicas e
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
2
sociais que integram a questo da moralidade, refletindo simultaneamente a formao
dinmica dessas estruturas em termos de processo de equilibrao e desequilibrao.
1. A fundamentao filosfica da questo da moralidade
a) Kant e a razo prtica
Como sabido, Kant estudou detalhadamente duas formas de manifestao da razo: a
razo terica e a razo prtica. A razo terica pura permite ao sujeito (epistmico) elaborar
o conhecimento do mundo da natureza. A razo prtica pura abre o caminho para o
conhecimento do mundo social (System der Sitten), ou seja, da sociedade. Essa distino se
impunha a Kant na medida em que atribua uma diferena qualitativa natureza e
sociedade, os dois mundos em que atuaria a razo, conhecendo as leis matemticas e fsicas
do mundo natural e fazendo as leis que regeriam o mundo social ou dos costumes.
A qualificao da razo como pura, i.e., reine theoretische ou reine praktische Vernunft,
exprime o fato de que se trata de faculdades da razo cuja existncia independe de qualquer
experincia. Trata-se, pois, de faculdades dadas, a priori, isentas de qualquer forma de
vivncia e independentes da atuao do sujeito sobre o mundo. Aos instrumentos do
pensamento (as categorias a priori) da razo terica pura, corresponde o imperativo
categrico como instrumento do julgamento moral da razo prtica pura. Em ambos os
casos estes instrumentos esto dados, existem previamente a qualquer forma de
experincia.
A questo da moralidade em Kant resume-se, em ltima instncia, na questo do
imperativo categrico que orienta a ao da razo prtica; mas o estudo filosfico dessa
questo permaneceria atrofiado, se ele fosse reduzido a tal imperativo. O imperativo
categrico como instrumento privilegiado para pensar a questo da moralidade em Kant
constitui apenas um dos instrumentos da razo. Uma compreenso integral da moralidade
em Kant pressupe o conhecimento integral de sua Erkenntnistheorie, ou seja, a reflexo
das condies da possibilidade do conhecimento como tal.
A razo prtica o complemento necessrio da razo terica. Enquanto esta permite ao
sujeito (epistmico) conhecer as leis que regem o mundo da natureza, incluindo as leis do
cosmos, do mundo orgnico e inorgnico, a razo prtica pura desvenda as leis do mundo
social, regido pela vontade e liberdade dos homens. O mundo da natureza representa para
Kant o reino da necessidade, contingncia, determinao. O mundo social ou a sociedade, o
reino da liberdade, do possvel, da indeterminao. Cidado dos dois mundos, o homem
tem a faculdade de conhecer o primeiro (reconstruindo e desvendando as suas leis) e de agir
no segundo (formulando as leis sociais que devem reg-lo). O mundo da natureza
representa o Sein, cuja finalidade escapa vontade humana. O mundo social o mundo do
Sollen, cuja finalidade definida pela vontade humana, motivo pelo qual ele constitui o
sistema dos fins (System der Zwecke). No primeiro, o ser, valem os julgamentos cientficos;
no mundo do dever ser ou dos fins, valem os julgamentos morais.
A questo da moralidade somente surge em decorrncia dessa indeterminao do dever
ser ou do mundo social, onde os homens tm a liberdade de fazer valer as suas vontades,
fixar os seus prprios objetivos ou fins. por isso que nesse mundo a ao dos homens
pode ser julgada segundo os critrios do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
3
injusto. Os critrios do julgamento encontram-se arraigados na razo prtica pura; seu
instrumento privilegiado , como vimos, o imperativo categrico. Este se resume na
seguinte sentena:
Age de tal modo que a mxima de tua vontade possa sempre valer simultaneamente como
um princpio para uma legislao geral.
1
(Kant, 1977a, p. 140).
Para compreender a extenso e profundidade desse imperativo, torna-se necessrio
esclarecer alguns conceitos kantianos que o sustentam e sem os quais ele perderia seu
estatuto racional. Trata-se dos conceitos de vontade, liberdade, autonomia, meios e fins,
dignidade, universalidade, dever, mxima, imperativo, entre outros. A vontade pensada
por Kant como a faculdade de autodeterminao das prprias aes, segundo certas leis
preconcebidas. Esse conceito implica a idia da vontade como gesetzgebender Wille, i..,
a vontade legisladora e mais especificamente uma vontade legisladora geral (Kant, 1977b,
p. 64). O exerccio da vontade pressupe por sua vez a liberdade, ou seja, a existncia de
um espao indeterminado dentro do qual a vontade consegue exprimir-se agindo,
perseguindo fins pr-fixados, com meios livremente selecionados. Para Kant a liberdade
no existe seno sob a forma de uma idia, produzida pela razo. Ela no tem realidade
fora da razo, mas sem ela no haveria vontade. A razo prtica porque se torna a causa
determinante da vontade. Neste sentido a prpria moralidade reside no conceito da
liberdade que se expressa na vontade. O conceito de autonomia est inseparavelmente
ligado idia da liberdade; e nele o princpio geral da tica encontra sua forma de
expresso mais adequada (Kant, 1977b, p. 87-88). A autonomia definida no contexto da
liberdade e em contraposio heteronomia. A natureza e as leis que a regem representam,
como vimos, o Sein, o espao do determinado, a heteronomia. O mundo social ou dos
costumes representa o Sollen, o espao indeterminado, a autonomia. A autonomia do
sujeito se expressa na sua capacidade de autodeterminao, na sua vontade legisladora de
estabelecer e concretizar fins no mundo social. Esses fins (Zwecke) s podem ser
alcanados atravs de certos meios. Faz parte do imperativo categrico a exigncia de que
um ser humano jamais deve ser visto e usado como um meio mas sim, exclusivamente,
como um fim em si (Kant, 1977b, p. 61). Isto significa que toda a legislao decorrente da
vontade legisladora dos homens precisa ter como finalidade o homem, a espcie humana
enquanto tal. Mais especificamente, a vida e a dignidade (Wurde) do homem. O imperativo
categrico orienta-se, pois, segundo um valor bsico, inquestionvel e universal: a
dignidade da vida humana.
Kant admite que no mundo social, no sistema dos fins, existem duas categorias de valores:
o preo e a dignidade. Enquanto o preo representa um valor exterior e a manifestao de
interesses particulares, a dignidade representa um valor interior, de interesse geral. A
legislao elaborada pela razo prtica precisa levar em conta, como finalidade suprema, a
realizao desse valor interior e universal: a dignidade humana.
Com isso atende-se exigncia do imperativo categrico de jamais transformar um outro
homem em meio para alcanar fins particulares e egostas (o preo). A realizao da
dignidade humana pressupe o respeito mtuo (Achtung) e impe conseqentemente o
respeito lei geral que defende a dignidade humana. O valor universal da dignidade
1
Handle so, dass die Maxime Deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung
gelten knne.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
4
humana, transformado em finalidade ltima e universal do mundo social, defendido e
respeitado por uma lei universal que por isso mesmo impe seu respeito e lhe confere
validade universal. O respeito dignidade da pessoa humana transferido para a lei que
defende essa dignidade, que assim se torna universal e necessria. Enquanto universal e
necessria ela boa e justa, o que lhe confere validade objetiva. Em conseqncia desse
encadeamento de idias e conceitos, seguir as prescries de uma lei universal no significa
sujeio heternoma lei e sim um ato racional de respeito espcie humana, uma
expresso de vontade (legisladora). Seguir essa lei significa um dever. O dever (Pflicht)
compreendido por Kant como sendo a necessidade de uma ao por respeito lei (Ibid. p.
26). Seguir uma lei por dever significa seguir a instruo racional do imperativo categrico
que em outra formulao, diz:
Age segundo a mxima que possa simultaneamente transformar-se na lei geral.
2
(Kant,
1977b, p. 81).
Resta esclarecer que Kant faz uma distino entre mxima e lei. A lei um princpio
objetivo, prescrevendo um comportamento que todo ser racional deve seguir.
A mxima um princpio subjetivo que contm a regra prtica que a razo determina de
acordo com as condies do sujeito. Os imperativos expressam a necessidade de agir
segundo certas regras. Kant distinguiu entre imperativos hipotticos (que por sua vez
podem ser problemticos ou tcnicos e assertrios ou pragmticos) e imperativos
categricos. Somente os imperativos categricos tm valor moral. Os imperativos
hipotticos nos quais se formulam as regras de ao para lidar com as coisas (imperativos
tcnicos) e com o bem estar (imperativos pragmticos) encontram-se fora do mbito da
questo da moralidade.
Vimos anteriormente que a moralidade, enquanto manifestao da razo prtica, parte
integrante da Erkenntnistheorie de Kant como um todo. A moralidade no s complementa
a crtica da razo terica pura; at certo ponto sobrepe-se a ela. Ao desvendar as condies
da possibilidade do conhecimento do mundo (natureza), Kant havia ressaltado que a razo
(terica) no tinha sua disposio seno dois instrumentos: a sensibilidade (formas da
intuio: tempo e espao) e o entendimento (categorias a priori). Idias como a existncia
do mundo, a existncia de Deus, a imortalidade da alma etc. no caem no mbito da razo
terica, sendo fruto de uma razo especulativa, dialtica. No final da crtica da razo
prtica lemos, contudo, que o conceito de Deus, que efetivamente no pertence ao campo
da fsica, pertence ao campo da moral, como os demais conceitos que servem como
postulados da razo prtica.
Portanto, o conceito de Deus no pertence originariamente fsica, isto , razo
especulativa, mas moral, e o mesmo pode-se dizer dos demais conceitos da razo, como
postulados desta em seu uso prtico, conforme tratamos acima.
3
(Kant, 1977a, p. 274).
Assim, ao desvendar as condies da possibilidade de pensar o mundo social, Kant parte da
existncia dessas idias Deus (a causa ltima do mundo da natureza), liberdade e
2
Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetz machen kann.
3
Also ist der Begri,ff von Gott ein ursrpnglich nicht zur Physik, d.i. fr die spekulative Vernunft, sondern zur
Moral gehoriger Begriff, und eben das kann man auch von den brigen Vernunftbegriffen sagen, von denen
wir, als Postulaten derselben in ihrem praktischen Gebrauche, oben gehandelt haben.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
5
vontade (a causa da legislao do mundo social) e tantas outras como postulados sem
os quais os exerccios da razo prtica e a ao no mundo social seriam impensveis.
b) Kant x Piaget
Se coube a Hegel dialetizar e historicizar o pensamento kantiano, coube a Piaget
fundament-lo emprica e experimentalmente, assegurando-lhe uma vida nova no debate
contemporneo da moralidade. Em sua epistemologia gentica, Piaget d destaque
contribuio revolucionria de Kant no campo da teoria do conhecimento ao levantar as
duas questes centrais para o conhecimento: (a) como a cincia se torna possvel?; (b)
como a sociedade (moralmente) possvel?, buscando a resposta na atividade pensante do
sujeito. Desse modo, na opinio de Piaget, Kant assentou a teoria do conhecimento em
novas bases, sem as quais a moderna epistemologia gentica seria invivel.
A revoluo copernicana consistiu em ancorar no sujeito (epistmico) a capacidade de
construo e reconstruo dos dois mundos: o da natureza e o dos costumes. As condies
da possibilidade do conhecimento cientfico e as condies da possibilidade de legislar
esto dadas nos instrumentos do pensamento do sujeito.
Kant libertou-se definitivamente do realismo das aparncias para situar no sujeito a fonte
no s da necessidade dedutiva, mas tambm das diversas estruturas (espao, tempo,
causalidade etc.) que constituem a objetividade em geral e que, assim, tornam possvel a
experincia. Ele descobriu, portanto, o papel dos quadros a priori e a possibilidade de
juzos sintticos a priori, juntando-se s simples ligaes lgicas (ou juzos analticos a
priori) e suscetveis de impor percepo e experincia geral uma estrutura compatvel
com a deduo matemtica.
4
(Piaget, 1967, p. 22-23).
A partir de Kant o sujeito (epistmico) adquiriu, assim, consistncia e profundidade
insuspeitadas, que a psicologia e a epistemologia genticas passariam a confirmar e
consolidar.
Piaget considera, no entanto, que Kant se execedeu ao atribuir s categorias a priori uma
consistncia e rigidez que elas no tm. Para Piaget, Kant pecou em pelo menos dois
pontos: ignorou a gnese dessas categorias, e no as submeteu a um controle experimental.
Sua Erkenntnistheorie pertence, por isso mesmo ao campo das epistemologias
pacientficas (Id. Ibid. p. 27).
Graas s contribuies da moderna psicologia gentica, hoje possvel reconstruir
experimentamente a gnese das estruturas de pensamento na criana, o que permite dar um
estatuto de cientificidade moderna epistemologia (gentica).
Se Kant estava certo em atribuir s faculdades da razo humana a competncia de criar a
cincia e instituir a moral, estava enganado quanto natureza dessas faculdades. Elas no
so dadas a priori como se fossem inatas, mas se constroem a partir do nascimento da
4
Kant sest affranchi definitivement du ralisme des apparences pour situer dans le sujet la source, non
pas seulement de la ncessit dductive, mais encore des diverses structures (espace, temps, causalit, etc.)
qui constituent lobjectivit en gneral et qui redent ainsi lexprience posible. Il a donc dcouvert le rle des
cadres a priori, et la possilbilit de jugements synthtiques a priori, sajoutant aux simples liaisons logiques
(ou jugements analytiques a priori) et suceptibles dimposer la perception et lexprience en gnral une
structutre compatiblez avec la dduction mathmatique.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
6
criana, constituindo-se como instrumentos do pensamento no adulto aps longa gnese.
Elas tampouco so puras, livres de qualquer experincia, mas decorrem da experincia e
vivncia da criana no mundo; mais especificamente, de sua ao permanente sobre os
objetos do mundo fsico e de sua interao com objetos (pessoas) do mundo social.
diferena de Kant, o sujeito (epistmico) no somente constri e reconstri o seu
conhecimento da natureza e da sociedade, mas elabora, na descoberta desses mundos e na
ao e interao com eles, seus instrumentos do pensamento. Os conceitos de espao e
tempo (sensibilidade), de quantidade, qualidade, causalidade etc. (entendimento) de justia,
respeito norma etc. (moralidade) so o fruto de uma construo, sistemtica que se d por
etapas (psicognese). Esse processo de construo dos prprios instrumentos do
pensamento alimentado por fontes internas (maturao e equilibrao) e fontes externas
(socializao familiar e transmisso cultural), sendo pois impensvel sem a participao
ativa do sujeito e sem sua experincia e vivncia no mundo.
A gnese desses conceitos nas estruturas do pensamento da criana para o adulto pode ser
demonstrada experimentalmente pela psicologia gentica em situaes dialgicas criadas e
conduzidas com o auxlio do mtodo clnico (ou crtico).
Para as categorias da razo terica, essa gnese est ricamente documentada em trabalhos
como O nascimento da inteligncia na criana (1937), A gnese do nmero na criana
(1941), O desenvolvimento das quantidades fsicas na criana (1941), A gnese das
estruturas lgicas elementares (1959) e tantos outros, desenvolvidos nas ltimas cinco
dcadas por Piaget e sua equipe. Para as categorias da razo prtica, essa gnese foi
descrita e analisada em trabalhos como Linguagem e pensamento na criana (1923), O
julgamento e o raciocnio na criana (1924), A representao do mundo na criana (1926),
mas especialmente em O julgamento moral na criana (1932).
Neste ltimo livro, Piaget detm-se longamente sobre a formao de dois conceitos
fundamentais para a conscincia moral da criana: a noo de regra social e a noo de
justia. Nas entrevistas clnicas feitas com inmeras crianas de vrias idades, Piaget
descobre a gnese da moralidade, mostrando que ela se d atravs de trs grandes
estgios. Num primeiro estgio (amoralidade), verifica-se a ausncia de qualquer
conscincia moral; a criana no tem nenhuma noo da regra social nem de justia. A
questo da moralidade surge num estgio subseqente (heteronomia moral) quando a
criana desenvolve uma compreenso rudimentar das regras sociais e uma noo incipiente
de justia. Nesse estgio a regra social percebida como imposta coercitivamente de fora,
por uma autoridade que independe sua vontade. A justia assume para ela os traos do
direito punitivo, i.e., punio a qualquer preo, pela mera transgresso da regra. As aes
sociais so julgadas de acordo com as conseqncias objetivas, independentemente das
intenes. A relao social entre atores do mundo social percebida como relao
hierrquica (do mais velho ou poderoso para o mais novo ou fraco). Na ausncia da
autoridade, a regra perde sua validade. Ao estgio da heteronomia moral segue-se o estgio
da da autonomia, momento em que o adolescente toma conscincia da necessidade da regra
como instrumento regulador das relaes sociais. A regra ento o resultado de um ato
voluntrio e consensual dos membros de um grupo, em cujo mbito a regra tem validade,
impondo o respeito mtuo (reciprocidade). As relaes sociais so percebidas como
relaes horizontais, regidas pela cooperao e solidariedade entre os membros do grupo.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
7
noo de justia desenvolvida nesse estgio corresponde a forma do direito restitutivo.
As punies so dosadas de acordo com a gravidade do delito, buscando a reparao da
parte prejudicada. As aes sociais so julgadas de acordo com a inteno e no pelas
conseqncias objetivas. Uma regra, desde que percebida como necessria e vlida,
seguida mesmo na ausncia do controle da autoridade. O sujeito pondera os atos segundo
seus prprios critrios, formando seu julgamento independente da opinio ou presso do
grupo.
A partir de ento a regra concebida como um decreto das prprias conscincias. No
mais coercitiva nem exterior: pode ser modificada e adaptada s tendncias do grupo. No
constitui mais uma verdade revelada, cujo carter sagrado resultasse de suas origens divinas
e de sua permanncia histrica: ela construo progressiva e autnoma.
5
(Piaget, 1973a,
p. 48). ... pelo fato mesmo de que a criana se sujeitar a certas regras de discusso e de
colaborao, a cooperar portanto com seus prximos em toda reciprocidade (sem falso
respeito pela tradio nem pela vontade singular deste ou daquele indivduo), ela vai
precisamente dissociar o costume do ideal racional. Com efeito, da essncia da
cooperao, por oposio coero social, comportar, ao lado do estado de fato das
opinies recebidas provisoriamente, um ideal de direito funcionalmente implicado no
prprio mecanismo da discusso e da reciprocidade.
6
(Id. Ibid. p. 50).
Piaget lana para esse estgio da moralidade duas idias centrais e de amplas conseqncias
para a tica discursiva: (a) destaca a importncia do dilogo cooperativo e da
fundamentao racional argumentativa da regra no contexto social; e (b) mostra como a
partir da discusso e da reciprocidade no grupo uma regra ideal se dissocia da regra
tradicionalmente praticada.
Ao mesmo tempo que Piaget lana uma ponte para a futura teorizao de Habermas,
percebe-se em seus prprios trabalhos a forte influncia filosfico-epistemolgica de Kant,
e a influncia sociolgica de Durkheim. A relao do pensamento de Piaget com o de
Durkheim e Habermas ser objeto dos dois tpicos seguintes. Neste momento, cabe tecer
algumas consideraes sobre a relao do pensamento de Kant e Piaget.
Um confronto entre Piaget e Kant em torno da questo da moralidade permite esclarecer em
que o estruturalismo gentico se inspira na filosofia iluminista da razo prtica, e em que
dela se afasta. Ao refletir sobre as condies da possibilidade da vontade legisladora como
causa determinante das aes humanas, Kant abordou o tema da moralidade a partir de uma
perspectiva filosfica, epistemolgica. Ao indagar sobre os critrios segundo os quais uma
criana orienta sua ao ou julga a ao dos outros em situaes alternativas ou de conflito,
Piaget aborda o tema da moralidade a partir de uma perspectiva psicolgica, gentica,
experimental. O que em Kant um dado a priori, externo experincia, em Piaget o
5
Dornavant, la rgle est conue comme un libre dcret des consciences elles-memes. Elle nest plus
coercitive ni extrieure: elle peut tre modifie, et adapte aux tendances du groupe. Elle ne constitue plus
une vrit rvele, dont le caractre sacr tient ses origines divines et sa permanance historique: elle est
construction progressive et autonome.
6
... par le fait mme que lenfant sastreindra certaines rgles de discussion et de collaboration, donc
cooperer avec ses proches en toute rciprocit (sans faux respect pour la tradition ni pour la volont
singulire de tel ou tel individu), il va prcisment dissocier la coutume de lidal rationnel. Il est, en effet, de
lessence de la coopration, par opposition la contrainte sociale, de comporter ct de ltat de fait des
opinions reues provisoiremente, un idal de droit fonctionellement impliqu dans le mcanisme mme de la
discussion et de la rciprocit.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
8
resultado de uma gnese. As estruturas cognitivas maduras (pensamento formal e
julgamento autnomo) so constatadas s depois de completada a psicognese, refletindo a
interiorizao de aes e interaes.
Em Kant a liberdade um pressuposto de toda a argumentao subseqente, um conceito
inexplicado e sem explicao. Em Piaget a liberdade o pensamento autonomizado em
relao s formas concretas da vida e do pensamento, o coroamento de um longo processo
(bem sucedido) de construo das estruturas da moralidade autnoma e do pensamento
hipottico-dedutivo. Enquanto Kant situa a moralidade sob a forma do imperativo
categrico no sujeito moral, Piaget a inscreve enquanto processo de tomada de
conscincia da regra social e de sua natureza no sujeito emprico concreto: a criana em
seu contexto social.
A moralidade kantiana comea com a liberdade mas termina com a sujeio do sujeito ao
imperativo do dever (Pflicht), o dever de subordinao da prpria vontade vontade da lei
(universal). A moralidade (autnoma) de Piaget comea com a sujeio inquestionada e
inconsciente da criana lei heternoma e termina com um grito de independncia em
relao a leis que no decorrem de um processo argumentativo fundado na cooperao e no
consenso de todos. Se em Kant a mxima que orienta a ao (o princpio subjetivo) se
objetiva na lei universal, em Piaget a lei externa se subjetiviza e se transforma em um
princpio ideal e subjetivo que passa a orientar a ao moral do sujeito.
Apesar das muitas diferenas apontadas entre Kant e Piaget, persiste todavia um ncleo
duro de posies comuns no que concerne questo da moralidade: a crena inabalvel na
capacidade de autodeterminao do sujeito, arraigada na faculdade da razo, e a recusa
radical de qualquer forma de heteronomia.
2. A fundamentao sociolgica da questo da moralidade
a) A mudana de ptica
Em termos gerais, a reformulao sociolgica da moralidade relega o sujeito a um segundo
plano. Desta forma, a existncia objetiva da lei (tica) assume prioridade diante da
conscincia da necessidade do respeito lei (moralidade). A dialtica entre sujeito e
sociedade, presente na argumentao de Kant e Piaget, na qual cabe ao plo do sujeito o
comando do processo legislador, redefinida, atribuindo-se exclusivamente sociedade a
competncia de formular a lei objetiva. Ao indivduo cabe sujeitar-se a ela, integrar-se no
contexto societrio, subordinando-se ao interesse geral.
A hegemonia da sociedade em face do indivduo legitimada pela afirmao de que a
sobrevivncia do todo tem primazia sobre a sobrevivncia do sujeito. Este, transformado
em mero elemento ou parte integrante do todo, despido das caractersticas que
expressavam a sua essncia: razo e liberdade. A sociologia positivista, em princpio
contrria a qualquer forma de reducionismo, comete o reducionismo mais fatal: identifica
sociedade com natureza, leis sociais com leis fsicas.
Apesar de todas as diferenas de matiz ou de contedo entre as teorias sociolgicas
clssicas e modernas, entre marxistas e tericos sistmicos, entre os socilogos positivistas
e os crticos, h unanimidade em um ponto: a objetividade do social implacvel,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
9
prevalecendo sobre a subjetividade do indivduo. O mundo social, o sistema dos costumes e
fins, ou seja, a sociedade, passa a ser visto pela sociologia como uma realidade objetiva, de
existncia prpria. Os fatos sociais, as relaes de produo, o sistema social afirmam-se
como coisas alheias, independentes e contrrias ao sujeito dotado de vontade.
A sociologia dos sculos XIX e XX decreta a impotncia do sujeito, inserindo-o na
engrenagem social, onde ele transformado em pea ou elemento est sujeito a
leis universais que garantem o funcionamento e a preservao da sociedade. Basta
lembrar a lei dos trs estgios de Comte, a lei da evoluo e diferenciao de Spencer, as
leis demogrficas de Malthus, as leis de ferro da economia poltica, as leis da produo
de Marx, os mecanismos de integrao e equilbrio de Parsons e tantos outros.
Todo o esforo (filosfico e epistemolgico) de Kant em distinguir entre o reino da
necessidade (natureza) e o reino da liberdade (sociedade), entre leis naturais e sociais, entre
o ser e o dever ser, o determinado e o indeterminado, o inconsciente e o consciente,
sucumbe obsesso positivista da sociologia, preocupada em estabelecer-se como cincia.
A revoluo copernicana realizada por Kant, atribuindo ao sujeito a competncia de
conhecer o mundo real (natureza) e de legislar sobre o mundo dos costumes e fins
(sociedade) objeto de uma contra-revoluo conservadora, que restaura o status quo ante:
afirma-se a existncia de um real (onde natureza e sociedade esto assimilados) externo
conscincia, regido por leis que independem dela. Na leitura sociolgica as leis sociais so
equiparadas s leis da natureza. A fim de assegurar sociologia seu estatuto de
cientificidade, os socilogos no hesitam em sacrificar a autonomia (die Machbarkeit des
Systems der Sitten) heteronomia (die Bestimmtheit der natrlichen und sozialen Welt),
assimilando as leis da regularidade e nomatividade do social s leis fsicas e matemticas.
O mundo dos costumes, que para Kant representava o sistema dos fins autodeterminados
(Sollen), passa a ser decifrado nos moldes da mecnica celeste, determinada por uma causa
alheia vontade humana, heternoma (Sein).
Em uma sociedade concebida como organismo social (Spencer), modo de produo
(Marx), sistema social (Parsons), os indivduos apenas exercem funes, assumem as
feies de Charaktermaske, desempenham papis. As regras sociais no visam mais
dignidade e integridade do sujeito, mas tm em vista a preservao do organismo social, a
manuteno das relaes de produo, a defesa do equilbrio e a integrao do sistema
social. No h margem para a liberdade do sujeito, no h conflitos morais, no h
princpios que orientem a ao individual, pois tudo j se encontra pr-estruturado,
definido, inexoravelmente objetivado e rotinizado.
Na ptica sociolgica os critrios do bem e do mal, do justo e do injusto, do legtimo e do
ilegtimo no se encontram mais arraigados no sujeito, mas esto inscritos nas estruturas
sociais, nas instituies, nos mecanismos de controle social. O homo sociologicus
(Dahrendorf) esvaziado de sua dignidade, isento de responsabilidade, podado em sua
vontade; ele essencialmente a-moral, i.e., desprovido de princpios reguladores de sua
ao, mero ponto de confluncia e convergncia de papis sociais moldados e pr-
estruturados coletivamente, por uma instncia fora e independente dele: a sociedade. Os
conflitos morais no pertencem ao repertrio do homo sociologicus, que s conhece
conflitos entre papis diferentes e conflitos no interior de um mesmo papel social. Eles
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
10
exprimem desajustamentos do sistema social e de suas funes e podem ser facilmente
eliminados institucionalizando-se mecanismos sociais para sua regulamentao. O homo
sociologicus, tutelado (entmndigt), expropriado de sua vontade legisladora, s se
concretiza em instituies especializadas que pensam e falam por ele: parlamentos,
congressos, tribunais, etc. Na discusso sociolgica a questo da moralidade foi substituda
pela questo do direito.
O socilogo que de forma mais pura, tpico-ideal, representa essa posio, Emile
Durkheim.
b) A moralidade em Durkheim
O deslocamento do foco de interesse do sujeito para a sociedade fica explcito nas Regras
do mtodo sociolgico (1895), nas quais Durkheim postula que os fatos sociais devem ser
encarados como coisas, externas vontade e conscincia dos indivduos, dotados de
existncia prpria, fora de suas conscincias. Os fatos sociais impem-se coercitivamente
ao indivduo, exercendo sobre ele autoridade e exigindo dele obedincia e sujeio. A
objetividade do conhecimento da natureza e da sociedade no mais assegurada, como em
Kant, pelos instrumentos do pensamento do sujeito, mas sim pelas regras do mtodo,
elaboradas pela cincia. A cincia um fato social, produzido pelo coletivo. Enquanto
coisa, fato objetivo, a cincia tem a mesma realidade e objetividade que o mundo natural
e social que ela analisa. As regras do mtodo constituem os instrumentos que tornam o
conhecimento possvel.
Nas Formas elementares da vida religiosa (1912) Durkheim rev e aperfeioa sua
metodologia, formulando sua epistemologia das cincias sociais sob a forma de uma
verdadeira sociologia do conhecimento. As categorias do pensamento tempo, espao,
quantidade, qualidade, fora, gnero etc. no so dadas a priori (Kant) nem
desenvolvidas pelo sujeito (Piaget), mas so o fruto de uma gnese no interior da sociedade.
So categorias decorrentes das representaes coletivas, i.e., formas de viver, sentir e
pensar desenvolvidas pelo coletivo, no interior de um grupo, remontando em sua origem a
formas de vida religiosa, ao sagrado. Essas representaes coletivas so ao mesmo
tempo a fonte e a essncia da moral na sociedade.
importante lembrar que, ao sagrado, Durkheim ope o profano, ao qual pertencem
todas as formas de viver materiais, incluindo a produo de bens, a reproduo biolgica e
material da coletividade. Para Durkheim a sociedade no se manifesta nessas formas
profanas da vida, mas sim em suas formas sagradas, em suas representaes do mundo, em
sua moral. Cincia e moral saem ambas do mesmo bero (o sagrado) e constituem a
essncia da sociedade. As representaes coletivas traduzem diferentes estgios de
organizao da vida religiosa, gradativamente dessacralizada, secularizada. A sociedade
tem para Durkheim um carter prprio expressa uma realidade sui generis, mas ao mesmo
tempo se integra na natureza, da qual representa o estgio mais elevado e a expresso mais
complexa.
... a sociedade uma realidade especfica, mas no um imprio em um imprio; faz parte
da natureza, da qual a mais alta manifestao. O reino social um reino natural, que
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
11
difere dos outros somente por sua maior complexidade.
7
(Durkheim, 1968, p. 25). Na
leitura de Adorno, Durkheim no s idealiza a sociedade semelhana do que Hegel fizera
com o Estado, mas a deifica. A sociedade passa a ser a origem e o princpio regulador de
toda a vida individual e social, cientfica e moral, a razo de ser, o rbitro e a finalidade
ltima de toda ao humana, individual e coletiva. Ela representa o saber religioso, moral e
cientfico conjugados. onisciente e onipotente, em suma, a prpria obra de Deus, a
materializao e o coroamento de toda a criao, de todo o mundo da natureza.
A sociedade no pode, por isso mesmo, ser compreendida como o somatrio das vontades,
dos sentimentos e pensamentos dos indivduos que a compem. No convvio social, d-se
para Durkheim uma nova qualidade, ocorre uma qumica especial (a sacralizao do
grupo social, do coletivo) que confere sociedade um estatuto prprio, irredutvel forma
de viver, sentir e pensar do indivduo. A sociedade expressa sempre o mais verdadeiro, o
melhor e o mais justo que a mente humana foi capaz de produzir. Essa verdade revela-se de
forma convincente, para Durkheim, no estudo das formas elementares do totemismo
australiano, cujos traos fundamentais servem de grade para o estudo e a anlise de outras
formas de vida religiosa e societria. O simples j contm no embrio o complexo. Mas o
simples nunca o sujeito ou o indivduo isolado, ele pressupe o social, no qual as formas
de viver, sentir, pensar e julgar j se depuraram; e no qual o individual e o subjetivo esto
depositados, como sedimentos sem importncia, no solo do profano.
Em A diviso do trabalho social (1893), coerentemente com o acima exposto, Durkheim
no analisa as formas que assumem o trabalho e a produo e reproduo de bens materiais
(aspectos do mundo profano), mas dedica sua ateno s formas que assume a solidariedade
no interior de sociedades simples e complexas, solidariedade vista como um fruto da
diviso social do trabalho. Diferentes formas de diviso do trabalho geram diferentes
formas de solidariedade: sociedades simples, em que a diviso do trabalho se restringe
diviso de tarefas entre sexos e idades, produzem a solidariedade mecnica; sociedades
complexas, em que a diviso das tarefas abrange os setores de produo e as atividades
profissionais, produzem a solidariedade orgnica. No primeiro caso, a solidariedade
analisada na forma do direito punitivo, no segundo, na forma do direito restitutivo.
solidariedade mecnica corresponde uma percepeo heternoma da lei, que se impe com
autoridade implacvel ao indivduo, que sofre punies no para repor o dano causado em
caso de transgresso da norma, mas para reafirmar diante do coletivo a validade da norma
violada. A punio do infrator constitui lio de moral para os demais membros do grupo,
por isso geralmente pblica, tem efeito demonstrativo e sua funo reafirmar a
solidariedade (mecnica = automatizada) do grupo. solidariedade orgnica corresponde o
direito restitutivo, calcado no contrato firmado entre partes autnomas. A transgresso da
norma visa reposio dos danos causados ao parceiro do contrato, dentro de uma
perspectiva de reciprocidade e igualdade de direitos. Com a punio o sujeito lembrado
das suas obrigaes e responsabilidades em face de outro sujeito. O direito que regulamenta
as relaes entre ambos privado, mas gera uma solidariedade orgnica, que conscientiza a
cada um de suas funes no contexto do todo. Nessas duas formas da solidariedade
exprimem-se os sentimentos morais de dois tipos de sociedade, as simples (com diviso
7
... la socit est une ralit spcifique, elle nest cependant pas un empire dans un empire; elle fait partie de
la nature, elle en est la manifestation la plus haute. Le rgne social est un rgne naturel, qui ne diffre des
autres que par sa complexit plus grande.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
12
biolgica do trabalho) e as complexas (com diviso social do trabalho). As duas formas da
solidariedade esto materializadas nas formas do direito punitivo, por um lado, e contratual,
por outro.
A questo da moralidade, deslocada do sujeito para a sociedade, resulta na moralizao da
sociedade. Esta passa a ser a instncia que julga o certo e o errado, o bem e o mal, o
verdadeiro e o falso, anulando no sujeito a competncia do julgamento moral. Esse sujeito
passa a ser um joguete nas mos da justia, materializada nas diferentes formas do direito.
A teoria sociolgica (positivista) de Durkheim transforma o imperativo categrico de Kant
no imperativo da sociedade: Age conforme as normas sociais o prescrevem. A questo da
moralidade transformada em uma questo pedaggica. Como a sociedade infalvel,
representando a materializao da verdade e da justia, somente o indivduo suscetvel do
erro e da injustia, e por isso precisa ser enquadrado, educado para o social. Em sua
Educao Moral (1925) Durkheim indica as linhas mestras que devem orientar a educao
moral do indivduo para a sociedade. Sua conscientizao da importncia e adequao das
normas sociais constituem o pressuposto para o funcionamento da sociedade.
Vimos que Durkheim assimila a sociedade natureza, as leis sociais s leis naturais. Em
seu esforo de apagar limites onde teria sido mais prudente mant-los, Durkheim pecou por
mais uma indistino que lhe traria problemas tericos e prticos: no diferenciou a
sociedade, por ele idealizada como boa, racional e justa, das sociedades histricas que o
cercavam, marcadas pela revoluo e contra-revoluco, por guerras e lutas de
independncia, pela desigualdade poltica, econmica e social. Fenmenos como a anomia,
o suicdio, o caos econmico, a ganncia dos ricos, o despotismo dos poderosos, as lutas de
classe no podiam, por isso mesmo, ser vistos como produtos da sociedade. Sua causa tinha
que ser localizada na imperfeio da natureza humana. Esta, originalmente egosta e
incompetente para a vida social, precisava ser transformada em uma segunda natureza,
altrusta, apta vida em sociedade.
Em sua aula inaugural, que introduz o ciclo de conferncias sobre a educao moral,
Durkheim explicita: O homem a ser criado pela educao moral no o homem que a
natureza fez e sim o homem que a sociedade quer ter. (Durkheim, 1963, p. 44).
Neste ciclo de palestras, a moral definida por Durkheim como um sistema de regras de
ao que orientam o comportamento. A questo moral resume-se na sentena: Agir bem
significa obedecer bem (Id. ibid., p. 78). A educao moral consiste pois em fazer o
indivduo agir corretamente, fazendo-o obedecer ao conjunto de regras vigentes na
sociedade. A questo moral reduz-se questo pedaggica de promover a obedincia do
indivduo a essas regras.
Os trs elementos da moralidade discriminados por Durkheim so o esprito de disciplina,
a adeso ao grupo e a autonomia. O esprito de disciplina fortalece na criana a obedincia
regra. As regras sociais tm para Durkheim duas caracterticas importantes: regularidade
e autoridade. A regularidade com que uma regra aparece j o indcio de sua adequao,
correo e justia. O seu aparecimento freqente no contexto social lhe confere autoridade.
Seguir uma regra social legitimada pela sua freqncia e autoridade converte-se em um
dever. A regra social, enquanto fato social, enquanto coisa, j representa uma ordem
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
13
que exige obedincia. O esprito de disciplina, transmitido na educao moral, facilita essa
obedincia, promovendo a sujeio da criana autoridade da regra. Professores e pais, que
so a personificao da autoridade da regra, devem insistir na disciplina e cobrar a sua
prtica, inculcando assim o esprito de disciplina nas novas geraes.
Os objetivos fixados pela vontade do indivduo so por definio a-morais, vazios de
qualquer sentido e valor moral. O valor moral s conferido a objetivos fixados e
defendidos por um grupo, pela sociedade. Estes so a fonte e a finalidade da educao
moral. Educar a criana para a vida no grupo, faz-la aderir aos objetivos nele vigentes,
significa educ-la moralmente. A adeso do indivduo a um grupo a condio sine qua
non de uma vida moral. A liberdade interpretada por Durkheim como sendo uma
perverso que expressa o medo da regulamentao social. As regras sociais dotadas de
regularidade e autoridade superam esse medo e corrigem a perverso. O grupo a proteo
contra a liberdade anrquica, assegurando a ao moral dos seus membros.
O suicdio (egosta) ocorre justamente pela falta de arraigamento do indivduo num grupo
(famlia, igreja, exrcito etc.). A educao da criana para a vida no grupo torna sua
natureza de egosta em altrusta, transformando-a simultaneamente em ser social e moral. A
integrao do indivduo na vida, nos sentimentos, nas regras e representaes do grupo,
constitui a condio da possibilidade de seu agir moral.
A autonomia da criana, o terceiro elemento da moralidade em Durkheim, no se encontra
portanto enraizada na razo prtica do sujeito, mas decorre da educao moral como um
estado de conscincia atingido pela criana depois de sua integrao no grupo. A autonomia
consiste em sua submisso consciente s regras sociais, graas a seu esprito de disciplina e
transformao de sua natureza egosta em altrusta. A autonomia consiste apenas na
liberdade, que o indivduo tem, de aceitar a regra como dever. mediatizada pelo
conhecimento objetivo do funcionamento da natureza e da sociedade e, portanto, pela
cincia. Esta possibilita a cada ser social reconhecer o plano geral da criao no contexto da
natureza (e de sua manifestao suprema: a sociedade), obedecendo, por livre opo, sua
lgica e harmonia. A educao moral que visa a essa autonomia significa em ltima
instncia sujeio e obedincia s normas sociais, reconhecidas pela cincia social como
vlidas e vigentes no contexto societrio.
Percebe-se facilmente que Durkheim, ao mesmo tempo que utiliza certos conceitos da
filosofia moral de Kant (vontade, dever, regra, autonomia etc.) , esvazia-os de seu
significado original, retraduzindo-os como expresso da razo societria, identificada com
as regras e normas sociais dominantes. A criana no educada para aceitar as regras
(ideais) que ela reconhea como vlidas por serem gerais e necessrias, mas sim para
sujeitar-se e obedecer disciplinadamente a todas e quaisquer regras, pelo mero fato de
serem sociais.
c) Durkheim x Piaget
No ltimo captulo de O julgamento moral na criana (1932), Piaget examina
detalhadamente a contribuio dada por Durkheim questo da moralidade, no que ela tem
de vlida e aceitvel e no que tem de equivocada e inaceitvel.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
14
Segundo Piaget, Durkheim no distingue sociedade de fato e ideal de sociedade; no
reconhece a existncia em uma sociedade concreta de pelo menos dois tipos de moral (a
heternoma e a autnoma) ; assimila o dever ao bem, a obedincia regra ao
moral; e, o que mais grave, define a autonomia em termos de heteronomia. Em
conseqncia do primeiro equvoco, Durkheim atribui as qualidades imaginrias de uma
sociedade ideal, s sociedades realmente existentes. Assim, confunde o nvel de
equilibrao ao qual a sociedade pode e deve aspirar com o nvel efetivamente alcanado.
O segundo equvoco decorre do primeiro. Onde Piaget v uma luta entre dois padres
morais que tm como substrato relaes sociais distintas (autoridade hierrquica versus
igualdade cooperativa), Durkheim afirma a unidade moral. A assimilao ilcita das duas
formas da moral (heternoma e autnoma) acarreta srias conseqncias para a concepo
pedaggica de Durkheim:
... l onde veramos na escola ativa, o self-government e a autonomia da criana, o nico
processo de educao que leva moral racional, Durkheim defende uma pedagogia que
um modelo de educao tradicionalista e que, para chegar liberdade interior da
conscincia, apia-se em mtodos que, apesar de todos os atenuantes postos por ele, so
essencialmente autoritrios.
8
(Piaget, 1971, p. 273).
no contexto da educao moral que os demais equvocos de Durkheim se expressam com
maior nitidez: a assimilao do bem ao dever (agir bem obedecer bem!) fortalece a
subordinao cega regra social e s ordens emitidas pelos mais velhos e poderosos; e
finalmente, a compreenso da autonomia como a aceitao voluntria da regra
(heternoma) enquanto expresso de um plano geral e superior exonera o sujeito de sua
responsabilidade social e o desautoriza a agir e julgar segundo suas convices prprias. As
contribuies positivas do pensamento de Durkheim para a psicologia gentica de Piaget se
resumem na apropriao recorrendo a dois textos diferentes de duas idias. Mesmo
assim, Piaget submete essas idias a uma transformao profunda, dando por sua vez novos
significados aos conceitos apropriados. Da Diviso do trabalho social Piaget aproveita a
idia da evoluo, das sociedades primitivas, dotadas de solidariedade mecnica, s
complexas, caracterizadas pela solidariedade orgnica. Da Educao moral toma
emprestados os trs elementos componentes da moralidade.
A caracterizao que Durkheim faz de um e outro tipo de solidariedade (que inclui entre
outras a dimenso da conscincia individual), aproveitada por Piaget para definir os dois
estgios sucessivos da moralidade. solidariedade mecnica corresponde a moralidade
heternoma; solidariedade orgnica, a moralidade autnoma. As formas da solidariedade
(Durkheim) exprimem representaes coletivas; os estgios da moralidade (Piaget)
exprimem representaes individuais. As sociedades evoluem, graas diviso do trabalho,
da solidariedade mecnica orgnica. Na psicognese infantil, a moralidade heternoma
superada pela moralidade autnoma. Durkheim trata da moralidade no mbito da
sociedade, Piaget trata da moralidade na conscincia da criana. Os dois autores tematizam
a regra social e sua conscientizao por parte dos membros do grupo social para o qual essa
regra vale.
8
.... l ou nous verrions dans lcole active, le self-government et lautonomie de lenfant, le seul processus
dducation menant la morale rationelle, Durkheim dfend une pdagogie qui est un modle dducation
traditionaliste et compte sur des mthodes foncirement autoritaires, malgr tous les tempramen ts qu il y a
mis, pour aboutir la libert in trieure de la conscience.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
15
Mas, enquanto Durkheim s admite uma forma de moral para cada tipo de diviso do
trabalho, Piaget parte da existncia de vrios tipos de moral vlidos simultaneamente na
sociedade, o que impe criana a difcil tarefa de conscientizar-se simultaneamente de
uma ou outra, assimilando-as ou rejeitando-as. Essa reconstruo da moral na conscincia
da criana permite a discriminao e relativizao de vrias formas da moral (na sociedade)
e a elaborao de um ideal de regra que independe das formas concretas encontradas e
vividas.
A reelaborao da questo da moralidade por parte de Piaget corrige a simplicidade do
modelo dualista de Durkheim e sublinha a crescente independncia adquirida, por parte do
adolescente, em face da lei e da regra estabelecida.
A teoria sociolgica de Durkheim procura descrever e explicar o fato social da
solidariedade (moral na sociedade) como uma realidade objetiva, decorrente da diviso do
trabalho. A teoria psicogentica de Piaget procura descrever e explicar a reconstruo da
regra e do mundo social na conscincia moral da criana no decorrer da psicognese. O que
para Durkheim so fatos sociais (coisas) que se sucedem, caracterizando a evoluo
(histrica) das sociedades, so para Piaget estgios de conscincia, construdos e
reconstrudos pela criana num permanente trabalho do pensamento e do conceito
(psicognese). Mas a homologia entre a evoluo social, das sociedades simples s
complexas, e a evoluo psicogentica, da moral heternoma autnoma, puramente
externa, porquanto as teorias que fundamentam uma e outra anlise da moralidade partem
de pressupostos distintos e focalizam diferentes aspectos da questo. Por isso mesmo a
apropriao que Piaget faz dos trs elementos da moral, a partir da Educao moral de
Durkheim, ocorre dentro de padres que do novo estatuto a esses elementos, assentando-
os em novas bases tericas.
A disciplina e a obedincia regra, objetivo principal da educao moral durkheimiana,
passa a ser na psicologia gentica de Piaget um trao do estgio da conscincia moral
heternoma, que tender a desaparecer com o advento da autonomia moral. A adeso a um
grupo, condio sine qua non da ao moral em Durkheim, tambm um elemento central
na concepo da moralidade infantil. Mas, ao contrrio do autor da Educao moral, que
insiste na subordinao do indivduo ao grupo, o autor do Julgamento moral na criana
ressalta a dimenso da cooperao recproca entre iguais, que permite a fundamentao
argumentativa da regra vigente no grupo e a elaborao, no sujeito integrado nesse grupo,
de regras e princpios ideais desligados da rotina quotidiana. O grupo social no condio
sine qua non da moralidade; esta resulta de um processo cognitivo mais amplo, a
descentrao, que envolve a dimenso lingstica, lgica e moral.
E, finalmente, o terceiro elemento da moral a autonomia revela posies tericas e
conseqncias prticas radicalmente opostas em Durkheim e Piaget. Para ambos, a
autonomia vista como o resultado de um processo: para Durkheim, a subordinao do
indivduo originalmente egosta s regras do grupo, assumindo assim sua natureza social
(moral) altrusta; para Piaget, um processo de maturao e descentrao, em que o sujeito
se emancipa da autoridade da regra, da coero do grupo, e forma autonomamente os seus
padres de julgamento e concepes da regra (ideais), sem interferncia de terceiros. No
caso de Durkheim a autonomia resulta da obedincia regra e na aceitao inquestionada
da coero do grupo (heteronomia). No caso de Piaget a autonomia resulta na conscincia
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
16
da possibilidade e da liberdade de reformular regras, reorganizar o mundo social,
respeitadas as opinies e argumentaes do grupo, considerado o melhor (= mais
razovel) argumento. A mesma palavra exprime assim conceitos radicalmente opostos. Se
em Durkheim a autonomia do sujeito coincide com a subordinao a uma norma grupal
heternoma, em Piaget a autonomia do sujeito significa a superao dessa heteronomia. As
relaes sociais originalmente aceitas e percebidas como hierrquicas (verticais) so agora
redefinidas (prtica e teoricamente) como relaes democrticas (horizontais) em que o
respeito mtuo decorre do respeito dignidade e liberdade da pessoa de cada um dos seus
membros.
Se tivssemos que localizar a teoria da moralidade de Piaget numa escala cujos extremos
esto representados por Kant e Durkheim, certamente caberia a Piaget um lugar de honra,
muito prximo de Kant. Mas bvio que a construo de tal escala seria uma
operacionalizao equivocada da questo da moralidade. Cabe a Durkheim e sociologia
de modo geral o mrito de terem refletido o papel constituinte do social na formao do
pensamento e da moralidade. Ao contrrio do que imaginava Kant, a razo prtica no
pressupe unicamente a liberdade, mas tambm o grupo social e a sociedade, sem os quais
os julgamentos morais e as aes sociais perderiam a razo de ser. Graas a Durkheim,
Piaget se deu plenamente conta deste fato: a razo (terica e prtica) piagetiana
socializada e comunicativa, e no pura e a priori, como a de Kant.
3. A fundamentao psicolgica da moralidade
a) A ptica psicogentica (Piaget)
As duas contribuies mais significativas da psicologia para a questo da moralidade
foram, sem dvida, desenvolvidas pela psicanlise e pelo estruturalismo gentico. Enquanto
aquela privilegia os aspectos inconscientes e afetivos da questo, o estruturalismo gentico
enfatiza seus aspectos conscientes e cognitivos.
Como de incio me propus delimitar o tema, deixarei o exame da psicanlise para outro
momento, concentrando-me aqui na abordagem a partir da ptica psicogentica.
Nessa ptica, a questo da moralidade recebeu um tratamento cientfico, simultaneamente
experimental e interdisciplinar. A fundamentao emprica, fornecida pelo estudo detalhado
da gnese da moralidade em crianas de diferentes idades, permitiu a reformulao e
consolidao terica da questo. Inspirado em Kant e Durkheim, Piaget consegue mostrar
de forma convincente quais os aspectos dessas teorias que resistem a um exame
experimental e quais precisam ser rejeitados. A interpretao das entrevistas clnicas
realizadas com crianas de todas as idades em vrias partes do mundo permite ao mesmo
tempo um balano da questo e uma crtica de sua fundamentao filosfica e sociolgica.
Kohlberg e colaboradores deram prosseguimento aos trabalhos de Piaget e de sua equipe,
ampliando a base de sustentao experimental. Alm de crianas e adolescentes,
preferencialmente estudados pelos pesquisadores de Genebra, Kohlberg passa a incluir em
suas anlises adultos de todas as classes e profisses. A pesquisa intercultural, que em
Genebra tinha estatuto absolutamente secundrio, assume importncia crescente nos
estudos da moralidade realizados por Kohlberg. A tese da universalidade dos estgios e de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
17
suas seqncias s poder ser confirmada se nenhuma cultura ou sociedade apresentar
desvios do padro terico postulado.
Recapitulemos, com base no que j foi dito nos tpicos precedentes, em que consiste a
especificidade do tratamento psicogentico da questo da moralidade segundo Piaget:
1. A moralidade infantil no inata, mas resulta de uma gnese.
2. A gnese da moralidade d-se atravs de processos interativos da criana com o mundo
social.
3. A moralidade infantil no resulta da assimilao passiva das regras vigentes no grupo
social, mas decorre de uma construo e reconstruo ativa por parte da criana.
4. Os processos de construo e reconstruo das regras sociais na estrutura cognitiva da
criana (psicognese) constituem tomadas de conscincia que envolvem a diferenciao do
eu e do grupo (descentrao), a noo e a prtica da reciprocidade (respeito mtuo regra),
a aleatoriedade da regra (sua validade depende de sua reafirmao por parte de todos os
membros do grupo), a criao de uma regra ideal (princpio de ao) que independe da
experincia concreta e das prticas de regras no grupo.
5. A gnese ou construo da moralidade se d por estgios que obedecem a uma seqncia
determinada: medida que a criana cresce e amadurece, passa pelo estgio da amoralidade
(ausncia de regras) para a moralidade heternoma (conscincia autoritria da regra
imposta de fora contra a vontade) at o estgio da moralidade autnoma (conscincia da
necessidade e generalidade da regra como resultado do consenso argumentativo do grupo).
6. A seqncia dos estgios e sua organizao em esquemas ou estruturas de pensamento
(qualitativamente distintos em cada estgio) so fenmenos universais. Em sua ontognese,
toda criana passa pelos mesmos estgios na seqncia prevista pela teoria,
independentemente do momento histrico e do contexto social ou cultural vivido.
7. Os fatores que promovem a gnese das estruturas morais se localizam no interior do
sujeito (maturao e equilibrao das estruturas mentais) e no contexto social (socializao
familiar e transmisso cultural e educativa).
8. A moralidade autnoma (do adolescente / adulto) racional e consciente. No contexto da
psicognese, a moralidade se resume a esquemas do pensamento moral e a critrios de
julgamento que, juntamente com os instrumentos do pensamento moral, constituem a
inteligncia humana que tem como funo a preservao da vida e a melhor adaptao do
indivduo ao seu meio natural e social. Esses instrumentos so forjados em situaes sociais
concretas, das quais se autonomizam posteriormente, permitindo ao sujeito pensar e julgar a
realidade social a partir de possibilidades ideais. Os critrios de julgamento moral como
justia, verdade, adequao da regra etc. so deduzidos desses padres de excelncia.
9. A moralidade estabelece um elo imprescindvel entre sujeito e sociedade: sem ela o
sujeito sucumbe aos ditames do grupo ou tirania do ditador; sem o grupo o sujeito no se
constituiria como tal.
b) Piaget x Kohlberg
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
18
Os trabalhos de Kohlberg e de sua equipe calcam-se explicitamente na teoria da moralidade
desenvolvida por Piaget nos anos trinta. Em Estgios e seqncia (1969), Kohlberg resume
e endossa os pontos centrais dessa teoria, introduzindo no decorrer dos anos subseqentes
novas reflexes sobre a questo da moralidade, do ponto de vista psicogentico. As
inovaes metodolgicas propostas levaram a conseqncias tericas que merecem uma
discusso mais detalhada.
O procedimento metodolgico adotado por Piaget e sua equipe girava em torno de
pequenas histrias que eram narradas s crianas, pedindo-se, posteriomente, seguindo o
mtodo clnico, que julgassem as aes narradas e que justificassem sua prpria tomada de
posio. As pequenas histrias inventadas para identificar os estgios da moralidade infantil
giravam em torno de trs temas: 1. a inteno e as conseqncias objetivas de atos; 2. as
sanes e castigos decretados em casos de infraes regra ou de mentira, 3. a prtica e a
conscincia de regras do jogo.
No primeiro caso, so narradas duas historietas: a de um menino que sem querer, por ser
desajeitado, quebra muitos pratos; e a de outro menino que intencionalmente quebra um
nmero menor de pratos. A entrevista clnica conduzida com a criana procura esclarecer
os padres segundo os quais ela analisa as aes das crianas da histria, se pela inteno
ou pela conseqncia das aes, e de que maneira o julgamento justificado. Um
julgamento mais severo da criana que quebrou mais pratos sem querer atribudo
heteronomia moral; um julgamento mais severo das ms intenes do segundo menino
atribudo autonomia moral.
No segundo caso, so apresentadas duas crianas: uma brinca com o brinquedo do irmo e
o quebra; a outra brinca de bola no quarto (o que era proibido) e quebra a janela. Qual das
duas crianas mereceria um castigo maior, e de que tipo? Uma transgrediu expressamente
uma regra, a outra no. A necessidade de punio a qualquer preo e da punio maior em
caso de transgresso da regra (proibio) faria parte dos esquemas da moralidade
heternoma, que estaria se exprimindo sob a forma do direito punitivo. A punio que
consiste em compensar o irmo pela perda do brinquedo, entregando-lhe um dos prprios,
seria vista como expresso da moralidade autnoma, expressa sob a forma do direito
restitutivo. A questo da mentira trabalhada analogamente. So narradas histrias de duas
crianas que voltam da escola: a primeira mente, contando me que no caminho para casa
havia visto um cachorro do tamanho de um boi; a outra, esconde um boletim com notas
ruins e mente para a me, dizendo que havia tirado dez em matemtica e por causa disso
recebe um presente. No final do dia as duas mentiras so desmascaradas. Qual a pior
mentira? Se a criana confunde, ao julgar as mentiras da histria, o tamanho do animal com
a gravidade da transgresso (realismo moral), considerando a primeira mentira mais
grave, ela pertence claramente ao estgio da moralidade heternoma. Se considerar a
segunda mentira mais grave, por incluir a dimenso de m f e da intencionalidade, j pode
ser considerada pertencente ao estgio da autonomia, considerando-se obviamente o tipo de
argumento usado para justificar a tomada de posio.
No terceiro caso, finalmente, a criana entrevistada dialoga sobre a prtica das regras de um
jogo (bolinha de gude, amarelinha, futebol etc.) at ser questionada sobre a possibilidade de
mudana das regras, as condies nas quais isso seria admissvel e sob que forma a nova
regra poderia adquirir validade. Se a criana argumentar recorrendo aos conceitos de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
19
cooperao, respeito mtuo, consenso do grupo, melhor argumento apresentado etc., ela
atingiu a autonomia moral; se argumentar em favor da manuteno das regras a qualquer
preo, atribuindo-lhes autoridade absoluta, nesse caso ela ainda se encontra no estgio da
heteronomia. Quando desconhece toda e qualquer regra social, imitando jogos com gestos e
atividades motoras (simulando o jogo do futebol) sem conhecimento algum das regras do
jogo, a criana ainda se encontra no estgio da amoralidade.
A operacionalizao da questo da moralidade nas historietas e na tcnica da entrevista
clnica permitiu demonstrar experimentalmente a validade da tese piagetiana da construo
gradativa de estruturas, conceitos e critrios do julgamento moral na criana (adolescente).
Ao mesmo tempo, esse trabalho experimental apontou para uma srie de limitaes e
falhas, entre as quais cabe lembrar pelo menos quatro: 1. No julgamento da ao das
crianas da histria, a criana entrevistada tende a ser mais rigorosa do que seria consigo
prpria. Isso significa que os critrios de julgamento para os outros no precisam coincidir
necessariamente com os princpios que orientam a prpria ao. 2. As situaes imaginrias
criadas com as histrias narradas no so suficientemente envolventes para comprometer a
criana com o que diz sobre os atores fictcios. 3. Os julgamentos emitidos ainda no so
garantia de como a criana efetivamente agiria na mesma situao. 4. As duas formas da
moralidade postuladas fornecem uma grade pouco diferenciada para posies que no se
enquadram claramente em um ou outro estgio. Por isso mesmo Piaget criara um estgio
intermedirio (semi-autonomia) que no entanto no permite uma diferenciao ntida para
cima e para baixo (na escala psicogentica).
Lawrence Kohlberg, discpulo de Piaget e atualmente um dos maiores pesquisadores da
questo da moralidade a partir da ptica psicogentica, procurou evitar os problemas
criados com a metodologia piagetiana. Em lugar de histrias alternativas de atores distintos,
apresentou a seus entrevistados histrias em que o protagonista se encontra em uma
situao de conflito que permite pelo menos duas solues distintas. As situaes esto
prximas do quotidiano de cada um, e em princpio poderiam ocorrer a qualquer de ns.
Desse modo Kohlberg procura reduzir a distncia do entrevistado com a histria,
facilitando uma certa identificao entre ele e os protagonistas. No existem solues do
conflito sem infrao contra alguma lei ou um princpio. Quem age, torna se culpado de
uma forma ou de outra, transgredindo alguma norma mais ou menos importante. As
respostas dos entrevistados abriram os olhos para novas dimenses do problema.
A maior sofisticao metodolgica de Kohlberg reflete-se em um plano de codificao mais
diferenciado e detalhado e numa discriminao de maior nmero de nveis ou estgios da
moralidade, que por sua vez leva a algumas reformulaes tericas. Em essncia, porm,
Kohlberg mantm os princpios bsicos do estruturalismo gentico e confirma as teses
centrais de Piaget.
Uma das historietas usadas por Kohlberg e sua equipe j se converteu num clssico da
discusso da moralidade em crculos de especialistas: o chamado dilema de Heinz. A
histria simples: a mulher de Heinz est morte. H um remdio que poderia salv-la,
mas o farmacutico da cidade no quer vend-lo. Desesperado, o homem procura levantar
dinheiro, mas no consegue obter a quantia exorbitante exigida pelo farmacutico. noite,
o homem arromba a farmcia e leva o remdio para a mulher.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
20
Outras situaes de conflito so imaginadas por Kohlberg e sua equipe. Por exemplo, um
navio afunda. No escaler encontram-se trs sobreviventes: o capito, um marinheiro jovem
e um cientista velho. O equipamento e as reservas de combustvel e alimentao para
assegurar o salvamento efetivo s dariam para dois. Um dos trs tem que saltar no mar.
Qual deles e por qu?
Kohlberg e sua equipe trabalham ainda com o mtodo clnico ou crtico, esforando-se por
obter um quadro o mais preciso posssvel do que o entrevistado realmente pensa. O
importante no obter a resposta certa, mas sim uma resposta que seja autntica e que
esteja acompanhada dos argumentos que levam o entrevistado a emitir tal julgamento,
ponderando os prs e os contras das possveis decises, mostrando o nvel de profundidade
e diferenciao em que o dilema pensado. Importante no mtodo clnico saber ouvir e
reorientar o dilogo luz dos argumentos e das justificativas expostas. Nesse tipo de
conversa o pesquisador recorre muitas vezes contra-argumentao, caso o entrevistado
no levante por conta prpria questes conflitantes ou opostas.
Em 1958 Kohlberg apresenta uma nova proposta de conceber os estgios da moralidade
infantil que procura superar o esquema dual de Piaget, introduzindo uma escala que
abrange seis estgios distintos, que nessa primeira tentativa de reformulao o autor
caracteriza da seguinte forma:
1. Orientao para a punio e a obedincia. Respeito diante da autoridade ou do prestgio
de superiores. Fuga a responsabilidades. Responsabilidade objetiva.
2. Orientao ingnua e egostica. A ao correta aquela que atende s necessidades do
Eu e possivelmente do outro, instrumentalmente. Conscincia da relatividade do valor de
uma necessidade e da perspectiva dos demais, envolvidos na ao. Igualitarismo ingnuo e
orientao para a troca e a reciprocidade.
3. Orientao para o ideal do bom menino, preocupado em obter a aceitao e o
reconhecimento dos outros. Conformidade com as representaes estereotipadas do
comportamento coletivo. Julgamento de acordo com intenes.
4. Orientao para a preservao da autoridade e da ordem social. Preocupao em
cumprir seu dever, demonstrar respeito autoridade e ordem enquanto tais.
Considerao com as expectativas dos outros.
5. Orientao legalista-contratual. Reconhecimento de um componente aleatrio das
regras. Expectativas como ponto de partida para o consenso. Dever definido como
contrato. Busca evitar a violao dos direitos e das intenes dos outros. Defesa da vontade
e do bem estar da maioria.
6. Orientao por princpios. Transcende aquelas aes contidas em papis sociais
atribudos e inclui a orientao por princpios lgicos universais. Ao segundo a
conscincia prpria na base da confiana e do respeito (Kohlberg, 1969, p. 379-389).
A base emprica para essa nova definio dos estgios encontrava-se no rico material
coletado por Kohlberg no caso dos julgamentos emitidos sobre Heinz e seu dilema de
ao. O que surpreendia nas instrues de codificao que Kohlberg procurava obter uma
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
21
classificao do estgio moral, independentemente do tipo de resposta dada pelas pessoas
entrevistadas. No importava, pois, se o entrevistado inocentava ou condenava Heinz, o que
importava para a classificao em um ou outro estgio era a forma como esse
julgamento era apresentado, justificado, ponderado, face s alternativas de ao
disponveis. Desse modo o esquema de classificao permitia, para cada estgio, uma
verso a favor e outra contra o modo de agir de Heinz. Kohlberg, mais tarde reforado por
Rest e outros, procurava assim levar ao extremo a separao de forma e contedo do
julgamento, privilegiando (nessa primeira verso) a forma.
Esta soluo suscitou crticas de todo os lados e em diferentes nveis do problema. Em sua
essncia as crticas podem ser resumidas nos seguintes tpicos: falta de embasamento
emprico; formalismo exagerado; postulados filosficos no explicitados; etnocentrismo
cultural.
Surgiu ento uma literatura abundante, por vezes pedante na mincia, irritante na perda de
viso de conjunto, repleta de modismos metodolgicos, oportunismos carreiristas,
academicismos ridculos, mas que depois de uma triagem cuidadosa se torna estratgica
para repensar a questo da moralidade.
Para dar uma idia do que se produziu nesses trinta anos de debates, cabe lembrar que
existem bibliotecas cheias de teses de mestrado e doutorado, livros e manuais
interminveis, atas de congressos e reunies acadmicas em que a questo da moralidade
nos termos de Kohlberg foi amplamente discutida. Existem debates interminveis sobre a
realidade emprica (ou no) do estgio 6 proposto por Kohlberg. Alguns afirmam que ele
existe, procurando fundamentar essa afirmao com pesquisas prprias. Outros teimam em
dizer que se trata de mera deduo terica, recorrendo aos filsofos das mais distintas
orientaes para consolidar essa afirmao. Muitos metodlogos se especializaram em
inventar novos sistemas e critrios de classificao, sugerindo estgios intermedirios do
tipo 4 1/2, 5 1/2 ou at mesmo novos estgios alm do estgio 6.
Se acusei a sociologia de ter simplificado o que Kant sutilmente havia diferenciado,
preciso acusar a psicologia cognitiva de ter diferenciado em excesso, prescindindo de uma
viso de sntese. raro encontrar um esforo terico que procurasse reunir numa reflexo
coerente, os fragmentos empricos e experimentais dispersos em revistas especializadas,
espalhadas pelo continente americano, europeu e mesmo em alguns pases fora dos centros
de produo mais tradicionais, como a Austrlia, Nova Zelndia e ndia.
A vantagem de uma cultura perifrica como a brasileira, que nesses trinta anos ficou
totalmente margem dessa discusso, que ela hoje pode permitir-se fazer uma triagem da
exuberncia da produo terico-emprica, ponderando e selecionando o relevante,
participando da discusso no que ela tem de efetivamente substancial.
Um esforo de sntese que resulta numa reformulao terica da questo da moralidade
feito pela prpria equipe de Kohlberg (Rest, Levine, Hewer), em Moral stages: a current
formulation and responses to critics (1983) e posteriormente (1987) com a publicao dos
dois volumes de The measurement of moral judgment de Anne Colby, Lawrence Kohlberg
e colaboradores (em que fornecem uma melhor fundamentao terica e validao da
pesquisa, alm de acesso ao Manual de codificao, no vol. II).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
22
Nestes trabalhos os autores procuram explicitar pelo menos trs questes que em trabalhos
anteriores haviam ficado ambguos ou sem resposta: 1. os pressupostos meta-ticos que
fundamentam sua teoria da moralidade; 2. a justificativa terica e emprica de uma nova
seqncia de estgios da moralidade; e 3. a contestao aos crticos (e s crticas) mais
persistentes. Nos trs casos fica evidente uma reflexo terico-emprica exaustiva que
busca sua legitimidade na filosofia moral de Kant e na psicologia experimental de Piaget,
sem, contudo repetir essas posies e sem cair na tentao de simplific-las. O resultado
uma teoria da moralidade moderna, filosoficamente refletida e experimentalmente
fundamentada em pesquisas realizadas com pessoas de todas as idades, sexos, classes e
culturas. Para conhec-la melhor nos deteremos um pouco mais nas trs questes
levantadas pela prpria equipe de Kohlberg.
1. Entre os pressupostos meta-ticos da teoria da moralidade, Kohlberg e colaboradores
defendem: o contedo valorativo dos conceitos morais, seu carter prescritivo, a
generalidade e necessidade das regras sociais bsicas, justia e dignidade humana; a
dimenso cognitivista-racionalista da questo moral; o carter processual, construtivista da
conscincia da moralidade subjetiva.
2. A gnese das estruturas cognitivas da moralidade se d, como Piaget o havia concebido
originalmente, por estgios. Kohlberg e colaboradores definem, a partir de 1976, trs nveis
distintos da moralidade: o pr-convencional, o convencional e o ps-convencional, cada
qual subdividido em dois estgios. Os seis estgios da resultantes, agrupados em pares,
recebem uma nova nomenclatura (tomando-se como base os seis estgios definidos em
1959): 1) heteronomia moral; 2) individualismo instrumental; 3) expectativas interpessoais
mtuas e conformidade; 4) conscincia do sistema social; 5) contrato social ou utilidade e
direitos individuais; 6) princpios ticos universais.
Cada um desses estgios caracterizado a partir de trs aspectos ou pticas distintas: o
contedo intrnseco do valor moral defendido (aquilo que considerado correto), as
justificativas dadas pelo sujeito para defender esse contedo (ptica do sujeito), e,
finalmente, a perspectiva scio-moral, conforme conscientizada pelo sujeito (Kohlberg et
alii, 1987, p. 17-18 e 25-35). Os dois estgios tpicos para cada nvel (em seu
desdobramento binrio) procuram dar conta da dualidade introduzida por Piaget entre
moralidade heternoma e autnoma.
Kohlberg e colaboradores constroem, desse modo, um novo sistema classificatrio da
moralidade infantil/adulta, em que os trs nveis (pr-convencional, convencional, ps-
convencional) procuram refletir a percepo que o sujeito tem da regra social enquanto
reguladora das aes no grupo. O nvel pr-convencional exprime o fato de que a criana
ainda no se d conta do carter convencional da regra, aceitando-a como um fato da
natureza ou um ditame de alguma autoridade, fora de sua conscincia. No segundo nvel o
carter convencional da regra, decorrente de uma cooperao consensual dos membros do
grupo, reconhecido e respeitado. E, finalmente o terceiro nvel (ps-convencional) reflete
o fato de que o adolescente/adulto j abstrai do carter consensual e convencional da
norma, que ele conhece e reconhece em todos os detalhes, o seu aspecto ideal, orientando-
se, graas a essa abstrao das normas e regras habitualmente praticadas, por princpios
ticos prprios e autnomos.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
23
Em cada um desses trs nveis surge a variante heternoma e autnoma da questo. Nos
estgios de nmero mpar predomina a percepo da regra ou conveno como imposta;
nos estgios de nmero par, a dimenso de independncia do indivduo face norma ou
regra estabelecida. No conjunto h uma gnese da moralidade , da heteronomia para a
autonomia, mas em cada nvel a dialtica entre a perspectiva imposta pelo grupo e a
perspectiva subjetiva do membro do grupo (insider) se refaz em um patamar da conscincia
mais abrangente, habilitando o sujeito a reconhecer simultaneamente as leis sociais e os
princpios morais.
Em sua essncia a escala mantm os contedos j descritos na escala de 1959. A nova
proposta discrimina melhor, os trs aspectos que descrevem cada estgio, sem perder de
vista a distino fundamental de Piaget entre heteronomia e autonomia, que agora
retomada a cada nvel em sua dialtica. Graas maior diferenciao e sofisticao dessa
nova escala, Kohlberg procura responder acusao de formalismo, admitindo agora que a
forma precisa ser relegada a um segundo plano em face de um valor central e superior: a
defesa da vida e da dignidade humana. As instrues de codificao agora so inequvocas.
O entrevistado que der razo a Heinz em sua deciso de arrombar a farmcia para salvar a
vida da mulher (independentemente do nvel em que se encontrar) premiado com uma
classificao superior quele que defender a proibio de no roubar, respeitar a lei, etc.
Dificilmente pode sustentar-se hoje a crtica antes dirigida a Kohlberg de que lhe falta
embasamento emprico. Inmeros estudos foram realizados sob sua superviso, incluindo
estudos longitudinais (observaes e entrevistas com as mesmas pessoas atravs dos anos) e
estudos interculturais (USA, ndios canadenses, homens adultos na Turquia, adolescentes
nos Kibbutz de Israel). Esse vasto estudo emprico-experimental nas mais diferentes
culturas, classes sociais e etnias, realizado para provar a universalidade dos estgios e de
sua seqncia tambm desmonta muitas das crticas que se calcavam na acusao de
etnocentrismo.
3. O debate aberto com seus crticos (entre os quais se encontram Erikson e Habermas)
serviu, portanto, para melhorar a teoria e ampliar o campo da pesquisa experimental.
Persistem, todavia alguns problemas e argumentos cuja superao no depende de uma
reflexo e reformulao da prpria teoria, mas das premissas (e equvocos) inerentes s
teorias dos outros. O ponto chave para uma discusso, em que Kohlberg permanece
irredutvel, a questo dos estgios. Kohlberg distingue trs tipos de teorias dos estgios: o
funcional, o soft e o hard. A teoria da moralidade de Piaget e a sua prpria (Kohlberg e
colaboradores) pertencem ao tipo hard. O que caracteriza as hard structure stage theories
que elas concebem as estruturas como totalidades que se sucedem em seqncias
invariantes. Em cada estgio, as estruturas representam nveis de integrao hierrquica e
qualitativamente distintas, havendo progresso dos estgios inferiores aos superiores. A
teoria faz uma abstrao do sujeito ou ego concreto e unitrio, introduzindo (melhor,
reintroduzindo) a perspectiva de um epistemic self, i.e., o sujeito epistmico de Kant, que
em Piaget encontra sua expresso mais precisa nas estruturas lgicas (hipottico-dedutivas)
do pensamento e, em Kohlberg, no sujeito moral.
A maioria dos crticos de Piaget e Kohlberg parte de teorias dos estgios que podem ser
caracterizadas como funcionais ou soft (Erikson, Loevinger e tantos outros), introduzindo
conceitos de estruturas ou de estgios que no satisfazem os critrios estabelecidos na hard
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
24
theory. Trata-se, pois de teorias que dispensam ou a idia da totalidade estruturada, ou a
idia da seqncia invariante dos estgios, ou o seu carter hierrquico, em que o nvel
(estgio) subseqente significa a superao e absoro do precedente. Trata-se, no mais das
vezes, de crticos que realizaram estudos e formularam teorias vinculadas ao campo das
observaes empricas, sem interesse no nvel de abstrao necessrio para a reformulao
de uma hard structure stage theory. Apesar dessa nfase no aspecto terico da questo da
moralidade, Kohlberg e sua equipe consideram ter contribudo, com seus inmeros
trabalhos empricos, para a fundamentao experimental de muitos aspectos discutidos na
filosofia moral, esclarecendo uma srie de problemas que a filosofia por si s fora incapaz
de solucionar. Com esta afirmao polmica, Kohlberg levantou nova onda de protestos e
crticas, cuja soluo precisa ser buscada em outros modelos tericos. O crtico de
Frankfurt, Jrgen Habermas, prope tal soluo em sua teoria da ao comunicativa, em
cujo bojo se cristaliza uma nova teoria sociolgica da moral: a tica discursiva.
4. A tica discursiva- uma tentativa de sntese
a) A razo comunicativa de Habermas
Em sua Teoria da ao comunicativa (1981-1983) Jrgen Habermas faz o esforo de
pensar, em uma nova totalidade, os trs mundos (dos objetos, das normas e das vivncias
subjetivas), desmembradas pelas crticas da razo pura de Kant.
Se aos trs mundos correspondiam formas diferentes de ao (instrumental, normativa,
reflexiva), uma nova viso terica que integrasse os trs mundos numa totalidade
pressuporia uma forma de ao que no apresentasse as limitaes de nenhuma das outras
trs. Somente a ao comunicativa capaz de abarcar os trs mundos, anteriormente
isolados em esferas de ao estanques.
Para pensar essa nova totalidade, Habermas prope uma mudana de paradigma: da
filosofia da conscincia para a teoria da interao, da razo reflexiva para a razo
comunicativa. Com essa nova revoluo copernicana Habermas procura resgatar a
validade da teoria cognitiva da razo sem incorrer nas limitaes impostas por Kant.
A razo comunicativa proposta por Habermas essencialmente dialgica, substituindo o
conceito monolgico da razo pura de Kant. Ela no mais se assenta no sujeito epistmico,
mas pressupe o grupo numa situao dialgica ideal. A verdade produzida nesse novo
contexto processual e depende dos membros integrantes do grupo. Nesta nova concepo
da razo comunicativa a linguagem torna-se elemento constitutivo.
A perspectiva lingstica introduzida na reflexo da teoria da ao comunicativa parte do
dado pragmtico da linguagem como base, cho de todo processo interativo que abrange
as prticas comunicativas dos trs mundos: dos objetos, das regras, do sujeito. Na fala
quotidiana (Lebenswelt) as prticas comunicativas que permeiam esses trs mundos
permanecem inquestionadas. A mesma linguagem que articula essas prticas permite,
contudo, seu questionamento, suspendendo as aspiraes de validade
(Gltigkeitsansprche) nelas subentendidas. Torna-se possvel, atravs dessa linguagem,
questionar a verdade dos fatos (do mundo objetivo), a correo ou justeza das normas (do
mundo social) e a veracidade do interlocutor (mundo subjetivo). Habermas chama de
discurso esse questionamento das aspiraes de validade embutidas na comunicao
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
25
quotidiana. um processo argumentativo acompanhado do esforo de restabelecer um uso
sui generis da linguagem, que exige a argumentao e a justificao de cada ato da fala por
parte dos interlocutores participantes da interao.
No discurso terico so problematizadas e revistas as afirmaes feitas sobre os fatos,
reassegurado verbalmente o nosso saber sobre o mundo dos objetos, redefinida a verdade
at ento vigente e aceita no grupo. No discurso prtico so postas em cheque a validade e
a justeza das normas sociais que regulamentam a vida social. Nesse processo
argumentativo, em que cada afirmao precisa ser justificada, cada julgamento defendido e
reafirmada a validade das regras em questo, prevalece unicamente o critrio do melhor
argumento, capaz de obter a aprovao dos membros do grupo. Ambas as formas do
discurso pressupem interlocutores competentes e verazes, atuando em situaes dialgicas
ideais, livres de coao.
A questo da moralidade em Habermas insere-se, pois, no corpo de sua teoria da ao
comunicativa. Enquanto questo ela elaborada e repensada no contexto do discurso
prtico. Se para Kant o critrio ltimo da moralidade se condensava no imperativo
categrico, para Habermas ele se radica no processo argumentativo, desencadeado pelo
discurso prtico. Essa mudana de foco constitui a essncia da tica discursiva.
b) A tica discursiva de Habermas
Em seu livro Conscincia moral e ao comunicativa (1983), Habermas inclui o ensaio
tica discursiva notas para um programa de fundamentao, onde procura sintetizar os
principais traos da tica discursiva, delimitando sua teoria em face das contribuies de
Apel, Tugendhat, Wellmer, Rawls, Hare e outros. Mas, em Moralidade e tica (1986) que
se encontram as reflexes mais precisas sobre o tema.
Em sua essncia, a tica discursiva procura substituir o imperativo categrico de Kant pelo
procedimento da argumentao moral. Dessa forma, o imperativo categrico
transformado em um princpio universalizvel, na situao dialgica ideal, perdendo sua
autoridade como critrio moral absoluto puro. A tica discursiva sugere que somente
podem aspirar validade aquelas normas que tiverem o consentimento e a aceitao de
todos os integrantes do discurso prtico. Para que uma norma tenha condies de
transformar-se em norma geral, aspirando validade universal enquanto mxima da conduta
de todos os participantes do discurso prtico, os resultados e efeitos colaterais decorrentes
da sua observncia precisam ser antecipados, pesados em suas conseqncias e aceitos por
todos. Isto ocorre atravs de um procedimento argumentativo em que prevalece o melhor
argumento, respeitados todos os demais, luz de sua maior coerncia, justeza e adequao.
O carter universal de uma norma ou princpio moral qualquer s se evidencia se tal
princpio ou norma no exprimir meramente a intuio moral de uma cultura ou poca
especfica, mas sim um contedo que possa ter validade geral, fugindo a toda e qualquer
forma de etnocentrismo.
Apesar da nfase dada ao carter processual, ao procedimento dialgico, argumentativo, a
tica discursiva no nessa ltima verso habermasiana uma teoria puramente
formal. Ao contrrio, Habermas sublinha que a tica discursiva parte da extrema
vulnerabilidade da pessoa, tendo como contedo a defesa da integridade e dignidade dessa
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
26
pessoa. No contedo, a tica discursiva permanece, pois, fiel s suas razes kantianas,
quanto forma, ela se reorienta pelo enfoque processual mediante o qual esse contedo
buscado, reafirmado e consolidado pelo grupo. A tica discursiva articula-se nos dois
princpios que sempre constituram o corpo da questo da moralidade: a justia e a
solidariedade. A justia se obtm buscando atravs dos processos argumentativos
conduzidos pelos integrantes do discurso prtico a norma que defenda a integridade e
invulnerabilidade da pessoa humana. Esse objetivo ou valor (buscado processualmente) s
se efetiva no grupo social, que atravs da solidariedade recproca assegura o bem estar de
todos. A dignidade da pessoa s pode ser realizada no grupo que concretizar o respeito
mtuo e o bem estar de cada um, assim como a autonomia do sujeito depende da realizao
da liberdade e da solidariedade de todos.
No mais o sujeito moral kantiano que, seguindo seu dever, define monologicamente o
que possa ser considerado um princpio generalizvel, mas sim o grupo integrante de um
discurso prtico que dialogicamente elabora, base do argumento mais justo, correto,
racional, o que possa ser considerado um princpio universalizvel. No procedimento
argumentativo, todos os integrantes do discurso participam, todas as vontades subjetivas
so expressas, todas as crticas e ponderaes so consideradas, todas as conseqncias
prticas so antecipadas e todos os efeitos colaterais de uma possvel ao, pesados. O novo
princpio regulador, a norma universal que tambm ser a mxima moral de cada um, no
um dado a priori, mas o resultado ltimo de um longo processo argumentativo, viabilizado
pelo discurso prtico.
A tica discursiva de Habermas pressupe pelo menos trs dados, ainda no
suficientemente explicitados: a competncia comunicativa dos integrantes do grupo;
situaes dialgicas ideais, livres de coero e violncia; e, finalmente, um sistema
lingstico elaborado que permita pr em prtica o discurso (terico e prtico). Estes
dados (pressupostos) contrastam com os dados observados na realidade histrica que
constituem, nas sociedades modernas, verdadeiras cargas poltico-morais insuportveis
para o nosso tempo. Habermas enumera quatro: a fome no terceiro mundo, a tortura
institucionalizada, o desemprego crescente, mesmo nas economias mais avanadas do
mundo ocidental, e as ameaas do desequilbrio ecolgico que implicam na possvel
autodestruio da humanidade.
A soluo desses problemas nem sempre se pode dar no contexto da tica discursiva.
Habermas, por isso mesmo, havia destacado outras formas de ao, distintas da
comunicativa, como a ao instrumental, que permitiria resolver parcialmente os problemas
da fome, do desemprego e do equilbrio ecolgico, naquilo que esses problemas tm de
tcnico. Quando a ao instrumental e a comunicativa no conseguem (pacificamente)
resolver tais problemas, Habermas admite a ao estratgica, cuja funo primordial
consistiria em estabelecer as condies materiais e polticas para que a ao comunicativa
e, no contexto dela, o discurso prtico possam entrar em ao.
c) Habermas x Piaget
Graas apropriao habermasiana do estruturalismo gentico de Piaget e Kohlberg,
possvel fundamentar parte dos pressupostos da tica discursiva acima mencionados: a
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
27
competncia comunicativa, a situao dialgica ideal e a existncia de um sistema
lingstico.
1. A psicognese das estruturas do conhecimento e dos esquemas do julgamento moral da
criana ocorre, como vimos, por estgios, obedecendo a seqncias fixas de carter
universal. O pensamento lgico-formal e o julgamento moral do adulto caracterizam-se
pela competncia hipottico-dedutiva e pela competncia do julgamento moral autnomo
(por princpios). Os trabalhos empricos e interculturais de Piaget e Kohlberg mostram que
todas as crianas, independentemente do meio social, do contexto cultural ou do sexo,
atingem no processo interativo com o mundo dos objetos e com o grupo social os estgios
mais avanados da psicognese. Apesar do problema das decalagens (defasagens em
atingir certos estgios, em certas faixas etrias), que introduz um fator complicador que a
discusso atual ainda no esclareceu em toda a sua complexidade (Freitag, 1983), os
resultados at agora obtidos permitem manter a tese da universalidade dos processos e das
competncias. Para o estruturalismo gentico, as competncias do pensamento lgico e
moral expressam-se na competncia comunicativa. O pensamento socializado, ou a
inteligncia comunicativa, justamente aquela faculdade da razo que, depois dos
diferentes processos de descentramento, permitem a comunicao das idias e dos prprios
pensamentos aos outros, considerando os pontos de vista desses agentes, seu nvel de
informao, seus interesses, suas condies de compreenso. O qualificativo
comunicativo ou socializado exprime o fato de que tal pensamento deixou de ser
egocntrico, privatizado, monolgico, utilizando para exprimir-se uma linguagem
compreensvel aos outros. O pressuposto habermasiano, de interlocutores competentes
integrantes de um discurso prtico encontra desse modo sua fundamentao terica e
emprica no estruturalismo gentico, deixando de ser pressuposto e transformando-se em
conhecimento assegurado pela experincia.
2. A situao dialgica ideal, livre de coero, deixa igualmente de ser uma construo
terica no sustentada, se recapitularmos as passagens da construo da moralidade em
Piaget e Kohlberg. A tomada de conscincia do mundo social a partir da interao da
criana com o grupo decorre de prticas do jogo ou relaes sociais em que a criana vai
assumindo (mentalmente) as posies de cada jogador, compreendendo melhor as prprias
chances de jogar e vencer dentro das regras estabelecidas. Esse verdadeiro role taking
(Mead) pode ser interpretado como um processo de reconstruo mental de todos os demais
pontos de vista, egos com interesses e vontades prprias cujas aes podem entrecruzar-se e
cuja margem de liberdade est prefixada pelo jogo (papis ou interaes padronizados).
Essa tomada de conscincia vai alm do conhecimento e da reconstruo dos padres
sociais e das regras vigentes, na medida em que permite reconhecer a natureza social da
regra e sua dependncia do consenso e do respeito mtuo dos atores cujo comportamento
ela pretende regular. Ao questionar a validade de uma regra (reconhecimento de sua
arbitrariedade) e ao renegoci-la com os demais jogadores do jogo social (reconhecimento
da necessidade da regra), a criana piagetiana pratica mentalmente o discurso tico, realiza
um dilogo interior que pressupe a antecipao da ao dos outros, calculando e
ponderando efeitos colaterais. Em caso de equvoco, os pares corrigem, contestam,
argumentam e impem o argumento mais convincente. A situao dialgica ideal
realizada e praticada na situao de jogo (concreto) e reconstruda mentalmente em cada
nova ao ou situao de conflito. Piaget e Kohlberg descreveram na prtica e em situaes
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
28
experimentais a realidade e o funcionamento da tica discursiva, sem dar-lhe este nome.
Em sua releitura, Habermas retoma esse assunto com a terminologia que criara em
trabalhos anteriores e consolidara na Teoria da ao comunicativa.
O radicalismo democrtico de Habermas, que se exprime em sua teoria consensual da
verdade e em sua teoria moral, encontra sua fundamentao epistemolgica e experimental
no estruturalismo gentico de Piaget e Kohlberg. Independentemente das caractersticas
histricas da sociedade em que se insere a psicognese, a criana, ao mesmo tempo que
interage com o grupo, constri e reconstri as regras sociais que regem o seu
funcionamento, elaborando padres ideais de justia, igualdade e solidariedade. As
situaes dialgicas ideais no so uma simples construo terica, hipottica, tpico-ideal
de Habermas, mas so praticadas democraticamente (sem a interveno dos adultos) e
espontaneamente nos grupos dos peers, durante os jogos ou em situaes de conflito
vividas pelas crianas. O descompasso entre as estruturas de conscincia moral atingidas e
as estruturas autoritrias repressivas da sociedade pode levar como Kohlberg acredita
a regresses nos estgios de conscincia, a fim de acomodar as estruturas do julgamento
moral aos padres vigentes na cultura.
3. O ltimo pressuposto, o verdadeiro cho no qual todas as atividades societrias se
assentam, e sem o qual a sociedade contempornea perderia sua base real, a linguagem.
Ela assume na teorizao habermasiana a funo que Deus tinha nas ticas religiosas e que
a sociedade tem na teoria sociolgica positivista. A linguagem o ponto de partida e de
chegada de toda a reflexo da sociedade (sobre si mesma), incluindo aqui o conhecimento
do mundo dos objetos e o conhecimento do mundo das normas. Sua origem e sua
constituio dentro das sociedades e sua aquisio por parte da criana no constituem um
interesse central no estruturalismo gentico de Piaget e Kohlberg, apesar de haver uma
infinidade de trabalhos dos prprios autores ou de seus colaboradores que procuram
desvendar a influncia da linguagem na construo das estruturas do pensamento. Em sua
essncia, o estruturalismo gentico afirma porm que a linguagem a expresso de
estruturas mentais e no, segundo afirmam scio-lingstas como B. Bernstein, que as
estruturas mentais so o reflexo, ou melhor, a internalizao das estruturas da linguagem.
Habermas recorre a outros autores (Apel, Wellmer, Gadamer, Bhler, Dilthey etc.) e a
novas orientaes de pesquisa: pragmtica universal, hermenutica, filosofia da linguagem,
psico e sociolingstica etc. para melhor formular sua teoria. Ao fundamentar dois dos
pressupostos da tica discursiva, a saber, a competncia lingstica e a situao dialgica, o
estruturalismo gentico de Piaget no esgotou suas possibilidades como grade interpretativa
para a teorizao de Habermas. Em sua Teoria da ao comunicativa o autor parte de um
quarto pressuposto, estabelecendo uma analogia entre os processos evolutivos das
sociedades histricas e a psicognese (Freitag, 1985). Isso lhe permite interpretar os
processos societrios como processos de aprendizagem coletiva. Se na psicognese a
criana aprende reorganizando o seu conhecimento do mundo em patamares cada vez mais
elevados e sofisticados das estruturas mentais, tambm as sociedades, em seu percurso
histrico, perfazem uma trajetria marcada pelo acrscimo de saber, que se institucionaliza
nas estruturas cada vez mais complexas do sistema societrio. As sociedades histricas
adquirem assim uma competncia crescente para lidar com seus problemas de
sobrevivncia e para controlar e equilibrar os conflitos e as contradies internas. A teoria
da ao comunicativa pode ser interpretada como uma tentativa de repensar e reordenar
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
29
em termos piagetianos, o pensamento sociolgico produzido no decorrer do tempo. As
teorias sociolgicas clssicas e contemporneas representam para Habermas a gnese do
conhecimento das sociedades sobre si mesmas. Ao reorganizar esse saber, o autor identifica
reas de racionalidade comunicativa embutidas nos nichos do sistema. Apesar da
predominncia, nas modernas sociedades industriais, da razo instrumental, necessria para
assegurar a reproduo material do sistema, mas presente ilicitamente tambm nas reas da
organizao poltica e cultural da sociedade (mundo vivido), a razo comunicativa
sobrevive hoje, institucionalmente, na cincia organizada, nos parlamentos, tribunais etc.
psicognese correspondem, pois, a sociognese (processos evolutivos da sociedade) e a
gnese do conhecimento cientfico e crtico organizado (histria da cincia
institucionalizada). Nos trs processos o denominador comum o aprendizado, isto , a
capacidade crescente do sujeito, da sociedade e dos cientistas de lidar com os problemas
que enfrentam na realidade.
Esse ltimo pressuposto fundamental para elucidar a teoria da modernidade de Habermas.
Sem incorrer no erro de Durkheim, confundindo as sociedades reais com o ideal de
sociedade, mas evitando tambm o pessimismo ps-moderno la Lyotard, Habermas
defende a sobrevivncia da razo comunicativa no contexto societrio de hoje, exigindo a
institucionalizao do discurso (terico e prtico) em todos os nveis e em todas as reas da
sociedade, ou seja, a renegociao permanente, por parte de todos os membros da
sociedade, da verdade do saber acumulado e da validade das normas estabelecidas, assim
como da veracidade de todos o participantes do discurso.
A tica discursiva de Habermas uma das peas-chave desse projeto de radicalizao
democrtica. A questo da moralidade confunde-se aqui com a questo da democracia em
sua verso original: o debate pblico de todos os cidados da plis na gora.
Concluso
A moralidade, enquanto princpio que orienta a ao, permite vrias abordagens,
sugerindo um tratamento interdisciplinar. Neste ensaio, limitei-me a quatro: a abordagem
filosfica (Kant), a abordagem sociolgica (Durkheim), a abordagem psicogentica
(Kohlberg) e a discursiva (Habermas). A grade que orientou esta seleo e delimitou os
temas abordados foi o estruturalismo gentico de Piaget, que fornece os elementos para se
pensar adequadamente a questo em seu conjunto. O estruturalismo gentico se calca na
razo, inclui a sociedade na reflexo, reconstri a gnese do julgamento e considera
fundamental o discurso. Por isso, Piaget repousa em Kant, debate-se com Durkheim,
prepara o terreno para Kohlberg e antecipa a teorizao de Habermas.
Para Kant, a condio da possibilidade da moralidade o sujeito. Trata-se de um sujeito
livre, disposto a agir segundo certos princpios (mximas), concretizando fins
autodeterminados. Este sujeito dotado de vontade e razo. o sujeito moral do
imperativo categrico. Suas faculdades se concretizaro na formulao e no respeito de
uma lei geral e necessria que tem como valor ltimo e supremo a defesa da dignidade
humana. A questo da moralidade em Kant resume-se, pois, em trs postulados: existe um
sujeito moral; ele dotado de vontade e razo; e capaz de legislar para o mundo dos
costumes (sociedade) em defesa da dignidade do homem. Kant forneceu, assim, todos os
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
30
conceitos necessrios para pensar em termos contemporneos a questo da moralidade. Ao
distinguir entre razo prtica e razo terica, deixou claro que a razo prtica age no livre
mundo do fazer (Machbarkeit) a sociedade e que a razo terica reconhece um
mundo determinado a natureza. O sujeito epistmico complementa o sujeito moral; a
cincia necessria para sobreviver na natureza, a moralidade necessria para constituir a
sociedade. Cidado dos dois mundos (o natural e o social), o homem precisa defender-se no
primeiro e afirmar-se no segundo.
Para Durkheim, a condio da possibilidade da moralidade a sociedade. Isso pressupe a
obedincia do sujeito e sua subordinao s leis da sociedade vigente. Durkheim exige a
dissoluo do sujeito no social. A sociologia positivista elimina o sujeito (moral e
epistmico), suprime a razo prtica e socializa a razo terica. Elimina assim a idia da
factibilidade do mundo social e instaura a hegemonia da razo social estabelecida. A
sociologia, uma entre vrias cincias, conhece o mundo social com os mesmos
instrumentos com que a fsica e a matemtica conhecem o mundo natural. O reducionismo
positivista de Durkheim fatal para a questo da moralidade, representando um retrocesso
em relao ao que foi pensado por Kant, porquanto dissolve as fronteiras por ele
cuidadosamente delimitadas, transformando a questo da moralidade em uma questo
cientfica e educacional. Exorcizados os elementos perturbadores sujeitos dotados de
razo prtica e vontade de agir, imersos em um mundo factvel o mundo social
reduzido ao status quo, que se postula como expresso mxima da moral. Para o bem ou
para o mal, via educao ou punio, os indivduos so coagidos a subordinar-se lei geral
(moral), qual conferido estatuto de lei natural. A conscincia moral do indivduo o
reflexo da conscincia coletiva. A ao moral traduz o modo de sentir e agir da
coletividade. Apesar desse reducionismo, Durkheim apontou para um aspecto importante
da questo da moralidade: sua materializao nas estruturas societrias, sob a forma do
direito. Se Kant enfatizou o sujeito, Durkheim enfatizou a sociedade. Sem o sujeito, a
moralidade no existe; sem a sociedade, ela no necessria.
A condio da possibilidade da moralidade para o estruturalismo gentico a autonomia
moral, isto , a faculdade do sujeito de autonomizar-se das leis e normas que orientam a
ao do grupo e de agir e julgar segundo um princpio interior ideal. Este princpio no
dado a priori, fora da experincia, mas o resultado de um longo processo gentico. A
formao da conscincia moral autnoma em Piaget no o reflexo, no sujeito, de leis
sociais, mas um padro moral construdo e reconstrudo ativamente pela criana em sua
interao permanente com o grupo. A autonomia moral o resultado de uma psicognese
bem sucedida do sujeito. Para alcan-la, so mobilizados processos internos de maturao
e equilibrao e processos externos de transmisso cultural e educativa. A autonomia moral
resulta da experincia vivida e reorganizada permanentemente no interior da estrutura
mental. Ao mesmo tempo que se forjam os instrumentos de julgamento, so construdos os
princpios ideais, destilados das regras sociais que regulamentam a vida quotidiana no
grupo.
A condio da possibilidade da tica discursiva a inter-subjetividade a interao
mediatizada pela linguagem. A moralidade de Habermas dialgica em contraste com a de
Kant, monolgica. A moralidade habermasiana negociada no contexto da Lebenswelt
(mundo vivido) em oposio heteronomia imposta pelo sistema social de Durkheim; o
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
31
fruto de uma interao comunicativa que visa autonomia da espcie, complementando a
moralidade piagetiana, em que a autonomia resulta da psicognese. Se, por um lado, a
tica discursiva se define no contraste com a teoria da moralidade de Kant, Durkheim e
Piaget, ela pode, por outro lado, ser interpretada como um esforo de sntese dessas trs
teorias: kantiana ao aceitar a autonomia e a dignidade do homem como tlos da
moralidade, durkheimiana quando reconhece a importncia do social e piagetiana
quando admite que os princpios que orientam a ao moral no so inatos, mas objeto de
uma construo psicogentica.
ABSTRACT: Morality as a guiding principle for action allows for various approaches,
thus suggesting an interdisciplinary treatment of the problem. This essay focus on four of
such approaches: the philosophical (Kants), the sociological (Durkheims), the
psychogenetic (Kohlbergs) and the discoursive (Habermass) ones. The cleavage that
orients this selection and defines the themes for analysis is Piagets genetic structuralism,
which provides the necessary elements to adequately grasp the problem as a whole. Genetic
structuralism is based on reason, includes society in the reflexive process, recreates the
genesis of judgement and considers discourse as a fundamental element. Thus Piaget finds
support in Kant, takes Durkheim into account, sets the ground for Kohlberg and antecipates
Habermass theorization.
KEYWORDS: Morality: the philosophical, the sociological, the psychogenetic and the
discoursive approaches.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
DURKHEIM, mile (1895). Les rgles de la mthode sociologique. Paris, PUF, 1973.
_______. (1893). De la division du travail social. Paris, PUF, 1973.
_______. (1912). Les formes lmentaires de la vie rligieuse. Paris, PUF, 1968.
_______. (1925). Education morale. Paris, PUF, 1963.
_______. (1924). Sociologie et philosophie. Paris, PUF, 1967.
FREITAG, Barbara. Piaget: encontros e desencontros. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1985.
HABERMAS, Jrgen. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfur/M, Suhrkamp
Verlag, 1981-83, 3v.
_______. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt/M, Suhrkamp Verlag,
1983.
_______. Moralitt und Sittlichkeit. Treffen Hegels Einwnde gegen Kant auch auf
Diskursethik zu? In: KULMANN, Wolfgang, org. Moralitt und Sittlichkeit. Das
Problem Hegels und die Diskursethik. Frankfurt/M, Suhrkamp Verlag, 1986.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
32
KANT. Immanuel (1788). Kritik der praktischen Vernunft. Frankfurt/M, Suhrkarnp Verlag,
1977a, Werkausgabe VII.
_______. (1786). Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Frankfurt/M, Suhrkamp Verlag,
1977b, Werkausgabe VII.
_______. KOHLBERG, Lawrence. Stage and sequence: the cognitive-developmental
approach to socialization. In: GOSLIN, D.A. Handbook of socialization theory and
research. Chicago, Rand McNally College Publishing Co., 1969.
_______. Moral stages: a current formulation and a response to critics. New York, S.
Karger, 1983.
KOHLBERG, Lawrence & COLBY, Anne et alii. The measurement of moral judgement.
London, Cambridge University Press, 1987, 2v.
PIAGET, Jean (1923). Langage et pense chez lenfant. Neuchatel-Paris, Delachaux et
Niestl, 1976.
_______. (1924). Le jugement et le raisonnement chez lenfant. Neuchtel-Paris, Delachaux
et Niestl, 1971.
_______. (1926). La rprsentation du monde chez lenfant. Paris, PUF, 1976.
_______. (1932). Le jugement moral chez lenfant. Paris, PUF, 1973a.
_______. (1937). La naissance de lintelligence chez lenfant. Neuchatel-Paris, Delachaux
et Niestl, 1973b.
PIAGET, Jean & SZEMINSKA, A. La gnse du nombre chez lenfant. Neuchatel-Paris,
Delachaux et Niestl, 1962.
PIAGET, Jean & INHELDER, B. La gnse des structures logiques lmentaires.
Classifications et sriations. Neuchatel-Paris, Delachaux et Niestl, 1959.
_______. Le dvelopment des quantits physiques chez lenfant. Neuchatel-Paris,
Delachaux et Niestl, 1941.
PIAGET, Jean. Nature et mthodes de lpistmologie. In: PIAGET, Jean, org. Logique et
connaissance scientifique. Paris, Gallimard/Pliade, 1967.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
33
PRODUTIVIDADE E HUMANIDADES
MARILENA CHAUI
Conferncia apresentada na 40 Reunio
Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Cincia (SBPC), So Paulo,
12-6-88, na Mesa Redonda O Futuro da
Universidade Brasileira, sob coordenao
da Profa. Dra. Lygia Chiapinni Moraes
Leite.
Professora Titular do Departamento de
Filosofia da FFLCH-USP
RESUMO: O presente artigo examina criticamente a proposta de modernizao da
universidade brasileira. Ponto de partida a analise do termo improdutivos, aplicado
como alcunha desqualificadora queles que defendem a democratizao da universidade,
fato que anula a possibilidade do debate. Faz-se a distino entre dois modelos de
modernizao: um aplicvel s universidades ligadas s oligarquias locais (norte e
nordeste) e outro aplicvel s grandes universidades do sul do pas. A anlise do primeiro
modelo sugere que a proposta de transformao de universidades federais em unidades de
ensino tcnico-profissional acaba por alinh-las ainda mais s oligarquias locais. A anlise
do segundo modelo, mais sofisticado, sugere que a proposta modernizadora seria uma
tentativa de adaptar a universidade s exigncias atuais da racionalidade capitalista.
UNITERMOS: Universidade: modernizao, democratizao, produtividade,
humanidades, racionalidade, capitalismo.
Se indagarmos se h algum satisfeito com a universidade na sociedade contempornea e,
particularmente no Brasil, a resposta ser um sonoro no. Todavia, as insatisfaes no
so as mesmas para todos. As grandes empresas se queixam da formao universitria que
no habilita os jovens universitrios ao desempenho imediatamente satisfatrio de suas
funes, precisando receber instruo suplementar para exerc-las a contento. A classe
mdia queixa-se do pouco prestgio dos diplomas e de carreiras que lanam os jovens
diplomados ao desemprego e competio desbragada. Os trabalhadores manuais e dos
escritrios, bancos e comrcio queixam-se do elitismo das universidades, que jamais se
abrem o suficiente para receb-los e form-los, mantendo-os excludos das esferas mais
altas do conhecimento e das oportunidades de melhoria de condio de vida e trabalho. Os
estudantes se queixam da inutilidade dos cursos, da rotina imbecilizadora, das incertezas do
mercado de trabalho, da pouca relao entre a universidade e os problemas mais prementes
da sociedade. Os professores esto insatisfeitos com as condies de trabalho, de salrio, de
ensino e pesquisa, com a estupidez das mquinas burocrticas que cretinizam as atividades
universitrias, submetendo-as a rituais desprovidos de sentido e de fundamento, com o
autoritarismo das direes, a heteronomia dos currculos e as lutas mesquinhas pelo poder e
pelo prestgio. Diferentes, porque provindo de classes e grupos sociais diferentes, as
insatisfaes possuem um ponto em comum, isto , a inadequao da universidade seja face
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
34
ao mercado de trabalho seja aos anseios do conhecimento, seja face s exigncias sociais,
seja ao desejo de mudana de vida. Esse ponto comum, entretanto, no pode apagar as
diferenas, pois estas so socialmente determinadas e delas emanam diferentes perspectivas
sobre o sentido e os fins da universidade e, portanto, incidem diretamente sobre projetos
para sua reforma. E porque essas perspectivas so pontos de vista de classes sociais, no h
como evitar a percepo de seus antagonismos polticos tcitos. Basta, para isso, observar a
maneira como duas instituies caracterizaram a diferena entre a perspectiva dos que
defendem a modernizao da universidade e a dos que defendem sua democratizao.
Assim caracteriza a diferena o jornal O Estado de So Paulo: Os membros da
comunidade universitria no so aderentes implcitos ou explcitos de um pacto social
genrico, que justificaria uma igualdade de direitos e responsabilidades no que diz respeito
gerncia da instituio. A universidade tem uma destinao especfica, vinculada
conservao e ao crescimento do saber, que por si s lhe d uma caracterstica peculiar.
Professores e estudantes ocupam seus lugares como mestres e aprendizes, nos quadros das
atividades-fim da instituio, enquanto os funcionrios se ocupam, genericamente, das
atividades-meio. E entre os prprios professores h os que ainda so aprendizes (...) e os
que j atingiram uma posio ensinante indiscutvel, atestada, precisamente, pela prpria
idia de carreira universitria, baseada, ao menos idealmente, em competncia e
maturidade (Editorial de 9/12/80, cit. por Cardoso, 1987, p. 62).
Por seu turno, o GERES (Grupo Executivo para Reformulao da Educao Superior),
distinguindo entre universidade do conhecimento e universidade alinhada, caracteriza a
primeira como responsvel por um projeto modernizador, baseado nos paradigmas do
desempenho acadmico e cientfico, protegida das flutuaes de interesses imediatistas,
sem inviabilizar contudo sua interao com as legtimas necessidades da sociedade,
enquanto a segunda se caracteriza por atividades [que] so meios para atingir certos
objetivos polticos para a sociedade e cujos paradigmas so ditados no pelo desempenho
acadmico dos agentes, mas pelo grau de compromisso poltico-ideolgico com as foras
populares (cit. por Cardoso, 1987, p. 64).
Essas caracterizaes das diferenas de perspectiva possuem, elas tambm, um ponto em
comum, qual seja, fazem passar a diferena das posies conflitantes, entre o conhecimento
segundo paradigmas acadmicos e cientficos e o desinteresse pelo conhecimento segundo
esses paradigmas, na medida em que a universidade seria vista como meio para
compromisso poltico-ideolgico com as foras populares. Fazendo passar a diferena
por duas grandes abstraes o jornal contrape conservao e crescimento do saber e
pacto social genrico que justificaria uma igualdade de direitos e responsabilidades; o
GERES contrape paradigmas de desempenho cientfico e acadmico e compromisso
poltico-ideolgico com foras populares a caracterizao no nos explica o que seriam
os termos por ela empregados. Nem o pretende. A formulao do GERES, por exemplo,
no explica qual seria a diferena entre legtimas necessidades da sociedade e
compromisso poltico-ideolgico com foras populares. Estas no teriam necessidades
legtimas? Quem a sociedade onde necessidades das foras populares no seriam
legtimas? Mas, o que so foras populares? Essa caracterizao, cujos termos vem sendo
repetidos nos debates sobre a universidade, opera com vocabulrios diversos, encarregados,
porm, de manter a diferena no plano das designaes abstratas sem desenvolver-lhes o
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
35
significado. Essa abstrao opera de maneira muito precisa, pois o contraponto, sendo
estabelecido entre o saber e o compromisso poltico-ideolgico, os oponentes surgem na
cena previamente qualificados: alguns so srios, responsveis, produtivos e sbios
enquanto outros so ignorantes, irresponsveis, improdutivos e sabidos. Essa qualificao
prvia, na verdade, desqualifica um dos lados e anula o debate.
Se pretendemos reabrir o debate, precisamos abandonar as abstraes em que foram
lanados os oponentes e, para abandonar as abstraes, precisamos, antes de buscar o
significado dos termos, avaliar como e porque foram empregados. J observamos que o
motivo das designaes primariamente o de obter a desqualificao imediata de um dos
interlocutores, mas resta verificar o modo como isto feito. Sugiro que esse modo pode ser
esclarecido se tomarmos os termos desqualificadores como rtulos ou etiquetas ou como
aquilo que, em portugus mais castio, chamamos de alcunha. Os oponentes so
alcunhados de sabidos, populistas, assemblestas, corporativistas, irresponsveis, baixo-
clero incompetente. O que uma alcunha? Como opera? Por que parece aderir ao
alcunhado com a mesma fora e necessidade com que a cicatriz adere ferida curada?
A alculnha improdutivos
O assunto mais importante do que primeira vista parece. E to srio nos seus
resultados, como desprezvel nos processos de que se serve para atingi-los. Na maioria dos
casos so as alcunhas que governam o mundo. A histria da poltica, da religio, da
literatura, da moralidade e da vida particular de cada um, quase sempre menos importante
que a histria das alcunhas (...) As fogueiras de Smithfield eram atiadas com alcunhas, e
uma alcunha selava os portes do crcere da Santa Inquisio. As alcunhas so os talisms
e os feitios coligidos e acionados pela parcela combustvel das paixes e dos preconceitos
humanos, os quais at agora jogaram com tanta sorte a partida e realizaram seu trabalho
com mais eficincia do que a razo e ainda no parecem fatigados da tarefa que tem tido a
seu cargo. As alcunhas so as ferramentas necessrias e portteis, com as quais se pode
simplificar o processo de causar dano a algum, realizando o trabalho no menor prazo e
com o menor nmero de embaraos possveis. Essas palavras ignominiosas, vis,
desprovidas de significado real, irritantes e envenenadas, so os sinais convencionais com
que se etiquetam, se marcam, se classificam os vrios compartimentos da sociedade para
regalo de uns e animadverso de outros. As alcunhas so concebidas para serem usadas j
prontas, como frases feitas; de todas as espcies e todos os tamanhos, no atacado ou no
varejo, para exportao ou para consumo interno e em todas as ocasies da vida (...) O que
h de curioso neste assunto, que, freqentemente, uma alcunha sempre um termo de
comparao ou relao, isto , que tem o seu antnimo, embora alcunha e antnimo possam
ser ambos perfeitamente ridculos e insignificantes (...) A utilidade dessa figura do discurso
a seguinte: determinar uma opinio forte, sem ter necessidade de qualquer prova. uma
maneira rpida e resumida de chegar a uma concluso, sem necessidade de vos
incomodardes ou de incomodardes algum com as formalidades do raciocnio ou os
ditames do senso comum. A alcunha sobrepe-se a todas as evidncias, porque no se
aplica a toda gente, e a mxima fora e a certeza com que atua e se fixa sobre algum
inversamente proporcional ao nmero de probabilidades que tem de fixar-se sobre esse
algum. A f no passa de impresso vaga; a malcia e a extravagncia da acusao que
assumem a caracterstica da prova do crime (...) A alcunha outorga carta branca
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
36
imaginao, solta as rdeas paixo e inibe o uso da razo, conjuntamente. No se atarda,
cerimoniosamente, a diferenciar o que justo do que errneo. No perde tempo com
lentos desenvolvimentos de raciocnio, nem se demora a desmanchar os artifcios da
sofstica. Admite seja o que for, desde que sirva de alimento ao mau humor. instantnea
na maneira de agir. No h nada que possa interpor-se entre a alcunha e seu efeito.
acusao apaixonada, sem prova, e ao destituda de pensamento (...) Uma alcunha uma
fora de que se dispe quase sempe para fazer o mal. Veste-se com todos os terrores da
abstrao incerta e o abuso ao qual se encontra exposta no limitado seno pela astcia
daqueles que as inventam ou pela boa f daqueles a quem inferiorizam. Trata-se de um
recurso da ignorncia, da estreiteza de esprito, da intolerncia das mentes fracas e vulgares,
que aflora quando a razo fracassa e que est sempre a postos para ser aplicado, no
momento oportuno, com o mais absurdo dos intuitos. Quando acusais especificamente uma
pessoa, habilitais, dessa maneira, a referida pessoa a defrontar vossas acusaes e a repeli-
las, se o acusado julgar que vale a pena perder seu tempo com isso; mas uma alcunha
frustra todas as rplicas, pelo que h de extremamente vago no que dela se pode inferir; e
imprime crescente intensidade s confusas, obscuras e imperfeitas noes pejorativas em
conexo com ela, pelo fato de carecer de qualquer base slida sobre a qual se fundamente
(...) Uma alcunha traz consigo o peso da soberba, da indolncia, da covardia, da ignorncia
e tudo quanto h de ruim na natureza humana. Uma alcunha atua por simpatia mecnica
sobre os nervos da sociedade. Pela simples aplicao de uma alcunha, uma pessoa sem
dignidade pode levar a melhor sobre a reputao de qualquer outra, como se no
molestando sujar os dedos, devssemos sempre atirar lama sobre os outros. Haja o que
houver de injusto na imputao, ela persistir; porque embora para o pblico seja uma
distrao ver-vos difamados, ningum ficar espera de que vos limpeis das manchas que
sobre vs foram lanadas. Ningum escutar vossa defesa; ela no produz efeito, no conta,
no excita qualquer sensao, ou sentida apenas como uma decepo a perturbar o triunfo
obtido sobre vs. Esse longo trecho foi extrado de um delicioso ensaio do ingls William
Hazlitt (1778-1830), intitulado A propsito de alcunhas.
Por que me pareceu interessante comear pelas alcunhas? Porque, alm do exposto por
Hazlitt, preciso apanhar o movimento pelo qual uma alcunha gera outra e dispomos de um
exemplo to vivo desse movimento que vale a pena mencion-lo antes de prosseguirmos
em busca do sentido dos termos empregados nas discusses universitrias. A alcunha
corporativismo populista irresponsvel e a alcunha sabidos desembocaram numa outra,
a dos improdutivos que, no caso da USP, foram expostos opinio pblica por um jornal
de So Paulo, com material oferecido pela reitoria da universidade. No cabe aqui
recapitular o episdio. Cabe, porm, recordar o movimento que a ele conduziu, porque esse
movimento continua em curso na USP.
De modo indireto, a Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da USP recebeu
uma resposta a indagaes que fizera durante o episdio e que haviam permanecido
irrespondidas. O que fora perguntado? Perguntara-se quais os critrios que definem e regem
a avaliao dos professores, o que se entende por produo e produtividade, qual a medida
que permite identificar produo e publicao? Sobretudo, perguntava-se qual o critrio de
confeco de listas nas quais constavam nomes de professores com publicaes, pois, se
estas forem o critrio da produo acadmica, ento, incompreensvel, por esse mesmo
critrio, a presena numa lista de improdutivos daqueles que publicaram textos. Foi esta a
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
37
indagao que recebeu resposta indireta e, por meio dela, podemos obter as respostas s
outras perguntas. Como obtivemos a resposta indireta? Recebendo ordem de enviar
reitoria da USP, por intermdio do Servio Inter-Bibliotecas, listas de trabalhos publicados
em 1987.
O que essa ordem indica? Em primeiro lugar, que apesar das crticas feitas aos
procedimentos da universidade, que culminaram na publicao da lista dos improdutivos,
e apesar dos pedidos de esclarecimentos sobre o fato e a recusa da direo universitria em
fornec-los, a reitoria da USP no s possui critrios de avaliao, mas os conserva em
segredo. Ora, no mundo contemporneo h apenas dois tipos de segredo: o segredo
empresarial, para fins competitivos, e o segredo militar, para fins blicos. No sendo a
universidade uma empresa nem um complexo militar, mas uma instituio pblica
destinada criao de conhecimentos e sua transmisso pblica, por que razo suas
direes mantm secretos critrios de avaliao que deveriam ser duplamente pblicos;
pblicos, enquanto do conhecimento dos avaliados; e pblicos, enquanto informao
oferecida sociedade? Se so secretos porque tm finalidade competitiva distribuio
de recursos para ensino e pesquisa e finalidade blica destruio dos oponentes que
desconhecerem as regras do jogo. Mas, em segundo lugar, essa ordem foi, no final das
contas, reveladora. Com efeito, alguns professores fizeram relatrios de atividades e os
encaminharam aos chamados rgos competentes deles recebendo a declarao de que os
relatrios eram incompetentes, pois no preenchiam os requisitos estabelecidos pelo
computador. Este, ao que tudo indica, teria tido profunda crise de rejeio ao receber o
indigesto alimento docente. Os inputs e outputs parecem ter tido uma formidvel crise de
vmito. O computador vomitou resenhas, prefcios, introdues, edies crticas,
tradues, artigos em coletneas. Por que os teria vomitado? Porque esses textos no
podem ser listados sob o nome de seus autores e sim sob o dos objetos do trabalho. Assim,
resenhas, prefcios, tradues, edies crticas, introdues devem vir sob o nome do
resenhado, traduzido, prefaciado, introduzido. Se se tratar de artigos em coletneas, viro
sob o nome do organizador da dita cuja.
Vejamos os curiosos resultados. Suponhamos que um de ns tenha escrito uma introduo
obra de um poeta alemo do sculo XIX, ou escrito um prefcio obra de um romancista
brasileiro contemporneo, sem vnculos com a universidade, ou resenhado o livro de um
filsofo holands do sculo XVII, ou feito a edio crtica de um ensasta brasileiro do
sculo XIX, ou, tendo participado de um colquio na PUC-Rio, teve seu texto publicado
pelos organizadores do colquio. Que acontecer com essas publicaes no catlogo de
produtividade da USP? Nele sairo como produtores uspianos o poeta alemo, o filsofo
holands e o ensasta brasileiro de h muito falecidos; o romancista brasileiro sem vnculos
com a USP e os colegas da PUC-Rio, organizadores da coletnea com os textos do
simpsio. A lista de produtividade da USP, alm de imbecil, pois no mediria aquilo que
pretende medir as publicaes de seus membros pode ser at ilegal ou criminosa, pois
faz constar de seus trabalhos obras que no foram produzidas nela nem sob sua
remunerao ou sob seu financiamento. Qual o efeito desse belo catlogo da produtividade?
O reforo da alcunha de improdutivos, que passa a ser feed-back de si mesma ao receber
o feed-back dos inputs outputs do computador (e haja onomatopia para designar tudo
isso...).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
38
No basta, porm, ficarmos com as crises nervosas do computador, pois algum o
programou para to espetacular performance. Se conseguirmos captar o que move a
programao, teremos um primeiro fio para desmanchar o novelo da alcunha
improdutivos.
O primeiro aspecto que impressiona nesse procedimento o desinteresse de quem mede e
avalia pelo que os prprios universitrios passam entender por medida e avaliao. Em
particular, merece ateno, o deslizamento da noo controvertida de produo para a de
produtividade e a identificao entre esta ltima e a quantidade de publicaes,
deslizamento incompreensvel quando se leva em conta a multiplicidade de atividades que
os universitrios realizam e das quais a publicao a menos apta medida, uma vez que
os autores esto sujeitos ou s decises do mercado editorial ou s dificuldades e lentido
das editoras universitrias.
Assim, o primeiro trao da medida e da avaliao via catlogo de publicaes a
heteronomia, uma vez que suas regras no indicam o que pesquisadores e autores
consideram critrios e finalidades de seu prprio trabalho. Como decorrncia, o segundo
aspecto que chama a ateno a confuso entre qualidade e quantidade, acarretando dois
problemas graves: em primeiro lugar, retira dos autores o direito de julgar o que merece ser
publicado, em nome do quanto cada um deveria publicar; em segundo lugar, prepara a
situao grotesca do mercado editorial encontrada em pases ditos avanados, nos quais a
massa de publicao de inutilidades e cretinices corresponde imbecilizao a que foram
lanados os docentes na corrida pelos postos. Mas o terceiro aspecto o que mais importa,
uma vez que subjaz aos anteriores. De onde vem a curiosa idia de listar publicaes
segundo os padres que acabamos de mencionar? Do fato de que, em universidades onde os
pesquisadores competem por verbas e recursos para pesquisa sob a tutela de medalhes e
mandarins que sabem competir por elas, os ttulos dos trabalhos devem vir sob o nome
desses figures, pois so eles que obtm os recursos. O critrio da nomenclatura dos
catlogos articula-se a sistemas de poder, prestgio, clientela, barganha e favor nas
universidades e entre elas e agncias financiadoras de pesquisas.
A heteronomia imposta aos universitrios, que deixam de definir as regras de seu trabalho,
caracteriza aquilo que, noutro contexto, designei como ideologia da competncia. Nesta,
alm de haver substituio da competncia real daqueles que realizam os trabalhos pela
competncia imaginria daqueles que comandam o processo, ainda ocorre um deslizamento
propriamente ideolgico, encarregado de justificar tal substituio. Esse deslizamento
consiste na tese, ora implcita, ora explcita, de que quem detm o poder detm o saber e
quem detm o saber detm o poder. Os que so supostos saber aparecem como tendo
imediata e automaticamente direito a comandar os que so supostos no saber, reduzidos
estes ltimos condio de meros executantes de tarefas cujo princpio, cujo sentido e cuja
finalidade lhes escapa. A ideologia da competncia, que marca a dominao no processo de
trabalho industrial e no tercirio, o apangio do poder burocrtico.
Ora, direis, a maioria dos que criticaram o populismo irresponsvel dos sabidos
improdutivos tambm criticaram a burocracia e propuseram que a modernizao da
universidade no se confundisse com o democratismo dos ignorantes nem com a tirania dos
burocratas. Muitos deles no propuseram que os prprios universitrios definissem as
regras do jogo, criassem um poder acadmico que exprimisse a competncia real e
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
39
garantisse a autonomia universitria? Sem dvida. Resta, porm, que ainda no analisamos
os antnimos da alcunha improdutivo e da alcunha sabido.
Poltica da terra arrasada
Aqui, preciso distinguir o tratamento dado s universidades brasileiras pelos vrios
projetos de modernizao que pretendem cortar as asas dos improdutivos e dos
burocratas. Se o GERES distingue entre universidades do conhecimento e universidades
alinhadas, se o jornal O Estado de So Paulo distingue entre competncia e maturidade
dos que fizeram a carreira universitria pelo mrito e os que pretendem tumultuar a
ordem pelo aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, outros projetos
contrapem o poder acadmico legtimo, fundado em critrios de competncia real e de
reconhecimento inter-pares, e o populismo corporativista dos incompetentes, cujos traos
principais seriam: o mito da inseparabilidade entre ensino e pesquisa, o mito da igualdade
de interesses, vontades e direitos das trs categorias que compem o corpus universitrio, o
mito da participao direta, bloqueando prticas democrticas de representao, o mito da
relao direta com os pobres e oprimidos, o mito da ruptura voluntarista com as leis de
bronze do mercado, o mito da universidade como templo do saber e dos intelectuais como
intrpretes da realidade, em nome da verdade e da justia.
Os discursos da modernizao no so, pois, idnticos. Resta saber se a diferena entre eles
to grande como aquela que os separa dos oponentes, j desqualificados pelas alcunhas.
Para tanto, precisamos regressar ao tratamento diferenciado que recebem as vrias
universidades do pas. Aqui, o projeto GERES e os de outras provenincias possuem um
aspecto comum que passarei a desenvolver sob a designao de Poltica da Terra Arrasada.
Num dos projetos de modernizao, a proposta de tratar de maneira diferenciada as
universidades inspira-se numa comparao com os objetos tcnicos contemporneos: o
objeto tcnico fordista caracterizar-se-ia por sua generalidade excessiva, de modo a ser
empregado nas mais diversas situaes, sendo por isso um objeto limitado e pouco
malevel ou flexvel; o objeto tcnico ps-fordista pequeno, ajustado s necessidades
prprias e especficas dos usurios; assim tambm com a universidade, isto , em lugar de
um grande modelo geral e pouco flexvel s necessidades locais, mais valem pequenos
modelos, ajustados a seus usurios locais ou regionais. Nessa perspectiva dos pequenos
modelos eficientes, as universidades federais e particulares do norte e nordeste do pas no
podem ser tratadas segundo o mesmo modelo das universidades federais do centro-sul e das
universidades estaduais de So Paulo. Que tratamento devero receber? O da modernizao
eficaz que as torne compatveis com as demandas locais e regionais (desde que estas,
evidentemente, no sucumbam ao populismo, ao aliciamento das classes de baixo poder
aquisitivo, aos compromissos poltico-ideolgicos com as foras populares,
encenao poltica de certas demandas num cenrio cuja reestruturao no pode atend-
las).
Embora o ponto de partida do argumento seja a necessidade de flexibilidade e de
ajustamento s necessidades locais, seu pressuposto no este e sim a crtica do modo pelo
qual a ditadura implantou em todo o pas as universidades federais, para satisfazer aos
interesses de oligarquias locais e regionais. A crtica da implantao mostra como essas
universidades se tornaram cabides de empregos e lugar de trfico de influncias, do ponto
de vista dos dirigentes, e centros de populismos esquerdistas, religiosos e corporativistas,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
40
do lado dos docentes e estudantes. Como resolver essa situao? O pequeno modelo eficaz
que designo como poltica da terra arrasada prope a eliminao dessas universidades
como centros de ensino superior e de pesquisa e a sua converso em cursos avanados de
segundo grau e de formao tcnico-profissional.
Em minha opinio, o diagnstico bastante correto da situao dessas universidades no leva
medicina correta de seus males. Qual o equvoco da proposta? No tocar na raiz do
problema e sim em seus efeitos de superfcie. A raiz do problema o vnculo interno entre
universidade e oligarquia local e, em vez de quebrar esse vnculo, a proposta passa ao largo
dele e termina por refor-lo. De fato, imaginando que a eliminao dessas universidades
do quadro do ensino superior e da pesquisa seria estabelecer o desprestgio delas e quebr-
las como instrumentos de poderio das oligarquias locais, a proposta comete dois enganos:
1) supe que as oligarquias locais tenham algum compomisso com o ensino e a pesquisa,
com a produo de cultura e com as necessidades sociais de suas regies. Ora, essas
oligarquias tem compromisso apenas com seu poderio, usam as universidades nas disputas
locais de poder e prestgio e isto continuaro a fazer quer as universidades sejam
universidades quer sejam cursos avanados de segundo grau e de formao tcnica. Alis, o
projeto da universidade para a zona leste da cidade de So Paulo o melhor exemplo desse
fato, sem que precisemos ir ao norte e ao nordeste do pas para observ-lo. Assim, a
proposta no trar o menor prejuzo para as oligarquias conflitantes e sim para docentes e
estudantes da regio. Mais do que isto. Como sero professores e alunos os desprestigiados
e enfraquecidos, isto simplesmente reforar o poderio oligrquico sobre as universidades;
2) supe que os conflitos entre direes universitrias e corpo universitrio (professores,
estudantes e funcionrios) conflito entre poltica regional e interesses corporativos. Esse
equvoco redunda em dois outros, tambm graves. Em primeiro lugar, no se pergunta se o
aspecto ou a aparncia corporativa no esconderia algo essencial, mesmo que aparecendo
de modo equivocado. Em outras palavras, num pas como o Brasil, onde a sociedade civil
extremamente fraca, onde as regras das relaes sociais so autoritrias e fundadas em
normas de tutela, favor, clientela e barganha, o que aparece como corporativismo no seria
o esforo real de grupos e camadas sociais para fazer valer direitos, interesses e vontades
prprios? Em lugar de desqualificar os oponentes sob a alcunha do corporativismo, no
seria mais interessante indagar o que se esconde sob tal aparncia? Cuidado terico e
poltico que no insignificante, pelo menos por uma razo, qual seja, o conceito de
corporao polivalente: designa uma instituio histrica peculiar, a comunidade
profissional fundada na confidatio e na conjuratio, isto , em relaes de igualdade no seio
de formaes sociais altamente hierarquizadas fundadas no princpio aristocrtico do
sangue e da famlia ou linhagem (como as sociedades feudais, onde pela primeira vez
surgiram as corporaes) e no seria demais lembrar que aquilo que viria a ser conhecido
como sociedade civil, na formao capitalista, deita razes nessas corporaes, assim como
muitas delas foram responsveis, do ponto de vista cultural, pelo que chamamos de
Humanismo Cvico e, do ponto de vista poltico, daquilo que chamamos de Reforma
Radical; designa tambm um tipo de reunio por categoria profissional, fechada sobre si,
para defesa de seus interesses particulares contra o restante da sociedade e no por acaso
que na terminologia das cincias sociais anglo-americanas o termo corporation designe as
grandes empresas monopolistas ou oligopolistas, o que significa que o termo tanto pode
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
41
designar reunio de profissionais ou de trabalhadores, quanto a organizao dos
empregadores, dos capitalistas ou patres; finalmente, o termo designa a forma pela qual o
fascismo pretendia organizar a sociedade integral neutralizando as classes sociais e suas
contradies pela imposio da colaborao pacfica entre o capital e o trabalho, graas
distribuio profissional dos membros da sociedade, ocultando as divises sociais por meio
das clebres pirmides profissionais cujo topo era o estado total. Sem dvida, os que
empregam o termo sob a forma da alcunha corporativista tendem a us-lo na acepo
fascista ou na acepo do esprit de corps auto-referido. Resta saber se assim que os
alcunhados concebem suas idias e prticas e se o leque de significaes do termo no
sugeriria cautela no seu emprego.
Dissemos serem dois os equvocos. O segundo deles decorre, afinal, da prpria alcunha. De
fato, na medida em que esta desqualifica de antemo professores, estudantes e funcionrios
dessas universidades, os interlocutores da proposta s podero ser os que no foram
desqualificados e, portanto, as direes universitrias reitores, vice-reitores e pr-
reitores isto , justamente aqueles que fazem parte das oligarquias locais ou so seus
prepostos nas universidades. Alis, a proposta no poderia ter outra conseqncia por que
trabalha com um conceito oligrquico, o conceito de elite. Embora os proponentes pensem
em elites acadmicas, definidas por critrios de ensino e pesquisa, definem de antemo seus
interlocutores como um grupo destacado da massa universitria. E essa escolha, no fim
das contas, vem reforar a poltica da terra arrasada. Por que?
Muitos dos defensores dessa poltica a defendem a partir de duas constataes. A primeira
delas a maneira como alguns dos opositores proposta tendem a defender a
democratizao universitria suprimindo a carreira docente por concursos e ttulos,
aceitando que seja estabelecida pelo critrio que rege todo o funcionalismo pblico, isto ,
o tempo de servio. A segunda constatao a existncia de reitores, vice-reitores e pr-
reitores que no possuem sequer o mestrado. Ora, em lugar de discutir com os opositores os
enganos da carreira universitria por tempo de servio e, diga-se de passagem, so
poucos os que defendem tal idia , os proponentes tomam como interlocutores a cpula
universitria que, justamente, no costuma ser constituda por professores portadores de
ttulos e credenciais acadmicos pela boa e simples razo de que no so estes os critrios
que presidem sua escolha pelas oligarquias e pelo Ministrio da Educao. Assim, quando
se critica o corporativismo populista por que este favoreceria a escolha (via eleio
direta) dos no credenciados academicamente para os postos de direo, a crtica
simplesmente cai no vazio, mesmo porque, no caso dos universitrios escolherem esse tipo
de direo que seria do mesmo tipo da escolhida pelos mandantes polticos , haveria
pelo menos uma diferena: o eleito, enquanto representante, precisaria dirigir a
universidade segundo as exigncias de seus representados. O mais importante, porm, que
a proposta mencionada, tomando como interlocutores pessoas cuja vinculao com o
trabalho universitrio duvidosa ou frgil, e fazendo dessas pessoas os indicadores da
situao do corpo docente como um todo, uma proposta que refora justamente o poder
desse tipo de direo universitria. Numa palavra, a poltica da terra arrasada favorece a
destruio das universidades em questo porque toma como parmetro exatamente aqueles
para os quais a universidade no importa enquanto ensino e pesquisa, mas apenas enquanto
centro de poder, prestgio e trfico local de influncia. O rebaixamento do corpo docente e
discente , alis, bem-vindo para essas direes que no se sentiro ameaadas em seus
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
42
propsitos. Vinda do alto e a partir do conhecimento do que se passa no alto, a proposta
acaba tendo um teor autoritrio, pois ignora um outro caminho para essas universidades,
caminho que lhes seria sugerido se ouvissem as exigncias e as propostas dos professores e
estudantes envolvidos.
Como o pequeno modelo poderia ser um verdadeiro servio a essas universidades? Para
tanto, teria bastado que as discusses no se travassem apenas no Ministrio da Educao,
em comisses e grupos de reitores e pr-reitores, nem mesmo na ANDES e nas ADs, mas
em cada universidade, com seus membros. Estes, a experincia o tem mostrado, possuem
crticas severas s suas universidades, tanto no plano dos currculos e das contrataes e
carreiras, como no plano global do ensino e da pesquisa, tm propostas de reformulao
curricular, de carreira, de estatutos e regimentos, para programas integrados com outras
universidades, para sistema de bolsas e de viagens, para distribuio de recursos a
bibliotecas e laboratrios, para convnios com fundaes de pesquisa e sobretudo para a
renovao dos padres de ensino e do recrutamento dos quadros docente e discente. Muitas
dessas universidades abrigam conflitos, sobretudo nas humanidades, acerca da destinao
das pesquisas, havendo aqueles que optam por uma dimenso mais universalizadora dos
conhecimentos e aqueles que consideram que ensino e pesquisa devem estar voltados
exclusivamente para os problemas estritamente locais. Seria um enorme servio discutir
com esses professores, em lugar de aumentar seus conflitos e jog-los no vazio com a
proposta de universidade de segundo grau avanado e formao tcnico-profissional para
demandas imediatas do mercado local. Para usarmos a linguagem do GERES, essa proposta
a de uma universidade alinhada, s que com as oligarquias locais como sempre foi o
caso, desde sua implantao.
A modernizao da Universidade
Vejamos, agora, o pequeno modelo para as demais universidades (particularmente as do
centro-sul do pas e as estaduais de So Paulo) e que poderemos designar como o modelo
da modernizao propriamente dita. Antes de examin-lo, porm, proponho fazermos um
pequeno desvio. Considera a proposta que as universidades do centro-sul, por sua histria,
tradio, organizao e massa crtica, equiparam-se s suas congneres internacionais,
embora estejam defasadas com relao a estas ltimas, a modernizao visando justamente
a superar a defasagem. O desvio que proponho verificar brevemente como universitrios
europeus e norte-americanos descrevem a situao de suas universidades. No dia 19 de
fevereiro de 1988, um artigo do jornal Le Monde (p. 10, seo Education) trazia como
ttulo: Le rapport Durry met en lumire la dgradation de la condition des universitaires.
O contedo assemelhava-se a uma descrio das condies de vida e trabalho dos
universitrios brasileiros, porm com duas diferenas: em primeiro lugar, tratava-se de um
relatrio feito por encomenda do ministro da educao, Jacques Vallade e, portanto, de uma
viso oficial sobre as condies universitrias tecida com denncias que, no Brasil, so
feitas pelos universitrios e postas em dvida pelos governantes; em segundo lugar, tratava-
se de um relatrio que pretendia ultrapassar simples reivindicaes corporativas da
comunidade universitria francesa, fazendo um balano crtico com previso dos
acontecimentos no prximo sculo, portanto, aceitando distinguir reivindicaes imediatas
dos professores e exigncias reais para a preservao do ensino universitrio a longo prazo,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
43
numa atitude exatamente oposta opinio oficial brasileira que designa como corporativas
as posies de professores preocupados com o presente e com o futuro da universidade.
Alm dos dados sobre carreira, salrios, condies de vida e de trabalho evaso dos
melhores rumo ao mercado privado, deteriorao dos recursos para ensino e pesquisa, o
relatrio Durry tem a peculiaridade de, em instante algum, falar na necessidade da
modernizao da universidade. De fato, no s o termo modernizao possui um leque
semntico bastante amplo para ser reduzido a uma nica concepo, como, sobretudo o
relatrio deixa muito claro que os problemas do trabalho universitrio no se deixam
apanhar com clareza quando tratados sob a gide de uma nica concepo de modernidade.
Esse relatrio tem para ns, sobretudo da USP, especial importncia por que, entre ns,
considera-se que um impulso srio foi dado reforma universitria com a visita e as
palestras do professor Laurent Schwarz, para quem a chave dos problemas da universidade
francesa (e, por tabela, da universidade brasileira) est na modernizao (Cf. Schwarz,
1984). Qual a principal diferena entre o relatrio Durry e a concepo de Laurent
Schwarz? O primeiro apresenta-se sob a perspectiva das dificuldades e misrias do trabalho
universitrio, enquanto o segundo se oferece sob a perspectiva da produtividade acadmica,
a partir dos critrios de produo e rendimento estabelecidos pela organizao empresarial
do trabalho.
O relatrio Durry indaga como transformar a universidade para que nela haja criao
cultural rigorosa e transmisso de conhecimentos sociedade. A concepo de Laurent
Schwarz, pelo menos o que dela restou entre ns, enfatiza a necessidade de adaptar a
universidade ao ritmo, ao tempo e s exigncias da sociedade industrial e da ps-industrial,
isto , ao universo da informao eletrnica.
O nmero 71 da primavera de 1987 da revista norte-americana Telos traz uma alentada
discusso da universidade norte-americana, transcrico de um debate entre Luke, Piccone,
Siegel e Taves. Seu ttulo: The Crisis in Higher Education. Aqui, a nfase colocada sobre
duas situaes histricas norte-americanas, o New Deal dos anos 40 e 50 e a gerao 68,
isto , sobre o momento da grande iluso do american way of life e o do declnio do
imprio americano. E, em ambos, ressalta a cumplicidade da esquerda naquilo que um dos
debatedores chama de banalizao e cretinizao da vida acadmica.
No caso do New Deal e isto nos interessa de perto estabeleceu-se uma relao entre a
poltica do estado de bem-estar social e as cincias humanas, particularmente as cincias
sociais, a economia e a psicologia que se constituram como disciplinas especficas e como
profisses novas, a servio do controle social pelo estado e pelas grandes empresas (as
relaes industriais e a gerncia cientfica). A universidade passa a relacionar-se direta e
imediatamente com o estado e as empresas na qualidade de agentes financiadores de
pesquisas e de formao de pessoal tcnico, recolhendo para seu uso polticas sociais e
gerenciamento empresarial os resultados de trabalhos universitrios. Esse vnculo, que,
talvez, na perspectiva do GERES corresponda s necessidades legtimas da sociedade,
fez com que o fim do New Deal e sobretudo o advento do reaganismo como falncia do
welfare state lanasse as cincias sociais, a economia, a psicologia ao vazio intelectual,
acadmico e poltico e pusesse a descoberto algo que a suposio da cientificidade havia
ocultado, isto , que o que se supunha serem teorias cientficas criadoras de novos objetos
de estudo no eram seno respostas a exigncias determinadas postas pelo estado e pelas
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
44
empresas. Descoberta clara no s quando os objetos e conceitos supostamente cientficos
entraram em desuso, mas tambm quando se viu o movimento da cincia poltica rumo ao
setor de relaes pblicas da indstria poltica e do chamado mercado poltico, isto , a
inveno de objetos de pesquisa que duraro apenas enquanto durar o sistema eleitoral
norte-americano.
nesse contexto que os debatedores examinam os resultados de 1968 e o fenmeno do ps-
modernismo. Embora divergindo no balano da dcada de 60, os debatedores salientam
alguns traos da gerao meia-oito responsveis pela banalizao universitria. Aquela
gerao, mergulhada em critrios da psicologia social, identificou igualdade (tanto no
sentido liberal de igualdade de oportunidades quanto no sentido socialista de igualdade de
condies) com qualidade do trabalho intelectual, banalizando a atividade terica,
banalizao agravada pela adoo, por uma parte da esquerda, do althusserianismo.
Enquanto uma parte dos universitrios fez da pequena psicologia o critrio da vida
universitria, outra parte fez do modelo fundamentalista althusseriano (a explicao
imanente de textos) instrumento poderoso para bloqueio de discusses e crticas. Os
primeiros reduziram a vida universitria a querelas afetivas; os segundos, ao autoritarismo
da verdade textual. E como os primeiros foram enviados como professores ao primeiro e
ao segundo grau, fizeram destes a rplica da pequena psicologia universitria. Os farrapos
da gerao meia-oito deram numa nova gerao universitria, no final dos anos 70 e da
dcada de 80, isto , os ps-modernos e os yuppies, cujos traos mais marcantes so: no
lugar da tentativa inicial do ps-modernismo de criticar o ideal de universalidade da
Ilustrao, o ps-modernismo universitrio a queda num tipo peculiar de particularismo
extremo, isto , a passagem da pequena psicologia social ao narcisismo (o mundo o que
vejo de minha janela e os problemas do mundo so os meus, em escala ampliada); a
passagem da banalizao autoritria de estilo althusseriano ao cretinismo intelectual, isto ,
a luta enlouquecida por cargos, postos e ttulos, a asceno social via academia, a
publicao desenfreada de todas as pequenas idias, desde que envolvidas em vocabulrio
esotrico, a reduo da pesquisa insignificncia (por exemplo, historiadores pesquisando
a taxa de casamentos em Grenville entre junho de 1887 e junho de 1888) ou inveno de
conceitos capazes de durar no mais do que uma estao do ano, mas suficientes para
garantir bom emprego e muitas citaes em notas de rodap.
Quanto s chamadas grandes escolas ou grandes universidades, nelas o que aconteceu com
as cincias humanas incidiu tambm nas cincias exatas e naturais, mas noutro ritmo, ou
seja, enquanto as primeiras foram, desde o incio, absorvidas pelo estado e pelas empresas,
via New Deal, as segundas sofreram essa absoro a partir do final da segunda guerra
mundial, quando se tornaram instrumentos do grande complexo industrial-militar. A cada
impacto geopoltico leste-oeste a guerra fria, o lanamento do Sputnik, a crise do
petrleo, a corrida dos msseis o setor das cincias recebeu financiamentos e recursos
incalculveis para atender s necessidades do imprio. Todavia, e isto tambm nos interessa
de perto, duas alternativas abriram-se para o setor. Numa delas, praticada pelas
universidades menores, as direes universitrias se tornaram empresariais, vendendo
prdios, laboratrios, departamentos inteiros com seus colegiados e faculdades com suas
congregaes, a empresas de tecnologia de ponta, sobretudo japonesas e as financiadas
pelos rabes esto conscientemente tornando suas universidades atraentes para jovens
gerentes e empresrios, alojando-as numa estratgia global de produo informatizada de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
45
tecnologia de ponta (Luke et alii, 1987, p. 29). A segunda alternativa, praticada sobretudo
pelas grandes universidades, consiste em fechar setores inteiros de pesquisa, deixando que
fiquem diretamente a cargo de empresas e das foras armadas.
Esta segunda alternativa, como observou Butor, numa conferncia proferida na USP em
1984 e publicada no nmero comemorativo dos 50 anos da USP pela revista Lngua e
Literatura, com o ttulo As metamorfoses da universidade, aquela seguida pela maioria
das universidades europias, ao aceitarem a crtica de que as universidades eram perigosos
focos de agitao poltica (como pensa o GERES) e estavam desadaptadas s exigncias do
complexo industrial-militar e s condies da sociedade ps-industrial. Butor examina os
riscos para a universidade e para os conhecimentos dessa alternativa: Este ensino
especializado no exrcito ou na empresa leva uma considervel vantagem, por saber a quem
formar, de quem se tem necessidade e quais os cargos a preencher. Pode-se, portanto,
formar pessoas especialmente para esses cargos e, conseqentemente, evitar-se
completamente o problema do desemprego universitrio (...) Assim, temos nas foras
armadas e nas companhias privadas no s um ensino que chega, em certas reas, a um
nvel comparvel aos das universidades, como tambm uma pesquisa que pode ser uma
pesquisa avanada (...) Verifica-se imediatamente o defeito desse tipo de ensino: que est
to adaptado situao que nos prope uma imagem realmente assustadora da sociedade.
Se sabemos qual exatamente o nmero de instrumentos humanos necessrios para que a
mquina administrativa, industrial ou militar continue a funcionar, essa mquina no pode
mais mudar. Vamos ajustar pessoas para coloc-las em postos totalmente pr-estabelecidos.
Assim, o sistema de ensino atual pode propiciar satisfao num certo contexto poltico, mas
culminar numa sociedade conservadora, de corporaes e castas, dispostas verticalmente
uma ao lado das outras (Butor, 1981 4, p. 181-3). Butor ilustra suas consideraes com
o exemplo das grandes empresas japonesas, organizadas como pequenas sociedades
fechadas e completas.
Todavia, o aspecto mais importante, destacado por Butor, refere-se situao da pesquisa.
Os complexos militares e empresariais so unidades de pesquisa fundadas no segredo e na
competio blica e de mercado , de sorte que nelas o resultado das pesquisas
confiscado: no s outros pesquisadores os ignoram, mas tambm no podem ser
divulgados atravs do ensino. Eis por que, diz o autor, em lugar de acoplar as universidades
ao complexo militar-industrial ou ps-industrial, preciso fazer exatamente o contrrio, se
quisermos que ensino e pesquisa no se separem, se quisermos que pesquisas e seus
resultados sejam debatidos publicamente e se quisermos que a sociedade no s usufrua dos
resultados, mas sobretudo conhea os destinos dos fundos pblicos com que financia as
pesquisas. Ora, no interessante que os defensores da reforma das universidades
brasileiras do centro-sul declarem que o corporativismo apangio dos sabidos e que estes
querem a todo custo manter o mito da inseparabilidade do ensino e da pesquisa? A darmos
crdito aos debatedores de Telos e a Butor, exatamente o contrrio que poderia ser dito,
isto e, que o conservadorismo de estilo corporativo estaria do lado dos modernizadores
sbios.
Se regressarmos s propostas de modernizao, poderemos observar, por um lado, o que as
rene contra as propostas que enfatizam a democratizao da universidade e, por outro
lado, o que as separa entre si.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
46
Podemos dizer que a diferena maior entre a modernizao e a democratizao isto no
significa que no pudesse haver modernizao democrtica e sim que a modernizao
apresentada se oferece explicitamente e com empenho como posio que combate a de
democratizao encontra-se numa confuso que foi apontada pelo helenista Moses
Finley, ao analisar os postulados da cincia poltica contempornea. Para esta ltima, o
sucesso das democracias ocidentais modernas repousaria num fenmeno fundamental, isto
, na apatia poltica dos cidados que delegam a elites tcnicas e a polticos profissionais a
tarefa da tomada de decises concernentes vida social no seu todo (Finley, 1988). Afirma
essa cincia poltica que a antiga idia de participao democrtica no s perdeu o sentido
nas grandes sociedades de massa complexas, onde a prtica frouxa da representao por via
eleitoral o melhor expediente para deixar as decises nas mos dos competentes, como
ainda afirma que a participao coloca na cena poltica a massa dos descontentes sempre
pronta a movimentos extremistas, contrrios democracia.
Com relao a este segundo ponto, Finley lembra que a histria no registra um nico caso
em que movimentos populares tivessem posto em perigo a democracia, mas registra
inmeros nos quais as oligarquias, ao se convencerem de que no obtero seus fins por
meios democrticos, golpeiam duramente a democracia. Assim, no h evidncia histrica
suportando o medo dos politlogos diante do que o GERES chamaria de foras
populares.
Com relao ao primeiro ponto as vantagens da apatia e da delegao de poder a
tcnicos e a profissionais da poltica Finley observa que ocorre aqui a mesma confuso
que o aristocrata Tucdides fizera quando a assemblia democrtica de Atenas decidiu a
invaso da Siclia sem conhecer o tamanho da ilha, seu local exato, sua populao, as
condies martimas e militares para enfrent-la. Qual a confuso feita por Tucdides e
pelos politlogos contemporneos? Confundem conhecimentos tcnicos e discernimento
poltico. essa precisa confuso que ope as propostas de reforma universitria no Brasil,
isto , a proposta que enfatiza a modernizao contra a democratizao, pois os argumentos
contrrios a esta ltima dizem respeito suposta ignorncia tcnica dos membros da
universidade para govern-la.
Se isto estabelece o que h de comum entre as propostas de modernizao, resta que so
diferentes entre si. A diferena no se estabelece no plano dos princpios isto , a idia
bsica em todas elas a distino entre ensino e pesquisa, entre direo e execuo, entre
trabalho e governo universitrio mas no grau de sofisticao com que apresentam suas
justificativas. As propostas mais grosseiras simplesmente tomam a modernizao como
dogma e encarnao do bom, justo e verdadeiro, a confundem com preceitos tcnicos e
legalidade burocrtica. As mais sofisticadas do-se ao trabalho de expor as necessidades
criadas pelo desenvolvimento das cincias e das humanidades, que exigem a modernizao
universitria. So as propostas mais sofisticadas as que nos interessam, sobretudo por que
foram elas que suscitaram o longo desvio que fizemos passando pelas universidades
estrangeiras.
Antes de examinarmos o que dito sobre as cincias e as humanidades no plano da
pesquisa, vejamos o que dito sobre o ensino. Vimos que um princpio comum s
propostas de modernizao a clara separao entre ensino e pesquisa. As propostas mais
sofisticadas vo alm: afirmam que a inseparabilidade entre ensino e pesquisa um mito,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
47
pois, nas condies universitrias atuais nem sempre aquele que tem talento para o ensino o
ter para a pesquisa e vice-versa. Dessa constatao emprica no plano dos talentos naturais
e das vocaes, passa-se a uma regra: separar ensino e pesquisa. Como se observa, a
separao no justificada por necessidades intrnsecas ao ensino e pesquisa, mas pela
diversidade de pessoas que os praticam. Ora, isto posto, compreende-se o corolrio retirado
da regra de separao: aqueles que vo apenas ensinar no so obrigados a conhecer todo o
campo de estudos em que trabalham, mas apenas o que necessrio para a transmisso de
rudimentos e tcnicas aos estudantes. Que significa to singela e to factual afirmao?
Para compreend-la preciso contextualiz-la. No todo, a proposta de modernizao mais
sofisticada aceita o que pe a menos sofisticada, isto , um sistema de hierarquias que
distinga, por mritos e ttulos, os membros do corpo docente, nico meio de quebrar o vcio
corporativista. Isto significa, portanto, que aqueles que se dedicaro apenas ao ensino,
porque a natureza no lhes deu talento nem vocao para a pesquisa, formaro o grau mais
baixo da hierarquia universitria meritocrtica. O argumento, em sua simplicidade,
pretende apenas respeitar a psicologia de cada professor e estimular cada um a fazer aquilo
em que mais eficiente e competente, no que beneficiar muito mais aos estudantes. Essa
simplicidade e essa obviedade escondem, porm, um projeto fortemente hierarquizado de
cargos e funes. Compreende-se por que a proposta de democratizao, que no faz as
diferenas passarem por a, seja tido como perigoso e desordenador.
Ainda um trao referente ao ensino merece ser citado. Numa das propostas mais
sofisticadas de modernizao, o ensino definido como transmisso de tcnicas da rea do
conhecimento escolhido pelo aluno, transmisso que a disciplina da aprendizagem:
tcnica que se forja por aprender a seguir regras, pela automatizao do corpo e do
esprito, a fim de que o aprendiz tenha mo, pacotes de comportamentos fsicos e
simblicos que lhe permitam lanar-se na inveno. Sem essa dura disciplina no h
escola (Giannotti, 1986, p. 88). Essa concepo do ensino curiosa. Num ensaio
denominado The Heritage of Isocrates, Moses Finley estuda a vitria de Iscrates sobre
Plato no estabelecimento da paidia, isto , a vitria do sofista contra o filsofo e assinala
que um dos traos mais importantes da sofstica de Iscrates era justamente o ensino como
treino da mente ou ginstica da psique: a noo de que o que viria a ser chamado de
faculdades da mente que, como os msculos, so fortalecidas pelo exerccio (Finley, 1975,
p. 198). Essa concepo, central para o treino nas tcnicas retricas da sofstica, prossegue
Finley, veio sustentar, na modernidade, a defesa da educao como especializao que deve
iniciar-se muito cedo, e ginstica da psique veio acoplar-se a hiptese psicolgica da
transferncia de treinamentos, isto , a suposio de que o treino efetuado numa
especialidade pode ser transferido para outra, se ambos os treinamentos forem
rudimentares. Ora, no extremamente curioso ver que o autor que defende aquela
concepo de ensino o mesmo que separa sbios e sabidos, designa estes ltimos de
sofistas, afirma o adgio platnico (aqui s entra quem souber geometria), confundindo a
paidia platnica (que repousa sobre uma metafsica da alma) com o treinamento sofstico
de Iscrates? Alis, essa peculiar confuso percorre toda a proposta, pois se, de um lado, o
ensino reduzido transmisso de tcnicas e ao automatismo do corpo e do esprito por um
professor que no precisa conhecer tudo quanto envolve e implica seu campo de
conhecimento, por outro lado, fala em relao pessoal entre o professor e o aluno no
momento em que, por exemplo, recusa a avaliao dos estudantes por testes, pois com o
gabarito, qualquer ignorante corrige a prova (Giannotti, 1986, p. 89).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
48
Finalmente, uma observao sobre essa idia do ensino distante da pesquisa, mais eficaz se
feito por um bom professor que conhea bem as regras elementares de seu campo de
estudo, que no precisa conhecer todas as questes que envolvem esse campo, e sobre essa
idia do aprendizado de tcnicas, de automatismos corporais e psquicos e de pacotes de
comportamentos, do lado do aluno. Comentando a passagem freqente que o cientista opera
entre o ser e o dever ser, Finley, no ensaio mencionado, observa que essa prtica normativa,
prpria da cincia clssica, popularizou-se como imagem geral da cincia, isto , quanto
menos conhecemos as dificuldades das cincias no estabelecimento de seus conceitos e de
suas leis, tanto mais sustentamos aquela imagem normativa. Essa tendncia, observada nos
estudantes, revelou-se assustadora numa pesquisa efetuada por Hudson, pois descobriu-se
que os estudantes que procuram humanidades diferem dos que procuram as cincias porque
enquanto os primeiros tm uma viso muito mais livre e inquisitiva do saber, os segundo
tm uma viso muito mais normativa e conformista e uma tendncia ou um gosto pela
autoridade. Ora, se o ensino for praticado por professores que apenas conhecem os
rudimentos de seu campo de estudo, conhecem apenas alguns aspectos dos problemas de
sua rea, conhecem o mnimo indispensvel para transmitir tcnicas e garantir pacotes de
automatismos fsicos e psquicos nos alunos, no caberia indagar se esse tipo de professor
no seria guiado pela perspectiva altamente normativa e conformista, se no alimentaria
nos estudantes o gosto ou a tendncia pela autoridade e se no faria isso at mesmo com os
estudantes de humanidades? Em suma, cabe indagar se a simplicidade com que se separa
ensino e pesquisa no teria conseqncias graves para a prpria pesquisa, uma vez que esta
ser feita por estudantes que receberam um tipo de treinamento onde, no dizer de Hudson,
autoritarismo e conformismo se sobrepem, ainda que no coincidam (cit. por Finley,
1975, p. 207).
No tanto a diferena entre ensino e pesquisa o que podemos questionar, mas a concepo
pouco interessante que a proposta tem sobre o ensino. perfeitamente possvel que um
professor seja um pesquisador que prefere ver nas aulas o momento da publicao e da
socializao de sua pesquisa, no tendo especial interesse em que a publicao assuma
forma de livros ou artigos; como perfeitamente possvel que um pesquisador considere
que o pblico que pretende atingir ultrapassa o de seus estudantes e prefira a publicao de
livros e artigos. O que no parece interessante e, sob certos aspectos, parece tacanho,
estreito e autoritrio distinguir ensino e pesquisa como atividades realizadas por
professores diferentes, ensejando a pobreza da docncia, o conformismo dos estudantes e a
discriminao entre professor e pesquisador, discriminao que, como observei acima,
incidir sobre o sistema de poder da universidade. Se uma das metas da modernizao
romper a rotina que embrutece a docncia e garantir aos professores o direito a intervir nas
decises universitrias, a separao, tal como foi formulada, no atender a essas duas
finalidades.
Pesquisa e racionalidade capitalista
O risco do conformismo e do conservadorismo no se restringe ao ensino. Nas propostas de
modernizao ele incide tambm sobre a pesquisa.
Aqui, parte-se de uma verificao emprica sobre o estado das cincias e da tecnologia e se
converte a situao factual das pesquisas cientfico-tecnolgicas em definio de direito
dessas pesquisas. Com efeito, o argumento parte de uma constatao, a transforma em
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
49
teoria e converte esta ltima em regra ou norma. Constata-se que o desenvolvimento do
capitalismo e das foras produtivas tomou um rumo no qual a produo cientfica
tecnolgica, esta uma fora produtiva e ambas so determinadas pelos imperativos da
racionalidade capitalista. Essa constatao transforma-se em teoria, a partir do momento em
que se deduz dela uma definio da cincia e da tecnologia que nada mais seno a
afirmao de que a cincia e a tecnologia so o que o capitalismo delas exige. Por exemplo,
que no haja mais tempo para pesquisas cientficas concernentes estrutura ltima do
universo (fsico, qumico, biolgico, humano) nem para tecnologias desligadas dos prprios
objetos tcnicos existentes, de sorte que a cincia se reduz retomada das tecnologias
(definidas como saber morto depositado no objeto tcnico) para repor a tecnologia em outro
patamar de interveno sobre o real. Estabelecida a descrio das condies atuais da
pesquisa cientfica como definio da prpria cincia e da tecnologia, passa-se ao plano
normativo: por que assim, ento deve ser assim. Esse dever ser orienta a maneira como a
universidade dever tratar a cincia e a tecnologia, isto , a universidade deve adaptar-se s
condies empricas da produo cientfica e tecnolgica. E uma vez que o comando dessa
maneira de fazer cincia e tecnologia encontra-se nos centros de pesquisa e nos laboratrios
das foras armadas e das grandes empresas, a universidade deve adaptar-se s exigncias e
ao ritmo do complexo militar ou do complexo industrial. A simples idia de que talvez a
cincia e a tecnologia no devam ser assim definidas nem devam ser assim tratadas
imediatamente desqualificada como abstrao idealista. A simples suposio de que a
cincia teria algo a ver com a inveno, com a criao e com a instaurao de um saber
novo imediatamente descartada e julgada anacronismo improdutivo. O argumento cola-se,
portanto, aos dados empricos e prope um ajuste entre o trabalho universitrio e as
exigncias do capital, este ltimo nunca designado enquanto tal, mas sob etiquetas como
sociedade de massas, sociedade ps-industrial, massificao da cultura, imperativos
de eficincia e de rendimento. O argumento e a proposta dele decorrente confundem a
situao emprica do trabalho cientfico e tecnolgico e as exigncias imanentes da prpria
cincia e da prpria tecnologia.
Admitamos, porm, que falar em exigncias imanentes cincia seria uma iluso idealista.
Admitamos que o enraizamento material da cincia e da tecnologia determina o conjunto de
suas operaes tericas e prticas. Neste caso, uma vez que a materialidade social (a
economia, a poltica, as relaes sociais) no existe por si mesma e sim como resultado
posto pela prtica social de agentes determinados, que tal indagar quem, na sociedade,
concebe a cincia e a tecnologia daquela maneira? Que tal indagar se no haveria uma
determinao de classe naquela definio que subsume a cincia e a tecnologia ao
movimento das foras produtivas? Que tal lembrarmos que o objetivismo positivista tende
a conceber o movimento temporal a partir do desenvolvimento das foras produtivas como
sujeitos, em vez de pens-las como predicados do capital? Em suma, estamos propondo
aqui algo muito simples: que o argumento e a proposta de modernizao no caso da
cincia e da tecnologia explicitem seus pressupostos sociais e polticos, em lugar de se
apresentarem como absolutos, em lugar de apresentarem a superfcie emprica da sociedade
sob o manto de conceitos supostamente rigorosos, em lugar de operar o deslizamento tcito
daquilo que aparece para aquilo que e deste para aquilo que deve ser, na medida em que
esses deslizamentos sucessivos imprimem a marca do conformismo e do conservadorismo
num argumento e numa proposta que pretendem ser transformadores.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
50
Creio ser necessria essa observao, porque algumas propostas so simplistas esto
fascinadas pela incorporao das universidades aos complexos militares e industriais ,
enquanto outras pretendem salvaguardar as universidades, afirmando que, se estas no se
modernizarem, sero destrudas pela formao de centros paralelos de pesquisa com
polpudos financiamentos que tornaro suprfluas as pesquisas universitrias. O problema
desse segundo tipo de proposta que se coloca no mesmo campo de referncias das
propostas simplistas, isto , suas referncias so as necessidades impostas pelo
desenvolvimento do capital, determinando a natureza da cincia e da tecnologia.
Dentre as vrias propostas de modernizao, tomemos uma que pretende salvaguardar as
universidades. Nela dito que cincia e tecnologia so a posio de uma segunda natureza
pelos homens aos homens. Evitando a oposio ilustrada e a do idealismo alemo entre
natureza e cultura, a oposio tomista entre natureza e habitus e a oposio renascentista
entre natureza e costume, a proposta opta pela materialidade da cultura, uma vez que seu
referencial terico o materialismo histrico. Cincia e tecnologia so, pois, a segunda
natureza que os homens pem a si mesmos pela mediao das coisas produzidas por sua
prtica cientfica e tecnolgica. Segunda natureza bastante definida, porquanto cincia e
tecnologia so apresentadas como foras produtivas. Isto significa que a segunda natureza
no propriamente a cincia nem a tecnologia, nem so quaisquer prticas dos homens,
mas o capitalismo. Ora, ao tratar o capitalismo como segunda natureza, este passa a
receber duas determinaes, uma advinda de sua naturalizao torna-se reino da
necessidade e outra advinda de seu carter segundo ou de ser uma posio humana
torna-se normativo. O capitalismo e deve ser. Essa necessidade e essa normatividade
incidem, ento, sobre a proposta de universidade: as elites locais (universitrias e
governamentais) devem criar a segunda natureza no Brasil, pois ainda no a temos, seno
como periferia dependente. Essa posio da segunda natureza pelas elites deve partir de
uma constatao bsica: incuo seria tentar competir nas cincias e nas tecnologias de
ponta; no temos recursos materiais nem intelectuais para isso. S nos resta a sada de
montar uma poltica para a cincia pobre (Giannotti, 1986, p. 111). A pobreza,
evidentemente, relativa cincia pobre, se comparada com a cincia dos ricos e
financiamentos, recursos e inventividade devem ser carreados para ela, sem desperdcios
inteis. Qual a finalidade dessa cincia pobre, uma vez que a proposta no se alinha ao
maoismo da gerao meia-oito nem s universidades alinhadas, definidas pelo
GERES? A finalidade fazer com que nosso trabalho possa tornar-se competitivo (Id., p.
111). Situao paradoxal, pois a proposta nasce da constatao da impossibilidade de
competir com os ricos e tem como finalidade tornar a universidade competitiva
com quem? Esse paradoxo, porm, irrelevante. Relevante a marca registrada do
referencial, isto , a competio, idia que percorre toda a proposta, definindo a qualidade
da atuao dos universitrios atravs de grupos competitivos no plano nacional e
internacional. Ora, a competio, tal como definida pela segunda natureza contempornea,
isto , pelo capitalismo, possui duas determinaes importantes: em primeiro lugar,
competio contra o tempo (o tempo em sua determinao capitalista) isto submete a
pesquisa heteronomia e, em segundo lugar, competio porque secreta isto
submete a pesquisa ao isolamento. E, aqui, novo paradoxo, pois a proposta afirma a
necessidade de se formar ampla rede nacional de comunicao das pesquisas, quando a
marca da competio a corrida contra o tempo e o segredo, ambos contrrios prtica da
comunicao. Como conciliar Adam Smith e Habermas?
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
51
curioso observar que os argumentos e as propostas de modernizao parecem nada ter a
declarar quanto s humanidades. Destas, o discurso da modernizao parece ter-se
esquecido, salvo num ponto, qual seja, naquele em que so declaradas ineficientes,
anacrnicas, irracionais, improdutivas. Enquanto na argumentao sobre as cincias ditas
exatas e naturais h preocupao em redefini-las e determinar as formas corretas de seu
aprendizado, das pesquisas e dos resultados prticos, no caso das humanidades, o
argumento parece no ultrapassar as crticas do status quo. Todavia, reunindo textos onde
se espalham tais crticas possvel retirar um pequeno conjunto de definies e de normas
tambm para as humanidades. Sobre elas, dito que se comprazem no trabalho artesanal na
poca do xerox e do computador; que so extremamente individualistas, nunca chegando a
apresentar projetos e programas de ensino e pesquisa interdisciplinares; que nelas maior a
imperdovel mitificao, segundo a qual ensino e pesquisa seriam inseparveis; que nelas
maior o nmero de malandros bem falantes que passam o tempo a enganar alunos, direes
universitrias e a sociedade em geral, que nelas o volume de trabalho intil maior do que
nas cincias e tecnologias; que nelas mais difcil separar o joio do trigo e que, se
comparadas com a produo brasileira dos anos 20, evidente sua deteriorao, falta de
inventividade e de vitalidade; que no respondem s necessidades do mercado de trabalho;
que so cursadas por alunos que j se formaram em cincias ou tecnologia e que as
procuram apenas para completar sua formao intelectual; que no chegaram a formar uma
tradio cultural nacional ou regional e que sua massa crtica majoritariamente formada
por professores que as praticam em busca de salrio, prestgio e vedetismo, oscilando entre
a rotina e o malabarismo, disso sendo prova o nvel de evaso nos cursos de humanidades e
a pouca importncia das pesquisas realizadas. Em outras palavras, as humanidades so
definidas como peso morto na universidade, como lugar da letargia e do desperdcio. Visto
que no h como propor para as humanidades sua perfeita adequao ao mercado de
trabalho nem sua insero direta nas foras produtivas, o argumento acerca do baixo-nvel e
da irracionalidade das humanidades conduz a uma proposta precisa: cort-las ao mximo,
para que sirvam ao mnimo necessrio. Esse corte mximo e esse uso mnimo se
concretizam num projeto tambm determinado, qual seja, o de distinguir com maior rigor
ensino e pesquisa, deixar universidade a tarefa do ensino ou da graduao e transferir para
os chamados centros de excelncia a ps-graduao e a pesquisa, centros exteriores
universidade, mas com ela conveniados
1
. Esse projeto, concebido luz da produtividade e
1
Uma proposta que tem circulado um tanto silenciosamente na USP concerne ao ensino das lnguas. Prope-
se que sejam separadas do ensino de literatura, que tenham carter fortemente instrumental para uso de outras
reas, e que sejam reduzidas graduao, prevalecendo apenas aquelas lnguas necessrias s demais reas de
trabalho universitrio. Lnguas clssicas, por exemplo, seriam ministradas para cursos de filosofia e como
preparao para a ps-graduao em Literatura clssica. Teoria literria, teorias lingsticas e literaturas
seriam transferidas para a ps-graduao e, no plano das licenciaturas, haveria essas disciplinas somente para
as lnguas a serem ministradas no segundo grau. No caso das cincias sociais, a tendncia trat-las segundo
o modelo do New Deal e de seu uso para o estado de bem-estar social, caso projetos polticos de cunho social-
democrata consigam vigorar no pas. A cincia poltica, por seu turno, tende a encaminhar-se para as
pesquisas no campo dos sistemas partidrios e dos sistemas eleitorais, acoplando-se indstria poltica. No
caso da histria e da geografia, tudo indica que a graduao ser no estilo da licenciatura curta e o
treinamento para pesquisa ser feito s na ps-graduao. Algo semelhante poder ser proposto para a
filosofia, caso permanea no ensino de segundo grau. No caso da filosofia, a graduao poder voltar-se para
a formao do corpo docente de segundo grau e para o aprimoramento cultural dos graduados em outras reas
cursando ps-graduaes especficas. Quanto ps-graduao, haveria a tendncia a acopl-la a grupos
nacionais de pesquisas sob a orientao da Associao Nacional de Ps-Graduao em Filosofia e a centros
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
52
do rendimento e da adequao ao mercado de trabalho, traz em seu bojo, no caso de
universidades mais antigas, um outro projeto simultneo, isto , o desmembramento das
faculdades e dos institutos de humanidades em faculdades e institutos separados, sob o
argumento de que a separao racionaliza recursos e poderes, avaliaes e produo. No
caso das humanidades, portanto, o projeto de modernizao a fragmentao, pois esta
favorece procedimentos de contabilidade e de rendimento.
A universidade como super-mercado
Se fiz um percurso to longo e peo desculpas por t-lo feito por que julgo que no
podemos discutir o tema da produo e da produtividade universitrias, em geral, e das
humanidades, em particular, sem termos compreendido o contexto em que estas expresses
vieram baila. Sem esse contexto, no podemos compreender por onde passam as
divergncias nas propostas de reforma universitria. Ao iniciar minha comunicao, disse
que a insatisfao generalizada com a universidade no pode esconder as diferenas, cuja
origem social, e que as propostas de reforma universitria precisariam ser encaradas luz
de a qual ou a quais das insatisfaes esto respondendo. As vrias propostas de
modernizao respondem quer seus autores gostem ou no disso s insatisfaes das
grandes empresas e da classe mdia. Quando mais no fosse, bastaria examinar o lxico
empregado por elas para percebermos quem so seus interlocutores. Esse lxico marcado
por termos como elite, demanda, eficcia, rendimento, competitividade, competncia,
maturidade. E essas palavras designam o campo de pensamento que lhes d sentido. Via de
regra, o diagnstico comum a todas s propostas, tanto s que se dizem modernizadoras
quanto s que se dizem democratizadoras. A diferena entre elas passa pelos remdios que
receitam e na hora da receita que as primeiras introduzem as palavras produo e
produtividade. Ao faz-lo, imputam s demais propostas seu antnimo, isto , a
improdutividade. difcil, num campo assim balizado, criticar essas noes, pois esto
conotadas positivamente e seus crticos j tem meia batalha perdida. Prova disso foi o
episdio do listo de improdutivos: respondemos provando que ramos produtivos,
aceitando as regras do jogo porque os interlocutores, no caso, a classe mdia leitora de
jornais e cujos filhos so nossos estudantes, j haviam assumido a suposta verdade da
produtividade.
Pessoalmente, desagrada-me que gente empenhada em melhorar a universidade considere
que para faz-lo preciso tratar os oponentes, que tambm visam melhoria universitria,
como se fossem imbecis ou ces raivosos. Se a universidade lida justamente com a
constituio dos saberes e sua histria, deveria estar acostumada, por dever de ofcio, a
encarar as divergncias como fecundas, em lugar de trat-las como barbrie, pois, como
disseram vrios filsofos, a barbrie a multido tangida pelo medo e vivendo na solido,
alimentando e sendo alimentada pelo dio. Instalou-se entre ns uma prtica perversa, a da
surdez. H, pelos campi universitrios, absoluta incapacidade para ouvir a palavra alheia,
dar-lhe ateno, medi-la, confrontar-se com ela. H muito poder, dinheiro e prestgio em
jogo, diro muitos. Sem dvida. A questo saber se esse o jogo que gostaramos de
jogar. Quando examinamos as propostas de democratizao que contm tantos
equvocos quanto as de modernizao ressalta uma preocupao fundamental: redefinir
de excelncia, conveniados com a universidade. A graduao seria, como no caso das lnguas e das cincias
sociais, histria e geografia, fortemente instrumental.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
53
o poder na universidade e redefinir ensino e pesquisa distncia do que foi imposto pela
ditadura. No seria esta a primeira tarefa? As propostas de modernizao criticam o poderio
da burocracia, pretendem criar-lhe um contra-poder, neutralizando-o. Todavia, esse contra-
poder concebido como o de uma elite de sbios, o que lana o restante dos universitrios
margem das lutas anti-burocrticas e margem das decises da poltica cultural. Essa
marginalizao tender a transformar a elite de sbios numa nova burocracia a palavra
no boa, mas no me agrada sua irm, a tecnocracia porque parte de um princpio anti-
democrtico e oligrquico, isto , a confuso entre discernimento poltico e conhecimentos
tcnicos para a administrao da universidade. esse perigo, ainda que confusamente, que
percebe a proposta de democratizao e por isso sua aparente dificuldade para contrapor-se
produtividade, pois a proposta de democratizao deseja pr-se altura de sua oponente
garantindo-lhe ter igual direito palavra e deciso porque seus proponentes tambm so
respeitveis, isto , produtivos. Essa a armadilha do confronto num campo j balizado por
valores.
Indaguemos, ento, para finalizar e propor nosso debate: o que seria a produtividade nas
humanidades? Nmero de publicaes? Que nos dem, ento, grficas e editoras
universitrias, j que no podemos ficar merc do mercado editorial, cujos critrios no
so os nossos e que nos deixariam altamente improdutivos. Mas publicaes traduzem
verdadeiramente nosso trabalho? O melhor que fazemos no leva dcadas at que sintamos
valer a pena publicar? Que fazer com os anos de trabalho silencioso? No se traduziram nas
aulas que ministramos, nas conferncias que pronunciamos? Como medir a produtividade
das aulas? Pelo nmero de alunos aprovados? Mas, e se nosso assunto for rido e difcil e
grande nmero de estudantes desistir de nosso curso? No vale nada o que pesquisamos e o
que dissemos? Fala-se muito na evaso universitria, tomada como uma das medidas para a
produtividade (negativa, evidentemente). Mas algum pesquisou quais so os estudantes
que permanecem e por que permanecem? Algum pesquisou por que estudantes escolheram
determinados cursos e descobriram seu engano? L-se numa das propostas de
modernizao que a universidade no o templo do saber, mas uma espcie de super-
mercado de bens simblicos ou culturais procurados pela classe mdia. Se a universidade
for um super-mercado, ento, teremos uma resposta para os critrios de produtividade.
De fato, o que e um super-mercado? a verso capitalista do paraso terrestre. O jardim do
den era o lugar onde tudo existia para a felicidade do homem e da mulher, sem trabalho,
sem pena, sem dor. Quando fazemos compras num super-mercado, as estantes de produtos
ocultam todo o trabalho que ali se encontra: o trabalho da fabricao, da distribuio, do
arranjo, da colocao dos preos. Ali esto como frutos no pomar, legumes e hortalias na
horta, a caa nos bosques e os peixes nos mares e rios, ou como objetos nascidos da magia
de gnomos noturnos, sob o comando de fadas benfazejas. At chegarmos caixa
registradora para o pagamento... J observaram as brigas familiares junto s caixas? O
choro das crianas, a raiva dos casais, o mau-humor com os empregados? A caixa
registradora o fim do jardim paradisaco e o retorno brutalidade do mercado. Se a
universidade for um super-mercado, ento, nela entram os felizes consumidores, ignoram
todo o trabalho contido numa aula, num seminrio, numa dissertao, numa tese, num
artigo, num livro. Recebem os conhecimentos como se estes nascessem dos toques mgicos
de varinhas de condo. E, no momento das provas, ou querem regatear os preos, ou
querem sair sem pagar ou abandonam o carrinho com as compras impossveis, xingando os
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
54
caixeiros. Nesse super-mercado, a produtividade flutuante: h a dos empregados
invisveis que, noite, receberam as mercadorias, puseram preos e as colocaram nas
estantes; h a dos trabalhadores ainda mais invisveis que fabricaram ou colheram os
produtos; h a dos atravessadores e a dos caminhoneiros que os transportaram; h a dos
fiscais, dos caixas, dos supervisores, dos que esto encerrados nos escritrios; h a dos
proprietrios, competindo no mercado; e h a do consumidor, calculada pelo seu salrio e
pela quantidade e qualidade de bens que possa comprar. assim a universidade? Se o for,
nossa produtividade ser marcada pelo nmero de produtos que arranjamos nas estantes,
pelo nmero de objetos que registramos nas caixas registradoras, pelo nmero de fregueses
que saem contentes, pelo nmero de carrinhos que carregamos at aos carros do
estacionamento, recebendo at mesmo gorjeta por faz-lo. Mais do que isto porque a
universidade no foi comparada s fbricas nem s bolsas de valores, nossa produtividade
bastante curiosa, pois num super-mercado nada se produz, nele h circulao e distribuio
de mercadorias, apenas. Nossa produtividade seria improdutiva, em si, e produtiva apenas
em relao a outra coisa, o capital propriamente dito. Bem, faz quase uma hora que estou a
lhes dizer isto, no mesmo?
ABSTRACT: This article examines critically the proposal for the modernization of
Brazilian universities. The point of departure is the term unproductive, applied as an
epithet to disqualify those who defend the democratization of the university a fact which
eliminates the possibility of debate. The article distinguishes between two models of
modernization: one is applicable to universities tied to local oligarchies (in the North and
Northeast), and the other to the large universities of the South. The analysis of the first
model suggests that the proposal for transforming the federal universities into units for
technical and professional training ends up aligning them even more closely with the local
oligarchies. Analysis of the second, and more sophisticated, model suggests that the
modernizing proposal would be an attempt to adapt the university to the present
requirements of capitalist rationality.
UNITERMS: University: modernization, democratization, productivity, humanities,
rationality, capitalism.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CARDOSO, Irene de Arruda Ribeiro. A universidade e o poder. Revista da Universidade
de So Paulo. So Paulo, (6): 59-70. jul./set. 1987.
BUTOR, Michel. As metamorfoses da universidade. Lngua e Literatura. Revista dos
Departamentos de Letras da FFLCH da USP. So Paulo,vol. 10-13, 180-191, 1981-4.
FINLEY, Moses I. The heritage of Isocrates. In: _______. The use and abuse of history.
New York, Viking Press, 1975.
_______. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro, Graal, 1988.
GIANNOTTI, Jos Arthur. Universidade em ritmo de barbrie. So Paulo, Brasiliense,
1986.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
55
HAZLITT, William. A propsito de alcunhas. In: _______. Ensaistas ingleses. Rio de
Janeiro, Clssicos Jackson, 1964. p. 129- 142.
LE MONDE, Paris, 19 fev. 1988.
LUKE, PICCONE, SIEGEL & TAVES. The crisis in higher education Roundtable on
intellectuals and the Academy. Telos, n 71, spring 1987, p. 5-36.
SCHWARZ, Laurent. Para salvar a Universidade. So Paulo, EDUSP, 1984.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
56
DIVISO CAPITALISTA DO TRABALHO
HELENA HIRATA
Dossi organizado por Helena Hirata.
Professora de Sociologia no Centre
Nacionale de Recherche Scientifique
(CNRS), Paris, Frana; Colaboradora no
programa de Ps-Graduao do
Departamento de Sociologia FFLCH-
USP.
RESUMO: Os quatro textos apresentados a seguir, sobre diviso capitalista do trabalho,
qualificao, diviso do trabalho entre os sexos e psicopatologia do trabalho, foram
redigidos originalmente para servir de material de discusso para o curso Tecnologia,
processos de trabalho e polticas de emprego efetuado no quadro do Programa de Ps-
Graduao do Departamento de Sociologia da Universidade de So Paulo, no segundo
semestre de 1987.
Seus autores tm todos livros publicados sobre os temas tratados nesses textos sintticos.
Michel Freyssenet, autor do 1 texto, igualmente autor de La division capitaliste du
travail, editado pela ed. Savelli em 1977. pesquisador do Centre de Sociologie Urbaine
do CNRS. Pierre Rolle, autor do 2 texto, escreveu igualmente a Introduction la
Sociologie du Travail, ed. Larousse, 1971 e acaba de publicar um novo tratado de
Sociologia do trabalho (Travail et Salariat, Presses Universitaires de Grenoble, 1988).
Professor da Universit de Paris X (Nanterre). Danile Kergoat, autora do 3 texto,
animadora do GEDISST (Groupe d'Etude sur la Division Sociale et Sexuelle du Travail)
CNRS, onde orienta pesquisas sobre o trabalho feminino e a diviso do trabalho entre os
sexos. autora do livro Les Ouvrires, editado pela ed. Sycomore em 1982. Ela faz parte
do programa de ps-graduao em Sociologia da Universit de Paris VII (Jussieu).
Finalmente, Christophe Dejours, autor do 4 texto, mdico, psiquiatra e psicanalista, e
clnica no Hospital de Orsay. Seu livro Lusure au travail (ed. Centurion, 1980) foi
traduzido para o portugus em 1987 pela ed. Obor-Cortez sob o ttulo A loucura do
trabalho.
A traduo que fizemos desses textos foi revista pelos participantes dos seminrios
realizados durante o curso mencionado.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho: diviso capitalista, qualificao, desqualificao, diviso
sexual, psicopatologia.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
57
A Diviso capitalista do trabalho
Michel Freyssenet (CNRS Frana)
As pesquisas sobre a evoluo do trabalho confirmavam, no incio dos anos 70, uma das
duas principais teses da sociologia francesa do trabalho dos anos 60. Constatava-se ento,
ora um reagrupamento de tarefas e de funes, repartidas previamente entre diferentes
pessoas, uma recomposio do trabalho (Touraine); ora uma modificao completa, uma
substituio de um sistema de trabalho por outro, de tarefas por outras em nada
comparveis s anteriores, s podendo ser analisadas em si mesmas, o que tornava
impossvel toda avaliao em termos de maior ou menor diviso ou recomposio
(Naville). Entretanto, essas teses tm em comum o fato de utilizar o conceito de diviso do
trabalho como uma categoria descritiva. Seu mtodo consiste em verificar se, num instante
T + 1, as tarefas foram divididas entre muitas pessoas em relao ao instante T. Ora, uma
tarefa pode ser dividida sem que por isso cada uma de suas parcelas exija menos savoir-
faire, se o contedo delas for enriquecido. Inversamente, tarefas podem ser reagrupadas
sem por isso requerer uma maior competncia, se o contedo de cada uma delas for
empobrecido. Finalmente, uma tarefa pode aparecer sem modificaes e ter sido na verdade
dividida, se uma parte de seu contedo for efetuada por uma mquina. Situada fora da
anlise sociolgica, a considerao das tcnicas produtivas como varivel exgena
determinante em relao organizao do trabalho, reduziu o conceito de diviso do
trabalho a uma simples repartio das tarefas. A integrao do modo de concepo das
mquinas no campo de anlise leva a restituir ao conceito de diviso do trabalho seu
alcance sociolgico. A diviso do trabalho aparece ento como um processo social
conflitivo, transformando a repartio social da inteligncia requerida para uma produo
dada, pela concentrao em um nmero restrito de trabalhadores do encargo de conceber
instrumentos, mecanismos, automatismos e modos operatrios, podendo substituir cada vez
mais a atividade intelectual dos outros trabalhadores.
Se a diversidade das qualidades solicitadas aos assalariados torna incomparveis as tarefas
que estes efetuam em perodos diferentes, a qualificao que exigem pode ao contrrio ser
avaliada pelo nico ponto comum que elas tm entre si: o tempo de reflexo sobre a prtica
requerida para adquirir e manter as qualidades singulares de que necessitam, sejam estas a
habilidade, a fora fsica, a imaginao, a capacidade de ler e escrever, de raciocnio
matemtico etc., todas estas qualidades exigindo reflexo para ser adquiridas e empregadas.
O estudo da evoluo da qualificao, portanto, tem um sentido e possvel
1
.
Esboa-se aqui um mtodo de anlise da diviso do trabalho: este consiste em identificar,
em primeiro lugar, os problemas que devem ser resolvidos para transformar um produto,
para ver em seguida como se efetua a repartio social da resoluo desses problemas.
1
A qualificao realmente necessria no se confunde, pois, nem com a classificao dos trabalhadores na
escala de qualificao da empresa (resultado da histria das relaes entre a direo da empresa e os
sindicatos, e que pode evoluir em sentido inverso ao da qualificao realmente requerida), nem com a
qualificao que se supe necessria para ocupar o posto tal como pode defini-lo a lista de ocupaes
existentes na empresa (esta freqentemente no leva em conta competncias exigidas pelas situaes reais de
trabalho), nem com a qualificao pessoal dos trabalhadores (geralmente superior quela que devem pr em
prtica).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
58
Segundo esta perspectiva, necessrio levar em conta a concepo das mquinas e do que
incorporam. A unidade de anlise no pode mais ser a tarefa, a seo, nem mesmo a fbrica
ou a empresa, mas o conjunto do processo de fabricao do produto considerado, podendo
englobar atividades localizadas em outros lugares, mas que concentram uma parte da
inteligncia necessria.
O processo de desqualificao superqualificao
Esse ttulo, dado 1 edio do nosso livro sobre a diviso capitalista do trabalho
2
, enuncia
sua tese central: no h um movimento generalizado de desqualificao ou um movimento
de aumento geral da qualificao, mas um movimento contraditrio de desqualificao do
trabalho de alguns pela superqualificao do trabalho de outros, isto , uma polarizao
das qualificaes requeridas que resulta de uma forma particular de diviso do trabalho, que
se caracteriza por uma modificao da repartio social da inteligncia da produo. Uma
parte dessa inteligncia incorporada s mquinas e a outra parte distribuda entre
um grande nmero de trabalhadores, graas atividade de um nmero restrito de pessoas
encarregadas da tarefa (impossvel) de pensar previamente a totalidade do processo de
trabalho, descobrindo e possuindo o domnio do conjunto dos parmetros.
essa forma de diviso do trabalho universal ou mesmo natural? Colocar tal questo
ainda problemtico para muitos socilogos, embora para os etnlogos seja banal a
considerao de que as formas dos utenslios seus usos, a diviso do trabalho, constituem a
expresso das sociedades nas quais so observados. Tentamos desenvolver e ilustrar a tese
segundo a qual a prpria separao do capital e do trabalho implicava este tipo de diviso
do trabalho. Ser ele ento especfico relao capital-trabalho? No sendo esta todavia a
nica relao de produo existente numa sociedade dada, pode-se observar que outras
formas de diviso do trabalho e de desenvolvimento tcnico existem, correspondendo a
outras relaes. E se for admitido que as sociedades que se auto-proclamam socialistas no
se tornaram por isso socialistas, a tese merece ser examinada como instrumento de anlise.
A diviso capitalista do trabalho a expresso e o instrumento de uma luta pelo poder
concreto sobre a produo. Com efeito, a separao entre capital e trabalho no se d
cabalmente atravs de sua separao jurdica. Os produtores diretos permanecem sendo os
nicos capazes de garantir a fabricao, os nicos defensores da inteligncia do trabalho, e
impem, o mais das vezes, suas condies, contrariamente a uma viso miserabilista da
histria operria. O tipo de diviso do trabalho por desqualificao superqualificao
ento o meio para tentar obter o domnio concreto do que se passa na produo.
Ao contrrio, para um assalariado, isto , para algum que vive da venda de sua fora de
trabalho, a importncia da atividade de reflexo que deve desenvolver para assegurar a
tarefa que lhe foi confiada? delimita todos os outros fatores permanecendo iguais a
autonomia que ele pode adquirir na organizao do trabalho, o poder que pode exercer e a
correlao de foras que pode estabelecer, o valor mercantil da sua fora de trabalho, o
interesse do trabalho, o domnio de seu itinerrio profissional e, portanto, de seu futuro
pessoal.
2
Le processus de dequalification surqualification. Centre de Sociologie Urbaine, CNRS, Paris, 1974, 247
p. Reeditado com o ttulo La division capitaliste du travail. Paris, Ed. Savelli, 1977, 224 p.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
59
Uma luta incessante de desapropriao e de reapropriao se desenrola. A partir de uma
base tcnica dada, os trabalhadores reconquistam uma parte de poder, quando so levados a
remediar as falhas tcnicas, a substituir, por uma lgica da eficcia, a racionalidade terica
da organizao do trabalho, a enfrentar o aleatrio, a ter o domnio sobre os parmetros
ignorados pelos conceptores de mquinas e pelos preparadores do trabalho. A prpria
forma social da concepo e da preparao cria essa possibilidade de reapropriao parcial.
A correlao de foras que se cria assim sobre o terreno imediato da produo, quando uma
base tcnica est relativamente estabilizada, parece ser o ponto de sustentao de lutas mais
vastas, que pem em questo a organizao do trabalho e conduzem, por vias diferentes,
rigidificao das condies de emprego
3
, de remunerao e de trabalho. As crises do
processo de trabalho da resultantes parecem estar relacionadas s, ou mesmo, ser a razo
das crises peridicas de acumulao. Para que sejam superadas elas implicam, para o
capital, uma elevao rpida da produtividade que se efetua, para no colocar em questo a
relao capital-trabalho, pela centralizao maior da inteligncia da produo, sobretudo
por uma modificao das tcnicas produtivas. Esse tipo de diviso do trabalho necessita de
diversas condies: poder centralizar suficiente capital (reestruturao, fuso, absoro,
eliminao) e tornar admissvel a nova organizao do trabalho, condies que no podem
ser reunidas sem novos conflitos.
Retomaremos aqui a tipologia e a periodizao de K. Marx em trs estgios (cooperao,
manufatura, maquinismo) como instrumentos de anlise das situaes passadas e presentes
e trataremos de mostrar que a automatizao pode ser considerada como um quarto
estgio
4
. Nosso esforo consiste em explicitar o estado do controle do processo de trabalho
pelos trabalhadores e por aqueles que os empregam em cada um desses estgios e, portanto,
em caracterizar a relao capital-trabalho que corresponde a eles.
A cooperao dos trabalhadores sob a autoridade do capital concentra, do lado desse
ltimo, as decises sobre os bens a produzir, a quantidade, a qualidade e os prazos. Os
trabalhadores conservam o controle do processo de trabalho no seu conjunto e permanecem
trabalhadores completos, mas no controlam o processo de produo do valor.
Com a manufatura, o capital tenta impor sua norma de produo especializando os
trabalhadores somente numa parte do processo de trabalho e concentrando sobre uma nova
categoria de assalariados, de um lado, a parte delicada do trabalho que consiste em
controlar, retocar, ajustar e montar os elementos que formam o produto acabado, e, de outro
lado, a organizao e o controle das fases sucessivas da produo. A justaposio e
cooperao de trabalhadores completos substituda por trabalhadores de ofcio (mtier),
coordenados e controlados por um antigo trabalhador completo.
O maquinismo, que a forma capitalista de emprego do princpio mecnico, no
principalmente a substituio da fora humana por uma outra artificial, como se interrogava
P. Mantoux na sua Revoluo industrial do sculo XVIII na Inglaterra, mas a substituio
do desenrolar quotidiano da inteligncia do gesto produtivo pela materializao de uma
parte dessa inteligncia nas mquinas que movimentam mecanicamente as ferramentas,
3
La division capitaliste du travail, op. cit., p 107.
4
Para um maior desenvolvimento do tema, ver o acima citado, La division capialiste du travail, op. cit. (N. da
T.).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
60
graas ao trabalho de um nmero restrito de idealizadores (concepteurs). Por essa
forma social de desenvolvimento das foras produtivas, torna-se possvel fazer com que
apenas grande massa dos trabalhadores seja atribuda a operao das mquinas, e fazer
assim penetrar a norma de produo capitalista em cada parte do processo de trabalho e em
cada tarefa. Aps uma primeira fase, durante a qual um pequeno nmero de trabalhadores
de ofcio (mtier) so ainda necessrios para a fabricao, para concluir peas esboadas
sobre as mquinas pelos profissionais e transportadas por ajudantes (manoeuvres),
aparece uma segunda fase no curso da qual a anlise do trabalho operrio permite
identificar os parmetros cujo domnio indispensvel para conceber e fabricar mquinas
que tornam intil o trabalho de acabamento e cuja operao simplificada. Nessa fase, a
mecanizao das manutenes permite dispensar os ajudantes (manoeuvres). Multiplicam-
se ento as categorias que correspondem a uma polarizao das qualificaes requeridas:
operrios no qualificados, ajustadores, operrios de manuteno mecnica e eltrica,
ferramenteiros, desenhistas, tcnicos e engenheiros de estudos e de mtodos especializados
etc. Embora freqentemente um modo operatrio seja imposto ao operrio no qualificado,
ele deve ainda descobrir e controlar certos parmetros que escaparam aos idealizadores e
preparadores do trabalho.
Se a automatizao suprime numerosas tarefas repetitivas, perigosas e extenuantes, e
aumenta consideravelmente a produtividade, o modo capitalista de sua concepo termina
por tirar do operador o controle dos parmetros perturbadores, graas elaborao de
modelos de conduta, de ajuste e de regulao, e o reduz assim a uma situao de vigilncia
mediatizada sobre um processo do qual ele no tem mais uma percepo direta e de
interveno limitada a operaes precisas de ajuste.
Nesse estgio, em que os operrios no qualificados tornam-se inteis, devido sua
generalizao, reproduz-se um movimento, j observado nos estgios precedentes e
essencial ao processo de desqualificao superqualificao, a saber, a desqualificao de
certas tarefas superqualificadas nascidas no momento anterior da desqualificao
superqualificao do trabalho. Trata-se assim principalmente do trabalho de manuteno e
do trabalho de fabricao das mquinas-ferramentas. O desaparecimento das categorias de
trabalhadores efetuando tarefas que no requerem praticamente nenhuma qualificao,
como os ajudantes ou os operrios no qualificados, no significa o fim da desqualificao
superqualificao. Finalmente, tal tipo de diviso do trabalho se impe em situaes de
trabalho que no so tributrias da relao capital-trabalho (administrao pblica, pequena
produo familiar etc.) mas que, com sua extenso, se tornam dependentes dela.
Era necessrio, entretanto, explicar porque o processo assim descrito est to
manifestamente em contradio com todos os dados estatsticos disponveis sobre a
evoluo das qualificaes. Isso resulta das modalidades sociais de elaborao das
qualificaes oficiais, de um fenmeno de deslizamento hierrquico e de um erro
freqente da unidade de referncia. As qualificaes oficiais so resultado de uma
correlao de foras: o que est a em questo primeiramente a segmentao da mo-de-
obra, as remuneraes, e a concretizao da autoridade, e s explicam de uma forma
enviesada a qualificao realmente necessria. O deslizamento hierrquico para o alto, com
um contedo idntico ou mesmo empobrecido do trabalho, um fenmeno constante, que
o meio para os trabalhadores, de barganhar as mudanas na organizao do trabalho, ou
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
61
mesmo sua desqualificao, e, para os empregadores, um meio de tomar admissveis tais
mudanas.
Finalmente, a delimitao que realizada freqentemente para analisar estatisticamente a
evoluo da repartio dos trabalhadores por classificao (sees, empresa ramo) oculta
o movimento real da qualificao, por causa do deslocamento de atividades
desqualificadas ou superqualificadas para fora da unidade escolhida.
Os estgios da diviso do trabalho recobrem perodos histricos, mas no se sucedem no
mesmo ritmo e nas mesmas condies de um estabelecimento a outro, de uma empresa a
outra, de um pas a outro, devido capacidade das partes respectivas de se imporem.
Estgios podem ser saltados. Em certos setores, a diviso capitalista do trabalho est apenas
comeando. Em certas condies sociais, um estgio pode permanecer por muito tempo. Na
medida em que se trata de uma luta pelo poder concreto na produo, a passagem de um
estgio a outro no se efetua automaticamente e nada tem de inelutvel. Segundo essa
problemtica, a relao capital-trabalho no uma relao econmica regida pelas leis do
mesmo nome que seriam impostas aos atores. Trata-se de uma relao social com uma
histria que no escrita de antemo, tomando formas diferentes segundo os resultados da
luta pelo controle da produo na fase precedente, organizando as condies de luta da fase
seguinte, traduzindo-se por movimentos e recomposies sucessivas do capital, por um
lado, e da mo-de-obra, por outro. A historicidade e a capacidade de ao esto no centro
dessa relao.
Mas, atravs da diviso do trabalho, essa relao, que no lembramos a nica
relao social de produo existente numa sociedade, materializa-se num tipo de tcnicas
produtivas, em espaos, atitudes e inaptides dos indivduos etc. que aparecem, como j o
havia sublinhado Adam Smith, como o quadro natural e universal de todas as relaes
sociais. Pelo fato de possuir uma existncia material, no facilmente modificvel e tende a
impor sua reproduo. A anlise em termos de relaes sociais nos d a possibilidade de
pensar sociologicamente as tcnicas produtivas.
A forma social atual de automatizao
Desde 1978 nota-se uma acelerao da introduo de meios automatizados e uma
proliferao, por essa mesma poca, de experincias de reorganizao do trabalho, que
provocaram ou reativaram o debate sobre o futuro do taylorismo. Quanto a essa questo,
partindo da constatao do surgimento, com a introduo de conjuntos automatizados, de
formas de organizao do trabalho cujos princpios aparecem opostos aos da organizao
taylorista, mostramos
5
que a questo o taylorismo estaria em vias de ser abandonado?
tinha pouca possibilidade de receber hoje uma resposta til, o uso da palavra taylorismo
tendo-se tornado cada vez mais extenso e diverso. Muitas definies esvaziam-na com
efeito de toda especificidade histrica e de todo interesse analtico, sobretudo a que o
caracteriza como a parcelizao das tarefas ou como a diviso entre as tarefas de
concepo e de preparao do trabalho e as tarefas de execuo ou ainda como a
expropriao do savoir-faire operrio. Insistimos sobre as conseqncias prticas dessas
5
FREYSSENET, Michel. Division du travail, taylorisme et automatisation: confusions, diffrences et enjeux.
In: MONTMOLLIN, M. de & PASTR, O., orgs. Le Taylorisme. Paris, ed. La Dcouverte, 1984. p. 321-333.
(Colquio internacional sobre o taylorismo, Paris, 2 a 4 de maio de 1983.)
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
62
confuses para a pesquisa. O taylorismo no foi e no seno um momento, uma parte e
um aspecto do movimento geral da separao social da concepo e da execuo que se
desenvolve, pelo menos desde a separao do capital e do trabalho, atravs de uma forma
particular de transformaes tecnolgicas. A especificidade do taylorismo est na sua dupla
afirmao de que era possvel, graas ao seu mtodo e suas tcnicas, determinar
cientificamente, e portanto imparcialmente, por uma categoria especfica de assalariados,
qual era o melhor trabalhador, o melhor instrumento e a melhor maneira para fazer
qualquer coisa, e de que a empresa que se organizasse sobre bases tayloristas poderia
reconciliar e satisfazer interesses, aparentemente antagnicos, de seus dirigentes e de seus
empregados.
Assim, tratamos em seguida de reformular a questo inicial da maneira seguinte: ser que
o modo de diviso do trabalho que separa socialmente a concepo da execuo continua
sempre presente nas novas formas de organizao do trabalho e nas instalaes
automatizadas tais como so concebidas hoje em dia? Se a automatizao, tal como
aplicada, exige o conhecimento de uma nova linguagem, ela no impe uma linguagem
complexa, bem ao contrrio; se suprime certas tarefas desqualificadas e repetitivas, no
deixa tambm subsistir sem modificaes as tarefas e funes que exigiam anteriormente
uma qualificao superior, bem ao contrrio; se concilivel com organizaes do trabalho
diferentes, no por ser a automatizao dotada de uma flexibilidade que a mecanizao
no possui nem por causa de uma neutralidade ou de uma influncia imperceptvel das
tcnicas produtivas. Tentamos mostrar que estas ltimas afetavam o movimento essencial
do contedo do trabalho atravs dos fins e das modalidades que presidiram sua
concepo, porque so diviso materializada do trabalho - todas as pequenas variantes
observadas na organizao do trabalho sendo apenas compromissos entre os parceiros
sociais quanto ao enjeu de sua relao, redefinido precisamente pelo novo estgio da
diviso materializada do trabalho.
Esse ltimo tema foi retomado e desenvolvido anteriormente
6
. Alm da elaborao de um
mtodo de anlise sociolgica dos automatismos, coerente com o problema colocado (a
saber, a avaliao relativa da competncia exigida dos agentes de seo para assegurar a
produo esperada), tratamos de interpretar o fato de que de uma fbrica para outra, por
vezes de uma seo a outra de uma mesma fbrica existem, para instalaes de um mesmo
nvel de automatizao, organizaes do trabalho que obedecem a princpios diferentes e
levam a evolues por vezes opostas das qualificaes requeridas. Dever-se-ia considerar
esse fato como a prova quase experimental, como pensam alguns, apoiados em
comparaes internacionais, de que a evoluo do contedo do trabalho de fabricao, de
manuteno e de controle amplamente, e mesmo totalmente, independente dos meios
materiais de produo porque, de certa forma, essa varivel neutralizada tornando
assim ilusria e intil toda tentativa de extrair da processos gerais? Em outros termos, seria
necessrio concluir que as tcnicas produtivas so no todo ou em grande parte socialmente
neutras, ao contrrio do que pudemos avanar, juntamente com outros autores, tratando de
mostrar em que medida so a materializao das relaes sociais no quadro das quais e
pelas quais foram concebidas? O tipo de diviso do trabalho emergente seria apenas o fruto
de combinaes, sobretudo nacionais, de relaes profissionais, de instituies, de
6
FREYSSENET, Michel. La requalification des operateurs et la forme sociale actuelle de lautomation.
Sociologie du travail. Paris, n 4, 1984.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
63
sistemas particulares de formao, como escrevem M. Maurice, F. Sellier e J.J. Sylvestre
no seu livro Politique: Lducation et organisation industrielle en France et en Allemagne
(Paris, P.U.F., 1982)?
Alm do fato de que os casos estudados por ns implicariam em levar a explicao para um
nvel local, fazendo-a perder muito de sua fora, o mtodo subjacente ao raciocnio
precedente deixa crer que se pode, com todo rigor, ignorar que as mquinas so produtos
sociais como outros quaisquer e devem ser analisadas como tais, e que as relaes na
empresa so relaes que visam admitir, partilhar, interiorizar ou impor uma norma de
produo.
Uma varivel , alm disso, neutralizvel apenas se seu modo de ao de tipo
mecnico. Ora, nenhuma varivel sociolgica age dessa maneira, se que essa noo tem
alguma pertinncia. Se as mquinas materializam, pelas opes tcnicas nelas inscritas, as
condies econmicas e sociais e, mais precisamente, as relaes sociais que rodeiam e
presidem sua concepo, ento elas agem redefinindo e redelimitando o que est em jogo
(enjeu) nessas relaes, que diz respeito, em primeira anlise, ao controle do trabalho. Um
enjeu d lugar geralmente a prticas diferentes das partes em presena, em funo do
contexto e de suas capacidades respectivas, mas indica ao mesmo tempo seu sentido e seus
limites. nessa perspectiva que nossa pesquisa foi conduzida e os resultados analisados.
Notamos, em primeiro lugar, que a automatizao atual tem uma forma social particular: tal
como concebida e aplicada, ela no deixa, sobretudo a possibilidade aos operadores de se
libertar das sujeies, em certas situaes em que isso seria til; que uma soluo de tipo
cadeia contnua, mesmo sendo menos ideal que uma soluo de tipo cadeia
descontnua, que deixa aos operadores a liberdade de levar em conta outros parmetros e
de decidir segundo eles, foi entretanto preferida; que os fatos que os operadores podem
ainda observar e analisar foram, apesar dos custos excedentes de investimentos,
apreendidos, registrados, transmitidos e tratados automaticamente para serem analisados
por um pessoal especializado, em vez de dar-lhes o tempo, os meios e o poder de discuti-los
e de tomar decises etc. Em outras palavras, a forma social atual da automatizao tende a
excluir do funcionamento do sistema os agentes de fabricao, a liberar a produo, em
quantidade e em qualidade, do que tem de aleatrio o social e do limite fsico que eles
constituem. Ela se inscreve no processo da crescente diviso do trabalho entre a concepo
e a execuo. Simultaneamente, ela desloca o enjeu da produo para a minimizao dos
tempos de pausa da instalao e, por conseqncia, o enjeu do controle do trabalho para as
tarefas de reparao asseguradas habitualmente pelos ajustadores e pelos agentes de
manuteno. Pela primeira vez o no-controle do saber e do poder por esses ltimos torna-
se um obstculo.
luz desse deslocamento, as organizaes do trabalho observadas e a requalificao dos
operadores que se pode constatar em algumas delas adquirem uma significao diferente da
que se d habitualmente. Como regra geral, consistem em atribuir aos operadores tarefas de
ajuste e de manuteno, mas previamente especializadas e simplificadas e cuja
automatizao se prepara nos servios dos mtodos. Essa requalificao, relativa e
temporria, aparece assim como o meio de submeter progressivamente o trabalho de
manuteno aos imperativos da fabricao e como o meio de esboar sua diviso, sua
especializao e sua materializao. Tudo leva a crer que o processo observado se
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
64
reproduz no momento da introduo das mquinas - ferramentas especializadas,
alimentadas pelos operrios no-qualificados, recrutados entre os ajudantes, entre as duas
guerras. Essa configurao scio-tcnica substitui progressivamente aquela dos operrios
profissionais de mquinas-ferramentas universais, operando-as e fazendo sua manuteno,
auxiliados por numerosos ajudantes. A passagem desses ltimos operao de mquinas-
ferramentas especializadas representou para eles uma promoo e uma requalificao reais,
mas foi igualmente a maneira de suprimir os operrios profissionais de fabricao, que
constituam inicialmente a metade da mo-de-obra. E sabe-se o que aconteceu com a
requalificao dos ajudantes que se tornaram operrios no-qualificados.
A anlise precedente nos faz compreender melhor como certos mtodos, sob a aparncia de
rigor experimental, s produzem as concluses que eles mesmos j pressupem, pelo
recorte do social que operam, excluindo do seu campo as tcnicas produtivas como
produtos sociais e as relaes sociais na empresa.
(Traduo de Helena Hirata, revista por Marta Farah)
O que a qualificao do trabalho?
Pierre Rolle (Universit de Nanterre Paris X)
1. Consideremos um posto de trabalho, na indstria ou nos servios. O indivduo que o
ocupa no , em geral, um trabalhador qualquer, mas se distingue dos outros por uma
habilidade, experincia, formao, status especficos. Descobrimos a qualificao do
trabalho atravs dessa impossibilidade de preencher uma funo determinada com um
assalariado qualquer. A qualificao apreendida, num primeiro momento, como a
coincidncia entre um modo de organizao do trabalho, um saber e um bem dotado de
valor econmico.
Revela essa coincidncia uma unidade real? Alguns analistas puseram-no em dvida.
Se um posto determinado requer um determinado tipo de trabalhador para ocup-lo, no se
poderia consider-lo igualmente como qualificado? Isolaram-se, assim, as qualificaes do
gesto, da tarefa, do instrumento, do indivduo e mesmo do grupo. Essas divises tornam o
problema, entretanto, inextricvel. Admitamos, por exemplo, que existe uma qualificao
do posto e uma qualificao do trabalhador que o ocupa. ento inconcebvel que tais
qualificaes coincidam necessariamente, assim como inconcebvel que elas divirjam. Se
essas duas realidades evoluem independentemente uma da outra, a noo de qualificao
artificial e intil. Se elas so relacionadas uma outra, a qualificao designa
evidentemente essa correspondncia.
Assim, parece-nos necessrio definir a qualificao no como um conjunto de caracteres
relacionados aos diversos elementos do emprego, mas como uma relao necessria
estabelecida entre eles.
nesse sentido que ela tratada mais freqentemente em Sociologia, onde uma noo
central, aquela que se refere o mais sinteticamente possvel situao de trabalho. A
sociologia do trabalho clssica em grande parte uma sociologia da qualificao.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
65
2. Se a noo de qualificao designa a correspondncia, segundo certas regras, de
diferentes caracteres do emprego, resta ainda compreender sua natureza. Ser que a
covarincia do status, da formao e da remunerao traduz a causalidade imperativa de um
desses elementos sobre os outros, ou sua determinao recproca, ou a existncia primeira
de uma realidade superior, que se exprime de maneira coerente atravs de seus mltiplos
componentes? necessrio distinguir essas diferentes interpretaes de maneira mais
cuidadosa do que fazemos habitualmente, sob pena de propor apenas descries incoerentes
da qualificao.
Se, por exemplo, decidimos acompanhar a evoluo da qualificao atravs das diferentes
eras da economia, porque nos acreditamos capazes de dar dela uma definio absoluta e
de medi-la atravs de um parmetro independente das circunstncias e dos regimes. No ,
portanto, imediatamente a mesma realidade que aquela que recebe um preo numa troca
instantnea, ou a curto prazo. Esta dificuldade resolvida, em muitas anlises, pelo recurso
implcito ao postulado segundo o qual a remunerao do trabalhador decorre de sua
qualificao, mas no a define. Ora, claro que esse postulado de alcance muito amplo, e
que ele compromete em demasia a teoria sociolgica a constituir, para que se possa aceit-
lo somente na inteno de justificar a posteriori uma premissa descritiva, a de constituir
uma histria da qualificao.
H uma outra dificuldade: a qualificao designa, entre outras coisas, um status na empresa
e, portanto, sua retribuio varia bastante, como varia o tempo de formao. Como
conceber conjuntamente esses dois fenmenos? Podemos pensar que os diferentes trabalhos
se valorizam na firma ou mercado de trabalho, e que os tempos necessrios de
aprendizagem ajustam-se a posteriori a essa escala. Podemos tambm imaginar uma
determinao inversa. Em todo o caso, define-se entre os diferentes elementos da
qualificao uma ordem e um tipo de relao e, a partir da, domnios de pesquisa e modos
particulares de elaborao terica.
Se, em vez de escolher entre estas diferentes interpretaes, estabelecemos como princpio
que a qualificao algo que tem histria, mas tambm algo que se valoriza a todo instante,
se declaramos que ela pode ser encontrada idntica na empresa, no mercado de trabalho, na
formao e nas codificaes estatais, obrigamos a noo a designar uma substncia, algo
com uma espcie natural de trabalho. Veremos as mltiplas dificuldades que decorrem de
uma teoria como esta.
3. A soluo mais tradicional a esse problema consiste em partir da prpria operao
produtiva, para reencontrar a morfologia social em que ela se realiza. A qualificao,
estatuto especfico do trabalhador, acrescida da remunerao, representa ento a figura
administrativa da tarefa, a maneira pela qual esta se impe ao coletivo. As formas da
organizao econmica traduzem, afinal de contas, a realidade do trabalho concreto e se
modificam com ele. A qualificao aparece ento como um conjunto de procedimentos que
sancionam a autonomia do trabalhador, sua experincia, seu saber, em suma, a capacidade
que ele tem de se empregar a si prprio. Nesse esquema, a qualificao ope-se gesto
burocrtica, que visa a utilizar o trabalhador como uma fora inerte. A relao necessria
que se estabelece no emprego, entre a experincia do assalariado, seu status, seu salrio, a
anttese do arbitrrio patronal.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
66
Pode-se dizer que, nesta medida, no h histria da qualificao se no h uma histria
inteligvel do trabalho concreto. ela justamente que descrita pela teoria clssica da
diviso do trabalho, tal como a expe, por exemplo, Georges Friedmann. A mquina,
apoderando-se de fragmentos cada vez mais extensos do processo produtivo, reduz o
controle que tem o trabalhador sobre o seu trabalho e desvaloriza assim seu ato. A
qualificao do trabalho varia em razo inversa diviso do trabalho. Em certos processos
muito mecanizados, a tarefa to estreita e estereotipada, que o trabalho humano perdeu
toda qualidade distintiva e toda espontaneidade. O assalariamento seria esta forma ltima
de economia, onde o trabalho tornou-se quase uma mercadoria como as outras, e parece no
poder mais ser caracterizada seno quantitativamente. Segundo essa doutrina, o capitalismo
apenas a conseqncia, alm do mais nunca totalmente realizada, da apario da mquina.
No , pois, absurdo esperar que ele desaparea com um novo progresso do maquinismo,
por exemplo, o automatismo.
Mas este esquema, utilizado por tantas pesquisas, hoje contestado. Percebeu-se, com
efeito, que o saber e a retribuio do trabalhador variam relativamente pouco com a
dimenso do trabalho. A especializao pode mesmo conduzir contra o que prev a
teoria revalorizao do assalariado. Alis, o trabalhador qualificado porque ocupa
uma funo importante, ou ele alocado preferencialmente a essa funo porque possui
esta qualificao? Muitas observaes levam hoje a recusar o princpio da anlise clssica,
segundo a qual as formas sociais e a realidade concreta do trabalho se correspondem
precisamente, a qualificao representando um reconhecimento coletivo das qualidades da
operao.
Chegamos, pouco a pouco, a uma hiptese bem diferente, a saber: que o trabalho
qualificado no tem caractersticas prprias. ele mais autnomo que um outro? No.
claro que, num posto determinado, o assalariado que aja segundo sua prpria vontade
provavelmente mais qualificado que aquele que deve ser comandado. Mas esse o
resultado de uma receita de gesto, e no um critrio decisivo. Alis, tal relao no se
verifica quando comparamos trabalhadores que ocupam postos de trabalho diferentes: o
faxineiro continua menos qualificado que o tcnico, mesmo se mais livre na funo. O
trabalho qualificado ento aquele que exige maior esforo intelectual? Mas a funo da
formao seria exatamente reduzir o tempo de reflexo do assalariado no seu trabalho.
Imaginemos, por exemplo, um passageiro qualquer tomando o lugar do piloto de um avio
comercial: o tempo de tomada das decises aumentaria, sem dvida, assim como a
possibilidade dos transtornos. No poderamos concluir que o piloto ocasional mais
qualificado que o titular.
Diremos que a qualificao no se relaciona diretamente responsabilidade ou autonomia
de um posto, mas aos esforos que deve fazer o indivduo para superar os problemas? Sem
dvida, mas como medir e ordenar intrinsecamente tais esforos, seno pelo tempo que
mobilizam? Nesta nova teoria, a qualificao no estaria mais relacionada a caractersticas
concretas da tarefa, mas a propores entre duraes e a articulaes entre relaes sociais.
Seria, em conseqncia, uma realidade imediata e totalmente coletiva.
4. Vemos de onde nascem os equvocos e paradoxos da concepo clssica. Ela admite que
h correspondncia imediata entre os diferentes elementos que compem a situao do
assalariado e, sobretudo, que a evoluo do trabalho e a do trabalhador se confundem: a
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
67
fragmentao do posto diviso do trabalho e desvalorizao do trabalhador. Esta teoria
pode ser decomposta em duas proposies. A primeira estipula que existem relaes entre a
operao, a formao, o status, a remunerao relacionados com um emprego; a segunda
precisa que tais relaes s podem ser identidades.
Se recusarmos esta segunda hiptese, constataremos que a qualificao do trabalhador,
observada na sua funo, traduz o estado das relaes instantneas entre diferentes
mecanismos que, por sua vez, se desenvolvem dentro de duraes especficas. Vejamos,
por exemplo, o caso da transmisso social dos conhecimentos. O saber profissional, desde
que no mais adquirido pelo prprio exerccio do trabalho, recebido no incio da vida, a
partir de um financiamento complexo onde entra a remunerao dos pais. O uso deste saber
pela empresa acarreta um custo, um acrscimo de salrio para o trabalhador, que, por sua
vez, esfora-se por educar seu filho. O processo de formao tem, por unidade ltima, o
tempo de uma vida inteira de trabalho, e se desenvolve ligando, uma a outra, geraes
assalariadas inteiras.
Na firma, outros mecanismos tendem a diminuir o custo que se relaciona, assim, ao
trabalho educado. O sistema hierrquico um, porque significa afinal de contas a
obrigatoriedade do uso, pelo grupo, das competncias prprias ao superior. necessrio
observar que a gesto dos recursos humanos, pela empresa, obedece primeiro a este
princpio de economia. O organizador do trabalho no tem por regra proibir, enquanto tal,
toda autonomia ao assalariado, e pode mesmo em certos casos prescrev-la. Este
organizador no impedir a transmisso das experincias de um assalariado a outro, se tal
procedimento no torna o pessoal responsvel por sua prpria reproduo. Em outras
palavras, o administrador da firma no tem nenhum objetivo prprio no domnio do
trabalho concreto. A maneira pela qual este se efetua s o interessa pelo que acarreta na
estrutura dos custos.
No mesmo necessrio que sejam isoladas e medidas as habilidades e as capacidades
empregadas no trabalho, se a chefia sabe como elas so adquiridas e, portanto, por que
meios o posto pode ser preenchido. No necessrio determinar as exigncias de uma
funo, salvo se h projeto de modific-las ou mudar a maneira de se chegar a ela.
Mede-se aqui o erro dos socilogos que, constatando que a administrao da firma ignora
muitos dos requisitos da tarefa e das competncias do assalariado, concluem que o modo de
gesto atual peca por uma relativa ineficcia, opondo o princpio da participao ao da
burocracia. Na realidade, a qualificao no um modo de reconhecimento e de
codificao social das qualidades de trabalho, mas uma maneira de mobilizar, de reproduzir
e de acionar as diversas formas de trabalho.
5. Em vez da qualificao, seria assim necessrio descrever um conjunto de mecanismos
coordenados, que transmitem conhecimentos de uma gerao a outra, regulando o emprego
ao longo de toda uma vida de trabalho, compondo-os a cada instante em coletivos de
trabalho mais ou menos estveis.
No que consiste ento a teoria tradicional da qualificao? Ela apresenta um quadro
instantneo do emprego, quadro em que estes diferentes processos se confundem e suas
duraes diferentes so abolidas. As relaes constatadas, num momento determinado,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
68
entre a operao, a organizao administrativa, a formao do trabalhador e a retribuio
obtida, estas relaes permanecem indecifrveis e, conseqentemente, parecem primordiais
e irredutveis.
Significa isso que esta concepo da qualificao totalmente artificial, e que os socilogos
que a desenvolveram se enganaram completamente? No. A qualificao existe, mas como
o conjunto das normas que as organizaes profissionais ou polticas impem, em um dado
momento, na vida de trabalho. Os sindicatos, por exemplo, no podem ter a pretenso de
dirigir os movimentos de mo-de-obra, sua formao, sua repartio, seu uso, sua
reproduo; podem apenas impor-lhes o respeito, a todo instante, a um conjunto de
equivalncias fixadas entre o postos, os ttulos, os diplomas e os salrios. Assim, a
codificao da qualificao no representa a estruturao de uma realidade que preexistiria
a ela, mas a constituio de um procedimento de interveno nos fluxos do trabalho, no
sentido de regularizar seu curso, sem o risco de interromp-lo. Sem dvida, por esta razo
que a noo de qualificao foi, afinal de contas, elaborada e utilizada pela sociologia
apenas em pases onde serviu de instrumento para a interveno dos Estados reformistas.
(Traduo de Helena Hirata, revista por Elenice Monteiro Leite)
Da diviso do trabalho entre os sexos
Daniele Kergoat (CNRS Frana)
O objetivo desse texto expor o mais claramente possvel a necessidade do conceito de
diviso sexual do trabalho e sua funo heurstica. Organizaremos nossa exposio em
torno de trs questes bsicas:
1. O que entendemos por diviso sexual do trabalho? O que recobre exatamente essa
expresso?
2. O esforo de problematizao em termos de diviso Sexual do trabalho indispensvel?
No seria possvel utilizar com igual proveito outros enfoques j existentes?
3. Que perspectivas novas essa problemtica abre para a reflexo? Que reconstruo da
realidade social prope ao observador?
1. O que a diviso sexual do trabalho?
Por que falar em diviso sexual?
Como que se situa em relao diviso social do trabalho?
Que os homens sejam prioritariamente designados para a produo e as mulheres para a
reproduo (trabalho assalariado/trabalho domstico), que as tarefas produtivas sejam
reservadas ora aos homens, ora s mulheres... isso to comum a todas as sociedades e to
antigo que esses dados apareceram de incio como naturais e evidentes, a tal ponto que
nenhuma necessidade (objetiva ou subjetiva) de tratar esses fenmenos se manifestou;
afinal de contas, a sociologia no se interroga sobre o fato de que o cu azul, que a terra
gira ou que so as fmeas que, no reino animal, do luz. Claro que a famlia, o trabalho...
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
69
apareciam como campos sociolgicos, mas como campos fechados, delimitados pelo
destino natural da espcie: a sociologia da famlia aceitava como um dado (e portanto sem
questionar) os papis masculinos e femininos; aos homens, a ida guerra ou a
responsabilidade pela subsistncia econmica da famlia, s mulheres, a atribuio do
trabalho domstico...; quanto sociologia do trabalho, ela raciocinava sobre um modelo
geral de produtor ou de trabalhador, modelo sempre masculino, tanto gramatical
quanto conceitualmente. Em suma, esses dados no tinham (salvo em etnologia) o status de
fenmenos sociais.
Foram necessrias as interpelaes do feminismo para que essas certezas fossem abaladas.
Ao longo desses anos, os papis no assalariamento e na famlia apareceram como o que
so, isto , no como o produto de um destino biolgico, mas como um constructo social,
resultado de relaes sociais; o trabalho tambm foi requestionado, atravs da recusa de
limit-lo exclusivamente ao trabalho assalariado e profissional; pouco a pouco props-se
uma definio cada vez mais ampla do trabalho, levando-se em conta, simultaneamente,
tanto o trabalho domstico quanto o trabalho assalariado.
Em suma, a diviso do trabalho entre os sexos se imps progressivamente como uma
modalidade da diviso social do trabalho, da mesma forma que a diviso entre o trabalho
manual e o trabalho intelectual ou a diviso internacional do trabalho.
Essa forma de diviso social vlida para todas as sociedades: historiadores e etnlogos
mostraram, demonstrando-o, que as modalidades dessa diviso variam muito no tempo e no
espao, a tal ponto que tarefa especificamente masculina numa sociedade pode ser
especificamente feminina em outra.
Mas no porque as modalidades se modificam, que as sociedades deixam de ser
organizadas em torno da diviso do trabalho entre os sexos e isso merece ser estudado. A
diviso sexual no todavia a nica forma de diviso social do trabalho: ela articula-se,
interpenetra-se com outras formas de diviso social. No se trata, portanto aqui de pleitear a
exclusividade de uma forma da diviso social, mas argumentar no sentido de que a
sociologia retire as viseiras que entravam o conhecimento (e perpetuam, reproduzindo-as,
as relaes de dominao) para abordar um campo social certamente mais complexo mas
ao mesmo tempo mais interessante, mais contraditrio e portanto mais vivo e suscetvel de
dar espao ao ator social.
2. Diviso sexual do trabalho e noes alternativas
A diviso sexual do trabalho aparecia como natural e, portanto no sociolgica; mas na
realidade as atitudes, os comportamentos, as prticas sociais dos homens e das mulheres
variam. Essa diferena no pode ser sempre escamoteada: em particular no terreno do
trabalho, quer se trate de prticas em relao organizao tcnica e social do trabalho ou
daquelas em relao aos sindicatos e reivindicao, tais diferenas colocam problemas
porque tanto a organizao do trabalho quanto a organizao sindical devem, num dado
momento, lev-las em considerao, seja para utiliz-las da melhor maneira possvel, seja
para compreender certas resistncias. Da, a questo: no seria um esforo desnecessrio
falar de diviso sexual do trabalho? No poderamos utilizar, com igual proveito, as noes
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
70
j existentes: desigualdade, inferiorizao, marginalizao, superexplorao etc.? Vejamos,
ento, como essas noes so utilizadas e o que elas permitem explicar.
Segundo alguns, as diferenas observadas remetem natureza particular do sexo feminino.
Assim, as mulheres seriam mais impulsivas, mais nervosas, mais dceis, dando menos
importncia promoo, mais meticulosas, menos combativas, mais sensveis aos
problemas familiares.
D-se, pois, s diferenas observadas, o status de atributos perifricos ao modelo geral, o
que s seria correto se o modelo em questo fosse realmente geral, o que no acontece,
porque no se trata de um modelo tpico-ideal construdo a partir da anlise das prticas dos
dois sexos.
A ausncia de explicao terica , assim, substituda por esteretipos de lastimvel
simplismo sobre a natureza feminina. Nota-se assim uma continuidade perfeita entre a
construo da histeria feminina enquanto objeto nosolgico no sculo XIX e a da
submisso feminina ordem produtiva, hoje (a adaptao natural das mulheres a tarefas
repetitivas e simples parece mostrar em particular que o problema das condies de
trabalho existe de uma maneira menos aguda para elas CNPF
7
, relatrio sobre os
operrios no qualificados, de 1972).
Socialmente tais esteretipos so, claro, totalmente incapazes de explicar a realidade e,
sobretudo de pensar a mudana.
Segundo outros autores, as diferenas observadas nos comportamentos se deveriam a um
plus de opresso, de explorao... que pesa sobre as mulheres. O carter mais sofisticado
desse raciocnio no deve nos iludir: tambm aqui, reduzindo a diferena ao quantitativo, a
referncia a um modelo que se supe geral permanece: assim, a explorao, traduo bem
conhecida da relao antagnica capital/trabalho, se exerceria mais fortemente (e no
diferentemente) sobre as mulheres.
Duas objees a esse raciocnio:
1 no se explica por que mais sobre as mulheres, e quem se aventura a dar tal
explicao recai logo no plano biolgico (ver a explicao que certas teorias da
segmentao do da localizao das mulheres no mercado secundrio);
2 os modelos de mudana derivados dessa explicao no funcionam, ou funcionam
mal. Por exemplo: se a populao feminina marginalizada no mundo do trabalho,
porque ela menos bem equipada no mercado do emprego; entenda-se menos formada,
mas tambm menos disponvel objetivamente (por causa dos encargos familiares) e
subjetivamente (por causa do investimento das mulheres no extra-trabalho, isto , na
famlia).
Deste ponto de vista seria suficiente:
dar s mulheres uma melhor formao profissional;
7
Conseil National du Patronat Franais, organizao representando os interesses empresariais na Frana.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
71
ajud-las no seu acesso ao trabalho por diversos arranjos: horrios, licenas,
aposentadoria etc.
Em suma, nessa ptica seria suficiente:
instru-las melhor para que elas se paream com os homens;
mas ajud-las para que elas continuem mulheres.
Tais solues so fadadas ao fracasso:
mesmo quando so melhor instrudas, elas permanecem (com idade e nvel de diploma
equivalentes) desempregadas por muito mais tempo que os homens; e quando obtm
finalmente emprego, quase sempre com uma qualificao inferior;
mesmo quando obtm facilidades com o trabalho de meio-perodo, percebe-se
rapidamente que o auxlio em questo s as marginaliza mais (bloqueio da promoo, por
exemplo) e remete-as rapidamente ao universo domstico (pela no-partilha do trabalho
domstico que provocada pela sua passagem a meio-perodo)
8
.
O fracasso dessas explicaes suscita uma primeira observao. Deve-se notar inicialmente
que esse tipo de explicao traz em si mesmo seu limite na medida em que dicotomiza o
ator social mulheres: de um lado a trabalhadora, de outro a me-esposa. Ora, as prticas
sociais no so evidentemente dicotomizadas, mas remetem unidade dos indivduos.
Assim, no de se espantar que as solues que propem para ajudar as mulheres a
deixar essa situao marginal em relao ao universo do trabalho sejam fadadas ao
fracasso.
Em suma, a noo de inferiorizao preenche uma dupla funo: descrever uma situao,
mas esvaziar o problema terico que lhe subjacente.
Entretanto no basta mostrar que uma explicao insuficiente. necessrio ressaltar em
que consiste a dificuldade, sobre o que a explicao deveria se debruar para dar conta do
problema. Para isso daremos um segundo exemplo , o da diferenciao sexual no que diz
respeito s qualificaes operrias. Observamos que, se os dados estatsticos se referem a
uma sociedade particular, a sociedade francesa, os avanos da pesquisa comparativa
internacional mostram que a mesma demonstrao poderia ser efetuada paralelamente para
todos os pases. Todos os dados mostram que, para uma mesma classificao, os postos de
trabalho femininos so bastante distintos daqueles ocupados pelos homens e que, ao mesmo
tempo, a natureza da penibilidade da tarefa e a carga de trabalho que pesa sobre uns e
outros variam sensivelmente segundo o sexo.
Tabela 1
Operrios no qualificados
8
Daniele Kergoat efetuou uma pesquisa sobre mulheres que trabalham meio-perodo no setor de servios e na
indstria (operrias, vendedoras, assalariadas em escritrios e faxineiras). Um dos resultados dessa pesquisa
indica que o trabalho domstico, partilhado com o marido quando ambos so assalariados em tempo integral,
volta a ser realizado exclusivamente pelas mulheres quando elas trabalham meio perodo. Cf. Le travail
temps partiel. La Documentation Franaise, 1984 (N. da T.).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
72
Homens (%) Mulheres* (%)
trabalham em linha de montagem 7,7 26,5
tem um ritmo de trabalho imposto:
pelo deslocamento automtico de um produto ou de uma
pea
7,1 16,5
pela cadncia automtica de uma mquina 14,8 25,7
por normas de produo 27,3 42,6
tm uma remunerao que depende do ritmo de trabalho 18,1 29,0
repetem sempre uma mesma srie de gestos ou de
operaes
33,5 68,6
* Pesquisa sobre as condies de trabalho, do Ministrio do Trabalho francs, realizada
junto a 17.500 assalariados em 1978 e re-atualizada em 1985.
Essa diviso sexual, j ntida quando estudamos uma nica categoria, a dos operrios no
qualificados, torna-se ainda mais clara quando comparamos simultaneamente sexos e
categorias. assim que, se retomarmos a pesquisa do Ministrio do Trabalho, examinando
desta vez a categoria operrios qualificados, veremos que as denominaes admitidas
geralmente e generalizadas ao conjunto da mo de obra recobrem realidades bem diferentes
segundo o sexo: 15% das operrias qualificadas trabalham em linha de montagem, quando
apenas 2,2% dos operrios qualificados (e 7,7% dos operrios no qualificados) o fazem;
26% das operrias qualificadas tm um salrio que depende do ritmo de trabalho (contra
respectivamente 16% para os operrios qualificados e 18% para os no qualificados);
48,2% repetem sempre uma mesma srie de gestos e de operaes (contra 20,7% para os
operrios qualificados e 33,5% para os no-qualificados). Isso significa que uma operria
qualificada tem duas vezes mais possibilidades de trabalhar em linha de montagem que um
operrio no qualificado e uma vez e meia mais possibilidades de ter uma remunerao
dependente do ritmo de trabalho e de ter que repetir sempre a mesma srie de gestos ou de
operaes: a clivagem passa portanto entre homens e mulheres de classe operria, bem
mais do que entre categorias profissionais.
Assim, apenas sobre o plano da organizao tcnica plano que poderamos supor pouco
dependente a priori da ideologia, e mais facilmente objetivvel aparece claramente que
a situao das operrias qualitativamente diferente dos operrios e no s
quantitativamente, porque as categorias scio-profissionais tradicionais (operrios no
qualificados, operrios qualificados...) recobrem tipos de trabalho bem diferentes
segundo se trate de homens ou de mulheres. por isso que dizemos que o conceito de
superexplorao em si s insuficiente para dar conta da condio operria feminina.
Vemos assim claramente que as diferenas observadas no tratamento que nossas sociedades
reservam aos homens e s mulheres no campo do trabalho, no tm a ver com um mais ou
menos, mas devem ser relacionadas, no a modulaes, mas a diferenas, contradies
entre os dois sexos, a relaes sociais, em suma.
E, inversamente, se admitirmos que existe uma relao social especfica entre homens e
mulheres, decorreria da que h necessariamente prticas sociais diferentes segundo o sexo
(assim como o problema da qualificao, que veremos mais adiante). E dado que se trata de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
73
polticas sociais, e no mais de condutas reguladas biologicamente, pode-se encontrar um
princpio de inteligibilidade. Assim, o que era ininteligvel para o socilogo ou fora do
campo de sua disciplina, torna-se objeto de questionamento.
Concluindo: no se pode raciocinar unicamente em termos de relaes de classe (as
mulheres seriam mais vulnerveis que os homens na relao capital/trabalho) assim como
no se pode raciocinar a partir de uma nica categoria de sexo (ser mulher acrescentaria ou
subtrairia algo situao tpico-ideal do trabalhador).
Os comportamentos humanos, coletivos ou individuais, s podem adquirir um sentido,
referidos a um conjunto de relaes sociais, pois este conjunto, sua configurao e sua
mouvance que constituem a trama da sociedade. Chega-se assim a um outro ponto essencial
da problemtica da diviso sexual do trabalho: a vontade de no pensar isoladamente, de
no imperializar uma relao social, mas, ao contrrio, esforar-se para pensar
conjuntamente em termos de complexidade e de co-extensividade as relaes sociais
fundamentais: de classe e de sexo.
3. A diviso sexual do trabalho: um outro olhar sobre a realidade
Aqui, a questo a tratar a seguinte: com a problemtica da diviso sexual do trabalho,
trata-se simplesmente de argumentar para exigir o reconhecimento das mulheres igualmente
como atores sociais, para trabalhar em seguida sobre a condio feminina... Ou uma
maneira de considerar a realidade (atravs de uma teoria e de mtodos) que permita ver de
outra maneira essa realidade, de descobrir novas facetas, de relacionar fenmenos que
classicamente permanecem isolados?
Em suma, ser que tal problemtica permite organizar mais amplamente, de forma mais
coerente, a explicao racional de nossas sociedades e de seu funcionamento? E se a
resposta for positiva, nos perguntaremos se, na medida em que essa problemtica permite
uma renovao da anlise das prticas sociais, e, portanto das lutas, ela poderia ter
conseqncias polticas?
Para ilustrar, vamos retomar o exemplo da qualificao/formao das operrias, que ilustra
o esforo de desconstruo/reconstruo exigido por essa problemtica: se as operrias
esto nos nveis mais baixos da escala de classificaes, seria primeiro porque so mal
formadas pelo aparelho escolar e segundo porque elas se mobilizam pouco pelos problemas
de qualificao. Tal o discurso dos economistas e dos socilogos, e esquerda e direita
esto grosso modo de acordo com ele.
Ns nos insurgimos contra tais afirmaes e o que delas decorre, a saber:
que bastaria reformar o aparelho de formao, de abrir por exemplo carreiras masculinas
para que as mulheres tenham meios de adquirir uma formao superior, facilmente
negocivel no mercado de trabalho;
que bastaria que as mulheres fossem conscientes do enjeu que representa a qualificao na
relao capital trabalho para que lutem... e ganhem nesse domnio.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
74
A esse raciocnio em termos de desigualdade e de voluntarismo (ou de conscientizao, o
(que d no mesmo), os trabalhos que realizamos permitem opor a argumentao seguinte:
em vez de dizer que as mulheres operrias tm uma formao nula ou mal adaptada,
dizemos ao contrrio que elas tm uma formao perfeitamente adaptada ao tipo de
empregos industriais que lhes so propostos, formao adquirida de incio por um
aprendizado (a profisso de futuras mulheres quando eram meninas) e em seguida por
uma formao contnua (trabalhos domsticos). As mulheres operrias no so operrias
no-qualificadas ou ajudantes porque so mal-formadas pelo aparelho escolar, mas
porque so bem formadas pelo conjunto do trabalho reprodutivo.
Esse fato tem duas conseqncias:
como esta qualificao das mulheres no adquirida pelos canais institucionais
reconhecidos, ela pode ser negada pelos empregadores; notemos alis que a qualificao
masculina tambm enjeu das relaes sociais capital/trabalho, o patronato procurando
sempre neg-la, mas o que especfico s mulheres, que o no-reconhecimento das
qualidades que se lhes exige (destreza, mincia, rapidez etc.) parece socialmente legtimo,
pois tais qualidades so consideradas inatas e no adquiridas, como fatos de natureza e no
de cultura;
as prprias operrias interiorizam essa banalizao do seu trabalho; como a aquisio de
seu savoir-faire se faz fora dos canais institucionais de qualificao, sempre em referncia
esfera privada, ele aparece como uma aquisio individual e no coletiva.
Um raciocnio como este permite compreender melhor as prticas existentes, mas tambm
permite estruturar melhor o campo das foras nas quais elas se realizam e portanto as
condies (tericas) nas quais podem evoluir.
que o problema da formao-qualificao-classificao das mulheres no se desenvolve
num terreno neutro, onde todo mundo teria a maior boa vontade de se debruar sobre o
caso desse grupo minorizado das mulheres. Bem ao contrrio, os homens apropriam-se
das carreiras rentveis do aparelho de formao, e isso se acelera de com a crise; no se
trata aqui de uma afirmao gratuita: conhecem-se as dificuldades de acesso s carreiras
masculinas e as dificuldades, ou quase-impossibilidade, em fazer valer seu diploma dito
masculino, perante um patro homem. Alm disso, sabe-se que os homens so mais
combativos no que diz respeito sua prpria qualificao e classificao. Isso no se deve,
a nosso ver, ao fato de que tenham mais conscincia do enjeu da qualificao na relao
capital/trabalho; eles no so mais sensveis por natureza a esta questo da mesma maneira
que no nasceram mais combativos que as mulheres; entretanto, para eles, serem
reconhecidos como qualificados tem um significado bem diferente do que para as
mulheres.
V-se aqui como a comparao homens/mulheres colocada sob a perspectiva das relaes
sociais, atravs da problemtica da diviso sexual do trabalho, permite abordar os dois
lados da questo: como o sistema social e sua evoluo determinam o lugar das operrias
na escala das qualificaes, e como/porque as operrias interiorizam este lugar; mas
tambm, como as operrias podem transformar este sistema e onde, em que pontos
precisos, comearam a faz-lo.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
75
Concluindo, resumiremos o que dissemos pondo em evidncia os trs pontos centrais, em
torno dos quais se estrutura a problemtica da diviso sexual do trabalho:
a diviso do trabalho entre os homens e as mulheres faz parte integrante da diviso social
do trabalho. De um ponto de vista histrico, a estruturao atual da diviso sexual do
trabalho (trabalho assalariado/trabalho domstico; fbrica, escritrio/famlia) apareceu
simultaneamente com o capitalismo, a relao salarial s podendo surgir com a apario do
trabalho domstico (deve-se notar de passagem que esta noo de trabalho domsticono
nem a-histrica nem trans-histrica; ao contrrio, sua gnese datada historicamente). Do
nascimento do capitalismo ao perodo atual, as modalidades desta diviso do trabalho entre
os sexos, tanto no assalariamento quanto no trabalho domstico, evoluem no tempo de
maneira concomitante s relaes de produo;
a diviso do trabalho um termo genrico que remete a toda uma srie de relaes sociais
(como por exemplo a diviso internacional do trabalho, a diviso entre o trabalho manual e
intelectual...). A diviso do trabalho entre os sexos remete relao social entre homens e
mulheres, que atravessa e atravessada pelas outras modalidades da diviso social do
trabalho. Tentamos demonstrar, no que diz respeito a essa imbricao entre diferentes
relaes sociais, que relaes de classe e relaes de sexo no eram hierarquizveis, mas
co-extensivas; em outras palavras, trata-se de conceitos que se recobrem parcialmente e no
de conceitos que se recortam ou se articulam;
a diviso sexual do trabalho, se ela tem sua raiz na designao prioritria das mulheres ao
trabalho domstico, no pode de forma alguma ser considerada operatria unicamente no
que diz respeito s mulheres, ao trabalho domstico, esfera do privado ou da
reproduo. Bem ao contrrio, trata-se de uma problemtica (e no da abertura de um novo
campo regional) e de uma problemtica que atravessa e d sentido ao conjunto de relaes
sociais que recobre o termo de diviso social do trabalho; da a necessidade de
desconstruo/reconstruo da maior parte dos conceitos utilizados em sociologia. Esse
trabalho s pode ser, alis, pluridisciplinar e transversal em relao s compartimentaes
do tipo sociologia do trabalho/sociologia da famlia.
O exemplo do conceito de trabalho sem dvida o mais expressivo: as disjunes
clssicas entre trabalho/no trabalho, trabalho assalariado/trabalho domstico... foram
recusadas como sendo o reflexo da ideologia dominante e esforamo-nos por reestabelecer
as relaes entre o que tinha sido separado, at ento, atravs de uma definio mais
extensiva de trabalho (o conceito de trabalho recobrindo tanto o trabalho assalariado quanto
o trabalho domstico) e afastando-o do mbito exclusivo das relaes mercantis. A partir
da, o trabalho domstico e as particularidades do trabalho assalariado das mulheres no so
mais excees em relao a um modelo que se supe ser geral, mas tal problemtica
pressupe uma tentativa de reconstruir um modelo geral do qual essas mesmas
especificidades seriam elementos constitutivos.
Neste sentido, a problemtica da diviso sexual do trabalho se inscreve na grande tradio
da sociologia que precisamente de ir alm das aparncias, alm do senso comum, para
mostrar que o que percebido como natural por uma sociedade, o unicamente porque a
codificao social to forte, to interiorizada pelos atores que ela se torna invisvel: o
cultural torna-se a evidncia, o cultural se transmuta em natural.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
76
(Traduo de Helena Hirata, revista por Magda Neves)
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
77
Introduo psicopatologia do trabalho
Christophe Dejours (Centre Hospitalier D'Orsay)
1. O que a psicopatologia do trabalho?
A psicopatologia do trabalho estuda a relao psquica dos trabalhadores com o trabalho.
Seu ponto de partida reside no interesse suscitado pelas conseqncias do trabalho sobre a
sade mental dos trabalhadores, quer tais conseqncias sejam nefastas dir-se- nesse caso
que o trabalho patognico, quer sejam favorveis o trabalho ser ento chamado
estruturador.
Apoiando-se na concepo psicanaltica do funcionamento psquico, a psicopatologia do
trabalho reinterroga de maneira resoluta o impacto da realidade exterior sobre o sujeito,
aventurando-se, portanto fora do campo estritamente limitado por uma psicanlise que em
geral s se interessa pelas fontes endgenas de sofrimento (estas ltimas referem-se
histria precoce e repetio inconsciente de conflitos insuficientemente resolvidos,
herdados da infncia). Alm do interesse pela sade mental dos trabalhadores, a
psicopatologia do trabalho preocupa-se com as condies da transformao do trabalho.
Trs pontos devem ser ressaltados:
Se as condies de trabalho (estudadas pela medicina do trabalho, pela psicologia
industrial e pela ergonomia) so especificamente questionadas nos seus ataques sade do
corpo dos trabalhadores, era necessrio identificar o que, na situao de trabalho, punha em
questo o funcionamento psquico. A psicopatologia do trabalho atribui a funo
patognica (ou estruturadora) do trabalho organizao do trabalho, isto , diviso das
tarefas, por um lado, e diviso dos homens por outro (isto , aos dispositivos de controle,
vigilncia, hierarquia, comando, repartio das responsabilidades etc.).
A organizao do trabalho freqentemente perigosa para o funcionamento psquico.
Entretanto, a grande maioria dos trabalhadores consegue evitar a loucura, ou, em termos
mais tcnicos, a descompensao psiquitrica. Para designar esse equilbrio (instvel),
aqum da doena mental, falaremos em sofrimento. Assim, interessa psicopatologia do
trabalho o estudo dessas defesas que, diferentemente das descompensaes psiquitricas,
mostram-se marcadas pelo selo daqueles entraves organizacionais contra os quais se
erigem.
se o trabalho pode ser patognico, pode ser tambm fonte de prazer e contribuir de
maneira original para a luta pela conquista e pela defesa da sade. A questo remete s
caractersticas das organizaes do trabalho que permitem acesso ao prazer, sade mental,
e alm dela sade tambm do corpo, se quisermos nos referir s concepes
psicossomticas.
esta dimenso, ressaltada pela psicopatologia do trabalho, que torna possvel tratar da
questo da transformao da organizao do trabalho.
2. Os sistemas defensivos
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
78
Em funo de cada tipo de organizao do trabalho, constituem-se procedimentos
defensivos especficos. Pode-se assim evidenciar defesas elaboradas pelos indivduos e
defesas construdas pelos grupos de trabalhadores. A estas ltimas, damos o nome de
defesas coletivas. Estudadas particularmente na construo civil, na petroqumica, no
setor nuclear, no exrcito e no setor pesqueiro, essas defesas so elaboradas contra as
diferentes formas de sofrimento e sobretudo contra o medo que resulta do trabalho.
Elas funcionam segundo uma lgica rigorosa permitida por um sistema de proibies de
certos comportamentos, de silncio sobre tudo o que se refere ao tema do medo, de
valorizao do discurso herico, de comportamentos de bravata e de desafio ao perigo, de
recusas paradoxais s regras de segurana e de prticas coletivas ldicas zombando de
situaes de risco, e mesmo, por vezes, brincadeiras perigosas em torno da questo do
risco, do acidente, da doena e da morte no trabalho.
A defesa coletiva exige a participao de todos os trabalhadores sem exceo e exerce um
poder de excluso e de seleo em relao queles que resistem s regras de conduta
implicadas pela defesa coletiva.
Aparece, assim, uma srie de paradoxos. A defesa contribui para unificar os trabalhadores e
para soldar o grupo de trabalho, tendo em vista minimizar o sofrimento. Nestas condies,
nada impede que tais defesas possam ser exploradas para a produo. Assim, pode-se
mostrar que a produtividade est estreitamente vinculada eficcia da defesa coletiva,
construda inicialmente para combater o sofrimento. A defesa coletiva pode mesmo, em
certos casos, estimular a produo de truques profissionais, sem os quais nenhuma
produo possvel (com efeito, sempre existe uma defasagem, como mostraram os
ergonomistas, entre organizao do trabalho prescrita e organizao do trabalho real: se os
operrios aplicam estritamente a organizao do trabalho prescrita, como nas operaes-
tartaruga (ou operaes-padro), a produo torna-se rapidamente impossvel. Verifica-se,
ento, que os truques so vitais para a produo). Pode-se, assim, estudar o que convm
chamar a explorao do sofrimento.
Outro paradoxo, revelado pelo estudo dos procedimentos defensivos contra o sofrimento,
que quando essas defesas funcionam bem, elas acabam dominando o sofrimento
eficazmente. Quando funcionam demais, chegam s vezes a produzir uma espcie de
anestesia, isto , de insensibilidade ao sofrimento que passa a no ser mais percebido
conscientemente pelos trabalhadores. Isso contribui para pr em jogo outros problemas;
nestas condies as defesas estabilizam a situao e atrapalham os esforos necessrios
para repensar e transformar a relao com o trabalho. As defesas excessivas agem a partir
da no sentido de uma resistncia mudana. Abre-se ento o domnio especfico da
alienao no trabalho.
Quando esses procedimentos defensivos servem de base para a construo de um sistema
de valores, que leva a promover a defesa como um fim em si, ou, o que d no mesmo,
quando se consegue fazer passar a defesa por desejo, por objetivo em si, ento no se trata
mais de uma defesa coletiva, mas do que chamamos uma ideologia defensiva de
profisso cujo impacto sobre as relaes sociais altamente problemtico.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
79
Isso, sobretudo se no limitarmos a pesquisa aos trabalhadores sujeitos s tarefas de
execuo, mas considerarmos tambm o que se passa do lado das chefias e gerncias.
Constatamos ento que a gerncia tambm precisa se defender do medo, por exemplo, de
trabalhar no setor qumico ou nuclear. Constatamos tambm, que alm do medo dos
acidentes, ela tambm tem medo dos operrios que deve dirigir. De forma que as chefias
constroem sistemas defensivos especficos, que contribuem para radicalizar os
antagonismos e o sofrimento de parte a parte.
3. O prazer no trabalho
Ao contrrio das defesas contra o sofrimento, que podem ser objeto de uma elaborao
coletiva, o prazer permanece sendo uma dimenso estritamente individual, derivada do
desejo (dado irredutivelmente subjetivo). O estudo do prazer no trabalho fundamenta-se na
anlise do processo conhecido em psicanlise pelo nome de sublimao. Esta consiste,
muito esquematicamente, em tomar o campo social e em particular o trabalho como um
teatro onde se pode representar, colocar em cena desejos (ou pulses) que no puderam
encontrar na sexualidade condies propcias sua realizao. Assim, o trabalho o
mediador privilegiado entre inconsciente e campo social. O trabalho por isso capaz, em
certas condies, de oferecer uma soluo favorvel ao desejo, e tornar-se um instrumento,
ao lado da sexualidade e do amor, na conquista do equilbrio psquico e da sade mental.
Dir-se- neste caso que o trabalho estruturador. Isso significa que nas tarefas de execuo,
sobretudo naquelas parcelares, no h lugar para negociar a mise en scne necessria ao
jogo da sublimao. Pode-se falar a inclusive de organizaes do trabalho anti-
sublimatrias. So tarefas desestruturadoras ou virtualmente patognicas.
Quais so as caractersticas das organizaes do trabalho estruturadoras?
Esquematicamente pode-se admitir que so aquelas que propiciam situaes em que se
confia ao trabalhador uma parte significativa da concepo do trabalho. As tarefas de
concepo fornecem freqentemente as condies necessrias constituio dos teatros da
sublimao. Assim conviria opor as atividades de concepo s atividades de execuo,
mais do que recorrer oposio clssica entre trabalho intelectual e trabalho manual (sabe-
se que hoje, com a automao e a informatizao, muitas tarefas cognitivas so to
estereotipadas e perigosas para a sade quanto as tarefas manuais).
Mesmo sendo a sublimao antes de tudo um processo subjetivo singular, seria um erro
crer que ela no implica os coletivos. A sublimao relacionada com as atividades de
concepo, particularmente favorecida pelo trabalho qualificado (mtier), solicita o
coletivo. Mas ela solicita a constituio, a regulao e o funcionamento deste coletivo, de
uma maneira diferente da dos coletivos de defesa. O trabalho qualificado desemboca,
sobretudo na constituio de coletivos de tipo comunidade de filiao (appartenance),
estruturados por regras que no controlam somente comportamentos relacionados ao
sofrimento, mas que, derivando da tecnicidade e do savoir-faire, controlam sobretudo sua
conservao, sua transmisso e sua evoluo. Decorre da uma forma particularmente
desenvolvida de cooperao operria, que se manifesta tambm entre os trabalhadores que
realizam tarefas de execuo, mas neste ltimo caso apenas em estado embrionrio, se
compararmos a maneira pela qual ela realizada nos coletivos de mtier, ou coletivos de
regra.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
80
4. A organizao do trabalho
Nesta perspectiva, a psicopatologia do trabalho acaba por considerar a organizao do
trabalho, no mais como o resultado de uma definio tcnica, mas como uma relao
social. No como uma relao social de simples poder, mas como uma relao social de
trabalho que se constitui especificamente com a questo de decidir como deve ser
executado o trabalho. Tanto os estudos psicopatolgicos quanto os estudos ergonmicos
mostram que a organizao prescrita do trabalho no nunca respeitada, e que ela resulta
sempre de um compromisso que surge de uma negociao entre coletivo de chefia e
coletivo de execuo. Tal compromisso , alis altamente instvel e singular, sendo
diferente de uma empresa para outra, em funo da histria dos coletivos em questo.
Assim, uma fbrica pr-montada instalada num pas comprador funciona bem
diferentemente de sua correspondente no pas de origem. De maneira anloga, duas
refinarias de lcool instaladas em duas regies diferentes do Brasil, chegam constituio
de duas organizaes do trabalho diferentes. E pode se observar por vezes, no interior de
uma mesma central nuclear, diferenas considerveis na organizao do trabalho
comparando um segmento a outro, ou passando de um reator a outro, pois cada um possui
seus prprios efetivos e suas prprias equipes de vigilncia e manuteno.
Essas diferenas sugerem que, de um lugar para outro, de uma situao para outra, a
imaginao, a inventividade, as capacidades criadoras dos trabalhadores, no se cristalizam
e no evoluem de maneira idntica. dessa variabilidade que leva a afirmar que a
organizao do trabalho pode ser transformada apoiando-se sobre as capacidades criadoras,
ou melhor, o que se pode chamar as aptides para a pesquisa dos trabalhadores sobre o seu
trabalho, embora essas aptides sejam em nossas sociedades geralmente freiadas e
ridicularizadas. Ora, essa atividade que exprime socialmente a mobilizao dos processos
sublimatrios, centrais na questo de prazer e da sade mental no trabalho.
5. Da diviso sexual diviso internacional do trabalho
A confrontao dos resultados da psicopatologia do trabalho com a sociologia da diviso
sexual do trabalho mostra que a situao das mulheres no em nada semelhante dos
homens no que diz respeito ao sofrimento psquico e aos procedimentos defensivos que elas
podem elaborar a partir da posio que ocupam. Um certo nmero de argumentos sugere
que as defesas coletivas so difceis de pr em prtica, por causa de obstculos especficos
(ressaltados pelos socilogos) encontrados pelas mulheres na constituio dos coletivos no
trabalho. Alguns dados clnicos disponveis sugerem que quando tais defesas coletivas
funcionam, nas fbricas de mulheres elas passam por distores importantes que so
impostas identidade sexual de mulher. Em outros termos, a psicopatologia do trabalho das
mulheres parece indicar que elas passam por um sofrimento suplementar em relao aos
homens, sofrimento que no apenas a mais, mas que desloca de fato a problemtica
psicopatolgica no seu conjunto. Nesse domnio, todavia, o essencial das pesquisas est
ainda por ser feito.
O outro problema colocado pelo confronto com a sociologia da diviso sexual do trabalho
refere-se ao uso que os homens trabalhadores fazem das relaes domsticas de dominao
como procedimento defensivo contra o sofrimento ocasionado pela organizao do
trabalho. Uma parte da recuperao psquica desse sofrimento dos homens no trabalho
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
81
realizada em detrimento das mulheres (derivao da violncia das relaes de trabalho
contra as mulheres)
9
.
Aqui tambm a situao para as trabalhadoras no a mesma, pois elas no podem contar,
da mesma maneira que os homens, com as relaes domsticas para aliviar o sofrimento
que resulta de sua relao com o trabalho.
Enfim, necessrio sublinhar que, se as mulheres so vtimas indiretas das defesas dos
homens contra o sofrimento, elas no so as nicas. Tambm as crianas, segundo
procedimentos diferentes, so levadas a sofrer as conseqncias dos problemas
psicopatolgicos dos pais trabalhadores, a tal ponto que uma boa parte da psicopatologia
geral da infncia e da adolescncia mereceria ser inteiramente redecifrada luz da
psicopatologia do trabalho dos pais. Sem menosprezar o fato de que, nesse mesmo
movimento, uma boa parte das conseqncias psicopatolgicas do sofrimento ser derivada
para terceiros.
na via aberta pela questo da economia das defesas e das conseqncias que dela
decorrem que se pode abordar a questo da diviso internacional do trabalho e dos riscos,
sobretudo dos riscos psquicos. A economia das defesas contra o sofrimento no trabalho
no poderia ser analisada, j o dissemos, num quadro limitado ao indivduo. Ela tem
implicaes nos coletivos de trabalho, nas relaes domsticas do casal e nas relaes com
as crianas. Alm disso, as estratgias postas em prtica pelos trabalhadores para lutar
contra o sofrimento tm um certo impacto sobre a organizao do trabalho, cuja evoluo
choca-se, por sua vez, com o obstculo humano. Uma das manobras consiste, de parte dos
empresrios, em exportar para os pases em desenvolvimento as formas de organizao do
trabalho que encontram uma resistncia muito forte nos pases industrializados. Exportando
os processos de trabalho, os pases do norte exportam tambm uma parte significativa da
psicopatologia do trabalho.
Mesmo se alguns dados preliminares indicam que, de vrios pontos de vista, os
procedimentos defensivos elaborados pelos trabalhadores brasileiros, por exemplo, so
muito prximos dos que podem ser observados na Europa em situaes de trabalho
similares, a evoluo da relao psquica com o trabalho induzida pela diviso crescente
das tarefas e pela automatizao, em que as atividades de concepo so amplamente
confiscadas, desestrutura de forma importante as condies necessrias aos processos de
sublimao.
Por razes bastante complexas, mas explicveis, uma das conseqncias psicopatolgicas
da carncia de tarefas sublimatrias reside no aumento da violncia social que a ela se
associa.
Pode-se mostrar, com efeito, que a sublimao, mediao nica entre consciente individual
e campo social, um processo que absorve e transforma principalmente as pulses ditas
parciais, que justamente por falta de solues sublimatrias, podem gerar perverses,
violncia compulsiva e patologia psiquitrica grave (psicoses, somatizao, toxicomanias).
9
Para um aprofundamento dessa questo, ver Danile Kergoat, Le sylogisme de la constitution du sujet sexu
fminin. Le cas des ouvrires spcialises, comunicao para a Mesa Redonda APRE sobre Rapports Sociaux
de Sexe, Paris, 24-26/11/1987 (N. da T.).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
82
Isso significa que, se considerarmos a psicopatologia do trabalho numa perspectiva
internacional, seremos levados a assinalar que uma parte importante da loucura engendrada
pelo trabalho acumula-se nos pases do terceiro mundo (aps ter sido parcialmente
evacuada dos pases ricos), sendo a violncia social na cidade sua forma principal de
expresso clnica.
(Traduo de Helena Hirata, revista por Cludio Henriques)
ABSTRACT: The four texts presented below, on capitalist division of labour, skilled
work, sexual division of labour and labour psychopathology, were first written as seminar
papers for a course on Technology, labour processes and employement policies,
delivered in the second semester of 1987 at the Sociology Department of the University of
So Paulo, as part of its Graduate Studies Program. Their authors have all published books
on the subjects synthetically presented in these papers. Michel Freyssenet, the author of the
first, also wrote La division capitaliste du travail, published by Ed. Savelli, 1977. He is a
researcher at the Centre de Sociologie Urbaine of the CNRS in Paris. Pierre Rolle, the
author of the second text, also wrote an Introduction la Sociologie du Travail (Ed.
Larousse, 1971) and has just published a new treatise on the Sociology of Labour (Travail
et Salariat, Presses Universitaires de Grenoble, 1988). He is a professor at the University of
Paris X (Nanterre). Danielle Kergoat, the author of the third paper, coordinates a research
group in the CNRS (GEDISST Groupe dEtude sur la Division Sociale et Sexuelle du
Travail), supervising research on womens work and the sexual division of labour. She is
the author of Les Ouvrires (published by Ed. Sycomore,1982) and works at the Sociology
Graduate Studies Program of the University of Paris VII (Jussieu). Finally, Christophe
Dejours, the author of the last text, is a medical doctor, a psychiatrist and a psychoanalist,
and he works at the Orsay Hospital. His book Lusure du travail (Ed. Centurion, 1980) was
translated into Portuguese as A loucura do trabalho, published by Ed. Obor-Cortez in
1987. The translation we did of these texts was revised by the students who participated in
the seminars that were part of the above mentioned course.
KEYWORDS: Labour: capitalistic division, qualification, dequalification, sexual division,
psychopathology.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
83
POLTICAS PBLICAS, POLTICAS SOCIAIS E
POLTICAS DE SADE:
algumas questes para reflexo e debate
MARIA HELENA OLIVA AUGUSTO
Comunicao apresentada ao Grupo de
Trabalho Planificacin y Polticas Pblicas,
durante o XVII CONGRESO LATINO
AMERICANO DE SOCIOLOGIA,
promovido pela Associacin
Latinoamericana de Sociologia (ALAS), em
Montevidu, Uruguai, no perodo de 2 a 6
de dezembro de 1988.
Professora e pesquisadora do Departamento
de Sociologia, da FFLCH-USP.
RESUMO: Esta comunicao objetiva discutir, em primeiro lugar, as relaes,
proximidades e diferenas existentes entre as noes de planejamento estatal e de poltica
pblica que tm recoberto, no Brasil, o mesmo espao emprico. Em seguida, acentuando a
improcedncia de distines rgidas entre os aspectos econmicos e sociais da ao
governamental, quer sugerir a necessidade de se repensar tal diviso e de se analisar, com
maior profundidade, a prpria noo bastante controvertida de poltica social. Com
base nos planos governamentais desenvolvidos aps 1964, busca, ento, avaliar as polticas
sociais no Brasil, enquanto conjunto central, mas ineficaz de atividades de governo.
Finalmente, reservado espao especial para a discusso da(s) poltica(s) nacionais de
sade.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento estatal, poltica pblica, poltica social, poltica de
sade, direito social.
Com freqncia, alguns temas e questes so incorporados ao jargo acadmico sem que
maior ateno seja dedicada ao exame de sua densidade terica ou de seu significado, uma
vez que parecem possuir ampla eficcia operacional. Em nosso entender, este o caso de
noes como as de poltica pblica, poltica social ou poltica econmica, que no alcanam
atingir a dimenso de conceitos, apenas classificando a atuao do Estado pelo espao
emprico que esta recobre.
Este trabalho pretende refletir sobre alguns problemas suscitados pela utilizao
indiscriminada dessas noes e ressaltar a necessidade de que sejam amplamente analisadas
e debatidas.
Planejamento e polticas pblicas.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
84
A partir da dcada de 70, e cada vez com maior freqncia, a expresso poltica pblica
passou a se impor no discurso oficial e nos textos das cincias sociais, recobrindo o mesmo
espao emprico antes ocupado pela noo de planejamento estatal.
O termo poltica refere-se a um conjunto de objetivos que informam determinado
programa de ao governamental e condicionam sua execuo (Ferreira, 1986). Implica,
desta forma, a idia de orientao unitria quanto aos fins a serem atingidos. Tambm
supe uma certa hierarquia entre as diversas dimenses empricas a serem presumivelmente
atingidas, pelo menos a nvel dos benefcios que adviriam de sua implementao. A direo
para a qual aponta e os objetivos que orientam a referida poltica manifestar-se-iam, de
forma clara, no interior dos projetos e atividades que a constituem. Alm disso, denotaria
um conjunto articulado de decises de governo, visando fins previamente estabelecidos a
serem atingidos atravs de prticas globalmente programadas e encadeadas de forma
coerente. Clareza de propsitos, hierarquia quanto aos fins, e programas definidos no
sentido de atingi-los, qualificariam as polticas governamentais em geral.
Tais caractersticas tornam possvel o entendimento de que as duas noes consideradas
planejamento e poltica pblica sejam prximas, similares e, portanto, intercambiveis;
no entanto, o estabelecimento de distines entre ambas talvez permita avanar na
compreenso do significado da interveno estatal no Brasil.
Vinculando-se a uma perspectiva desenvolvimentista que considerava a possibilidade de
superao da dependncia econmica pelo pas, o planejamento foi considerado, durante a
dcada de 50 e at meados da de 60, a forma privilegiada de ao do Estado. Percebido
como instrumento de controle racional da Histria (Pereira, 1970), capaz de conduzir ao
desenvolvimento econmico e autonomia nacional, deveria, para tanto, estar alicerado na
eficcia e na competncia tcnicas, o que possibilitaria a realizao de mudanas
planejadas (a um s tempo, controladas e controlveis). Alterando os rumos ou
acelerando o ritmo natural dos processos em curso, sua utilizao - ainda que, por vezes,
contra a vontade dos prprios beneficirios (Pereira, 1986, p. 1519) tornaria possvel a
transformao qualitativa da ordem social, conduzindo o pas a mudanas de tipo estrutural.
Reconhea-se nessa percepo um acentuado tom voluntarista.
expresso poltica pblica, cujo sentido corrente refere-se interveno estatal nas mais
diferentes dimenses da vida social, atribuda fora transformadora bem menor. Neste
sentido, traduziria, de maneira mais realista, as possibilidades e os limites da interveno
estatal, uma vez que sua existncia no cria, necessariamente, expectativas de alteraes de
mbito estrutural. Trata-se, antes, da imposio de uma racionalidade especfica s vrias
ordens de ao do Estado, um rearranjo de coisas, setores e situaes.
As noes de planejamento estatal e poltica pblica tambm apresentam diferenas de
carter mais emprico. As primeiras experincias de planejamento no Brasil envolviam o
estabelecimento de prioridades e a determinao de metas a serem atingidas, articuladas em
torno de um eixo central, o desenvolvimento econmico; ainda que se creia necessrio o
estabelecimento de diretrizes claras, no parece existir articulao semelhante no relativo
formulao e implementao das polticas pblicas.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
85
A referncia ao planejamento ou poltica pblica permite ainda qualificar mais
precisamente o significado dos mbitos pblico e privado das atividades em processo no
Pas.
Por suposto, o objeto prioritrio da interferncia estatal so as questes definidas
institucionalmente como estando ligadas ao interesse geral. Entretanto, o mbito do que se
qualifica como pblico, ligado ao interesse geral, no delimitado de maneira isenta, uma
vez que o Estado um lugar de domnio e de conflitos, contraditrio em sua natureza, e no
um espao de neutralidade, situado alm e acima das diferenas constitutivas do social.
Nele, a capacidade de reivindicar e ver satisfeitas as aspiraes e demandas polticas
diferenciada, conforme seja a fora de presso e de persuaso dos diversos sujeitos sociais
envolvidos. Assim, ainda que a atuao estatal exprima a capacidade de atender a uma
multiplicidade heterognea de interesses atravs de polticas que possuam carter geral e
universalizante, o sentido assumido por esta ao revela certa forma de hierarquiz-los
nem sempre apreensvel de imediato numa direo que privilegia alguns desses sujeitos,
conforme seus interesses, posies e lugares (Augusto et alii, 1985; Draibe, 1986).
O que torna possvel tal privilgio o fato de que a contraposio (mais do que isso, a
delimitao) entre o que pblico, referente ao interesse geral, e o que privado, relativo a
situaes particulares, se articula a partir do Estado. Nessa medida, sua ao pode
privilegiar os interesses, as posies e as situaes particulares, apresentando-os e
constituindo-os como representantes e expresses de um interesse geral definido
abstratamente (Pereira, 1977; Augusto, 1978; Sallum, 1985) Ainda que se apresentem como
espao neutro, as intervenes do Estado so, portanto, formas de reatualizao ou de
manifestao do padro de domnio existente na sociedade. Embora financiadas com
recursos extrados da totalidade do pblico, o interesse geral que proclamam traduz-se
como intermediao estatal dos interesses particulares.
Tambm necessrio enfatizar a inexistncia de reas ou dinmicas (pblicas e/ou
privadas) que, atualmente, escapem presena estatal. Expandindo-se de forma cada vez
mais visvel e ampliando, em conseqncia, suas atividades, tem assumido, alm daquelas
que sempre foram consideradas de sua competncia, outras funes anteriormente adscritas
ao campo do particular, do privado, da sociedade civil (Bobbio, 1987). Isto devido
extenso e alargamento, cada vez maiores, do chamado espao pblico e,
conseqentemente, do aumento do nmero de temas e problemas que fazem parte de sua
rbita e converter-se em questes de Estado.
No se trata aqui de supor a existncia de perodos nos quais a interveno do Estado no
estivesse presente, uma vez que intervir parte constitutiva da sua natureza. Trata-se, antes,
de constatar que a significativa ampliao de suas funes conduziu a que praticamente
todas as instituies sociais a ele anteriormente no vinculadas, tivessem diminudas sua
participao e influncia, ao mesmo tempo que passaram a gravitar em sua rbita (Pereira,
1986).
Nesse processo, o Estado tende a se constituir como sujeito personificado e personalizvel
na dinmica social, produzindo bens e servios de interesse coletivo ou outorgando direitos
e benesses aos diferentes segmentos sociais. Configura-se tambm a decadncia da
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
86
dimenso pblica que, no mesmo movimento em que penetra esferas cada vez mais
extensas da sociedade, perde paradoxalmente a funo poltica de submeter ao controle de
um pblico crtico todo e qualquer fato tornado pblico (Habermas, 1984, p. 167; Garcia-
Pelayo, 1985).
Essa tendncia universal vem sendo tambm observada no Brasil, sobretudo nas duas
ltimas dcadas, tendo como conseqncia a expanso quantitativa e qualitativa das
agncias do poder executivo, especializadas na formulao e implementao de polticas
setoriais. A ampliao de sua rea de atividade e a proliferao de agncias estatais, longe
de possibilitarem a visualizao do efeito conjunto e articulado de suas mltiplas aes,
terminaram por acentuar a emergncia de eixos prprios para cada uma das linhas de
interveno do Estado e por conduzir a formas fragmentadas de operao (Martins, 1985).
No h maior harmonizao entre as vrias atividades governamentais e tudo parece
funcionar como se cada um dos nveis em que operam danasse conforme sua prpria
msica.
No obstante o Estado exercer o monoplio relativamente ao controle das atividades em
processo na sociedade brasileira, as diferentes polticas por ele implementadas continuam
bastante fragmentrias e o nico elemento aparente e explcito a unific-las o fato de
serem pblicas isto , ocorrerem a partir do aparelho estatal. crescente centralizao
das decises polticas e financeiras na rbita do governo federal, alia-se, ponto, uma
espetacular fragmentao institucional. Esta expressa-se na multiplicao de autarquias,
fundaes e empresas pblicas encarregadas da execuo das polticas econmicas,
educacional, tributria, industrial, tecnolgica, de sade, trabalhista, de comrcio exterior,
previdenciria, etc. Cada uma dessas polticas parece dizer respeito a um pedao da
amplitude hoje abrangida pelo Estado brasileiro, com pouca ou quase nenhuma articulao
recproca.
Desse modo, as agncias e instituies que se multiplicam para possibilitar a
implementao dos diversos planos, programas e polticas, tendem a revestir-se da
qualidade de pblicas, no propriamente por fora de suas prticas correntes, mas por
deverem sua origem ao fiat do Estado ou por gravitarem ao seu redor (Martins, 1985, p.
11).
A percepo de uma linha coerente no conjunto de aes desenvolvidas por inmeras
instituies s se faz possvel posteriormente, em funo dos resultados alcanados, ainda
que no tenham sido prvia e claramente estipulados ou no correspondam aos objetivos
formulados o que ocorre com freqncia. Resultado de uma construo analtica, tal
percepo permite acentuar a dimenso propriamente poltica da atividade estatal que, na
maior parte das situaes, tende a ser recoberta e obscurecida pelo destaque dado a seu
carter tcnico e/ou pelas qualificaes que lhe so vinculadas, de neutralidade, eficcia e
eficincia (Habermas, 1968; O'Donnel, 1980-1981). Deseja-se frisar com este lembrete que
a caracterizao real de uma poltica s pode se verificar ex post.
Uma outra questo importante merece destaque. A percepo emprica, que distingue
analiticamente conseqncias e custos econmicos e sociais da interveno estatal,
possvel e recorrente. ela quem sustenta a aparente neutralidade tcnica que recobre as
decises de poltica econmica e lhes d preeminncia, medida que enfatizam
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
87
expectativas de uma espcie de curso natural das coisas em que o sucesso de aes de
carter econmico aparece como garantia prvia de alteraes positivas na dimenso social.
As distines rgidas entre os aspectos econmicos e sociais da ao governamental
no tem vigncia no processo real. Nem aqueles nem estes so, verdadeira ou inteiramente,
uma coisa ou outra. Antes, na maneira pela qual tais dimenses esto articuladas que se
expressa o fundamento da sociabilidade em ato, constatao que permite apontar a
invalidade terica da perspectiva que acentua tal diviso e sugerir que ela possa (e deva) ser
repensada.
Torna-se, assim, importante a discusso das polticas sociais, polticas pblicas referidas
quelas aes que exercem pelo menos em tese um impacto direto sobre o bem-estar
dos cidados.
Poltica Social, uma definio controvertida
Momentos distintos no tempo, correspondentes a diferentes estgios de constituio da
sociedade capitalista, permitiram ou revelaram formas distintas de direitos, relativos
expresso da cidadania: os direitos civis, os direitos polticos, os direitos sociais (Marshall,
1967). Estes ltimos dizem respeito ao bem-estar coletivo e garantia de um nvel mnimo
de consumo para todos os indivduos cidados. Relacionam-se ao momento contemporneo
e manifestam-se, simultaneamente, como bem a ser reclamado e como bem a ser
propiciado. Em outras palavras, constitui-se enquanto conquista passvel de ser atingida sob
presso ou traduzvel atravs da formulao e implementao de polticas sociais pelo
Estado (Marshall, 1967; Donnangelo, 1975; Pereira, 1977).
Com freqncia, a discusso das polticas sociais pela literatura especializada limita-se a
registrar sua existncia e/ou a enunci-las, havendo raras excees a esta regra. Trata-se da
constatao emprica da atuao estatal, mas no da anlise do significado poltico de seu
contedo. Percebido desta forma, o termo poltica social no exprime um significado
tcnico ou um contedo terico preciso e apenas uma categoria descritiva dos fenmenos
que abarca. No chega, assim, a se constituir como conceito ou a apresentar dimenso
explicativa (Marshall, 1967; Kowarick, 1985).
Mesmo reconhecendo essa limitao, possvel a colocao de alguns pontos para uma
anlise dessas polticas, a partir da bibliografia existente. As aes estatais a ela vinculada
teriam carter compensatrio e redistributivo e, estando destinadas a proporcionar
consumos especficos e encontrando no Estado seu agente privilegiado, so entendidas
como importante instrumento de controle dos antagonismos sociais (Santos, 1979; Draibe,
1986). Em sua realizao e diferentes modalidades, expressam a relao de foras presentes
no mbito das sociedades concretas.
Ativando determinadas reas de produo ou representando a garantia de um salrio
indireto para os trabalhadores, as polticas sociais podem corresponder a interesses
econmicos do capital, imediatos e de longo prazo. Ainda que de forma subordinada,
podem tambm traduzir a efetiva incorporao de interesses mais imediatos das posies e
lugares subalternos (sobretudo aqueles que se expressam na busca de elevao de renda),
refletindo assim o sucesso dos esforos e lutas dos segmentos sociais dominados. Grande
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
88
destaque deve ser dado ao reconhecimento de direitos desses segmentos e criao de
canais de reivindicao e participao popular.
Uma explicao das polticas sociais considera que estas devem ser vistas como respostas
s necessidades do trabalho e s necessidades do capital, compatibilizando-se entre si.
Nesse sentido, participam tanto [d]a elaborao poltica de conflitos de classe quanto [d]a
elaborao de crises do processo de acumulao (Offe, 1984, p. 36-7). Prope, alm
disso, que sua importncia decisiva consistiria em regulamentar o processo de
proletarizao, tendo nele uma funo constitutiva (Offe, 1984, p. 22). No caso brasileiro, a
tenso acumulao versus eqidade acaba por pressionar muito mais intensamente o lado
mais fraco, o da eqidade; desta forma, o projeto de normalizao das relaes sociais,
tentado atravs das polticas sociais, tende a no se concretizar, subordinando os objetivos
sociais da poltica estatal a fins propriamente econmicos. Tal subordinao implica que
no se possa falar em sucesso da poltica estatal no relativo s questes sociais, uma vez
que esta no promove eqidade, nem concorre, de forma efetiva, para modificar a
distribuio desigual de bens e servios entre as diferentes categorias em que se divide a
populao nacional. Alm disso, a forma que tal ao tem assumido contribui para a
intensificao do processo de privatizao dessas polticas, j em curso.
As polticas sociais no Brasil
A expresso poltica social teve seu uso generalizado no Brasil no perodo posterior a 1964,
principalmente aps 1970. Nos vrios planos de governo ento elaborados
1
foram sendo
constatados tanto um aumento do interesse oficial pelas questes sociais quanto uma
demonstrao mais evidente da importncia que as polticas a elas referidas passaram a ter
no conjunto de aes do governo. Seu ponto culminante foi a assuno da poltica social
como atribuio exclusiva do Estado, manifesta no II Plano Nacional de Desenvolvimento
(1974-1979), mesmo limitada pela clusula do pelo menos em ltima instncia (Demo,
1978).
At ento, eram muito tmidas as referncias idia de desenvolvimento social, que possua
status apenas secundrio na programao do governo. No Plano de Metas (1956-1959), por
exemplo, a educao o nico dos setores ditos sociais a que se faz meno. No Plano
Trienal de Desenvolvimento Econmico e Social (1963-1965), inclui-se tambm a sade
pblica e alude-se necessidade de uma repartio mais equilibrada da renda nacional. Em
ambos, porm, as indicaes feitas possuem carter genrico, inexistindo qualquer
diagnstico da situao e no havendo especificao dos instrumentos a serem utilizados
para a efetivao dos objetivos propostos. Alm da integrao dos cuidados com a
educao, com a sade pblica e com a previdncia social, constam do Programa de Ao
Econmica do Governo/PAEG (1964 1966), captulos referentes criao de empregos,
poltica salarial e habitao, ainda que essas questes continuem associadas com a noo
de produtividade econmica. Um dos objetivos bsicos do Programa Estratgico de
Desenvolvimento/PED (1968-1970) o desenvolvimento a servio do progresso social.
Este plano apresenta indicaes explcitas sobre programas de sade, saneamento, educao
1
Cf. Programa de Ao Econmica do Governo/PAEG (1964-1966); Plano Decenal de Desenvolvimento
Econmico e Social (1967/1976); Programa Estratgico de Desenvolvimento/PED (1968-1970); I Plano
Nacional de Desenvolvimento/PND (1970-1973); II PND (1974-1979); III PND (1980- 1985).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
89
e habitao, entendendo o progresso social como justa distribuio de renda, ausncia de
privilgios e igualdade de oportunidades, dependente da acelerao do desenvolvimento
econmico.
J o I Plano Nacional de Desenvolvimento/PND (1970-1972) apresenta como prioridades
setoriais a revoluo na educao, a acelerao do programa de sade e saneamento,
alm da revoluo na agricultura. Porm, mesmo reconhecendo a importncia da
problemtica social, o I PND ainda vincula sua resoluo eficcia da poltica econmica.
no II PND que se anuncia oficialmente, pela primeira vez, a necessidade de a poltica
social ter objetivo prprio, independente das metas da poltica econmica. No captulo
relativo estratgia do desenvolvimento social, por exemplo, enfatizada a necessidade
de superar as desigualdades regionais e so constatados os problemas de qualidade do
sistema educacional. Explicita-se quo insatisfatria a estrutura de distribuio de renda e
prope-se a reduo substancial da pobreza absoluta, definida como o contingente de
famlias com nvel de renda abaixo do mnimo admissvel quanto alimentao, sade,
educao e habitao. A despeito disso, no so claramente estabelecidas prioridades
setoriais e insuficiente a caracterizao do papel do Estado na conduo das polticas
sociais.
Alimentao, sade, educao, habitao, previdncia, transporte de massa e saneamento
aparecem, portanto, como reas de interveno das polticas sociais. Na prpria definio
do governo brasileiro, envolvem o financiamento, a produo e a distribuio dos servios
pblicos sob a responsabilidade dos Ministrios da Educao, da Sade, do Trabalho, e da
Previdncia e Assistncia Social. Deste modo, circunscrevem reas especficas de atuao
estatal que se diferenciam de outras to somente pelo mbito, objetivos e importncia que
possam ter relativamente ao todo.
Dois argumentos ajudam a esclarecer as razes que levaram o Estado brasileiro a aumentar
seu interesse pela rea social. O primeiro deles constatar que a intensificao do processo
de concentrao de renda no perodo, acentuado pelo desenvolvimento excludente e pela
urbanizao acelerada, exigia a interveno estatal no sentido de atender ou, pelo menos,
de atenuar as carncias da populao, potencializadas pela pauperizao crescente. A
agudizao de necessidades fez explicitar, muitas vezes de forma explosiva, uma srie de
tenses originrias da prpria dinmica das relaes em processo na sociedade brasileira.
Essa explicitao de tenses contribuiu para que o Estado assumisse os problemas sociais
como questes de sua responsabilidade.
O outro argumento lhe complementar: trata-se da percepo de que a legitimao e a
estabilidade do regime autoritrio deveriam apoiar-se firmemente na expanso das polticas
sociais. Colocado no centro desse processo, o Estado pode, com mais facilidade, revestir-se
do carter de entidade representativa do interesse geral, ainda que, at agora, a existncia de
polticas sociais no tenha correspondido a qualquer alterao significativa na estrutura e
nas relaes fundamentais da sociedade (Donnangelo & Pereira, 1976).
O simples enunciado de boas intenes, contudo, no seria suficiente para que esse
processo pudesse ser percebido como apto quer para distribuir benefcios, quer para
instituir deveres que atingissem todos os segmentos da sociedade. Fazia-se necessria
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
90
alguma forma de ao efetiva: a regularizao de transferncias reais de renda ou de
servios queles segmentos margem do regime, particularmente os trabalhadores. A bem
da verdade, o essencial no estaria tanto no aumento dessas transferncias, mas antes e,
sobretudo no reconhecimento de direitos e na criao de canais de reivindicao e
participao populares, papel reconhecidamente preenchido pelas polticas sociais
(Andrade, 1980).
No Brasil, importante destacar ainda uma vez, a formulao e a execuo de programas
sociais pelo Estado tm feito prevalecer os interesses econmicos sobre as metas de maior
eqidade social; sua interveno nessas reas vem se fazendo, prioritariamente, atravs da
articulao do aparelho governamental com o setor privado, produtor de servios ou de
bens. Seus gastos nesse campo tm importncia fundamental, medida que traduzem
sempre a tenso existente entre os imperativos da reproduo do capital e as necessidades
da populao trabalhadora (Kowarick, 1985). Do ponto de vista governamental, todo o
problema consiste em conciliar uma poltica de acumulao que no exacerbe as
iniqidades sociais a ponto de torn-las ameaadoras, e uma poltica de eqidade que no
comprometa e, se possvel, ajude o esforo de acumulao (Santos, 1979).
De fato, apesar do rpido e notvel crescimento dos recursos alocados, no houve melhora
substantiva seja na qualidade dos servios sociais produzidos no pas, seja na qualidade de
vida da populao por eles beneficiada. Ainda que sua oferta tenha se expandido
enormemente nos ltimos anos, a procura aumentou com maior rapidez, de modo que sua
expanso quantitativa no se fez acompanhar pela melhoria de qualidade. Esta ltima
tambm foi dificultada pela crescente burocratizao do atendimento.
Por mais que o social aparea como tema de preocupao governamental TUDO
PELO SOCIAL um dos slogans do atual governo e seja perceptvel a elevao do
nmero de instituies e de programas criados para satisfazer ou minimizar necessidades a
manifestadas, parece ainda bastante longnqua a possibilidade de uma interveno mais
orgnica nesse domnio, pelo Estado brasileiro. No obstante, a assuno desta
responsabilidade como sua deixa implcito o reconhecimento de direitos a ele
correspondentes, associados condio de cidadania.
Note-se, porm, que ao invs de caminharem no sentido da consolidao desses direitos, as
polticas sociais tm assumido carter primordialmente assistencial: o direito de todos
termina por se traduzir em assistncia, muitas vezes precria, aos mais carentes. Mantidos
na condio de populao assistida, beneficiada ou favorecida pelo Estado, esses
segmentos dificilmente conseguem se perceber como usurios, consumidores ou
possveis gestores de um servio a que tm direito, como qualquer cidado. No chegam,
ainda, a estabelecer a linha prioritria para o atendimento de suas reivindicaes e
necessidades (Sposati et alii, 1986).
A interveno oficial nessa rea, remarque-se, no encontra lugar de destaque no conjunto
de intervenes e atvidades governamentais. Apesar do aumento de recursos disponveis e
da criao de um sem-nmero de programas especiais, as reas bsicas de bem-estar
coletivo ainda permanecem no mais baixo ponto da agenda governamental ou so atendidas
por programas cujo sucesso discutvel (Santos, 1979).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
91
Esse conjunto de caractersticas permite explicar a paradoxal posio ocupada pela
poltica social no conjunto das atividades de Governo: central, mas extremamente ineficaz
(Draibe, 1986, p. 16) e a constatao de que tudo se transforma, mas a misria permanece
(Andrade, 1980, p. 110). Sua importncia merece, porm, ser ressaltada por significarem no
mesmo movimento a articulao de mecanismos mais complexos de dominao e a
introduo de questes socialmente relevantes no interior mesmo do aparelho estatal. Neste
ltimo caso, representam conquistas importantes de participao poltica e social (Silva,
1983).
A poltica de sade
Se essa a situao que se verifica no cuidado com o social, tomado como um todo, as
observaes acima ajustam-se perfeitamente sade pblica, que nunca se constituiu setor
prioritrio nas definies de poltica econmica ou de poltica social.
Tematizar a ateno sade, hoje, no Brasil, envolve considerar a forma e o processo
atravs dos quais ela passou a ser identificada como questo pblica, da mesma maneira
que implica perceber a ntima ligao existente entre o desenvolvimento global da
sociedade e as condies de sade da populao como um todo (Donnangelo & Pereira,
1976; Possas, 1981; Augusto, 1986). O cuidado com a sade faz parte das atribuies
governamentais desde o momento em que o Estado brasileiro se constituiu. Ao longo do
tempo, porm, alteraram-se no s a forma como se d a interveno estatal no mbito
sade, mas tambm o que se considera a promoo pblica da sade pblica ou coletiva
(Donnangelo, 1975; Cordeiro, 1982; Braga & Paula, 1986; Draibe, 1986).
Num primeiro momento, sua interveno fez-se expressar exclusivamente atravs de
medidas de saneamento do meio, da prescrio de normas de higiene, e do controle das
endemias que marcaram profundamente (e ainda o fazem, de maneira significativa) a
situao sanitria do pas (Donnangelo, 1975; Pena, 1977; Singer et alii, 1981). Era mnima
a interferncia estatal no atendimento mdico individualizado, situao completamente
diversa da atual, que se caracteriza pela generalizao desse tipo de cuidado. Como
contrapartida, porm, tm sido escassos os recursos e rarefeitos os cuidados oficiais no que
concerne s atividades mais estritamente vinculadas sade pblica, isto , aquelas que
tradicionalmente tm sido encaradas como responsabilidade estatal exclusiva.
medida que propicia a universalizao do atendimento, a ampliao da assistncia
mdica individualizada apresentada como indicador de maior justia social, numa
argumentao que oculta a rentabilidade nela presente. Fica tambm obscurecido o fato de
essa universalizao realizar-se em detrimento de um outro tipo de interveno sem a
mesma rentabilidade, o das aes mdico-sanitrias, que da mesma forma, e
indiscutivelmente, universalizante ainda que atinja a populao de maneira distinta.
Estabelece-se, assim, um paradoxo de difcil compreenso e ainda maior dificuldade de
superao: a sade individual torna-se ela tambm uma questo pblica, numa converso
que, mediatizada pela interveno estatal, transforma-se em privatizao do cuidado
mdico. Em movimento simultneo, por outro lado, a tendncia manifesta pelos rgos
estatais de desobrigarem-se da sade pblica converte-a em problema de responsabilidade
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
92
privada e, portanto, do mbito ou da competncia quase exclusiva dos indivduos (Augusto,
1986).
Como resultado, os domnios referidos tanto sade coletiva quanto sade individual
acabam recebendo, por parte do Estado brasileiro, um tratamento muitas vezes precrio,
que se manifesta tanto no processo de acentuada extenso dos limites da ao estatal
(percebida como estatizao indevida das prticas mdico-assistenciais), quanto no
processo de conquista, pelos interesses particulares, de espaos sempre mais amplos nos
organismos oficiais (entendida como privatizao progressiva do Estado, no que respeita
organizao dos servios de sade). Alm disso, recorrente a prtica que se baseia numa
concepo clientelstica da atividade pblica e que segmenta as reivindicaes coletivas,
individualizando o atendimento atravs da institucionalizao do jeitinho brasileiro
(Cordeiro, 1988). Ao mesmo tempo, as aes desenvolvidas pelos rgos estatais tendem a
ser caracterizadas como concesses e aqueles que delas se utilizam, ao invs de aparecerem
como legtimos portadores de um direito social, comportam-se como beneficirios passivos
de um servio ofertado (Sposati et alii, 1986). Nesse processo, ao mesmo tempo que a
responsabilidade pela sade passa a ser percebida como problema individual, tambm as
polticas governamentais que a contemplam tendem a privilegiar a assistncia mdica
individualizada e a descuidarem-se das aes mdico-sanitrias. Estabelece-se, assim, a
sinonmia entre medicalizao e sade, o que acentua a presso popular sobre as fontes de
atendimento mdico individualizado. Alm disso, atua como complicador a evidncia de
que, hoje, a sade constitui um bem ou valor a ser obtido por todos os segmentos
populacionais, fato que termina por converter a assistncia mdica em necessidade
premente. Para atenu-la, de tempos em tempos, faz-se necessrio retomar ou mesmo
expandir os programas de ateno mdico-sanitria, os quais apesar de serem
recorrentemente tratados como prioridade de governo se caracterizam pela pouca
eficcia e tendem a continuar ocupando posio marginal no conjunto das atividades
estatais no campo da sade (Gonalves, 1986).
No obstante, a participao direta do Estado naqueles setores considerados como de sua
exclusiva responsabilidade, tais como a educao e a sade vem sendo, progressivamente,
reduzida e no encontra lugar de destaque no conjunto de intervenes e atividades
governamentais. Exemplo eloqente o fato de o Brasil, ainda hoje, ser o pas da Amrica
Latina que menos investe em sade: apenas 4% de seu Produto Interno Bruto/PIB, contra a
mdia de 13% verificada nos demais paises da regio (SBPC, 1986). Essa percepo
tambm ratificada pela informao de que, em 1985, a rede privada de servios de sade,
que recebeu financiamento pblico atravs dos contratos e convnios firmados com os
Ministrios da Sade e da Previdncia e Assitncia Social, tenha respondido por cerca de
70% do atendimento mdico prestado
2
.
Como j foi apontado, o processo de desenvolvimento nacional tem resultado em intensa
concentrao de renda, o que no faz seno acentuar as carncias da maior parte da
populao. As condies de sade, medida que refletem tendencialmente as condies de
existncia, sofrem o impacto negativo dessa piora da qualidade de vida. Desta forma, a
viabilidade de qualquer mudana mais significativa nas condies da sade coletiva est a
2
O nmero de hospitais e clnicas particulares existentes, hoje, no pas de aproximadamente 5000. Destes,
cerca de 3591 prestam servios clientela do INAMPS (Cordeiro, 1988).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
93
exigir transformaes tambm significativas na relao de foras existente na sociedade,
de maneira a exprimir orientao hegemnica diversa da atualmente existente.
ABSTRACT: The paper intends primarily to discuss the relationship, similarities and
differences between state planning and public policies, two notions which, in Brazil, are
commonly referred to the same empirical universe. Furthermore, by stressing the
theoretical inadequacy of any attempt to establish rigid distinctions between economic
and social aspects in government action, the paper sugests that it is necessary to revise
such a division, also pointing to the need for further analysis on the very notion of social
policy which, to say the least, is a very controversial one. Then, on the basis of post 1964
government programs, it tries to evaluate Brazils social policies, viewed as the central but
inoperative core of government activities in this area. Finally, special emphasis is given to
the discussion of national health policies in Brazil.
KEYWORDS: state planning, public policy, social policy, health policy, social right.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANDRADE, Regis de Castro. Poltica social e normalizao institucional no Brasil. In:
VRIOS AUTORES. Amrica Latina: novas estratgias de dominao. Petrpolis,
Vozes; So Paulo, CEDEC, 1980. p. 87-114.
AUGUSTO, Maria Helena Oliva. Intervencionismo estatal e ideologia desenvolvimentista.
So Paulo, Smbolo, 1978.
________.Poltica social e tecnologia em sade. Ao estatal e incorporao de
equipamentos mdico-hospitalares s prticas de sade. So Paulo, 1986, mimeo (Tese
de Doutoramento. Departamento de Cincias Sociais. Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo).
AUGUSTO, M.H.O. et alii. Polticas governamentais de tecnologia em sade. Projeto de
pesquisa. So Paulo, OPS, 1985.
BOBBlO, Norberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria geral da poltica. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1987.
BRAGA, Jos Carlos de Souza & PAULA, Srgio de Goes. Sade e previdncia: estudos
de poltica social. 2 ed. So Paulo, Cebes/Hucitec, 1986.
CORDEIRO, Hsio de Albuquerque. A reforma sanitria das aes integradas de sade aos
sistemas unificados e descentralizados de sade. Caderno do IMS. Rio de Janeiro, 2(1):
abril-maio. 1988.
________.A indstria de sade no Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1980.
DEMO, Pedro. Desenvolvimento e poltica social no Brasil. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro; Braslia, Ed. Universidade de Braslia, 1978.
DONNANGELO, Maria Ceclia Ferro. Medicina e sociedade. So Paulo, Pioneira, 1975.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
94
_______ & PEREIRA, Luiz. Sade e sociedade. So Paulo, Duas Cidades, 1976.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo dicionrio Aurlio. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1975.
GARCIA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporneo. Madrid,
Alianza, 1985.
GONALVES, Ricardo Bruno Mendes. Tecnologia e organizao das prticas de sade;
caractersticas tecnolgicas do processo de trabalho na rede estadual de
centros de sade de So Paulo. So Paulo, 1986, mimeo (Tese de Doutoramento.
Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina da Universidade de So
Paulo).
HABERMAS, Jrgen. Tcnica e cincia enquanto ideologia (1968). In: BENJAMIN-
HORKHEIMER-ADORNO-HABERMAS. So Paulo, Abril Cultural, 1975 (Col. Os
Pensadores). p. 303 - 333.
________.Mudana estrutural da esfera pblica. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1984.
KOWARICK, Lcio. Processo de desenvolvimento do Estado na Amrica Latina e
polticas sociais. Servio social e sociedade. So Paulo, Cortez e Autores Associados,
VI(17): 5-14. abril/ 1985.
MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.
________. Poltica social. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.
MARTINS, Luciano. Estado capitalista e burocracia no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1985.
NCLEO DE ESTUDOS DE POLTICAS PBLICAS/NEPP. Instituto de Economia da
UNICAMP. Brasil 1985. Relatrio sobre a situao social do pas. Campinas, Ed.
UNICAMP, 1986, v. I.
ODONNEL, Guillermo. Anotaes para uma teoria do Estado (I). Revista Cultural e
Poltica. So Paulo, CEDEC; Rio de Janeiro, Paz e Terra, 3: 71-93, nov/jan. 1980- 1.
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro, 1984.
PENA, Maria Valria Junho. Sade nos planos setoriais de desenvolvimento. Dados. Rio
de Janeiro, 16: 69-96, 1977.
PEREIRA, Jos Carlos. Planejamento, mudana e democracia. Cincia e cultura. So
Paulo, 38 (9): 1517-29, set. 1986.
PEREIRA, Luiz. Histria e planificao. In: ________. Ensaios de sociologia do
desenvolvimento. So Paulo, Pioneira, 1970. p. 11-51.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
95
________. Capitalismo e sade. In: ________. Capitalismo: notas tericas. So Paulo,
Duas Cidades, 1977. p. 9-36.
POSSAS, Cristina. Sade e trabalho. A crise da previdncia social. Rio de Janeiro, Graal,
1981.
SALLUM, Brasilio Jr. Histria administrativa: polticas pblicas e regimes polticos.
Cadernos FUNDAP. So Paulo, 5(9): 5- 10 mai. 1985.
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justia. A poltica social na ordem
brasileira. Rio de Janeiro, Campus, 1979.
SILVA, Pedro Luiz de Barros. Polticas e perfis de interveno em ateno sade no
Brasil: elementos para a anlise da ao estatal. Cadernos FUNDAP. So Paulo, 2(6):
71-81. jul. 1983.
SINGER, Paul et alii. Prevenir e curar: o controle social atravs dos servios de sade. Rio
de Janeiro, Forense-Universitria, 1981.
SPOSATI, Aldaiza de Oliveira et alii. A assistncia na trajetria das polticas sociais
brasileiras: uma questo em anlise. So Paulo, Cortez & Autores Associados, 1986.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
96
RONDAS CIDADE:
uma coreografia do poder
HELOSA RODRIGUES FERNANDES
Texto apresentado no Congresso da
Associao dos Socilogos do Estado de
So Paulo (ASESP), em agosto de 1986.
Professora doutora do Departamento de
Sociologia da FFLCH-USP.
RESUMO: Este artigo procura interpretar algumas dimenses das prticas policiais de
esquadrinhamento e vigilncia do espao urbano paulistano da dcada de 70: as rondas.
Analisa a reorganizao do aparelho policial pela ideologia da segurana nacional que,
centrada na tese do inimigo interno, transforma o cidado em suspeito, discriminando
especialmente o trabalhador ao qual cabe o nus de provar que no bandido ou
marginal. Discute como a imprensa do perodo tende a criticar as rondas apenas pelos
seus excessos. Aponta alguns paradoxos do discurso da suspeita e, entre eles, o mais
escandaloso: em nome do cidado de bem dissolve a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: Violncia policial, violncia urbana, ronda policial, vigilncia
policial, cidadania.
Em maio de 1976, durante treze dias, as ruas da zona Sul da cidade de So Paulo
sujeitaram-se a uma prtica policial indita
1
: a chamada Operao Alfa. Viaturas
rodando dia e noite pelas ruas, patrulhas a cavalo, guardas de trnsito parando carros,
investigadores e policiais militares nos bares, revistando fregueses, pedindo documentos, s
vezes prendendo
2
. So cerca de trs mil homens pertencentes Rota, Roe, Ttico Mvel,
Rdio-Patrulha, investigadores do Deic, Deops e Degran. Aps longo perodo de
planejamento, a Secretaria da Segurana Pblica teria concludo que a regio Sul a rea
mais heterognea de So Paulo, com quase dois milhes e meio de habitantes, ocupando
mais de 45% do espao territorial da cidade e onde vivem todos os tipos de classe social.
Por ter estas caractersticas, a zona Sul a que mais atrai o marginal (...)
3
. A zona Sul foi
dividida em trs regies A, B e C e a Operao concentrou-se basicamente na regio
A, correspondente s reas de Santo Amaro, Cidade Adhemar, Vila Guarani, Capo
Redondo, etc., onde viviam, na poca, mais de 1 milho e 300 mil pessoas que, segundo a
Secretaria, compem uma populao muito diversificada. H as reas dos Jardins, da
1
Neste trabalho, a interpretao das rondas policiais abstrai o processo histrico que as instituiu. Para uma
cuidadosa anlise deste processo, veja-se Pinheiro, 1982.
2
MACEDO, F. e BRANCO, A. Operao Alfa: a Polcia estuda o crime nos bairros ricos, favelas, vilas e
esconderijos da Zona Sul. Jornal da Tarde, So Paulo, 3 mai. 1976. (Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta
5566: Polcia-Brasil-So Paulo).
3
Idem ib.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
97
classe alta (...), existem mais de 200 favelas e mais de 300 vilas, lugares considerados como
redutos de marginais
4
. A precariedade dos servios urbanos ruas sem pavimentao,
desprovidas de luz, gua e telefone teria prejudicado a eficincia da Operao que,
mesmo assim, em sua primeira semana realizou 481 detenes para triagem, 21 prises em
flagrante e prendeu trs homens condenados pela Justia.
A transformao da zona Sul em tubo de ensaio dessa prtica policial encontra na
heterogeneidade social seu critrio seletivo. o espao urbano do excesso e do excessivo, o
choque dos extremos da opulncia e da misria que o poder pretende diferenciar,
classificar, hierarquizar, vistoriar, controlar. Os perigosos j esto pressupostos: escondem-
se nas favelas e nas vilas.
Em maro de 1976, a 11 Delegacia, que serve regio A da Operao Alfa, teria
registrado as seguintes ocorrncias: 78 casos de roubo (um recorde na zona Sul), 32 de
furto qualificado, 54 casos de furto simples, 5 de homicdio e 187 acidentes de trnsito.
Uma das ocorrncias de maior destaque nessa delegacia fra a denncia de crcere privado
contra a construtora Alfredo Mathias, no comeo do ano
5
. Na imprensa, os 187 acidentes de
trnsito comparecem sem destaques, apagados numa segunda cena, e, no obstante,
ultrapassam a soma de todas demais ocorrncias. Curioso processo de deslocamento, seja
da imprensa, seja do discurso do poder, que destaca os crimes contra a propriedade
enquanto mantm nas sombras a violncia contra as pessoas, seja nos acidentes de trnsito,
seja no crcere privado da construtora Alfredo Mathias.
As prticas policiais de esquadrinhamento do espao urbano so socialmente
discriminatrias e seriam escancaradamente proclamadas na Operao Tira da Cama
quando, ao amanhecer, os policiais faziam triagens nas favelas, levando para o Deic todos
os suspeitos. Segundo editorial dO Estado de S. Paulo, de outubro de 1976, 98% dos
detidos eram tabalhadores sem documentos e que perdiam um dia de servio at serem
liberados
6
.
Desde meados da dcada de 70, a cidade de So Paulo transformou-se em corpo
esquadrinhado, vigiado, controlado e reprimido por inmeras prticas policiais desse tipo;
operao Cip, Teia de Aranha, Lunhar, Alvorada, Boreal, Abrao, Arrasto, Pente Fino,
sem esquecer a famosa Operao Camanducaia que transportou e abandonou meninos
famintos e seminus nas proximidades da cidade mineira de Camanducaia. Processos de
esquadrinhamento, vigilncia, controle e represso que justificaram, tambm, a criao de
inmeras rondas policiais: RONE, Patrulha 59, RUPA, RUDI, RUDEIC, RUDEGRAN,
ROE, ROTA, GARRA
7
.
Uma verdadeira coreografia policial transforma a cidade em um corpo suspeito e sob
continua vigilncia escpica; as ruas de So Paulo so o palco onde se encena um
4
Idem ib.
5
Idem ib.
6
A Garra rondando as rondas. O Estado de S. Paulo, So Paulo, 5 out. 1976. (Arquivo de O Estado de S.
Paulo, Pasta 5566).
7
Devo reportagem indicada na nota anterior a listagem tanto das Operaes quanto das rondas. As duas
aguardam pesquisa historiogrfica mais sistemtica; o que uma lstima, pois o esquecimento uma das
armas dos poderosos.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
98
espetculo do poder. Mquina panptica, se se preferir, mas sob a condio de no esquecer
que, aqui, muitas vezes o olhar precipita-se e passa ao ato. Evoco, como exemplar, o caso
da Rota 120. Setembro de 1976, dia 7, a cidade terminava de comemorar o dia da
independncia nacional: A uma hora da madrugada segundo o sargento Waltrio
surgiu aquele volks azul claro (...) na avenida Voluntrios da Ptria (...). Segundo ele, os
ocupantes do automvel estavam em atitude suspeita. A resolveram seguir o volks. (...) o
motorista da viatura acendeu o farol alto e o pisca-pisca, dando sinais para que o motorista
do voLks encostasse. (...) Ao invs disso, o volks aumentou a velocidade, (...). Ento,
ligamos a sirene
8
. Inicia-se uma caada que, em poucos minutos, percorre sete quilmetros
da cidade: o volks segue pela Avenida Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia, So Joo
e chega rampa que d acesso ao Minhoco. Quando o carro subiu a rampa, atiramos com
inteno de acertar nos pneus. A o motorista perdeu o controle do volante e bateu contra a
mureta de proteo
9
.
Jos Brito Correia estava dento do volks azul e, nervoso, relata: Eu e o Flvio fomos a um
baile do Movimento Jovem, em frente Igreja. Depois, samos com mais dois colegas e
fomos tomar uma cerveja l perto. Era meia-noite e quinze mais ou menos quando
chegaram o Marcos e o Andr, de carro, e nos deram carona at a cidade. Na rua
Voluntrios da Ptria, um carro da ROTA comeou a seguir o nosso carro. Ligaram o farol
e vieram bem atrs. No comeo, pensei que no era conosco. Inclusive porque a gente no
tinha feito nada. At que o Andr, que estava dirigindo, olhou pelo retrovisor e disse: Olha
pessoal, eu no tenho carteira e sou menor de idade. Falou que o carro era da namorada, ou
que o carro estava no nome dela, no me lembro bem. Quando amos subindo a rampa, eu
ouvi um tiro. Eles (os policiais) contaram depois que atiraram no pneu, e devem ter
acertado no pneu mesmo porque batemos na grade da rampa. (...) S escutei o barulho das
rajadas. No sei direito como apareceu outra ROTA, s sei que ela passou pela gente (...) e
ficou na nossa frente. Ento, uma atirava pela frente e a outra por um lado (...). Na hora em
que o Flvio levou dois tiros no brao, caiu por cima de mim. Pensei em ajeit-lo no banco,
mas fiquei com medo: ns dois podamos morrer. Ele ficou do meu lado, quase desmaiado,
recebendo os tiros cinco na perna. Depois do Flvio, foi o Marcos. Levou uns trs tiros e
ficou tambm meio desmaiado. Depois, o Andr. Achei que ia ser a minha vez, (...), mas a
eles pararam de atirar. (...) Quando eles viram que estava tudo calmo, mandaram a gente
descer e deitar no cho (...). O Andr desceu do carro com dificuldade falando: Eu vou
morrer, eu j sei que vou morrer! O sangue jorrava da barriga, na altura dos rins, e ele
estava impressionado
10
.
A ronda aos suspeitos havia terminado: Marcos, 19 anos, 8 tiros no corpo e nos braos;
Andr, 16 anos, 2 tiros nas costas, estado grave; Flvio, 17 anos, 5 tiros nas pernas e 2 nos
braos. No volks azul, pertencente namorada de Andr, a polcia teria encontrado um
revlver Rossi, com 6 cpsulas, sendo 5 intactas e uma deflagrada, mas no poderia ter sido
utilizado pelos rapazes porque estava bastante enferrujado. O motorista da ROTA disse que
no sabia se os rapazes haviam atirado contra a viatura porque a sirene estava ligada. Os
integrantes da ROTA utilizaram duas metralhadoras Bereta e um revlver Taurus, calibre
8
Atrs do volks, os homens da Rota. E eles vo atirar. Jornal da Tarde, So Paulo, 8 set. 1976. (Arquivo de O
Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
9
Idem ib.
10
Idem ib.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
99
38. O Secretrio da Segurana Pblica, coronel Erasmo Dias, acusou o motorista do volks:
Foi um ato irresponsvel, negligente, uma idiotice. Ele mesmo declara que, no incio da
semana havia solicitado um policiamento preventivo reforado na cidade, porque o ms
havia comeado de forma temerosa com panfletos e bombinhas de So Joo
11
.
Segundo a imprensa, o coronel Erasmo Dias mostrou-se constrangido quando terminou o
recolhimento dos policiais da ROTA 120 ao seu quartel. Isso porque fora ele mesmo quem
pedira ROTA um policiamento preventivo especial para a vspera do dia 7 de setembro,
quando haveria um grande desfile na avenida Tiradentes. Havia suspeitas de lanamento de
panfletos e pichaes de muros, principalmente nas ruas prximas ao local do desfile
12
. O
comandante-geral da Polcia Militar justifilca: Que eram meninos, s fomos saber depois.
No estava escrito no carro: somos meninos. Assim como eram meninos, poderiam,
tambm, ser bandidos perigosos. Poderiam ser terroristas. E a, como que ficamos?
13
.
Apesar dos inmeros deslocamentos, ainda possvel reter como o discurso aponta os
suspeitos; so os passadores de panfletos, os deflagradores de bombinhas de So Joo, os
pichadores de muro, os bandidos perigosos e os terroristas. No mesmo movimento, o
discurso da suspeita articula seu ponto de fuga: o erro deve-se ao excesso de zelo do
olhar, e no a existncia mesma do olhar. O mesmo Secretrio da Segurana, pouco tempo
atrs, argumentara com Ignacio Loyola Brando: o articulista j meditou o que representa
enfrentar marginais de arma na mo, normalmente dopados, como ces raivosos? (...) O
assaltante impune uma besta fera que se torna cada dia mais prepotente e que mata
simplesmente por matar! (...) No se pode nem se deve assistir ao crime de modo
impassvel: seria conivncia criminosa de toda Instituio! S se erra quando se procura
acertar, o omisso normalmente no erra! (...) Sabe o articulista o que o clima de confronto
entre o Banditismo e a Polcia? Do incio, sempre se tem alguma noo: de seu desenrolar e
de seu fim, s mesmo Satans o sabe!
14
.
Momento para determo-nos um pouco na maneira como a imprensa elabora essas prticas
policiais do espao urbano. Em geral, tende a ressaltar, a destacar, a iluminar sua crtica a
essas prticas, mas numa operao muito especfica que lhe permite cobrar o excesso, a
desmedida, o desvio. Uma terapia corretiva tece a crtica que, cobrando o excesso, preserva
a prtica. O olhar profiltico da imprensa busca avaliar o olhar discriminador da polcia e
sugere a terapia: basta separar o joio do trigo para que se retorne violncia sob medida.
Um editorial de O Estado de S. Paulo, de outubro de 1976, prope a reviso de todos os
dispositivos que regulam a admisso de candidatos a agentes da ordem, para impedir as
infiltraes macias de tipos lombrosianos (...). Mas isso sem prejuzo de um expurgo
urgente, radical, dos celerados que j se infiltraram
15
.
11
Idem ib.
12
O caso da ROTA 120. Violncia desnecessria, excesso policial. Jornal da Tarde, So Paulo, 13 set. 1976.
(Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
13
Souza, Percival. Queixas do comandante sobre a pobre imagem da PM. Jornal da Tarde, So Paulo, 17 set.
1976. (Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
14
Dias, Cel. Erasmo. Ns protegemos voc. ltima Hora, So Paulo, 29 jul. 1976; carta do Secretrio da
Segurana Pblica em resposta crnica de Igncio Loyola Brando, Quem me protege. (Arquivo de O
Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
15
Uma sociedade atemorizada. O Estado de S. Paulo, So Paulo, 2 out. 1976. (Arquivo de O Estado de S.
Paulo, Pasta 5566).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
100
O olhar profiltico tambm discriminador: apontando indivduos, preserva instituies.
No casual que a hiptese dos indivduos celerados seja to facilmente assumida pelas
prprias autoridades estatais. Mais ainda, quando os indivduos celerados so dissolvidos
em um grupo social, reapresenta-se mas agora do outro lado uma imagem que busca
evidenciar a mesma conexo classes trabalhadoras/classes perigosas. Pronunciando-se
sobre o mesmo caso da Rota 120, um representante do Ministrio Pblico declara
imprensa que so mltiplas as causas da criminalidade na polcia: a improvisao dos
policiais, a ausncia de critrios de seleo no seu recrutamento, e, acima de tudo, o esprito
de prepotncia arbitrria e crueldade que surge nos homens de educao inferior quando
investidos de autoridade. (...) A superioridade ocasional que no merece, ele a entende
como um poder discricionrio e tirnico e dir-se-ia que procura desforrar-se das
humilhaes passadas, exercendo toda a sorte de vexame contra aquele que (...) lhes caem
sob o guante
16
. Duas declaraes do Secretrio da Segurana, cel. Erasmo Dias, evocam
uma conexo semelhante: o PM fruto do meio tambm, no ? Ele tem as mesmas
tenses do padeiro, do marido e da mulher. Na semana passada, de trs homicdios que
aconteceram em um dia, os trs foram praticados por PMs. Um matou a amante; outro PM
matou a mulher. Voc v que tudo caranguejo do mesmo saco
17
. Ou, ento, quando
afirma: A seleo do nosso policial feita segundo os padres que satisfazem a sua
funo, dependendo entretanto do meio donde proveio e do meio onde vive! pura questo
de biologia e de ecologia! (...) no cabe na Instituio o prepotente, o negligente, o omisso,
o mau carter! (...) Somos na Polcia Militar mais de 50.000 homens. Existem e existiro as
ovelhas negras no meio do rebanho! Temos sumariamente os devolvido sarjeta de onde
vieram
18
.
Novo processo de deslocamento que, ao mesmo tempo, silencia a organizao do aparelho
policial pela ideologia da segurana nacional que, centrada na tese do inimigo interno,
permite articular o discurso da suspeita a uma prtica dos servios policiais baseada na
lgica da produtividade
19
. Igualmente silenciadas as dificuldades de sobrevivncia
econmica
20
; a jornada de trabalho extensa chegam a trabalhar 14 a 15 horas
16
No fim da sindicncia, o promotor culpa Rota 120. O Estado de S. Paulo, So Paulo, 22 set. 1976; grifos
meus (Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566). Note-se que a aluso s humilhaes passadas faz ecoar
o reconhecimento constrangido de que na sociedade brasileira, os homens de educao inferior esto
submetidos a condies excepcionais de violncia social.
17
O crime est aumentando, entrevista com o Secretrio da Segurana de So Paulo, Revista Veja, 11 de
maio de 1977, p. 6. Na linguagem policial, PM usado para designar o soldado.
18
Ns protegemos voc, op. cit.
19
Essa lgica da produtividade pode ser inferida do depoimento que obtive de um oficial que avalia
negativamente suas conseqncias: A questo passou a ser a de como mensurar o trabalho de um batalho.
No se podia medir em litro, nem em quilo, nem em metro. Foi aqui que entrou a produtividade. Ela tornava
possvel a mensurao. Por exemplo, dez bandidos mortos ou presos j dava uma mensurao. E tambm
dava para avaliar o nvel do produto que se conseguia obter. Por exemplo, dez viciados em maconha presos
no tinham o mesmo valor, o mesmo peso que dez bandidos desarmados presos. Mas dez bandidos
desarmados presos no tinham o mesmo valor que dez bandidos armados presos. Verdadeira lgica do valor
de troca segundo a qual mostrar servio tornou-se critrio de avaliao e de promoo do pessoal da
instituio, especialmente os da tropa.
20
Nitrini, D. e Valle, P. PMs dizem que baixos salrios e punies levam violncia. Folha de S. Paulo, So
Paulo, 26 jan. 1983, p. 10. Nesta reportagem, so transcritas as declaraes de um soldado da PMSP segundo
as quais grande nmero de praas mora em barracos, em favelas mesmo, na periferia, e tm de sair de casa
sem farda para os malandros da vizinhana no descobrirem que so policiais.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
101
ininterruptas
21
e estressante
22
, e o rigor punitivo da disciplina
23
. Vez ou outra, alguns
dados esparsos ganham a imprensa: taxas elevadas de desquites; espancamento e
assassinato das mulheres; alcoolismo; somatizaes lceras, hipertenso e entarte e
suicdios
24
, mas no retornam de forma elaborada prpria instituio. Basta observar que
as praas encontram inmeros empecilhos para se organizarem em associaes que no
sejam meramente assistenciais
25
. Em suma, o discurso justificador seja pela via do zelo
excessivo, seja pela via da violncia excessiva, mantm inexpugnvel tanto o discurso
da suspeita quanto a prtica interna de uma das instituies mais autoritrias da sociedade
brasileira.
Inexpugnvel, o discurso da suspeita preserva a tese da transformao do espao urbano
em corpo a ser esquadrinhado, vigiado, percorrido por um olhar persecutrio seletivo e
adestrado. Destacam-se como elementos desse discurso:
1. A mobilidade do olhar. Um ex-sargento que entrevistei faz o seguinte depoimento sobre
seu servio na ROTA: que eu me sinto livre. O servio dinmico, no esttico.
Estamos num bairro e, daqui h pouco, estamos em outro. Estamos quietos e, de repente,
corremos atrs de um carro suspeito. um servio gostoso.
2. O adestramento do olhar. O mesmo ex-sargento continua: A ROTA no tem rea. A
ROTA procura servio. O pessoal fica nessa disputa para ver quem enxerga mais: se faz
movimento suspeito, se no faz movimento suspeito. O suspeito no aquele que faz algo;
s vezes, no fazer nada.
3. O atuar. Eis como apresentado pelo mesmo ex-sargento: O pessoal sabe tratar com o
pblico. No chega violento, agredindo. Chega duro. Chega armado para intimidar, seja
bandido ou no. Se aborda algum porque teve suspeita, e, se teve suspeita, no pode
21
Extenso e intermitncia da jornada de trabalho que dificultam a manuteno de relaes estveis com a
famlia.
22
A extenso agravada pela intensidade da jornada. Os soldados participam diariamente de situaes
tensas e dramticas e, ao mesmo tempo, esto obrigados a se preservar de qualquer envolvimento emocional.
Segundo o Chefe da Clnica Psiquitrica da PMSP, o alcoolismo um dos problemas mais comuns entre os
soldados, mas tambm so elevados os ndices de distrbios mentais (em 1985, haveria 600 esquizofrnicos
na instituio). Dados da reportagem de Alencar, G. Por que os PMs ficam loucos. O Estado de S. Paulo, So
Paulo,16 mai. 1985, p. 60.
23
Em 1983 a imprensa denuncia que soldado que faltasse um dia ao trabalho pegava cinco dias de xadrez e
que, no Regimento de Cavalaria 9 de julho, os soldados presos so acordados s 5 horas da manh e
impedidos de sentar ou encostar nas paredes da cela: retiram o colchonete da cadeia e mantm a cela
molhada recolocando-a s s 22 horas. Nitrini, D. e Valle, P. PMs dizem que baixo salrio e punies levam
violncia. Folha de S. Paulo, So Paulo, 26 jan. 1983, p. 10.
24
Segundo o Centro Social de Cabos e Soldados, 40 soldados teriam se suicidado em 1984. Com um efetivo
de 60 mil homens, a proporo seria de 66 suicdios para cada 100 mil pessoas, ndice superior ao triplo
daquele registrado na Sucia que detm o maior ndice de suicdios do mundo. Suicdio de soldado PM
inquieta corporao. Folha de S. Paulo, So Paulo,10 abr. 1985, p. 19. Veja-se tambm Cresce o nmero de
suicdios na PM, Folha de S. Paulo, So Paulo, 7 abr. 1985, p.20.
25
No casual que, em outubro de 1983, as praas tenham tentado expressar suas reivindicaes atravs da
criao de uma Associao Beneficiente de Esposas de Policiais Militares do Estado de So Paulo. Em maio
de 1984, essa Associao divulgou um documento entregue imprensa, s Secretarias da Segurana e da
Justia, OAB, Cria Metropolitana e outros rgos do governo estadual que denuncia perseguies, ameaas,
transferncias e prises de praas.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
102
chegar mole, tem que chegar duro. Infelizmente, por causa dos outros, tem que chegar
duro.
O primeiro elemento pertence ao dispositivo escpico
26
do voyeurismo. Mas, o segundo
resvala para o registro persecutrio, e, assim, a mobilidade do olhar fica sobredeterminada
pela funo: localizar o suspeito. Finalmente, o terceiro desloca o voyeurismo para o polo
oposto do exibicionismo. A linguagem impregna-se de imagens evocativas de uma
sexualidade chega duro/no pode chegar mole que quer se dar-a-ver, que se
oferece ao olhar do outro, que se exibe para intimidar. Mas, ento, o olhar refinado na
escola da astcia faz parte dos preparativos, e, assim, a mquina escpica apenas
mediao do dispositivo do poder que se faz teatro e se oferece em espetculo. H uma
esttica onde se destacam as armas
27
e os uniformes sintomaticamente escuros e dotados
de uma certa excentricidade. Mas h, tambm, uma coreografia que alterna a mobilidade
imobilizao numa postura congelada: chega duro/chega armado. Assim, as rondas
policiais permitem explicitar uma dimenso do poder onde a mquina escpica se
metamorfoseia em teatro com seus cenrios, indumentrias e ritos.
Quanto dramaturgia, alguns dos seus elementos foram ressaltados aqui atravs da aluso
operao Alfa, da operao Tira-da-Cama, da operao Camanducaia e do caso da Rota
120. Restaria alinhavar alguns dos seus mais evidentes paradoxos.
Em nome da luta contra o banditismo, a partir de meados da dcada de 70, a cidade de
So Paulo tomou-se espao ocupado pelas prticas policiais das rondas. Elabora-se um
discurso da suspeita que pressupe a diviso da sua populao em dois grandes
contingentes: o do cidado e o do inimigo. As rondas encarregam-se de diferenciar,
classificar, hierarquizar, controlar, vigiar e reprimir o espao pblico das ruas. Paradoxo do
olhar discriminador que, afirmando o suspeito como o diferente, no mesmo movimento
transforma o cidado na sua anttese, pois agora o no-suspeito aquele que no se
diferencia, que no se destaca de uma massa homognea e passiva.
Paradoxo insustentvel, tambm, de um discurso que ainda pretende um saber
discriminador no momento mesmo que proclama sua impotncia, como reconhece, em
1976, o prprio Secretrio da Segurana: Nossa cidade tem 20 mil bandidos solta, mas
26
Freud fala da Schaulust ver, ser visto como pulso parcial. M. D. Magno, na sua cuidadosa verso
dos textos de Lacan para o portugus, utilizou pulso escpica para traduzi-la, e deste modo que foi
incorporada ao campo psicanaltico no Brasil. Sobre a pulso escpica e sua manifestao na perverso
(como, por exemplo, no voyeurismo), veja-se Lacan, 1979, p. 172-4 e Metz, 1980, p. 71 -82.
27
Este trabalho no se deteve na tecnologia crescentemente sofisticada dessas prticas policiais. Em julho de
1977, por exemplo, a PMSP exps imprensa suas novas aquisies que, com exceo das botas e macaces,
so importadas. Os novos instrumentos incluem carros blindados lana-granadas de gases, spray para longa e
curta distncia com gases lacrimogneos, fumaapimenta, agentes qumicos para produo de distrbios
estomacais, vomitivos, intestinais e bastes geradores de choque eltrico, mscaras com megafones,
explosivos, bem como lanternas com a luminosidade do farol de um avio Boeing, destinados a cegar por
cinco ou dez minutos a pessoa atingida, As novas armas para a polcia, O Estado de S. Paulo, So Paulo,
30 jul 1977 (Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566). Uma descrio minuciosa e detalhada desses
novos equipamentos pode ser encontrada no artigo de Fausto Macedo, As novas armas da Polcia. Jornal da
Tarde, So Paulo, 25 jul. 1977, idem ib. H, inclusive, o desenho do que seria um soldado revestido com esse
instrumental; imagem escancarada do desaparecimento do homem transformado em mera extenso da prpria
arma.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
103
evidente que no est escrito na testa de ningum: sou bandido. Ou sou cidado de
bem
28
. Desatino de um discurso que pretende conservar sua racionalidade no mesmo
momento que reconhece sua dimenso imaginria: sua vidncia compromete-se com a do
prestidigitador, a do mago ou a do mero apostador. Se o sinistro emerge neste buraco na
rede de sentido, procura-se vel-lo ou colmat-lo com o excesso do sentido propiciado pela
lgica da eficincia. Eis porque o mesmo Secretrio acrescenta logo a seguir: Se houve
erro, algumas vezes, porque a Polcia agiu. Ningum pecou por omisso
29
. Ou, ento,
mais explicitamente, quando declara: o mais bem preparado policial, naquele momento,
naquele instante que tiver que decidir talvez erre! Erra por cumprir a misso! o triste
preo do policial! No ser por plena conscincia que o policial se torna criminoso: o
cumprimento do dever
30
. Obrigado a associar crime, misso e dever, o excesso do sentido
no apenas no consegue colmatar o buraco, mas f-lo esgaar-se ainda mais.
Melhor fundamentada, ento, a avaliao profiltica e conservadora da imprensa, pois
consegue deslocar-se para a crtica da violncia excessiva e pretende engess-la sob
medida! Em 1977, uma reportagem do O Estado de S. Paulo aprova a aquisio dos novos
armamentos para a PMSP: Nos conturbados dias que vivemos, certos protestos populares
podem apresentar graves ameaas para a ordem pblica (...) Em conseqncia, devem as
Polcias estar preparadas para combater movimentos que possam derivar para a violncia
ou a ilegalidade
31
. No bojo da justificao j vem previsto o risco do excesso: os novos
equipamentos devem ser entregues a soldados rigorosamente selecionados, pois no
podem cair nas mos dos ignorantes e daqueles que agem sob impulsos, com truculncia
(...) o que tem levado o titular da pasta da Segurana Pblica a tomar providncias
repressivas e at a impor punies aos mais atrabalirios
32
.
Em seu O Cemitrio das Utopias texto que promete encontrar ampla clientela no Brasil
graas crtica doutrina tributria: pobreza crime soluo social
33
Xavier
Raufer no se esquece de mencionar que pesquisas atuais na rea de criminologia nos
Estados Unidos e Inglaterra permitem concluir que, embora o medo do uniforme exista, a
polcia no consegue bloquear qualquer onda de deliqncia de amplitude,
independentemente dos seus efetivos mobilizados na rua
34
. Uma das razes,
provavelmente, das novas propostas enfatizarem especialmente as medidas de preveno
comunitria
35
. Ainda que em segundo plano, Raufer levado a mencionar que essas novas
pesquisas tm revelado que a maior proporo de criminalidade violenta se d no espao
das famlias e da vizinhana. Pesquisas recentes nos Estados Unidos demonstram que 20%
das agresses, 33% dos estupros e 50% dos assassinatos ocorrem no interior das famlias;
sem mencionar praticamente 100% dos casos de mulheres e crianas espancadas e,
obviamente, os incestos. O risco de uma mulher ser espancada por seu marido 250%
28
O Secretrio determina o fim das metralhadoras. E explica. Jornal da Tarde. So Paulo, 30 nov. 1976.
(Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
29
Idem ib.
30
Erasmo contesta as crticas Polcia. O Estado de S. Paulo, So Paulo, 4 nov. 1976. (Arquivo de O Estado
de S. Paulo, Pasta 5566).
31
As novas armas para a polcia, op. cit.
32
Idem ib.
33
Raufer, 1985, p. 29.
34
Idem ib., p. 74.
35
Idem ib., p. 144-9.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
104
maior do que o de ser agredida na rua
36
. Por outro lado, um dos pontos fortes da sua
argumentao o da existncia de territrios e microculturas violentas, espao urbano sob
domnio da figura que Raufer denomina predador violento, que restringe seu raio de ao
ao mbito da sua prpria vizinhana
37
. No , ento, por acaso que, nos Estados Unidos, em
1985, o risco do homem branco ser assassinado nas ruas de 1 em 131, enquanto o risco do
homem negro de 1 em 21! O risco da mulher branca de 1 em 369 enquanto o da mulher
negra de 1 em 104
38
! Obviamente, essas so estatsticas que no interessam
democracia racial brasileira pois obrigariam a deslocar a populao negra do plo de
categoria perigosa, onde tem sido colocada, para a de vitimada.
De certo modo, o raciocnio de Raufer no to diferente daquele que encontramos, em
1977, numa entrevista do prprio Secretrio da Segurana de So Paulo, quando reconhece
que ns dizemos que h crimes que dependem da ao da Polcia e crimes que
independem. O homicdio, por exemplo, independe. Polcia pode impedir homicdios?
Agresso? Desinteligncia? No. Outros atos ilcitos dependem, embora indiretamente (...)
o porte ilegal de arma (...) entorpecente. Agora, assalto no. Quanto mais Polcia voc botar
na rua, menos assalto ter, porque o ladro no se arrisca se no tiver um certo grau de
segurana
39
.
Apesar das pesquisas mencionadas por Raufer questionarem a conexo causal polcia nas
ruas-assalto, to encarecida pelo Secretrio da Segurana de So Paulo, no deixam de ser
interessantes as concluses que poderamos inferir do quadro divulgado pela prpria
Secretaria, em dezembro de 1977, sobre a mdia diria de ocorrncias e sua natureza na
cidade de So Paulo
40
:
Quadro das ocorrncias na cidade de So Paulo em 1977
Natureza da ocorrncia Mdia diria
homicdio, tentativa de homicdio, aborto 2
maus-tratos, abandono, desinteligncia 90
rixa, agresso, desordem, briga 160
atentado violento ao pudor, estupro 2
dano material, incndio, exploso 11
jogo, vadiagem, mendicncia, embriaguez 18
parturientes 14
dementes 27
acidentes de trnsito com vtimas 105
entorpecentes 5
36
Idem ib., p. 130.
37
Para a discusso dos territrios e microculturas violentas, inclusive com a descrio do predador violento
como tipo social, cf. Raufer, 1985, p. 133-144.
38
Idem ib., p. 116, nota 1, fonte: U.S. Bureau of Justice.
39
O crime est aumentando, Revista Veja, 11 de maio de 1977, p. 3 (entrevista com o Cel. Erasmo Dias).
40
Tema do coronel: violncia. Jornal da Tarde, 27 dez. 1977, (Arquivo de O Estado de S. Paulo, Pasta 5566).
Trata-se de uma carta imprensa assinada pelo Secretrio da Segurana Pblica. O quadro de ocorrncias foi
anexado carta pelo prprio Secretrio. Modifiquei a ordem de apresentao das ocorrncias de modo a
facilitar sua leitura segundo os critrios do prprio Secretrio.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
105
porte ilegal de armas, apreenso de armas 13
estelionato, furto, punga, contos, fraudes 73
roubo, tentativa, assalto 48
furto de automvel 27
TOTAL 595
Segundo essas informaes, ainda que preservssemos os critrios do prprio Secretrio da
Segurana, das 595 ocorrncias dirias, em 1977, apenas 148 delas dependeriam
diretamente da ao da Polcia estelionato, furto, punga, contos, fraudes, roubo,
tentativa, assalto e furto de automvel e, no mximo, 166, considerando tambm a atuao
indireta entorpecentes, porte ilegal de armas, apreenso de armas. Ou seja, no mximo,
27,9% das ocorrncias dirias dependeriam da atuao direta e indireta da Polcia. E
apenas 12,6% dependeriam mais diretamente da sua atuao as 75 ocorrncias dirias de
roubo, tentativa, assalto e furto de automvel.
Mas, mais ainda, se esse quadro pode sugerir um certo retrato da violncia urbana em So
Paulo, ele tambm revela como o discurso da suspeita ilumina o espao pblico das ruas
enquanto preserva na sombra outros espaos da violncia social que, no Brasil, continuam
privados: a violncia nas fbricas e locais de trabalho (tipo Construtora Alfredo Mathias),
nas escolas, nas instituies totais. Sem mencionar a violncia na vizinhana e,
especialmente, nas famlias, espao privado inquestionado e inquestionvel de machos
predadores. A mesma administrao panptica que diferencia, classifica, hierarquiza,
controla, vigia e reprime o espao pblico das ruas com a exceo bvia dos acidentes
de trnsito preserva numa segunda cena o territrio privado dos pais, maridos, chefes e
patres.
Finalmente, se a mquina panptica uma das faces do poder, ela no nos deve seduzir a
ponto de esquecer sua outra face: a sua paixo pelo espetculo, pela mobilidade e pela
visibilidade. O poder no apenas se camufla em teias microscpicas. No espao pblico ele
se ostenta, se exibe, coreografia. Mais ainda, especialmente sob o regime do terror, os
dois dispositivos escpico e exibicionista so mediaes justificadoras da passagem
ao ato
41
.
Quando as rondas tanticas
42
percorrem as ruas da cidade cabe perguntar sobre o destino
das rondas erticas. Em um dos seus significados, ronda um jogo de azar, jogado com um
41
Discordo, portanto, daqueles que, seguindo uma interpretao inaugurada por Michel Foucault,
especialmente em Vigiar e Punir Nossa soeiedade no de espetculos mas de vigilncia (...), (Foucault,
1983, p. 190) tm ressaltado o panoptismo como dispositivo do poder associado a uma prtica
puramente voyeurista. Como se sabe, o voyeur mantm um espao vazio, uma separao entre o objeto e
o olho: seu olhar fixa o objeto boa distncia e coloca em cena no espao a fenda que o separa para sempre
do objeto (Metz, 1980, p. 73). Preserva-se, portanto, do acting out, ao contrrio do que pode ocorrer nestas
rondas policiais.
42
Na reportagem Policiais violentos? A PM quer acabar com isso, Shopping News, So Paulo, 4 mai.
1986, p. 5, divulgado o nmero oficialmente reconhecido de pessoas mortas em confrontos com os policiais:
Mortos em confrontos
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
106
baralho e qualquer nmero de parceiros; mas, em cada queda, h apenas duas chances. Se,
em 1984, sob as cores das Diretas J, as rondas erticas ganharam a parada e desfilaram
pelas ruas de So Paulo, parece que, em geral, a banca que tem sido a vencedora ...
ABSTRACT: This article attempts to interpret some dimensions of a common police
practice in So Paulo during the 1970s that consisted in keeping under permanent and
minute watch the urban space, through the rondas, or mobile patrols constantly going
around the city. It analyses the reorganization of the police apparatus under the influence of
national security ideology which, centered on the idea of an internal enemy, puts under
suspicion every citizen, especially the working man, who is thus discriminated against and
bears the burden of proving that he is neither part of marginalized gangs nor a bandit. It
also discusses how, during this period, the press tends to criticize such practices only for
the excess of their zeal, going sometimes too far. Finaily, it emphasizes some
paradoxical aspects in the discourse of suspicion, amongst which the most outrageous
one: in the name of good citizens, citizenship itself is destroyed.
KEYWORDS: police violence, urban violence, police vigilance, citizenship.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Livros:
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrpolis, Vozes, 1983.
LACAN, Jacques. Os quatro conceitos fundamentais da psicanlise. Rio de Janeiro, Zahar
Ed., 1979.
METZ, Christian. O significante imaginrio. In: METZ, Christian et alii. Psicanlise e
Cinema. So Paulo, Global, 1980. p. 71-82.
PINHEIRO, Paulo Srgio. Polcia e crise poltica: o caso das polcias militares. In: PAOLI,
Maria Celia et alii. A violncia brasileira. So Paulo, Ed. Brasiliense, 1982. p. 57-92.
RAUFER, Xavier. Le cimitire des utopies. Violence sociale: des solutions existent. Paris,
d. Sugar, 1985.
Jornais
ANO PM Civis
1982 26 286
1983 45 328
1984 47 481
1985 33 584
1986 7 89
Nas divulgaes oficiais da Secretaria da Segurana Pblica os civis aparecem sob a denominao de
assaltantes ou marginais.
No h dados oficiais do mesmo tino para os anos anteriores a 1982.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
107
FOLHA DE S. PAULO, So Paulo: 26 jan. 1983, 7 abr. 1985, 9 abr. 1985.
JORNAL DA TARDE, So Paulo: 3 mai. 1976, 8 set. 1976, 13 set. 1976, 17 set. 1976, 25
jul 1977, 30 nov. 1976, 27 dez. 1977.
O ESTADO DE S. PAULO, So Paulo: 4 nov. 1976, 5 nov. 1976, 2 nov. 1976, 22 nov.
1976, 3 jul. 1977, 16 mai. 1985.
LTIMA HORA, So Paulo: 29 jul. 1976.
SHOPPING NEWS, So Paulo: 4 mai. 1986.
Revista VEJA, So Paulo, 4 mai. 1986.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
108
A MOBILIZAO DEMOCRTICA E O
DESENCADEAMENTO
DA LUTA ARMADA NO BRASIL EM 1968:
notas historiogrficas e observaes crticas
JOO QUARTIM DE MORAES
Verses preliminares deste texto foram
expostas e discutidas na 40 Reunio Anual
da SBPC (So Paulo, julho de 1988) e no
XII Encontro Anual da ANPOCS (guas de
So Pedro, outubro de 1988). Elaborei-o no
mbito de um esforo comum, que venho
desenvolvendo juntamente com Irene
Cardoso, Elizabeth Lobo e Marco Aurlio
Garcia no sentido de trazer para o trabalho
acadmico o exame das diferentes
dimenses da resistncia anti-ditatorial
durante os anos de chumbo, o sombrio
drama poltico de nossa gerao.
Professor do Departamento de Filosofia do
Instituto de Filosofia e Cincias Humanas
da UNICAMP, So Paulo
RESUMO: As importantes mobilizaes de massa de 1968, impulsionadas principalmente
pelos estudantes, obedeceram a fatores preponderantemente internos, assim como as
primeiras aes armadas urbanas ocorridas em So Paulo no mesmo momento (maro-abril
de 1968). Embora no estejam casualmente concatenadas, as passeatas estudantis e os
grupos guerrilheiros remetem mesma causa histrica, o golpe de Estado de 1964 e a
ditadura militar. Constituram, nesta medida formas distintas de resistncia democrtica.
Nem por isso se pode perder de vista a dimenso internacional dos acontecimentos de 1968
no Brasil, que particularmente evidente nas concepes tericas sobre a estratgia
revolucionria da guerrilha rural. Na prtica, entretanto, a luta armada fixou-se nos centros
urbanos e acabou por ser aniquilada antes de superar seu impasse estratgico.
PALAVRAS-CHAVE: Brasil: luta armada, movimento estudantil; histria, evento,
processo; estratgia, ttica, guerra revolucionria.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
109
O movimento de massas de 1968: caractersticas gerais
Em 1968 ocorreram manifestaes contra a ditadura militar que s seriam superadas quanto
amplitude (social e geogrfica) da participao popular, pela campanha por eleies
presidenciais diretas, em 1984. Permaneceram, no entanto insuperadas no que se refere
durao do movimento. Enquanto que a campanha popular pelas diretas concentrou-se nos
quatro primeiros meses de 1984, at a votao pelo Congresso, a 25 de abril, da emenda
Dante de Oliveira (para a qual, nunca ser demais repeti-lo, faltaram 22 votos maioria de
dois teros necessria para aprov-la; o ento senador Jos Sarney foi um dos principais
articuladores das presses do poder ditatorial sobre os dissidentes do PDS, que se
dispunham a votar no sentido das aspiraes populares), a mobilizao de 1968 durou
quase o dobro: do assassinato do estudante Edson Lus por uma tropa de choque da PM-Rio
invaso da Faculdade de Filosofia da USP pelos comandos do CCC-Mackenzie apoiados
pela PM-So Paulo, e priso em massa dos participantes do Congresso da UNE em
Ibina, foram oito meses de manifestao e lutas praticamente ininterruptas.
A descrio sistemtica deste multiforme processo de mobilizao de massas contra a
ditadura militar est ainda para ser elaborada. Embora dispersa, a documentao disponvel
(imprensa da poca, arquivos pessoais, depoimentos de participantes e de testemunhas,
alm dos livros de memrias e estudos historiogrficos, etc.) ampla, sobretudo porque at
o dia 13 de dezembro de 1968 (quando os elementos cripto-fascistas do regime militar
lograram seu intento de impor, atravs do Ato-5, a ditadura aberta, com carta branca para os
torturadores), a imprensa se exprimiu com alguma liberdade e a oposio pode fazer valer
publicamente suas crticas e suas denncias. Particularmente abundante a documentao
iconogrfica, cobrindo passeatas, manifestaes como a do 19 de Maio de 1968 na Praa da
S e Praa da Repblica, a greve de Osasco, para s citarmos a imprensa paulista,
notadamente a Folha da Tarde e o Jornal da Tarde nos quais est registrada uma
riqussima coleo de imagens daqueles e de outros eventos, ocorridos no apenas na
capital, mas tambm no interior do Estado. Alis, a interiorizao da mobilizao anti-
ditatorial permanece um dos aspectos menos estudados dos acontecimentos polticos de
1968. Nos quadros descritivos do movimento estudantil em escala nacional includos na
parte final de seu importante trabalho Movimento Estudantil e Ditadura Militar, Joo
Roberto Martins F. menciona a grande maioria das capitais brasileiras e, no interior do
Estado de So Paulo, So Carlos, Presidente Prudente, Campinas e Piracicaba. (Martins F,
1987, p. 151-166). Mas a listagem no exaustiva: uma investigao pormenorizada da
imprensa disponvel ampli-la-ia consideravelmente. (O autor citado no consultou a Folha
da Tarde, o que por si s permite supor que muitos dados sobre mobilizao estudantil em
1968 podero ser acrescentados a seu esforo pioneiro de listagem).
Comparado a outros processos de mobilizao de massas de nossa histria social e poltica,
a principal particularidade do de 1968 foi a presena decisiva do movimento estudantil. As
passeatas que tanto exasperaram a reao e que asseguraram, meses a fio, o domnio das
ruas rebelio anti-ditatorial, nasciam quase sempre nas Faculdades, quando no nas
Escolas secundrias. Nesse sentido, os estudantes constituram a categoria social
mobilizadora por excelncia, vale dizer, aquela que, pondo-se em movimento,
movimentava as demais. Acabaram assumindo tambm, embora no fosse essa a inteno
proclamada de seus militantes mais expressivos, uma funo dirigente no seio do
movimento de massas. Funo efmera, sem dvida, alm de difusa, exercida por
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
110
propagao espontnea a partir do meio estudantil em direo das categorias sociais e
profissionais adjacentes: professores, jornalistas, artistas e em geral profissionais ligados
cultura, assim como as correntes de opinio sensveis ao idario democrtico e aos valores
culturais avanados que aquela mobilizao contrapunha estreiteza reacionria da
ditadura. A famosa Passeata dos Cem Mil, realizada a 26 de junho de 1968 no Rio de
Janeiro, constituiu o ponto mais alto do processo de luta de massas desencadeado trs
meses antes, ao influxo da indignao provocada pela truculncia assassina da represso
policial. Os estudantes, mais uma vez, atuaram como fora motriz da impressionante
manifestao, da qual participaram, como se sabe, todas as correntes da opinio
democrtica carioca.
O predomnio dos fatores internos na luta dos estudantes em 1968 no Brasil
A contemporaneidade da mobilizao estudantil brasileira com a que ocorria na Europa
Ocidental, especialmente na Frana, Itlia e Alemanha Federal, tem sido ressaltada nos
diferentes eventos realizados entre ns por ocasio do vigsimo aniversrio dos
acontecimentos de 1968. A pertinncia desta aproximao entre a cena nacional e a cena
internacional bvia. Menos clara, entretanto, a natureza da influncia desta sobre
aquela. O aspecto genrico desta influncia, nos planos poltico e cultural, escapa a nosso
tema, circunscrito ao exame das relaes entre o movimento de massas e o
desencadeamento da luta armada no Brasil em 1968. Notaremos apenas que o movimento
estudantil de massa no Brasil e na Europa Ocidental foram demasiado contemporneos, no
sentido cronolgico do termo, para que se possa falar em relao de causa a efeito entre
este e aquele. Basta lembrar que o primeiro ato da rebelio estudantil na Frana ocorreu na
Universidade de Nanterre a 22 de maro de 1968 (ocupao da sala do Conselho
Universitrio por 142 estudantes), seis dias antes do assassinato de Edson Lus, ocorrido no
Calabouo a 28 de maro. Alm de que o prazo cinco dias entre a divulgao da
informao dos distrbios de Nanterre e a invaso do Calabouo demasiado
exguo responder a qualquer influncia direta da rebelio estudantil francesa sobre a
brasileira, acresce que a agitao no Calabouo comeara em janeiro, sendo portanto
cronologicamente anterior de Nanterre e, sobretudo, que o 22 de Maro passou
desapercebido na prpria Frana. Mesmo rgos de imprensa anti-gaullistas, como o
semanrio Le Nouvel Observateur (centro-esquerda liberal-modernoso), sem subestimar os
acontecimentos daquele dia, nem suas conseqncias, tratou o assunto como um episdio
entre outros no processo de contestao estudantil da rigidez, dos arcaismos e do carter
politicamente conservador das instituies universitrias francesas. O nmero 177 daquele
semanrio (de 3 a 9 de abril de 1968), j com mais de uma semana de recuo sobre os
incidentes de 22 de maro, consagrou uma pgina de comentrios polticos (seco On en
parlera demain) a um balano da agitao estudantil do dia 22 de maro em diante. A
concluso dos comentrios merece ser traduzida: Se a massa dos estudantes ainda no
segue o movimento, os debates de sexta-feira (29 de maro) mostraram que a contestao
da Universidade e da sociedade em geral podia se desenvolver com calma e permitia, de
outro lado, a grupos que at agora agiam separadamente, esquecer suas divergncias
ideolgicas e levar adiante uma ao comum. O jornalista percebeu com certa acuidade o
que o 22 de Maro trazia de novo: a unidade de ao sobrepondo-se s querelas
ideolgicas grupusculares. Mas no percebeu e no vai nisso nenhuma falha, porque
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
111
seria preciso um excepcional talento premonitrio para perceb-lo o carter explosivo
que iria assumir, um ms mais tarde, o movimento.
Fica portanto evidente que a mobilizao estudantil de massa desencadeou-se primeiro no
Brasil e no na Frana. Confirma-o por exemplo a leitura do Correio da Manh
daqueles dias (de 23 a 31 de maro de 1968). Como se sabe, este jornal carioca oferecia a
seus leitores ampla informao sobre a oposio ao regime militar e, em termos brasileiros,
razovel informao internacional. Ora, entre os dias 23 e 31 de maro, nenhuma aluso
feita, no mencionado dirio, aos acontecimentos de Nanterre. Em compensao,
encontramos sucessivamente as seguintes notcias sobre o movimento estudantil brasileiro:
Correio da Manh de 23 de maro de 1968: a Faculdade de Filosofia da USP continua
fechada por tempo indeterminado. (Os excedentes do vestibular haviam invadido a
Congregao para exigir a concesso de vagas, exatamente a mesma iniciativa que os
estudantes de Nanterre tomariam a 22 de maro). A Congregao da Filo-USP decidiu
ento fechar a Faculdade, exatamente como faria a de Nanterre). Alguns professores,
conhecidos por suas posies reacionrias e por sua conivncia com a ditadura, que no
perdoavam ao professor Florestan Fernandes sua atitude digna e corajosa durante os
famigerados IPMs que haviam assolado as Faculdades suspeitas de subverso, agarraram
a ocasio para uma desforra, acusando Florestan de cumplicidade com os excedentes
invasores da Congregao. O jornal, neste edio, publica declaraes do acusado,
desmentindo indignadamente os intrigantes e condenando veementemente o ato dos
estudantes, uma violncia sem cabimento, contra os professores e a Congregao.
Idem, de 24/3/68: publica notcia com o ttulo: Agrava-se crise estudantil em So Paulo:
Excedentes.
Idem, de 28/3: d notcia sobre a preparao do XX Congresso Nacional da UBES (Unio
Brasileira dos Estudantes Secundrios), informando notadamente que Che Guevara havia
sido escolhido como presidente de honra, post mortem, daquele Congresso, cuja data
seria 21 a 24 de abril.
Idem, de 29/3: manchete da primeira pgina, letras garrafais: Polcia Militar Mata
Estudante. O editorial consagrado ao trgico desfecho da invaso do Calabouo leva o
ttulo Assassinato, denunciando com veemncia a criminosa ao repressiva da PM
carioca. A concluso do editorial lapidar: A Guanabara, cidade civilizada e centro
cultural do Brasil, no perdoar os assassinos.
Idem, de 30/3: Manchete de primeira pgina informa que Crise Estudantil Alastra-se s
Principais Cidades do Pas. Estava desencadeada a grande mobilizao estudantil, com
forte apoio da opinio pblica. No dia em que o regime comemorava o quarto aniversrio
do golpe que lhe dera origem, uma vaga sem precedente de repdio a seus mtodos brutais
sacudia o pas. At no Supremo Tribunal Militar, o general Peri Bevilacqua declarava que o
crime da PM nos enche de legtima indignao.
Foi, portanto em funo de fatores exclusivamente internos e caracterizadamente
reivindicatrios (tanto na Filo-USP quanto no Calabouo) que se desencadeou a
mobilizao estudantil. Se no houve influncia internacional na dinmica de massas do
movimento estudantil, iniciativas como a homenagem prestada a Che Guevara pelos
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
112
organizadores do XX Congresso da UBES, mostram quo forte era a sensibilidade
internacionalista dos militantes de vanguarda daquele movimento. No por acaso, desta
vanguarda sairiam, em boa medida, os membros das organizaes revolucionrias
clandestinas que partiriam (algumas j estavam partindo) para o combate frontal contra a
ditadura militar e a dominao de classe por ela sustentada.
O desencadeamento da luta armada: a ordem dos fatores e as dificuldades metodolgicas de
uma historiografia objetiva A pr-condio histrica fundamental do desencadeamento da
luta armada no Brasil foi o golpe de 1964, assim como sua condio poltica fundamental
foi a consolidao da ditadura militar sob a forma auto-limitada do regime definido pela
Constituio outorgada de 1967. Por pr-condies entendemos aqui os fatores que
contriburam indiretamente para o desencadeamento da luta armada, isto , que criaram as
condies que a tornariam possvel. A expulso dos sargentos e marinheiros envolvidos na
mobilizao poltica dos subalternos das Foras Armadas entre 1961 e 1964 constituiu uma
destas pr-condies. Como se sabe, foi um ncleo de ex-sargentos e ex-marinheiros,
agrupado em torno do ex-sargento Onofre Pinto, que iniciou a luta armada no Brasil. O
nexo entre os dois fatos evidente. A expulso (pr-condio) condicionou o agrupamento
de algumas dezenas de companheiros de expurgo, animados pela solidariedade recproca na
amarga situao de politicamente derrotados, profissionalmente discriminados e
socialmente marginalizados em que se encontravam, desde o golpe de 1964, os
protagonistas e os figurantes dos extintos movimentos dos sargentos e Associao dos
Marinheiros e Fuzileiros Navais Brasileiros. Muitos deles haviam sofrido priso e
brutalidades policialescas. O prprio Onofre havia sido hspede do famigerado navio-
priso Raul Soares, onde amontoaram-se, nos dias que se seguiram ao triunfo da sedio
reacionria, numerosos presos polticos. Ao condicionar tal agrupamento, a expulso pr-
condicionou a formao, trs anos mais tarde, do grupo do Ali, mais tarde do Augusto,
pseudnimos adotados sucessivamente por Onofre Pinto. (O pseudnimo Ali refletia
provavelmente a simpatia de Onofre pela Revoluo Argelina).
A distino entre pr-condies e condies apresenta o interesse, estritamente analtico, de
pr em perspectiva a articulao dos nexos causais que explicam determinado resultado
histrico. No caso, a deflagrao da luta armada no Brasil de 1968. O objetivo do
historiador identificar a concatenao completa dos fatores causais, reconstituindo, elo
por elo, a cadeia dos antecedentes do processo em exame. Embora nos proporcione uma
imagem clara e distinta desta concatenao, a metfora da cadeia, isto , de uma srie de
elos, cada um entrelaado num anterior (o condicionante) e num posterior (o condicionado),
com exceo do primeiro e do ltimo, aquele representando a pr-condio a mais recuada,
este o resultado final da srie de antecedentes/conseqentes, no oferece, no entanto, uma
representao adequada da causalidade histrica. Pelo menos por duas razes principais:
1. A sucesso histrica comporta eventos e processos. Ora, a temporalidade de um evento
discreta, seu tempo prprio o instante, tomo de durao, enquanto que a temporalidade
de um processo contnua, durao indivisa. Por exemplo, o golpe de 1964 se inscreve na
ordem dos eventos, mas a ditadura militar na dos processos. Por serem estticos, os elos de
uma corrente prestam-se a representar a sucesso dos eventos, sob a forma de uma srie de
imobilidades sucessivas (por exemplo, a srie: golpe ato institucional n. 1
prorrogao do mandato de Castelo Branco eleies para governador em outubro de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
113
1965, com derrota fragorosa dos candidatos do regime ato institucional n. 2 etc.).
Mas no se prestam a representar a persistncia de processos subjacentes queles eventos,
por exemplo da dominao social do grande capital agrrio, industrial e financeiro, da
ditadura militar, etc. Analiticamente, somos levados a separar os eventos dos processos,
tratando-os respectivamente em termos de descrio (esttica) de uma situao e em termos
de determinao dos nexos causais de uma evoluo. (Por situao entendemos aqui o
contexto global de um evento e por evoluo a dinmica de um processo). Sabemos, no
entanto que, objetivamente, a contradio entre o evento (e sua situao) e o processo (e
sua dinmica evolutiva), entre o discreto e o contnuo, se resolvem na sntese histrica
concreta. A ditadura militar consolidou-se como forma de poder de Estado reproduzindo
continuamente o ato de fora com que se instaurara: na sntese histrica objetiva, a ditadura
o golpe continuado e o golpe o primeiro ato da ditadura. A separao entre o golpe
(evento) e a ditadura (processo) portanto analtica: concerne nossos mtodos de
conhecimento dos fenmenos histricos e, mais precisamente, nossa dificuldade em
elaborar um modelo causal que d conta, adequadamente, da sntese objetiva entre o evento
e o processo. Donde o interesse metodolgico da distino entre pr-condies (condies
passadas) e condies strictu sensu (condies presentes). Como notamos, ela permite pr
em perspectiva as diferentes dimenses temporais da determinao causal.
2. Um fenmeno histrico (seja ele um evento ou um processo) no se explica, em geral,
apenas por uma srie de antecedentes, mas constitui o efeito combinado do entre-
cruzamento, num determinado ponto, de mltiplos fatores causais, vale dizer, de
mltiplas sries de antecedentes. Para retomar a clebre frmula de Marx, o concreto
sntese de mltiplas determinaes. A anlise concreta de uma situao concreta
retomando agora a clebre frmula de Lnin ser tanto mais concreta quanto mais
completa for, vale dizer, quanto mais exaustivamente determinar a multiplicidade dos
fatores cuja sntese constitui o concreto. Esta determinao sempre problemtica, j que
no se trata apenas de identificar os fatores da sntese, mas tambm de avaliar a influncia
particular de cada um deles sobre o resultado global. As fronteiras entre a avaliao
objetiva e a interpretao subjetiva so, sabemo-lo todos, extremamente tnues. pois
intrnseco explicao histrica um aspecto polmico, j que no existe um parmetro
universal para medir a eficcia causal dos diferentes fatores que concorrem na
determinao de um efeito histrico. (Quem de ns, formados na escola do marxismo
leninismo, j no ouviu exausto os argumentos e contra-argumentos em torno da luta
pelo e no poder sovitico aps a morte de Lnin? Como avaliar a possibilidade objetiva de
que uma poltica externa sovitica distinta daquela dita do socialismo num s pas tivesse
conduzido vitria do socialismo na Europa Ocidental em prazo til para evitar o flagelo
hitleriano? Ou a hiptese contrria sustentada pelos partidrios de Iosif Vissarionovitch
Djugashvili, dito Koba, de que teria, ao contrrio, feito naufragar no somente a revoluo
proletria internacional, mas a prpria Repblica dos Soviets? Evidentemente, no esta a
nica questo importante na vexata quaestio do stalinismo. Outras so suscetveis de uma
comprovao histrica; por exemplo, a do assassinato de Kirov ou a do pretenso putsch
dos generais. Outras ainda, embora no to diretamente verificveis, permitem uma
avaliao mais precisa do que aquela sobre o curso internacional da Revoluo; por
exemplo, a propsito do pacto nazi-sovitico. Da inexistncia de um parmetro causal
universal permitindo medir, por exemplo, o grau de viabilidade das propostas da chamada
oposio unificada na Rssia Sovitica da segunda metade dos anos 1920, no se infere,
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
114
no entanto, que no se possa atingir, nesta e noutras questes, um grau satisfatrio de
objetividade. Infere-se apenas que a objetividade, em casos como este, de fenmenos
histricos complexos e multi-dimensionais, requer um longo esforo de anlise e de
compreenso.
o que ocorre, mutatis matandis, com o debate sobre as origens da luta armada no Brasil
de 1968, em particular, sobre a identificao de sua causa histrica fundamental. No
somente a direita, mas tambm o centro liberal e at setores da esquerda privilegiam
abusivamente os fatores externos (influncia cubana ou maoista) em detrimento dos
internos. No caso da direita (tanto a extrema-direita fascistide quanto os liberais de
direita), a motivao poltica bvia: se admitissem a tese (que aqui sustentamos) de que a
causa histrica fundamental da luta armada foi a ditadura militar, estariam, ipso facto,
reconhecendo sua prpria responsabilidade, enquanto foras polticas que deram
sustentao ao golpe, pelas conseqncias histricas daquele evento e notadamente, pelo
esprito de rebeldia que o regime de fora ento instaurado (graas, repitamo-lo uma vez
mais, que nunca ser demais, aos liberais tanto quanto aos criptofascistas) suscitava na
juventude, entre os estudantes, entre os intelectuais democratas, entre os militantes de
esquerda, entre os sargentos e marinheiros expulsos das Foras Armadas, etc. No entanto,
inegvel a influncia dos fatores externos no processo que conduziu considervel parcela da
esquerda brasileira ao confronto violento com a ditadura militar reacionria. Os prprios
revolucionrios, sobretudo aqueles que, sob a direo de Carlos Marighella e de Joaquim
Cmara Ferreira, aderiram publicamente Organizao Latino-americana de Solidariedade
(OLAS), entusiasta mas frustrada tentativa de criar uma internacional guerrilheira tendo por
centro La Habana e por inspirao o testamento poltico de Guevara, encarregaram-se de
propagar suas convices internacionalistas. Fizeram-no sem exageros, no entanto, sempre
salientando que a luta armada, no Brasil, seria obra de brasileiros. O que no impediu,
evidentemente, que os porta-vozes do regime denunciassem, em linguagem estereotipada, o
carter extico e sedicioso, contrrio formao crist e democrtica da esmagadora
maioria de nossa populao, da ideologia aliengena dos subversivos.
A tese de que a condio poltica essencial da luta armada foi a ditadura militar significa
que sem ditadura, no teria havido luta armada no Brasil a partir de 1968. Aos positivistas
que denunciariam o carter inverificvel desta tese, responderamos apenas que no
queremos demonstr-la, mas somente utiliz-la heuristicamente para, como j dissemos,
pr em perspectiva a complexa articulao causal do processo histrico. Sem dvida, a
Histria no se faz com projetos fracassados, nem com possibilidades abortadas. Mas s
avaliamos plenamente o significado de um resultado histrico confrontando-o
intelectualmente com a possibilidade contrria, vale dizer, concebendo como teria sido o
curso da histria se, em vez do resultado A tivesse ocorrido o resultado no-A (resultado
que, obviamente, tanto pode ser imaginado como positivo, como tendo evitado uma
catstrofe por exemplo, o que teria ocorrido se em vez de trarem a Repblica Espanhola
as democracias liberais ocidentais a tivessem ajudado, quanto como negativo o que teria
ocorrido se em vez de derrotadas pelo herico Exrcito Vermelho, as hordas nazistas
tivessem ganho a batalha de Stalingrado).
Os Tupamaros e o Sendero Luminoso: anlise de duas excees relao de causa a
efeito sobre ditadura militar reacionria e luta armada revolucionria
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
115
Sustentamos que, se no tivesse ocorrido o golpe de 1964 e, sobretudo, se este no tivesse
se cristalizado numa ditadura militar, a possibilidade objetiva da ocorrncia de um
movimento de luta armada no Brasil teria sido mnima. Poderiam, nesta hiptese, ter
ocorrido tentativas meramente grupusculares de preparar focos guerrilheiros tticos ou
estratticos, acompanhados de ataques espordicos a bancos e outras fontes diretas de
auto-financiamento, vale dizer, na expresso saborosa de um dos melhores lutadores da
resistncia anti-ditatorial naquele perodo, o operrio Jos Campos Barreto, a luta armada
ter-se-ia reduzido a atos de porra-louquismo espordico. (Barreto, ento militante da l
VPR, referia-se ao plano de aes espetaculares proposto por outro militante daquela
organizao, mais tarde conhecido pelo pseudnimo de Jamil). Mas no teria ocorrido o
efeito mobilizador suscitado pelas primeiras (e bem sucedidas) aes armadas em parcelas
ponderveis da esquerda, condenadas ao exlio interior pelo regime ditatorial e dispostas,
portanto, a passar a formas ilegais (mas percebidas como historicamente legtimas) de luta e
de resistncia.
Na impossibilidade de verificar em laboratrio hipteses histricas que a histria no
verificou na prxis, cumpre recorrer ao mtodo da anlise comparativa, muito menos
rigoroso, verdade, mas fecundo se observarmos, na comparao, critrios de pertinncia
entre a possibilidade histrica no realizada e realizaes histricas de possibilidades
anlogas. No caso, cumpre examinar os dois exemplos histricos pertinentes que no
confirmam nossa hiptese, isto , que constituem exemplos de processos de luta armada
desencadeados no mbito de regimes onde existiam ou persistiam liberdades pblicas e que
portanto dispunham de um mnimo de legitimidade. Estes dois exemplos so o dos
Tupamaros e o do Sendero Luminoso.
O exemplo dos tupamaros apresenta o interesse suplementar de ter sido contemporneo do
movimento brasileiro de luta armada, embora, contrariamente ao que afirma Thomas
Skidmore em seu recente Brasil de Castelo a Tancredo (que os guerrilheiros brasileiros
imitavam os xitos at mais picos dos guerrilheiros tupamaros do Uruguai) (Skidmore,
1988, p. 176), os militantes que lanaram a luta armada no Brasil pouco ou nada sabiam
sobre seus congneres uruguaios. Se em vez de arriscar palpites, o eminente brazilianista
tivesse consultado a imprensa brasileira de 1968, teria constatado aquilo que sabem todos
os militantes brasileiros que desencadearam a luta armada: que pouco ou nada se sabia, no
Brasil, dos tupamaros. Conhec-los-amos mais tarde, em 1969-1970, quando sucessivos
grupos de exilados brasileiros, acuados pelas foras repressivas da ditadura, cruzariam a
fronteira uruguaia. J ento o poder poltico, no Uruguai, marchava para a ditadura. A
guerrilha urbana dos tupamaros tornara-se um fator determinante da evoluo poltica do
pas, contando com a simpatia discreta do Partido Socialista e dos anarquistas. Persistiam,
no entanto, certas liberdades pblicas e garantias judicirias, como testemunhamos no
primeiro semestre de 1969, quando um dos mais importantes dirigentes tupamaros, preso
na vspera pela polcia, declarava ao juiz incumbido de instruir seu processo: H cumplido
mi deber y no dir nada! Esta lapidar declarao, bem como a foto do declarante, foram
reproduzidas nos jornais de Montevideo. Ser preciso observar que no Brasil, na mesma
poca, era ao Srgio Fleury e outros esbirros assassinos que os presos polticos faziam
declaraes e quando no as faziam eram destroados por seus algozes? A luta armada
dos tupamaros parecia-nos, transfugas do inferno repressivo brasileiro, um delicioso conto
de fadas. Mais tarde, as coisas pioraram muito no Uruguai e a represso poltica, como no
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
116
Brasil, ficou bicho feio. Os nexos causais, no entanto, apresentaram-se em ordem inversa:
foi a ascenso da guerrilha tupamara nas condies da legalidade constitucional que
precipitou a evoluo do regime para a ditadura militar. Afinal, a primeira ao clandestina
dos tupamaros remontava a julho de 1963, quando um grupo de militantes de origem
socialista, chefiados por Raul Sendic, assaltou um clube de tiro situado no interior,
apoderando-se de boa quantidade de armas de fogo. No que caiba aos guerrilheiros
uruguaios a responsabilidade histrica principal pelo curso fascistide e terrorista em que
enveredaria o poder poltico uruguaio ao longo dos anos 1970: tratava-se, naqueles anos
infames, de quebrar a espinha dorsal dos partidos de esquerda e do movimento sindical e se
a guerrilha tupamara exacerbou e agravou o mpeto liberticida da reao uruguaia e de seu
aparelho coercitivo, no foi somente contra ela, mas tambm contra o Frente Amplio que
apoiou a candidatura do general Liber Seregni nas eleies presidenciais de 1971, que se
articulou, em 1972 e durante o primeiro semestre de 1973, o dispositivo golpista que
conduziria ditadura aberta instaurada a 26 de junho de 1973.
A questo que ora importa esclarecer no , no entanto, a das conseqncias da guerrilha
tupamara no agravamento da crise poltica uruguaia e em seu desfecho gol pista de 1973,
mas a dos fatores que explicam o prestgio adquirido pelos tupamaros junto a amplos
setores da esquerda uruguaia ao longo da segunda metade dos anos 1960, quando, a
despeito da corroso rpida das instituies democrtico-liberais que haviam assegurado ao
Uruguai, durante as dcadas precedentes, a agradvel reputao de Sua da Amrica
Latina, persistiam, como notamos acima (com um pitoresco exemplo), liberdades pblicas
e garantias individuais. Indicaremos apenas aquele que nos parece ser o mais peculiar: a
fortssima sensibilidade continental da esquerda uruguaia, particularmente acentuada no
Partido Socialista, do qual saram muitos dos fundadores e militantes destacados do
movimento tupamaro. Na poca, o principal terico do P.S. era o historiador Vivian Trias,
que, em numerosos trabalhos, dentre os quais Imperialismo y geopoltica en Amrica
Latina, insistiu incansavelmente na tese de que o Uruguai no era vivel como unidade
econmica autrquica, mesmo porque sua formao, como Estado independente, resultara
de manobras do imperialismo ingls, interessado em dispor, na entrada do Rio de la Plata,
de um Estado-tampo entre a Argentina e o Brasil. Teses semelhantes, insistindo na
inexorvel decadncia do pas (que perdera, irreversivelmente, sua posio de grande
fornecedor de carne no mercado internacional) e na necessidade de uma integrao
regional, e no limite, continental, que criasse espao econmico para o desenvolvimento
industrial no mbito latino-americano, eram regularmente sustentadas na imprensa e na
literatura progressista da poca. Basta lembrar o semanrio Marcha, um dos mais
importantes rgos de imprensa progressista do continente ao sul do Rio Bravo (vale
dizer, da fronteira mexicana Terra do Fogo), alm do semanrio Izquierda, editado pelo
Partido Socialista. Compreende-se assim que, para a esquerda uruguaia, a situao global
da Amrica Latina constituia um dado to relevante quanto a situao do pas na
determinao das perspectivas estratgicas do combate revolucionrio. Mesmo os
tupamaros, embora forados pelas prprias peculiaridades nacionais da sociedade uruguaia
a desenvolver uma luta guerrilheira perfeitamente heterodoxa em relao aos cnones
estratgicos preconizadas tanto pela linha cubana quanto pela linha chinesa (com 70%
da populao vivendo em zonas urbanas, sendo que 45% somente em Montevideo, o campo
no poderia ser o palco principal da luta), haviam enfatizado a inspirao continental de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
117
seu combate no prprio nome do movimento: o termo tupamaros, como se sabe, vem do
chefe inca Tupac-Amaru, heri da resistncia de seu povo contra o colonizador espanhol.
Quanto ao Sendero Luminoso, notrio seu enraizamento nas comunidades camponesas de
lngua quechua, economica e culturalmente isoladas e discriminadas. Independentemente
de qualquer juzo de valor sobre os mtodos e as concepes ideolgicas dos senderistas,
inegvel que foram bem sucedidos em seu esforo de integrao com as populaes rurais
da zona andina. Na Amrica do Sul, o nico movimento guerrilheiro que havia atingido
resultado semelhante (fundir-se s massas camponesas) era o colombiano, com a grande
diferena, no entanto, de que na Colmbia, a luta guerrilheira no foi desencadeada por
uma organizao de militantes revolucionrios executando um plano estratgico, mas
surgiu no prolongamento da guerra civil provocada, no incio dos anos 1950, pela ditadura
terrorista do conservador Laureano Gomez. A rigor, portanto, o Sendero Luminoso foi o
nico movimento guerrilheiro sul-americano que realizou a almejada osmose com o
campesinato. Que tal resultado tenha sido atingido pela organizao a mais rigidamente
extremista e a mais sistematicamente terrorista de quantas, em nossa poca, desfraldaram a
bandeira da Revoluo no continente ao sul do Rio Bravo, no deixa de ser inquietador.
Sugere que quanto mais dogmtica na doutrina e violenta na prtica for uma organizao
revolucionria, maiores sero suas chances de sucesso. Mas esta impresso desagradvel
no nos parece corresponder a nenhuma tendncia histrica de longo termo. O Sendero
uma exceo, como numa escala muito mais terrvel o foi o Khmer Vermelho no
Cambodja. Mostra a eficcia do fanatismo posto a servio de uma organizao solidamente
articulada e monoliticamente coesa. Do mesmo modo como a longa sobrevivncia da
Maffia ou o rpido sucesso da seita Moon mostram a eficcia de seus mtodos
respectivos. Mas a nica concluso geral que podemos extrair de uns e de outros que,
como a direita, a esquerda tambm tem seus marginais.
O desencadeamento da luta armada em 1968 como resposta retardada ao golpe de
1964
A tese que estamos sustentando foi afirmada com nfase na concluso de Combate nas
Trevas de Jacob Gorender, para o qual a luta armada... teve a significao de violncia
retardada (Gorender, 1987, p. 249). A seqncia desta caracterizao nos parece menos
exata: No travada em maro-abril de 1964 contra o golpe militar direitista, a luta armada
comeou a ser tentada em 1965 e desfechada em definitivo a partir de 1968, quando o
adversrio dominava o poder de Estado, dispunha de pleno apoio nas fileiras das Foras
Armadas e destroara os principais movimentos de massa organizados (id., p. 249). Antes
de mais nada porque o sujeito do processo luta armada no era o mesmo: a esquerda que
no lutou em 1964 no era a mesma que lutou em 1968, com a exceo dos dois dirigentes
comunistas que romperam com o PCB para lanar a luta armada em So Paulo j em 1968
(Carlos Marighella e Joaquim Cmara Ferreira). Estamos, claro, nos referindo esquerda
no enquanto conjunto indiferenciado de indivduos, mas enquanto uma certa configurao
do espao poltico e uma certa forma de articulao orgnica no interior deste espao.
Neste sentido que nos parece o mais importante aqueles que tomaram a deciso de
no lutar em 1964, continuaram decididos a no lutar em 1968, enquanto os que
impulsionaram a luta armada a partir de 1965 foram os que a desencadearam em 1968 em
diante, com uma nica exceo significativa (conhecido chefe poltico nacionalista de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
118
esquerda que se distinguira na resistncia ao golpe militar de 1961 e tentara em vo resistir
ao de 1964, tendo sido o iniciador, em seguida, dos preparativos da luta guerrilheira contra
a ditadura; aps o fracasso do chamado foco de Capara, em 1967, abandonou a
empreitada sem maiores explicaes). Alm disso, a tese de Gorender tambm inexata no
que se refere s condies em que foi desencadeada a luta armada. Sem dvida, teria sido
historicamente mais justo travar s claras o combate frontal contra os golpistas no dia 31 de
maro de 1964; sem dvida, as chances de sucesso teriam sido bem maiores. Mas como, em
vez disso, Joo Goulart e as foras que o sustentavam capitularam sem resistncia, era
compreensvel que a gerao de militantes de esquerda que se dispusera a resistir em 1964
e s no o fizera por no dispor de qualquer comando poltico, tentasse contrapor a
violncia revolucionria violncia reacionria to logo reunisse um mnimo de condies
para tanto. Ora, em 1968, quando os grupos que mais tarde iriam formar a ALN e a VPR j
haviam constitudo o ncleo de suas organizaes clandestinas respectivas, irromperam as
lutas estudantis, logo ampliadas a largos setores da opinio democrtica e reforadas pelas
greves de Contagem e de Osasco. pela primeira vez desde o golpe, o regime militar era
colocado na defensiva poltica. Dir-se- que tal defensiva era ttica, j que a ditadura
dispunha de recursos estratgicos para contra-atacar como o faria com o Ato-5 a partir de
13 de dezembro de 1968. De qualquer modo, no se pode negar que, na relatividade das
circunstncias, a situao nacional, no primeiro semestre de 1968 era a mais favorvel (ou
menos desfavorvel) desde o golpe, para uma ofensiva anti-ditatorial.
Embora importante, estes erros de avaliao no invalidam a interpretao global proposta
por Gorender, de que a luta armada constituiu resposta violenta violncia inflingida contra
a democracia, quatro anos antes, pelos golpistas que derrubaram o presidente constitucional
e rasgaram a Constituio vigente (de 1946). Parece-nos que ambos os erros se explicam
pela compreensvel interferncia, num esforo intelectual caracterizado, em suas linhas
gerais, por meticuloso levantamento historiogrfico, da experincia pessoal do autor. com
efeito muito difcil, seno impossvel, a um autor que tambm foi protagonista do processo
que descreve, separar completamente a si prprio de si prprio. Gorender, como se sabe, ao
lado de Apolnio de Carvalho e de Mrio Alves, foi um dos dirigentes comunistas que
viveu intensamente a experincia do pr-golpe com posies de esquerda dentro do PCB.
Quando sugere que a esquerda que no pegou em armas em 1964, quando devia, tomou-as
a partir de 1968, quando no devia, est pensando em seus companheiros mais prximos,
notadamente os acima citados. Esquece-se de que seu caso foi a exceo e no a regra, j
que a maioria dos dirigentes da luta armada no tinha exercido nenhum papel dirigente na
esquerda at 1964.
Acresce que sua experincia na luta armada transcorreu no PCBR, a organizao que entrou
por ltimo na guerrilha urbana, quando as organizaes que a haviam desencadeado j se
encontravam destroadas e dizimadas por um aparelho de represso aguerrido,
copiosamente informado e totalmente embrutecido no uso sistemtico da tortura e de outros
mtodos do terrorismo de Estado. Iniciar a luta armada na virada de 1969-1970, como o fez
o PCBR, constituiu uma temeridade suicida e portanto um erro de apreciao
incomparavelmente mais grave do que o cometido pelos que comearam as aes armadas
em 1968. Como observou com amarga ironia um veterano da ALN: ns, pelo menos,
comeamos durante o oba-oba. Eles, durante o epa-epa.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
119
Mais do que mera hiptese interpretativa, a afirmao de que o desencadeamento da luta
armada teve o carter de resposta no exatamente violncia do golpe enquanto evento
histrico, mas cristalizao desta violncia na ditadura militar enquanto golpe continuado,
constitui a constatao histrica de um fenmeno cultural expresso na atitude coletiva de
uma determinada corrente de opinio muito mais ampla, em 1968, do que sugere a
designao de ultra-esquerda que lhe reservaram os bem-pensantes mal-intencionados.
Este esclarecimento tanto mais importante que uma crtica recente a Combate nas Trevas
(Cf. Henriques, 1988) est toda construda em cima da confuso entre a luta armada como
artigo doutrinrio desta ou daquela estratgia revolucionria e a vontade tico-poltica de
responder violncia reacionria com a violncia revolucionria. A confuso demasiado
elementar para que seja necessrio elucid-la. Notaremos apenas que ao contrapor s
anlises histrico-concretas de Gorender o preceito universal de que o momento do
consenso na poltica dos socialistas deve subordinar amplamente o da coero, da
violncia (Henriques, 1988, p. 14), Henriques no est mais criticando nenhuma estratgia
revolucionria, mas exprimindo o desejo, extremamente simptico, de que a histria social
e poltica da humanidade no seja como , mas como ele gostaria de que fosse. Princpio
normativo por princpio normativo, mais adequado s condies objetivas do Planeta Terra
parece-nos o seguinte: o grau de violncia das lutas sociais depende principalmente do grau
de violncia empregado pelos detentores dos meios materiais e intelectuais da coero
organizada.
Mais de perto nos interessa, no artigo crtico de Luis Henriques, a curiosa inverso dos
nexos de causa a efeito na gnese da luta armada, que se explicaria no como resposta ao
golpe reacionrio, mas como expresso persistente da cultura do golpe (sic), dominante
na esquerda, notadamente na trajetria dos comunistas. Caracterstica desta cultura a
desvalorizao do tema da democracia poltica. Foi por t-lo desvalorizado antes, durante
e depois do golpe da direita, que a cultura do golpe da esquerda conduziu s aes
armadas, com os desastrosos resultados que conhecemos (id., p. 8). O prprio Gorender,
segundo nosso crtico, apesar de descrever severamente a aventura militarista, est
substancialmente preso ao quadro conceitual que explica e d sentido a esta mesma
aventura (id., p. 7, grifado no original). O quadro conceitual em questo recebe ao longo
do texto de Henriques designaes recorrentes e, no esprito do autor, convergentes: alm
de cultura do golpe, apresentado como perspectiva insurrecional... prpria das
realidades orientais (id., p. 10), tradio bolchevique e terceiro-internacionalista, que
concebe as armas como a verdade ltima da poltica (id., 13), entendimento da luta
armada como forma superior da poltica, esta prola do pensamento jacobino (id., p. 14),
tentao jacobina do golpe no momento favorvel (id., p. 14), etc. No temos nenhuma
espcie de procurao para defender Gorender, o qual, de resto, h de se defender muito
bem sozinho, se julgar necessrio. De nossa parte, alm das duas crticas j apontadas a
respeito da sua apreciao sobre as condies do desencadeamento da luta armada (uso
nominalista do sujeito a esquerda e avaliao inadequada da conjuntura de 1968),
divergimos frontalmente da apreciao final de Combate nas Trevas, segundo a qual o
erro fundamental (das diversas correntes da esquerda) consistiu em no se prepararem a si
mesmas, nem aos movimentos de massa organizados, para o combate armado contra o
bloco de foras conservadores e pr-imperialistas (Gorender, 1987,p. 250). Mas
divergimos com critrios que nada tm a ver com os dos que, como Luis Henriques, fazem
do tema da democracia poltica uma panacia universal. Pensamos que o erro terico de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
120
Gorender consiste em erigir uma forma de luta em questo de princpio e, portanto, em
apresentar a luta armada como uma fatalidade, isto , como uma condio necessria da
transformao revolucionria da sociedade. As duas maiores revolues da era moderna,
aquelas que se tornaram, aos olhos da histria, paradigmas da idia mesma de revoluo
social, a saber a Francesa de 1789 e a Russa de 1917, embora tenham comportado
enfrentamentos armados tambm historicamente emblemticos (a tomada da Bastilha e do
Palcio de Inverno, respectivamente), no constituiram, no essencial, processos de luta
armada, no sentido que a expresso adquiriu nas revolues contemporneas do terceiro
mundo. No o constituram sobretudo naquele sentido em que, erroneamente, Gorender faz
consistir a correta estratgia da esquerda: preparar-se e preparar as massas para o combate
armado. Nada mais paralizante do que reduzir a poltica revolucionria da classe operria
preparao do combate armado. As situaes histricas em que a soluo das
contradies sociais passa por uma guerra civil no so, felizmente, freqentes. (Insistamos
no felizmente: uma guerra civil sempre atroz, sempre agrava as calamidades e os
sofrimentos das massas populares, sempre exacerba as misrias da existncia: sabem-no
todos os povos que tiveram de passar por ela.) Se partimos da tese de que o dever dos
revolucionrios preparar a luta armada, estamos preconizando que durante anos a fio,
dcadas a fio, suas energias se concentrem nesta preparao sem prazo. Na Amrica
Latina, quem est aplicando esta orientao o Sendero Luminoso. No cremos que seja
um exemplo a seguir.
De qualquer modo, no plano historiogrfico em que se situa o presente estudo, importa
menos a persistncia de Gorender na defesa de sua estratgia da preparao da luta armada
do que sua avaliao histrico-concreta das condies polticas que conduziram ao
desencadeamento das aes armadas no Brasil de 1968 em diante, e atravs dela, a de seu
aludido crtico. Obviamente, a frmula violncia retardada de que se serve Gorender
exprime no apenas uma constatao histrica, mas tambm uma avaliao crtica,
denotada na expresso retardada. justamente a propsito desta avaliao crtica que o
artigo de Luis Henriques opera a mais chocante de suas inverses das responsabilidades
histricas do golpe de 1964 e da ditadura militar que instaurou, afirmando que Gorender, ao
lamentar no ter havido resistncia ao golpe, revela escasso apreo pela institucionalidade
democrtica e pelo papel que as classes e camadas subalternas... poderiam desempenhar,
impondo concretamente limites substantivos (grifado pelo autor) forma abertamente
autoritria que veio a assumir a modernizao capitalista a partir de 1964 (Henriques,
1988, p. 8). Na mesma linha de raciocnio, os republicanos espanhis, em 1936, ao se terem
levantado contra o golpe fascista-militar de Franco et caterva, teriam mostrado seu escasso
apreo pela institucionalidade democrtica espanhola e os partisans iugoslavos, italianos,
franceses que se levantaram de armas na mo contra o fascismo e os ocupantes nazistas,
no teriam passado de terroristas (como os chamavam, de resto, os colaboracionistas
locais e os algozes da SS e da Gestapo). Sairamos de nosso tema de examinssemos outras
aberraes intelectuais e tico-cvicas que articulam a diatribe de L. Henriques contra
Gorender. Limitar-nos-emos a duas observaes a respeito da confiabilidade terica de seus
argumentos. A primeira concerne a passagem citada logo acima em que o Brasil do ps-
golpe caracterizado pela modernizao capitalista, efetuada de forma abertamente
autoritria, cabendo s classes e camadas subalternas impor limites no ao carter
capitalista da modernizao, mas sua forma autoritria. Como se o programa
democrtico fosse um cardpio onde pudssemos escolher modernizao capitalista com
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
121
acompanhamento de uma forma no-autoritria! Como se a forma fosse indiferente ao
contedo! Como se o combate democrtico da classe operria no constitusse a forma (no
sentido dialtico e no banalmente tipolgico do termo) que assume a luta anti-capitalista
no interior de uma sociedade capitalista! J a segunda observao refere-se ao uso abusivo
do prestgio poltico, intelectual e moral que cerca merecidamente o nome de Antonio
Gramsci para reforar empreitadas ideolgicas que vo exatamente no sentido oposto ao de
suas convices e posies as mais fundamentais. Ser que L. Henriques, que crava sua
discutvel bandeira na memria do grande morto (p. 9, nota 6) no conhece os textos de
Gramsci sobre o Risorgimento italiano, onde o jacobinismo valorizado como um
fenmeno poltico decisivo e como a matriz histrica da concepo nacional-popular da
hegemonia? Ser que ignora as passagens das Note Sul Machiavelli, onde, no mais franco e
claro estilo bolchevista, Gramsci sustenta que o elemento mais importante para a formao
de um partido revolucionrio o grupo de capites que constituem-lhe a fora coesiva,
centralizzatrice e disciplinatrice, sem a qual um exrcito se desfaz, ao passo que
lesistenza di um gruppo di capitani, affiatati, daccordo tra loro, con fini comuni, non
tarda a formare un esercito anche dove non esiste. Se Henriques desenvolvesse sua
intrpida anlise da cultura do golpe at a Itlia dos anos 1920 e 1930, descobriria aquilo
que esto cansados de saber todos os que conhecem minimamente a histria do movimento
comunista internacional: que Gramsci foi ardoroso defensor da poltica revolucionria to
vituperada pelos neo-liberais daqum e dalm mar.
A ttica contra a estratgia ou como os fins se adaptam aos meios
Na tica da esperteza, to enraizada na cultura gelatinosa de nosso pas, o idealista, isto ,
aquele que se guia principalmente por suas convices e no por seus interesses
pragmticos um tolo inofensivo ou um louco perigoso. Na esquerda de 1968, as
convices predominavam amplamente sobre os interesses, o que explica, para alm dos
erros mortferos cometidos pela gerao da luta armada, a dificuldade que experimentam os
realistas de bom-senso para compreender-lhe as motivaes. Deixemos claro, a este
propsito, que nossa recusa da imagem grosseiramente caricatural da luta armada com que
os henriques de bom-senso pretendem, vinte anos depois, enterr-la em efgie num caixo
de terceira classe, bem como nossa insistncia em que, longe de se reduzir a mais um dos
tristes avatares da tradio golpista dominante no comunismo brasileiro, o envolvimento
de parcela pondervel de nossa esquerda, a partir de 1968, no processo de violncia
revolucionria, constituiu uma deciso coletiva historicamente determinada e politicamente
motivada, no implica em escamotear nem em edulcorar os componentes fortemente
dogmticos do pensamento poltico da esquerda armada. Com maior ou menor rigidez, as
organizaes de ao direta partilharam de um mesmo corpo de teses, algumas assumidas
claramente, outras confusamente assimiladas, outras ainda, implcitas no ambiente cultural
democrtico de ento, que constituram o guia de sua ao. Exp-las com objetividade um
imperativo tanto historiogrfico quanto tico-poltico, em que se inspiram as consideraes
que seguem.
a) Teses sobre a situao econmico-social do Brasil. freqente ouvirmos dizer que
a esquerda armada de 1968 tinha uma concepo catastrofista sobre a economia
brasileira. A afirmao inexata. O debate terico recebera forte munio, nos anos que se
seguiram ao golpe. Os dois mais importantes autores marxistas brasileiros, Nelson Werneck
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
122
Sodr e Caio Prado, haviam lanado alguns de seus melhores estudos sobre a evoluo do
capitalismo em nosso pas, aquele insistindo nos fatores de bloqueio, este criticando as
doutrinas do bloqueio e em geral as teses, predominantes no PCB, que viam na persistncia
dos entraves ao desenvolvimento do capitalismo o principal problema a ser resolvido pela
revoluo. As implicaes poltico-estratgicas desta polmica concerniam a questo dita
do carter da revoluo, que acabou se mostrando claramente secundria relativamente
questo ttica (no sentido leninista da expresso, que denota as formas de luta, por
oposies a seu contedo), a saber, a da luta armada como forma principal (ou mesmo
superior) da luta revolucionria. De qualquer modo, nos textos doutrinrios e
programticos das organizaes que desencadearam a luta armada encontramos tanto
concepes inspiradas na teoria do bloqueio o caso, notadamente, de A Crise Brasileira
de Carlos Marighella, publicado clandestinamente em 1965 , quanto concepes opostas
defendidas notadamente pelos militantes oriundos da POLOP que insistindo no
carter essencialmente capitalista da sociedade brasileira, sustentavam que a revoluo
seria necessariamente socialista.
Nem a teoria do bloqueio, nem a do carter socialista da Revoluo, podem, no entanto, ser
consideradas como catastrofistas, se no jogarmos com as palavras, isto , se por esta
expresso entendermos a convico de que a ordem social est prestes a desabar por fora
de catstrofes espontneas. Afinal, no h concepo mais oposta ao bolchevismo (uma das
taras ideolgicas da luta armada, segundo Henriques) que o espontaneismo. No convm,
no entanto, tirar de um argumento mais constataes do que ele comporta. errneo
afirmar que no houve tendncias catastrofistas dentro do movimento armado. Mas elas se
manifestaram sobretudo quando, crescentemente isolados, os guerrilheiros urbanos
sofreram fortes tentaes de se agarrar , num combate onde as trevas se adensavam mais e
mais, a qualquer iluso que lhes trouxesse nimo para continuar lutando no caso, dando
murros em ponta de faca. Mas tais tentaes s se fizeram nitidamente sentir a partir de
1969 e sobretudo de 1970, quando a nica esperana dos desesperados era dar mais um
empurrozinho (armado) na situao objetiva para ver se tudo despencava. Foram eles que
despencaram, como sabemos. Em 1968, a opinio predominante entre os militantes da luta
armada era muito mais prxima, talvez mesmo indiscernivelmente prxima, da opinio
democrtica em geral a respeito da poltica econmica da ditadura militar. Considerava-se
que ela iria fracassar, ou, mais exatamente, que a recesso de 1964-1967 e o forte arrocho
que a acompanhava, iriam se prolongar indefinidamente e que, portanto, ela j havia
fracassado. Como se v, tratava-se de uma apreciao solidamente amparada em evidncias
objetivas. Nenhum observador independente podia prever, quela altura, o ciclo de
expanso acelerada que, a partir de 1969, e sombra lgubre do Ato 5, iria consolidar o
terrorismo militar-fascista de Garrastazu Medici. Mesmo os porta-vozes do governo Costa e
Silva no se permitiam muito mais do que aquele otimismo de fachada imposto pelo
protocolo administrativo. O mais conhecido dos economistas da oposio, Celso Furtado,
ento exilado na Frana, l publicou, em 1967, um artigo intitulado Brsil: de la
Rpublique Oligarchique lEtat Militaire (Furtado, 1967), includo num nmero da
revista Les Temps Modernes (editada por Jean-Paul Sartre e amigos) inteiramente
consagrado ao Brasil, no qual interpretava a poltica da ditadura militar como uma tentativa
de livrar o Brasil de suas tenses sociais crescentes sem alterar o statu quo social. Tal
objetivo s poderia ser atingido mediante a imposio do retrocesso social e econmico,
sob a forma de um modelo de pastorizao, isto , de uma rearticulao do sistema
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
123
produtivo em torno de trs eixos principais: a) deslocamento da mo de obra excedente para
as fronteiras agrcolas vazias, o que permitiria no somente aliviar as presses sociais
como tambm aumentar a oferta de produtos agrcolas sem nenhuma mudana tecnolgica;
b) concentrao da produo agrcola em larga escala nas melhores terras produtivas
ocupadas; c) transformao em pastagens donde o nome do modelo das terras
ocupadas restantes. Uma vez realizado este esquema de pastorizao, conclui o autor, as
tenses sociais sero reduzidas ao mnimo. Em seu esforo de preservao das estruturas
sociais, o Brasil ter se afastado da revoluo tecnolgica cujo ritmo se acelera de um dia
para o outro em escala mundial (Furtado, 1967, p. 5966). Sabemos que ocorreu
exatamente o contrrio: nos anos seguintes, o pas conheceria forte ritmo de crescimento
industrial e de urbanizao e as tenses sociais, abafadas durante a primeira metade dos
anos 70 pela ao combinada dos DOI-CODI e do milagre de Delfim Neto, ressurgiriam
com fora a partir de 1977-78. O importante, para nosso argumento, no entanto, no o
desmentido que os fatos trouxeram s previses estagnacionistas do ilustre economista, mas
o fato de que, no contexto intelectual de 1968, mesmo os mais respeitados tericos
difundiam a convico de que a ditadura estava consolidando o bloqueio regressivo da
economia e da sociedade brasileiras. Que outra concluso tirar seno a de que era preciso
fazer logo alguma coisa para que o B rasil no se cristalizasse como pas do atraso
econmico metodicamente induzido?
b) Teses sobre a estratgia revolucionria. Em torno das concepes estratgicas das
organizaes armadas se concentram suas mais srias limitaes histricas, isto , tanto
polticas quanto intelectuais, a comear pela prpria nfase obsessiva na estratgia,
expresso que no pertencia ao vocabulrio marxista, nem leninista, j que sua introduo
no vocabulrio comunista remonta provavelmente a Stalin, embora Mao Tse-tung tenha
sido o primeiro grande chefe revolucionrio de nosso tempo a conferir a esta noo
importncia crucial: uma de suas obras fundamentais se chama Problemas da guerra e da
estratgia. Na verdade, Mao Tse-tung segue rigorosamente a definio apresentada por
Stalin em 1924 em suas palestras na Universidade de Sverdlov, publicadas sob o ttulo de
As bases do leninismo: a estratgia consiste em determinar a direo do golpe principal do
proletariado e a cooordenar em vista dele a disposio das foras revolucionrias durante
uma dada etapa da revoluo (Stalin, 1969, p. 140). Segue-se que cada situao histrica
comporta uma e s uma estratgia. A bem da objetividade, observe-se que Stalin concebe
metaforicamente a noo de estratgia, isto , transpe-na para a esfera das foras polticas
(classes e alianas de classes), reservando para o domnio da ttica (como o fizera Lnin, o
qual no entanto no empregava, como notamos acima, o termo estratgia) a questo das
formas de luta. Estritamente inspirado em Stalin, mas ampliando o uso do conceito de
estratgia por aquele elaborado, Mao Tse-tung vincula as formas de luta situao histrica
e, mais ainda, situao econmico-geogrfica. Embora longa, a passagem que segue de
Problemas da guerra e da estratgia merece ser reproduzida porque nela encontramos o
fundamento terico no somente como bvio da corrente maoista, mas tambm do
castrismo e em geral do conjunto dos movimentos guerrilheiros latino-americanos.
Nos pases capitalistas... o feudalismo no existe mais, o regime de democracia
burguesa; em suas relaes exteriores, estes pases no sofrem opresso nacional... Face a
estas particularidades, educar os operrios e acumular foras por meio de lutas legais de
longa durao, preparando-se assim para mais tarde derrubar o capitalismo, so as tarefas
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
124
do Partido do proletariado nos pases capitalistas... Mas enquanto a burguesia no estiver
realmente reduzida impotncia, enquanto o proletariado em sua grande maioria no
estiver decidido a empreender a insurreio armada e a guerra civil, enquanto as massas
camponesas no vierem ajudar voluntariamente o proletariado, esta insurreio e esta
guerra no devem ser desencadeadas. E quando o forem, preciso comear por ocupar as
cidades para em seguida avanar sobre o campo, e no o contrrio (grifos nossos). o
que fizeram os Partidos comunistas dos pases capitalistas, o que confirma a experincia
da Revoluo de Outubro na Rssia... No este o caso da China. A particularidade da
China no ser um Estado democrtico independente, mas um pas semi-colonial e semi-
feudal, onde o regime no o da democracia, mas o da opresso feudal, um pas que, em
suas relaes exterioes, no goza de independncia nacional, mas sofre o jugo do
imperialismo... Aqui, a tarefa essencial do Partido Comunista no passar por uma longa
luta legal para chegar insurreio e guerra, nem ocupar primeiro as cidades e depois o
campo, mas proceder em sentido oposto (grifos nossos) (Tse-tung, 1964, p. 309-310).
As formas principais de luta se inferem diretamente da situao histrica e geogrfica
(pases semi-coloniais e semi-feudais, isto , aqueles que mais tarde seriam chamados de
terceiro mundo, expresso que os comunistas nunca aceitaram por razes evidentes),
deixando portanto de constituir a dimenso ttica da ao revolucionria para se erigirem
em componentes estratgicos do processo histrico. A transposio direta desta concepo
maoista para a Amrica Latina implicava no pressuposto de que nela tambm as relaes
sociais se caracterizavam como semi-coloniais e semi-feudais. Pressuposto que no
poderia ser aceito, como no o foi entre ns, pelos revolucionrios que sustentavam ser o
Brasil um pas j predominantemente ou mesmo essencialmente capitalista. Donde a
importncia terica que apresentavam, para estes grupos, as teses castristas, tanto na
verso de Che Guevara quanto naquela, conceptualmente mais elaborada, de Rgis Debray.
Se, com efeito, a inovao introduzida por Rvolution das la Rvolution? na teoria
revolucionria consiste na autonomizao da estratgia relativamente dinmica social,
autonomizam-se tambm os executores da estratgia (isto , a vanguarda revolucionria)
relativamente s condies sociais sobre as quais atuam. A ideologia da vanguarda constitui
o fator decisivo para a determinao do carter da revoluo: ou revoluo socialista ou
caricatura de revoluo diro uns; pela libertao nacional, diro outros, convencidos, no
entanto (na prtica, seno na teoria) de que, como dizia Debray, a melhor propaganda
uma ao militar bem executada e, como assegurava Marighella, a ao faz a
organizao (subentendido: e a organizao redige o programa).
A introduo na teoria comunista do conceito de estratgia (Stalin) a introduo, no
conceito de estratgia comunista, das formas de luta (Mao Tse-tung) e enfim, a
autonomizao da estratgia (que passa a ser considerada como a essncia da teoria
revolucionria), constituem, em trs etapas, a histria da crispao voluntarista do
bolchevismo ou, mais genericamente, do jacobinismo do sculo XX. Rgis Debray, neste
sentido, ultrapassou o limite filosfico do materialismo histrico (teoria da evoluo social)
para se situar no terreno da lgica imanente do poder, retomando uma tradio pre-
jacobina: aquela inaugurada pelo Prncipe maquiaveliano.
Antes mesmo de ser objeto de uma intensa e spera discusso interna nas organizaes
oriundas da ciso da POLOP (VPR em So Paulo, COLINA em Minas Gerais e no Rio de
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
125
Janeiro), as teses de Debray haviam sido criticadas no pnmeiro documento poltico da
futura ALN ento a dissidncia marighellista de So Paulo no documento
Pronunciamento do Agrupamento Comunista de So Paulo, datado de fevereiro de 1968.
Sem discutir sistematicamente a teoria do foco guerrilheiro, nem, menos ainda, sua
expresso singular nos escritos de Rgis Debray, o Pronunciamento recusa enfaticamente
as acusaes de foquismo que j se faziam ao grupo de Marighella, insistindo em que,
sem o apoio da cidade, a vitria da guerrilha impossvel e em que a implantao da
guerrilha na zona rural pressupe o trabalho poltico junto aos camponeses, sem cujo apoio
ela no conseguiria se consolidar.
Na experincia histrica concreta, a crtica ao foquismo limitou-se busca do apoio das
zonas urbanas. Todas as organizaes armadas, mesmo recusando as teses de Debray,
estavam de acordo em que a luta estratgica se desenvolveria no campo e que, portanto, a
preparao da guerrilha rural constituia a tarefa fundamental do desencadeamento da luta
armada. Nenhuma delas, como sabemos retrospectivamente, realizou esta tarefa estratgica.
A luta armada no Brasil foi, quase exclusivamente, uma luta urbana. (Com a notria
exceo da guerrilha do Araguaia, a qual, de qualquer modo, inspirou-se na concepo
maoista do cerco da cidade pelo campo e em nada se influenciou pelo vanguardismo
estratgico do foquismo). Foi, portanto, segundo seus prprios protagonistas, uma luta
ttica. Ironicamente, os sucessos tticos iniciais (nunca ser demais repetir que, no fim de
1968, aps ter realizado algumas aes espetaculares, dezenas de outras discretas e
participado ativamente da greve de Osasco, a VPR no tinha nenhum militante na priso),
foram lentamente erodindo a perspectiva estratgica? No plano dos princpios estratgicos,
continuava-se a afirmar que apenas o destacamento guerrilheiro rural poderia tornar-se o
embrio do Exrcito Popular Revolucionrio. Mas os fatos, cabeudos como sempre,
teimavam em circunscrever a luta armada s zonas urbanas, ignorando acintosamente os
clculos estratgicos a que suspendiam suas esperanas os guerrilheiros do asfalto.
A prtica das organizaes armadas configurava pois claramente um desvio relativamente
s suas concepes estratgicas, constatado como tal por muitos de seus militantes j em
1968. A semntica do desvio dialeticamente pobre. Constata a diferena entre a teoria e
a prtica. Mas interpretao do filisteu (de que na prtica, a teoria outra) contrape-se a
considerao de que a diferena entre a linha poltica definida nos planos estratgicos e
aquela materializada na ao significa no somente que a prtica mudou de teoria (isto ,
que as aes armadas no estavam constituindo a preparao da guerra revolucionrio no
campo), mas, sobretudo que, sem sab-lo e sem quer-lo claramente, as organizaes
envolvidas neste desvio estavam perseguindo outros objetivos estratgicos.
O encontro (historicamente acidental, j que no h relao direta de causa e efeito entre
ambos) do desencadeamento das lutas de massa e do desencadeamento das aes armadas,
em 1968, acabou contribuindo decisivamente para a tomada de conscincia de que a
estratgia era outra. Mas qual? Esquematicamente, duas estratgias se delineavam, em
estado prtico, na ao das organizaes armadas. Uma inspirava-se explicitamente na
dinmica do movimento de massas e considerava inseparvel o destino militar da luta
armada do destino poltico da mobilizao e organizao da classe operria e outras foras
populares. Outra rejeitava como um corpo estranho ou pelo menos como um lastro intil
qualquer integrao de setores de massa com a vanguarda revolucionria. Um dos
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
126
apologistas deste ponto de vista, que um ano mais tarde far-se-ia conhecer pelo cognome de
Jamil, sustentava ardorosamente, com o apoio de Onofre Pinto o chefe da VPR at 1969
que os mtodos da luta poltica de massas, inclusive a imprensa clandestina, eram
velharias superadas da esquerda tradicional... O enfrentamento destas duas correntes
iniciou-se j em 1968, na VPR: em janeiro de 1969, os militantes que mais energicamente
haviam defendido a necessidade de se ligar organicamente s massas operrias e de limitar
a um mnimo indispensvel as aes armadas na situao de terrorismo de Estado
instaurada pelo Ato 5, foram expulsos da organizao. A seqncia desta polmica
estratgica, que, ainda em 1969, levaria ao racha da VAR-PALMARES, escapa aos
limites histricos do perodo de fluxo das energias revolucionrias a que o ano de 1968
ficou associado em nossa memria coletiva. Mas, conforme a observao, mais irnica do
que ele imaginava, de Rgis Debray, nunca somos inteiramente contemporneos de nosso
presente, o ano poltico de 1968 terminou em outubro-novembro de 1968 com o refluxo
do movimento democrtico de massas e a 13 de dezembro de 1968 com a oficializao do
Estado terrorista. Porm muitos militantes revolucionrios s o perceberam mais tarde,
muito mais tarde, em 1969 ou 1970, quando a tragdia da luta armada estava j em seu
ltimo ato.
ABSTRACT: The important mass mobilizations that occurred in 1968, especially under
the thrust of the student movement, were due to predominantly internal factors, as were also
the first urban armed actions that took place in So Paulo in the same period (March-April
1968). While failing to display a causal link, the student demonstrations and the guerrilla
groups can be referred to the same historical cause, the 1964 coup and military rule. To that
extent, they were distinct forms of democratic resistance. This is not a reason, however, for
us to overlook the international dimension of the 1968 events in Brazil, which is
particularly evident in the prevailing theoretical views on revolutionary rural guerrilla
strategy. Nevertheless, in practice armed struggle developed in urban centers and was
eventually anihilated before it could overcome its strategic impasse.
KEYWORDS: Brazil: armed struggle, student movement; history, event, process; strategy,
tactics, revolucionary war.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CORREIO DA MANH, Rio de Janeiro, 23 a 31 mar. 1968.
DEBRAY , Rgis. Rvolution dans la rvolution? Paris, Maspero, 1969.
FURTADO, Celso. Brsil: de la rpublique oligarchique ltat militaire. Temps
Modernes. Paris,257 (23): 580-600. out. 1967.
GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. So Paulo, tica, 1987.
GRAMSCI, Antonio. Note sul Machiavelli. Roma, Ed. Riuniti, 1971.
HENRIQUES, Luis Srgio. Gorender, a esquerda armada e a questo democrtica.
Presena. Rio de Janeiro, n. 12, jul. 1988.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
127
LE NOUVEL OBSERVATEUR, Paris, 3 a 9 abr. 1968.
MARIGHELLA, Carlos. A crise brasileira. s/1, s/e, s/d.
MARTINS F, Joo Roberto. Movimento estudantil e ditadura militar. Campulas, Papirus,
1987.
SKIDMORE, Thomas. Brasil de Castelo a Tancredo. So Paulo/Rio de laneiro, Paz e
Terra, 1988.
STALIN. Les bases du leninisme. Paris, Union Gnrale dditions, 1969.
TRIAS, Vivian. Imperialismo y geopoltica en Amrica Latina. Montevideo, Ed. El Sol,
1967.
TSE-TUNG, Mao. Problmes de la guerre et de la stratgie. In: _______. crits militaires,
Pekin, 1964.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
128
A TROPICLIA: CULTURA E POLTICA NOS ANOS
60
CLUDIO N.P. COELHO
Este artigo tem por origem a minha
participao na mesa-redonda Os
acontecimentos de 1968: memria e
histria, organizada por Irene Cardoso
(Sociologia-USP) na 40 Reunio Anual da
SBPC, julho de 88.
Doutorando do Programa de Ps-Graduao
do Departamento de Sociologia, FFLCH,
USP.
RESUMO: A Tropiclia foi um dos movimentos artsticos mais importantes dos anos 60,
tendo sido interpretada como uma contestao radical s posies da esquerda, que neste
perodo exercia forte influncia sobre a produo cultural. A tese defendida por este artigo
a de que a Tropiclia compartilhava a posio defendida pela esquerda de que a obra de
arte deve ter por objeto a realidade brasileira e estar associada s lutas por mudanas
revolucionrias, tendo construdo, no entanto, uma verso prpria desta posio. A
Tropiclia apresentava uma viso mais complexa da realidade brasileira do que a da
esquerda, indicando a presena de uma combinao entre o arcaico e o moderno, enquanto
a esquerda s enxergava o arcaico. A noo de Revoluo defendida pela esquerda foi
ampliada, com a incorporao da revoluo nos comportamentos individuais s mudanas
sociais. Do enraizamento na realidade que marcou o tropicalismo resultaram obras ainda
hoje atuais como Gelia Geral de Gilberto Gil e Tropiclia de Caetano Veloso.
PALAVRAS-CHAVE: Tropiclia: movimento artstico, ideologia, o arcaico e o
moderno, revoluo e comportamento individual.
A dcada de 60 foi um perodo de grande fertilidade da produo cultural brasileira. Parte
desta fertilidade responsabilidade da Tropiclia ou Movimento Tropicalista (1967-69),
denominao atribuda a manifestaes artsticas espalhadas por diferentes ramos da
produo cultural, como as artes plsticas com os trabalhos de Hlio Oiticica , o
cinema com as obras de Glauber Rocha , ou o teatro com as peas dirigidas por
Jos Celso Martinez
1
.
Neste artigo ser discutido o tropicalismo na msica popular brasileira, onde se destacaram
dentre outros os cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil. O tema que
orientar a discusso o das relaes entre cultura e poltica, fazendo-se ressaltar o fato de
1
A origem da denominao deste movimento foi uma obra do artista plstico Hlio Oiticica intitulada
Tropiclia. Em seguida, Caetano Veloso comps uma cano com o mesmo ttulo.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
129
que nos anos 60 o pensamento de esquerda exerceu uma forte influncia sobre a produo
cultural
2
.
Arte e Revoluo
Durante toda a dcada de 60, a viso de mundo dos setores progressistas da sociedade
brasileira foi animada pela idia da proximidade e da inevitabilidade da Revoluo
Brasileira
3
. Acontecimentos como o Golpe Militar de abril de 64 e o endurecimento do
regime em dezembro de 68 no provocaram um abandono desta idia, ainda que tenham
propiciado alguns abalos, em especial o AI-5.
Estes acontecimentos serviram principalmente para modificar os contedos atribudos
Revoluo Brasileira, e alterar as formas de luta julgadas necessrias para a sua
implementao, provocando uma mudana na correlao de foras interna s correntes de
esquerda. O Partido Comunista Brasileiro (PCB), defensor do carter nacional-democrtico
(isto , burgus-antiimperialista) da Revoluo Brasileira e de formas polticas pacficas
para alcan-la, inicia os anos 60 como a principal fora da esquerda, mas perde terreno
medida em que a dcada avana, sendo ultrapassado pelas organizaes da chamada
esquerda revolucionria, como a Ao Libertadora Nacional (ALN), defensora do carter
nacional-popular (ou seja, a implantao de reformas capitalistas sob a direo do
proletariado) dessa Revoluo e da luta armada como o seu instrumento, ou o Movimento
Revolucionrio 8 de Outubro (MR-8), tambm defensor da luta armada, mas que atribua
um carter imediatamente socialista Revoluo
4
.
A crena, largamente disseminada na esquerda brasileira nos anos 60, de que o pas vivia
um perodo pr-revolucionrio, gerou um intenso processo de politizao da produo
artstica, encarada como elemento importante dentro da estratgia revolucionria. Com base
nesta estratgia foi produzida uma viso normativa a respeito da arte, sendo estabelecidos
critrios que definiam o objeto da produo artstica e a sua finalidade.
O critrio bsico da viso da esquerda quanto arte era o do engajamento: a obra artstica
deve ter por referente a realidade brasileira, ser o reflexo da situao vivida pelo povo
brasileiro; do contrrio, se for a expresso da subjetividade do artista, por exemplo, ser
uma obra alienada, que desvia o povo da tomada de conscincia dos seus interesses,
dificultando a sua participao na Revoluo.
2
A este respeito ver Roberto Schwarz (1978).
3
Revoluo que era, por exemplo, assim caracterizada por Luciano Martins, em artigo redigido em 1963 mas
publicado somente aps o Golpe de 64: A Revoluo Brasileira, como as revolues de inmeros outros
pases hoje empenhados em esforo de desenvolvimento, corresponde ao processo histrico pelo qual
embora em outras circunstncias e de formas substancialmente diversas j passaram todos o pases
atualmente constitudos em potncias mundiais. A Revoluo Brasileira deve ser compreendida, pois, como a
fase histrica que se caracteriza pela reorientao dos recursos nacionais e a adaptao das estruturas do pas
s novas formas de produo, de tecnologia e de progresso de nosso sculo, tendo em vista a satisfao de
determinadas necessidades e aspiraes sociais internas e tendo em vista a melhoria da posio relativa do
pas no conjunto da economia e das decises mundiais (Martins, 1965, p. 15).
4
Quanto s posies do PCB ver PCB: Vinte Anos de Poltica (1958-1979) (Cincias Humanas, 1980); a
respeito da esquerda revolucionria ver Imagens da Revoluo, de Daniel Aaro Reis F e Jair Ferreira de
S (Marco Zero, 1985).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
130
As relaes entre cultura e poltica foram pensadas pela esquerda brasileira nos anos 60 sob
o prisma da instrumentalizao poltica da produo cultural. Um exemplo da tica da
esquerda do perodo o Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura da Unio
Nacional dos Estudantes (CPC da UNE), de maro de 1962, onde se podia ler que:
O que distingue os artistas e intelectuais do CPC dos demais grupos e movimentos
existentes no pas a clara compreenso de que toda e qualquer manifestao cultural s
pode ser adequadamente compreendida quando colocada sob a luz de suas relaes com a
base material sobre a qual se erigem os processos culturais de superestrutura. (...) No
ignorando as foras propulsoras que, partindo da base econmica, determinam em larga
medida nossas idias e nossa prtica, no podemos ser vtimas das iluses infundadas que
convertem as obras dos artistas brasileiros em dceis instrumentos da dominao, em lugar
de serem, como deveriam ser, as armas espirituais da libertao material e cultural do nosso
povo. (...) Os membros do CPC optaram por ser povo, por ser parte integrante do povo,
destacamentos de seu exrcito no front cultural. (Cit. por Hollanda, 1980, p. 123 e 127).
Foi esta Opo Preferencial pelo Povo a fonte inspiradora de importantes momentos da
produo cultural dos anos 60 alm das atividades do CPC da UNE como as peas de
Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal no Teatro de Arena e as canes de protesto de
Geraldo Vandr.
O Tropicalismo e a Esquerda
Algumas anlises da produo tropicalista como as feitas por Helosa Buarque de
Hollanda afirmam que ela nega radicalmente a viso das relaes entre cultura e poltica
predominante nos anos 60: o tropicalismo teria rompido totalmente com a viso da
esquerda.
O problema do tropicalismo no saber se a revoluo brasileira deve ser socialista-
proletria, nacional-popular ou burguesa. Sua descrena exatamente em relao idia de
tomada de poder, a noo de revoluo marxista-leninista que j estava dando provas, na
prtica, de um autoritarismo e de uma burocratizao nada atraentes (Hollanda, 1980, p.
61).
Na opo tropicalista o foco da preocupao poltica foi deslocado da rea da Revoluo
Social para o eixo da rebeldia, da interveno localizada, da poltica concebida enquanto
problemtica cotidiana, ligada vida, ao corpo, ao desejo, cultura em sentido amplo
(Hollanda & Goncalves, 1982, p. 66).
Ao contrrio desta interpretao, entendo que o tropicalismo compartilha alguns elementos
da viso sobre a cultura e a poltica predominante nos anos 60, mas lhes atribui um
significado diferente. O tropicalismo construiu uma verso alternativa das relaes entre
cultura e poltica, disputando com a esquerda no seu prprio terreno; o que explica a reao
explosiva da esquerda frente produo tropicalista, e a no menos explosiva resposta a
essa reao.
O mais famoso dos confrontos esquerda x tropicalistas deu-se em setembro de 1968 no
auditrio do TUCA em So Paulo, quando das eliminatrias do Festival Internacional da
Cano (FIC) promovido pela TV Globo. Ali Caetano Veloso foi praticamente impedido de
cantar Proibido Proibir, devido s vaias e gritos de militantes de esquerda situados na
platia, e respondeu com um discurso onde comparou esses militantes com os fascistas do
Comando de Caa aos Comunistas (CCC), que haviam espancado os atores da pea Roda-
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
131
Viva de Chico Buarque de Hollanda, afirmando, tambm, que eles estavam ultrapassados,
que iriam sempre matar amanh o velhote inimigo que morreu ontem, e que suas
concepes artsticas prenunciavam posies polticas perigosas: Se vocs em poltica
forem como so em esttica, estamos feitos! (Veloso, 1975).
O conflito entre a esquerda e os tropicalistas era qualitativamente diferente do conflito da
mesma esquerda com artistas alienados, como os msicos da Jovem Guarda. Enquanto
as canes da Jovem Guarda falavam de experincias alheias ao universo da esquerda
conflitos sentimentais, passeios automobilsticos, etc. utilizando formas artsticas execradas
por ela o rock, as canes tropicalistas falavam da realidade brasileira, to reclamada
pela esquerda, mas ofereciam uma viso diferente dessa realidade, utilizando, como a
jovem guarda, formas artsticas consideradas descaracterizadoras da cultura brasileira.
Para a esquerda, os tropicalistas seriam uma espcie de agentes do inimigo infiltrados
para destruir por dentro o movimento revolucionrio.
A viso de mundo da esquerda brasileira nos anos 60 enfatizava o carter atrasado da
sociedade brasileira, atribuindo-o aliana entre o imperialismo principalmente o norte-
americano e os latifundirios: ambos contrrios ao desenvolvimento nacional, que
romperia com a dominao estrangeira e promoveria a modernizao das relaes de
produo no campo. Um exemplo deste diagnstico podia ser encontrado no Informe de
Balano do Comit Central do PCB no seu VI Congresso (dez./1967):
O Brasil vive uma crise de estrutura. Essa decorre do aguamento das contradies entre
as foras produtivas nacionais, que buscam novas formas de desenvolvimento e progresso,
e os obstculos que a atual estrutura da economia do pas lhes ope. As foras sociais que
defendem a conservao dessa estrutura so o imperialismo, os latifundirios e os
capitalistas brasileiros ligados ao imperialismo (PCB: Vinte anos de poltica. 1958-79, p.
121).
Por tambm atriburem aliana latifndio/imperialismo o atraso do desenvolvimento da
sociedade brasileira, que a imensa maioria dos grupos que aderiram luta armada
situaram o campo como o principal local da luta revolucionria. As cidades eram tidas
como na frase de Fidel Castro retomada por Rgis Debray cemitrios de
revolucionrios, nelas se concentrariam a fora repressiva do poder burgus (polcia,
exrcito, etc.), bem como a sua capacidade de seduo ideolgica
5
. As aes armadas
urbanas serviriam apenas para arrecadar fundos e armas e como treinamento dos militantes.
A estratgia da revoluo consistia num processo de progressivo cerco da cidade pelo
campo. De acordo com A Concepo da Luta Revolucionria (abril/1968) dos
Comandos de Libertao Nacional (COLINA)
6
.
A revoluo deve ser dirigida de onde se desenrola a luta fundamental. (...) A luta armada
de Libertao Nacional se insere, como uma cunha, na poltica burguesa, no ponto mais
fraco do exerccio de poder das classes dominantes e encontra sua expresso social
5
A este respeito ver a argumentao desenvolvida por Debray em Revoluo na Revoluo?, texto que
influenciou o pensamento de vrias organizaes armadas brasileiras.
6
Esta organizao surgiu de uma dissidncia da POLOP (Organizao Marxista Revolucionria Poltica
Operria), tendo, posteriormente, se juntado Vanguarda Popular Revolucionria (VPR), formando a
Vanguarda Armada Revolucionria Palmares (Var-Palmares), uma das organizaes mais atuantes da
esquerda armada.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
132
completa na luta dos camponeses pela reforma agrria. Este o fulcro, o ponto de partida:
por questionar o poder latifundirio questiona o prprio imperialismo que nele se sustenta
(cit. Dor Reis F9, 1985. D. 153).
Este documento toca num ponto fundamental da viso de mundo predominante na esquerda
brasileira nos anos 60: a associao de idias entre campons e revolucionrio:
Para corresponder ao estgio atingido pelo processo revolucionrio brasileiro (a luta
antiimperialista e latifundiria) (...) que o guerrilheiro antes de tudo um revolucionrio
agrrio (Che Guevara) (Idem, p. 143-4).
Esta mesma identificao entre os camponeses e os revolucionrios podia ser encontrada
em boa parte das canes de protesto como em A Disparada de Geraldo Vandr e Theo
de Barros (cano vencedora, juntamente com A Banda de Chico Buarque, do festival da
Record em 1966):
Prepare o seu corao
pras coisas que eu vou contar
eu venho l do serto
e posso no lhe agradar.
Aprendi a dizer no
ver a morte sem chorar
e a morte, o destino, tudo
estava fora do lugar
eu vivo pra consertar.
(...)
Mas o mundo foi rodando
nas patas do meu cavalo
e j que um dia montei
agora sou cavaleiro
lao firme, brao forte
de um reino que no tem rei.
Tropiclia = Arcaico + Moderno
A viso tropicalista da realidade brasileira mostra uma sociedade bem mais complexa do
que a nfase da esquerda no atraso fazia supor. Nas canes tropicalistas o Brasil aparece
como uma sociedade marcada pela combinao do arcaico e do moderno. Tropiclia, de
Caetano Veloso a cano smbolo deste movimento cultural, aponta os diferentes nveis em
que se d esta combinao que percorre toda a Tropiclia (a sociedade brasileira):
sobre a cabea os avies
sob os meus ps os caminhes
aponta contra os chapades
meu nariz
eu organizo o movimento
eu oriento o carnaval
eu inauguro o monumento
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
133
no planalto central
do pas
viva a bossa-sa-sa
viva a palhoa-a-a-a
(...)
o monumento no tem porta
a entrada uma rua antiga
estreita e torta
e no joelho uma criana
sorridente feita e morta
estende a mo
(...)
na mo direita tem uma roseira
autenticando eterna primavera
e nos jardins os urubus passeiam
a tarde inteira entre os girassis
(...)
no pulso esquerdo um bang-bang
em suas veias corre muito
pouco sangue
mas seu corao balana a um
samba de tamborim
(...)
Braslia (o monumento no planalto central do pas) o ponto de referncia da cano e o
plo aglutinador dos diferentes aspectos da sociedade brasileira: a modernidade dos avies
e caminhes e o atraso dos chapades. Na Tropiclia, o poder central age de acordo com os
princpios da racionalidade moderna, organizando o movimento; ao mesmo tempo em
que no dispensa as formas no-racionais e no institucionais da vida social, colocando-as a
seu favor ao orientar o caval, impedindo, assim, o auto-desenvolvimento popular: o pas
da bossa (nova) o pas da palhoa.
A arquitetura modernista de Braslia possui uma racionalidade insuficiente (o monumento
no tem porta), sustentada no arcaico e na misria (a entrada uma rua antiga estreita e
torta e no joelho uma criana sorridente feia e morta estende a mo).
A combinao do arcaico e do moderno diz respeito, tambm, aos diferentes momentos
polticos vividos pelo pas. Quando na Tropiclia a mo direita segura o poder poltico,
com a ditadura militar por exemplo, enfatizada a ao racionalizadora, que v a sociedade
como um jardim a ser cuidado para que reine o desenvolvimento com segurana (eterna
primavera). Mas, esta ordem tem um preo: a represso (e nos jardins os urubus passeiam
a tarde inteira entre os girassis). Quando o pulso esquerdo quem orienta o poder
poltico, no governo Joo Goulart por exemplo, a auto-reivindicada identificao com as
classes populares (seu corao balana a um samba de tamborim) no leva a uma defesa
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
134
concreta dos seus interesses e superao do arcasmo presente na sociedade brasleira (em
suas veias corre muito pouco sangue). A capacidade de combate do pulso esquerdo
uma capacidade imaginria, ele trava uma luta de mintirinha (um bang-bang)
7
.
Ao contrrio da esquerda, o tropicalismo apresenta a realidade brasileira como uma mistura
do nacional e do internacional, indicando que naqueles elementos mesmos que se pretende
serem representantes da pureza nacional esto presentes os componentes internacionais:
na Tropiclia, o imaginrio do pulso esquerdo nacional-popular est marcado pelo far-
west. Gilberto Gil em Gelia Geral situa um LP de Sinatra entre as relquias do
Brasil. O internacional um elemento constitutivo da sociedade e marca a prpria vida
cotidiana, conforme diz Caetano Veloso descrevendo a Paisagem til da cidade do Rio
de Janeiro:
mas j se ascende e flutua
no alto do cu uma lua
oval vermelha e azul
no alto do cu do rio
uma lua oval da esso
comove ilumina o beijo
dos pobres tristes felizes
coraes amantes
do nosso brasil
Para os artistas tropicalistas uma produo cultural que pretenda representar no plano
artstico a sociedade brasileira no pode deixar de incorporar os elementos estrangeiros que
esta mesma sociedade incorpora
8
:
Algumas pessoas ficaram histricas quando ouviram Alegria Alegria com arranjo de
guitarras eltricas. A estes, tenho a declarar que adoro guitarras eltricas. Outros insistem
em devermos nos folclorizar. (...) Nego-me a folclorizar meu subdesenvolvimento para
compensar as dificuldades tcnicas. Ora, sou baiano, mas a Bahia no s folclore. E
Salvador uma cidade grande. L no tem apenas acaraj, mas tambm lanchonetes e hot
dogs, como em todas as cidades grandes. Veloso, 1977, p. 23)
Tropicalismo e Revoluo
Os tropicalistas, ao oferecerem uma verso da realidade brasileira alternativa da esquerda,
estavam, ao mesmo tempo, construindo uma verso alternativa da idia de revoluo.
Entendo que os tropicalistas compartilhavam a viso da esquerda de que a produo
artstica devia estar associada a transformaes revolucionrias, discordando da esquerda,
apenas, no entendimento do que seriam estas transformaes.
As anlises que argumentam que o tropicalismo rejeitava a idia de revoluo defendendo a
revolta que diz respeito transformaes localizadas , no levam em considerao o
poder de atrao que a idia de revoluo entendida como mudana global da sociedade
exercia nos anos 60. Parece-me que a recusa da Revoluo em favor de mudanas na
7
Anlises mais detalhadas desta cano de Caetano Veloso podem ser encontradas em Gilberto Vasconcellos
(1977) e Celso Favaretto (1979).
8
Evidencia-se, aqui, um bvio ponto de contato com a corrente antropofgica do movimento modernista
dos anos 20.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
135
vida cotidiana uma caracterstica de movimentos sociais que surgem no Brasil apenas na
segunda metade da dcada de 70
9
.
Para mim, no tropicalismo est presente no uma rejeio da Revoluo defendida pela
esquerda, mas uma defesa da ampliao desta concepo. Na Revoluo Tropicalista
haveria espao, inclusive, para a luta armada: Gilberto Gil e Capinam compuseram Soy
Loco Por Ti Amrica, uma cano que homenageia Che Guevara:
(...)
soy loco por ti amrica
soy loco por ti de amores
el nombre del hombre muerto
ya no se puede
quem sabe
antes que o dia arrebente
el hombre del hombre muerto
antes que a definitiva noite
se espalhe em latino amrica
el nombre del hombre s pueblo
soy loco por ti amrica
soy loco por ti de amores
espero a manh que cante
el nombre del hombre muerto
no sejam palavras tristes
soy loco por ti de amores
um poema ainda existe
com palmeiras com trincheiras
canes de guerra quem sabe
canes de mar ya hasta te comover
(...)
Em Miserere Nobis, da mesma dupla de compositores, h um verso com o jogo de
palavras brasil/fuzil/canho:
b-r-a-bra-si-i-l-sil
f-u-fu-z-i-l-zil
c-a-ca-n-h-a-o-til-o
ora pro nobis
ora pro nobis
No foi por acaso que nem todas as pessoas que no final dos anos 60 tinham idias polticas
de esquerda trataram os tropicalistas como traidores. Pelo contrrio, Alex Polari,
estudante secundarista que aderiu luta armada militando na Var-Palmares e a VPR, afirma
que o incio da sua militncia poltica se deu com a audio dos discos tropicalistas:
Tudo comeou ali na casa do Antero, escutando perplexo Alegria, Alegria, Tropicalia,
Baby, Gelia Geral. Depois, foi uma sucesso de combates. Lricos at o momento em
9
Os movimentos feminista e homossexual seriam exemplos desta politizao da vida cotidiana. A respeito
desta questo ver Cludio N.P. Coelho (1987).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
136
que cada vez mais sangue e cadveres iam surgindo nos confrontos de rua (Polari, 1982, p.
124).
Segundo Polari, o tropicalismo expressava culturalmente as posies polticas que ele
possua:
Quando ouvi pela primeira vez o disco Tropiclia do Caetano Veloso e logo em seguida
Panis et Circenses, senti que alguma coisa importante estava acontecendo e que essa coisa
afinava de uma maneira incrvel com a minha sensibilidade. O Tropicalismo e suas diversas
ramificaes j eram sem dvida a expresso cultural perfeita para aquilo que
incipientemente representvamos na poltica(...).
Desde os Beatles eu no sentia essa emoo. Eles eram a descoberta do universal, do
planetrio, do ser jovem. Agora era a minha descoberta dentro de um pas confuso, injusto,
engraado. Foi a nica vez que me emocionei com esse pas, que estive prximo a me sentir
produtor de sua histria e sua cultura (Idem, p. 121 e 123)
10
.
Divino Maravilhoso de Caetano Veloso e Gilberto Gil talvez seja a cano tropicalista
que melhor tenha captado o imaginrio de uma parte representada por Alex Polari
dos militantes das organizaes guerrilheiras: a dos que valorizavam a experincia urbana
dos jovens de classe mdia; experincia que no encontrava ressonncia na produo
cultural da esquerda, s voltas com o serto. Apesar da verso oficial das organizaes,
apontando as cidades como cemitrios de revolucionrios, delas saram a maior parte do
contingente dos militantes, e nelas ocorreram as principais aes guerrilheiras
11
. esta
experincia urbana que Divino Maravilhoso retrata:
(...)
ateno
tudo perigoso
tudo divino maravilhoso
ateno para o refro uau
preciso estar atento e forte
no temos tempo de temer a morte
ateno
para a estrofe para o refro
pro palavro
para a palavra de ordem
ateno
para o samba exaltao
(...)
ateno
para janelas no alto
ateno
10
O depoimento de Polari torna problemticas interpretaes como as de Roberto Schwarz (1978) ou Gilberto
Vasconcellos (1977), que atribuem ao tropicalismo um contedo desmobilizador por afirmar que a realidade
brasileira absurda.
11
A Guerrilha do Araguaia promovida pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) a exceo que confirma
a regra.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
137
ao pisar o asfalto o mangue
ateno
para o sangue sobre o cho
(...)
Mas para os tropicalistas a luta armada era apenas uma das manifestaes revolucionrias
que estavam acontecendo, e eram incorporadas s canes. O tropicalismo assumia tambm
a Revoluo no plano especificamente esttico, incorporando os procedimentos das
vanguardas artsticas. Ao contrrio das canes de protesto, que recusavam a elaborao
formal em nome da comunicabilidade com as massas, no tropicalismo estava presente a
noo maiakovskiana de que no h arte revolucionria sem forma revolucionria.
So notrios os vnculos dos tropicalistas com Augusto de Campos, Haroldo de Campos e
Dcio Pignatari, os revolucionrios da poesia concreta, cuja preocupao com o lado
material das palavras (sua sonororidade, sua dimenso visual, etc.) pode ser encontrada em
canes como Batmacumba de Gilberto Gil e Clara de Caetano Veloso, da qual
retiramos um breve exemplo:
quando a manh madrugava
calma
alta
clara
clara morria de amor.
Alm dos laos com os poetas concretos, foram fundamentais dentro do tropicalismo a
participao de msicos vinculados s correntes de vanguarda da msica erudita, como
Jlio Medaglia e Rogrio Duprat, que fizeram o arranjo de vrias canes tropicalistas. Por
exemplo, Jlio Medaglia fez o arranjo de Tropiclia e Rogrio Duprat o de Gelia
Geral.
Uma outra transformao revolucionria tambm incorporada pelo tropicalismo foi o
questionamento, que ocorria a nvel mundial, da separao entre Revoluo Social e
Revoluo dos Comportamentos Individuais. O movimento de maio de 1968 na Frana foi
um dos principais momentos deste questionamento, to bem expresso em grafites como
esse: Quanto mais eu fao amor, mais eu tenho vontade de fazer a Revoluo. Quanto
mais eu fao a Revoluo, mais eu tenho vontade de fazer amor.
Nos EUA esse questionamento tambm ocorreu, com o surgimento dos diferentes grupos
da Nova Esquerda, dentre eles o movimento Yippie (Youth Internacional Party) animado
por Jerry Rubin, que pretendia fundir a militncia poltica revolucionria de esquerda com
as transformaes existenciais pregadas pelos Hippies. De acordo com Rubin, o Yippie
um: crescimento hbrido de esquerdista e de hippie, diferente tanto de um quanto do outro,
algo inteiramente novo. (...) Rapidamente o esquerdismo oficial nos cai em cima: nos acusa
de sermos um bando de vagabundos apolticos completamente delirantes, que quer desviar
a revolta poltica dos jovens em prol da droga, do rock e do amor-livre. Os hippies nos
vem como marxistas em trajes psicodlicos, que utilizam os mesmos argumentos para
politizar a juventude e atrair sobre ela a represso policial (Rubin 1971. D. 82 e 83).
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
138
No Brasil, durante os anos 60, no existiu uma organizao poltica que acompanhasse esse
questionamento da separao entre o social e o individual. Coube apenas ao tropicalismo,
um movimento cultural, cumprir esse papel, com canes como Proibido Proibir
(inspirada num grafite de maio de 68) e que aborda o combate s instituies que tolhem a
liberdade individual:
Derrubar
as prateleiras
as estantes
as esttuas
louas
Livre sim
E eu digo sim
ao sim
E eu digo no
ao no
Eu digo proibido proibir
Dentre as instituies sociais repressivas, a famlia aparece com bastante destaque nas
canes tropicalistas. Em Mame Coragem de Caetano Veloso e Torquato Neto, por
exemplo, ela acusada de impedir a livre expresso da afetividade:
mame mame no chore
a vida assim mesmo e eu
fui-me embora
(...)
eu tenho um beijo preso
na garganta
eu tenho um jeito de quem
no se espanta
(...)
eu tenho coraes fora
do peito
mame no chore
no tem jeito
(...)
O Tropicalismo e a Nova Repblica
No panorama das relaes entre cultura e poltica dos anos 60, a produo tropicalista
ocupa um lugar especial. Ela compartilhava da viso predominante neste perodo
fortemente influenciada pelo pensamento de esquerda, mas construiu uma verso prpria,
questionando a esquerda a partir dela mesma, e criando condies para uma compreenso
mais precisa da sociedade brasileira.
Tanto a produo cultural da esquerda quanto a tropicalista estavam associadas a uma
defesa da necessidade de modernizao da sociedade brasileira. A diferena que a
esquerda dos anos 60 pensava que s ela podia fazer a modernizao para ela Golpe de
64 estava comprometido com o atraso, sendo favorvel ao latifndio e submisso ao
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
139
imperialismo enquanto o tropicalismo mostrava a modernizao promovida pela
burguesia e pelo regime militar e questionava os seus limites: a combinao com arcaico ao
nvel social e comportamental.
O tropicalismo s pode ser entendido se for situado no perodo histrico em que ocorreu e
no qual estava profundamente enraizado. Este enraizamento era bastante superior ao da
esquerda, possuidora de uma viso parcial da realidade brasileira e internacional, sendo
incapaz de incorporar movimentos revolucionrios como as vanguardas artsticas ou as
reivindicaes de maio de 68.
Ao enraizamento histrico do tropicalismo pode ser atribuda sua capacidade de lanar
pistas para a compreenso de outros momentos histricos. O tropicalismo apreendeu uma
dimenso fumdamental da sociedade brasileira, a da combinao entre o arcaico e o
moderno, retomando, assim, um caminho aberto pelos modernistas da dcada de 20 (Mrio
de Andrade e Oswald de Andrade, principalmente).
certo que o arcaico e o moderno no se combinam do mesmo modo nos anos 20, nos anos
60 ou nos anos 80 da Nova Repblica. Mas a possibilidade de compreenso da sociedade
brasileira reside no reconhecimento de que a combinao entre o arcaico e o moderno um
trao que atravessa os seus perodos histricos, e na capacidade de demarcao das
diferenas e semelhanas entre as combinaes especficas a cada perodo.
Ouvir as canes tropicalistas na Nova Repblica pode ser muito elucidativo para a
percepo do que consiste a novidade da transio democrtica, com a sua combinao
entre voto popular e clientelismo poltico. Alis, em alguns momentos estas canes
parecem mesmo confirmar o dom da profecia s vezes atribudo s obras de arte
antecipado a Repblica cujo Primeiro Ministro (ocupante do ptio interno de Braslia)
Antnio Carlos Magalhes e o Presidente Jos Sarney:
no ptio interno h uma piscina
com gua azul de amaralina
coqueiro brisa e fala nordestina
e faris
(...)
viva maria-ia-ia
viva a bahia-ia-ia-ia
(Tropiclia Caetano Veloso)
bumba-i-i-boi
ano que vem ms que foi
bumba-i-i-i
a mesma dana meu boi
(Gelia Geral Gilberto Gil)
ABSTRACT: Tropiclia, one of the most important artistic movements in the 1960s, has
been considered as radically opposed to some left wing views that strongly influenced
cultural production in the period. This article argues that Tropiclia shared with the left the
idea that the work of art must have as its subject Brazilian reality, while being at the same
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
140
time associated with the struggles to bring about revolutionary changes in it; nevertheless,
the movement created its own version of such a view. Tropiclia presented a more complex
picture of Brazilian reality than the left wings, by pointing to the existence of a
combination of modern and archaic elements where the left only saw the archaic
ones. The left wing idea of Revolution was stretched to integrate revolution in individual
behavior into broader social changes. Having deep seated roots in Brazilian reality,
Tropicalismo was responsible for the creation of works which are still up to date in
contemporary Brazil, such as Gelia Geral by Gilberto Gil and Tropiclia by Caetano
Veloso.
KEYWORDS: Brazil: Tropiclia, artistic movement, ideology, modern and archaic,
revolution and individual behavior.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
REIS F, Daniel Aaro & S, Jair Ferreira de. Imagens da revoluo. Documentos
polticos das organizaes clandestinas de esquerda dos anos 1961-1971. Rio de
Janeiro, Editora Marco Zero, 1985.
CAMPOS, Augusto de. Balano da bossa e outras bossas. 3.ed., So Paulo, Ed.
Perspectiva, 1978. (Col. Debates n 3).
COELHO, Cludio N.P. Os movimentos libertrios em questo. A poltica e a cultura nas
memrias de Fernando Gabeira. Petrpolis, Vozes, 1987.
DEBRAY, Rgis. Revoluo na Revoluo? So Paulo, Centro Editorial Latino
Americano, s/d.
FAVARETTO, Celso F. Tropiclia: alegoria, alegria. So Paulo, Kairs, 1979.
GALVO, Walnice N. MMPB: uma anlise ideolgica. In: _______. Saco de Gatos.
Ensaios Crticos. So Paulo, Livraria Duas Cidades, 1976. p. 93- 119.
GIL, Gilberto. Expresso 2222. So Paulo, Editora Corrupio,1982.
HOLLANDA, Helosa Buarque de. Impresses de viagem. CPC, vanguarda e desbunde:
1960/70. So Paulo, Brasiliense, 1980.
HOLLANDA, Helosa Buarque de & GONALVES, Marcos A. Cultura e Participao
nos Anos 60. So Paulo, Brasiliense, 1982. (Col. Tudo Histria n 41).
MARTINS, Luciano. Aspectos polticos da revoluo brasileira. Revista Civilizao
Brasileira. Rio de Janeiro, Ed. Civilizao Brasileira, n. 2., maio de 1965. p.15-37.
MATOS, Olgria C.F. Paris 1968: as barricadas do desejo. So Paulo, Brasiliense, 1981.
(Col. Tudo Histria).
MEDINA, C.A. de. Msica popular e comunicao. Petrpolis, Vozes,1973.
Tempo Social - Rev. Sociologia da USP.
S. Paulo, 1(2), 2. sem. 1989.
141
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO. PCB: vinte anos de poltica. 1958-1979
(documentos). So Paulo, Livraria Editora Cincias Humanas, 1980.
POLARI, Alex. Em busca do tesouro. Rio de Janeiro, Codecri, 1982.
RUBIN, Jerry. Do it. Paris, ditions du Seuil, 1971.
SANTANNA, Affonso R. de. Msica popular e moderna poesia brasileira. Petrpolis,
Vozes, 1978.
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trpicos. So Paulo, Editora Perspectiva, 1978.
(Col. Debates n 155).
SCHWARZ, Roberto. Cultura e poltica, 1964-69. In: _______. O pai de famlia e outros
ensaios. Rio de Janeiro. Paz e Terra 1978. p 61-92)
VASCONCELLOS, Gilberto. Msica popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro, Graal,
1977.
VELOSO, Caetano. Alegria, alegria. Rio de Janeiro, Pedra Q Ronca, 1977.
________. Ambiente de Festival. In: _______. A arte de Caetano Veloso. Rio de Janeiro,
Fontana/Phonogram, LP 6470541/2, 1975.
ZILIO, Carlos . Da antropofagia tropicalia. In: _______. O nacional e o popular na
cultura brasileira. So Paulo, Brasiliense. 1982. p.11-56.
Вам также может понравиться
- A questão da moralidade em Kant e HabermasДокумент29 страницA questão da moralidade em Kant e HabermasPedro PachêcoОценок пока нет
- Freitag A Questao Da MoralidadeДокумент5 страницFreitag A Questao Da MoralidadeluciperryОценок пока нет
- Reconstrução normativa, eticidade democrática e cidadania em HonnethОт EverandReconstrução normativa, eticidade democrática e cidadania em HonnethОценок пока нет
- O Pensamento Ético de KantДокумент5 страницO Pensamento Ético de KantMaria Luiza BakinhaОценок пока нет
- Daniel Omar Perez Os Significados Da História em KantДокумент43 страницыDaniel Omar Perez Os Significados Da História em KantDaniel Omar PerezОценок пока нет
- Resumo: Juridicidade E Eticidade: Sobre Algumas Distinções E Relações Entre Direito E Ética em KantДокумент4 страницыResumo: Juridicidade E Eticidade: Sobre Algumas Distinções E Relações Entre Direito E Ética em KantMax RibeiroОценок пока нет
- Conceitos de Ética ao Longo da HistóriaДокумент7 страницConceitos de Ética ao Longo da HistóriaManuela SantosОценок пока нет
- Texto 1 - Texto - Delamar - VolpatoДокумент22 страницыTexto 1 - Texto - Delamar - VolpatoEduardo SilvaОценок пока нет
- Algumas Considerações Sobre A Dignidade em Kant e Sua Recepção No Discurso Jurídico BrasileiroДокумент22 страницыAlgumas Considerações Sobre A Dignidade em Kant e Sua Recepção No Discurso Jurídico BrasileiroThiago Rodrigues PereiraОценок пока нет
- 16 - Ponderações Sobre A Filosofia de KantДокумент20 страниц16 - Ponderações Sobre A Filosofia de KantArthur RosaОценок пока нет
- O questionamento central da filosofia do direitoДокумент8 страницO questionamento central da filosofia do direitoLiceu municipal de linguas Limuling100% (1)
- Distinção entre atos humanos e atos do homem na éticaДокумент8 страницDistinção entre atos humanos e atos do homem na éticajohaberОценок пока нет
- Análise da ética kantianaДокумент3 страницыAnálise da ética kantianaLuiz HenriqueОценок пока нет
- A moralidade e o direito em KantДокумент24 страницыA moralidade e o direito em KantRener MeloОценок пока нет
- Unidade 5Документ14 страницUnidade 5CauanОценок пока нет
- A ética kantiana e o imperativo categóricoДокумент4 страницыA ética kantiana e o imperativo categóricoSahra KetoryОценок пока нет
- ViickДокумент11 страницViickvitoriaregia2952Оценок пока нет
- A condição do público racional para a paz segundo KantДокумент12 страницA condição do público racional para a paz segundo KantAntony CharlesОценок пока нет
- Debate ético atualДокумент6 страницDebate ético atualFernanda Saidenfuss100% (1)
- Direito, Justiça, Virtude Moral & Razão: ReflexõesДокумент8 страницDireito, Justiça, Virtude Moral & Razão: ReflexõeskjdsfmjgfdljsgdfОценок пока нет
- A ética de Kant: O imperativo categórico e o desenvolvimento do direitoДокумент20 страницA ética de Kant: O imperativo categórico e o desenvolvimento do direitoDavid EmanuelОценок пока нет
- Razão Prática e Vontade na Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant: a possibilidade da determinação da vontade pela razão práticaОт EverandRazão Prática e Vontade na Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant: a possibilidade da determinação da vontade pela razão práticaОценок пока нет
- Ficha de Leitura Etica 1Документ8 страницFicha de Leitura Etica 1Jose ManhicaОценок пока нет
- Ética segundo Aristóteles, Kant e LevinasДокумент5 страницÉtica segundo Aristóteles, Kant e LevinasJúlio FlávioОценок пока нет
- Josebvicente, 1Документ11 страницJosebvicente, 1Ygor SantosОценок пока нет
- Direito em Kant e a autonomia da vontadeДокумент5 страницDireito em Kant e a autonomia da vontadeCaio SoutoОценок пока нет
- Ética através dos temposДокумент11 страницÉtica através dos temposTercioОценок пока нет
- KantДокумент10 страницKantLívia RamosОценок пока нет
- Moralidade e EticidadeДокумент21 страницаMoralidade e Eticidadepedro5paulo5scremin5Оценок пока нет
- ÉticaДокумент12 страницÉticaEdward D. JimmyОценок пока нет
- DIREITOS HUMANOSДокумент18 страницDIREITOS HUMANOSLukas LobaskiОценок пока нет
- Princípios Da Autonomia e Heteronomia em KantДокумент5 страницPrincípios Da Autonomia e Heteronomia em KantCecilia Barbosa0% (1)
- Escolas Do Pensamento JurídicoДокумент10 страницEscolas Do Pensamento JurídicoEmídio MubaОценок пока нет
- COING, H. e KIRST, S. Filosofia Do Direito, Seus Problemas e Campo TemáticoДокумент1 страницаCOING, H. e KIRST, S. Filosofia Do Direito, Seus Problemas e Campo TemáticopereiraruiОценок пока нет
- A antropologia na filosofia kantianaДокумент3 страницыA antropologia na filosofia kantianaJosé de SáОценок пока нет
- A autonomia na ética kantiana e sua recepção em HabermasДокумент22 страницыA autonomia na ética kantiana e sua recepção em HabermasThiago Amado de BritoОценок пока нет
- Ética Segundo Aristóteles e KantДокумент5 страницÉtica Segundo Aristóteles e KantLoli StephanieОценок пока нет
- A dignidade humana em KantДокумент28 страницA dignidade humana em KantLuís Henrique OliveiraОценок пока нет
- 265-Texto Do Artigo-525-1-10-20120706Документ20 страниц265-Texto Do Artigo-525-1-10-20120706Simão PaiaОценок пока нет
- 34490-Texto do Artigo-115592-1-10-20160314Документ13 страниц34490-Texto do Artigo-115592-1-10-20160314abiasdaniel456Оценок пока нет
- A Ética Como Fundamento Dos Direitos HumanosДокумент5 страницA Ética Como Fundamento Dos Direitos HumanosCésar RikidōОценок пока нет
- Da vontade imperfeita à instituição do Estado Civil em KantОт EverandDa vontade imperfeita à instituição do Estado Civil em KantОценок пока нет
- Kant e dignidade humana na concepção de direitos humanosДокумент13 страницKant e dignidade humana na concepção de direitos humanosSTELLA RODRIGUES CHOAIRY RODARTОценок пока нет
- Aula 4 - Teorias ÉticasДокумент11 страницAula 4 - Teorias ÉticasPingo de ÁguaОценок пока нет
- A Evolução Conceitual Da ÉticaДокумент4 страницыA Evolução Conceitual Da ÉticaMônica CamposОценок пока нет
- A Doutrina Do Direito de Emmanuel KantДокумент12 страницA Doutrina Do Direito de Emmanuel KantEduardo Lino Santos SouzaОценок пока нет
- Ética, Moral e Direito (José Goldin)Документ5 страницÉtica, Moral e Direito (José Goldin)leandroОценок пока нет
- A metafísica dos costumes de KantДокумент11 страницA metafísica dos costumes de KantPlatãoОценок пока нет
- Prova de História Da Filosofia Moderna IIДокумент2 страницыProva de História Da Filosofia Moderna IILucas DiasОценок пока нет
- Apresentação Metafísica Dos CostumesДокумент11 страницApresentação Metafísica Dos CostumesRoberta Marciele Mello SchornОценок пока нет
- Etica Na MagistraturaДокумент10 страницEtica Na MagistraturaBela E Luiz MouraОценок пока нет
- Emmanuel KantДокумент1 страницаEmmanuel KantErica NatashaОценок пока нет
- A ética de Kant e o imperativo categóricoДокумент6 страницA ética de Kant e o imperativo categóricomierjamОценок пока нет
- Daniel Omar Perez O Sexo e A Lei em Kant e A Ética Do Desejo em LacanДокумент9 страницDaniel Omar Perez O Sexo e A Lei em Kant e A Ética Do Desejo em LacanDaniel Omar PerezОценок пока нет
- Razão Prática HabermasДокумент18 страницRazão Prática HabermasigorОценок пока нет
- Teorias Éticas 1 PDFДокумент6 страницTeorias Éticas 1 PDFhmsresendeОценок пока нет
- A dignidade humana na filosofia de KantДокумент6 страницA dignidade humana na filosofia de KantMoacyr Salles NetoОценок пока нет
- 2 - Dignidade Da Pessoa Humana KantДокумент6 страниц2 - Dignidade Da Pessoa Humana KantMoacyr Salles NetoОценок пока нет
- Asme B-31 (1) .8 - PortuguesДокумент282 страницыAsme B-31 (1) .8 - PortuguesFabio FontamОценок пока нет
- As Geometrias Não EuclidianasДокумент57 страницAs Geometrias Não EuclidianasJoao Raimundo FerreiraОценок пока нет
- Bioconstruções rurais: princípios e benefíciosДокумент28 страницBioconstruções rurais: princípios e benefíciosTatiane Martinazzo PortzОценок пока нет
- MESA REDONDA Congresso GestaltДокумент358 страницMESA REDONDA Congresso GestaltPsi Paula Viana100% (1)
- Cinetica AngularДокумент23 страницыCinetica AngularAnderson FerroBemОценок пока нет
- File 513278 Aula8 20170407 160845Документ12 страницFile 513278 Aula8 20170407 160845Felipe Veber100% (1)
- CordelДокумент13 страницCordelWilliam Galvão PrianteОценок пока нет
- Atividade Complementar Sociologia 1 EmtiДокумент4 страницыAtividade Complementar Sociologia 1 EmtiIJDW927Y9ush8799UОценок пока нет
- Assimilação e resistência em LobatoДокумент371 страницаAssimilação e resistência em LobatoGoshai DaianОценок пока нет
- Contos Tradicionais e Educação de ValoresДокумент28 страницContos Tradicionais e Educação de ValoresramiromarquesОценок пока нет
- UNICESUMARДокумент19 страницUNICESUMARCláudia Balbino Emerson Puerari100% (1)
- Aula 02Документ82 страницыAula 02wastanford69Оценок пока нет
- O Grande GrimórioДокумент11 страницO Grande GrimórioValcir HenriqueОценок пока нет
- Trabalho Grupo ReclamaçõesДокумент15 страницTrabalho Grupo Reclamaçõescascaoduda50% (2)
- Hqs de Humor No BrasilДокумент129 страницHqs de Humor No BrasilDiego Aguiar Vieira100% (1)
- Estética em Ortodontia Parte I. Diagrama de Referências Estéticas Dentais (DRED)Документ18 страницEstética em Ortodontia Parte I. Diagrama de Referências Estéticas Dentais (DRED)Leonardo Lamim100% (1)
- A Felicidade Só Depende de VocêДокумент1 страницаA Felicidade Só Depende de VocêRenata Barbosa NunesОценок пока нет
- A Mulher Do Fluxo de SangueДокумент2 страницыA Mulher Do Fluxo de SangueJosé Tenório NetoОценок пока нет
- As Primeiras CivilizaçõesДокумент4 страницыAs Primeiras CivilizaçõesProf. Elicio LimaОценок пока нет
- Trecho de T.J. Clark, O Estado Do EspetaculoДокумент9 страницTrecho de T.J. Clark, O Estado Do Espetaculoioio1469Оценок пока нет
- HISTÓRIA DAS IDÉIAS PENAIS NA ALEMANHA DO PÓS-GUERRA HassemerДокумент35 страницHISTÓRIA DAS IDÉIAS PENAIS NA ALEMANHA DO PÓS-GUERRA HassemeradvbarcellosОценок пока нет
- Estatuto Do Centro de Umbanda Este VaiДокумент2 страницыEstatuto Do Centro de Umbanda Este Vaidarckbok100% (1)
- UNICID - Universidade em Perspectiva PDFДокумент11 страницUNICID - Universidade em Perspectiva PDFliercioaraujoОценок пока нет
- Motivação Nas OrganizaçõesДокумент21 страницаMotivação Nas OrganizaçõesAbolchanОценок пока нет
- Matemática básica para a PRFДокумент140 страницMatemática básica para a PRFRicardo ArielОценок пока нет
- Envio 16.17Документ5 страницEnvio 16.17Fatima SantosОценок пока нет
- Maximizando o Seu PotencialДокумент107 страницMaximizando o Seu Potencialuser12345675% (4)
- Código de conduta APCEДокумент4 страницыCódigo de conduta APCEACGLОценок пока нет