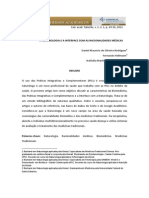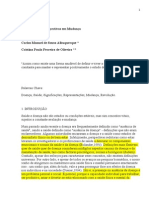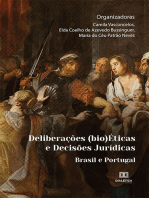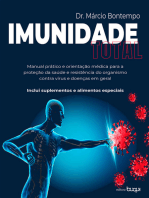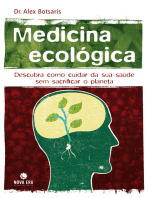Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Visão holística da perícia psiquiátrica forense
Загружено:
Jerônimo De Boni0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
160 просмотров20 страницОригинальное название
Visão Holística Da Relação Médico Paciente Na Perícia Psiquiatrica Forense
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
160 просмотров20 страницVisão holística da perícia psiquiátrica forense
Загружено:
Jerônimo De BoniАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 20
1.
Aluno de Ps Graduao Latu Sensu Biologia e Gentica Forense da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul.
2. Dra. Em Filosofia nfase em biotica. Coordenadora do Laboratrio de Biotica e tica
Aplicada a animais e Professora da Faculdade de Biocincias da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul.
3. Aluno de graduao do curso de Cincias Jurdicas Sociais e da Pontifcia Universidade Catlica
do Rio Grande do Sul. Bolsista PIBIC/CNPq do Laboratrio de Biotica e tica Aplicada a
animais
Viso holstica da relao mdico-paciente na percia psiquitrica
forense
Jernimo De Boni
1
, Anamaria Gonalves dos Santos Feij
2
, Joo Beccon de
Almeida Neto
3
RESUMO:
O presente trabalho visa entender, sob os auspcios da Biotica, a relao mdico-paciente na psiquiatria
forense. Busca analisar, a partir de uma investigao terica, a relao existente dentro de um processo
penal, entre o psiquiatra forense e o periciado, j que esta, contemporaneamente, no pode mais ser vista
apenas como um exerccio tcnico e impessoal do profissional da sade.
Palavras Chave: Biotica forense, Psiquiatria forense, Relao mdico-paciente, Principialismo.
ABSTRACT:
The present work aims at to understand, under the auspices of the Biotica, the relation doctor-patient in
forensic psychiatry. Search to analyze, from a theoretical inquiry, the existing relation inside of a criminal
proceeding, between the forensic psychiatrist and the defendant one, since this more is, currently, not seen
only as an exercise impersonal technician and of the professional of the health.
Key Words: Forensic bioethics, Forensic psychiatry, Doctor-patient relationship, Principialism.
2
INTRODUO
A medicina a cincia das verdades transitrias, mas a relao mdico-
paciente claramente indefectvel. O maior instrumento de diagnstico e de interveno
na medicina a entrevista clnica, onde se estabelece uma relao muito importante
entre o entrevistador e o entrevistado e que objetiva minimizar o sofrimento deste
ltimo. (BARROS & KLEIN, 2004).
A escola hipocrtica separou medicina, religio e magia; desacreditou as
crenas sobrenaturais nas causas das doenas e se colocou como alicerce da medicina
racional e cientfica. Da mesma forma, deu sentido digno profisso mdica,
estabelecendo normas ticas de conduta que o mdico deve seguir no exerccio de sua
profisso. (REZENDE, 2003.)
O modelo mdico hipocrtico foi fundamentado em dois alicerces bsicos: o
exame fsico e a relao mdico-paciente, a qual favorecia a extrao de todas as
informaes necessrias para formular o diagnstico e a teraputica. Assim fica claro
que o mdico, juntando os conhecimentos cientficos e humansticos, era profundo
conhecedor da alma humana e, estando muito prximo de seu paciente, estabelecia uma
relao extremamente benfica. Esse modelo foi adotado pela medicina ocidental e
historicamente vem acompanhando a evoluo da medicina. (NASCIMENTO &
GUIMARES, 2003).
Na sua origem, a medicina ocidental era unicamente humanstica de carter
filosfico e naturalista. Assim os mdicos no consideravam as doenas singularmente
como um problema, mas sim como uma conseqncia da interao entre o homem e a
natureza que o rodeava. Trabalhando com essa base, o mdico acharia a verdadeira
causa da doena e conseqentemente a sua cura. Estas informaes mostram que o
mdico deveria ser mais que um pesquisador, deveria essencialmente ser um humanista,
um homem que na elaborao de seu diagnstico levava em considerao os dados
biolgicos, ambientais, socioculturais, familiares, psicolgicos e tambm espirituais,
uma vez que as divindades sempre tiveram grande importncia na sociedade humana.
(GALLIAN, 2000).
Aps o final do sculo XIX, importante salientar este aspecto, aconteceram
avanos importantes em todas as reas da medicina, e o progresso aliado ao
desenvolvimento tecnolgico acabaram por mudar a forma de atuao da maioria dos
3
mdicos. A medicina, em conseqncia destes avanos, passou a ser vista como cincia
exata e biolgica permitindo a perda de seu carter humanstico. Esse enfoque abalou o
vnculo de confiana entre o paciente e o mdico. Segundo Gauderer (1998) o mdico,
neste momento comeou a ser visto como um professor que no costumava pedir ao
aluno uma voz mais ativa na relao,fazendo que esta passasse a ser mais impessoal
alm de assimtrica. Essa situao, bastante desconfortvel para muitos, propiciou uma
reflexo e discusso sobre a necessidade de resgate da relao mdico-paciente original.
Assim, esta relao desprezada por um perodo de tempo, passou a ser valorizada
recebendo, gradativamente, uma conotao de algo essencial e complementar aos
recursos tecnolgicos. Atravs deste prisma, o processo de humanizao da medicina
iniciou-se, acreditando que os modelos cientificista e hipocrtico no eram suficientes
por si s, mas sim complementares.
O uso eticamente incorreto de seres humanos em pesquisa nos campos de
concentrao na segunda grande guerra, aliado proposio de legislao
normatizadora destes abusos, como o Cdigo de Nuremberg por exemplo, evoluram
para documentos americanos como o relatrio Belmont e a teoria Principialista de
Bechamps e Childress buscando a valorizao do ser humano na investigao cientfica
e na prtica mdica. A Biotica, nova rea de estudos de conflitos contemporneos a
serem analisados de forma plural, onde se enquadra a necessidade do resgate da
humanizao da relao mdico-paciente, vem auxiliando tambm neste dilogo.
Em se tratando de sade, Gadamer (1994), destaca os atributos da prtica
mdica na produo da sade, profisso que definida h tempos como a cincia e a
arte de curar. Confiana, familiaridade e colaborao esto altamente implcitas no
processo diagnstico e teraputico. Gadamer conduz a reflexo sobre a humanizao da
medicina para o reconhecimento da necessidade de uma sensibilidade diante do
sofrimento do paciente. Esta proposta enaltece o nascimento de uma nova imagem
profissional, responsvel pela efetiva promoo da sade, ao considerar o paciente na
sua integralidade fsica, psquica e social, e no mais apenas de um ponto de vista
biolgico. (WULFF et al. 1995). O mdico, em sua definio, o profissional
autorizado pelo Estado para exercer a Medicina; se ocupa da sade humana, prevenindo,
diagnosticando e curando as doenas.
Dentro desta perspectiva de humanizao da medicina e do respeito aos seres
humanos envolvidos na relao mdico-paciente, aparece tambm a figura do mdico
psiquiatra. A palavra psiquiatria deriva do grego e quer dizer "arte de curar a alma".
4
Na Idade Mdia o mdico recebeu ainda, em latim, o epteto de physicus, do grego
physiks, de physis, natureza, equiparando-o aos estudiosos da natureza, ou seja, aos
filsofos naturalistas. (COROMINAS, 1984). Este profissional da sade trabalha com a
preveno, atendimento, diagnstico, tratamento e reabilitao das doenas mentais,
sejam elas de cunho orgnico ou funcional, tais como depresso, doena bipolar,
esquizofrenia e transtornos de ansiedade. A meta principal deste mdico o alvio do
sofrimento e do bem-estar psquico do paciente. Para isso, necessria uma avaliao
completa do doente, com perspectivas biolgica, psicolgica, sociolgica e outras reas
afins. Uma doena ou problema psquico pode ser tratado atravs de medicamentos ou
vrias formas de psicoterapia. (SADOCK el tal. 2000).
diante desta realidade, da necessidade do estabelecimento do respeito
dignidade humana na relao mdico-paciente ,tambm na rea da psiquiatria forense
foco deste trabalho-, e onde aparecem os princpios bioticos e princpios agregados,
subjacentes a esta relao, que a medicina atual tenta avanar para satisfao tanto do
paciente como dos mdicos E da sociedade, de forma global (NASCIMENTO &
GUIMARES, 2003).
O AVANO TECNOLGICO E A RELAO MDICO-PACIENTE
Uma anlise de Greenlick (1995) compara as aes dos mdicos nos anos
1935, 1985 e 2005. Torna latente o progressivo deslocamento do modelo liberal da
dcada de 30, quando a profisso era exercida em consultrios com mnima tecnologia ,
se comparados ao atendimento atual, realizado em hospitais com sofisticados
equipamentos e laos quase nulos de relacionamentos entre mdicos e pacientes.
A medicina passa a ser exercida, segundo esse autor, com base em novas regras
extradas do esprito da racionalidade moderna, que produz graves rupturas no
relacionamento mdico-paciente. Abandona-se a figura do indivduo doente e encontra-
se a doena presente em alguma parte do corpo. O rgo doente transforma-se no objeto
exclusivo da ateno mdica. Busca-se obsessivamente a instncia primordial,
mergulha-se fundo na busca do celular, do molecular, do DNA, enfim, do cdigo da
vida. A interveno do mdico migra do mundo do paciente para um universo
impessoal preenchido por equipamentos que pertencem a uma entidade chamada
5
hospital, que dirigida por uma grande empresa ou pelo todo poderoso Estado
(SIQUEIRA, 2000).
A tendncia irreversvel para a criao de novas especialidades e
subespecialidades e o fato de os mdicos no serem consultados quando da formulao
das polticas de sade so causas que, associadas, propiciam o a elaborao subjetiva do
diagnstico das molstias, anteriormente de competncia do mdico, agora substituda
por valores fornecidos por aparelhos. A medicina ganha ares de cincia exata. Atrofia-se
enormemente a destreza em colher anamneses elucidativas, o exame fsico detalhado se
transforma em exerccio cansativo e ultrapassado diante do poder inesgotvel de
informaes fornecidas pelos aparelhos. Salienta Siqueira (2000) que o que era
complementar agora essencial.
Uma rea em que se discute a tica da alocao de recursos refere-se
liberdade do mdico estabelecer normas prprias de investigao diagnstica de seus
pacientes. Em nosso meio, isso muito comum e exige uma profunda ponderao dos
profissionais de sade no que concerne racionalizao de gastos. Afinal, vivemos
permanentemente numa economia de escassez. O exerccio da cidadania nos obriga,
resguardadas as medidas de segurana para os pacientes, a agir com parcimnia no uso
de recursos para a investigao clnica (SIQUEIRA, 2000).
Siqueira (2000) cita a teoria da justia de Rawls e a teoria da comunicao de
Habermas para apontar o caminho para a construo de uma sociedade mais justa,
calcada na solidariedade e respeito entre os homens. Sabemos, porm, que a simetria
total dos participantes de um processo de comunicao, como imaginada por Habermas,
algo inatingvel e, na prtica, o que se observa so solues nem sempre justas e
favorveis aos mais fracos. No campo da sade, essas situaes so desastrosas.
Conforme Habermas (1985), no discurso da modernidade h uma acusao
dirigida contra uma razo que se funda no princpio da subjetividade e afirma que esta
razo s denuncia e procura abalar todas as formas de ostensiva opresso e explorao,
de alienao, com o intuito de colocar em seu lugar o domnio da prpria racionalidade.
Feito isto, este regime consegue uma imunidade, pois se coloca sob a forma de uma
dominao muito bem dissimulada transformando os meios de conscientizao e
emancipao em instrumentos de controle.
O que parece indiscutvel para a maioria, porm, que devemos desconsiderar
o modelo liberal como fonte de solues justas. Os cuidados com a sade no podem
figurar como simples variveis das leis do mercado. Precisamos partir do pressuposto de
6
que sendo a sade um bem fundamental, o acesso aos cuidados mdicos deve ser
universal. No se constri um verdadeiro Estado Social de Direito sem uma justa
distribuio de recursos no campo sanitrio. O princpio das diferenas individuais,
porm, no incompatvel com a construo de uma sociedade justa e solidria.
Pluralidade dos homens e justia social podem e devem conviver juntas (SIQUEIRA,
2000).
MODELOS DE RELAO MDICO-PACIENTE
Tradicionalmente, a relao paternalista dominou a medicina. O mdico era o
detentor do conhecimento e tinha a incumbncia de cuidar da sade, tanto nas
sociedades simples como nas sociedades complexas. Atualmente, entretanto, a relao
mdico/paciente estabelece um conflito de valores cujo ponto central situa-se entre a
autonomia (capacidade para tomar decises) e a sade, entre os valores do paciente e os
valores dos profissionais de sade, modificando o modelo da relao tradicional. A
necessidade de respeitar a vontade do paciente na tomada de decises ticas teve espao
a partir da polmica vivida pelos refugiados nos campos de concentrao na Segunda
Guerra Mundial. Este contexto levou a que estudiosos se detivessem na investigao
sobre tipos de relao mdico-paciente identificando papeis e princpios nas distintas
classificaes. Emanuel e Emanuel (1999) propuseram de uma forma clara e objetiva,
quatro modelos diferentes para caracterizar estes relacionamentos:
A) Modelo Paternalista - o mdico privilegia o bem-estar do doente e sua
sade, em detrimento da autonomia, das crenas, valores e escolhas deste paciente. O
profissional age como um pai ou tutor e concebe a autonomia do paciente como
assentimento (pode concordar ou no, mas no decidir). Este modelo sempre se justifica
em casos de urgncia, pois se pode assumir que tanto o paciente como o profissional da
sade tenham valores e pontos de vista similares acerca do que um beneficio num
momento emergencial.
B) Modelo Informativo - o profissional da sade apenas oferece ao paciente o
controle de sua prpria situao, dando-lhe toda a informao necessria. O paciente
dever assumir sozinho a tomada de deciso. Este modelo pressupe que as pessoas
possuam valores pessoais conhecidos e fixos, mas isto nem sempre ocorre, alm do que
7
os pacientes esperam dos profissionais da sade certa qualidade humana e
envolvimento.
C)Modelo Interpretativo - atravs da orientao do mdico, o paciente
desenvolve uma reflexo mais profunda, que o ajuda a interpretar, articular e esclarecer
seus valores e aquilo que realmente deseja para si, e a determinar a interveno mdica
mais adequada. s vezes, os profissionais da sade podem, sem se dar conta, impor
seus prprios valores aos pacientes e estes, aflitos por sua situao clinica e indecisos
em seus pontos de vista, podem aceitar com demasiada facilidade esta imposio.
D)Modelo Deliberativo - o objetivo deste modelo ajudar o paciente a
determinar e eleger, entre todos os valores relacionados com sua sade, aqueles que so
os melhores. O papel do profissional da sade o de indicar porque certos valores tm
mais importncia e porque se deve aspirar por eles. Nesse modelo, o profissional da
sade e o paciente comprometem-se, em uma deliberao conjunta, sobre quais os
valores que podem e devem ser buscados pelo paciente. As objees a este modelo se
centram no fato dos prprios profissionais da sade julgarem os valores dos pacientes e
promoverem determinados valores relacionados com a sade.
PRINCPIOS FUNDAMENTAIS IDENTIFICADOS NA RELAO
MDICO/PACIENTE: O PRINCIPIALISMO
O principialismo uma proposta de orientao anlise de problemas das
reas biomdicas a partir de quatro princpios bsicos no-absolutos, elaborada por
Beauchamp e Childress em 1979.
A proposio fundamento-se na teoria de princpios prima facie, princpios que
devem ser respeitados de forma relativa, que Ross (1930) defendeu em sua obra The
Right and the Good. Este autor defendia a teoria de que a vida moral se desenvolve a
partir de determinados princpios que so bsicos e auto-evidentes para toda a sociedade
ocidental; porm, que no teriam carter obrigatrio ou absoluto, admitindo, portanto
excees, de acordo com circunstncias especficas.
Os princpios prima facie escolhidos por Beauchamp e Childress (1994),
foram: beneficncia; no-maleficncia; respeito autonomia e justia, por consider-los
mais ou menos abrangentes para a moralidade da cultura ocidental, preocupada em
8
negociar e legitimar os princpios enraizados numa moral capaz de tornar congruentes
os valores, prima facie antagnicos, do indivduo e os da coletividade (ZANCAN,
1999).
Em sentido estrito, o principialismo uma corrente particular, originria dos
Estados Unidos de Amrica e hoje com difuso mundial, que forneceu um modelo
biotico pujante, especialmente no espao mdico, cujo mago so os quatro princpios.
Em sentido amplo, porm, uma tendncia estendida na biotica: a propenso para
encarar assuntos concretos e mesmo vastas problemticas mediante a definio e
aplicao de princpios (SOTO, 2002).
Beauchamp e Childress (1994), por sua vez, afirmam que os princpios da
Biotica no devem ser considerados como regras ditadas pela prtica, nem como
prescries absolutas. Agregam que todos os princpios deveriam ser respeitados e que a
precedncia de um sobre outro, em casos de conflito, deveria tambm estabelecer-se em
cada caso concreto. Se esse mtodo de avaliao pode parecer perigosamente flexvel,
nenhum conjunto de princpios ou diretrizes gerais possibilitaro solues mecnicas,
ou procedimentos definitivos, para o processo de tomada de deciso frente a problemas
morais em medicina. Em suma, a "experincia e a voz do juzo so aliadas
indispensveis". (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994).
Respeito Autonomia
A palavra autonomia foi primeiramente empregada autogesto das cidades
independentes da Grcia. A partir da o termo estendeu-se aos indivduos e adquiriu
sentidos diversos como de autogoverno, direitos de liberdade, privacidade, escolha
individual, liberdade da vontade e ser o prprio motor do seu comportamento. A
autonomia no um conceito nico nem na lngua comum nem na filosofia. O
indivduo autnomo age livremente de acordo com um plano prprio, da mesma forma
como um governo independente administra seu territrio e define duas polticas.
Algum com a autonomia reduzida controlada por outros ou incapaz de deliberar com
base nos seus prprios desejos e planos (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994).
Imannuel Kant, filsofo deontologista, no sculo XVIII argumentava que o
respeito autonomia origina-se do reconhecimento de que todas as pessoas tm valor
incondicional e capacidade para determinar o prprio destino. Violar a autonomia de
uma pessoa deixar de levar em conta os objetivos desta, e uma violao fundamental
da moral, pois as pessoas autnomas so fins em si mesmas, capazes de determinar o
9
prprio destino (KANT, 1980). O filsofo alemo continua abordando o tema em sua
obra Crtica da Razo Prtica onde enfatiza a autonomia como fundamento de seu
Imperativo Categrico: ela o princpio unificante de todos os princpios prticos.
Entende o filsofo que a autonomia da vontade que dar a sustentabilidade para o
Imperativo Categrico, a ser seguido se o individuo for livre para faz-lo. Para Kant,
ento, o homem s livre porque pode respeitar a vontade que tem de agir segundo sua
lei moral interna, sua razo.
John Stuart Mill, expoente do utilitarismo britnico, preocupava-se com a
autonomia das pessoas mas em relao individualidade delas na conformao de suas
vidas. Mill argumentava que deveria se permitir que um cidado se desenvolvesse de
acordo com suas convices, desde que no interferissem nas convices dos outros.
Ele entendia a autonomia como ausncia de coero sobre a capacidade de pensamento
e ao do indivduo, como o direito que o indivduo tem de expressar opinio divergente
quela defendida pela sociedade vigente (MILL, 1997). Guisn (1997) salienta que, na
concepo utilitarista de Mill, a sociedade deveria garantir os meios para que o homem
se realizasse como pessoa alcanando sua felicidade e ao indivduo seria dado o direito
de divergir do Estado que no est lhe oferecendo as condies necessrias a esta
realizao.
A posio de Mill requer tanto a no-interferncia como o fortalecimento da
expresso autnoma, enquanto Kant impe um imperativo moral que ordena que as
pessoas sejam respeitosamente tratadas como fins em vez de meios. Essas duas
filosofias diferentes apiam o princpio de respeito autonomia (BEAUCHAMP &
CHILDRESS, 1994).
Beauchamp e Childress (1994) analisam que o princpio de respeito
autonomia est enraizado na tradio liberal das sociedades ocidentais, de inspirao
iluminista. Referem-se especificamente, liberdade individual, isto , da pessoa.
Autonomia e respeito autonomia so noes associadas s idias de privacidade,
liberdade de escolha pessoal e, numa concepo dialtica e abrangente das relaes
entre indivduos e sociedade, responsabilidade pela escolha individual. O princpio da
autonomia, assim como o de justia, parece ir contra a tica mdica tradicional,
embasada no paternalismo e autoritarismo mdicos. Resulta disso, que o princpio da
autonomia tem sido aceito pelos mdicos somente em anos recentes, tendo maior
impacto na atividade de pesquisa do que no exerccio clnico, isso porque essencial ao
10
consentimento livre e esclarecido, pilar das recomendaes e cdigos de tica para
pesquisas com seres humanos, inclusive no Brasil (ZANCAN, 1999)
Beneficncia e No-maleficncia
Os princpios de no-maleficncia e beneficncia correspondem s obrigaes
hipocrticas de atuar sempre tendo em conta o bem-estar do paciente e de evitar causar-
lhe danos. Em particular, o princpio de beneficncia considerado a "essncia do ser"
mdico e expressa a obrigao de ajudar aos pacientes para alm dos interesses destes,
atravs da remoo e preveno de agravos ou riscos sade. Em outros termos,
demanda mais que o princpio de no-maleficncia por que requer medidas positivas e
no apenas evitar causar danos sade. A aplicao, pura e simples, do princpio de
beneficncia aos atos mdicos pode levar a situaes em que lcito intervir sobre o
doente mesmo contrariamente sua vontade o que seria um mal do ponto de vista deste,
opondo-se, ainda, ao princpio de respeito autonomia (SEGRE,1995).
Segundo Bernard (1994) nos problemas ticos decorrentes do processo das
pesquisas biolgicas e mdicas devem ser respeitados todos os homens e o homem todo.
Este cientista deixa claro que o ser humano merece respeito, em qualquer forma e
sentido. Este um tema relevante na histria do pensamento biotico. A moralidade
requer no apenas que tratemos as pessoas como autnomas e que nos abstenhamos de
prejudic-las, mas tambm que contribuamos para seu bem-estar (BEAUCHAMP &
CHILDRESS, 1994).
O interesse em conhecer o que bom, o bem, e os seus opostos, o que mau e
o mal, com princpios e argumentos fundamentados, justificavam e diferenciam a base
da tica terica e dos princpios da beneficncia e no-maleficncia. Beneficncia no
seu significado filosfico moral, quer dizer fazer o bem e, conforme alguns autores da
filosofia da moral, uma manifestao de benevolncia. Plato Aristteles e Kant
outorgam um papel secundrio benevolncia, pois eles priorizam o papel da razo. De
forma geral a benevolncia forma genrica da beneficncia, uma disposio emotiva
que tenta fazer o bem aos outros, uma qualidade boa do carter das pessoas, uma
disposio para agir de forma correta e de forma geral, possuda por todos os seres
humanos (KIPPER & CLOTET, 1998).
O princpio da no-maleficncia determina a obrigao de no infligir dano
intencional. Na tica mdica, ele est intimamente ligado com a mxima: Antes de
tudo, no causar dano. Apesar das origens dessa mxima serem obscuras e suas
11
implicaes no sejam exatamente claras, na verdade uma traduo distorcida de uma
passagem isolada da obra de Hipcrates. Porm no juramento de Hipcrates esto
expressas uma obrigao de no-maleficncia e uma obrigao de beneficncia
(BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994).
O princpio da no-maleficncia devido a todas as pessoas, enquanto que o
princpio da beneficncia menos abrangente. (KIPPER & CLOTET, 1998)
Se a pessoas est inclinada a fazer o bem e a promover o bem-estar dos outros,
ela mesma deveria garantir a capacidade de agir corretamente. Um juzo clnico antes
de qualquer coisa um exerccio de prudncia, que quer dizer o modo eticamente correto
de exercer a profisso buscando o bem do paciente. Isso requer o respeito dignidade e
o reconhecimento dos seus valores e sentimentos morais e religiosos. Beneficncia e
no-maleficncia so dois princpios que podem nortear uma conduta profissional de
sade e ajudar em situaes de conflito.
Justia
Dos quatro princpios, o de justia o que mais se distancia da tica mdica
tradicional, pois este se centra no bem-estar de cada paciente e no no bem da
sociedade. Nos ltimos anos, no entanto, o princpio de justia tem entrado com maior
fora no campo das preocupaes da tica mdica, na medida em que, neste, so
manifestas grandes disparidades na distribuio dos cuidados de sade. Assim, o
princpio de justia pode ser considerado como o princpio biotico que est vinculado a
vrias questes que dizem respeito distribuio de benefcios e encargos da
cooperao social (ZANCAN, 1999). O conceito de justia circunda o princpio de
igualdade, mas como Aristteles afirmara: tratar as pessoas com igualdade nem sempre
resulta em justia, existe uma variedade grande de maneiras de tratar pessoas
injustamente, quando so tratadas com igualdade (GARRAFA et al., 1997).
Beauchamp e Childress (1994) entendem o Princpio da Justia como sendo a
expresso da justia distributiva. Entende-se justia distributiva como sendo a
distribuio justa, equitativa e apropriada na sociedade, de acordo com normas que
estruturam os termos da cooperao social. Uma situao de justia, de acordo com esta
perspectiva, estar presente sempre que uma pessoa receber benefcios ou encargos
devidos s suas propriedades ou circunstncias particulares.
O surgimento do debate em torno da equidade datado das ltimas dcadas. Os
movimentos sociais foram seus principais precursores. O princpio caiu em certo
12
desuso, at mesmo como conseqncia dos abusos conceituais que sofreu. Sob outra
roupagem, vem sendo reanimado, principalmente pelas discusses em sade sobre a
reviso das metas da Organizao Mundial de Sade (OMS) acerca da proposta do
programa Sade para todos no ano 2000. O conceito de equidade vem sendo retomado
com vigor e este substantivo passou a constituir-se na palavra chave para a sade no
final do sculo XX. Basicamente equidade significa a disposio de reconhecer
igualmente o direito de cada um a partir de suas diferenas (GARRAFA et al., 1997).
Gillon (1994) analisa que o princpio de justia muitas vezes considerado
como sinnimo de imparcialidade e sensatez, reduzido mera obrigao moral em agir,
baseada num julgamento distanciado entre reivindicaes competitivas e conflituosas.
PRINCPIOS AGREGADOS NA RELAO MDICO-PACIENTE
A entrevista clnica continua sendo o maior instrumento de diagnstico e de
interveno em Medicina. Alm dos princpios no-absolutos descritos no
principialismo biotico e que devem ser eleitos em funo da particularidade de cada
caso, agregam-se outros princpios extremamente importantes e inter-relacionados tanto
para consolidar a relao mdico-paciente quanto para propiciar a tomada conjunta de
deciso na escolha de um melhor tratamento e que aparecem por ocasio das entrevistas
clnicas.
Privacidade e Confidencialidade
Conceito de privacidade no unnime entre os especialistas. Algumas
definies de privacidade concentram-se no controle do individuo sobre dados a
respeito de si prprio, que podem ou no ser disponibilizados aos outros. Uma segunda
definio entende a privacidade como um estado de intimidade (LOCH, 2002) Para
muitos autores a privacidade ento um direito individual de proteo de sua prpria
intimidade que amplia-se para o direito do individuo determinar quando, como e em que
propores as informaes referentes a si prprio podem ser reveladas. mas esse
conceito confunde privacidade com o controle sobre a privacidade ou o direito de
control-la. Beauchamp e Childress (1994) Salientam que muitos desses conceitos
confundem a privacidade com direito de controlar a intimidade, porque para eles
privacidade uma condio de inacessibilidade fsica ou informativa.
13
A confidencialidade, por sua vez, est presente quando uma pessoa revela uma
informao, seja por meio de palavras ou de um exame mdico, e a pessoa a quem essa
informao revelada promete no divulgar a um terceiro sem permisso. H excees
admitidas e justificveis ao tipo de informao que pode ser considerada confidencial.
Podem ser estabelecidos limites externos confidencialidade, por meio de obrigaes
legais, como nos casos em que se exige que relatem ferimento a bala e doenas
venreas. Algumas revelaes de informaes a terceiros contra a vontade do paciente
podem no ser violaes da confidencialidade em virtude do contexto no qual a
informao foi obtida. (BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994).
Se os pacientes no pudessem confiar no seu mdico para guardar segredo a
respeito de algumas informaes, ficariam relutantes em revel-las. Esta relutncia pode
estar presente no ato pericial da psiquiatria forense. A revelao total de informaes
pelo periciado importante para o andamento do processo e para o estabelecimento do
laudo tcnico. Mas no sero guardadas, pois, devem ser passadas ao juiz. E pelo menos
uma das partes envolvidas, o profissional da sade, sabe disto.
Fidelidade
Segundo Moreira Filho (2007), a fidelidade o dever de lealdade e
compromisso do terapeuta para com o paciente, que serve de base para o
relacionamento entre ambos. A veracidade, isto , a utilizao verdadeira e honesta das
informaes, um dever do terapeuta e base de tal fidelidade. Na realidade forense esta
fidelidade tem mo-dupla, pois praticamente imprescindvel, ou pelo menos desejvel,
que o periciado tambm seja levado a confiar e ser fiel verdade.
Veracidade
Os cdigos de tica mdica tradicionalmente ignoram as obrigaes e as
virtudes da veracidade. O juramento de Hipcrates e a Declarao de Genebra da
Associao Mdica Mundial no recomendam o princpio da veracidade, dando aos
mdicos total arbtrio do que informar ao paciente. A American Medical Association
entretanto, recomenda atualmente, sem maior elaborao que os mdicos ajam de
forma honesta com os pacientes e colegas.
Trs argumentos contribuem para a justificao das obrigaes de veracidade.
No primeiro deles, a obrigao de veracidade baseia-se no respeito devido aos outros. O
respeito autonomia fornece principal base justificadora das regras de informao e de
14
consentimento. O consentimento no pode expressar a autonomia a menos que seja um
consentimento informado. O segundo argumento fala na obrigao da veracidade e de
uma estreita vinculao com as obrigaes de fidelidade e de manuteno de promessas.
No terceiro argumento, os relacionamentos de confiana entre as pessoas so
necessrios para que exista uma cooperao e uma interao profcua. No cerne desses
relacionamentos est a confiana em que os outros sero sinceros. O relacionamento dos
profissionais de sade e seus pacientes dependem da confiabilidade e da fidelidade e as
regras da veracidade so essenciais para promover a confiana. (BEAUCHAMP &
CHILDRESS, 1994).
RELAO MDICO-PACIENTE NA PSIQUIATRIA FORENSE?
A relao entre o mdico e seu paciente inicia-se no primeiro encontro, onde
um vai em busca de uma soluo para o seu problema de sade e o outro se mostra
interessado e disposto ajud-lo, vivenciando o seu juramento hipocrtico. Nesta relao
mdico-paciente que vamos aqui chamar de relao padro, pode-se identificar quatro
etapas distintas: 1)Anamnese, (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memria)
entrevista realizada pelo profissional da rea da sade com um paciente, com a inteno
de ser o ponto inicial no diagnstico de uma doena; 2)uso de instrumentos ou exames
complementares para chegar com mais certeza ao diagnstico; 3)diagnstico; 4)
tratamento, cuja tendncia atual o de ser discutido entre as duas partes envolvidas.
Nesta situao, com facilidade detectamos os princpios bioticos prima facie onde um
deles destacar-se- dependendo do caso em pauta. Princpios agregados tambm se
fazem presentes dignificando a relao.
Na psiquiatria forense, e aqui centra-se nossa reflexo, o objetivo que leva ao
estabelecimento de um contato entre mdico e paciente distinto da relao padro,
pois no se busca o diagnstico concreto e sim medidas psicolgicas que esto afetando
as bases psicobiolgicas de imputabilidade (inteligncia, vontade) na realizao de um
delito. A inimputabilidade, para ser reconhecida, exige a presena dos requisitos causal
(doena mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado), cronolgico (ao
tempo da ao e da omisso) e conseqencial (inteira incapacidade de entender o carter
15
ilcito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento). A semi-
imputabilidade tambm pode ser admitida.
1
A primeira questo que se impe, a partir desta contextualizao, seria: existe
uma relao mdico/paciente genuna na psiquiatria forense? Desta pergunta emanam
outros questionamentos: Existe um mdico nesta relao ou apenas um tcnico
designado pela justia para dar um laudo? Existe um paciente ou apenas um periciado a
ser corretamente analisado? Este mdico no estaria afastado de seu juramento
hipocrtico a ser apenas um tcnico? Este periciado visto como pessoa no processo?
Na psiquiatria forense, por termos a dificuldade em reconhecer a relao
mdico-paciente padro, temos a tendncia desconstru-la, no identificando os
princpios bioticos de autonomia, beneficncia/no maleficncia e justia. Isto se d
pela ruptura brusca da relao, pela antecipao do objetivo que no mais o da busca
da cura. No h aqui a proposio da quarta etapa acima citada, que seria a etapa do
tratamento. Os princpios agregados de veracidade, privacidade, confidencialidade e
fidelidade tambm no so facilmente detectados neste contato.
Ser certo, ento, afirmar que o mdico psiquiatra deixa de ser mdico na
psiquiatria forense usando seu conhecimento apenas para ser um tcnico e dar um laudo,
afastando-se de seu juramento hipocrtico feito quando de seu ingresso na vida
profissional?
claro que no! Estudos e leituras sobre a temtica nos levaram a encontrar no
psiquiatra forense um mdico que se ajusta ao cdigo moral que ele mesmo jurou seguir
no incio de sua careira.
Uma pesquisa dos tipos de relao medico-paciente estabelecidas por Emanuel
e Emanuel (1999) e j citadas anteriormente neste artigo, dos princpios bioticos
propostos por Beauchamp e Childress(1994) e uma anlise da situao estabelecida
1
O pargrafo nico do art. 26 do Cdigo Penal trata da semi-imputabilidade, relacionada quelas que, ao
tempo da ao ou da omisso, embora no inteiramente incapazes de entender o carter ilcito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento, possuam capacidade parcial de entendimento e
determinao. Em relao ao tal grupo de indivduos, que abrange os fronteirios, o legislador penal no
ofereceu um conceito terico, concreto e completo de responsabilidade penal parcial, conferindo assim,
ao juiz criminal a funo de avaliar a personalidade do agente, podendo ou no considerar a prova
produzida, nos termos do disposto no artigo 182 do Cdigo de Processo Penal. Compete tambm ao
magistrado a faculdade de diminuir a pena de um a dois teros ou ainda substitu-la por medida de
segurana detentiva ou restritiva, pelo prazo mnimo de um ano, nos termos do artigo 98 do Cdigo Penal
(OSRIO, 2006).
16
quando da solicitao judicial para um laudo psiquitrico tcnico nos permite
reconstruir a relao mdico-paciente na psiquiatria forense.
Teramos, neste caso especfico, a partir de nossa anlise, o modelo paternalista
da relao mdico/paciente, pois este profissional busca o bem do periciado a partir de
um adequado diagnstico, no se preocupando em respeitar sua autonomia. Como este
modelo sempre se justifica em casos de urgncia, e a percia forense um momento
emergencial, os princpios bioticos da beneficncia/ no maleficncia normatizam esse
agir mdico, em nossa opinio.
O respeito autonomia, neste caso, no aparece de uma forma concreta, j que
a autonomia do ru est prejudicada pelo objetivo maior que o da promoo da justia
a qual aparece como pano de fundo no direito que esta pessoa tem de ser corretamente
avaliada, julgada e tratada.
Os princpios agregados de veracidade e fidelidade sero exaustivamente
buscados pelo mdico com o intuito de bem conhecer o periciado e conseqentemente,
bem diagnostic-lo.
Na psiquiatria forense o mdico-perito estabelece a relao com o periciado-
paciente a fim de poder dar o seu parecer perante a sociedade, representada pelo juiz,
tornando essa relao mais ampla que apenas entre um mdico e um paciente. No se
pode considerar penal um tratamento mdico e nem mesmo a custdia psiquitrica,
pois sua natureza nada tem a ver com a pena. Mas as leis penais impem um controle
formalmente penal, e limitam as possibilidades de liberdade da pessoa, impondo o seu
cumprimento, nas condies previamente fixadas que elas estabelecem, e cuja execuo
deve estar submetida aos juzes penais. Depende do juiz a imposio de penas para o
delito, depende o mdico psiquiatra forense o correto diagnstico que encaminhar esse
doente a um tratamento adequado. Duas so as medidas previstas na lei penal: a
internao em hospitais de custdia e tratamento psiquitrico ou, falta, em outro
estabelecimento adequado e a sujeio a tratamento ambulatorial (arts. 96, I e II). O
art. 99 dispe que o internado ser recolhido a estabelecimento dotado de
caractersticas hospitalares e ser submetido a tratamento. De conformidade com a
regra do art. 97, e em conformidade com o laudo mdico, o inimputvel deve ser
internado. Entretanto, o periciado ter pena de deteno se o juiz lhe impuser, e lhe
facultado faze-lo, apenas o tratamento ambulatorial. A medida de segurana seja de
internao, seja de sujeio a tratamento ambulatorial, perdura enquanto persistir a
17
periculosidade
2
. O juiz estabelece prazo mnimo de durao da medida de segurana,
que fixado de um a trs anos. Ao trmino do prazo mnimo, realizar-se- nova percia
mdica, e, no caso da percia no concluir pela cessao da periculosidade, a percia
dever ser repetida anualmente, salvo se o juiz fixar um prazo menor (OSRIO, 2006).
Independente da pena imposta pelo juiz, nota-se que o ponto de partida para o
entendimento do acontecido e para um encaminhamento adequado do processo a
relao que se estabelece entre o mdico e o paciente, muitas vezes no reconhecida
pelas circunstncias, mas sempre presente e necessria para um laudo correto e para
uma deciso justa. O psiquiatra forense precisa reconhecer no periciado um ser humano
que merece receber uma pena justa, fato que ocorrer a partir de seu diagnstico, e
nunca apenas um meio para chegar ao laudo solicitado. Esta atitude vem ao encontro do
que j afirmava o filsofo deontologista Kant, no sculo XVIII: Os seres racionais so
chamados de pessoas porque a sua natureza os diferencia como fins em si mesmos, quer
dizer, como algo que no pode ser usado somente como meio e, portanto, limita nesse
sentido todo capricho e um objeto de respeito.
CONSIDERAES FINAIS
Levando em conta os modelos que classificam a relao mdico-paciente e os
princpios bioticos que emanam desta relao pode-se afirmar que existe a relao
medico-paciente na psiquiatria forense, orientada por um modelo paternalista, cujos
princpios fundamentais a serem observados so o da beneficncia e o da no-
beneficncia. Estas concluses especificam a relao mdico-paciente na psiquiatria
forense, tornando-a nica e exclusiva por ter objetivos distintos da relao padro, mas
no menos importante.
2
A periculosidade , nesse sentido, o simples perigo para os outros ou para a prpria pessoa, e no o
conceito de periculosidade penal, limitado a probabilidade da prtica de novos crimes. A averiguao da
periculosidade deve ser feita mediante percia mdica j que o juiz pode, o que quase sempre ocorre, ser
influenciado pela opinio tcnica dos mdicos.
18
REFERNCIAS BIBILIOGRFICAS
ARISTOTELES. tica a Nicmano. In: __________. Os Pensadores. So Paulo: Nova
Cultural, 1996.
BARROS, C.A. S. M. de; Psiquiatria Forense: existe relao mdico-paciente?:
Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, FFCMPA, Porto Alegre. 2005.
BARROS, C.A. S. M. de; KLEIN, R. T. Aspectos ticos da relao perito-periciado.
In: Luiz Carlos Illafont Coronel. (Org.). Psiquiatria Legal:informaes cientficas para o
leigo. 1 ed. Porto Alegre: Conceito, 2004, v. 01, p. 94-96.
BEAUCHAMP T. L. & CHILDRESS J.F.; Principles of biomedical ethics. 4
th
ed.
New York: Oxford University Press, 1994.
BERNARD J.; La Boithique. Paris: Domingos Flamarion, 1994: 80.
COROMINAS, J., PASCUAL, J.A. - Diccionario crtico etimolgico castellano e
hispnico. Madrid, Ed. Gredos, 1984.
EMANUEL, E.J E EMANUEL , L.L.Quatro Modelos Da Relao Medico Paciente
.In Couceiro, A. (ed). Biotica para Clnicos. Coleo Humanidades Medicas n 03.
Editorial Triacastela. Madrid. 1999
GADAMER, H. G., 1994 Dove si Nasconde La salute. Milano: Raffaelo Cortina
Editore.
GALLIAN D.M.C.; A (re)humanizao da medicina. Psiquiatria na prtica mdica
2000; 33(02). Disponvel em < http://www.epm.br/polbr/ppm/especial02.htm >
GAUDERER, E. C.; Os direitos do paciente: um manual de sobrevivncia. 5 Ed.
Rio de Janeiro: Record, 1998.
GARRAFA, V., OSELKA G., DINIZ D.; Sade pblica, biotica e equidade.
Biotica: 1997; 5:27-33.
19
GILLON, R.; Medical ethics: four principles plus attention to scope: Autonomy and
Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge, 1994
GREENLICK, M.; Educating physicians for the twenty-first century. Acad. Med
1995;70:179-85.
GRINBERG, M.; Fidelidade ao Bom senso. Arquivos brasileiros de Cardiologia. Vol.
69 n. 6, So Paulo-SP, 1997.
GUISN E.; Introduccin. In: Mill JS El Utilitarismo: un sistema de la lgica.
Madrid: Alianza Editorial, 1997.
HABERMAS, J.; O discurso filosfico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1985.
HOBBES T.; Leviatn. Madrid: Editora Nacional, 1983.
KANT I.; Grundlengung zur metaphysik der sitten. Hamburg: Verlag von Flix
Meiner 1965:51.
KANT I.; Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals. Bobbsmerril
Company. Indianapolis, 1959
KANT, I. Crtica da razo prtica. Traduo de A Moro. Lisboa: Edies 70, 1986.
_________. Fundamentao da metafsica dos costumes. Traduo de P. Quintela.
So Paulo: Abril Cultural, 1980
KIPPER D. J. & CLOTET J.; Princpios da Beneficncia e No Maleficncia:
Iniciao Biotica. Braslia, Conselho Federal de Medicina, 1998.
LOCH, J. de A.; La confidencialidad en la asistencia a la salud del adolescente:
percepciones y comportamientos de un grupo de universitarios de Porto Alegre, RS
Brasil. Porfto Alegre, EDIPUCRS, 2002.
MILL J.S.; El Utilitarismo: un sistema de la lgica. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
MILL, J. S.; On Liberty, Collected works of John Stuart Mill, vol. 18, University of
Toronto. Toronto, 1977.
20
MOREIRA FILHO, J. R.; Relao Mdico - Paciente . Jus Navigandi, ano 6, n. 55,
mar. 2002. Disponvel em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2745>. Teresina
- PI Acesso em: 26 nov. 2007.
NASCIMENTO Jr., P. G. do; GUIMARES, T. M. de M.; A relao mdico paciente
e seus aspectos psicodinmicos. Revista de Biotica e tica Mdica. Vol 11(1), 2003.
OSRIO, F. C. Inimputabilidade: estudo dos internos de um instituto psiquitrico
forense. 2006. 167f. Dissertao (Mestrado em Cincias criminais) Faculdade de
Direito Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul. 2006.
REZENDE, JOFFRE M. DE; Revista paranaense de medicina. Vol 17(1): 38-47,
abril-junho de 2003.
SADOCK B.J., SADOCK V.A., eds. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook
of Psychiatry2000. 7 edio. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
SEGRE M.; Retrato atual da medicina legal brasileira. Conferncia proferida no
primeiro seminrio de estudos Mdicos-legais; Blumenau, 1985.
SIQUEIRA, J.E.; A Evoluo Cientfica e Tecnolgica, o Aumento dos Custos em
Sade e a Questo da Universalidade do Acesso. Boletim da Sociedade Brasileira de
Biotica 2000;2(4):14-15.
SOTO, J., L.; Dicionrio de filosofia moral e poltica: Intituto da filosofia da
linguagem, Universidade Nova de Lisboa: 2002.
WULFF, H. R.; PEDERSEN, S. A.& ROSEMBERG, R., La filosofia della medicina.
Raffaelo Cortina Editore. 1995
ZANCAN, L. F. Dilemas morais nas polticas de sade: o caso da AIDS. Uma
aproximao a partir da biotica. [Mestrado] Fundao Oswaldo Cruz, Escola
Nacional de Sade Pblica; 1999. viii,92 p.
Вам также может понравиться
- Hipertensão Arterial: Uma Visão IntegrativaОт EverandHipertensão Arterial: Uma Visão IntegrativaРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (2)
- A Subjetividade Como Anomalia: Contribuições Epistemológicas para A Crítica Do Modelo BiomédicoДокумент11 страницA Subjetividade Como Anomalia: Contribuições Epistemológicas para A Crítica Do Modelo BiomédicoCristina JalilОценок пока нет
- Relacao Medico-Paciente FormatadaДокумент42 страницыRelacao Medico-Paciente FormatadabielmavszakОценок пока нет
- MONOGRAFIA - 2002 - Psico Onco DULCE FINALДокумент73 страницыMONOGRAFIA - 2002 - Psico Onco DULCE FINALLuciana Pôrto FerreiraОценок пока нет
- A Autonomia Do Paciente No Processo A Autonomia Do Paciente No ProcessoДокумент14 страницA Autonomia Do Paciente No Processo A Autonomia Do Paciente No ProcessoGabriel LopesОценок пока нет
- Roland Gori - A Ética PDFДокумент20 страницRoland Gori - A Ética PDFCorpoSemÓrgãosОценок пока нет
- Artigo Articulações Sobre o Modelo BiomédicoДокумент6 страницArtigo Articulações Sobre o Modelo BiomédicoBrad JacobsonОценок пока нет
- 1544 5572 2 PBДокумент8 страниц1544 5572 2 PBFernando Ribeiro JúniorОценок пока нет
- ACUPUNTURA. (Apostila) - Artigos Diversos 7 PDFДокумент35 страницACUPUNTURA. (Apostila) - Artigos Diversos 7 PDFEvelyn GolinОценок пока нет
- Ebook NarrativasHumanistasДокумент293 страницыEbook NarrativasHumanistasAnacely CostaОценок пока нет
- Naturologia e A Interface Com As Racionalidades Medicas - 668-922-1-PBДокумент13 страницNaturologia e A Interface Com As Racionalidades Medicas - 668-922-1-PBRosa RodriguesОценок пока нет
- 03 - Contra A Desumanizacao Da MedicinaДокумент70 страниц03 - Contra A Desumanizacao Da MedicinaMarcio CunhaОценок пока нет
- A Doença Mental e A Cura - Um Olhar AntropológicoДокумент13 страницA Doença Mental e A Cura - Um Olhar AntropológicoMayara MonteiroОценок пока нет
- Psicologia Da Saúde Reflexão Critica ER MR MT PRДокумент4 страницыPsicologia Da Saúde Reflexão Critica ER MR MT PRElsa ReisОценок пока нет
- Psico-Oncologia História, Características e DesafiosДокумент12 страницPsico-Oncologia História, Características e DesafiosEvy50% (1)
- Artigo JooДокумент17 страницArtigo JooazzolinbОценок пока нет
- Importância da visão holística na fisioterapiaДокумент7 страницImportância da visão holística na fisioterapiaDaniele HidakaОценок пока нет
- spectos Teóricos da Humanização e da BioéticaДокумент8 страницspectos Teóricos da Humanização e da BioéticasuerОценок пока нет
- Psicologia da saúde e doenças crônicasДокумент13 страницPsicologia da saúde e doenças crônicasMaria JuliaОценок пока нет
- Médicos e DeusesДокумент21 страницаMédicos e DeusesKarina Andréa TarcaОценок пока нет
- Relação médico-pacienteДокумент20 страницRelação médico-pacienteRhyan CoelhoОценок пока нет
- Apostila Praticas Naturais de Saude Qualidade de Vida 2Документ85 страницApostila Praticas Naturais de Saude Qualidade de Vida 2herminiadeboraОценок пока нет
- Psicossomática HumanistaДокумент11 страницPsicossomática HumanistaLuciana CristinaОценок пока нет
- Psicologia Social e Saúde ColetivaДокумент8 страницPsicologia Social e Saúde ColetivaSeventhEclipseОценок пока нет
- A 03Документ10 страницA 03Izabela MatosОценок пока нет
- Saúde e DoençaДокумент13 страницSaúde e DoençaDenise AyresОценок пока нет
- 1 001-06 Medicina Psicossomatica e Neurociencias Possibilidades de Interseccoes e Aplicacoes Na Pratica ClinicaДокумент11 страниц1 001-06 Medicina Psicossomatica e Neurociencias Possibilidades de Interseccoes e Aplicacoes Na Pratica ClinicaARIANE AGUIRRESОценок пока нет
- Florais de Bach medicina naturalДокумент6 страницFlorais de Bach medicina naturalEssenciaBioRosaLimaОценок пока нет
- UntitledДокумент5 страницUntitledFernanda Lima MartinsОценок пока нет
- Ao Estudar A BioéticaДокумент9 страницAo Estudar A BioéticaPriscila ColettiОценок пока нет
- Resenha Crítica Do Texto A Verdade Na Biomedicina, Reações Adversas e Efeitos Colaterais: Uma Reflexão IntrodutóriaДокумент3 страницыResenha Crítica Do Texto A Verdade Na Biomedicina, Reações Adversas e Efeitos Colaterais: Uma Reflexão Introdutóriaeduardaportela07Оценок пока нет
- Apostila - Multidisciplinaridade Na Estética e SaúdeДокумент55 страницApostila - Multidisciplinaridade Na Estética e Saúdekellyalves1920Оценок пока нет
- Medicina Integrativa - Medicina Holística – Medicina do 3º MilênioОт EverandMedicina Integrativa - Medicina Holística – Medicina do 3º MilênioОценок пока нет
- Bioética, Dor e SofrimentoДокумент6 страницBioética, Dor e SofrimentolazarosouzaОценок пока нет
- Medicalização na Infância: Consequências e DesafiosДокумент18 страницMedicalização na Infância: Consequências e Desafiosraquelemos1818Оценок пока нет
- Saúde e ambiente segundo moradoresДокумент22 страницыSaúde e ambiente segundo moradoresISABELA UMBUZEIRO VALENTОценок пока нет
- Medicinas tradicionais e modernas: novos discursos, velhos colonialismosДокумент17 страницMedicinas tradicionais e modernas: novos discursos, velhos colonialismosKeane AnwellОценок пока нет
- SLIDES PROCESSO SAÚDE DOENÇA PDFДокумент20 страницSLIDES PROCESSO SAÚDE DOENÇA PDFdan.worshipОценок пока нет
- Cap1Документ14 страницCap1Talita AlencarОценок пока нет
- O que realmente importa ao pacienteДокумент12 страницO que realmente importa ao pacienteSienna NascimentoОценок пока нет
- Carlini - Judicialização Da Saúde - Cap 1 - Médico e InfluênciaДокумент29 страницCarlini - Judicialização Da Saúde - Cap 1 - Médico e InfluênciaQuemОценок пока нет
- Medicina Antroposófica: Um Novo Paradigma para As Questões Da Medicina ModernaДокумент7 страницMedicina Antroposófica: Um Novo Paradigma para As Questões Da Medicina ModernambasquesОценок пока нет
- Terapias ComplementaresДокумент6 страницTerapias ComplementaresTiago Fernandes de CamposОценок пока нет
- Editorae,+4 Texto+do+Artigo 1054 1 2 20210918Документ23 страницыEditorae,+4 Texto+do+Artigo 1054 1 2 20210918Silvio De Azevedo SoaresОценок пока нет
- Acolhimento e desmedicalização na Atenção PrimáriaДокумент10 страницAcolhimento e desmedicalização na Atenção PrimáriaguiramossensОценок пока нет
- Terapias espirituais:: rumo à integração ao tratamento convencionalОт EverandTerapias espirituais:: rumo à integração ao tratamento convencionalРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (1)
- SUMÁRIO Diálogos Com Medard BossДокумент30 страницSUMÁRIO Diálogos Com Medard Bosscamilabezerra206Оценок пока нет
- O Fazer Do Psicólogo Na SaúdeДокумент9 страницO Fazer Do Psicólogo Na SaúdeDenise FernandesОценок пока нет
- Síntese EpidemiologiaДокумент2 страницыSíntese Epidemiologiaiasminlais14Оценок пока нет
- Abordagens Contemporâneas Do Conceito de SaúdeДокумент42 страницыAbordagens Contemporâneas Do Conceito de SaúdeTuhany SabinoОценок пока нет
- O normal e o patológico: CanguilhemДокумент10 страницO normal e o patológico: CanguilhemHeitor Coelho100% (2)
- CONHECIMENTO E CUIDADO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEAОт EverandCONHECIMENTO E CUIDADO: DESAFIOS E TENDÊNCIAS DA MEDICINA CONTEMPORÂNEAОценок пока нет
- Deliberações (bio)Éticas e Decisões Jurídicas: Brasil e PortugalОт EverandDeliberações (bio)Éticas e Decisões Jurídicas: Brasil e PortugalОценок пока нет
- Imunidade total: manual prático e orientação médica para a proteção da saúde e resistência do organismo contra vírus e doenças em geral: inclui suplementos e alimentos especiaisОт EverandImunidade total: manual prático e orientação médica para a proteção da saúde e resistência do organismo contra vírus e doenças em geral: inclui suplementos e alimentos especiaisОценок пока нет
- A Psicologia junguiana entra no hospital: Diálogos entre corpo e psiqueОт EverandA Psicologia junguiana entra no hospital: Diálogos entre corpo e psiqueОценок пока нет
- Psicologia da Saúde e Clínica: Conexões NecessáriasОт EverandPsicologia da Saúde e Clínica: Conexões NecessáriasОценок пока нет
- Medicina ecológica: Descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planetaОт EverandMedicina ecológica: Descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planetaРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Trabalho Equações Do 2° Grau - AdaptadaДокумент2 страницыTrabalho Equações Do 2° Grau - AdaptadaGessica ByczkovskiОценок пока нет
- Engenharia Civil fluxogramaДокумент8 страницEngenharia Civil fluxogramaElitiere Silva CruzОценок пока нет
- Brastemp Adega BZC12BE ManualДокумент8 страницBrastemp Adega BZC12BE ManualGilberto JuniorОценок пока нет
- ACETILCOLINAДокумент18 страницACETILCOLINAErick SaraivaОценок пока нет
- Modelo de Bdi OneradoДокумент2 страницыModelo de Bdi OneradoHerman CamargoОценок пока нет
- Acionador Pinça Freio Completo MB 712c 914c Lo914 Lo915 814 Frete Grátis 2Документ1 страницаAcionador Pinça Freio Completo MB 712c 914c Lo914 Lo915 814 Frete Grátis 2Victor LuisОценок пока нет
- Planejamento Maio A1 - B1Документ4 страницыPlanejamento Maio A1 - B1Francisca AlencarОценок пока нет
- Bhabha HomiДокумент10 страницBhabha HomiPatrick BastosОценок пока нет
- Trilhas No Parque Estadual Do Rio Doce-Mg: Uma Reflexão Sobre A Interpretação Ambiental Como Instrumento de Manejo em Área...Документ14 страницTrilhas No Parque Estadual Do Rio Doce-Mg: Uma Reflexão Sobre A Interpretação Ambiental Como Instrumento de Manejo em Área...Flavio Zen100% (2)
- NIE Dimel 13 - 09Документ6 страницNIE Dimel 13 - 09Debora EmyОценок пока нет
- Resposta Da Prova de Psicologia em PDFДокумент7 страницResposta Da Prova de Psicologia em PDFjucileneОценок пока нет
- RELATÓRIO DE PROJETO FUNDIÇÃO - FinalДокумент13 страницRELATÓRIO DE PROJETO FUNDIÇÃO - FinalVinicius CamposОценок пока нет
- Literatura e Ensino - Artigo SesiДокумент17 страницLiteratura e Ensino - Artigo SesiVanda SousaОценок пока нет
- Pessoa OrtónimoДокумент4 страницыPessoa OrtónimoLuisarezesОценок пока нет
- 6694PB Catálogo de Rolamentos Automotivo PDFДокумент434 страницы6694PB Catálogo de Rolamentos Automotivo PDFAurora VelasquezОценок пока нет
- Timbrado de Exercícios - OdtДокумент4 страницыTimbrado de Exercícios - OdtAntonio Martinho CamiloОценок пока нет
- Manual de Instrução e Montagem Balancim Série G2 Evolution ElétricoДокумент45 страницManual de Instrução e Montagem Balancim Série G2 Evolution ElétricoLUCASОценок пока нет
- Voucher CintiaДокумент3 страницыVoucher CintiaPietra CrizolОценок пока нет
- SKF PER.5203RYY2 SpecificationДокумент2 страницыSKF PER.5203RYY2 SpecificationRanielОценок пока нет
- Teoria Geral e Metodologia do EsporteДокумент7 страницTeoria Geral e Metodologia do Esportelucianolopes100% (1)
- Fundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Документ228 страницFundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Yuldash100% (1)
- Manual Aluno PDFДокумент20 страницManual Aluno PDFRose OliveiraОценок пока нет
- Coloração PapanicolaouДокумент1 страницаColoração PapanicolaouNessa Lopes100% (1)
- RAEYMAEKER, Luís de Filosofia Do Ser São Paulo, Editora Herder, 1967Документ173 страницыRAEYMAEKER, Luís de Filosofia Do Ser São Paulo, Editora Herder, 1967rvfortes100% (2)
- Deficiência Intelectual e Um Plano de AulaДокумент3 страницыDeficiência Intelectual e Um Plano de AulaJair Gomes100% (1)
- ATOS OFICIAIS TRIBUNAL MINASДокумент12 страницATOS OFICIAIS TRIBUNAL MINASGustavo PereiraОценок пока нет
- Wa0051 PDFДокумент106 страницWa0051 PDFcicero melo100% (1)
- Aula 010 - SD e de TR - Tolerância A FalhasДокумент83 страницыAula 010 - SD e de TR - Tolerância A FalhasLuis Filipi Oliveira AlvarengaОценок пока нет
- ResMédica - Aprovados e Classific - (Publicar)Документ246 страницResMédica - Aprovados e Classific - (Publicar)Biih FialhoОценок пока нет
- Educação Como Prática Da LiberdadeДокумент8 страницEducação Como Prática Da LiberdadeJoao VictorОценок пока нет