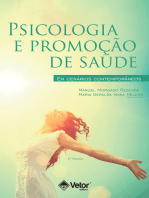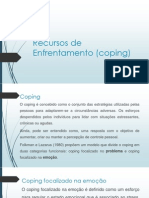Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
A Clínica Psicossocial Das Psicoses
Загружено:
jv_psiАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
A Clínica Psicossocial Das Psicoses
Загружено:
jv_psiАвторское право:
Доступные форматы
A Clnica
Psicossocial
das Psicoses
Salvador - Bahia
JULHO DE 2007
Programa de Intensicao de
Cuidados a Pacientes Psicticos
Faculdade de Filosoa e Cincias Humanas
Departamento de Psicologia
LEV - Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental.
PROGRAMA DE INTENSIFICAO DE CUIDADOS
A PACIENTES PSICTICOS
LEV - Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental.
Hospital Especializado em Psiquiatria Mario Leal - SESAB
Curso de Terapia Ocupacional da Fundao Bahiana para o Desenvolvimento das Cincias
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofa e Cincias Humanas
Parceria:
No existe nada mais profundo
e revolucionrio nos dias de hoje
do que a preocupao com o outro
Noam Choamsky
Se quero o outro comigo,
fraco, cansado ou louco,
tenho que deixar sempre abertas
as portas do meu corao....
Marcus Vinicius de Oliveira
De quem ser, cuidado?
Fico sempre to impressionado
com o muito muito que se faz
do pouco pouco que dado.
Do residir assombrado
que germina assim, to frgil semente,
ganhando vulto em solo adubado.
De quem ser? Do semeador, do semeado?
Vivo a pergunta do mrito,
da relao entre os dois, cuidado.
Marcus Vinicius de Oliveira
Editor: Marcus Vincius de Oliveira Silva
Co-editora: Lygia Freitas
Reviso: Lygia Freitas
Editorao: Wendel Barreto
Projeto Grco: Wendel Barreto
Apoio:
LEV - Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental
Departamento de Psicologia
Faculdade de Filosofa e Cincias Humanas
Universidade Federal da Bahia
End.: Rua Aristides Novis n 2, Estrada de So Lzaro
Cep: 40210 730, Salvador - Bahia
email: levsaudemental@gmail.com
www.lev.ffch.ufba.br
In-tensa. Ex-tensa / Universidade Federal da Bahia. Departamen-
to de Psicologia, PIC Programa de intensificao de cuidados
e pacientes psicticos.
Ano I, n. I (2007) - Salvador, BA: UFBA, FFCH, 2007.
I.Sade mental. 2. Psicoses. 3. Pacientes - Psicologia. I. Univer-
sidade Federal
da Bahia. Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas. Depar-
tamento de Psicologia e Laboratrio de Estudos Vinculares e
Sade Mental.
CDD - 616.89
Todos os artigos podem ser reproduzindos desde
que citada a fonte.
Marcus Vinicius de Oliveira Silva
A Clnica
Psicossocial
das Psicoses
Programa de Intensicao de
Cuidados a Pacientes Psicticos
Faculdade de Filosoa e Cincias Humanas
Departamento de Psicologia
LEV - Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental.
Salvador - Bahia
JULHO DE 2007
Entrevista
15 - Entrevista com Eduarda Motta e Marcus Vincius
de Oliveira, supervisores do Programa de Intensifcao de
Cuidados a Pacientes Psicticos
Artigos de crena
40 - A clnica integral: o paradigma psicossocial como
uma exigncia da Clnica das Psicoses
42 - Loucura, cultura, instituio e sociedade
52 - Psicose e ressonncias sociais
70 - A famlia na psicose
78 - Psiquismo e sociedade: a psicose e os grupos
89 - A psicose e as relaes vinculares: um esforo de
referenciao terica
Fazendo o PIC acontecer
97 - A clnica psicossocial da psicose: aprendizagem,
cuidado intensifcado e reinsero social
106 - Programa de Intensifcao de Cuidados: um
caminho para a qualidade de vida
114 - Programa de Intensifcao de Cuidados: uma
experincia de interveno psicossocial
Estratgias
125 - A assistncia domiciliar no mbito do cuidado
sade mental
136 - Ateno domiciliar: uma tecnologia de cuidado
em sade mental
141 - A formao de dades no trato com a loucura:
acompanhando o acompanhante
146 - Superviso: espao de continncia, aprendizado
e refexes
Complexidades
151 - A abordagem da crise na psicose
169 - Dana e xadrez: o papel da intensifcao de cui-
dados no fortalecimento da autonomia de Felipe
180 - O solitrio na multido: a solido da diferena
192 - Transbordamento psictico: desafos e possibilida-
des de interveno
202 - A.T. que relao essa?
208 - Derrubando muros, construindo vnculos: intensif-
cao de cuidados no HCT-BA
216 - Psicose negra: a imagem de si e a recusa do
corpo
Ressonncias
223 - Ela no pode ser me quando maternidade e
loucura se cruzam
228 - Encontros e desencontros com a psicose
238 - Causos dos casos o incrvel poder do vnculo
240 - Entre amores, quase-amores e no-amores
Dados e Eventos
251 - O BPC e a banalizao da interdio judicial: um
exemplo de atuao clnico-poltica
254 - O PIC em Letra e Nmero
Sumrio
9
Editorial
As psicoses so tensas. Tensas para fora. Tensas para dentro. Registro de uma experincia subjetiva de
precrios equilbrios do sujeito, instabilizadora de sua presena no mundo social. O sujeito psictico
vive o enigma da sua pertena como scio da sociedade como uma produo subjetiva complexa,
tensa e, por vezes, dolorosa. A psicose tambm se apresenta como fonte de tenso para aqueles que
se dispem a ocupar um lugar de cuidador diante dela.
A clnica das psicoses uma clnica tensa. Tensa para dentro, fazendo importantes exigncias
subjetivas para que seu agente possa estar bem situado diante de um sujeito que se movimenta em
precria estabilidade possibilitada pelo seu arranjo psquico. Tensa para fora, exigindo que seu agente
disponha de habilidades de mediador, intermedirio entre as necessidades sinalizadas pelo sujeito e
as exigncias da cultura.
O ensino da clnica das psicoses tambm tenso. Tenso para fora. Espao de uma disputa terico-
conceitual entre concepes que divergem sobre a sua natureza e sobre a priorizao dos cuidados
que devem ser ensinados aos futuros profssionais. Tenso para dentro: como ensinar? Como aprender?
Como transmitir matria que articula objetividade e subjetividade, num fazer que se situa nos limites
entre a tcnica e a arte?
Os espaos institucionais de cuidado dos sujeitos psicticos so tensos. Tensos para dentro, no ma-
nejo dos settings que pretendem proteger (a quem?), isolar, excluir os sujeitos psicticos e o agente de
cuidados no mundo reduzido das hospitalizaes, das emergncias e dos consultrios acticos. Tensos
para fora, diante da exigncia tica de uma clnica que se construa no territrio, ocupando a cidade
e fazendo circular as representaes estagnadas sobre as potencialidades dos sujeitos atendidos.
In-tensa. Ex-tensa. Neste nmero, o PIC - Programa de Intensifcao de Cuidados a Pacientes Psi-
cticos, submete-se revista. Prestamos contas de um ensino que se faz extra-muros, em que a univer-
sidade executa extenso e pesquisa. Revela o vigor prprio da vida que existe fora das salas de aula
como um recurso de aprendizagem e para a produo de conhecimento. Ensino que articula a teoria
e a prtica, prestando servios populao e participando ativamente da disputa terica e tcnica
acerca dos conceitos que devem orientar a Reforma Psiquitrica brasileira.
11
12
Intensifcao de cuidados versus internao hospitalar: dois projetos distintos em suas ticas, em
suas tcnicas, suas formas de se transmitir. Intensifcao de cuidados, esforo para identifcar, deco-
difcar as necessidades dos sujeitos chamados psicticos, para fazer segundo suas necessidades e no
segundo as possibilidades sempre menores e mesquinhas que geralmente conformam o conforto
das instituies e profssionais. Clnica que se faz onde o sujeito vive e habita, em seu domiclio e com
a sua comunidade: sua famlia e seus conhecidos, os scios com os quais ele compartilha sua vida
social.
Articulando recursos diversos - Ateno Domiciliar, Acompanhamento Teraputico, Coletivos de
Convivncia, Redes Sociais, Suporte e Assessoria, Cuidados Famlia, projetos, passeios, festas e uma
regra nica: intensifcar os cuidados humanos, realizando as ofertas compatveis com as necessidades
dos sujeitos, assumindo as responsabilidades atravs de uma presena intensa e orientada.
Clnica Psicossocial. Resgatamos do limbo este conceito que, apesar de nomear o carro chefe da
nova institucionalizao dos servios territoriais - os CAPS - no parece estar merecendo maiores
atenes. Centro de Ateno Psicossocial, onde o signo em questo parece registrar apenas, sob
forma de juno, a urgncia de se considerar uma certa dimenso expurgada o social das teorias
hegemnicas da clnica que fazem, no mesmo vis individualista, o triunfo do biolgico e do psquico.
Iluso, pois fora da sociedade no existe sociedade. Todos os fatos psquicos so fatos sociais. No
existe sociedade humana que no se inscreva psiquicamente. Contra o que h que se afrmar: por uma
Clnica Integral das Psicoses. As demais no sero seno a sua reduo.
Os artigos que fazem parte dessa coletnea tm o sabor da espontaneidade com que foram pro-
duzidos: por absoluta necessidade dos estagirios darem conta das suas experincias e sem qualquer
exigncia acadmica que os obrigasse a isso coisa rara e deliciosa para quem trabalha com a trans-
misso. Tentativas de articular a marca de uma experincia forte, que tem como pressuposto a idia
de que a psicose, ela prpria, nos ensina.
Aprendizes de feiticeiros, os estagirios que participaram do nosso programa imprimem nos seus
escritos um pouco de sua tcnica e sua arte: um desejo, uma coragem de viver assim to prximos
deste encontro com a realidade delicada dos sujeitos atendidos, com uma cidade maltratada, com os
domiclios simples e muitas vezes precrios, ruas, ruelas, becos, faltas e carncias diversas, desorgani-
zao social e psquica, pobreza e desalento. Para desse mundo to duro e dodo, extrarem a riqueza
dos sons, cores, palavras, encontros que traduzem as emoes proporcionadas pela oportunidade
13
de estarem vivendo a vida tal como ela , fora das salas de aula e das protees que, muitas vezes,
os mimam e os sedam. Cada um trouxe o que tinha e o que pde aportar, o que lhe marcou no seu
encontro e enganchamento com a clnica da psicose. Resultado de uma transmisso que se fez.
Supervisores, patronos e cmplices - Eduarda Mota e eu - cumprimos com satisfao a tarefa de co-
orden-los e organizar essa possibilidade da sua expresso inaugural, contando cada um o que viveu.
De minha parte, incluo nessa publicao despretensiosamente alguns dos meus artigos de crena:
aulas e notas que expressam um esforo pessoal para cultivar a teoria como recurso generoso que,
distribudo, nos iguala e nivela na tarefa-obrigao de sustentarmos publicamente a explicitao do
que fazemos, o que ensinamos, por que o fazemos e por que o ensinamos.
Que a Clnica Psicossocial das Psicoses que juntos temos reinventado nesses quatro anos de existn-
cia do nosso PIC possa nos trazer novas emoes e um prximo nmero. Que cada texto seja capaz
de falar em nome do seu autor.
Marcus Vinicius de Oliveira Silva
Editor
Como surgiu a proposta de criao do PIC?
Marcus - A grande ques-
to que nos orientou, no
comeo, foi a questo do
enfrentamento da idia da
necessidade da interna-
o, a famosa idia da ne-
cessidade desta ao como
retaguarda para a clnica
da psicose. O lugar do re-
curso internao talvez
seja hoje o ponto central do
debate ideolgico da Refor-
ma Psiquitrica. Todo mundo a favor de mo-
dernizao dos servios, todo mundo a favor
de servios que atendam mais integralmente,
todo mundo a favor de criar acessibilidade
dos pacientes ao servio. A grande questo que
pega no debate da Reforma Psiquitrica quan-
do a gente tem de precisar se a nossa Reforma
Psiquitrica uma Reforma que substitui a inter-
nao, se tem a vocao de ser substitutiva
internao, se tudo isto que estamos fazendo, se
todo este aparato institucional ir substituir a in-
ternao ou se o hospital psiquitrico ou a idia
de leito hospitalar vai continuar operando como
um conceito fundamental da Reforma. Ento,
esta tenso uma tenso que nos interessa radi-
calizar, porque existem aqueles que defendem a
idia do leito hospitalar como um componente
fundamental da Reforma, ou seja, que no pode
Entrevista com Eduarda Mota e Marcus Vincius Oliveira, supervisores do
Programa de Intensicao de Cuidados a Pacientes Psicticos
1
15
1-Esta entrevista foi realizada por Nomia de Arago Casais como parte do
material de base para monografa do Curso de Especializao em Sade
Mental do Departamento de Neuropsiquiatria da UFBA e editada por Marcus
Vincius de Oliveira Silva.
16
ter a Reforma sem a presena do leito hospitalar
(a eu estou falando, principalmente, do leito hos-
pitalar em psiquiatria; mas tambm da idia do
leito do Hospital Geral como uma retaguarda da
assistncia aos pacientes em crise).
Reforma Psiquitrica sem o m dos
manicmios?
Marcus - Sim. Digo que este o ponto nevrl-
gico de disputa do debate em torno da Reforma.
Qual o lugar do leito? O conceito de leito envolve
o paciente deitado, o paciente fragilizado, o pa-
ciente que precisa estar circunscrito espacialmen-
te para receber um determinado cuidado. E ento
existe outra posio que diz que o conceito de
leito hospitalar absolutamente prescindvel, no
precisamos do conceito de leito hospitalar para
fazer a Reforma, para fazer a clnica da Reforma,
e que contrape idia de leito hospitalar idia
de cuidados intensivos. Porque afnal de contas,
o que o leito hospitalar deveria oferecer o cui-
dado intensivo. A idia de leito hospitalar para
qualquer outra clnica da medicina diz respeito
circunscrio espacial, espacialidade num edif-
cio, num prdio, de um conjunto de recursos que
podem ser colocado, simultaneamente, disposi-
o do sujeito. A pergunta : o que, na ateno
psiquitrica, ns podemos defender, que tipo de
concepo sustenta que a idia de leito hospitalar
mais adequada para orientar a organizao do
servio? Porque, se for assim, ns temos sujeitos
que vo defender que a gente tem de ter a ins-
tituio psiquitrica do bem. Que a gente v
montar um monte de CAPS, Hospital Dia, Centros
de Convivncia, mas manter em nosso sistema
um hospital psiquitrico do bem, um pequeno
hospital psiquitrico, alis, ampliar mais alguns
leitos para garantir que o paciente, quando entrar
em crise, muito em crise, possa ser internado no
hospital psiquitrico.
Mas o CAPS III no teria esta nalidade de
lidar com crises?
Eduarda - Na Espanha, eles tm Hospital Dia,
Centro Dia. Mas tambm
tm hospital psiquitrico
extremamente moderno, e,
quando eu estava l, eles
inauguraram um hospital
psiquitrico para adoles-
centes com quarto forte
todo forrado, com uma
parte de informtica. Ento,
uma modernizao do
hospital psiquitrico. A con-
traposio exprime o conceito de albergamento,
acolhimento, o CAPS III deve fazer a hospitalida-
de noturna. Mas veja: a idia de hospitalidade,
e no de hospitalizao, um outro conceito. Cabe
a todos os CAPS lidar com a crise, no se trata de
um lugar, de uma instituio, mas de uma atitude
clnica compatvel com as exigncias de quem vai
substituir o hospital psiquitrico.
17
Como surgiu essa idia de intensicao de cui-
dados?
Marcus - A idia da intensifcao de cuidados
a idia de oferecimento de cuidados intensivos
a pacientes psiquitricos que tm histria de inter-
nao freqente e laos sociais muito frgeis. En-
to, dizemos assim: vamos montar um modelo de
atuao clnica, um modo de atuar, ou seja, uma
atitude clnica que possa abordar esses pacientes
e buscar intervir na dinmica de suas vidas com
essas ofertas. Essa idia o nosso grande patri-
mnio, porque existe uma grande precariedade
de nossa estrutura institucional de suporte do es-
tgio na instituio, de tal forma que a nica coisa
que a gente acabou, no intencionalmente, mas
por fora das circunstncias, radicalizando foi o
conceito da presena clnica. O que a gente tem
para oferecer a presena clnica e mais nada. A
gente tenta articular, atravs dessa presena, ou-
tros recursos, mas o programa mesmo s oferece
a presena clnica. Essa atitude que ele tem de
cuidado intensivo, entendendo cuidado intensi-
vo como intensifcao de investimento humano,
contrapondo idia de tecnologia, aparato tec-
nolgico, parafernlias institucionais, equipamen-
tos e tal. A grande tecnologia o investimento
humano. Ento, o programa est baseado, fun-
damentalmente, na idia de promover um intenso
investimento humano, cuidado como investimento
humano, em prol das necessidades do sujeito que
est em crise ou deste sujeito psictico no mundo,
e ver o que a gente pode fazer, atravs deste in-
vestimento, para produzir uma mudana em sua
qualidade de vida, em sua posio no mundo,
em sua liberdade. E por isso que digo que no
h um programa realmente, que o programa ,
na verdade, a presena dos estagirios l com os
pacientes, uma presena orientada.
Ento cuidados intensivos so uma tecnologia
de assistncia?
Eduarda - Com relao ao aspecto da tecno-
logia, a nossa justamente a presena do outro,
a pessoa, o investimento na relao. Quando
se faz analogia com o hospital, com a UTI tem a
questo da presena do outro, mas tambm tem
toda sofsticao de aparelhagem tecnolgica; na
sade mental, a sofsticao a da presena, das
idias, do pensar clnico. tambm um pensa-
mento sofsticado. uma verticalizao, no in-
tencional, porque, de fato, ns temos uma posi-
o perifrica na instituio.
Marcus - Estvamos discutindo essa questo,
porque a gente ainda sente que h essa diferen-
ciao do nosso programa com a totalidade da
instituio que nos abriga. Estvamos localizando
isso. O Mrio Leal uma instituio que ainda
mantm o modelo bastante tradicional de oferta
de assistncia, um hospital referncia na Bahia,
histrico, inclusive, mas uma instituio tradicio-
nal que ainda mantm o modelo antigo de aten-
o sade mental. E ns, de certa forma, esta-
mos fazendo uma provocao, que o oposto.
Chega a ser quase crua na instituio a presena
das idias da Reforma, sendo um contexto pouco
18
sensvel ideologia da Reforma. O Mrio Leal
possui ambulatrio que funciona, s vezes, com
aprazamento de quatro a cinco meses de aten-
dimento, de consulta, de re-consulta, internao
psiquitrica. As pessoas ainda acreditam real-
mente na necessidade de internao. Mas o M-
rio Leal um hospital reduzido, com poucos leitos
e que aceitou a nossa presena, da universidade
e das nossas invenes.
Por que o Programa est localizado no
Mrio Leal?
Marcus - Bom, primeiro, porque j tinha a Edu-
arda aqui, que trabalhava no Mrio Leal. (risos).
Acho que, dos lugares que ns tnhamos, aqui na
Bahia, talvez este fosse o menos hostil. Ento, se
o Mrio Leal era tradicional, ele um tradicio-
nal que, dentro da sua tradicionalidade, no
hostil, no foi ostensivo contra a Reforma. Se al-
gum quiser fazer acontecer, que faa. Ele no se
envolve, mas tambm no nos limita. Ns temos
vrias direes, vrios lugares, muitas delas em
servios pblicos estaduais da SESAB, de defesa
corporativa, porque eles so diretores psiquitri-
cos, defendem corporativamente a manuteno
do status quo. Dizem no a este negcio que est
se falando pelo Brasil inteiro, que vai acabar com
o hospital. Aqui na Bahia no vai acabar. Ns,
psiquiatras baianos, no vamos deixar acabar,
verso do Diabo, no temos nada a ver com essa
coisa O Mrio Leal tinha esta posio um pouco
menos hostil Reforma.
Eduarda - Eu acho interessante, tambm, no
falar de fora, ns estamos dentro de um espao.
Na realidade, a gente vem se confrontar com a
prtica. Eu trabalhava na internao, na poca
do incio do Programa, e fcava numa posio
muito tensa diante dos pacientes dessa clnica.
um hospital pequeno, a gente conhece os pacien-
tes. Freqentemente recebamos pacientes que
voltavam do Sanatrio Bahia, do Santa Mnica,
para o Mrio Leal. Perguntava o que fazer com
aqueles pacientes dentro desta estrutura, j que o
ambulatrio estava funcionando contra, ento o
que fazer diferente daquilo?
Marcus - Eduarda, que professora da FBDC,
estava aqui, trabalhando na internao, questio-
nando o produto do trabalho dela; e eu estava
no campo da Reforma, querendo achar um lu-
gar para poder montar um programa de estgio
e fazer a problematizao conceitual da idia de
internao X intensifcao de cuidado. Ento,
nosso encontro foi fecundo nesse sentido, por-
que, na verdade eu queria abrir um programa de
estgio para os alunos de psicologia da UFBA e
ela tambm. Ento, acho que abrimos uma coisa
que uma caracterstica muito positiva do Progra-
ma, o trabalho com dois grupos profssionais, e
conseguimos fazer da intensifcao de cuidados
um objetivo clnico que no especializado nem
para Terapia Ocupacional nem para Psicologia. A
gente consegue desenvolver as habilidades carac-
tersticas, mas a gente no restringe ao modelo
estrito de atuao do segmento profssional. No
dividido em T. O. e Psicologia, mesmo porque
19
a atuao do CAPS no fecha na especifcidade.
Claro, ns estamos preparando profssionais para
o mercado de trabalho atual no meio psiquitri-
co.
Mas como combinar o que especico de cada
grupo de estagirios e o que comum?
Marcus Usamos a idia de ncleo e campo.
Existe o campo que de todos. Ento ao cam-
po que de todos, nosso estgio d preferncia.
O campo dessa clnica, dessa atuao intensiva,
dessa atitude clnica, deve ser de todos: os enfer-
meiros, psiclogos, assistentes sociais, etc. uma
atitude, uma postura, e bvio que cada um a par-
tir de uma ferramenta do seu ncleo especfco,
disciplinar.
Eduarda - No estgio, isso um diferencial.
J temos quatro anos de Programa, e foi um en-
contro importante, no sentido institucionalmente
produtivo; j passaram no sei quantas pessoas
por aqui, j abrigou muita gente. J so oito se-
mestres de atividades. Um aluno, ex-estagirio,
passou em primeiro lugar agora na residncia em
sade mental da UNEB. Outra passou para a re-
sidncia de Psicologia do Juliano Moreira. Ento
nossos estagirios esto se destacando.
Marcus - Acho que isso a, estas apostas, es-
tes espaos para formar, ensinar. A gente vem de
culturas profssionais diferentes, mas a busca de
se encontrar. isso a. Foi um encontro. Aqui, por
qu? Por essa coincidncia. Para mim tambm foi
o lugar menos hostil. Eduarda era uma pessoa
que dava para conversar dentro das disputas, dis-
putas polticas de Reforma, que eu me envolvo
por ser do movimento social, aqui era o lugar me-
nos contaminado. E tambm porque pensei: Poxa,
aqui um lugar menor, um hospcio pequeno.
A conjuntura do lugar, do tipo que seria possvel,
como foi. E, apesar de a gente falar que a gente
um tanto marginal, de a gente estar um pouco
fora, a instituio no nos abraa, mas tambm
nos tolera bem, cria at um mnimo de tenso.
Eu acho que poderia ser menor, mas a gente tem
conseguido.
Eduarda - Na verdade, h quatro anos tra-
balhamos com pacientes indicados pela institui-
o. Ento, ns fazemos a reunio, superviso do
Programa aqui. J pensamos assim, por que no
fazemos a superviso fora daqui, na FBDC, no
espao da UFBA? A gente mantm esta coisa de
fazer aqui dentro, porque a gente quer caracteri-
zar. s vezes temos problemas de sala, de espao,
mas queremos caracterizar que um Programa
no Mrio Leal, e com o Mrio Leal. No um
Programa clandestino.
Como se d a apresentao do programa aos
usurios?
A apresentao feita pelos prprios estagi-
rios do PIC que oferecem a possibilidade do pa-
ciente ingressar. A gente assume a identifcao
institucional como um programa do Mrio Leal,
pois no estamos fazendo nada clandestino. A
20
gente no ofcial do ponto de vista da ideologia,
da atitude. Fazemos questo de defender como se
fosse um algo mais, um plus do servio do hos-
pital para os pacientes. E ns temos a liberdade
de triar os pacientes segundo nossos critrios. A
instituio no nos impe isto segundo os critrios
dela. Nem nmero de pacientes, at na estrutura
inicial do programa.
Qual o critrio de seleo dos pacientes?
Eduarda - Inicialmente, o primeiro critrio foi a
internao e a reinternao. Aqueles que tinham
um ciclo de internao freqente, pacientes jovens
que, depois da primeira internao, sofrem com
a internao e a comea uma carreira. Este foi e
o primeiro critrio. Importante relatar um caso:
Um paciente que tem a primeira internao com
quinze anos e, com dezoito, j tem quatro interna-
es. Este um paciente tpico que nos interessa.
E um paciente considerado difcil, a carne
de pescoo para quem trabalha com internao,
porque ele volta e com o mesmo quadro, justif-
ca a internao para a equipe. Supostamente ele
precisa estar internado, porque se pensa que uns
no tm jeito, voc precisa intern-los.
Marcus E ento so esses que se internam
freqentemente, os que no tm jeito, os que
tm de internar que ns buscamos. Uma aposta
no contrrio. Ao tomar esta clientela, aceitamos a
provocao, bem so estes a, os taizinhos que
no tm jeito, que tm de viver internados, preci-
sam de internao. Ento, vamos ver o que pos-
svel produzir na vida dessas pessoas, manejando
um conjunto de atitudes para que elas possam
no precisar de internao. Ns estamos fazen-
do, na prtica, um debate entre intensifcao de
cuidado e necessidade de internao. Ento, ns
estamos dizendo assim: nenhum paciente precisa
ser internado. Alguns precisam de cuidados in-
tensivos, porque seus casos so muito graves e
precisam de uma ateno diferenciada se a gente
no quiser intern-los. Ento a gente est inver-
tendo um pouco, tem um carter demonstrativo;
o programa de uma perspectiva terica e tcnica
dentro da Reforma Psiquitrica. O que a gente
provoca nos alunos hoje que todos os pacien-
tes acompanhados precisam de cuidado intensi-
vo. Mesmo compensados, preciso estar sempre
com a antena ligada.
Existe um critrio de idade para ser aceito?
Eduarda - No inicio, at se tentou, mas no se
conseguiu manter este critrio. So duas idias:
uma era por pacientes mais jovens e outra que
no tivessem muitas perdas cognitivas. Mas aca-
bou predominando o critrio de se internar muito.
Agora se aceita quase tudo, o que se interna muito
e est muito abandonado e sozinho. Por exemplo:
tem um paciente com mais de vinte internaes
na vida. Paciente que leva a vida inteira sendo
internado, passa dois dias em casa e internado,
indo assim de um lugar para outro. Hoje temos
uma grande difculdade em mant-lo fora da in-
ternao. Na verdade, a gente passou os ltimos
meses praticamente sem que ele fosse internado.
21
Hoje, por acaso, ele est internado. Est interna-
do, porque ns somos muito insufcientes como
programa, somos muito limitados. Ao limitarmo-
nos mera presena, ns nos damos conta de
que ela no sufciente.
Marcus - preciso tambm os recursos estru-
turais, institucionais. Diria que, se ns tivssemos
hoje o manejo de recursos estruturais/ institucio-
nais, certamente ele no estaria internado. Es-
tou falando de uma atitude mais acolhedora na
emergncia, uma atitude/postura mais agressiva
da instituio no sentido de ser mais bem articula-
da com a poltica integral da cidade, com a rede.
Se a gente tivesse isto, ele no estaria internado.
Ele no foi internado por uma questo psquica.
Foi internado, pois ns no conseguimos superar,
com a mera presena, o grave dfcit social. E, di-
ga-se de passagem, este caso bom, porque ns
fzemos uma intermediao deste paciente para
ser atendido no CAPS, que devia, este espao,
possuir mais recursos do que ns, mas se trans-
formou no contrrio, ns que passamos a ser um
recurso do CAPS. Este servio, ao invs de apor-
tar novos recursos, aportou apenas, como recurso
fundamental para o paciente, a alimentao, por-
que ele no tinha como comer e, ao freqentar
aquela instituio, comeou a ter comida, com
muitas tenses, porque o CAPS fca muito irritado,
j que o paciente vai l para comer e no adere
aos outros tratamentos.
Os recursos da clnica do CAPS so
insucientes?
Marcus - Ns temos uma crtica, que a crti-
ca exatamente do que os gestores da poltica de
sade mental esto fazendo monta-se um equi-
pamento, mas no se tem a ideologia da intensif-
cao de cuidados. Ento o CAPS termina sendo
um lugar muito hostil, pouco acolhedor, pouco
sedutor, para que o paciente possa se vincular.
E nesse caso nos acabamos sendo o recurso do
CAPS. Apesar do programa do CAPS vir como
algo muito mais institudo, mais chance de gera-
o de recursos, de intervir no caso desse pacien-
te, ns passamos, praticamente, a contar com, o
CAPS para a alimentao, para voc ver como a
questo social. Ns conseguimos que o CAPS
fosse um recurso para produzir alimentao, mas
no para intensifcar cuidados junto ao paciente.
Eduarda - Ele tem uma situao social pecu-
liar. Ele mora num buraco com dois cmodos sem
luz, sem gua e sem gs, sujo. Mora numa cova,
um verdadeiro antro. Quer dizer, estas situaes
22
sociais, que ns estamos pelejando aqui, mas que
so limitadas pela mera presena sem institucio-
nalidade. Ento, ns no temos problemas, no
temos de demonstrar que os pacientes do pro-
grama nunca mais foram internados, basta ter
um programa como este. Claro que ns estamos
dizendo que o manejo clnico produz alterao
substantiva na qualidade de vida, na continncia
social. Altera muito as chances de o sujeito ser
internado.
Marcus - O paciente citado passou um ano
sem se internar, e isso s aconteceu porque ns
operamos o tempo todo ao lado deste sujeito.
Quer dizer, este sujeito no precisa de internao,
precisa de alguma coisa que o programa sabe,
mas no tem para dar. Mas sabe que possvel
dentro de uma poltica pblica de ser oferecido
para um cidado portador de transtorno mental.
O que ele precisa no nada estratosfrico fora
do campo do que uma poltica pblica de sa-
de mental pode oferecer. Ns sabemos do que
ele precisa, mas no podemos oferecer, porque
somos um programa limitado. Mas a tecnologia
de intensifcao de cuidados evidenciou ser um
caminho certo para operar com este tipo de sujei-
to. Quando convocado, o CAPS mesmo afrmou
que se tratava de caso para internao. O CAPS
at agora associou as foras expulsivas. Fizemos
todo movimento (durante um ano) para mant-lo
fora do hospital psiquitrico, e o que o CAPS tem
a dizer sobre este caso que ele um caso para
internao. Caso de internao por qu? Porque
ele no consegue dialogar com o caso. No con-
segue dialogar por qu? Porque falta repertrio
clnico, e a que entramos no seu assunto.
Ento o que faz a diferena a ideologia
da clnica?
Marcus - O grande diferencial do PIC, talvez, o
que a gente est querendo instalar, um novo re-
pertrio clnico, uma nova atitude para o exerccio
da clnica com essa clientela. Esta lgica que es-
tamos querendo problematizar, esta lgica, exata-
mente, que clnica essa? O grande problema da
Reforma Psiquitrica, hoje, a questo da incon-
sistncia da clnica que feita. H uma ideologia
geral, h um repertrio de atitudes prescritas, mas
existe um limite para operar na clnica. Ento, o
PIC est baseado no esforo terico e prtico de
uma fundamentao de uma clnica psicossocial
com psicticos, uma clnica que articule, no mes-
mo movimento, a questo da subjetividade e do
pertencimento social. No a clnica que tome a
questo da subjetividade como uma questo de
indivduo que est disfuncional e opere na clni-
ca da falta de funcionamento psquico do indi-
viduo e trate como uma outra coisa a questo
do pertencimento social, dos laos sociais e da
sociabilidade dos sujeitos. Ela uma clnica muito
emprica. Dentro dos CAPS, hoje, fazem-se mui-
tas coisas, fazem-se muitas ofertas, mas a articu-
lao, a fundamentao, a estruturao de uma
refexo sobre condio psquica e pertencimento
social, pertencimento social e condio psquica,
isto no est sendo feito.
23
Qual o diferencial da teorizao do PIC
em relao clnica psicossocial dos psicticos?
Marcus - o esforo de produzir um pensa-
mento que orienta a ao, uma atitude clnica,
baseada numa articulao que no os v como
dois mbitos diferentes. Estruturao psquica e
pertencimento social so duas coisas que esto
em mo dupla o tempo todo, em trfego intenso,
e quem quiser trabalhar nesta clnica, ser efetivo
nessa clnica, trabalhar integralmente, tem de ser
capaz de no separar, de no distinguir isto, mas
operar com uma coisa operando com a outra (es-
trutura psquica e pertencimento social, pertenci-
mento social e estrutura psquica). Talvez assim, o
que ns temos recenseado mais, o maior esfor-
o que a gente tem aqui de fazer essa costura.
Ensinar a clnica em que no se separa, agora
o social, agora o psiquismo. Mas agora a gente
pensa o psiquismo como sociedade, sociedade
como psiquismo, em vnculo, ou laos sociais, em
relaes, em sociabilidade, em pertencimento,
em convivncia, em expulso social, em excluso
social, pensa todas essas coisas. Em estruturao
do sujeito, em delrio, enfm, toma essas coisas
todas como produo que est no campo, que
precisa ser trabalhada, estudada.
Eduarda - Eu acho, pessoalmente, que o cam-
po da teorizao da clnica da sade mental um
campo que valoriza muito a questo do indivduo
e da abordagem individual. Os profssionais no
tm repertrio para lidar com a questo social e,
quando tm esse repertrio, lidam com a questo
do social como se ela fosse uma questo distinta
da questo da estruturao psquica individual.
Normalmente no tm repertrio, como se isso
no lhes pertencesse, e como se diz no prontu-
rio, a minha parte at aqui, ali o social e
sobre o social eu no tenho o que fazer. Inclusive,
um jogo de empurra, como se dividissem os
pacientes em vrios. Um lado o social, outro
o psquico, outro lado das drogas, outro a
famlia, como se o paciente fosse um bocado de
coisas separadas.
Marcus - Eu acho que essa clnica, que se cha-
ma clnica ampliada, ela vem mudar essa viso.
O paciente no s uma soma de um monte de
coisas, que no opera sobre os sintomas, ope-
ra sobre a presena do sujeito no mundo; consi-
deram-se as difculdades psicolgicas, subjetivas
para a presena desse sujeito no mundo e se con-
sidera que, efetivamente, o mundo o lugar que
realmente difcil para o sujeito estar se ele no
est operando num certo registro da normalida-
de. tentar produzir este dilogo entre o mundo e
o sujeito, o mundo psquico do sujeito e a cultura,
a cultura e o mundo psquico. Eu acho que a gen-
te trabalha muito forte com essa questo de per-
tencimento na cultura, a idia da psicose como
uma difculdade de ser scio da cultura e de que
nosso trabalho, nossa clnica exatamente essa
de criar possibilidades, de ampliar as chances de
esse sujeito pertencer cultura. s vezes eu digo,
um p na cultura: cultura, tem pacincia, afnal
de contas esse sujeito est psictico; um p na
psicose: psicose, tem pacincia, no fque nessa
24
posio, afnal de contas a cultura no perdoa,
a cultura exigente, no vai deixar voc fcar
nessa posio. Ento um pouco essa idia de
mediador.
A mediao seria uma nova funo do pros-
sional de Sade Mental?
Marcus assim que vejo. Esse operador da
sade mental como mediador dessa tenso entre
a disfuno psquica e a disfuno social, criando
a possibilidade do cabimento da disfuno ps-
quica no funcionamento social.
Eduarda - Ela uma clnica sofsticada, n,
Marcus? Voc precisa da alteridade, que outra
coisa que a gente trabalha tambm, alteridade no
lugar da autoridade. Eu acho que inicialmente
uma questo para os estagirios, elas vo visitar
os pacientes do programa que se encontram in-
ternados em hospitais, e s vezes no CAPS tam-
bm, as equipes de l fcam dizendo: ah, vocs
so babs dos psicticos. Aqui ns damos auto-
nomia. Ento, tem uma leitura equivocada dos
termos que so hoje em dia socialmente corretos,
politicamente corretos. Autonomia um termo
que comum hoje na sade mental, mas autono-
mia como desresponsabilizao. Ento, tem esse
detalhe tico. um equvoco o que est aconte-
cendo com o termo autonomia: os pacientes
tm autonomia, eles tomam medicao se eles
quiserem, eles vo ao caps se eles quiserem, no
temos nada com isto. Vem autonomia como
desresponsabilizao do tcnico em relao
psicose. Tenrio fala que quanto mais pertencente
a alguma coisa (vrias coisas) maior grau de au-
tonomia esse sujeito adquire.
Marcus No PIC, a gente lidou com vrios
casos de recusa do paciente que a gente aplicou
aquela idia da reforma psiquitrica italiana, da
lei 180, que afrma: o paciente tem o direito de
recusar tratamento, a unidade de ateno sa-
de mental tem a obrigao de oferecer o aten-
dimento. Ento, colocar essa contradio, esse
direito de recusa e a obrigao da oferta como
ponto de negociao. Porque se um tem o direito
de recusar, o outro tem o dever de ofertar. Voc
faz o ponto de tenso que s pode ser solucio-
nado atravs do ponto de negociao. O servio
tem de ser capaz de convencer o sujeito que ele
vai receber o servio. E o sujeito? Respeitando o
sujeito, ele tem o direito de recusar, ou seja, se o
servio no for convincente, ele no vai cumprir
sua funo se ele no tem de convencer o pacien-
te que ele deve aceitar. E ele s deve convencer,
no pode impor fora, porque o paciente tem
o direito de recusar. Em vrios casos aqui a gente
usa esse paradigma, sobretudo os casos de pa-
cientes que dizem assim: eu no quero ver vocs,
vo embora. A a gente diz assim: voc tem o
direito de no querer ver a gente, mas a gente
tem a obrigao de vir c e dizer que a gente est
sua disposio. Ento, temos a um problema.
O seu direito o nosso dever, nosso dever tico
de te perceber numa condio fragilizada e de
perceber suas condies de fazer estas delibera-
es sobre seu desinteresse por ns. Porque voc
25
est supondo que ns estamos no lugar de perse-
guidores, porque voc est supondo que vamos
colocar voc nesse lugar hostil. Ns no estamos
nesse lugar hostil, sabemos eticamente disso, va-
mos s sustentar nossa presena at a hora em
que voc tope conversar com a gente.
Eduarda Em vrios casos a gente teve de
aplicar isso aqui. T certo, isto um problema,
seno a gente se demite da responsabilidade do
problema: voc no quer, voc no quer! pro-
blema seu assim que o CAPS faz: estou res-
peitando que voc no quer. E eu pergunto, no
engraado? Quando ele quer se jogar l do
alto, acho que posso intimid-lo, no respeito o
que ele quer! Quando acho que ele diz que vai
matar algum, eu interno e no respeito o que
ele quer! Agora, quando ele diz para mim que
no quer a minha presena, eu rapidamente fao
concordncia com ele e digo: eu respeito o que
voc quer. Ento uma coisa meio de conveni-
ncia.
Marcus - Esse um ponto legal, um ponto ra-
dical. Tivemos aqui trs ou quatro casos em que
tivemos de enfrentar isso, ao de nos demitirmos
da responsabilidade. Vimos que o problema era
um problema da nossa dinmica clnica, ento
ns fomos desafados a mudar nossa dinmica
clnica de abordagem para permitir que o pacien-
te se sentisse confortvel para aceitar nossa oferta.
Ento, na hora em que ele se sentiu confortvel,
ele aceitou nossa oferta. Ento, esse o ponto em
que ns trabalhamos com um sofsticado pensa-
mento. Na verdade, no a tecnologia que so-
fsticada, o pensamento sobre essa difcil atitude
que oferecer uma clnica para essa clientela.
E qual a relao do acompanhamento terapu-
tico com o programa, como que ele entrou?
Marcus Na verdade, hoje eu penso que cada
vez mais ns tendemos a defnir a clnica como
baseada no manejo das relaes vinculares, des-
de o conceito de transferncia (strictu sensu), con-
ceito j consagrado na clnica da sade mental.
Ns extrapolamos esse conceito de transferncia e
manejamos mltiplas relaes vinculares. Isto, de
alguma forma, pode defnir essa clnica como cl-
nica do manejo das relaes vinculares. Por isso,
no lugar do estgio, ns dizemos que trabalha-
mos com a clnica que preserva a relao transfe-
rencial, e, para isso, delimitou-se um setting para
preservar a relao terapeuta-paciente, porque
aquela relao vincular promove os efeitos tera-
puticos (voc pode chamar isso de reforo de
pureza, pureza do vnculo transferencial isolan-
do atravs do setting). A questo que o setting
do servio substitutivo exatamente o setting da
contaminao, no tem esta pureza, as relaes
vinculares so atravessadas, ligadas por muitos
aspectos, muito dinmicas. Ento, temos a um
fato, uma condio nova. E o saber psicolgico,
psicanaltico, relao psiquiatria-mdico-pacien-
te, ela no se preparou para lidar com essa di-
menso das relaes vinculares transversais, para
lidar com a dimenso das relaes vinculares res-
tauradas nos processos de convivncias coletivas.
26
Ento, uma clnica que no sabe sobre isso, ela
no tem recurso de pensamento.
Ento o vnculo um conceito central
para vocs?
Marcus - Essa clnica est baseada nesse re-
curso, manejar as relaes vinculares como orien-
tao nessa clnica. E a, a gente vem trabalhando
com a idia de que ns fazemos muitas ofertas
(no ofertas tipo pacotes), de que o programa,
na verdade, baseado em vrias possibilidades,
em articulaes dessas relaes vinculares, e uma
dessas possibilidades essa coisa de ateno do-
miciliar. Hoje o paradigma da ateno domiciliar
comea a ser desenvolvido no PSF, na idia de
medicina da famlia, algumas coisas comeam a
ser desenvolvidas a partir do saber sobre ateno
domiciliar. Ateno domiciliar tomar o lcus do
domiclio como lcus de ofertas de ateno. O
setting completamente tenso, conturbado, confu-
so, s vezes a gente vai l fazer a oferta dentro
desse setting, tomar o domiclio como setting da
oferta. Talvez esse seja um ponto forte sobre o
qual a gente nem saiba tanto, mas a gente apos-
tou nele, e ele foi revelando uma potencialidade.
Talvez os PSFs tenham um saber sobre isso, dife-
rente do saber que ns estamos produzindo, que
o manejo das relaes vinculares transversais,
cruzadas, enfm.
Eduarda - Ns trabalhamos com as duplas,
pessoas que vo para dentro das casas. As ar-
ticulaes das duplas: uma escuta fulano, outra
escuta sicrano, ou seja, maneja-se esse conjunto
de relaes no ambiente da famlia. Outra coisa
que a gente faz uma aposta no trabalho com a
sociabilidade. Ento, o trabalho com a sociabili-
dade, com os pacientes, o esforo de produo
da sociabilidade, ela defne o espao do trabalho
grupal. E a gente mantm um grupo, o grupo do
encontro, que uma modalidade que a gente est
ainda ensaiando. Este espao de grupo um es-
pao importante. Dentro deste espao ns temos
um tipo de oferta que um esforo para olharmos
as necessidades sociais integrais.
Marcus Retomando a sua pergunta. Um
desses componentes que usamos nesse manejo
mltiplo o componente do Acompanhamento
Teraputico ou AT. Tanto na dinmica da relao
grupal, nos processos grupais, isto porque o pa-
ciente vem para o grupo acompanhado, vem in-
troduzido no grupo com o acompanhante, quan-
to nos passeios coletivos de todos os pacientes,
quando os estagirios saem com os pacientes
em grupo, que tambm divergem da estrutura
tpica do acompanhamento teraputico, em que
um acompanha um. Aqui, muitos acompanham
muitos. E tambm temos a dinmica do AT stric-
tu sensu, porque, s vezes, com cada paciente,
h uma dinmica relacional, s vezes a dupla sai
com um para isso, para aquilo. s vezes sai com
dois tambm, mas o mais comum sair a dupla
com um paciente, fazer coisas da necessidade do
paciente na rua, coisas ligadas cidadania: tirar
identidade, ttulo de eleitor, benefcio, ministrio
pblico, no tem regras.
27
A intensicao de cuidados ento mais
ampla do que o acompanhamento teraputico?
Eduarda - Temos de enfatizar mais a questo
do trabalho com as redes sociais na comunidade
a partir do ncleo familiar. Voc toma o ncleo fa-
miliar, a ateno domiciliar e uma certa expanso
disso para outras relaes, dos pacientes com, os
amigos por exemplo. Aspecto importantssimo
a articulao com os vizinhos, com a igreja, com
a comunidade, com a rua, com a barraca em
frente. A gente tem casos de a comunidade fa-
zer movimento contra o paciente, de brigar. Tem
uma situao em que o paciente xingou a me de
algum, e esse foi l brigar, bater no paciente, e
as estagirias l na casa tiveram de contornar, do
lado do paciente, intermediar, e depois voltaram
para trabalhar com os vizinhos, com o grupo de
adolescentes para poder conviver de uma outra
maneira. Articularam a rede objetiva e subjetiva
mesmo.
Marcus - Fazer advocacia do paciente na co-
munidade emprestar o poder contratual, aju-
dar a negociar uma melhor posio diante do
outro, usando o poder das estagirias: olha,
comunidade, vocs tm de ter pacincia com o
cara, porque ele est muito mal.
Eduarda - E s vezes o contrrio tambm,
s vezes o paciente entra em crise, no quer se
alimentar e tem um pastor que um integrante
importante na vida desse paciente, e bastou que
esse paciente conversasse com ele para que ele
conseguisse se alimentar, para produzir uma in-
terferncia a partir de uma outra relao que
signifcativa para ele, para interferir no caso dele.
E tem um caso interessante de estagirios que fo-
ram fazer uma visita a um paciente que mora aqui
perto do Mrio Leal e foram assaltados no meio
do caminho. A roubaram a bolsa e o celular dos
estagirios. Eles voltaram para o Mrio Leal, a
moa chorando, o rapaz no podia chorar, por-
que homem no chora. E todos num clima de
drama, porque afnal de contas, veja como ar-
riscado esse programa, colocou os estagirios em
risco, eles foram comunidade que moravam as
pessoas pobres, perigosas, que assaltam as pes-
soas, todo um drama. E, enquanto esto todos
l, discutindo esse drama, vem a paciente trazen-
do a bolsa da estagiria, dizendo eu estava na
porta da minha casa, de repente vi fulano passar
com uma bolsa e reconheci, aquela bolsa a bol-
sa do meu estagirio. Corri l, falei com no sei
quem, e no sei quem foi l e trouxe a sua bol-
28
sa. Tome aqui sua bolsa, na minha comunidade a
sua bolsa no ser roubada.
Marcus , pelo ponto de vista do lao social,
produziu proteo para os estagirios, pela ques-
to do vnculo, do manejo. Em todas essas ope-
raes, h questes que nos fazem aproximar da
temtica do AT. Entretanto ns produzimos cursos
sobre AT, incentivamos, enfm. Nos interessa mui-
to qualifcar as principais funes tpicas, o modo
de operao tpica do AT, ainda que isso esteja
calcado na perspectiva didtica, de uma dade
do acompanhante e paciente. Ns achamos que
isso pode ser uma base nuclear interessante, para
pensar na questo da continncia, do holding, de
uma srie de funes que o AT pode exercitar. , a
dinmica psquica do psictico, ela muito com-
plexa, toda informao terica, clnica que puder
ajudar para que um sujeito compreenda melhor
o que signifca estar diante de um paciente psi-
ctico, acho que essa a matria principal que
tem faltado no mercado, que um preparo para
que os sujeitos possam se localizar diante desse
enigma, que a psicose, se que possvel isto.
Que o sujeito possa ter um repertrio mais elsti-
co para se movimentar diante do sujeito psictico.
A gente acha que este programa um preparo,
um tipo de preparo para o trabalho, e, no caso,
este preparo a gente procura trabalhar aqui no
estgio. Na verdade, o que a gente est prepa-
rando nesses estagirios uma atitude para uma
postura. Lio nmero um para quem quer traba-
lhar com pacientes psicticos: preciso aprender
a suportar a psicose! Esse um ponto de partida
que interroga hoje os nossos servios. Os servios
hoje esto cheios de pessoas que, ao invs de
suportar a psicose, agridem a psicose com uma
certeza clnica que advm da teoria psicanaltica,
da psicopatologia psiquitrica, enfm, das diver-
sas formas de localizao do sujeito psictico.
Os servios no esto preparados para lidar
com os pacientes?
Marcus - Acho que pouco preparados, terica
e tecnicamente, para a clnica com psicticos. Eu
olho a, esse pensamento meu, e vejo que h
uma asfxia ttica que impede qualquer clnica de
prosperar com esse sujeito esquisito a, arranja-
do psiquicamente ao modo da psicose. Com esse
tipo de fechamento, em que a teoria hegemnica
produz a certeza sobre o que o sujeito tem, se
incapaz de produzir qualquer efeito dialogante
com a psicose. Ento, eu acho que isso a perda
de tempo. A atitude clnica que a gente desenvol-
ve essa atitude que tenta produzir a condio
de suportar.
O acompanhamento teraputico no seria um
recurso til a?
Marcus H um saber sendo produzido nes-
sa relao didica do acompanhante teraputico
com o acompanhado que nos interessa, que
uma matria til para o nosso trabalho. Agora, a
gente acha que o AT o recurso, ou o melhor
recurso? No! Porque o que estamos falando de
manejo das relaes vinculares. Se a gente tem
29
uma crtica ao abuso do setting tradicional que,
para manejar as relaes vinculares, isola a rela-
o vincular, que protege o lugar da relao vin-
cular, que, para isso, tem de se fechar numa sala,
trancar seu dilogo entre quatro paredes, porque
s assim vai produzir esse lao que vai permitir
a interferncia transferencial. Se a gente identif-
ca tudo isso, lgico que a gente valoriza o AT,
na medida em que o AT rompe com esse setting
e coloca o sujeito numa situao de exposio.
Ele cria para o AT a necessidade de fexibilidade,
de lidar com as situaes de transversalidades,
com os atravessamentos, com a simultaneidade,
com a multiplicidade de situaes. Ento, o AT
progressivo em relao ao tema de ruptura com
o setting clssico da clnica, que tenta reduzir a
relao do sujeito pelo recenseamento simblico
que ele apresenta no contato. Ou pela postura
ou pela atitude fsica do paciente tenta-se deduzir
coisas sobre ele. O AT entra na vida do pacien-
te, tem mais chances de receber do paciente in-
formaes, perceber, fazer leituras interpretativas
acerca das dinmicas subjetivas, psquicas do pa-
ciente psictico.
E quais seriam as limitaes do AT em relao
proposta de vocs?
Marcus - O AT ainda est mantido no registro
de uma sociabilidade privatizada, ou seja, a re-
lao didica ainda tida como ponto principal
da sustentao. Mas acontece uma coisa interes-
sante, l em So Paulo, onde essa prtica mais
difundida, onde se vem casos assim: um pacien-
te, para ser cuidado, tem de ter um psiquiatra,
um psiclogo ou psicanalista, e a tem um AT. O
AT para possibilitar as dinmicas da sociabilida-
de. como se cada um desses sujeitos tivesse de
preservar um campo de especifcidade da sua
atuao para garantir a efetividade do que ele
faz. E a ns estamos propondo algo diverso com
essa idia de cuidado intensivo, baseado no ma-
nejo das relaes vinculares, mltiplas, diversas,
aquelas que foram fundamentais para o desen-
volvimento do CAPS como projeto de instituio
de cuidados aos psicticos. Estamos perguntan-
do, na verdade, que especifcidade essa onde
um escuta, o outro medica, e o outro circula pela
cidade? Que histria essa? Que lugar esse?
O grande desafo perguntar: algum capaz
de trafegar por tantas posies diante do sujeito e
sustentar sua posio de alteridade diante dele?
A exposio convivncia do profssional com o
sujeito atendido em mltiplas situaes, mltiplos
espaos, mltipla referncia, coloca que tipo de
risco? Coloca o risco de que a alteridade seja per-
dida, mas isso um problema da relao vincu-
lar, esse um problema do material, do preparo
do sujeito que est posto nessa relao. Talvez o
que ns estejamos dizendo, querendo dizer, que
talvez seja possvel para um sujeito experimentar
mltiplas posies diante do paciente sem perder
a posio da alteridade.
Como se articula essa questo da alteridade
com a noo de vnculo?
Marcus - Esse tema muito interessante, por-
que, muitas vezes, existe uma confuso entre a
30
posio que sustenta a alteridade e a perspectiva
moral que exige dos psicticos uma submisso
autoridade. Fica aquele papo da alteridade como
autoridade, e, muitas vezes, fca parecendo que
a fgura da alteridade exerccio de autoridade.
Autoridade: eu sou um mdico, eu sou um psica-
nalista, eu sou seu AT. Fica parecendo que o que
sustenta a relao vincular uma certa autorida-
de do saber sobre a psiquiatria, sobre psicanlise,
sobre AT; e no a postura do cuidador que conse-
gue manter-se na condio de um Outro vlido
diante do psictico. No CAPS, eles dizem no ser
possvel suportar a convivncia, suportar o grupo,
porque eles aprenderam teoricamente que tm de
lidar no espao neutro, no espao que no conta-
mine. Se eles esto no grupo, se esto no espao
da convivncia, eles se expem, entram em cho-
que contra sua prpria questo.
O vnculo seria um tipo de transferncia?
Marcus - Ou a transferncia que apenas mais
um tipo de vnculo? Entendeu? Ns estamos, na
verdade, fazendo uma provocao do campo, o
principal campo orientador da fundao terica
do preparo para a clnica mental que a psica-
nlise. E ela toma a transferncia ao modo de
uma relao vincular muito especial, e ns esta-
mos partindo da transferncia para dizer tudo
vnculo. A grande questo saber qual o prepa-
ro que algum tem de ter para se sustentar numa
posio, em mltiplas localizaes diante do su-
jeito, sustentando alteridade. Isto tem a ver com o
preparo do sujeito, isso no um ideal absurdo,
s vai exigir que esse profssional seja um profs-
sional mais permanentemente atento e mais de-
vidamente centrado na sua funo, no seu saber,
na sua localizao no mundo. Ou seja, vai exigir
um profssional mais sofsticado. Agora, ns no
podemos querer colocar as pessoas em ambien-
tes, em settings absolutamente diversos, mltiplos,
movimentados, coletivos e manter a referncia te-
rica, interpretativa da clnica no registro da rela-
o didica.
Eduarda - Temos podido desenvolver essa pro-
blemtica, a problemtica de como que a gente
pode, sem culpas e sem dar satisfaes a nenhu-
ma igreja terica especfca, tentar produzir uma
clnica baseada na alteridade e no vnculo, sobre-
tudo considerando que, de vez em quando, voc
pode no conseguir, que de vez em quando voc
vai falhar, voc vai se perder, mas ainda assim,
sem culpa, sem aquela obrigao, sem aquela
imposio, sustentar a busca de uma clnica que
se envolva na complexidade das relaes sociais
concretas que defnem as possibilidades e as po-
sies dos sujeitos no mundo. Resistir tentao
de reduzir a complexidade do sujeito para caber
nas nossas convenincias tericas.
Marcus - Mas, sobretudo est a tarefa de pro-
duzir um elemento orientador para a prtica cl-
nica: olhe, diante do paciente, eu tenho que o
tempo todo estar fazendo alteridade, e a alterida-
de estar sempre centrado na minha funo, na
minha escuta, na minha atitude, na minha posi-
o. A gente est tentando que desenvolvam essa
31
habilidade, que muito mais uma atitude, que
tem relao com o preparo, que tem relao com
as idias que esto sendo orientadas. Ento,
por isso que aqui hoje eu disse assim: as pessoas
tm uma atitude, ns oferecemos uma presena
orientada por um certo pensamento que compre-
ende o que a psicose, o que signifca o delrio,
o que signifca a crise, o que signifca um deter-
minado tipo de produo dos pacientes em sua
vida, que os outros que esto l com os pacien-
tes, que tambm so sujeitos psquicos, que tam-
bm esto expressando sua condio de sujeitos
barrados, as suas difculdades, suas limitaes, e
ns produzimos uma interao entre sujeitos ps-
quicos precrios. Somos todos sujeitos psquicos
precrios, inclusive o sujeito que est atendendo
o outro sujeito. Devia ser preparado, mas pre-
crio, e, dentro dessa precariedade, ele busca se
preparar para superar a precariedade. Ns todos
somos sujeitos psquicos precrios, e os psicti-
cos sujeitos psquicos com um tipo de precarie-
dade, os seus familiares com as precariedades e
ns com nossas precariedades: um encontro de
precrios.
Como se d a formao para atuar
no programa?
Eduarda - Se tem uma metodologia que as-
sim: exposio durante dois meses, mera exposi-
o aos pacientes. O segundo momento reser-
vado para a teorizao; em seguida vem a ao.
Este programa assim, quem quiser participar do
estgio tem de fcar durante as frias para receber
os pacientes da dupla que est saindo. Ento, a
passagem uma fase do estgio, o primeiro
contato do paciente com seu futuro acompanhan-
te. Durante a passagem, ele progressivamente
apresentado ao paciente, informado que substi-
tuir e ele, durante um ms, vai sendo repassado,
ento ele vai da posio de algum que est che-
gando at a posio de algum que est saindo.
Em momento nenhum o atendimento interrom-
pido. Nas duas primeiras semanas, voc (a dupla
que est chegando), e nas duas outras, voc (a
dupla que est saindo) atuam juntos. Ento faz a
o que a gente chama de passagem, a depois,
aps um ms, o paciente est por conta dos no-
vos. Ele conhece o paciente nas 4, 5 semanas,
mas sabe muito pouco sobre qualquer coisa, seja
sobre clnica, seja sobre psicose.
Marcus O aluno vem com uma experincia
mnima e, s vezes, nenhuma sobre a psicose. Ele
nunca viu algum psictico, ele nunca se relacio-
nou com algum psictico, no viveu experincia
anterior, virgem na relao com a psicose. No
mximo, viu pacientes internados na disciplina de
psicopatologia. E a a gente deixa um perodo ini-
cial de quase um ms e meio pelo menos (s a
j vo quase dois meses e meio de convivncia).
Dizemos assim, s seja delicado e gentil, simp-
tico e presta ateno, esteja presente, mas no
complique, no perturbe a vida do paciente, por-
que o contato com o sujeito psictico uma das
principais fontes de aprendizagem sobre a psico-
se. Nada das idias que so trazidas aqui podem
substituir o contato com a experincia do sujeito
32
psictico. Passagem e depois exposio psico-
se. Aqui se tem uma concepo terica: a psi-
cose ensina. A psicose uma obra da produo
psquica que tem uma direo de trabalho, de su-
perao. Ento, so crenas tericas de trabalho
que orientam essa atitude, de que a psicose en-
sina, de que quem quiser aprender aprende com
a psicose. s prestar ateno, tem de ter uma
postura de abertura. A tem a questo: abertura,
suporte, acolhimento. Na primeira fase, a gente
est preocupado com as idias mais gerais sobre:
vnculo, internao, fases da reforma, a base do
programa, o que que a gente faz, e as pessoas
esto l em contato. Ento, est em descompasso
clnico, as pessoas esto angustiadas porque no
sabem o que fazer, so incompetentes, e a gen-
te no est oferecendo recursos de interpretao
nesse momento.
E a formao terica?
Marcus - Depois dessa fase, a gente comea,
paulatinamente, a oferecer mais recursos tericos
das mais diversas fontes: pode ser teoria sistmi-
ca, psicanlise lacaniana, psicanlise freudiana,
Pichon Rivire, dos grupos, das teorias da reforma
psiquitrica, da clnica antimanicomial, podem ser
coisas teis e interessantes para pensar em instruir
esse contato com os sujeitos (estagirios), com os
pacientes (tambm sujeitos). Ento, essa interpre-
tao mais ou menos assim. Ns comeamos
a perceber que comea a se instaurar um pensa-
mento e atitude clnica. Ex: uma estagiria relata
que percebeu que precisa lidar de forma diferente
com as mes de diferentes pacientes, ou seja, no
h uma condio indicada a seguir, cada caso
nico. O que os estagirios apreendem so deles,
isso aprendizagem clnica. lgico que ningum
vai sair daqui perito em intervenes precisas de
clnica da psicose. Ningum pode ensinar, e no
h esta percia, muito mais a postura, a atitude,
a interpretao e a abertura e capacidade de su-
portar.
Seis meses d para atingir o objetivo?
Eduarda - Claro que no, quem fca mais tem-
po desenvolve mais, mas percebemos que tem
uma mudana de postura, isso sim. Mudana de
postura, compreenso, atitude. Em seis meses,
as pessoas adquirem leitura acerca do psiquis-
mo, um olhar sobre o psiquismo psictico e uma
postura clnica. So seis meses intensivos tambm
para os estagirios. Eles atendem fnal de sema-
na, noite, pela manh. Alguns pacientes eles
esto visitando trs vezes por semana. s vezes,
os estagirios saem da casa do paciente mais de
9h da noite, tentando negociar: s samos da-
qui aps voc tomar o remdio. intensifcao
tambm de contato, de conhecimento, de convi-
vncia clnica, de impacto.
Marcus - Mas tambm uma interveno pe-
daggica. Ao falar da forma que lida, orienta os
estagirios, cada supervisor com seu estilo prprio
pai e me, rgido, brando. Tem pessoas aqui
que precisam deslocar de posio, elas tentam
nos enrolar, se voc no der uma dura, uma de-
sorganizada... E melhor que ela se desorganize
33
aqui, na superviso... s vezes algum chora, pois
somos todos sujeitos psquicos precrios. A provo-
cao um pouco calculada, cada um recebe do
jeito que pode agentar. No nos interessa deses-
tabilizar a posio defensiva, estas coisas tm um
certo clculo, um manejo da aprendizagem, das
transferncias, do rigor, do esforo da tica.
Eduarda - Eles, os estagirios, trazem um inte-
resse muito grande, que vai alm da nossa exign-
cia, ns conseguimos gerar, a partir do clima de
equipe, um ambiente de altssimo envolvimento.
Marcus - Trabalhamos e operamos com o con-
ceito de autonomia radical. Talvez assim as pes-
soas acreditem na minha autoridade, pela minha
forma forte e dura, s vezes, de tratar os temas,
mas o grau de autonomia com que as pessoas
operam enorme, talvez seja essa a tenso, pois
as pessoas operam com muita autonomia. A or-
ganizao da dinmica do atendimento muito
por conta dos estagirios. Ns supervisionamos,
naturalmente. A avaliao feita a partir da mu-
dana de atitude, a fala, como falam com o pa-
ciente, o desenvolvimento psquico do paciente,
a mudana no pensamento clnico, tudo. Um
alto grau de envolvimento, comprometimento.
A aprendizagem principal, que tudo move, da
perspectiva tica. Uma perspectiva tica de aber-
tura, de generosidade, de compreenso que esse
o servio, que eu posso at no querer fazer o
servio, mas entender que esse o servio, isso
que tem de ser feito. T certo que essa a clnica,
eu posso achar pretextos, justifcativas, explica-
es para no fazer, mas o que que tem de ser
feito, o que deve ser feito? O que a psicose preci-
sa que seja feito? Nossa proposta assim: faa
segundo a necessidade da psicose, no precisa
a gente mandar, faa segundo a necessidade da
psicose, a psicose vai lhe interpelar, e, se ela lhe
interpelar e voc estiver sustentando ativamente,
voc no vai ter para onde correr. Voc vai ter
de entrar e vai ter de responder, ou vai se demitir,
cair fora, voc no vai fcar no meio termo. E nor-
malmente, de modo geral, a atitude das pessoas
muito bacana, s no elogio demais, porque
seno estraga. Fico muito orgulhoso, a gente
nota, que pessoas bacanas, que aprendizagem,
voluntria, gastando dinheiro do prprio bolso,
pura transferncia com o trabalho. O fato de
estarem ali por escolha facilita, porque permite
que voc tenha uma equipe ali que est a fm. A
forma como a gente conseguiu criar o ambiente,
sem institucionalizaes, mas muito nessa idia:
tem de fazer aquilo que a psicose exige. O que
34
a clnica? Fazer o que a psicose exige. Na su-
perviso, orientamos assim: voc est atendendo
o que a psicose est exigindo, o que que o caso
est pedindo? O caso pede, voc faz; ou voc se
demite ou voc atende. Eles so os responsveis
pelo caso, so eles que devem prestar conta, so
eles que esto em contato com o paciente, s ve-
zes, trs vezes por semana.
Eduarda -Tem alunas para as quais o estgio
signifca, pela primeira vez, ter contato com as
realidades sociais muito duras, tem um aspecto
muito duro. Moas muitas vezes preservadas, que
so de famlias de classe mdia, fazem cursos
pr-ativos, e as pessoas herdam essa generosi-
dade. Pois esta coisa de terapia ocupacional e
psicologia no vai dar dinheiro, mas voc j tem
uma certa direo generosa, so pessoas protegi-
das socialmente. Para algumas delas, a primeira
vez que vo se expor vida da pobreza, da de-
sigualdade social, da misria. Ento, no fnal, h
um discurso como - foi uma lio de vida muito
importante. H casos das estagirias que expres-
sam no estar suportando a situao de vida/
misria de certo paciente, ento a gente altera,
inclui mais um na dupla/trio, e recua aquele que
no est suportando.
E a histria de se trabalhar em dupla?
Marcus - Na verdade, outra sacao, tudo
assim, muito emprico. Na verdade, no primeiro
semestre foi muito difcil, porque a gente tinha de
inventar o programa. Algumas idias agora fcam
mais fceis de a gente dizer, n? A gente achou
um jeito, criou umas regras assim, tem uma idia.
Mas essa coisa de dupla, por exemplo, uma coi-
sa fundamental. Hoje, no faria de outro jeito. T
certo, no sei se funcionaria de outro jeito. Traba-
lhamos em dupla, sempre que possvel, duplas de
T.O. e Psicologia. Depois criamos uma coisa as-
sim: dois pacientes com uma mesma dupla, e um
terceiro com uma dupla diferente, para criar alte-
ridade. Porque trs pacientes com a mesma dupla
cria um vcio na dupla. Para comparar: quando
eu trabalho com fulano, assim; quando eu tra-
balho com cicrano, de uma forma diferente. A
qumica das duplas diferente na abordagem, na
atitude, na aprendizagem. A histria das duplas,
acho que traz assim, suporte recproco para elas,
o fato de estarem acompanhadas, a questo do
testemunho, feedback, pensar junto, testemunhar
o desenvolvimento e a difculdade do outro. En-
to, eu acho que o fato de fazer em duplas criou
uma qumica interessante do programa. No faria
diferente, at porque o manejo, uma vai cuidar da
me, elas vo se dividir, pois esto lidando com
transferncias mltiplas, transversais, as pessoas
podem se aproximar, fazer um revezamento.
Mas a troca destas duplas a cada semestre no
cria diculdades?
Marcus - Uma das nossas descobertas mais in-
teressantes colocou em xeque uma das questes
centrais do programa que era a questo da psico-
se, a questo vincular. Ento, nosso eixo, nosso di-
logo, nosso enfrentamento de pensar a psicose,
35
que expressa uma difculdade de pertencimento
social, de lao social, da condio de ser scio da
sociedade. Ento, a questo vincular passa a ser
para ns como uma questo de manejo delicado
na psicose, vnculo e manejo em todo lugar (flho,
pai, me, professor, aluno, etc). A psicose exige
uma delicadeza no manejo clnico. E o fato de o
paciente psictico ser um sujeito, s vezes, refra-
trio ou narcsico, no investimento vincular, torna
a questo de, de seis em seis meses, trocar as
pessoas um problema. Ento, a cada seis meses,
ns vivemos um processo de reconstruo da re-
lao vincular com as novas duplas. Ento, esse
um exerccio que no era intencional, mas prope
marcar uma transferncia no com o sujeito, mas
com o lugar do outro, com o lugar de cuidador.
Ento, eu acho que isso uma coisa bacana, que
a gente precisa desenvolver teoricamente, por-
que boa parte dos pacientes tem fcado pacfcos,
no so todos, tm alguns que problematizam o
enigma vincular, para eles muito radical. Vrios
pacientes esto entrando numa um pouco assim:
no quero nem saber, eu sei que tem algum
aqui comigo. Se vai embora, fco com saudade,
mas vem outra pessoa e do que eu sei que es-
tou me dando bem, que tem algum cuidando de
mim, preocupado comigo, com uma atitude boa
comigo, que me faz bem. Entendeu? Como se
fosse uma espcie de treino psictico com a ques-
to dessa alteridade do vnculo, que seria uma
questo emblematicamente sria dos ncleos cen-
trais da psicose. At o fato de ter, de seis em seis
meses, de mudar de dupla, que pode ser, para al-
guns, um obstculo, impossvel. Como o paciente
no vai poder se vincular?! Ele vai construir uma
histria, ele vai ter uma oportunidade de construir
uma no, 5, 6, 12, vrias histrias vinculares, em
um curto espao de tempo, com pessoas que tm
um zelo, um cuidado vincular, pessoas que esto
postas numa relao vincular, no lugar de alte-
ridade, delicadeza com eles. Ento, como se
fosse (estou pensando nisso agora) uma espcie
de treino para o manejo desse enigma. s vezes
dizem que o psictico aprende de ouvido, que ele
no tem o outro dentro. Ele pode treinar que o
outro existe, que o outro tem certo modo de ope-
rao e que ele pode se adequar a isso, e a vida
pode ser menos tensa.
Como vocs vem a possibilidade do progra-
ma, ao invs de ser um estgio, ser um traba-
lho permanente, de ele se tornar um recurso
desenvolvido dentro do CAPS?
Marcus - Na verdade, eu acho, a gente acha
que isso deveria ser no um programa, mas que
isso deveria ser uma orientao terica, meto-
dolgica, tcnica e tica para o trabalho com a
clnica psicossocial no interior dos CAPS. Na re-
alidade, a gente acha, porque a gente no est
no CAPS, porque esse seria o trabalho do CAPS.
A gente est no Mrio Leal, com essa condio
de ser uma unidade de internao, e por qu?
Porque ns queremos desenvolver uma metodo-
logia com determinados arcabouos de inter-
pretao terica, a gente quer desenvolver uma
certa metodologia que possa ser orientadora da
ao clnica. Ns temos certeza de que estamos
36
preparando pessoas para trabalharem no CAPS.
Aqui, a turma daqui vai chegar ao CAPS e vai dar
show, show de atitude, de postura, de manejo, de
depoimento do que est fazendo na vida, show
de clnica. Pode no estar to afado do ponto de
vista da percia tcnica, da clnica, porque isso
exige muito treino, muita bagagem. Eles so ti-
cos, fundamentalmente pela postura, pela atitu-
de, na presena, na interpretao do fenmeno,
do jogo de cintura, da capacidade de movimen-
tar-se no setting. Aos profssionais que atuam no
CAPS falta, muitas vezes, esse preparo prvio, o
saber se movimentar, saber sair para a rua, para
a cidade, saber juntar muita gente: eles tm medo
de misturar, t certo? A turma aqui no tem medo
de misturar. Em uma situao de crise, as meninas
so muito bem resolvidas, escutam: t delirando?
Esto l dentro da casa com a famlia, calma a,
sem alarmar, sem tragdia, com uma desenvol-
tura.
Eduarda E, s vezes, a experincia do CAPS
a de fcar esperando do paciente demanda es-
pontnea. O paciente em crise, o CAPS fala no,
no vai l, que ele est em crise. As meninas di-
zem no, porque, se ele est em crise, que a
gente precisa estar l; porque este treino de seis
meses d essa perspectiva. Eu tenho certeza de
que ns estamos preparando recursos humanos
para trabalharem na Reforma Psiquitrica, para
trabalharem no CAPS. O recurso bsico, o recur-
so isso, nem tinha essa pretenso toda. Aqui as
pessoas esto passando por uma formao que
tem pontos mais fortes, pontos altos, tem defci-
ncias, certamente, coisas que Marcus e eu domi-
namos pouco.
Marcus - muita coisa, o campo mltiplo
demais, e, dentro do que a gente conseguiu sis-
tematizar, a gente tem um roteiro de direo que
tem um clima de muita dedicao e interesse. As
pessoas esto atentas, esto interessadas, h uma
sintonia quem o pode mais, pode o menos. Se
esta atitude clnica desenvolvida aqui e voltada
para a psicose o que mais desafa a clnica da
reforma psiquitrica, eu acredito que, no futuro,
com treino especifco, ns poderemos ter bons
terapeutas para as outras clnicas, para CAPSI,
CAPS AD. A atitude principal que as pessoas ad-
quirem, depois do treinamento especfco que ns
damos, centrado na questo da psicose, lhes per-
mitir uma atitude clnica bastante diferenciada.
Artigos de crena
39
A
relao entre teoria e prtica , certamente,
uma questo central quando se trata do pre-
paro para o trabalho com a coisa mental. Este
preparo envolve um tipo de treinamento no qual
o exerccio do encontro emprico com o fenme-
no mental deve se articular com a administrao
da teoria. No pode haver dvidas em relao
ao lugar ocupado pela teoria nesse processo. Um
repertrio terico amplo e diverso deve estar
disposio como pensamento disponvel para ilu-
minar este encontro. Somente assim a teoria pode
encarnar-se, ganhar as dimenses singulares de
uma aprendizagem subjetiva que defne o estilo
de cada um que deseja ocupar este lugar de um
agente profssional de cuidados s pessoas que
demandam tal ateno. O encontro clnico que
ensina aquele em que a mediao da teoria
ajuda a romper com a especularidade que marca
a relao entre dois sujeitos, introduzindo a um
terceiro atravs da dimenso simblica represen-
tada pela teoria. Mas preciso cuidar para que
a teoria no assuma o governo desse encontro,
aviltando as dimenses complexas da realidade
emprica, pretendendo reduzir s categorias do
pensamento, os aquecidos fenmenos subjetivos
com os quais lida. Entendemos que todos os su-
jeitos que trabalham com a clnica tm a obriga-
o de responder interpelao acerca dos seus
motivos de agir: como entendem o fenmeno que
trata e como o tratam. Todo sujeito tem a obriga-
o de explicitar as razes do seu fazer clnico,
ainda que ao modo de uma reconstruo que se
faz posteriori da interveno. Todavia, sem o
encontro emprico, impossvel apreender a cl-
nica. No h leitura terica que possa prescindir
da experincia quando se trata de construir um
saber clnico de tipo intelectual, mas, sobretudo,
subjetivo. Tampouco podemos prescindir nessa
tarefa da companhia do Outro. Do outro mais ex-
periente, e sempre haver algum mais experiente
ou com uma outra experincia, que nos cuidar
subjetivo, que nos escutar numa superviso, que
nos transmitir conhecimento num seminrio ou
curso. De muitos outros colhi, ao longo do ca-
minho, no esforo de produzir a minha sistema-
tizao, formas de entender, formas de explicar,
em nome das quais, hoje coordeno este projeto
de preparo para futuros trabalhadores de sa-
de mental. Nestes artigos de crena, explicito
as minhas fragmentrias construes, a partir da
quais tenho buscado criar pontos de partida para
as interrogaes daqueles pelos quais academi-
camente sou responsvel por orientar e que espe-
ram de mim que eu seja uma boa companhia no
seu processo de iniciao. Atravs destes, textos,
aulas transcritas e notas de trabalho vo registran-
do um pensamento que se sabe, sempre, apenas
uma expresso nas fronteiras da ignorncia. Mas,
por hora, isso o que eu tenho oferecido.
Marcus Vincius de Oliveira Silva
Alguns artigos de crena...
40
A CLNICA INTEGRAL:
O PARADIGMA PSICOSSOCIAL COMO UMA EXIGNCIA
DA CLNICA DAS PSICOSES
*Marcus Vincius de Oliveira Silva
* Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva IMS/UERJ, Professor Adjunto da Faculdade de Filosofa e Ci-
ncias Humanas da UFBA, Coordenador do Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental do
Departamento de Psicologia da UFBA, Criador e Supervisor do PIC - Programa de Cuidados Intensivos
a Pacientes Psicticos.
O
programa de ateno psicossocial a pacien-
tes psicticos com histrico de internaes
psiquitricas, marcados pela condio de incio
da carreira manicomial (com vistas a sua inter-
ceptao) ou pela grande freqncia de interna-
es motivadas por situaes de fragilidade social
est baseado no conceito de intensifcao de
cuidados, que decorre de uma compreenso das
necessidades clnicas de natureza psicossocial
presentes nessas situaes e que, de um modo
geral, so negligenciadas pelos modos tradi-
cionais de organizao da oferta de assistncia
aos mesmos. Por intensifcao de cuidados,
compreende-se um conjunto de procedimentos
teraputicos e sociais direcionados ao indivduo
e/ou ao seu grupo social mais prximo, visando
o fortalecimento dos vnculos e a potencializao
das redes sociais de sua relao, bem como o es-
tabelecimento destas nos casos de desfliao ou
forte precarizao dos vnculos que lhes do sus-
tentao na sociedade. De carter ativo, a inten-
sifcao de cuidados trabalha na lgica do um
por um e pretende colher o indivduo no con-
texto de sua vida familiar e social, estabelecendo
um diagnstico que respeite a complexidade de
cada caso em suas peculiaridades psquicas e so-
ciais. Baseada em visitas domiciliares regulares,
de prospeco e interveno, a intensifcao de
cuidados oferece desde os recursos teraputicos
tradicionais at o assessoramento existencial do
qual os sujeitos psicticos carecem, com vistas a
contribuir para o processo de re-organizao de
suas vidas, para o enfrentamento das tendncias
socialmente expulsivas motivadoras das re-inter-
naes freqentes. Como elemento de suporte e
de organizao do programa, a intensifcao
de cuidados investe na produo de novos es-
paos de sociabilidade, sustentados no interior da
instituio, criando dispositivos coletivos de aco-
40
41
lhimento e convivncia atravs da grupalizao
dos sujeitos, bem como para os seus familiares,
apostando no poder do vnculo social como um
elemento fundamental da continncia psquica.
Como pressuposto e justifcativa fundamental de
tal perspectiva, temos a compreenso de que, an-
tes de se constituir como doena mental e ser
inscrita como um fato mdico, a psicose, inter-
pretada como loucura, caracteriza-se por ser um
fato social. Torn-la mdica no retirou dela sua
condio de ser um fato social, mas a reinscreveu
numa certa perspectiva reducionista cujos nicos
benefcirios so certas instncias de poder social
das quais os sujeitos loucos no participam ou
usufruem. O ponto de corte para a construo
do comportamento bizarro ou desviante como
alvo das intervenes psiquitricas, sobretudo na
gerao das demandas de internaes, situa-se
antes em marcadores sociais do que em marca-
dores clnicos ou da sintomatologia estritamente
psquica. Todo fato psquico um fato social. No
existe fato psquico que no se inscreva como fato
social. No existe fato social que no se inscre-
va como psiquismo. A loucura ou a psicose
como fato psquico encontra-se marcada pela
condio de ser um fato social estridente e signi-
fcativo. Somente quando os sintomas interferem
na ordem social de forma relevante, o sujeito ser
inscrito no quadro do desvio psiquitrico, sobretu-
do quando afetadas as suas qualidades de auto-
regulao, autonomia pessoal e/ou econmica ou
de perturbao da ordem. No que os elementos
de alterao do funcionamento psquico deixem
de ser relevantes na defnio da gravidade dos
casos psiquitricos, mas apenas quando essas al-
teraes ultrapassam um certo patamar da crtica
social, os encaminhamentos dos casos os direcio-
nam na busca de ajuda e, mais especifcamente,
na demanda de internaes. Portanto pode-se
considerar que, nos casos denominados como
urgncias psiquitricas e que demandam inter-
naes, ao lado dos seus componentes psquicos,
encontram-se envolvidos vultosos elementos de
administrao de situaes sociais complexas que
no so compatveis com as simplifcaes ana-
lticas e institucionais mormente encontradas na
estruturao dos dispositivos clnicos tradicional-
mente disponveis. Portanto o paradigma da cl-
nica psicossocial das psicoses pretende devolver
clinica a condio de operar com a complexidade
do seu objeto, manejando um conjunto heterodo-
xo de recursos e possibilidades que extrapolam
os limites disciplinares, acadmicos e/ou corpora-
tivos que, tradicionalmente, moldaram de forma
reducionista os fenmenos sobre os quais preten-
de intervir, de modo a submet-los s convenin-
cias protocolares das instituies.
1- Os ambulatrios que no ambulam e oferecem consultas episdicas e intermitentes, com dispensa
insensvel de psicofrmacos, desresponsabilizando-se pelo conjunto complexo da vida dos sujeitos, que
seguem completamente margem da abordagem mdico-psicolgica; as internaes psiquitricas que
somente intervm se responsabilizando pelos sujeitos pela via da tutela, e, para tal, os seqestram
da vida social por perodos longos, para, em seguida, devolv-los a sua prpria sorte, sem nenhum
tipo de acompanhamento; as emergncias psiquitricas que respondem quase que exclusivamente
pelo pico das situaes de crise, sem nenhum compromisso com os casos que transcenda o mero
encaminhamento para os primeiros ou para os segundos.
42
Loucura, Cultura, Instituio e Sociedade
1
Marcus Vinicius de Oliveira Silva
*
H
oje, graas aos estudos de alguns autores da
histria social da loucura, do manicmio e
da psiquiatria, tais como Foucault, Rosen e Cas-
tel, pelo menos no plano terico, est solidamente
estabelecida a compreenso de que os transtor-
nos mentais e emocionais sempre estiveram asso-
ciados noo de doena mental de forma to
exclusiva como ocorre contemporaneamente.
A antiguidade judaica e greco-romana, por
exemplo, parece ter construdo uma interpreta-
o complexa desses fenmenos, relacionados
s condutas impulsivas, desordenadas, incomuns,
irracionais, que, reunidas sob o signo da loucu-
ra, comportavam variadas explicaes acerca de
suas origens e de suas signifcaes. Tais sistemas
de signos e de signifcados eram, por sua vez, ma-
nejados socialmente atravs de prticas institucio-
nalizadas vinculadas a diferentes aspectos da vida
social: jurdicos, artsticos, religiosos, etc. (Rosen,
1968; Pelbart, 1989).
Aparentemente trans-histrica, trans-cultural, a
percepo da loucura, do transtorno como alteri-
dade que chama ateno do grupo social no qual
se insere parece ser uma constante. Como afrma
Rosen:
cada sociedad identifca ciertas formas de
conducta aberrante o extrema, como el transtorno
mental o locura. Em otras palabras, em la lnea de
la conducta humana, desde aquello que uma so-
ciedad considera normal hasta lo que juzga anor-
mal, hay algun tramo em que surge uma critica
social y el individuo comienza a ser considerado
loco... la valorizacion de tales indivduos y de su
conducta por parte de los miembros de la comu-
nidad y su aceptacion como simplesmente excn-
tricos dentro de los limites socialmente toler ables,
depender de vrios factores. Uno grupo de ellos
incluye el estilo y la coherencia de tal comporta-
*Texto extrado da Dissertao de Mestrado do autor. A emergncia da cultura Psicologica na Bahia;
ISC/UFBA, 1995, Salvador, Bahia.
2 - Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva ISC/UFBA, Professor Adjunto da Faculdade de Filosofa e
Cincias Humanas da UFBA, Coordenador do Laboratrio de Estudos Vinculares e Sade Mental do
Departamento de psicologia da UFBA, Criador e Supervisor do PIC - Programa de Cuidados Intensivos
a Pacientes Psicticos.
43
miento, su orientacion respecto de la realidad, y
tambien la existncia de instituiciones sociales que
hacen possible que esos indivduos cumplan algu-
na funcion acetable. (Rosen, 1968, pg 162).
Diferenciao! ... Alteridade frente a uma
norma social, em relao a qual ela sempre
transbordante em algum aspecto: tal parece ser a
marca registrada da loucura! E exatamente essa
condio de alteridade frente sociedade institu-
da que obriga a mesma sociedade a reconhe-
cer o distrbio mental enquanto tal, instituindo os
signos e as prticas que devero mediar o seu
relacionamento para com ele. Foucault comenta:
Pareceria, sem dvida, inicialmente que no
existe cultura que no seja sensvel, na conduta
e na linguagem dos homens, a certos fenmenos
com relao aos quais a sociedade toma uma
atitude particular: estes homens, nem completa-
mente como doentes, nem completamente como
criminosos, nem feiticeiros, nem inteiramente tam-
bm pessoas comuns. H algo neles que fala da
diferena e chama a diferenciao... (Foucault,
1975, pg 87).
Assim, a loucura e os loucos parecem colocar,
de forma prtica, uma srie de questes a serem
elaboradas e respondidas, na conduta e na
linguagem, pelas comunidades nas quais eles
tm sua existncia, derivando da a possibilidade
de distinguirmos dois nveis solidrios entre si e
de perspectiva relativizadora no processo de ins-
titucionalizao das relaes entre sociedade e
loucura.
Num deles, poderamos agrupar aquele con-
junto de questes que se inscrevem no campo
das Representaes Sociais e que, de caracters-
ticas simblico-cognitivo-perceptuais, referem-se
institucionalizao de um conjunto de idias,
signos e valores associados loucura. Essa seria
aquela dimenso do processo de institucionaliza-
o da sociedade ao qual Castoriadis denomina
em seu ensaio A instituio Imaginria da Socie-
dade como a dimenso de LEGEIN: um mo-
mento fundamental do processo de instituio da
sociedade, mbito das operaes por meio das
quais o mundo social ordena-se atravs da lgica
Conjuntista Identitria, prottipo das operaes
lgicas mais comuns na estruturao do nosso
pensamento ocidental, constituindo-se este lei-
gein, segundo ele, em uma dimenso essencial
e ineliminvel, no apenas da linguagem, mas de
toda a vida e de toda atividade social (Castoria-
dis, 1986, pg 260).
Tentemos, pois, esclarecer um pouco mais
essa dimenso. Segundo Castoriadis, imposs-
vel pensarmos a nossa sociedade fora do refe-
rencial conjuntista que estrutura logicamente a
nossa percepo dos variados entes existentes no
mundo. E para podermos falar de um conjunto ou
para pensarmos um conjunto, preciso recorrer
s operaes que, se hoje so distintas para ns,
no grego antigo se incluam na compreenso de
um nico termo, no caso leigein, evidenciando
um tipo de unidade perceptiva da realidade que
enfatiza sua dimenso descritiva:
Distinguir-escolher-estabelecer-juntar-contar-
dizer. Objetos, coisas, pessoas, tais so as ope-
raes fundamentais e essenciais do leigein:
condio e ao mesmo tempo criao da socie-
44
dade, condio criada por aquilo mesmo que ela
condiciona. Para que a sociedade possa existir,
para que uma linguagem possa ser instaurada e
funcionar, para que uma prtica refetida possa
desenvolver-se, para que os homens possam rela-
cionar-se uns com os outros de maneira que no
no fantasma, preciso que de uma forma ou de
outra, em determinado nvel, em determinada ca-
mada ou extrato do fazer e do representar social
tudo possa tornar-se congruente com o que a de-
fnio (de conjunto) de Cantor implica... (Cas-
toriadis, opus cit).
Ou seja, a possibilidade da instituio da socie-
dade humana tem como pressuposto um modelo
lgico em que tudo seja consoante com a clebre
defnio de conjuntos proposta pelo eminente
flsofo-matemtico: um conjunto uma cole-
o em um todo de objetos defnidos e distintos
de nossa opinio ou de nosso pensamento. Es-
ses elementos so denominados os elementos do
conjunto (Castor, apud Castoriadis Opus. cit).
O que o autor pretende ressaltar da a im-
portncia da idia de que a instituio da socie-
dade, o ordenamento da sociedade como uma
(singular), e no como outra qualquer, pressupe
as operaes conjuntizadoras-distinguidoras-hie-
rarquizadoras, pois o fazer/representar social,
base e suposto do processo de instituio da so-
ciedade, pressupe e se refere existncia de ob-
jetos percebidos como distintos e defnidos, que
podem ser reunidos e formar todos, componveis
e decomponveis, defnveis por suas propriedades
determinadas e servindo de suporte defnio
dessas mesmas propriedades.
Limitados pelas necessidades prprias deste
texto a um aprofundamento na densa refexo
que esse autor prope no seu projeto de com-
preenso acerca do modo pelo qual se institui a
sociedade humana, pensamos que evoc-la aqui
ganha sentido, quando referido ao nosso interesse
de pensarmos a institucionalizao das relaes
entre sociedade e loucura, destacando a questo
das Representaes Sociais que se constroem so-
bre a mesma, enquanto um momento fundamen-
tal de ancoragem dos elementos institudos que
a referenciam.
Nesse sentido, ganha relevncia a identif-
cao dos signos utilizados para a defnio do
que seja a loucura, as interpretaes acerca das
suas origens enquanto fenmeno que se destaca
da normalidade social, a construo dos critrios
de identifcao dos atingidos, as defnies
das caractersticas e possibilidades que lhe so
associadas, dos vrios cdigos e regras relacio-
nais com os loucos, a interao desses cdigos
e regras com os diversos planos da vida social
(moral, jurdico, religioso, profssionais, etc.) de-
fnindo pelo menos parcialmente, (nas palavras),
um lugar para a loucura e os loucos no interior
da sociedade...
Se partirmos das teorizaes do socilogo-psi-
canalista E. Jaques acerca do papel das institui-
es enquanto sistemas defensivos contra as an-
gstias persecutrias e as ansiedades depressivas
provocadas pelas incertezas referentes ao futuro,
podemos pensar que a loucura, na sua essncia,
enquanto aquilo que transborda, enquanto regis-
tro de imprevisibilidade que foge a todas as nor-
45
mas sociais, coloca uma exigncia de signos e
prticas capazes de neutraliz-la enquanto ame-
aa, estranhamento, diferenciao: nome-la e
inscrev-la em algum conjunto de fenmenos,
abrindo as portas para as defnies operativas
que se consubstanciam nas prticas institudas
para o seu manejo social enquanto uma exign-
cia para a sua suportao e manejo social da sua
presena. (Elliot, Jaques, s/d).
Tal seria, portanto, a outra dimenso em que
poderamos distinguir, na teorizao de Castoria-
dis, o segundo nvel desse processo de institucio-
nalizao das relaes sociedade/loucura, que
alude quele grupo de questes que se inscrevem
exatamente no campo das atitudes, do fazer
social e referem-se institucionalizao das pr-
ticas atravs das quais a sociedade dever se re-
lacionar com a loucura segundo as defnies que
ela tenha estabelecido para a mesma.
Mantendo-nos, por coerncia, no mesmo re-
gistro da teorizao proposta pelo j citado fl-
sofo grego para a interpretao do processo de
instituio da sociedade, encontraramos para
essa dimenso a denominao grega antiga de
teukhein: juntar-ajustar-fabricar-construir. (Cas-
toriadis, opus cit.).
Fazer ser como... a partir de... de maneira
apropriada a... com vistas a... se o leigein
a dimenso conjuntista-conjuntizante do repre-
sentar/dizer social, o theukein corresponde di-
menso conjuntista conjuntizante do fazer social.
Diviso a partir da qual se instaura, mediante
uma instituio da realidade, uma nova diviso,
alm das do ser/no ser, valer/no valer prpria
do leigein: as do que seria possvel/impossvel,
factvel/no factvel no mbito dessa mesma so-
ciedade.
Dessa forma, no plano do fazer social, a reali-
dade instituda no apenas pelas suas possibili-
dades tcnicas de realizao, mas tambm pela
prpria inscrio do fazer social no mbito do que
admissvel como possvel pela sociedade.
Assim, sociedade e indivduos vivem e funcio-
nam toda vez na representao obrigatria de
possveis e de impossveis pr-constitudos, isto
, no estabelecimento imaginrio de uma realida-
de cujo seio a fronteira entre o possvel e impos-
svel seria (mesmo que objetivamente assim no
o seja) rigorosamente delineada em defnitivo; e
desde sempre. O prprio possvel assim estabe-
lecido como o determinado (o que , de cada vez,
possvel e o que no o , defnido e distinto); as-
sim como so estabelecidos como determinados
os meios, instrumentos, procedimentos, formas de
fazer que o transformam em atual efetivo... (Cas-
toriadis, opus cit. pg304s).
Dimenses inalienveis uma da outra, o teukein
implica intrinsecamente o leigein, remetendo-se
uma ao outro, reciprocamente, num movimento
de circularidade, no cabendo uma discusso so-
bre a primazia de uma das dimenses sobre a
outra. (Se a palavra, a designao precede o ins-
trumento, a tcnica ou o inverso).
Para dar um exemplo, na nossa cultura baiana,
diante de uma manifestao paroxstica em um
sujeito, marcada por espasmos, tremores, des-
controle motor, inconscincia, dentre outros, dois
46
signos, dentre outros, poderiam igualmente emer-
gir interpretando-a e/ou nomeando-a com igual
propriedade: se o sujeito observador for vincula-
do ao universo da cultura mdica, interpretar o
fato como epilepsia, mas caso j seja adepto do
candombl, possivelmente diagnosticar como
um efeito de santo, identifcando uma situao
de possesso. E, em cada uma dessas situaes,
j estar includa no ato da nomeao que faz
o observador a indicao de um tipo de ao a
ser desenvolvida, bem como os agentes, meios e
estabelecimentos capazes de oferecer-lhe respos-
ta. Se a epilepsia, uma ao de carter mdico,
com uso de frmacos, em um estabelecimento de
sade. Se santo, uma ao religiosa, via um sa-
cerdote afro, em uma casa de candombl.
Nesse sentido, poderamos dizer, retomando a
questo relativa institucionalizao das relaes
sociedade/loucura, que, ao mesmo tempo em
que a Sociedade conjuntiza-identifca a loucura e
os loucos, distinguindo-os/escolhendo-os/estabe-
lecendo-os/juntando-os/contando-os/dizendo-
os; ela estabelece o conjunto das possibilidades
para que eles sejam no mbito desta mesma
sociedade, defnindo as factibilidades da sua exis-
tncia, em coerncia com as defnies j pr-de-
fnidas em algum momento inaugural, marcado
pela criao social (Castoriadis, 1986r pg 225).
Patrocinar a Loucura no mbito de uma valori-
zao ritual, buscar a reverso das suas manifes-
taes atravs de encantamentos ou lobotomias,
regular a sua presena ou control-la atravs de
tal ou qual instrumento, tcnica ou instituio,
corresponderia, nessa perspectiva, mais do que
a uma escolha defnida pelo grau de evoluo
da tcnica ou do conhecimento (ainda que obje-
tivamente tambm o possa ser) a uma defnio
do admitido como o possvel para a loucura no
mbito de uma dada sociedade.
Posta tal refexo, entendemos estar indicando
um caminho para analisarmos numa tica relati-
vizadora os processos scio-histricos que, a par-
tir do sculo XVIII, alteraram os modos institudos
de relacionamento sociedade/loucura, criando as
condies para a emergncia de um novo para-
digma estruturador dessa relao, que permane-
ce at hoje como matriz, ditando as defnies
sobre seu modo de ser.
A INVENO DO NOVO DISPOSITIVO
Vrios esforos, alguns magnfcos, tm estabe-
lecido com riqueza de detalhes, a natureza desse
processo, as suas cronologias, seus momentos
fundamentais. (Foucault, 1978; Castel, 1978; Ro-
sen, 1974; Birman, 1978). No se trata, portanto,
de correr o risco de refaz-lo aqui apressadamen-
te, empobrecendo a descrio j traada.
Os vrios pesquisadores que se debruaram
sobre a tarefa de elucidao de uma histria
social da loucura, mesmo diferenciando-se em
relao s bases terico-metodolgicas que fun-
damentam as suas pesquisas, so unnimes ao
assinalarem as profundas transformaes opera-
das nestas relaes nos fns do Sc. XVIII, que cul-
minaram com o advento de uma Medicina Mental
cujo forescimento teve como palco a sociedade
47
francesa ps-revolucionria e que lana os fun-
damentos estruturais daquilo que viria a se consti-
tuir como a Psiquiatria Moderna (Foucault, 1978;
Castel, 1978).
Signifcativamente, a partir do Sc. XVIII, em vir-
tude de certas condies historicamente estabele-
cidas, relativas ao processo de transformaes so-
ciais, econmicas e polticas que caracterizaram
o advento da sociedade industrial, refetindo-se
num processo de mercantilizao da existncia,
na questo constituda pela presena dos loucos
na vida scio-comunitria, ocorreria um deslo-
camento que, empobrecendo a diversidade das
representaes sociais acerca da loucura vigentes
na poca, iria benefciar uma outra questo, que,
pragmaticamente, se colocou de forma proemi-
nente: o que fazer com os loucos?
Vrios so os indcios de que tal questo te-
nha estado implcita e explicitamente colocada.
A loucura que estivera silenciada desde os fns do
Sc XVI, submersa no oceano de miserabilidade
que marcou o processo de constituio das gran-
des metrpoles europias, retorna nesse sc. XVIII
alguma coisa do tom trgico e ameaador que
caracterizava a percepo da mesma ao fnal da
Idade Mdia, incio do Renascimento.
Algo como o prenncio de que aquele movi-
mento que Foucault descreve como a grande in-
ternao dramtica resposta social frente ao de-
sagregamento da ordem feudal e que se constitui,
segundo esse autor, na multiplicao dos espaos
de acolhimento/internao da pobreza, da doen-
a, do desvio e do crime j no era capaz de re-
solver, na indiferenciao, a problemtica relativa
presena social da loucura que a estivera at
ento, anonimamente inclusa e desapercebida.
Sintomaticamente, como registra ainda Foucault,
faz parte do discurso desse sculo um repetido
alarme de que a loucura estivesse aumentando,
mesmo que nenhuma evidncia houvesse acerca
de qualquer efetivo aumento dos loucos que fosse
maior do que o aumento da populao em geral
(Foucault, 1978, pg. 385).
Aparentemente, muito antes que na pr-auro-
ra do sculo XIX (1792), o gesto mtico de Pinel
viesse reivindicar uma separao dos loucos da-
quela corja srdida que infestava os espaos da
internao, o desenvolvimento lento de uma nova
sensibilidade frente presena social da loucura
j lhe vinha diferenciando durante todo o trans-
correr daquele sculo.
As razes do desenvolvimento da nova sensi-
bilidade e das respectivas mudanas na atitude
social em relao loucura, que tiveram lugar na
Europa da poca, podem ser analisadas e com-
preendidas como resultantes de uma conjuno
de fatores scio-econmicos, flosfcos e morais,
que apenas rapidamente vamos situar.
Sinteticamente, poderamos dizer que esse s-
culo gesta e prepara, ao lado da revoluo nas
tcnicas produtivas, uma nova defnio social da
realidade e do ser, que emergiriam como instin-
tuintes das signifcaes fundamentais que ainda
hoje orientam as nossas concepes acerca da
sociedade. A idia do trabalho como fonte de ri-
queza, da razo como guia do conhecimento e
do comportamento, do carter laico do poder
poltico so, sem dvida, algumas das mais sig-
48
nifcativas.
A nova sociedade que se projetava e buscava
instituir-se requeria uma nova representao dos
seus membros. Assim, ela os idealizava com um
novo dimensionamento da alteridade, ditada pelo
desenvolvimento da noo da individualidade.
Como afrma Barbu:
el individualismo econmico y poltico, el in-
dividualismo religioso a partir de la Reforma, as
como el individualismo en el arte, que comenz
con el Renacimiento y culmin con el Romantis-
mo, constituyen rasgos bsicos en las pautas cul-
turales de las sociedades de Occidente (Barbu,
1962, pg.10).
Projetando os seus membros como indivduos,
sujeitos da razo, previsveis, regulares, agenci-
veis e confveis enquanto agentes econmicos,
a nova sociedade que se inaugurava, fatalmente
teve que se colocar a questo do que fazer?
com aqueles seus membros que no poderiam ser
conjuntizveis a partir dessas caractersticas. O
que fazer com aqueles seus membros que, mar-
cados por uma condio de imprevisibilidade, de
incerteza no correspondiam s exigncias formu-
ladas para a pertinncia ao conjunto de sujeitos
aos quais, nessa sociedade, poderia se dar uma
existncia plena?
Seria, portanto, em funo de uma certa auto-
representao que a sociedade projetava para si
mesma, auto-representao, por sua vez, deriva-
da daquelas signifcaes imaginrias sociais a
partir das quais esta sociedade estava a instituir-se
a si mesma como sendo esta e no outra qual-
quer, que iria, portanto, se produzir, se delinear
um sub-conjunto de sujeitos sociais exclusos, que
colocariam um conjunto de exigncias prprias,
diferenciadas, relativas institucionalizao de
um novo fazer social que pudesse dar conta da
sua condio. No um fazer social qualquer, mas
um fazer social que oferecesse os meios e que to-
masse especifcamente a loucura como seu objeto
privilegiado de interveno, garantindo um lugar
aceitvel e admissvel para ela, ao mesmo tempo
em que a neutralizasse em seus efeitos de alteri-
dade radical, incmoda nova ordem vigente.
Tal necessidade, entretanto, apesar de j vir
sendo murmurada ao longo do sc. XVIII, sob a
forma de uma crtica que j distinguia e questiona-
va a presena da loucura no universo promscuo
dos espaos de internao, nos quais ela se en-
contrava includa, s ganharia contornos de uma
exigncia clara e explcita na conjuntura scio-
poltica caracterstica do advento da Revoluo
Francesa, ambiente no qual tal situao receberia
o seu equacionamento paradigmtico.
Efetivamente, seria diante do valor da cidada-
nia, emergente no quadro revolucionrio francs
como a afrmao de uma nova possibilidade de
representao dos sujeitos frente ao Estado, def-
nidora de um novo conjunto de direitos e deveres
do cidado, decorrentes do novo pacto poltico
que se institua em torno do ideal da contratua-
lidade, que a loucura teria defnida para si uma
condio de exceo frente aos direitos e deveres
a defnidos, fazendo presente a exigncia de um
novo fazer social capaz de equacionar a sua pre-
sena enquanto uma situao poltica excepcio-
nal (Castel, 1978).
49
E seria como resposta a tal busca que, percor-
rendo complexos caminhos nos quais se combi-
naram os termos da episteme racional-iluminista,
certas exigncias polticas estatais de gesto so-
cial e a disponibilidade de certos agentes sociais
para assumirem negociadamente a condio de
operadores prticos de uma nova soluo para
a questo da presena social da loucura, que a
soluo mdico-asilar se projetaria como a possi-
bilidade de tal equacionamento.
Racionalizadora, num momento em que a
episteme Iluminista transpirava o ideal da razo
enquanto projeto de ordenao da vida social,
a soluo manicomial proposta e executada pe-
los alienistas compatibilizava um conjunto de in-
teresses diversifcados, ao mesmo tempo em que
oferecia mais segurana e garantias que as alter-
nativas pr-existentes na soluo dos problemas
representados pela presena dos loucos na vida
scio-comunitria.
Encaixando-se perfeitamente nas exigncias do
emergente paradigma do direito contratual (subs-
tituto do direito real), tal soluo respondia tam-
bm adequadamente s novas exigncias econ-
micas, jurdicas, disciplinares, correlatas a este
paradigma, a saber: a defnio da capacidade
da auto-responsabilizao individual frente ao
trabalho; a subsistncia a lei, como condio
do gozo dos novos direitos conquistados.
Como analisa Castel, a loucura e os loucos
difcilmente podiam ser reduzidos a tal projeto de
poder contratual e, ao fcarem fora dele, criavam
questionamentos embaraosos, relativos univer-
salizao da igualdade enquanto direito poltico,
fragilizando a posio instituinte do projeto de
poder dos revolucionrios. Projeto de poder que
se encontrava naquele momento onerado pela
sua obrigao de demonstrar superioridade fren-
te ao poder aristocrtico ao qual se colocavam
como alternativa. Por outro lado, para resolver tal
problema, no se poderiam contrariar os demais
pressupostos ideolgicos e jurdicos sobre os quais
se baseava esta nova sociedade poltica. Entre os
quais, aqueles que garantiam, por exemplo, que
ningum seria preso, seno por desobedincia
lei, como fgurava nos textos legais, representa-
tivos desses mesmos pressupostos (Castel, 1978).
Como justifcar, portanto, a manuteno da
prtica de internamento, odiada como represen-
tao do poder absolutista contra o qual se insur-
gia a revoluo, agora abolido para todos, mas
excepcionalmente mantida como uma exclusivi-
dade para os loucos?
Pela anlise de Castel, em resposta a esta ques-
to, um grupo de higienistas e flantropos, dentre
os quais a histria reservou lugar especial para
Pinel, se ofereceram ao Estado, estabelecendo as
bases de um novo tipo de poder sobre a loucura,
caracterizado pelas suas caractersticas periciais,
fundado numa justifcativa tcnica e apoiado no
poder da instituio mdica. Converter os antigos
espaos na internao, local de amontoamento,
durante o sculo XVII, de toda ordem de desvian-
tes sociais (miserveis, criminosos, vagabundos,
dissidentes polticos, loucos, etc.) em instituies
de carter mdico, onde s os loucos restassem
a ttulo de uma exigncia teraputica - tal foi a
tarefa qual se propuseram.
50
Reuni-los em um mesmo lugar, neutralizados
sob uma mesma ordem (agora teraputica e no
mais policial), abaixo um mesmo poder (agora
tcnico e no mais poltico), constituindo-se no
projeto de alienismo, desencadeado pelo mtico
gesto de Phillipe Pinel, considerado o patrono
criador da psiquiatria.
Segurana para a ordem pblica, garantia
de sossego para os familiares, racionalizao de
procedimentos para o administrador, desrespon-
sabilizao para o legislador, desembarao para
a autoridade jurdica policial, tais so alguns
elementos responsveis pela ligeira aceitao e
institucionalizao do modelo fundado na exclu-
so manicomial da loucura. E foi com base nessa
oportuna conjugao de interesses que a emer-
gncia da psiquiatria pde criar no s o campo
institucional (o campo das instituies psiquitri-
cas), mas tambm um novo campo terico tcni-
co e sobretudo um novo falo scio-cultural.
A defnio de excluso manicomial inerente
a este paradigma psiquitrico, posto como mo-
dalidade fundamental de relacionamento social
com a loucura, ao conceder-lhe um alto grau de
efcincia prtica como resposta questo do
que fazer com os loucos?, iria produzir a sua le-
gitimao social, colocando-lhe como centro da
convergncia de um amplo e diversifcado leque
de interesses sociais relativos loucura, agora
convertida em doena mental. Pelo mesmo pro-
cesso, colocaria tambm os seus agentes e ins-
tituies numa posio privilegiada, enquanto
emissores de uma recodifcao e ressignifca-
o das percepes sociais que envolvem a ques-
to, condicionando atravs das suas enunciaes
os conceitos de Sade/Doena Mental.
Legitimado socialmente pela sua fliao ao
prestigiado campo tcnico cientfco e, de forma
prtica, pelo rigor da excluso da loucura por ele
propiciada, legalizado precocemente pela ast-
cia poltica dos seus pioneiros, que garantiriam,
j em 1838, no texto da lei, as prerrogativas da
sua exclusividade, esse modelo mdico-psiquitri-
co imps a sua hegemonia, estabelecendo como
subalternas todas as outras prticas, saberes,
ideologias pr-existentes, logrando identifcar-se
como a nica forma reconhecidamente idnea de
abordagem dos transtornos mentais.
Chancelado pelos critrios da racionalidade
tcnico-cientfca, este dispositivo mdico-psiqui-
trico, desde ento, no mais parou de se expandir
e de se inscrever nas mais diversas esferas da vida
social, desde o seu surgimento, no incio do sculo
XIX, at os dias atuais, ampliando e diversifcando
os seus espaos e objetivos de atuao: primeiro
a loucura, depois a doena mental, os confitos
emocionais, a vida psquica, a sade mental, o
comportamento humano, as inadaptaes e insa-
tisfaes, etc, etc. (Pinheiro, 1981).
Referncias
1. Birman, Joel (1978) A psiquiatria como discurso da
moralidade. Edies Graal: Rio de Janeiro.
2. Castel, Robert (1978) O Psicanalismo. Edies Gra-
al: Rio de Janeiro.
3. Castel, Robert (1978) A Ordem Psiquitrica: A Idade
de Ouro do Alienismo. Edies Graal: Rio de Janeiro.
51
4. Castoriadis, Cornelius (1982) A Instituio Imaginria
da Sociedade. Ed Paz e Terra: Rio de Janeiro.
5. Foucaul, Michel (1975) Doena Mental e Psicologia.
Ed. Tempo Brasileiro Ltda: Rio de Janeiro
6. Foucaul, Michel (1978) Histria da Loucura. Ed. Pers-
pectiva: So Paulo
7. Jaques, Elliot (s/d) Os Sistemas sociais como defesa
contra a ansiedade persecutria e depressiva: uma contri-
buio para o estudo psicanaltico dos processos sociais IN
Temas de Psicanlise Aplicada. (xerox, s/d ed.)
8. Pelbart, Peter P. (1989) Da Clausura do Fora ao Fora
da Clausura: Loucura e Desrazo. Ed. Brasiliense: So Pau-
lo.
9. Rosen, George (1974) Loucura y Sociedad: Sociologa
Histrica enfermedad Mental. Aliaza Editorial S/A, Madrid.
10. Pinheiro, Luiz H. Psiquiatra, Prof. Do departamento
de Neuropsiquiatria da FAMED/UFBA. Depoimento conce-
dido em 27/01/80, transcrio.
52
V
ocs se lembram que, l no comeo, ns f-
zemos uma grande discusso que estabelecia
que o que, efetivamente, vai parar na porta da
emergncia psiquitrica decorre mais da crtica
social sobre aqueles comportamentos que pare-
cem fora das regras pactuadas socialmente do
que do sofrimento do sujeito ou da sua situao
psquica? Lembram-se disso? O que que vai pa-
rar na porta da emergncia psiquitrica? O que
vem para ns como crise? O que aparece para
ns como crise so aqueles aspectos que causam
alguma ordem de estranheza e uma perturbao
social importante.
Lembram-se que vimos que quando o sujeito
perde a sua autonomia, principalmente a autono-
mia fnanceira, que ele vai criar uma perturbao
ordem? Vejam s onde que eu estou queren-
Psicose e ressonncias sociais
Marcus Vinicius de Oliveira Silva
*1
do chegar... Isso ns j falamos l no comeo,
eu s estou retomando, porque essa a primeira
deduo da psicose como questo social. Estou
querendo dizer, inclusive, que, se a psicose no
se apresentar sob esse formato disfuncional, ela
no problema para ningum, a no ser talvez
para o sujeito que vive essa estranha experincia.
Ento, a primeira deduo essa, de que a psi-
cose uma questo fundamentalmente social e o
que vai parar na porta da emergncia psiquitrica
, fundamentalmente, aquilo que corresponde a
uma perturbao psquica que gera algum tipo de
ressonncia social importante. muito bvio, no
? Sem ressonncia social, o fato psquico deixa
de ser relevante.
Mas, s vezes, difcil lidar, assumir isso assim.
Mas se pararmos para examinar qual o obje-
to que chega porta da emergncia do hospital
psiquitrico, qual o sujeito que trazem para a
gente, isso fca cristalino. Trazem o sujeito para a
gente, porque ele est disfuncional psiquicamente
ou porque a sua disfuno psquica gera algum
tipo de disfuno social? Ento, o sujeito que che-
* Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva IMS/UERJ, Professor Adjunto da Faculdade
de Filosofa e Cincias Humanas da UFBA, Coordenador do Laboratrio de Estudos
Vinculares e Sade Mental do Departamento de psicologia da UFBA, Criador e Super-
visor do PIC - Programa de Cuidados Intensivos a Pacientes Psicticos.
1- Transcries da aula de curso Elementos tericos para uma clinica psicosocial das
psicoses set. 2005 Salvador - Ba
53
ga at ns o sujeito que perdeu a funcionalida-
de social. Estou querendo dizer que no o crivo
estritamente psquico, do modo de funcionamen-
to psquico, que gera a demanda psiquitrica. O
que faz gerar a demanda psiquitrica basica-
mente uma relao dessa falta de funcionamento
psquico com uma reao social; a perda da
funcionalidade que converte esse sujeito num su-
jeito-cliente para os servios psiquitricos.
Essa primeira deduo fcil de fazer; a nossa
prtica cotidiana nos mostra isso o tempo todo:
quando algum chega a levar um outro algum
para a emergncia psiquitrica porque esse ou-
tro algum entrou na esfera de atrito com a or-
dem social, com a perda da autonomia, com a
capacidade do autogoverno, com a capacidade
da auto-responsabilizao pelos seus atos. Isso
a questo central da constituio da demanda
psiquitrica, isso no um detalhe a mais!
Eu no estou querendo desconsiderar que exis-
tem sofrimentos menores, que existe um conjunto
amplo de situaes sociais que vo ser psiquiatri-
zadas, mas eu diria que o dispositivo psiquitri-
co no se instituiu originalmente por causa des-
ses males menores. O dispositivo psiquitrico se
instituiu para enfrentar o grande mal que tem a
ver com a questo da governabilidade do sujeito.
Isso tambm j discutimos bastante, j apresentei
para vocs essa tese de que a grande questo da
constituio desse espao do campo de saberes
e prticas em sade mental est relacionada
questo da governabilidade social.
Existem grupos de sujeitos que no so gover-
nveis por si mesmos, e o principal deles, no di-
ria o principal, mas o destacado deles aquele
constitudo pelos sujeitos que ouvem vozes, que
saem da ordem social, rompendo com o orde-
namento simblico da cultura. Isso sim imper-
dovel do ponto de vista da cultura... Agora,
verdade que existe uma srie de outras perdas da
autonomia, outras formas de apresentao de fal-
ta de funcionamento social... Voc trazia aquele
dia a questo dos orgnicos; isso importante...
Eu fui a Camaragibe, em Pernambuco, fazer uma
inspeo num hospital psiquitrico que tinha 850
leitos e 100 pacientes neurolgicos graves numa
ala. Aquilo um impacto quando a gente entra
na ala. um impacto, sobretudo porque se trata
de um mega hospital, um hospital muito grande,
e essa ala uma jaulinha dentro daquela jaula
grande. Qual a questo desses sujeitos? Eles
tm uma limitao para cuidar de si e da vida,
para responderem por si mesmos diante de suas
famlias e seu grupo social.
Ento verdade que esses sujeitos, na medida
em que existe o hospital psiquitrico - vrios deles
tm problema na esfera da autonomia - vo parar
no hospital psiquitrico. Bem, o que que eu estou
querendo com isso? Eu estou querendo com isso
saber se possvel, com tranqilidade, a gente
afrmar que efetivamente a chamada questo so-
cial uma questo extremamente relevante para
a compreenso do fato cultural e comportamental
da loucura. A crtica social, a percepo social,
o incmodo social um elemento fundamental
para confgurar as apresentaes dos sujeitos que
ns recebemos como casos psiquitricos. Ser
que isso passvel de crena para ns? Ser que
54
podemos aceitar isso com tranqilidade?
Efetivamente, muitas vezes temos uma situao
em que um trabalhador experimenta grande sofri-
mento que o consome internamente, numa situa-
o de construo delirante que fca oculta, mas
que lhe garante estabilidade para que ele esteja
hgido para o trabalho, que ele esteja funcional
para o trabalho; e, sendo ento essa uma produ-
o sintomatolgica perturbadora, essa questo
no ser percebida socialmente e no ser ob-
jeto de uma interveno, de uma movimentao,
de um encaminhamento, de uma busca de ajuda
ou conteno do sofrimento... Ento, eu preciso
saber de vocs se isso tranqilo para vocs, se
vocs tm dvidas, comentrios, para que possa-
mos prosseguir. Essa a nossa primeira deduo
da psicose como um fato social relevante.
Por que estou chamando isso de a primeira
deduo? Porque estamos propondo um saber
clnico que leve em considerao as coisas que a
gente encontra na vida, um saber clnico que se
relacione com as produes sociais tais quais elas
chegam a ns. A crtica que ns fzemos h dois,
trs encontros atrs, dizia: olha, o sujeito efeti-
vamente se apresenta de forma perturbadora da
ordem, a crtica social em relao a essa perda
de autonomia do sujeito; a crtica est localizada
a, isso que faz efetivamente com que o sujeito
seja objeto de uma preocupao social endere-
ada emergncia psiquitrica. Isso no quer di-
zer que todos os sujeitos que tm problemas ou
difculdades vo ter essa apresentao, mas era
importante afrmar essa hiptese. Tranqilo para
vocs? Ento, ns podemos chamar isso de a
primeira deduo, de que, efetivamente, a cr-
tica social, a perda de autonomia, a perturbao
da ordem os fatores que constituem a demanda
ou uma parte signifcativa da demanda e dos pro-
blemas que ns recebemos na emergncia do
hospital psiquitrico.
Se essa foi a primeira deduo, a segunda
ser aquela que eu trouxe para vocs no outro
encontro: a idia da questo da psicose como
profundamente associada problemtica da
constituio do eu e do outro como base da
organizao psquica e de todo o processo de
signifcao. A psicose estaria relacionada, en-
to, a um evento que tem uma dinmica psquica
importante, independente de que ns possamos
descobrir no futuro que ela tem uma qumica ou
tem uma falta qumica, que tem um componente
gentico; enfm, independente disso, h um con-
junto de teorizaes que apostam que a psicose
tem uma coisa que envolve essa dinmica, que
a dinmica relacional que, ao sujeito psictico,
corresponderia uma dimenso onde essa questo
do eu e do outro fcou estabelecida de uma
forma precria.
Ns estamos englobando a vrias teorizaes,
ns estamos pegando Winnicott, Melanie Klein,
Bleger, Lacan... So vrias teorizaes no cam-
po psicanaltico, mas h teorizaes tambm no
campo da teoria sistmica, que vo estabelecer
que a questo da psicose encontra-se localizada
numa esfera relacional, derivada da questo de
como esse sujeito estruturou o eu como uma fun-
o do outro. O eu uma signifcao mater,
primeira, matriz de toda a possibilidade da sig-
55
nifcao. Signifcar sempre signifcar para um
determinado sujeito. Se no existe este lcus do
sujeito instalado, ento no haver signifcao.
O que as teorias psicanalticas nos trazem de
muito interessante nos remeter a um raciocnio
sobre como em cada sujeito este processo de tor-
nar-se um sujeito singular e se produz como um
arranjo psquico derivado da questo da signifca-
o. Esse o interesse de chamar essa teorizao
psicanaltica para compreender a psicose como
um arranjo psquico que se d no processo mes-
mo da instaurao do sujeito psquico. Portanto a
psicose seria uma forma de expresso do sujeito,
seria uma direo de organizao do sujeito.
Alguns sujeitos se organizam nessa direo,
um modo de se arranjar, fruto, fundamentalmen-
te, da questo da cesura, da questo da separa-
o. Mesmo l na teoria sistmica, a questo da
psicose aparece com a questo da separao. A
teorizao de Gregory Bateson, que o pai da
teoria sistmica, que, alis, nasceu das pesqui-
sas com pacientes esquizofrnicos, investigando
os padres de comunicao familiar entre mes
e flhos, toma esse tema da separao como re-
levante.
interessante porque, vejam s, no precisa se
fazer recurso s psicanlise; tem a uma outra
teorizao que no tem nada a ver com a psi-
canlise, mas que tambm se desenvolveu nes-
sa direo. Eu j contei aqui para vocs sobre o
Gregory Bateson, que foi um antroplogo e pai
da teoria sistmica. Ele estava trabalhando com
os Iatmul, uma tribo da Nova Guin, nos anos
30, e l descobriu um mecanismo atravs do qual
os sujeitos se diferenciavam uns dos outros den-
tro da tribo como pertencentes a certos grupos,
atravs do ritual do navem, e ele chamou isso de
sismognese.
Posteriormente, ele foi para Palo Alto, onde es-
tudou, fundamentalmente, a questo dos esquizo-
frnicos e a relao da produo da esquizofrenia
como funo das relaes de signifcao estabe-
lecidas nas relaes do grupo familiar. O que a
sismognese tem a ver com isso? Ns no pode-
mos chamar tudo de sismognese, mas essa idia
de separaes, a castrao inerente ao aprofun-
damento da individuao, uma boa idia.
Na histria dessa idia, ns a encontramos
tambm em Winnicott quando ele descreve as re-
laes do beb com a me e a importncia dessa
experincia como estruturante para a organizao
do processo de signifcado com base na defnio
do espao psquico, onde se organiza o sujeito e
o espao psquico que, em contrapartida, estrutu-
ra o outro; ns poderamos estar falando da mes-
ma coisa, de separao, de afetao recproca
entre eu e o outro que nos produz psiquicamente
e socialmente.
obvio, j falei com vocs disso, que no vale
a pena fcar fxo numa teorizao sobre esse pro-
cesso, j que o tratamos como uma mera hip-
tese que tem vrias construes. Vrios autores,
tericos trabalham essa hiptese, uma hiptese
muito boa, muito interessante para a gente pen-
sar a questo da psicose, para a gente pensar
num grupo de sujeitos que vacila ou que desliza
na questo da signifcao, que produz uma or-
dem de expresso de signifcados que so abso-
56
lutamente prprios e diferenciados. Ento, se eu
chamar isso aqui de segunda deduo da psicose
como questo social, fca claro para vocs?
Por que ns vamos entender isso aqui como
uma questo social? Porque a produo da vida
psquica, a organizao da vida psquica se d
numa relao que parece absolutamente ntima,
prxima, dual, mas uma relao que, de cer-
ta forma, reproduz o padro da cultura, que o
padro da existncia dos sujeitos para os quais
os outros sujeitos representam alguma coisa, al-
guma alteridade, representam algo que no so
eles prprios, que so diferentes deles. Essa a
condio da possibilidade de ser na cultura.
Ento, essas duas dedues esto claras? Des-
culpem por eu estar insistindo um pouco, mas
que, se isso no fcar claro, vai atrapalhar um
pouco l na frente, porque a idia de que toda
clnica deve dizer quais so as hipteses que ela
tem acerca do fenmeno com o qual trabalha. Eu
estou dizendo para vocs que essa clnica que ns
estamos discutindo aqui deve levar em considera-
o essas duas dedues que localizam a psicose
num eixo eminentemente social.
Ela deve levar em considerao essa primei-
ra deduo de que quando alguma coisa apa-
rece para mim, aparece como situao social,
por mais que seja particular. Por mais que seja
individual, um efeito social, uma ressonn-
cia social da perturbao que chega. E, por outro
lado, tambm do ponto de vista da dinmica que
produz o sujeito como uma subjetividade comple-
xa, o arranjo psquico complexo da psicose est
marcado por uma profunda questo social, que
aquela questo que eu disse para vocs, a da
signifcao atribuvel condio de ser scio da
sociedade.
Ns podemos pensar que a questo da psicose
uma problemtica referente ao pertencimento
do sujeito psictico na sociedade e no ape-
nas quando ele se encontra em crise ao invs
disso ser tratado como uma obviedade que
como alguns de ns, normo-neurticos vivemos
a nossa presena no mundo, pois geralmente
no botamos em questo o nosso pertencimento
comunidade humana, o compartilhamento das
experincias, sentimentos, compreenses com os
demais humanos. Para o sujeito que traz a marca
da psicose, isso se coloca de uma forma muito
enigmtica.
Para o grupo de sujeitos psicticos, isso no
se coloca dessa maneira. Isso produz um reba-
timento na percepo, na sensao de estar no
mundo, na sensao de estar no mundo habitado
pelos homens, na sensao de que h algo que
no fui, no oferece a sensao de compartilha-
mento. Lembra de quando eu falei para vocs da
iluso do compartilhamento intersubjetivo como
trao fundamental para a gente pensar a questo
da psicose e da neurose? De que ns, neurticos,
temos a sensao de que compreendemos per-
feitamente o que as palavras que vm do outro
querem dizer, e que o outro, por sua vez, acha
que ns compreendemos como ele compreende
aquilo que acabou de dizer? a iluso da comu-
nicao, da intersubjetividade.
Na neurose, a iluso do compartilhamento
simblico algo tranqilo. Ns at produzimos
57
desentendimentos briga de casal, desavenas
ns at podemos dizer radicalmente que a co-
municao uma coisa impossvel dentro dessa
perspectiva que eu estou trazendo, mas a iluso
do compartilhamento est sempre a para fazer
de conta que a comunicao possvel. No su-
jeito psictico, a experincia prtica, clnica, evi-
dencia a estranheza total, tanto em relao ao
que falamos para ele, quanto aos efeitos que o
discurso dele faz em ns, aquele mal-estar que
estar diante de um discurso delirante. E por qu?
Porque no sentimos nele o rebatimento da nos-
sa prpria subjetividade, que eu estou chamando
de pertencimento, da condio de ser scio da
sociedade.
Isso bom para a gente pensar numa srie de
outras coisas. Eu me lembro que causou muita
estranheza quando duas mulheres surdas, que
viviam juntas, quiseram ter um beb de proveta.
Prepararam geneticamente e fzeram uma seleo
gentica para a surdez, escolheram genes que
oferecessem mais probabilidade de que a criana
nascesse surda. Isso causou uma polmica geral,
e as duas explicaram que a comunicao surda
de outra ordem cultural, elas consideram que
no fazem parte da mesma cultura, elas acham
que existe um mundo prprio da experincia da
surdez, com sua comunicao, suas expresses,
e, recentemente, eu estava fazendo um trabalho
em que manejei esse recurso, e o sujeito surdo
que ns pegamos para conversar falava assim:
voc acha que linguagem de sinais universal?
Que nada! Os surdos do Rio de Janeiro conver-
sam de um jeito; os de So Paulo, de outro. H
alguma coisa em comum, mas so dialetos dife-
rentes. Dialetos na linguagem de sinais, isso no
muito interessante?
Estou, com isso, querendo chamar vocs a ima-
ginarem outros mundos, para a possibilidade de
organizao de outros mundos ou de outros regis-
tros da experincia de estar no mundo. A questo
na psicose, pelo menos no surto, que o mundo
outro. O que as mes surdas selecionaram foi
a condio de que o flho fosse scio da surdez,
scio desse mundo surdo, com compartilhamento
nesse mundo, inscrito nesse mundo. Para elas, o
que importa que a sua flha se comunique com
elas, que ela esteja integrada com a comunida-
de surda. O mundo diriam essas pessoas ns
no participamos do mundo, ns participamos
do mundo dos surdos e queremos que nosso flho
nasa surdo para viver no nosso mundo. Quem
disse que viver no mundo dos ouvintes a melhor
coisa? O mundo do surdo no defeituoso, no
errado, um outro mundo, uma outra forma de
construir a sociedade, com importantes especifci-
dades simblicas.
Eu trouxe isso para comentar a questo da di-
ferena, para pensar a psicose como registro de
diferena. claro que a psicose guarda a uma
radicalidade, porque no tem a comunidade
dos psicticos, no ? No assim: a sociedade
dos psicticos contra a sociedade dos outros, os
neurticos. que cada psictico organiza certos
registros de signifcao ou pode organizar, por-
que a maior parte do tempo, inclusive, eles vivem
grudadinhos no registro da signifcao com uma
sensao de diferena, mas tambm no so des-
58
ligados desse registro no.
Temos de fazer esse reparo, seno a gente co-
mea a pensar que a psicose permanentemen-
te o delrio, e a psicose no permanentemente
o delrio. O delrio justamente a expresso do
registro da diferena do arranjo psquico no que
tange questo da representao. Ento, a isso
aqui eu estou chamando de deduo, deduo
da questo social. A psicose, portanto, no s ela
apresenta-se para o outro social como um distr-
bio e perturbao, como ela se apresenta para o
prprio sujeito como distanciamento, como dife-
rena, como alteridade; como divergncia social.
Essas so as duas dedues que nos permitem
introduzir o tema de hoje, que uma questo ra-
dical na psicose, que deveria ser uma primeira
questo que ns deveramos levar em considera-
o numa clnica psicossocial das psicoses. Estou
me referindo questo da solido psictica.
Toda vez que tomamos um caso, quando rece-
bemos um sujeito, quando vamos abordar, quan-
do vamos receber uma certa demanda social que
envolve o sujeito psictico, eu acho que a gente
tem de pensar na hora, eu acho que a gente tem
de comear a pensar a psicose a partir da ques-
to da solido. No sei o quanto vocs so so-
zinhos, o quanto refetem sobre a sua solido, o
quanto j pararam para pensar quo importante
a questo da solido para a sade mental. O
psictico no fala da solido. Quer dizer, s vezes
fala, mas o psictico principalmente a solido.
O que impacta muitas vezes para ns o quanto
esse sujeito a solido, no sentido que ns vamos
comear a refetir agora.
Quem nos faz pensar a solido geralmente
o deprimido. A depresso nos impe muito essa
questo. Vocs entendem porque o deprimido nos
impe a questo da solido? Porque o deprimido,
de certa forma, reconverte libidinalmente para
dentro, o deprimido corta o sentimento para fora,
por isso muito difcil lidar com o deprimido, no
? Porque, de alguma forma, ainda que o depri-
mido no tenha nenhuma questo de comparti-
lhamento de signifcao, ele tomado por uma
certa ordem em que a signifcao tambm cai,
no ? O sentido tambm cai; a ele no conse-
gue fazer um investimento, ele faz uma reconver-
so libidinal, por isso ele nos remete questo da
solido. Talvez a expresso seja que o deprimido
problematiza a solido.
Agora, o psictico nem sempre problematiza
a questo da solido; o psictico, efetivamente,
expressa a solido, ele a solido. Insisto com
vocs nas dezenas de falas desse tipo que colho
no contato com os sujeitos psicticos: meu pro-
blema que eu sou muito sozinho, meu proble-
ma que no tenho ningum, meu problema
que eu no tenho amigo, apoio. Essa percepo
do psictico impacta muito, e achamos que ela
uma boa porta para a gente discutir o que que
isso tem a ver com nossa clnica.
muito curioso, porque ns nos produzimos
numa sociedade contempornea, ps-moderna,
que tem como regime principal de direo da or-
ganizao da vida social o individualismo narcsi-
co. Ns vivemos numa sociedade e nada disso
totalidade, pois bvio que estou falando das
pontas urbanas, regies e geografas avanadas
59
na sociedade, porque a gente no pode esquecer
que h lugares em que as coisas se passam ainda
do modo antigo, ento h uma convivncia entre
os modos antigos e os ps-modernos de expres-
so - mas, nos modos ps-modernos, ns pode-
mos dizer que a expresso mais forte a de um
individualismo narcsico, e que essa a direo
civilizatria que a vanguarda da sociedade nos
tem apontado.
Ento, a nossa questo entender como que
a solido se coloca para o sujeito psictico, por-
que, no caso do deprimido, o sujeito toma um
antidepressivo e deixa de ser deprimido, retoma
seus vnculos sociais, retoma sua vida e volta a
viver no compartilhamento simblico; e, no psi-
ctico, se ele toma um anti-psicotizante ou, even-
tualmente, um antidepressivo associado, ele no
volta a compartilhar, ele continua remetido a uma
certa condio de impossibilidade. Talvez o que
nos interesse dizer nesse momento que o que a
psicose coloca para o sujeito um registro radical
da solido. Como que isso chega para ns?
Como que ns nos relacionamos com isso? O
que que isso implica para a nossa clnica?
Porque, na sociedade do individualismo narc-
sico, muito difcil, alis, a questo do narcisismo
atravessa tanto a questo da depresso como a
da psicose do ponto de vista da hiptese terica
que sustenta a construo desses estados; so es-
tados que, fundamentalmente, tm alguma ordem
de perturbao na relao vincular com o outro,
um desinvestimento de um sentido e de uma pro-
duo de signifcado na vida do sujeito.
Uma clnica psicossocial das psicoses precisa
comear por considerar que esse sujeito se sente
muito desconfortvel no mundo e que sua soli-
do deriva do seu profundo desconforto psquico;
desconforto psquico gerado, por um lado, pelos
efeitos sintomticos da sua condio, pela sua bi-
zarrice eventual, pelo seu retraimento, pelo car-
ter complexo do estabelecimento de relaes, o
carter estudado, medido, avaliado do comporta-
mento para entrar em relao, o carter travado
para entrar em relao, e isso por si s gera uma
crtica social, porque, de repente, a gente olha e
fala: que pessoa esquisita, que pessoa estranha
que est convivendo entre ns. Eles no chegam
a produzir esse problema da autonomia, s vezes
eles conseguem se manter estabilizados, mas num
registro de poucos amigos, de vnculos muito res-
tritos, talvez seja essa a melhor expresso: mais
do que falar da solido, falar em vnculos, j que
a questo da solido problemtica. Os vnculos
so restritos.
E, por outro lado, a prpria percepo do su-
jeito sobre si mesmo, o rebatimento: o outro me
percebe e me confrma num lugar de estranheza,
de difculdade, e eu mesmo me percebo nesse
lugar de difculdade, de impossibilidade. Muitas
vezes se diz: o outro na psicose um enigma
porque, na medida em que essa relao no se
estabeleceu bem, em seu momento constitutivo
das primeiras experincias quando do ingresso na
sociedade humana, se diz que o outro impera na
psicose, ele no consegue nunca se livrar dessa
marca, dessa presena, dessa indistino, razo
pela qual ele avesso s relaes, j tem outros
demais na vida dele, alteridade demais na vida
60
dele, e isso os perturba.
Na sociedade individualista narcsica, res-
ponsabilidade de cada individuo cultivar a sua lis-
ta do Orkut, produzir a sua lista pessoal do Orkut,
cada um tem de dar conta de angariar seus afe-
tos, os seus amores; cada um tem de construir a
sua regio vincular para se sentir confortvel. Eu
perguntei isso para vocs outro dia e repito por-
que acho interessante: quem so os sujeitos que
compem o meu sociograma? que um recur-
so tcnico proposto por Moreno. Quais so os
sujeitos que esto na esfera das minhas relaes,
dos mais prximos aos mais distantes, mas cujas
existncias estabelecem para mim sentido e signi-
fcado para a minha prpria existncia? Quem
so ento estes meus outros to importantes
que me do sustentao no mundo, sendo eu o
sujeito que eu sou? interessante pensar isso,
porque essa teia de relao fundamental para
nos produzir como sujeitos que ns somos. Existe,
nesse momento histrico, uma tendncia decli-
nante da famlia mononuclear burguesa, em favor
dos modos individualistas, como outrora declinou
a famlia extensiva em prol da famlia privada e
mononuclear... Vejam como era a produo do
sujeito no passado: a famlia extensiva era uma
beno para essa matria vincular, concordam?
Entre as classes populares, inclusive - e ns
encontramos muitos casos desses tipos no nosso
programa de estgio - existem muitas situaes
desse tipo, de dizer fulano foi criado por sicra-
no, que no eram seus pais e nem tinham laos
de sangue, mas acolhiam uma criana abando-
nada ou que os pais morreram, vizinhos com
grande generosidade social, entre aspas, porque
todo sujeito criado pelos outros tem uma querela
em relao a isso, de terem sido mais ou menos
amados, mas existiam enjeitados sociais que eram
albergados na famlia. E o que chama ateno
que so pessoas pobres, no tm isso de adoo,
de ir ao juiz, de pedir guarda. simplesmente ver
um ser vivente que est abandonado, que nin-
gum quer, e colocar dentro de casa, comear a
tratar... Um tipo genuno de solidariedade. Ob-
viamente que a entram as queixas. Qual o grau
de incorporao que esse sujeito recebe pelo gru-
po que o acolhe?
Mas a idia afrmar que a questo vincular
para as classes populares est colocada de uma
forma muito diferente que nas camadas mdias
urbanas. Ns, das camadas mdias urbanas da
Bahia, estamos aprendendo a cultivar a impesso-
alidade - e eu digo sempre aprendendo, porque
acredito na hiptese da modernizao tardia, per-
cebo a tendncia impessoalidade, a morar nos
condomnios e no falar com as pessoas, o que
era impossvel e inadmissvel h 30 anos porque
havia um registro da sociabilidade comunitria
muito imperativo.
Estou trazendo isso para falar de um trao im-
portante da sociedade ocidental moderna que
essa tendncia privatizao dos afetos, das re-
laes, produo do individualismo narcsico,
questo que se coloca, portanto, para a psicose,
como um problema a mais. Nessa direo ns
estamos tornando o mundo cada vez mais difcil
para os psicticos.
Curiosamente, talvez ns estejamos nos apro-
61
ximando cada vez mais dos modos de vida isola-
dos, em que a gente scio, mas a gente continua
sendo scio no simblico, a gente est deixando
de ser scio da sociabilidade, estamos abrindo
mo da sociabilidade, estamos dizendo eu no
quero que meu vizinho me cumprimente, eu que-
ro subir no meu elevador sem que ele me encha
o saco, no quero que ele divida demais comigo,
que ele se relacione demais comigo, no quero
intimidade demais. interessante para ns, sote-
ropolitanos, vermos essa tendncia cada vez mais
aforando. Ns vemos assim: moderno no
esse negcio que interage demais, conversa com
todo mundo.
Gente, isso so fragmentos... Eu estou fazendo
assim para a gente pensar sobre como que ns
temos compreendido a questo da solido, como
que a questo da solido para ns vai deixan-
do de ser uma experincia de imposio social
e vai sendo uma experincia de eleio social.
Ns estamos elegendo formas mais solitrias de
viver. Olha, gente, para isso tem uma estatstica
do IBGE que mostra o nmero de residncias mo-
nodomiciliadas.
No Brasil, j chega a 14% o numero de domi-
clios que so habitados por uma nica pessoa.
Na Frana, d 30%, e, nos Estados Unidos, 40%.
uma direo societria, um rumo que estamos
escolhendo na vida: cada um por si e Deus por
todos, o rumo da privatizao dos afetos e dos
espaos. interessante isso como direo civili-
zatria do ocidente, porque afronta fundamental-
mente a questo do vnculo. Jurandir Freire em
uma fala dizia que devemos ser cuidadosos e no
olharmos para essa discusso do individualismo
narcsico numa perspectiva de tipo patologizan-
te. Devemos fugir dessa forma de conversar sobre
esse assunto, dizendo que o individualismo narc-
sico uma doena. E por qu? Porque todo mun-
do que fala sobre doena, fala sobre remdio.
Ento, tem uma pergunta que : qual o rem-
dio para isso e quem vai dar o remdio? Uma
eleio social de valores morais que so sempre
parciais e que, no limite, remetem possibilidade
da instaurao de um fascismo.
Ento, como que ns devemos encarar isso?
O Jurandir comenta que o individualismo narcsi-
co uma produo civilizatria que est na con-
tramo do vnculo social, da relao com essa
matria da flia, que a matria humana que
produz coeso social. Psicanaliticamente, seria
uma comunho libidinal, no ? Que o com-
partilhamento dessas projees que constroem a
sociedade como um ente resultante dos vnculos
entre os sujeitos.
Ns podemos dizer que o individualismo nar-
csico agride, de certa forma, o conceito de so-
ciedade? uma idia interessante. O individua-
lismo narcsico vai contra o prprio conceito da
sociedade. O Jurandir, ento, fala que tomar isso
como doena uma perspectiva profundamente
ameaadora para a prpria idia de sociedade,
que coloca em questo o prprio conceito de so-
ciedade, em que a sociedade cada vez mais um
mero habitat, um receptculo para as individua-
lidades narcsicas. O Louis Dumont fala de uma
situao em que os tijolos so mais importantes
do que as paredes do edifcio social; o valor do
62
tijolo mais importante que o valor do edifcio
que o conjunto de tijolos produz, que seria a so-
ciedade, em que o valor principal no ela, mas
cada tijolo.
como se fosse a rebelio dos tijolos. Cada
tijolo est mais preocupado consigo mesmo, e o
fato de que eles estejam ali superpostos uma
mera formalidade que produz a sociedade. En-
to, ele chama ateno para o fato de que a au-
todestruio pode ser uma perspectiva civilizat-
ria. Ora, quantas civilizaes acabaram assim?
Se auto-destruram, e a gente hoje no tem seno
notcias delas.
Eu estava conversando com uma colega de
vocs, no intervalo, sobre as crianas neurolgi-
cas, sobre as crianas e adolescentes com quadro
neurolgico importante que vivem l no Hospital
das Obras da Irm Dulce. Eu estava conversan-
do exatamente que, de algum modo, todos eles
so sujeitos que tm problema de autonomia e de
como se poderia organizar o cuidado com eles,
no sentido da solidariedade humana, de garantir
as necessidades bsicas da vida para esses su-
jeitos e, ao mesmo tempo, o quanto isso parece
insufciente como perspectiva.
Sem dvida nenhuma, esses sujeitos precisaro
de cuidado para o resto da vida. O interessante
que, ao estarem sob os cuidados institucionais,
isso coloca uma questo muito interessantes, que
a questo dos vnculos, e eu acho que esse o
tema que ns devemos discutir, o tema da desf-
liao, que onde ns vamos nos interessar na
experincia psictica. J que ns podemos pensar
que flia amizade, vnculo, o que atrai; quan-
do a gente fala da desfliao, ns falamos da
curiosa e rara produo, poderia dizer at inusita-
da produo, do sujeito sem vnculo. Ento, essa
uma produo rara na histria da humanidade.
S essa sociedade a qual eu estava me referindo
anteriormente, que essa sociedade moderna,
formata o sujeito social sob a gide da individua-
lidade e permite essa experincia de uma radical
desfliao dos que so menos funcionais nessa
habilidade de organizar uma rede de relaes.
Eu diria que est ligado ao modelo da formata-
o do sujeito moderno, que absolutamente or-
gnico com o modo de produo capitalista, que,
na sua dinmica, por exemplo, olha com interesse
o ideal das moradas unidomiciliares para todos.
Assim, cada sujeito, como consumidor ter que
adquirir um fogo e uma geladeira, por exemplo.
Tem uma indstria que vai adorar isso, porque
multiplica os consumidores. E hoje, utenslios que
eram da casa de todos, como as televises, so
de uso pessoal, tem quatro televises numa casa
com quatro pessoas. Mas muito mais interes-
sante morar sozinho; cada um, sozinho, precisa
de todo um aparato.
Agora, temos de ter cuidado para no parecer
uma relao de causa e efeito. Efetivamente,
uma sociedade individualista, narcsica e, obvia-
mente, competitiva, que faz cada lar, cada famlia
cada vez menor... Os casais nos pases europeus
no conseguem se reproduzir numa mera taxa de
reposio, esto virando pases de velhos, porque
no conseguem dois flhos por casal para a repo-
sio social. Todos esses fenmenos esto vincu-
lados. O que ns temos de pensar como, nessa
63
sociedade, aqueles indivduos que so mais fr-
geis na dinmica da autonomia vo ser, de certa
forma, excludos socialmente.
E a ns podemos pensar desde a excluso do
mundo do trabalho. Robert Castel traz isso com
muita nfase, e ele fala sobre a produo de um
homem, que no s no tem mais trabalho, mas
no tem um outro conjunto de vnculo social que o
sustente socialmente. Ento, ns vamos comear
a produzir o homeless em grandes quantidades,
ns vamos comear a produzir essas populaes
que esto extremamente fragilizadas, vulnerveis
do ponto de vista da sua questo vincular. O Cas-
tel tem o mrito de chamar a ateno assim: no
se trata s de pobreza, se trata de desvinculao
scio-afetiva.
Claro, essa coisa toda de individualidade
uma tendncia, uma direo. O que chama a
ateno que, nessa tendncia, tem um conjun-
to de sujeitos que esto menos aparelhados para
lidar com os desafos de situar relacionalmente,
certo? Que so vulnerveis para participarem da
sociabilidade dessa sociedade. Aquela sociedade
que inventou o manicmio, porque era uma so-
ciedade na direo da industrializao e que via
que o louco perturbava a sociedade, perturbava
as dinmicas do capital. Essa sociedade, ela, di-
gamos assim, aperfeioou em muito as exign-
cias para dizer quem que cabe e quem que
no cabe, gerando um grupo de sujeitos que fca
muito frgil, um grupo que fca muito fragili-
zado. Eu queria considerar que, bvio, no so
apenas os psicticos, mas nosso caso, que mais
de perto nos interessa, o grupo dos psicticos.
Esse grupo recebe um impacto desses processos e
dessas dinmicas sociais.
Se que podemos afrmar, est fcando cada
vez mais difcil viver como um psictico social-
mente. As dinmicas sociais vo fcando cada vez
mais restritivas, a disponibilidade social para pro-
duo vincular est cada vez mais restrita. Ento,
temos de ter em foco, no caso das psicoses, a
questo vincular, que onde sua destreza, sua
habilidade social, suas capacidades, suas chan-
ces, suas oportunidades vinculares j vm com
um certo arranjo limitador.
E ns produzimos uma dimenso de sociabili-
dade, uma dinmica que tende a aprofundar to-
dos esses elementos do ponto de vista da fragili-
zao e limitao. Por qu? Porque est cada vez
mais difcil viver nessa sociedade individualista.
Para todos. Estou dizendo assim, no o nico
efeito, hein? No o nico efeito que se produz
assim, no ? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem
uma populao de idosos de classe mdia mui-
to grande que foi benefciada pela ampliao da
expectativa de vida com qualidade de vida. Im-
pressiona-me o nmero de estabelecimentos que
existem no Rio de Janeiro para abrigos de terceira
idade, o comrcio que existe no Rio de Janeiro
para a terceira idade.
No que os flhos do Rio de Janeiro so mais
cruis, menos amorosos que os flhos de baianos,
mas que, no Rio de Janeiro, mais comum na
cultura que, chegando num determinado momen-
to, que cada um foi cuidar da sua vida, dos seus
interesses, sobre ao idoso o lugar de elemento
de perturbao da vida, porque eles exigem cui-
64
dados, e existe ento a terceirizao desses cui-
dados em outros espaos que comercializam os
servios de asilo.
Essa no uma tendncia forte aqui em Sal-
vador. H centenas de espaos desse tipo no Rio
de Janeiro. No estou falando de um ou dois;
so dezenas e centenas de lugares para agrupa-
mento de pessoas que perderam a funcionalidade
social. Estou falando desse caso para dar idia
de que podemos pensar esse fenmeno nas v-
rias dimenses: das crianas de Irm Dulce aos
idosos do Rio de Janeiro, aos pacientes psicti-
cos, porque, de alguma forma, estou querendo
confgurar para vocs uma percepo de que a
grande questo do manejo dessas situaes no
exatamente o distrbio psquico psictico, mas
o difcil manejo da desfliao psictica numa
sociedade muito individualista.
o difcil manejo de quem vai tomar conta,
de quem vai se responsabilizar, quem vai assu-
mir o encargo? Ento, isso entra na clnica ba-
tendo muito forte. Ora, vocs devem saber disso
pelas experincias cotidianas. Ns no estamos
trabalhando no plano do signifcado, da sintoma-
tologia psicolgica; ns estamos, muitas vezes,
administrando a limitao de um sujeito que per-
deu a autonomia e que precisa de algum para
se responsabilizar por ele, porque ele est numa
condio de dependncia.
interessante ver como essa relao de de-
pendncia. muito interessante quando se v nas
emergncias... Ainda encontramos muita flia...
Podemos at achar um familiar contrariado, que
j est aborrecido com aquela situao, sobretu-
do quando o mesmo familiar que toma conta
do sujeito h muitos anos. Ento, essa produo
impacta demais a clnica, se a gente for pensar no
paradigma do manicmio que eu delego cui-
dado institucional, e, basicamente, quando voc
vai ver, os crnicos so os que foram sistematica-
mente sendo limitados nessa relao de flia, ao
ponto que precisou que algum se responsabili-
zasse, e ouviu um tchau, no tenho nada com
isso mais, deixei para trs, que a questo do
abandono.
Essa uma palavra dura dentro da instituio
psiquitrica. Literalmente, ningum mais os quer.
Ento, no sei se vocs esto percebendo, mas as
chances do paciente psictico fazer uma trajet-
ria, um caminho nessa direo muito grande, e
se os outros sujeitos que no tm essa limitao,
essa restrio vincular com problemticas psqui-
cas comuns, tm se colocado na vida dessa ma-
neira, imagine o sujeito psictico. Ele um sujeito
vulnervel ao processo da desfliao. Por isso
eu estou trazendo para vocs o tema da solido,
como tema fundamental, porque a desfliao diz
respeito ao estatuto social, e a solido diz respeito
ao sentimento e percepo do sujeito em sua
posio.
Essas coisas podem ou no estar juntas. O su-
jeito pode manter algum registro de fliao, de
vnculo, e ainda assim se sentir profundamente s.
E a sua condio de se sentir profundamente s
motor da produo da sua solido e da sua des-
fliao. H algo na psicose que leva, que dirige
a produo da desfliao. S assim ns pode-
mos explicar os pacientes crnicos, que nascem
65
de uma hora para outra, como cogumelos depois
da chuva na manh de sol. Cada um daqueles
sujeitos crnicos que tm vinte anos de internao
resulta de histrico de desfliao e abandono. Eu
estive em Feira de Santana semana passada e es-
tava vendo os moradores que esto indo agora
para as residncias teraputicas que esto sendo
montadas na cidade. Entrei em contato com gen-
te de 40 anos de internao. uma vida inteira
de internao.
Quem so esses sujeitos fundamentalmente?
Esses sujeitos no aparecem com 40 anos de
uma hora para outra. Quero dizer, assim, esses
40 anos de internao foram construdos dia a
dia, num processo anterior que o de produo
da desfliao, da desresponsabilizao social
at o seu processo de institucionalizao, em que
eles passam a ser considerados sujeitos que, para
subsistirem socialmente, precisam da condio
bsica de serem institucionalizados. Quero dizer,
assim, quem o outro desse paciente institucio-
nalizado? Qual a sociedade para esses pacien-
tes institucionalizados? O outro para o paciente
institucionalizado a instituio. O outro social
para ele a instituio; o outro no o outro da
sociedade, o outro o outro da instituio.
Para esses sujeitos no h quem os ame su-
fcientemente. Pode parecer piegas, mas veja,
fazer uma aposta de que ns podemos substituir a
flia pela tcnica. Quando voc traz essa perspec-
tiva de racionalizao do trabalho institucional,
ns estamos pensando que podemos substituir a
flia pela tcnica. A questo dessas pessoas no
se elas produzem ou no produzem, a questo
dessas pessoas se elas so ou no so para
algum, se elas representam ou no representam
algo para algum, se elas fazem sentido ou no
fazem sentido, se elas contam ou no contam
para algum outro. O problema dessas pessoas
que elas no contam, que elas no importam
para ningum. Ningum se importa com elas.
difcil pensar que o problema de algumas
pessoas derivado do fato de que no existe
quem com elas se importe sufcientemente. Isso
um problema radical que ns vamos encontrar
em diversos grupos bastante frgeis. Eu trago
isso, gente, porque, na nossa clnica, ns temos
de levar isso em considerao. Ns temos de or-
ganizar um discurso desse tipo clnico que leve em
considerao que, alm de um desarranjo psqui-
co, esses sujeitos so marcados por uma profun-
da desfliao.
No caso da psicose, como eu disse, uma
desfliao que tem vrios rebatimentos, e para
tratar disso no tem frmula, so inmeras as
possibilidades. Na verdade, no existe soluo
por atacado, entendeu? A nica forma de traba-
lhar - eu sei que vocs fcam ansiosos em saber
como fazer quando a gente reconhece que a
questo do vnculo uma questo fundamental,
a gente tem de trabalhar no lugar de teceles ar-
tesanais do vnculo, ento no tem modinha de
C&A, s a prt--porter. Um por um, cada caso
um caso. E a gente vai dar conta do caso quando
a gente conseguir refazer esse delicado caminho
de reconstruo dos vnculos sociais, e a pode
ser cooperativa ou no-cooperativa. No essa
a questo, a questo que cada sujeito possa
66
produzir-se, de forma que ele signifque alguma
coisa para algum.
Nada substitui essa possibilidade de que o su-
jeito signifque alguma coisa para algum. pre-
ciso ter um outro social que referencie, que crie,
que multiplique, que sustente, que alavanque ou,
para dizer na expresso lacaniana, que secreta-
rie esse sujeito, que d suporte, apoio, que este-
ja lado a lado para reconstruir os seus vnculos
com a sociedade. Se for ofcina, ofcina para
reconstruir vnculo; se for passeio, passeio para
reconstruir vnculo; se for teatro, enfm... Enfm,
no essa a questo que nos impacta mais, essa
de saber qual a frmula. Qualquer forma que ns
adotarmos, qualquer coisa que ns fzermos nes-
sa clnica, ns temos de fazer nos dando conta de
que combater a questo da desfliao social
fundamental nessa clnica.
No adianta tangenciar o fenmeno, a gente
tem de olhar o fenmeno de frente, e olhando
da, ns veremos a difculdade da vinculao so-
cial, e nada substitui essa tarefa. Quando a gente
no cuida disso, fca uma clnica manca, que re-
cusa a evidncia de que existe uma dinmica so-
cial radical na questo da psicose. E a eu cuido
de tudo, mas no desenvolvo a tecnologia para a
abordagem da questo social, no me preparo;
no mximo, delego para as assistentes sociais.
A questo que trago para vocs, ento, essa:
no d para avanar nessa clnica se no con-
siderarmos a dinmica do vnculo. Por isso que
a vem a questo dos labirintos das cidades: ns
estamos muito pouco preparados para intervir na
sociedade, na comunidade, e, nas nossas leituras,
profssionais do servio psiquitrico sobretudo
os que so assistentes sociais, o mximo de social
que abordamos como tcnicos escutar na nossa
sala um familiar, um amigo que veio interceder
pelo paciente. Mas, mesmo no caso do servio
social, a concepo de sociedade perde de vista
a questo vincular como sendo eixo, como sendo
estruturante, como central. obvio que a gente
acaba trabalhando a questo vincular sem perce-
ber a potncia psquica que ela tem.
O fato que a nossa concepo de sociedade
exclui a dimenso vincular; a gente toma a socie-
dade como um conjunto de instituies. E o vncu-
lo psiquismo social, no outra coisa. O vinculo
dinmica psquica, porque seno a gente acaba
isolando e pensando que tudo natureza intraps-
quica estou, mais uma vez, discutindo a questo
das teorias psicolgicas e das outras teorias que
no so estritamente psicolgicas, que pensam a
questo do vnculo como dinmica psquica. E a
vem a questo das intervenes na cidade.
Eu dei aula esses dias em Blumenau para uma
turma de trabalhadores de sade mental, e fa-
lamos que l um municpio rico, dinheiro no
um problema l, a pobreza l no miservel
como a nossa, remediada. Ento eu perguntei
a eles se j pensaram em experimentar colocar os
pacientes ou uma parte deles dentro do nibus
da instituio e fazer uma grande excurso, pas-
sando pelas casas de todos eles, faz-los chegar,
todos eles, s suas casas. Estou dizendo assim,
agora vamos conhecer a famlia de fulano de tal,
essa a me, esse o irmo. Quem so esses?
Esses so os colegas do tratamento. Tomam um
67
caf, depois voltam pro nibus e vo at casa
de outro paciente.
No nos passa pela cabea que isso possa ser
muito impactante, transformador nas relaes,
nas percepes, na construo da signifcao,
nas relaes que ele estabelece com a comunida-
de e que a comunidade e a famlia estabelecem
com ele. Numa outra vez, eu discutia sobre a
itinerncia: tem um paciente perdido. A, ao in-
vs de o tcnico ir procurar fazer uma visita do-
miciliar, por que no sarem todos os pacientes
procurando a famlia de fulano? Todo mundo ali
junto procurando o fulano de tal. Quando o cole-
ga de vocs de l de Irm Dulce me perguntava,
eu dizia que, por mais tcnico que a instituio
tenha, h a necessidade de um projeto. Qual era
o projeto?
V s escolas da psicologia, servio social, e
avise que est procurando estagirios para tra-
balhar com reconstruo vincular. Cada estagi-
rio cuidando de um paciente. Arranja gente que
queira levar um paciente desses para passar o fm
de semana em casa, arranje sociedade para esse
sujeito caber de alguma forma.
O programa de Liberdade Assistida de Belo
Horizonte colocou um anncio no jornal: crianas
em confito com a lei uma turma at trs oito,
14, 15 anos, mas j com histria de infrao
lei. Procuramos cidado que queira se co-respon-
sabilizar pelo cumprimento da medida de liber-
dade assistida de adolescentes infratores. Qual
o esprito do programa? introduzir a sociedade
que no tem obrigao, porque o juiz, os tcnicos
da prefeitura so o Estado. No ter obrigao de
fazer fundamental. Ento, esse sujeito da socie-
dade representa para esse adolescente que existe
algum na sociedade que est disposto a dar um
prego por ele.
Isso tem uma potncia, uma capacidade trans-
formadora muito maior que a de dez psiclogos e
assistentes sociais juntos falando na cabea dele,
doutrinando para que ele volte para o caminho do
bem. Isso porque algum que no tem nada a
ver com ele, algum classe mdia que se dispe,
no fnal de semana, a ir busc-lo longe, coloc-lo
no seu carro e ir passar o domingo com a famlia,
lanchando junto, indo ao clube, deixando claro
que isso tudo mera solidariedade, sem querer
nada em troca. Esse o esprito que impacta esse
menino.
Eu estou trazendo esse exemplo para dar uma
visualizao de que a clnica essa que estamos
falando, da introduo da questo vincular como
dispositivo regular, permanente e orientador de
todo trabalho, para que esse sujeito possa pro-
duzir, reconstruir sociabilidade. Eu no estou di-
zendo a ningum que abandone a psicoterapia,
a psicofarmacologia. Quero dizer que, ao lado
desse arsenal que a gente adota, ns temos de ter
o entendimento de que a flia que se produz na
cidade, de que as solues para qualquer coisa
na cidade esto dentro da cidade.
Eu, s vezes, comento no nosso programa de
estgio sobre o entendimento, o domnio da cida-
de. O que que ns sabemos da cidade? Quais
os recursos que existem na cidade? Eu comento
sempre aquele caso da Engomadeira. O servio
social do Hospital Juliano Moreira, certa feita, fa-
68
zia uma reunio em torno da questo da famlia,
em que se trabalha muito a questo informativa.
Muitas vezes, eu dizia que no se produz vncu-
los com a informao, no adianta dizer para o
sujeito se vincular, para produzir. Isso outra tec-
nologia, construo do vnculo outro modo de
relao, de operao.
Mas ento tinha a reunio, e falavam com a
famlia da necessidade de respeitar o paciente,
de administrar as relaes com o paciente, que
uma informao insufciente, e, num dado mo-
mento, uma me levanta a mo e diz: olha, eu
no tenho problema nenhum com ele, meu pro-
blema que, na rua que eu moro, tem uma turma
l que pega meu flho como saco de pancada, a
gente sai na rua e todos comeam a debochar
dele, e a ele pira, porque no tem condio, e eu
tenho que trazer ele aqui pro Juliano, porque ele
fca muito mal. O que que ela est dizendo?
Ela est dizendo que vive em uma comunidade
que construiu uma relao de hostilidade com seu
flho e que o impede de produzir uma outra ordem
de signifcao, seno aquela que est inscrita no
discurso social, que extremamente agressiva e
negativa em relao a seu prprio sujeito. Mas
ela, como me, diz que, por ela, no internaria
nunca, que interna porque ele faz crise nessa cir-
cunstncia. E a duas estagirias de servio so-
cial foram fazer um trabalho em torno do caso.
Comearam a visitar a comunidade, identifcando
as situaes existentes l, vendo outros pacien-
tes que moravam l, atraindo as outras pessoas
da comunidade, as pessoas vlidas, com algum
tipo de presena, a se implicarem com o caso dos
portadores de transtorno mental do nosso bairro.
E a o trabalho foi tendo um rendimento, pro-
duziram uma organizao, fzeram passeios, reu-
nies com a comunidade, e foram produzindo
suporte social. E o mais interessante que um
dos lugares onde a turma mais chateava aquele
paciente era uma loja de material de construo
onde ele fcava para carregar os materiais. E foi
feito um trabalho com o proprietrio da loja de
material de construo, que criou uma proibio
aos seus funcionrios de molestarem os pacientes
da rea. Criou-se uma conscientizao, produziu-
se um efeito psicossocial. Um dos trabalhadores
mais folgados insistiu na chateao, o dono da
loja mandou ele embora e contratou o doidinho
para ir trabalhar na loja de material de constru-
o.
Veja s que coisa interessante do ponto de vis-
ta de produo de resposta para uma certa din-
mica. Quando foram atrs de um, encontraram
vrios. Ao encontrarem vrios, produziu-se uma
articulao social na comunidade, produziu-se
suporte social, sustentao na comunidade, e
essa produo na comunidade gerou uma outra
possibilidade para aqueles sujeitos de estarem
presentes na comunidade. Ento, ns cuidamos
da psicose desse jeito? De algum modo, cuida-
mos, porque, se o fator principal da internao
era a intransigncia, a intolerncia social e o es-
tigma, fomos ao local trabalhar isso.
O nosso servio tem muita difculdade de circu-
lar pela cidade. isso que ns estamos chaman-
do de circular pela cidade, desvendar os labirin-
69
tos da cidade, construir ou reconstruir essa teia de
relao social. Eu costumo dizer que, para cada
paciente que a gente atende, a gente precisa ter a
lista dos sujeitos que se interessam pela vida dele,
o sociograma dele. Esse o recurso que todo
CAPS deveria ter, todo tcnico de referncia tem
a obrigao de construir essa lista. Esses so os
sujeitos que a gente tem de acionar, esses so os
recursos que a gente tem... Para tratar das pesso-
as, preciso conhecer as pessoas, conhecer seus
vnculos, como que elas se colocam no mundo.
E eu no estou falando para deixar de fazer nada,
estou falando de incorporar uma outra prtica no
servio de sade mental que no se restrinja a
trabalhar a questo vincular estritamente pelo re-
gistro simblico.
70
H
oje ns vamos trabalhar um pouco o tema
desse grupo social to relevante para os su-
jeitos portadores de transtorno mental, que o
grupo familiar. Nesse sentido, possivelmente, ns
teremos poucas novidades em relao ao que vai
ser trazido, j que algo bvio que a questo
da famlia muito importante para o portador de
transtorno mental.
O que eu quero introduzir uma problema-
tizao acerca das questes relacionadas fa-
mlia em nossa sociedade e sua relao com a
responsabilidade pelos cuidados com os loucos.
A ausncia dessa abordagem tem sido limitadora
do entendimento e da proposta de inscrio que
esse grupo tem recebido em nossos servios de
sade mental.
A Famlia na Psicose
Marcus Vinicius de Oliveira Silva
*
Antes de entrarmos especifcamente neste
tema, vou retomar a seqncia que tem orientado
esta idia de uma clnica psicossocial. Quando
se fala que a loucura representa um elemento de
alteridade social, exatamente no grupo familiar
que isto vai realar e aparecer. o primeiro grupo
que entra em contato com a estranheza, com a
bizarrice e que promove a sua resposta atravs
das internaes psiquitricas, depois que os su-
jeitos apresentam estados psquicos alterados e
complexos.
Vamos pensar ento que as nossas confgura-
es vinculares esto na base das produes do
que ns somos hoje como sujeitos, nos nossos as-
pectos saudveis e nos nossos aspectos bizarros,
problemticos, estranhos, singulares e que estas
se relacionam com certas experincias adquiridas
por ns, nos grupos originrios, a partir dos quais
ns nos constitumos como sujeitos sociais.
Eu participei de um trabalho proposto pelo
professor Luiz Fernando Duarte durante o meu
doutorado, e foi muito interessante, em que ele
* Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva IMS/UERJ, Professor Adjunto da Faculdade
de Filosofa e Cincias Humanas da UFBA, Coordenador do Laboratrio de Estudos
Vinculares e Sade Mental do Departamento de psicologia da UFBA, Criador e Super-
visor do PIC - Programa de Cuidados Intensivos a Pacientes Psicticos.
1- Transcries da aula de curso Elementos tericos para uma clinica psicosocial das
psicoses set. 2005 Salvador - Ba
71
solicitava aos alunos que fzessem uma rememo-
rao, reconstitussem um mapa dos sujeitos sig-
nifcativos do ponto de vista de cada aluno, das
pessoas signifcativas para as nossas vidas, dessas
pessoas que fcam perdidas na memria; desta-
cando quem foram as pessoas fortes, que foram
balizadores para o avano das nossas existncias
como sujeitos sociais. Foi muito interessante per-
ceber a ampliao signifcativa das pessoas que
merecem esta qualifcao em contraste com a
iluso autobiogrfca centrada na famlia imedia-
ta, que como a psicanlise, por exemplo, a so-
bre valoriza. Isso questiona que o nosso quadro
identifcatrio estaria dado estritamente pelo n-
cleo familiar em si. So dezenas os sujeitos signi-
fcativos que interferiram nas nossas vidas de uma
forma forte para sermos quem somos. E mesmo
que estejam acobertados pelo esquecimento, fo-
ram eles, e de certo modo so ainda, que hoje,
identifcatoriamente, nos do sustentao para
nos situarmos no mundo como o sujeito que ns
somos.
E se trago isso, porque acho interessante
pensar, no caso da psicose, sobre quais so as
confguraes relacionais que ns efetivamente
podemos conceber como signifcativas para a or-
ganizao destes sujeitos no mundo. Psquica e
socialmente falando. Ser que imaginamos que
isso est restrito ao papai e mame, irmos...?
Ainda que as relaes parentais possam ser ex-
tremamente signifcativas, elas no resumem os
sujeitos. As afetaes dos sujeitos que ofereceram
os elementos que nos constituem so mltiplas.
Vamos passar, ento, para a outra parte, que
diz respeito ao texto que vocs tm como refern-
cia para o nosso trabalho de hoje, que o texto
do Jonas Melman, Famlia e Doena Mental.
Talvez a questo desse texto seja a de pensar essa
famlia no que ele faa essa crtica que acabei
de fazer aqui como uma aliada fundamental na
abordagem psicossocial das psicoses.
Geralmente, nos servios de Sade mental, tra-
dicionalmente, existem dois lugares possveis para
a famlia: culpada e responsvel ou culpada e ir-
responsvel. S existem esses dois lugares para a
famlia se localizar nessa abordagem tradicional
da sade mental. O primeiro o de culpado: se
ele o paciente assim, deve ser porque al-
guma coisa errada se passou nesse arranjo que
produziu o sujeito dessa maneira; logo essa fam-
lia j est, a priori, sob suspeita. Como culpada,
ela pode ser responsvel e colaboradora ou cul-
pada e irresponsvel. Entendem o absurdo disso?
como se fosse possvel aos sujeitos elegerem as
tramas que levam produo dos males psqui-
cos dos membros da famlia. Essa questo nos
remete a um juzo moral sobre a famlia, que
algo extremamente problemtico, uma interpre-
tao da famlia a partir de uma perspectiva do
julgamento moral.
E digo a vocs: de modo geral, os profssionais
de sade mental so muito moralizantes em re-
lao famlia. Mesmo em contextos um pouco
mais avanados da teorizao, o modo de olhar
da famlia um modo moralizante, o paradigma
um paradigma moral. Tem um livro da Maud
Mannonni, creio que A criana retardada e sua
72
me, em que ela nos chama ateno sobre isso.
Ela diz que frustrante, narcisicamente, para a
me perceber que algo que seu, que foi pro-
duzido por ela no caso aqui, algo que a famlia
produziu foi produzido com defeitos ou errada-
mente. Essa percepo uma derivao da re-
lao privatizante que hoje assume o modo de
compreenso da famlia como um grupo privado
no interior da sociedade e que tem de se respon-
sabilizar pelos sujeitos errados que, nas suas
tramas psquicas, ela produziu.
A questo da privatizao das relaes sociais
afeta a questo da atribuio de responsabilida-
de acerca dos sujeitos que apresentam limitaes
na sua autonomia. um entendimento de que h
uma obrigao estritamente familiar. As alternati-
vas, neste caso, se radicalizam: ou a institucio-
nalizao total ou a sobrecarga do cuidado priva-
do para a famlia. No caso da psicose, se interna
na crise e depois se devolve para a famlia, sob a
forma de responsabilidade total, dizendo: isso
problema privado seu. Quem pariu Mateus que o
embale! Vocs tm de fazer a guarda, fazer a pro-
teo social, fazer o gerenciamento desse sujeito
que perdeu a funcionalidade e depende do seu
grupo. Por isso digo, em tom de reprovao, que
ns, da sade mental, quando queremos saber
quem a famlia geralmente para mandar a
conta, para depositar a responsabilidade.
Penso que essa a perspectiva dominante do
nosso olhar na sade mental, e acho que o Jonas,
de certa forma, alerta sobre este ponto e apon-
ta porque que ns temos de mudar esse olhar
que temos hoje sobre esses atores. Primeiro, ns
temos de interpret-los como atores que so tam-
bm dotados de psiquismo e que a dinmica da
interao psquica desse sujeito com o paciente
que produz a maior parte dos fatores que ns te-
mos de cuidar. As situaes que ns temos de cui-
dar no surgem aleatoriamente, so derivadas de
certos modos de relao, e interessante que ns
no queiramos abordar esses modos de relao,
interessante que no nos interesse aprofundar.
A nossa modalidade hegemnica de aborda-
gem privilegia a esfera do intra-psquico. Ns
achamos que mobilizando primeiro as dinmi-
cas intra-psquicas que ns vamos produzir efeitos,
que ns vamos alterar as produes dos sujeitos.
porque ns valorizamos isso, que toda a nossa
arquitetura institucional de cuidados est voltada
para a abordagem do sujeito como uma subjetivi-
dade em si mesma, para sua individualidade. No
estou dizendo que no se deva fazer isso. Mas o
que no se pode destinar toda a nossa energia
para isso. Estou dizendo que a nossa arquitetura
institucional de cuidados no prev a possibilida-
de de tomar uma outra dinmica que trabalhe na
perspectiva vincular, que trabalhe a questo da
confgurao desse fenmeno como associado
s dinmicas amplas das relaes concretas que
sustentam a presena desses sujeitos no mundo.
s vezes, parece que no nos lembramos, no
nos importamos e nem queremos saber o que
que est acontecendo na vida concreta dessas
pessoas. As tomamos exclusivamente a partir do
discurso, das representaes simblicas que nos
chegam atravs da comunicao verbal que elas
nos trazem em suas consultas.
73
No programa de estgio que ora realizamos
no Hospital Mrio Leal, temos nos especializa-
do em ir s casas das pessoas, ou seja, tem sido
possvel desenvolver essa perspectiva, testar essa
hiptese. Ns estamos no comeo, mas isso j
nos indica que possvel fazer uma arquitetura de
cuidados que prev outra abordagem. Est a o
Programa de Sade da Famlia indo s casas dos
cidados para levar cuidados na ateno bsica
sade. O que a gente precisa de um PSF
Mental. Quero dizer que os nossos CAPS preci-
sam ter um PSFM, nossos CAPS deveriam ter uma
abordagem regular, um Programa de Sade da
Famlia Mental, com nfase na ateno domici-
liar. No nas visitas domiciliares esparsas, mas na
ateno domiciliar.
Ento, ns deveramos ter uma perspectiva
que oferecesse uma abordagem dessa dinmica
como uma atividade, uma responsabilidade re-
gular dos nossos servios de sade mental. De
certa forma, essa a nossa tese atual no trabalho
de intensifcao de cuidados: preciso produzir
uma tecnologia que seja capaz de lidar com essa
dinmica como uma atividade regular do servi-
o, atendendo aos pacientes mais graves de uma
forma personalizada que inclui tomar o domiclio
como setting.
Hoje mesmo, na superviso do estgio, ns es-
tvamos falando do caso de algum que mora
numa caverna, num buraco, e, em cima, mora
um irmo normal, que parece ser normal e que
diz que no tem nada a ver com isso a. A pes-
soa que mora com o sujeito tambm sua irm,
uma pessoa tambm gravemente enferma, uma
pessoa que tem problemas mentais graves, en-
to fcam esses dois sujeitos coabitando um es-
pao insalubre, com uma relao extremamente
confituosa. E, no estgio, percebamos como
essa irm, aos poucos, foi tambm se tornando
paciente do programa. E como tambm os dois,
efetivamente, passam a estabelecer uma nova re-
lao, como a gente tem trabalhado uma relao
vincular entre os dois e destes com seus vizinhos;
assim, artesanato puro, indo l toda semana, ou-
vindo, apoiando, acompanhando.
Esse caso ilustra bem como a nossa tecnologia
de cuidados pode fazer isso. A famlia dele, nesse
momento, passa a ser a irm, quem sabe o irmo
tambm no entra para a famlia, entenderam?
A tem um pai l em Alagoinhas, e a dvida dos
estagirios era se deveriam ou no ir at l, se en-
travam em contato com o pai para sensibiliz-lo e
ver se ele tambm entra para a famlia. Quer dizer,
a famlia vai estar dada pela relao vincular que
o sujeito construir. A responsabilidade da famlia
vai ser dada na medida em que se reconstruam
as relaes vinculares. Se no se reconstroem as
relaes vinculares, no adianta falar que o outro
responsvel, eu no sou responsvel por quem
eu no me sinto vinculado.
Ento, necessrio operar sobre as relaes
vinculares para instalar responsabilidades. Esto
entendendo o que eu estou falando? Os servios,
geralmente, esto operando num conceito nor-
mativo da responsabilidade, temos operado numa
perspectiva meramente institucional e burocrtica
de atribuio de responsabilidade a alguns sujei-
tos familiares, a partir dos elementos formais das
74
relaes sociais supostas como tal.
preciso parar de buscar um canal de cone-
xo institucional para que ns possamos depositar
parte da responsabilidade que da nossa institui-
o de cuidados, que nossa, profssionalmente,
nos mesmos atores de sempre. No adianta fcar
depositando sobre estes sujeitos do ponto de vista
moral, toma l que o flho seu, do ponto de
vista normativo. E ainda tem mais: no s esse
lugar de familiar que temos como possibilidade
para reconstruir os vnculos e a vida das pessoas.
O que o Jonas Melman nos chama a ateno
nesse texto, na pgina 99, que ou voc produz
uma dinmica nessa situao que seja subjetivan-
te, que produza um sentido e signifcao para os
sujeitos envolvidos ou no vai funcionar. No que
aceitaremos que qualquer um possa simplesmen-
te se desresponsabilizar, sem maiores problemas.
Mas a responsabilizao no um dado derivado
de relaes formais, meramente jurdicas, ela
um processo afetivo, emocional, vincular.
Ento, muito trabalho. E trabalho forte,
consistente, para colher frutos bastante salutares,
para interferir no processo. Vnculo no se pro-
duz instantaneamente, ns alcovitamos relaes
vinculares, ns acionamos possibilidades de con-
tato, ns operamos sobre os enriquecimentos das
signifcaes, trabalhamos dissolvendo a cristali-
zao das identidades, dos lugares que as pr-
fxam, uns na relao com os outros. S o ato de
algum ir at ali, estar com os familiares no seu
ambiente de vida, produzir transformao, modi-
fcao. Como agentes teraputicos, carregamos
como recursos a nossa presena diferenciada
em relao aos outros outros que se colocam
no mundo, algumas idias sobre essa dinmica
vincular e a possibilidade de abertura de novas
signifcaes seja atravs da palavra ou do nosso
olhar ou ao. Se formos analisar o que oferece-
mos, relativamente muito pouco, mas efetiva-
mente opera. Quando voc coloca em situao
na ateno domiciliar, esse recurso opera.
Por ltimo, eu queria comentar sobre a questo
da crise, que tem muito a ver com a questo da
sua recepo. A recepo da crise um momento
extremamente privilegiado para que estabelea-
mos a confabilidade dos agentes que vo intervir,
e esse um dos nossos problemas. Quando se
faz a recepo da crise, os agentes se apresentam
absolutamente no confveis, o sujeito que apa-
rece como representante da instituio se coloca
numa perspectiva, nesse sentido, moralizante, eu
no sou responsvel por esse sujeito estar assim
e sim vocs e tomem conta, o que eu pos-
so fazer por vocs efetivamente oferecer uma
medicao, fcar aqui por alguns dias internado,
mas, quando ele fcar minimamente funcional, ele
retorna pra vocs.
Ento, isso extremamente impossibilitante do
ponto de vista de qualquer seguimento futuro,
porque essa hora a hora da maximizao de
todas as ansiedades dentro desse grupo familiar,
quando toda aquela produo que vem se ges-
tando se atualiza como angstia pura, como an-
siedade em nveis excessivos, quando os sujeitos
esto for da pele, emerge essa confusa confgu-
rao. Tem um autor que fala como se fosse uma
dramatizao esse momento da crise. mais ou
75
menos como se ele dissesse que tudo que esteve
na origem dessa produo se atualiza com a cri-
se. Por um momento, o arranjo foi insufciente, e
a toda a desorganizao vem tona.
Eu acho que temos de construir o que eu
espero que vocs faam no NAC- Ncleo de
Ateno Crise - uma tecnologia de abordagem
familiar na recepo de pacientes em surto. Ns
precisamos de um dispositivo que seja gil, que
tenha uma capacidade de interveno tcnica, na
expresso, na organizao, no envolvimento, na
convocao, no chamamento do agrupamento
familiar para a questo da crise. Eu quero falar
que nossos servios tm de atender a crise com
muita confabilidade, de forma a dar autoridade
ao chamamento de que importa colaborar para a
compreenso disso.
Estou dizendo assim: recebeu o paciente pela
manh? Na outra manh tem de estar agenda-
do, responsabilizado, depois de uma entrevista
familiar, quem , qual a pessoa da famlia, ou
vizinho ou amigo que tem de vir ao nosso servio
de emergncia para conversar conosco sobre o
futuro do caso e suas necessidades. Isso faz com
que fque uma promessa de que o caso no ser
abandonado! Por isso que eu estou dizendo que
tem de se investir na vinculao, na sociabilidade;
no despertar da generosidade dessas pessoas j
to cansadas, que anos aps anos lidam com a
condio trgica de ter um familiar portador de
transtorno mental. E temos de ser agentes que
ponham fm a essa condio trgica e ofeream
uma nova perspectiva para as suas vidas e o seu
futuro.
A moeda da confana na instituio, que se
mostra capaz de reconhecer o sujeito e que busca
fazer no garantia no mas que busca fazer
o melhor, que visvel para todos que ela est fa-
zendo o possvel para agilizar, para atender bem,
para considerar, para respeitar, para abordar. Es-
tou dizendo que a perspectiva uma perspecti-
va justa, e essa a perspectiva que a gente tem
de apresentar, uma perspectiva que diga que a
instituio faz a sua parte, que ns somos conf-
veis e ns temos conseguido ser confveis. E sem
construir essa confana, difcilmente ns vamos
poder ter autoridade para interferir nessa relao
de convocao.
Mas penso que temos de insistir, que temos de
enfrentar, porque uma evidncia dessa clnica
fazer a convocao. Ento, por favor, quantos ir-
mos so, o que fazem, em que trabalham,
quem o pai, quem me, quem o tio,
quem a famlia, quem o vizinho. Pronto,
visto isso, ora, para cuidarmos bem dele, ns
precisamos que vocs estejam aqui amanh s
oito horas da manh; faam um esforo, porque
muito importante! Vocs querem que a gente
trate ou no o sujeito? Se querem que tratemos,
preciso que as pessoas venham. E, na seqncia,
preciso que ns possamos ir, ir at onde eles
esto, ns temos de instaurar confabilidade.
Ento, o que que eu estou falando? Estou fa-
lando que preciso fazer uma clnica que leve em
considerao, e, dentre todas as abordagens, a
abordagem desse ncleo uma abordagem fun-
damental para que se transforme o modo de rela-
o. Vocs podem pensar que isso muito difcil,
76
mas eu vou dizer para vocs que no . Sabem
por qu? Considerando o nmero de psicticos,
se a gente tomasse conta deles direito e paras-
se de trat-los dessa forma to fragmentada, to
mequetrefe, talvez a gente no tivesse esse pro-
blema. Se a gente construsse uma tradio de
dar seguimento aos casos de psicose e no espo-
radicamente, teramos um nmero absolutamente
administrvel, se a gente tratasse adequadamen-
te.
Eu estou dizendo que todos os servios de sade
mental tm de ter uma diviso de ateno familiar,
ns temos de criar essa diviso com um protocolo
que defna a sua presena na emergncia, que
defna a sua presena no acompanhamento do-
miciliar e que, se ns tivermos isso a, ns vamos
economizar dinheiro, ns vamos economizar uma
poro de coisas. Fazer as coisas de um jeito bem
feito muito mais barato do que fazer as coisas
de um jeito mal feito. Por qu? Porque do jeito
mal feito a gente tem de refazer a vida toda.
Estou falando disso e me lembrando dos CAPS,
porque os CAPS esto no territrio e tm a tarefa
de conhecer todos os pacientes que so atendi-
dos pela instituio. E esse trabalho um trabalho
que pode, efetivamente, oferecer um descortina-
mento. E isso no o trabalho com famlia; o tra-
balho com famlia o apelido disso. Na verdade,
ns estamos trabalhando as relaes vinculares
com os sujeitos signifcativos que estejam na es-
fera da relao desse sujeito, que sejam determi-
nantes para a produo do seu sintoma psquico
e que sejam sujeitos-recursos para fazer a rever-
so, porque, quando o sujeito sai da emergncia,
o que ns temos de fazer pegar na mo deles e
lev-lo de volta para casa.
Ento, o servio tem, ao receber o sujeito lou-
co, em surto, a obrigao de voltar com ele para
casa. Ento ns temos de ser um servio que, efe-
tivamente, seja uma referncia para o sujeito. Se
no for assim, porque a gente quer fazer de
outro jeito, uma outra clnica, paliativa, sintom-
tica. O Jonas Melman nos fala dos familiares que
parece que no querem nada com a gente, mas
quando eles so acolhidos, ouvidos, apoiados,
quando eles so convidados por um servio que
j de sua confana, eles se desenvolvem como
grupo, como conjunto, eles multiplicam as suas
possibilidades, fazem intervenes culturais, se
tornam protagonistas das suas prprias vidas.
O trabalho com o grupo primeiro originrio do
sujeito no um detalhe, uma opo; no alter-
nativo. Ele deve ser eixo no trabalho psicossocial.
Da outra vez, ns trabalhamos aqui que, se jun-
tarmos psicticos num grupo, estaremos criando a
possibilidade da movimentao de certas coisas,
contedos, experincias, emoes, signifcaes
cristalizadas e de estabilizao de outras situaes
instveis. Hoje, estou dizendo que, alm desse es-
pao prprio onde eles possam estar e exercer
essa sociabilidade, preciso abordar o ncleo da
vida deles em torno desses personagens.
Alis, me referia antes ao fato de que as fam-
lias so essas confguraes confusas, lugar de
possibilidade de identifcaes confusas, e lem-
brando de um caso de um adolescente muito jo-
vem que teve um flho com uma moa tambm jo-
vem e depois foi embora e nunca mais apareceu.
77
Essa criana foi criada como irm do pai, j que
a diferena de idade no era to grande assim,
e foi criada por uns pais que no eram seus pais,
mas o padrasto do pai, mas que para ela, efetiva-
mente, era o sujeito que era o pai. Ento, veja,
difcil, no ? A ele tinha, na realidade, uma re-
lao transferencial muito forte no com o irmo
que era o pai, mas com um outro irmo que, na
verdade, no era irmo, era tio e acabou se regis-
trando uma situao trgica esse tio-irmo-pai
foi assassinado, e ele psicotizou. Ento, na hora
que fazemos o raciocnio freudiano clssico sobre
o dipo, a gente pira, no ? Porque, na verdade,
existe uma questo identifcatria super complexa,
e essas confguraes podem gerar isso e outras
coisas mais. famlia?
, mas no exatamente nas posies, e, se es-
sas confguraes afetam os sujeitos do ponto de
vista de produzir o efeito nefasto e de impossibili-
dade do sujeito se expressar ou se organizar psi-
quicamente, esse grupo a potncia com a qual
ns temos de trabalhar, porque esse o grupo
mais sensvel. Pode ser que a gente desista des-
se grupo depois de anos trabalhando, chegando
concluso de que no vai sair nenhum coelho
desse mato, mas, antes de desistir, ns precisa-
mos investir, e, se no tiver jeito, a gente passa
para outras confguraes, porque sabemos que,
na nossa sociedade, ningum vive sozinho, e ns
dependemos fundamentalmente dessas relaes
vinculares para nos sustentarmos no mundo.
78
O
psiquismo tem uma dimenso que se expres-
sa no grupo, nas instituies e na multido.
Essas so as mediaes principais: o grupo, as
instituies e a multido. Essas so as trs uni-
dades principais de organizao da sociabilidade
que ns temos. o grupo que pode ser a famlia;
o grupo que uma pequena reunio de pessoas
que interagem entre si, em que a instituio j
uma mediadora percebam como a instituio
opera mediando, porque vocs vieram aqui, no
porque j se conhecem, mas porque vocs se co-
nhecem da instituio que a Universidade, en-
to, de alguma forma, aqui est um grupo do Ju-
liano Moreira, ali est um grupo dos estagirios,
algumas pessoas talvez no se sintam pertencen-
do a nenhum dos grupos. Permanentemente, esse
tipo de processo est acontecendo. No existe
a possibilidade de ns estarmos no mundo fora
desses registros. Ns estamos imaginariamente,
Psiquismo e Sociedade: a psicose e os grupos
Marcus Vinicius de Oliveira Silva*
mesmo quando sozinhos, carregando nossas di-
ferenas e nossos pertencimentos que do base
para a nossa existncia.
Bleger nos ensina que, quando a gente entra
em contato com algum, com o desconhecido,
quando a gente entra num coletivo desconheci-
do, nosso movimento psquico o de produzir
um certo fechamento, ns produzimos uma certa
adequao paranide. Na medida em que ns
vamos interagindo com os outros, que vamos ad-
quirindo confana, ns vamos afrouxando e ns
vamos admitindo o outro. O que o afrouxar?
incorporar o outro na dinmica do meu psiquis-
mo, , de certa forma, neutraliz-lo como agen-
te potencial de uma agresso, de uma ofensa. E
quando a gente se acostuma com uma pessoa,
a inscreve com uma identidade e valor em nossa
coleo psquica, a gente no percebe, mas as
pessoas viram suportes de nossas vidas.
Ento, a gente vai fazer um trabalho agora
com um texto, e eu queria que vocs notassem
que vocs estavam num enquadre que no obri-
gava vocs a interagirem entre si. Ora, um regi-
* Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva IMS/UERJ, Professor Adjunto da Faculdade
de Filosofa e Cincias Humanas da UFBA, Coordenador do Laboratrio de Estudos
Vinculares e Sade Mental do Departamento de psicologia da UFBA, Criador e Super-
visor do PIC - Programa de Cuidados Intensivos a Pacientes Psicticos.
1- Transcries da aula de curso Elementos tericos para uma clinica psicosocial das
psicoses set. 2005 Salvador - Ba
79
me de contato j estabelecido uma dinmica
psquica, voc funcionando psiquicamente na
relao com os demais humanos que compem
um quadro no qual voc se localiza. A instituio
era o quadro que mediava a relao entre vocs,
mas agora eu os estou mobilizando para uma
interao produtiva com um forte elemento rela-
cional. Ento vocs todos agora estaro menos
confortveis do que estavam, pela iminncia que
eu estou apontando agora, para vocs coopera-
rem com pessoas que vocs no tm intimidade,
que no eram da relao imediata de vocs. Os
mais tmidos, os mais introvertidos, os mais
sociveis o faro com um estilo prprio de inte-
rao que est relacionado com vrios aspectos,
alguns exteriores e outros interiores, que envolve
o treino que cada um teve para o exerccio da
sociabilidade, a familiaridade com o contexto em
que a mesma se d no sentido de conhecimento
prvio das regras do jogo e tambm de acordo
com uma estrutura egica e com os respectivos
mecanismos defensivos que esta estrutura egica
comporta.
Estou trazendo isso, porque, na questo da psi-
cose, esse fenmeno tem uma caracterstica muito
particular. Durante muito tempo, acreditou-se que
a psicose no fazia lao social. A psicose vivia
num regime de relao to prpria, to singular,
to num mundo de signifcaes particulares, que
o psictico no faria lao social; o psictico, en-
to, no seria um sujeito que teria a sua disposi-
o essa caracterstica que uma caracterstica
de todos ns humanos.
O que seria ento essa experincia na psicose?
que esse movimento de regulao, de incorpo-
rao do outro compartilhado, de avaliao, de
administrao, para ns todos normo-neurticos,
tem referncia numa experincia centralizada,
numa experincia egica que nos sustenta como
uma fco unifcada diante do outro e a iluso
do compartilhamento intersubjetivo. a partir do
ego que ns fazemos os nossos mecanismos de
projeo, de introjeo, dentre aqueles que Freud
chamou de mecanismos de defesa. Ento, nes-
se movimento de administrao do incmodo do
outro o que eu falei para vocs da ltima vez
e bom retomar isso - ns temos uma verdadeira
condenao ao outro. Essa uma idia impor-
tante que deduzimos do Freud: ns estamos con-
denados ao outro. No sei se vocs j pensa-
ram nessa perspectiva: ns estamos condenados
ao outro uma perspectiva muito radical. Ns
no temos alternativa: o outro se impe para
ns como condio inevitvel para nossa existn-
cia.
Ns podemos falar em dois tipos de solido:
positiva e negativa. Quando eu falo da solido
positiva, da possibilidade de qualquer um de
ns poder se recolher na sua condio solitria,
com o outro, bvio, atravessando o imaginrio;
mas quando eu falo da solido negativa, do
fato de poder se recolher para uma certa intros-
peco, para um acerto de contas acerca de uma
percepo de mim mesmo, uma certa ruminao
mental, um movimento que ns fazemos na di-
reo de nos restabelecermos do ponto de vista
desta condio egica.
Se isso, para ns, dessa maneira, na psico-
80
se, isso muito mais problemtico. isso que
problemtico na psicose, o controle desse mo-
vimento que muito problemtico na psicose. En-
to, durante muito tempo, a psicanlise afrmou
que o psictico no fazia lao social. Qual era a
idia? impossvel analisar o paciente psictico,
impossvel analisar a psicose. Por que impos-
svel analisar a psicose? Porque o psictico no
transfere. Vocs lembram que, da outra vez, eu fa-
lei para vocs da questo da transferncia. Ento,
essa a dinmica que complexa na psicose,
esse movimento de poder fazer isso, de se desta-
car, de andar no grupo, de estar exposto.
A idia que o delrio um momento de muita
desorganizao. A temos de pensar por que que
algum delira. O que o delrio? Ns podemos
pensar que o delrio uma sada, quando o lugar
onde o sujeito est posto na signifcao imagin-
ria, o lugar onde ele se pe na signifcao ima-
ginria insustentvel, impossvel e insuportvel
para ele. como se o sujeito, no pelo que ele
, mas pelo que ele constri, o lugar de onde ele
se projeta como sendo ele porque ns estamos
sempre nos projetando, a identidade, como quei-
ra chamar esse lugar imaginrio onde a gente se
projeta. E, eventualmente, quando o sujeito pro-
jetado nessa condio imaginria ou, s vezes,
fruto de uma equao real, de uma situao real
de expresses muito tensas, esse lugar fca insus-
tentvel. Ento, como ele experimenta isso, como
ele vive isso? Ele vive com uma angstia radical,
impossibilidade de sustentar estar naquele lugar
que signifca submeter-se a uma morte ou a uma
destruio.
Ento, ns podemos pensar o delrio como
uma desorganizao benfca e necessria, que
suspende o regime das signifcaes e libera o su-
jeito dos sentidos mortferos em que havia se apri-
sionado. Quando o Antonio Lancetti est falando,
nesse texto, da experincia da desorganizao,
nos ajuda a marcar que esta uma experincia
muito angustiante. A desorganizao acompa-
nhada por muita angstia, porque como se fosse
um sem fo, sem rumo, sem direo, sem parme-
tro. O sujeito vive a desorganizao movida por
muita angstia, e o que o Lancetti est chamando
a ateno que essa angstia, s vezes, encontra
umas palavras menos virulentas, que desmontam
a ameaa, que criam miraculosamente, podemos
dizer nesse sentido, a repentina sensao de que
aquele delrio no to delrio, de que aquela
desordem no to desordenada, de que o mun-
do no vai acabar, de que tem soluo.
Ento, creio que ele esteja falando em conti-
nncia, nesse sentido de oferecer um referencial
de alteridade. Ento, ele diz assim, nada melhor
que alteridade e no autoridade. Autoridade
quando a gente diz assim: pra de delirar, toma
conta, toma tenncia, voc j est passando do
limite; fulano, no fca assim no. Isso a au-
toridade, a tentativa de exercitar sobre o sujeito
um certo comando de poder. Autoridade pres-
supe ordem, hierarquia, valor, lugar de quem
manda e de quem obedece.
O sujeito est fora da ordem, ento o que pode
conter o sujeito? O que pode conter o sujeito
algo que lhe inspire, de alguma forma, ordem;
que lhe inspire, no que lhe submeta; que lhe ins-
81
pire, que produza sentido, que produza signifca-
o. Ento, ns podemos pensar que, quando um
psictico fala pro outro: olha, eu tambm j pas-
sei por isso e posso te afanar que daqui a pouco
o seu delrio vai passar , isso tem um efeito e um
poder. A verdade que essa fala carrega tem um
imenso poder de afetao do sujeito, diferente da
fala do psiquiatra e do psiclogo que diz fula-
no, fque tranqilo, vai fcar tudo bem. Essa fala
produz uma continncia para a angstia, essa
fala ressoa pro sujeito. Essa palavra do outro que
d o testemunho de que isso j se passou com ele
como se tivesse um poder de comunicao na-
quele horizonte catico, poder que a gente des-
preza muitas vezes.
Poder de comunicao do compartilhamento
da experincia, porque a gente sabe que o tra-
balho com os Alcolicos Annimos e os demais
grupos de auto-ajuda tm uma grande impor-
tncia, s que, normalmente, com o psictico, a
gente diz que no vai funcionar, o que pode um
delrio dizer para outro delrio?, o que pode um
delirante dizer para outro delirante? como se
houvesse um preconceito de que h uma sociabi-
lidade, mas que no ser uma sociabilidade ins-
talada nos moldes que ns instalamos nos grupos
de neurticos.
Esse regime regular de comunicao produz
algo, mas o que que ns podemos aproveitar
quando reunimos sujeitos que so marcados por
essa mesma condio? O que que um ofere-
ce para o outro do ponto de vista de suporte, de
sustentao? Como que esses sujeitos tambm
entram nesse jogo? claro que entram, e entram
ao seu modo; se no entram ao modo como ns,
neurticos, estamos mais acostumados, no po-
demos desprezar o seu modo de entrar em re-
lao. E a grupalidade, a grupalizao dos psi-
cticos pode ser um passo fundamental para
sustentar essa coisa que responde problemtica
da solido, que a de dizer assim: ai, que bom,
existe outro bizarro como eu, existe algum to
bizarro quanto eu, eu no controlo tudo do pon-
to de vista da estranheza. Como que eu com-
partilho com o outro a diferena que ele tem e
como que ele compartilha a diferena que eu
tenho. que eu compartilho, de repente, que h
outras formas de existir, e que elas so legtimas,
que elas tm direito de estar no mundo. isso
que um psictico, s vezes, oferece ao outro, essa
sensao de que existem outras formas, formas
bastante singulares de estar no mundo e que elas
podem se complementar.
Ns, quando trabalhamos num grupo, acha-
mos que o grupo funciona porque um vai falar,
outro vai falar, e as coisas vo se complementan-
do. Mas temos de valorizar o impacto da prpria
presena, por isso esse trabalho apresenta sempre
surpresas, porque trabalhamos no grupo como se
ele fosse uma ferramenta para os nossos prop-
sitos, os da instituio, queremos fazer grupo para
os interesses particulares, para o benefcio de ofe-
recer algo, para a nossa fnalidade, ns estamos
sempre pensando que essas pessoas podero se
encaixar atravs desse recurso. Ento, penso que
o Lancetti nos alerta como se dissesse assim: gen-
te, ns abusamos dos grupos, ns muitas vezes
aviltamos os grupos, porque, quando estamos
82
trabalhando com pacientes com essas caracters-
ticas, ns precisamos suportar o grupo que eles
so, precisamos dar conta desse grupo que pos-
svel e entender que, dentro desse grupo que
possvel, h um trabalho que no depende s da
nossa fala, de ns dizermos coisas para eles, e
que o que eles se dizem dentro de uma dinmica
grupal, muitas vezes, tem muita potncia.
E uma das potncias que est em jogo a po-
tncia da continncia, de que isso produz con-
tinncia, de que isso produz um alvio por parte
do sujeito que encontra um referencial para sua
presena na companhia dos demais, um sentido
na companhia dos demais, e esse sentido que
ns chamamos de continncia.
Mas a enfermaria do hospital psiquitrico no
produz essa possibilidade, apesar de l encontrar-
mos muitos pacientes. Talvez a questo seja a de
que ns no patrocinamos, porque isso no es-
pontneo, no da relao de um psictico com
outro psictico; pelo contrrio, o que ns vemos
um dar cadeirada na cabea do outro. que
preciso unir um mnimo de tcnica, um mnimo de
enquadre, mas o mnimo, e a, quando vamos
l, queremos botar o mximo de ordem, quere-
mos enquadrar tudo. Ser que suportaramos, no
manejo de grupo com psicticos, essa questo do
mnimo do enquadre, ser que daramos conta
de entender que a nossa tarefa, o nosso papel,
um mnimo de enquadre, ser que vamos supor-
tar assistir o grupo, secretariar o grupo, apoiar o
grupo?
Se no atrapalhamos, j ajudamos muito. Ve-
jam, isso importantssimo. A idia de que h
uma potncia no vnculo e na sociabilidade, j
que eles que sustentam a possibilidade de des-
lizamento da signifcao as signifcaes des-
lizam a partir dos lugares concretos que o sujeito
pode se colocar diante dos outros sujeitos. A ques-
to psictica defne-se pela questo do sujeito, da
posio que o sujeito imagina que est colocado
diante do outro.
Ora, o grupo esse espao onde coisas po-
dem acontecer para o sujeito, muitas coisas po-
dem acontecer para o sujeito no grupo. O grupo
um espao de aproximao, de trocas bilate-
rais. Por que, em um grupo, temos de estar todos
centrados em um mesmo lugar? isso que pira
os coordenadores de grupo. Quantas interaes
transversais se produzem no grupo? O que que
vai fazer sentido para algum? A que horas al-
guma coisa vai fazer sentido? Ns nunca sabe-
mos exatamente; agora, estar em grupo muito
confortante. uma coisa muito poderosa, a roda
grupal uma coisa muito poderosa, talvez vocs
no percebam, porque j esto muito acostuma-
dos com isso, mas h um poder nessa confgura-
o em que todos esto diante de todos. Quando
algum diz algo, ele est dizendo para todos, ele
para todos.
O samba de roda lindo nesse sentido, essa
matriz afro-brasileira. um belo dispositivo cul-
tural de relacionar o particular com o universal,
o direito experincia narcsica, a administrao
do narcisismo. Faz-se uma roda como se diz l
na Pirajua, cada um tem seu samba para mostrar
e cada um vai l mostrar o seu jeito de sambar.
A todos os outros te apreciam, e o sujeito de-
83
pois volta para ser o apreciador, para oferecer a
especularidade, porque danar sem ter ningum
para olhar no tem graa, no , mesmo? Ento,
a roda, do ponto de vista de dispositivo, tem um
poder muito grande.
Toda vez que resolvemos colocar pacientes psi-
cticos na roda sem querer previamente que ela
tenha uma misso a cumprir com isso, vamos nos
surpreender... que ns somos muito produtivistas,
e, muitas vezes, quando estamos atrs dessa certa
produo, ns perdemos de vista o que est se
produzindo nas transversalidades, nessas formas
vinculares. Trata-se de uma relao especial com
o grupo, de sustentao. Ento, podemos pensar
que no h grupalidade entre psicticos - se, por
grupalidade, entendermos essas formulaes ge-
nricas e alegricas que se enunciaram sobre os
grupos. Mas os humanos se tornam humanos em
grupo, e a produo de subjetividade no pode
acontecer sem um processo coletivo. Essa uma
idia que precisamos considerar, pois, de modo
geral, somos muito descrentes na ordem de socia-
bilidade que se produz na experincia psictica.
A nossa clnica tem de se aportar nisso. No
que a clnica psicossocial negue as outras coisas,
mas ela fala: olha, tem um poder a, um poder
inexplicvel, um poder curioso que se estabelece
na relao vincular, produzindo um deslizamento
das relaes de signifcao.
Tem um texto, no mdulo de vocs, que se
chama O grupo como instituio e a instituio
como grupo, do Bleger, que traz conceitos muito
interessantes, que so o de sociabilidade organi-
zada e sociabilidade sincrtica. Ns temos dois
nveis de sociabilidade, e o nvel de sociabili-
dade organizada que passa pelo simblico, que
passa pela interao com o simblico. Mas, ao
mesmo tempo, existe uma dimenso que ele fala
tambm que so os estados psicticos da perso-
nalidade. Isso serve para a gente pensar que ns,
neurticos, somos uma entidade fccional organi-
zada, em torno da idia original do ego, um eixo
de ordenamento simblico. Mas ns no somos
somente ordenamento simblico, e esse ordena-
mento sob o regime do ego, tem um poder de
manter submetidas as foras disruptivas, as foras
desorganizadoras, a dimenso desorganizada do
nosso psiquismo.
Gosto de pensar que um iceberg, uma pon-
tinha organizada para fora e um monte de desor-
ganizao profunda. Este seria o estado estvel
da organizao neurtica. No psictico, s vezes,
o contrrio, e essa pontinha fca de ponta ca-
bea, e a desorganizao emerge como um todo
visvel. Mas o que vale a pena ressaltar que
uma dimenso de desorganizao constitutiva
da condio humana, e que a desorganizao
no uma ilha, e sim um continente, submetido
potncia da organizao simblica do ego. Se
o ego falha, toda a desorganizao emerge.
fcil perceber isso no cotidiano: diante de situa-
es inesperadas muito invasivas e ou violentas,
na maioria dos sujeitos se produz uma perda do
controle, e a desorganizao emerge, numa rup-
tura com o quadro simblico. Os sujeitos se tor-
nam irracionais e imprevisveis.
Podemos pensar tambm que a sociabilidade
sincrtica estabelece um certo estar no mundo
84
que se estabiliza depositando certas dimenses do
psiquismo no outro, que deposita psiquismo nas
coisas e no ambiente, atravs de uma projeo de
matria psquica investida. Um exemplo curioso
disso diz respeito s difculdades de se produzirem
mudanas nas instituies: nas reparties pbli-
cas, quando voc quer mudar uma mesa do lugar,
o funcionrio resiste. O que a resistncia? Quer
dizer assim, a mesa no s uma mesa, ela est
ali segurando uma identidade, uma vida, uma ex-
perincia, um sentido no mundo, uma certa lo-
calizao psquica, espacial e identitria. Por isso
que as instituies no gostam de mudar, porque
se extrai segurana dessas depositaes psquicas
no ambiente, se estabiliza psiquicamente fazendo
essas depositaes no ambiente e nas pessoas.
Por isso que se procuram sempre os mesmos gru-
pos e pessoas; as pessoas tm esse poder de nos
garantir uma certa estabilidade para nos referen-
ciar.
Mas, ao lado disso, existe uma sociabilidade
organizada. E a questo no grupo de psicticos
que essa dimenso tem vindo tona, ela sur-
ge muito, ela no est sob controle, ela explode
muito como desorganizao, e isso, para ns que
coordenamos o grupo, extremamente inquie-
tante. Ento, podemos pensar que, para coorde-
nar um grupo de psicticos, devemos desenvolver
uma atitude muito plstica, de uma plasticidade
mental.
Cada vez que fzermos a atividade, isso signif-
car acolher esse conjunto de produes, de ex-
presses, sem nos afetarmos muito com ela, sen-
do capaz de receb-las. A desorganizao no
pode nos atingir ameaadoramente, a ponto de
ouriarem os estados desorganizados que mante-
mos guardados pena de muita energia dispen-
dida para garantir que a apresentao individual
diante do mundo parea o de uma pessoa orga-
nizada. Muitas vezes, custa, para alguns de ns,
manter a sua dimenso organizada sob seu pr-
prio controle. A quando o sujeito se desorganiza
na sua frente, como se fosse uma convocao
aos seus estados desorganizados.
Ns podemos pensar isso em todas as situa-
es de crise, no s de crise psictica, mas ns
podemos pensar em situaes que se caracteri-
zam como sendo de crise do ponto de vista do
psiquismo e da subjetividade. A leitura sobre a
multido, sobre o fenmeno da multido, muito
interessante nesse sentido do contgio da turba.
A turba um conceito interessante para a gente
pensar esse funcionamento psquico: o linchamen-
to, a destruio das torcidas, essa fora disrupti-
va desorganizada que, de repente, convocada
toda para fora e toma completamente o estrato
organizado, domina o estrato organizado.
Ento, essa uma forma interessante; o Bleger
fala em clivagem, esse movimento que ns temos
de submeter o estrato desorganizado do psiquis-
mo a uma certa subordinao, e como, muitas
vezes, diante da experincia de desorganizao
do sujeito, isso convoca que ns reajamos de-
fensivamente. Ento, ns podemos pensar que,
na lida com psicticos, ns temos de levar em
considerao sempre a possibilidade de que ns
atrapalhamos, porque reagimos defensivamente
85
frente produo, ns, muitas vezes, termina-
mos por resolver os nossos problemas, as nossas
ansiedades, tentando dar conta delas e, de certa
forma, impedindo a expresso do prprio sujeito,
a verdade dele.
Ento, por isso difcil coordenar o grupo ou
o coletivo de psictico. preciso ser plstico para
coordenar. Eu acho que ns precisamos, todos,
desenvolver essa capacidade. E falo disso a partir
de um tipo de experincia que tenho comparti-
lhado com outros colegas, nos ltimos anos, de
produzir eventos que renem quatrocentos, qui-
nhentos usurios do servio de sade mental nos
dispositivos polticos chamados de reunio das
assemblias. muito interessante, antropologi-
camente falando. Quando voc rene duzentos,
trezentos sujeitos que tm essa condio de, s ve-
zes, sair fora e desorganizar, as coisas que acon-
tecem, os esforos para manter a organizao, os
tipos de enunciao, os mtodos de participao,
as formas de expresso desses sujeitos so muito
interessantes e proporcionam uma grande opor-
tunidade de aprendizagem.
Trago essa informao para dizer assim, que,
com o passar do tempo, talvez esse tipo de ex-
perincia traga para ns uma posio um pouco
mais, de fato, no contemplativa; mas assim,
de abertura para a experincia com a novidade
desse tipo de sociabilidade, e que seja de mais
confana tambm, de uma aposta mais decidida
de que a ameaa de que vai tudo se desorgani-
zar tem mais a ver com uma fantasia nossa do
que com as limitaes dos sujeitos psicticos para
estarem juntos em grupos e em coletivos. Acho
que os subestimamos, que, se a gente juntar um
bando de doido, a confuso vai pegar, e a gente
acaba por colocar certas exigncias formais que
acabam oprimindo a expresso desses sujeitos.
De qualquer forma, isso, coordenar grupo no
fcil. At que ponto coordenao de grupo cor-
responde ao que ns aprendemos como coorde-
nao de grupo?
Ns temos um fascnio em descobrir signifca-
dos. Coordenar grupos, nesse caso, no dessa
ordem. Ns somos fascinados em signifcados,
achamos que, se pegarmos o fo da meada do
delrio, se escutarmos aquelas palavrinhas todas
que vm do delrio e fzermos um esforo, ns va-
mos compreender, ns vamos entender o que
que o paciente est falando, que, efetivamente,
o que o paciente est falando no est dito nas
palavras que ele diz, como traduo da experi-
ncia da impossibilidade, e a fazemos o caminho
de buscar o sentido e a signifcao.
A questo da interpretao importante, mas
tem seus limites, porque no se interpreta o vn-
culo, no se interpreta sociabilidade. Fulano est
bem com sicrano, o mximo que eu posso dizer
: vejam, que interessante, hoje o fulano est to
bem com o sicrano. Vejam, o que eu estou fazen-
do sendo um speaker, um crooner da corrida de
cavalos, do futebol; estou narrando um conjunto
de eventos que est colocado nessa esfera, do
que est colocado, sem profundidade nenhuma.
Fazer essa narrativa do que est acontecendo na
superfcie , muitas vezes, emprestar narrativa o
papel de sustentadora do vnculo entre os sujeitos,
uma forma de noticiar para o sujeito aquilo que
86
est se dando com ele e que visvel para todos,
que assimilvel por todos.
Ento, retomando o texto do Lancetti, vemos
que o grupo produz a possibilidade de uma mat-
ria inventiva, o grupo produz algo de novo como
experincia. E a ele diz: vai inteirando uma rede
vincular, os componentes dos grupos vo sendo
atrados pelos seus companheiros por gestos, por
expresses verbais e por atitudes, as mais varia-
das, a que denominamos elementos massa.
bvio que ns temos de enfrentar a questo do
mutismo, da destrutividade, do narcisismo que
emerge, da centralidade que um paciente assume
na cena grupal. Mas ns no interpretamos, ns
enfrentamos como questes que esto se dando
ali. Ento, esse chamado outro no uma inter-
pretao, mas uma constatao, e isso tem um
grande efeito nessa rede vincular.
H um dado interessante que temos desenvol-
vido na nossa clnica no programa de Intensifca-
o de Cuidados, que gostaria de compartilhar
com vocs: a constatao de que o psiquismo se
produz incessantemente e ns podemos escut-
lo o tempo todo, e no apenas nos settings que
convencionamos! Alguns acham que s se escuta
quando se marca uma hora, um momento parti-
cular que o sujeito vai at ali para ser atendido
e o outro para atend-lo. No estamos negando
que essa demanda se instaure no paciente psic-
tico. Eventualmente, ela se instaura mesmo. Mas
o tempo todo que os sujeitos esto nas mais diver-
sas modalidades grupais, eles esto produzindo
psiquicamente, a psicose est produzindo psiqui-
camente.
Ento, nosso desafo , em todos os grupos,
em todos os momentos de reunio, todos os ins-
tantes em que o sujeito se agrega ou agregado
dinmica institucional em que proposta algu-
ma coisa, em todos esses momentos, ns estamos
escutando a produo do inconsciente do sujei-
to. Em todos os momentos, o inconsciente est se
produzindo, um presente para o analista, voc
no sabe exatamente quando que algo signi-
fcativo vai ser despertado, ser trazido tona,
voc no sabe qual evento, qual palavra de outro
paciente vai desencadear, como um sinal, para o
outro sujeito na produo profundamente reve-
ladora de um conjunto de experincias que so
marcantes na experincia psquica desse sujeito.
Ento, todos ns que estamos acompanhando
esses sujeitos, somos ouvidos, olhos, percepo.
Ento, permanentemente, deve estar havendo
um trabalho clnico de conexo das preciosas
informaes que ns precisamos para estruturar
a compreenso do caso. Ns no somos aquele
que vai para a anamnese e fca ali escutando o
sujeito falar sobre si naquele momento. Eu estou
o tempo todo sabendo da relao dele com a
me, com os irmos, das vivncias, dos aconteci-
mentos, do dia anterior, de dez anos atrs, da sua
memria mais remota... Essas coisas vm! Ns
precisamos todos, independente da formao
profssional, seja psicanalista, assistente social, ter
uma leitura e interpretao da psicofarmacologia,
da psicodinmica da psicose, da compreenso da
psicose enquanto um efeito. Ento precisamos to-
dos tambm desenvolver uma certa interpretao
dos efeitos sociais do psiquismo psictico. Eu fco
87
pensando que vemos acontecer muito as pesso-
as falarem diante de uma agitao, de um surto:
leva pra enfermaria, leva pra emergncia. in-
teressante essa relao que, diante da agitao,
manda levar para a emergncia. curioso esse
modo de operar com os fenmenos com os quais
a gente lida. A agitao tambm deve e pode ser
escutada.
Todos ns precisamos ter uma apropriao e
uma compreenso do que signifca essa posio
psquica da psicose, todos que vo trabalhar nes-
sa clnica; pois tendo uma compreenso orga-
nizada, que ns vamos poder pensar em como in-
tervir nele, saber que sentido tem essa produo,
para ver que possibilidade ns temos de interven-
o. Eu estou trazendo isso, porque os grupos de
trabalho, os passeios, as praias, em todos esses
lugares, os sujeitos esto produzindo psiquica-
mente. O que ns precisamos aprender a co-
lher os dados para fazer uma compreenso do
que est acontecendo com estes sujeitos nesses
diversos eventos.
Uma outra coisa relevante seria a coisa do pre-
paro possvel para o trabalho com a coisa mental,
o quanto ns somos humanamente defendidos em
relao desordem da coisa mental, e a a gente
tem de entender que a defesa que ns temos so
as nossas mediaes identitrias. O Franco Ba-
saglia falava disso. Todo recurso que faamos s
identidades corporativas profssionais signifca um
esforo defensivo. Defensivo de que e para qu?
Defensivos da desordem e para criar organizao
e se proteger atravs dela.
No estou querendo dizer aqui que no de-
vamos nos defender isso seria impossvel - mas
essa uma interpretao interessante, sobretudo
se ns recorrermos receita tcnica. Mas temos
a obrigao de colocar em anlise as nossas de-
fesas. Toda vez que a gente deixa de entrar em
contato com o fenmeno para prescrever o que o
fenmeno a partir de um construto qualquer que
a gente traga mentalmente, a diferena muito
sutil. A diferena que, quando voc entra em
contato com o fenmeno e vai buscar uma frmu-
la dentro do saber organizado que voc tem para
interpretar o fenmeno ou se voc, ao entrar em
contato com o fenmeno, impe ao fenmeno,
antes de entrar em contato com ele, pela mera
aparncia do mesmo, voc j o destacou como
uma hiptese.
E, toda vez que a gente trabalha com hipte-
ses, a gente est fazendo a tentativa de se apro-
ximar do fenmeno e exercer domnio sobre ele,
control-lo, porque isso afasta a angstia da ig-
norncia. Uma atitude mais interrogativa mais
adequada do que uma atitude que tem certezas.
O que ser isso aqui? O que que est aconte-
cendo aqui? Essa curiosidade sincera de saber o
que quer dizer aquilo que o sujeito fala. O que
ele est vivendo, o que est experimentando des-
perta a empatia. E muito rapidamente, antes de
fazer esse movimento, voc diz um delrio,
uma histeria. E isso vai te dar segurana. Isso
muito sutil, bvio, porque envolve uma questo
de atitude, de abertura, de disponibilidade, e isso
envolve outra questo que a nossa relao com
a ignorncia.
Ns temos um problema, j que no podemos
88
ser ignorantes. As nossas profsses e o exerccio
delas est baseado na pressuposio de termos
um saber. Quanto mais as instituies so compe-
titivas, menos ns podemos ser ignorantes. Como
que eu posso, diante do outro que quer me des-
truir, me abrir e dizer desculpa, eu no sei. Vo
me dizer que eu sou um estpido, que no sei.
No estou querendo dizer para entrarmos no re-
gistro do gozo da ignorncia, mas de poder ter
uma relao tranqila com a ignorncia, porque,
no gozo da ignorncia, no se quer saber, se quer
fcar seguro naquele lugar e pronto; uma posi-
o que no possibilita muita coisa. Falo de reve-
renciar esse outro tipo de ignorncia e construir
uma cultura em torno dela, de poder compartilhar
com o coletivo o no saber, de poder construir
interpretaes coletivas sobre o que est aconte-
cendo, poder perguntar como que o outro est
vendo, admitir que est com difculdade.
Ento, no fundo, ns estamos falando que a
nossa relao com a ignorncia depende da nos-
sa relao com o poder, tem a ver com o poder
que ns atribumos ao saber. Se ns acharmos
que o saber a coisa mais importante do mundo,
ns no vamos conseguir admitir que no sabe-
mos, mas a ns estamos colocando o saber num
lugar de falo, e a, o grupo de psicticos no de-
cola.
O grupo pode ser um lugar de profundas
aprendizagens, em todos os sentidos, de aprender
a coordenar, de ter de dar conta da ansiedade,
de se perguntar por que aquilo que acontece me
mobiliza tanto e uma escola e tanto do ponto de
vista da criatividade psictica. Ns aprendemos
com a psicose o seu grande poder de reinventar a
forma da vida para o sujeito, recriar a vida do su-
jeito de uma forma que possa ser vivel para ele.
Ns j estamos na metade do curso, ento,
no vou mais enganar vocs: no tem nenhuma
novidade nesse assunto de clnica psicossocial da
psicose. O que tem de novo que, em tudo o
que ns formos fazer, ns vamos considerar que a
questo da sociabilidade e a questo do vnculo
so questes fundamentais para o sujeito psicti-
co, e a clnica no pode seguir ignorando-as.
89
*Psiclogo, Doutor em Sade Coletiva IMS/UERJ, Professor Adjunto da Faculdade
de Filosofa e Cincias Humanas da UFBA, Coordenador do LEV - Laboratrio de
Estudos Vinculares e Sade Mental do Departamento de Psicologia da UFBA, Criador
e Supervisor do PIC Programa de Cuidados Intensivos a Pacientes Psicticos.
T
omada como a signifcao mater, raiz da pos-
sibilidade de toda e qualquer signifcao, a
signifcao de cada sujeito como um eu s
pode ser estabelecida na trama complexa das re-
laes humanas, ensejadas desde a sua apario
num mundo pr-existente, organizado simbolica-
mente, no qual ela emerge como uma funo do
outro.
A aquisio do recurso psquico da simboliza-
o, condio de uma construo interna do eu,
derivaria, nesse caso, da operao original de
ruptura com o patamar da experincia especular
e fusional, onde, ilusoriamente, este sujeito, sem
conscincia prpria dessa condio, se plasmava
como extenso ou contigidade dos organismos
adultos que lhe emprestavam sustentao tanto
material como emocional pela via das impresses
e sensaes. (Lacan, Escritos)
A operao de censura psquica fundadora
A psicose e as relaes vinculares:
um esforo de referenciao terica
Marcus Vinicius de Oliveira Silva*
da signifcao original do eu que se identifca
como uma poro diferenciada nessa mescla in-
distinta e bsica recortaria imaginariamente uma
poro da angustiante experincia possvel mar-
cada pelas caractersticas singulares da sua pro-
to-histria como sujeito para criar, ao mesmo
tempo, o ser, o sentido do ser e o prprio regime
da signifcao.
A contra parte da qual o sujeito se descolou o
domnio do, a partir da, defnido como outro
e distinto do si e os sentidos e signifcaes
que receber como outro, encerrar, portanto,
sempre uma dimenso de arbtrio, resultante do
modo como essa operao de censura buscou
ser efciente para enfrentar a questo da angs-
tia, mola propulsora da individuao e condio
fundamental de instaurao do registro psquico.
A fundao da sociedade se produz e se re-
produz na experincia singular atravs da qual as
crias humanas, movidas pela angstia, so im-
pulsionadas a instaurar uma clivagem entre o seu
organismo biolgico vitalmente autnomo e os
organismos biologicamente autnomos, cultural-
90
mente estabelecidos, que lhe oferecem suporte e
cuidados para viabilizar o seu desenvolvimento.
Entretanto, mais do que uma direo biolo-
gicamente apontada e dada como inevitvel, a
individuao psquica seria uma resultante das
dinmicas do trabalho singular operado pela
angstia que se instala pelo descompasso entre
a autonomia biolgica de dois organismos, de-
sigualmente autnomos, colocados em relao,
sendo que o mais autnomo deles se localiza em
relao ao menos, a partir de um regime de sig-
nifcaes que, alm de indisponvel para esse, in-
clui uma signifcao prpria para cada um para
o conjunto formado por ambos e instrui e orienta
a ao do primeiro em relao ao segundo.
Assim, seria o descompasso entre as expectati-
vas brutas biologicamente orientadas - do orga-
nismo indistinto e as resultantes da movimentao
culturalmente orientada do adulto o que oferece-
ria a base experiencial da angstia geradora do
movimento da individuao psquica, marcada
por uma profunda especifcidade em cada situ-
ao, responsvel pelos modos absolutamente
singulares de como cada indivduo se signifca
no mundo, bem como, ao mesmo tempo, esta-
belece certas possibilidades para a existncia do
outro.
Ao mesmo tempo, tal condio explicaria cer-
tos modos ou direes do arranjamento psqui-
co dos sujeitos, a partir do carter melhor ou pior
sucedido dessa operao, sucesso compreendido
como uma efcincia no enfrentamento da an-
gstia atravs da aquisio do registro simblico.
O recurso simbolizao seria percebido, desse
modo, como um mecanismo de defesa contra as
ansiedades persecutrias atravs de uma opera-
o de controle do mundo pela via da sua incor-
porao interna como signifcao
1
.
Tal seria a marca distintiva da estrutura existen-
cial que caracterizaria os sujeitos designados ge-
nericamente como psicticos: um modo singu-
lar de arranjamento psquico em que se evidencia
o carter precrio dessa operao fundamental
em que se estabelece a possibilidade da instau-
rao de um psiquismo compreendido como uma
delimitao fccional da existncia de um eu
que guarda em si um registro do outro e que
pressupe nos outros empricos a possibilidade de
que contenham algo do eu prprio como lcus
identitrio, base da organizao simblica e inter-
na do mundo.
A precariedade estaria dada pela descompen-
sada construo do outro como instncia inte-
rior (introjeo) ao psiquismo ou como possibili-
1 - Tal hiptese, de extrao psicanaltica, oferece interessantes possibilidades para
pensar a instaurao do psiquismo como instaurao orgnica do regime social da
vida humana, rompendo com a dicotomia indivduo /sociedade. A instaurao do
psiquismo individual converte a cria humana em sujeito social, ao estabelecer,
concomitantemente, o acesso ao registro simblico da cultura pela via singular da
demarcao do eu e do outro, como matriz ou base de apoio de toda a suces-
so de signifcaes que a partir da se tornam viveis. A aquisio individual do
psiquismo, baseada na aquisio do registro matriz do eu e do outro constitui-se,
portanto, numa operao social em todos os sentidos: porque o pressupe o social
como sua condio radical; porque resulta das primeiras relaes de socializao
do candidato a sujeito com os outros humanos da cultura; porque estabelece as con-
dies bsicas da identidade por diferenciao, etc. Tornar-se scio da sociedade
, portanto, realizar a operao de censura imaginria, num certo estgio do
desenvolvimento, permitindo a instalao de uma instncia do eu como uma
funo derivada da imposio da existncia autnoma do outro.
91
dade da pressuposio no outro (projeo) dos
registros que seriam prprios do eu, condio
bsica da regulao das relaes vinculares me-
diadas simbolicamente.
Dessa forma, o efeito de alienao, que pres-
supe a iluso da intersubjetividade, constitudo
na condio do bem sucedido arranjo psquico
ao modo da neurose:
assim que, em toda esta relao com o ou-
tro, haver essa ambigidade para o indivduo,
que se trata de alguma maneira de escolher, ele
ou eu, que em toda relao com o outro, mesmo
ertica, haver algo do eco que se produzir des-
ta relao de excluso que se estabelece a partir
do momento em que o ser humano um individuo
que, sobre o plano imaginrio, constitudo de tal
maneira que o outro sempre prestes a retomar
este lugar de domnio em relao a ele, enquan-
to que nele h um eu que sempre, em parte,
alguma coisa que lhe parece de algum modo es-
tranho, que uma espcie de senhor implantado
nele acima das tendncias globais suas, dos seus
comportamentos, de suas pulses... a sntese do
eu no se faz nunca, alguma coisa que talvez fos-
se melhor chamar de funo de senhorio, de do-
mnio. E este senhor, onde est ele? No interior?
No exterior? Est sempre, ao mesmo tempo, no
interior e no exterior; e por isso que qualquer
equilbrio puramente imaginrio com o outro sem-
pre atacado por uma espcie de instabilidade
fundamental (Lacan, Seminrio de 18 de janeiro
de 1956, apud Mannoni, M. , 1967)
Ainda seguindo a mesma construo, podera-
mos dizer que tal jogo oscilatrio instalado no psi-
quismo humano seria a condio de produo da
prpria vida social, como um registro possibilita-
dor das trocas, em diversos nveis, entre os scios
neurticos da sociedade. Na psicose, os arranjos
psquicos disponveis, resultantes das construes
possibilitadas pelas interaes dos sujeitos com o
ambiente material e humano - instabilizariam
radicalmente a posio do sujeito em relao ao
outro, posto ora na condio da proximidade
excessiva e fusional prpria do registro simbitico
ora na condio de alteridade radical paranoi-
camente ameaadora. Deste modo, enquanto o
registro psquico normo-neurtico do funcio-
namento da vida social
2
pressupe como con-
dio a alienao vincular colocado o vnculo
como modo fundamental de ligao com o outro,
philia
3
propiciadora da iluso do comparti-
lhamento intersubjetivo; no registro da psicose, o
outro aparece como um elemento enigmtico
diante do qual o psictico titubeia, problematiza a
2 - O individualismo moderno, conforme anteriormente referido, veio problematizar
sobremaneira a condio destes sujeitos com registros precrios da instaurao do
psiquismo, conferindo-lhes a condio de baixa funcionalidade social, na medida
em que toda a avaliao e validao do sujeito social est baseada na competncia
performtica dos indivduos, medida sobretudo pela sua capacidade de interao
com os outros indivduos.
3 - Aristteles afrma que, como o homem um ser social, no basta ser bom intrinse-
camente, mas sim atuar na comunidade como um ser poltico. Se ele deve atuar, no
pode prescindir de ser afetado por meio da noo de philia. No se traduzem philia
e philos simplesmente como amizade e amigo. Philia inclui os variados vnculos, bem
como os mais afetivamente intensos. Os requisitos bsicos para que haja autntica
philia: Reciprocidade - a philia exige compartilhar e devolver o benefcio e o afeto.
Independncia: o philos deve ser percebido como um ser totalmente independente,
dotado de um bem prprio, e o verdadeiro philos deseja o bem do outro por ele
mesmo, a troco de nada. Os philoi devem ser e perceber-se reciprocamente como
centros individuais de deciso e ao. A necessidade da convivncia fundamental
92
relao e encontra limitaes relacionais.
Poderamos pensar, portanto, os psicticos
como uma dissidncia vincular os arautos do
vnculo pois eles oferecem visibilidade para o
mais elementar dos traos da vida social, estabele-
cidos como condio mesma da prpria, a saber,
o fenmeno atravs do qual o compartilhamento
simblico se torna possvel entre os sujeitos no
apenas a partir da aprendizagem vinculante de
signos e signifcados como a partir da sua introje-
o tornada possvel pela formatao psquica de
cada indivduo como um sujeito da cultura. Dos
embaraos vinculares da psicose, das estratgias
organizadoras dos seus arranjamentos.
Vnculo, fragilidades vinculares e tecnologias
de gesto social
A descoberta da transferncia ou a inveno da
noo de transferncia por Freud pode ser con-
siderada como a matriz de toda a produo de
tecnologias de interveno relacional que reco-
nhecem a condio do outro - alvo de alguma
iniciativa intencionada de um agente especializa-
do - como um sujeito. No advento da transfe-
rncia, podemos identifcar tambm a condio
inaugural que estabeleceu as bases dos processos
de uma formao possvel para os agentes en-
volvidos em iniciativas do tipo psicoteraputicas
ou, como enunciamos, para o preparo para
o trabalho com a coisa mental ou ainda para o
trabalho com as dimenses da subjetividade.
Mais do que simplesmente estabelecer uma
compreenso acerca do que hoje possvel de-
nominar como fenmeno transferencial - dos mo-
dos de atualizao de certos afetos originalmente
reprimidos, reeditados em certas circunstncias
especfcas e direcionados a um agente estrategi-
camente posicionado diante do sujeito a noo
de transferncia, como um saber do agente sobre
si mesmo, inaugura novas possibilidades de que
este agente suporte certas cargas afetivas, que,
no fora esse o recurso, imprimiriam ao relacio-
namento em questo destinaes absolutamente
imprevisveis.
Saber de natureza originalmente intelectual
como conceito que pode ser apreendido e que
incide sobre a subjetividade do agente - a noo
de transferncia opera por via de uma clivagem
psquica que, objetivamente, alarga as possibili-
dades da experincia do mesmo, permitindo-lhe
um certo exerccio de controle dos efeitos nele
provocados pelos afetos que lhe so dirigidos
pelo outro sujeito, ao separar a sua pessoa da-
quela identidade de agente da funo exercida.
Ao modo do teatro, possvel ao agente sus-
tentar como personagem a funo analtica
pode ser pensada como uma interpretao de um
sofsticado papel e no como a sua pessoa mes-
ma, certas cargas de afetos endereados, sem se
deixar, imediatamente, afetar por isso, no sentido
reacional. Ao mesmo tempo em que se alarga a
para os philoi. No h nada to caracterstico do amor como a convivncia. Os
philoi devem conviver, compartilhar atividades intelectuais e sociais e o gozo, o prazer
pela companhia do outro. A convivncia prefervel a tudo.
93
possibilidade de suportar as expresses da afeti-
vidade alheia, pela via de uma desidentifcao
com a condio de sujeito originariamente des-
tinatrio da mesma, torna-se possvel ao agente
manejar essa relao afetiva no sentido de certos
objetivos pr-estabelecidos como teraputicos.
Como conceito capaz de produzir um efeito
subjetivo no agente alargador da sua capacidade
de suportar a experincia do outro e sustentar
diante dela uma interveno eticamente dirigida
a certas fnalidades, a inveno da transferncia
como um conceito operacional inaugura um novo
modo de relao entre teoria e prtica, no que diz
respeito clnica, edifcando as bases de todo o
preparo para lidar com a coisa mental.
De algum modo, tal como ocorre mais explici-
tamente com o conceito de transferncia, todos os
conceitos operativos da clnica mental deveriam
colaborar para a produo de uma expanso,
para uma ascese subjetiva, da condio prvia do
sujeito em treinamento para uma nova condio,
em que resultaria alargada a sua possibilidade
objetiva e subjetiva de suportar um conjunto de
fenmenos e expresses que lhe so dirigidas em
funo do seu trabalho pelos sujeitos atendidos
e que, no fora tal recurso, impactar-lhe-iam de
modo absolutamente diverso.
Mas de outra natureza a conseqncia que
achamos mais signifcativa e que devemos desta-
car em relao inveno freudiana do concei-
to de transferncia. Tal como ela foi postulada,
revela uma forma especfca, no olhar de Freud,
de modo de vinculao entre dois sujeitos mar-
cados por certas caractersticas dentre as quais
ele destacou a diferena objetiva e subjetiva de
posio que permite a atribuio de autoridade
a um dos plos da relao, a demonstrao de
disponibilidade e interesse em relao s ques-
tes trazidas pelo outro plo, a suposio de que,
no plo oposto, se encontraria algum com um
saber capaz de atender a certas necessidades do
mesmo e a repetio regular do encontro entre os
dois, etc.
Como afrma Zigouris (2002) Freud introdu-
ziu no ocidente um vnculo at ento indito en-
tre duas pessoas, dois desconhecidos: chamou-
o transferncia. No incio de sua atividade,
referia-se relao mdico-doente, mas muito
rapidamente esse novo conceito veio a designar
no mais o encontro mdico-paciente, e sim um
vnculo especfco em relao ao inconsciente, s
pulses e repetio. No incio, a transferncia
foi transferncia de amor... e, para Lacan, algu-
ma coisa em relao ao amor.
Desde a uma interrogao cultural no ces-
sa de se produzir: o que desse campo relacio-
nal, defnido originalmente como relativo a certas
relaes de caractersticas especfcas mdico-
paciente, professor-aluno, chefe-comandado
seria compartilhado e poderia nos informar sobre
o conjunto das relaes humanas amorosas,
socialmente estabelecidas, em suas distintas ver-
ses, mesmo nos casos em que os sujeitos nos
parecessem neutros afetivamente ou revestidos de
amorosidades negativas ( desprezo, raiva, asco,
irritao).
94
Em que poderamos articular essa noo de
transferncia com as dinmicas mais gerais do
modo de produo dos afetos, tomados transiti-
vamente como os impactos ou efeitos produzidos
subjetivamente em um sujeito a partir da presen-
a real ou imaginada de um outro sujeito ou de
smbolos, objetos ou coisas ligados a outro sujeito
ou sujeitos? E como derivar da uma abrangncia
extensiva para a noo de vnculo como uma no-
o central para a compreenso das dinmicas
psiquismo/sociedade?
A se torna necessrio introduzir a questo da
signifcao como uma questo referida ao vncu-
lo. A relao entre dois ou mais sujeitos encontra-
se sempre antecedida pela signifcao que cada
um deles atribui a si mesmo e pela signifcao
adquirida pelo(s) outro(s) para o sujeito que com
ele interage. Isso fca reforado pela idia de que
as relaes de dependncia so bsicas em todas
as relaes sociais: dependncia real, simblica
e/ou imaginria. impossvel existir fora das rela-
es de dependncia.
De algum modo, podemos formular que to-
das as relaes humanas sejam entre humanos e
lugares, entre humanos e objetos de sentido hu-
mano, pressupondo, portanto, a presena desse
elemento vincular, pois o campo da signifcao,
o campo simblico da cultura, se constitui a partir
das relaes do tipo vincular. O sentido a forma
mais elementar do vnculo: vnculo entre um signo
e um signifcado mediado pela experincia singu-
lar do sujeito promotor dessas articulaes.
Tais temas derivados dessa apreenso to ori-
ginal da obra freudiana vm sendo desdobrados
em esforos tericos variados de esclarecimento,
que constituem o campo do manejo das relaes
vinculares, estabelecendo as bases das tecnolo-
gias de interveno social, incluindo a as tecno-
logias do tipo psicoteraputicas ou scio-terapu-
ticas.
De alguma maneira, a inveno da transfern-
cia veio introduzir um suporte terico para o ma-
nejo tcnico de relaes interpessoais no interior
dos quadros institucionais reguladores do gover-
no da pessoa, encontrando-se presentes nos mais
variados projetos de gesto social, tanto como re-
curso para a reproduo disciplinar da sociedade
quanto como recurso de administrao dos seus
elos mais frgeis.
Fazendo o PIC acontecer
*Todos os nomes dos pacientes citados nos artigos a seguir so fctcios.
Resumo: O presente artigo objetiva relatar a
experincia de um ano vivida por estudantes de
Psicologia e Terapia Ocupacional, atuando como
acompanhantes teraputicos de pacientes com
transtorno mental e desenvolvendo trabalhos de
cunho biopsicossocial. As atividades foram reali-
zadas com o apoio de uma instituio psiquitrica
(Hospital Especializado Mrio Leal) tendo como
premissa bsica promover a reinsero social e o
estreitamento de vnculos dos pacientes. Para tal,
foram utilizados, fundamentalmente, os pressupos-
tos tericos da clnica psicossocial da psicose que
contribui para um novo olhar sobre o fazer clnico
e sobre o fenmeno da psicose. Ademais, esta ex-
perincia de estgio curricular contribuiu para a
formao prossional e acadmica dos estudan-
tes, demonstrando a possibilidade de construo
de novas formas de interveno, pensamento e
reexo acerca do fenmeno em questo.
Introduo
A busca de uma atuao em sade mental que
respeite a integridade e autonomia dos psicticos
e seja capaz de oferecer o suporte necessrio aos
pacientes e familiares de maneira menos invasiva
um desafo constante para todos os profssionais
da rea. Desde meados do sculo passado, vm
sendo propostas, no Brasil e no mundo, alternati-
vas teraputicas que vo alm do velho recurso da
internao psiquitrica. Na Bahia, tais propostas
ainda se encontram muito pouco desenvolvidas,
de modo que merecem uma ateno especial os
esforos empreendidos nessa perspectiva.
O programa de estgio implantado pela Uni-
versidade Federal da Bahia, em parceria com a
Fundao Bahiana para o Desenvolvimento dsa
Cincias (FBDC) e a Secretaria de Sade do Esta-
do da Bahia, vem inaugurar uma nova forma de
A Clnica Psicossocial da Psicose:
Aprendizagem, Cuidado Intensicado
e Reinsero Social
* Estudante de Psicologia da UFBA e ex-estagiria do PIC
** Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
*** Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**** Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
Adriana Bittencourt Nunes*
Ana Lusa Marques Fagundes**
Isadora de Andrade Pinheiro***
Lucineide Santiago de Souza****
Milena Silva Lisboa*****
***** Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
97
98
atuao e formao em sade mental em Salva-
dor. O Programa de Intensifcao de Cuidados
a Pacientes Psicticos (PIC), implementado em ja-
neiro de 2004, insere-se na perspectiva de uma
clnica psicossocial da psicose e objetiva oferecer
cuidados intensivos a alguns pacientes atendidos
pelo Hospital Especializado Mrio Leal (HEML),
situado no bairro do IAPI, em Salvador, Bahia. A
equipe inicial contou com a participao de sete
estudantes de graduao de Psicologia da UFBA
e cinco de Terapia Ocupacional da FBDC, su-
pervisionados por dois professores das referidas
reas de saber. Dentre os principais objetivos do
programa destacam-se o fortalecimento das re-
des de suporte social dos pacientes e a promoo
de discusses acerca das novas formas de atua-
o em sade mental no ambiente acadmico,
contribuindo para uma prtica profssional mais
competente e tica.
A proposta do Programa coaduna-se com
as refexes da reforma psiquitrica e com as di-
retrizes da nova legislao em sade mental. A
reforma psiquitrica, ao analisar os fundamentos
do modelo assistencial do hospital psiquitrico,
constata sua incapacidade para a ateno sa-
de mental, no que diz respeito promoo do
bem-estar fsico, mental e social dos seus usu-
rios. O modelo centrado na instituio do hospital
psiquitrico no permite a participao da comu-
nidade, j que centraliza as decises e difculta
a participao dos pacientes e de seus familiares
na gesto do tratamento de uma forma integral
e preventiva. Ademais, promove a excluso dos
pacientes, o estigma social e a alienao quanto
prpria doena, anulando o papel do portador
de sofrimento psquico enquanto agente e sujeito;
rompe-se, assim, com os direitos humanos e civis
(GOFFMAN, 1985).
Diante disso, uma reforma psiquitrica
pautada na necessidade de reestruturar esse mo-
delo de dominao e domesticao dos pacientes
caminha na direo de promover modelos alter-
nativos que tomem como centro da discusso e
foco de atuao a comunidade e suas redes so-
ciais. A Declarao de Caracas (1990), enquanto
um documento que expressa essa necessidade de
uma reforma psiquitrica, prope que a legisla-
o em sade mental garanta os direitos huma-
nos e civis dos usurios, descentralize a assistn-
cia atravs da promoo de servios comunitrios
e aloque a assistncia a emergncias psiquitricas
em hospitais gerais.
A lei n 10.216, de seis de abril de 2001, pro-
tege os direitos humanos e civis dos portadores
de transtorno mental, sem qualquer tipo de discri-
minao. So listados nove direitos: melhor trata-
mento referente s suas necessidades; tratamento
com humanidade e respeito; proteo contra ex-
plorao ou abuso; sigilo de informaes; acesso
aos meios de comunicao; assistncia mdica;
conhecimento sobre a doena; tratamento com
os meios menos invasivos possveis e, preferen-
cialmente, em servios comunitrios. Alm de
garantir os direitos fundamentais para um trata-
mento mais humano, a lei prev a criao de po-
lticas em sade mental pelo Estado, oferecendo
a possibilidade de participao da comunidade.
Atendendo necessidade de descentralizao, a
99
lei tambm incentiva a reinsero social do doen-
te e desestimula a internao psiquitrica.
A reforma psiquitrica e a nova legislao vm
lanar um novo olhar sobre a loucura, abordada
tradicionalmente de forma excludente devido a
uma srie de fatores. Em primeiro lugar, a loucu-
ra refete um mal-estar social, denuncia que algo
est funcionando mal. Em nossa cultura, a nica
forma de existncia que a loucura encontra sob
a forma de doena. A vida do sujeito fca limitada
ao tratamento, sendo que o projeto-doena, de
fato, a nica forma de se ter o sofrimento reco-
nhecido; sofrimento que, na verdade, social. O
louco funciona como porta-voz de um mal estar
que diz respeito a toda sociedade, e sua diferen-
a representa uma ameaa ao modus vivendti da
mesma. O modo de abordar a alteridade da lou-
cura , conseqentemente, a excluso. (CARRE-
TEIRO, apud GARFUNKEL, sd).
A excluso denuncia a falta de recursos da so-
ciedade para lidar com o psictico e acaba por
fragilizar as suas redes sociais. Qualquer atuao
que vislumbre a insero social deve debruar-
se sobre a questo vincular, passando a valorizar
os laos sociais. Na psicose, uma difculdade na
formao de vnculos coloca essas pessoas numa
posio diferente no mundo; qualquer abalo na
sua estrutura de vnculos pode signifcar uma dif-
culdade na sua experincia subjetiva compartilha-
da e individual.
A vulnerabilidade relacional do psictico est
calcada na forma de estruturao psquica do su-
jeito. A difculdade de inserir-se no mundo e criar
instncias de signifcaes relevantes confgura-se
a partir de uma espcie de retorno aos padres de
comportamento vivenciados no desenvolvimento
infantil. Os conceitos de depositante, depositado e
depositrio de Pichon Rivire (apud Bleger, 1977,
p.20) contribuem para a compreenso da psicose
enquanto fenmeno intrapsquico. Esta teoria es-
tabelece um trip, no qual o sujeito (depositante)
projeta determinado contedo (material deposita-
do) sobre o outro ou si mesmo (depositrio), uma
vez que a introjeo do mesmo pode causar de-
sestabilizao psquica (BLEGER, 1977).
O sujeito psictico utiliza a transferncia autis-
ta e simbitica para relacionar-se com o outro e o
mundo externo; o autismo e a simbiose como for-
mas de vinculao remetem s relaes narcsicas,
pois estas se do com objetos internos (material
depositado, mente, corpo). Autismo e simbiose
coexistem, o que permite compreender o carter
paradoxal das relaes objetais de psicticos, a
alternncia entre relaes de profunda dependn-
cia e outras de isolamento/distanciamento. Tanto
a simbiose quanto o autismo so expresses dos
confitos de dependncia/independncia, que tm
por base uma ciso entre o projetado e o intro-
jetado. No autismo, o sujeito deposita contedos
sobre parte de seu prprio corpo e/ou mente,
distanciando-se do mundo externo, enquanto na
simbiose, h uma interdependncia entre duas ou
mais pessoas, com o objetivo de satisfazer as ne-
cessidades da parte mais primitiva (imatura) da
personalidade, mantendo-a imobilizada. A depo-
sitao simbitica macia e frgil ocorre sobre o
mundo externo (outro). No obstante, ambas as
maneiras de vinculao funcionam como meca-
100
nismos que visam a conservao do estado ps-
quico (certo grau de organizao) atravs da no
interveno do mundo externo e conservao do
princpio do prazer. Na simbiose, embora o vncu-
lo parea muito intenso, h um empobrecimento
do depositrio, que funciona como mero locus de
depositao. com o material depositado que o
psictico se relaciona, no com o outro propria-
mente.
Estes padres narcsicos de vinculao podem
ser compreendidos sob a luz da teoria Kleiniana.
M. Klein (apud BLEGER, 1977) denomina estado
esquizoparanide fase do desenvolvimento in-
fantil na qual a criana comea a distinguir carac-
tersticas contraditrias presentes em um mesmo
objeto. o estgio em que a diferenciao est
presente e se faz necessrio dividir, separar, para
que, posteriormente, o ego possa se estruturar so-
lidamente.
O retorno ao autismo e simbiose como padres
de relacionamento remetem fase desenvolvimen-
tal anterior, ao estado esquizoparanide. Nesta
fase, a criana encontra-se em um processo de
indiferenciao. No h clivagem entre eu e no-
eu. Os aspectos contraditrios e divergentes fa-
zem parte de um todo e no so percebidos como
tais pelo sujeito. uma fase caracteristicamente
ambgua e contribui para a formao da parte
psictica da personalidade ou ncleo aglutinado,
esfera mais desorganizada, densa e complexa.
Esta, como um amlgama fusional, permanece
separada do ego na vida adulta. exatamente a
parte psictica da personalidade que projetada
pelo paciente, como uma espcie de organizao
primitiva e depositada no mundo externo de ma-
neira intensa (simbiose) ou sobre o prprio indiv-
duo (autismo), j que sua reintrojeo ameaaria
a parte mais organizada do ego (parte neurtica
da personalidade) (BLEGER, 1977).
Em grupos narcsicos ou simbiticos, as pes-
soas no se vinculam de forma objetiva. Cada
uma delas representa para as demais mero de-
positrio de suas tenses. Por outro lado, cada
sujeito internaliza e atua papis correspondentes
s tenses dos demais (BLEGER, 1977). Tal tipo
de organizao grupal freqentemente encon-
trada em famlias de psicticos, especialmente na
relao entre os pacientes e seus cuidadores pri-
mrios. Constantemente, ocorre uma fuso entre
o material depositado e o depositrio, de modo
que o depositrio acaba assumindo o papel que
foi nele projetado, contribuindo para a no distin-
o entre o mundo interno e o mundo externo do
psictico.
Assim, a partir do entendimento da estrutura-
o psquica pertinente psicose, pode-se com-
preender a outra face deste fenmeno (alm das
questes de cunho scio-histrico) que contribui
com o processo de estreitamento e ruptura dos
laos sociais e com a difculdade de inscrio do
sujeito no mundo.
A partir da compreenso de tal difculdade vin-
cular dos psicticos, a qual freqentemente for-
talecida pela excluso social da loucura, as novas
atuaes em sade mental se direcionam para a
incluso atravs de uma atuao biopsicossocial.
Novas formas de cuidado comearam a ser
pensadas como alternativas excluso dos muros
101
do manicmio: Centros e Ncleos de Ateno Psi-
cossocial (CAPS e NAPS), Lares Abrigados, Casas
de Acolhimento e hospitais gerais. A psicologia
aparece aqui como uma abordagem que aten-
ta para a questo dos sujeitos psquicos em suas
dimenses familiares, sociais, polticas e econ-
micas. A direo da mudana caminha do isola-
mento para a convivncia social da loucura, por
mais difcil e paradoxal que possa parecer. Fazer
caber a loucura no seio da sociedade de origem
passa a ser o objetivo quando se acredita serem
os vnculos sociais os suportes para o convvio. O
caminho da ressocializao da loucura tira das
mos da psiquiatria a tarefa de compreender e
tratar o louco em asilos de excluses, e coloca a
comunidade em contato mais direto com a lou-
cura, criando novas formas de relacionamento e
novos recursos interacionais e institucionais.
dentro dessa perspectiva que o Programa de
Intensifcao de Cuidados se insere. A partir da
criao de espaos teraputicos pouco conven-
cionais, o Programa foi sendo pensado e constru-
do para atender em torno de 30 pacientes divi-
didos em dois grupos, em sua maioria, psicticos
jovens provenientes da internao ou ambulatrio
do HEML. Em diversos contextos de atuao, que
ultrapassam os servios oferecidos pelo HEML, a
escuta de suas subjetividades foi realizada, am-
pliando a prpria noo de clnica e fortalecendo
uma atitude transdisciplinar que gira em torno da
noo de cuidado.
A noo de cuidado, segundo Rosell (1998)
uma derivao da idia de fragilidade humana.
No se trata de querer solucionar a tragdia, mas
de compartilhar o sofrimento e estar presente. Tra-
ta-se no de piedade, mas de reconhecimento da
sua prpria fragilidade para a compreenso da
fragilidade do outro. Cuidado implica uma aten-
o especial aos aspectos que podem estar sendo
negligenciados para uma aproximao do sofri-
mento do outro. Isso requer uma apreciao do
sujeito de uma maneira mais integral, para alm
das especifcidades das reas do saber.
Os espaos considerados teraputicos foram
organizados em diferentes categorias: encontros
semanais no hospital, visitas domiciliares regula-
res, encontros com cuidadores, passeios terapu-
ticos, acompanhamento a consultas, contribui-
es no encaminhamento de documentaes e
benefcios, alm de atendimentos psicoterpicos
de carter individual ou participao em ofcinas
teraputicas, quando se detectavam estas necessi-
dades. Essas atividades podem estar inseridas nos
modos de atuao conhecidos como grupos tera-
puticos e acompanhamento teraputico (AT).
A noo de manejo aparece, no campo do AT,
como tcnica privilegiada de atuao, partindo
do princpio winnicottiano (apud Barretto, 1998)
de que o indivduo se desenvolver caso encontre
condies favorveis, cabendo ao acompanhante
teraputico (at) suprir as falhas ambientais. (...)
o manejo se refere a uma interveno no setting
(enquadre) e/ou no cotidiano do sujeito, levando
em conta suas necessidades, sua histria e a cul-
tura na qual est inserido, a fm de promover seu
desenvolvimento psquico. atravs dessa tcnica
que se exercero as diversas funes ambientais
que so fundamentais na constituio do self de
102
um sujeito (BARRETTO, 1998, p.196-197).
Barretto (1998) descreve onze funes do at, as
quais foram referenciais para a prtica do estgio:
Holding (funo de amparo, apoio, sustentao,
estar junto com, fornecendo pessoa a experi-
ncia de continuidade, constncia); Continncia
(envolve a compreenso da situao angustiante
por um outro signifcativo e discriminao desta,
de modo que se possa, atravs da imaginao,
transformar as experincias do sujeito); Apresen-
tao do objeto (possibilitar a vivncia de uma
experincia completa em que o sujeito se interes-
se por um objeto, ouse us-lo e, por fm, possa
separar-se dele); Handling (funo de manipula-
o corporal e contato com as necessidades cor-
porais); Desiluso (capacidade de discriminao
entre a realidade subjetiva e a realidade compar-
tilhada); Interdio (associada funo paterna,
ao terceiro objeto que interfere na relao simbi-
tica me-beb. A interdio s enriquecedora
se o sujeito tiver vivenciado anteriormente a expe-
rincia de satisfao); Interlocuo dos desejos e
angstias (no se trata de interpretar o paciente,
mas sim de atentar para suas questes psquicas
relacionadas aos desejos e necessidades que so
expressas por preocupaes, angstias, dvidas
atravs de conversas cotidianas); Discriminao
de campos semnticos (apreender as signifca-
es do discurso para ampliar o campo da expe-
rincia, oferecendo novos olhares, novos recortes
do fenmeno); Funo especular e emergncia
da funo esttica (ocorre a partir do encontro
com o outro ou com um objeto da cultura que
revela um aspecto do prprio self); Funo de ali-
viar as ansiedades persecutrias (objetiva permitir
que o indivduo estabelea uma troca enriquece-
dora consigo e com a vida, j que intensifcadas,
as angstias paralisam o mundo psquico do su-
jeito); Modelo de identifcao (o at pode auxi-
liar no desenvolvimento de diversas funes ps-
quicas, como responsabilidade, cuidado pessoal,
alm de, muitas vezes, servir para resgatar algum
aspecto da histria do sujeito).
Tais funes foram exercidas nos diversos es-
paos de atuao do PIC. Os encontros semanais
dos dois grupos foram realizados no ambulatrio
do HEML (s segundas e quintas-feiras) e tinham o
objetivo de estimular e fortalecer a sociabilidade.
Tarefas e temticas que dizem respeito a algumas
questes que ressoam diferentemente no modo de
viver psictico (como a vivncia do corpo, a au-
tonomia, os projetos de vida) foram trabalhadas,
sempre relacionadas com a criao e o fortaleci-
mento de suas redes sociais. O grupo tornou-se,
ao longo do tempo, um espao de troca de expe-
rincias, onde amizades foram construdas junto
com o sentido de cuidado e ateno.
essencial observar a relao do sujeito com
a famlia, visto que esta representa o grupo pri-
mrio, o qual, geralmente, funciona como de-
positrio no ncleo aglutinado. Desse modo,
constata-se que o paciente comporta-se de ma-
neiras divergentes, estando na presena do gru-
po primrio ou de grupos secundrios. comum
a sensao de perda de sentido da realidade na
presena do grupo primrio, justamente porque
o sujeito entra em contato com a parte da perso-
nalidade que foi projetada, ou seja, a primitiva e
103
imatura. As visitas domiciliares proporcionaram o
entendimento dessa dinmica, j que foi possvel
entrar em contato mais direto com o cotidiano dos
participantes do programa, compreender suas di-
nmicas familiares, suas redes de apoio locais e
como transitam, vinculam-se e se colocam diante
do outro. Cada paciente era visitado regularmen-
te por uma dupla de estagirios que cuidava de
forma mais prxima e intensa das peculiaridades
de cada caso. Essa aproximao possibilitou in-
tervenes mais fundamentadas nas interaes
desses pacientes junto a seus familiares, amigos e
cuidadores. Assim, pde-se interferir nos padres
de relacionamento objetais que poderiam estar
trazendo difculdades sociabilidade. Foi possvel
tambm uma apreciao dos recursos sociais e
institucionais acionados pelos seus cuidadores em
momentos de crise.
Segundo Melman (2001), algumas teorias
psicolgicas contriburam para a instaurao da
idia da famlia como causa de doena mental,
a exemplo da psicanlise e da teoria do duplo
vnculo. Pode-se ir alm dessa concepo, con-
siderando a famlia como um contexto, retirando
a culpabilizao materna do seio da cultura e do
tcnico de sade mental o papel de juiz. Ou seja,
no se trata de considerar o sujeito inocente e
o entorno familiar culpado, mas sim de compre-
ender o sujeito para buscar facilitar os vnculos.
Pode-se ir ainda mais alm, pensando a famlia
no como causa ou contexto, mas como recurso.
Famlia passa a ser a soluo ao invs de pro-
blema. Isso implica a escuta, o acolhimento, de
fato, da famlia, sem limit-la apenas ao papel de
controle do sujeito.
Dentro dessa perspectiva, o Programa de In-
tensifcao de Cuidados realizou encontros com
os cuidadores. Essas reunies confguraram-se
como trocas de experincias em um espao onde
dvidas, medos, preocupaes, crenas, idias e
sugestes foram ouvidas e compartilhadas, onde
o sofrimento e a alegria daqueles que convivem
cotidianamente com a psicose puderam ser escu-
tados e validados.
Uma vez que as atividades externas mostra-
ram-se de cunho teraputico, por se tratarem de
iniciativas legitimadoras do convvio social e do
exerccio dos direitos e deveres que os pacientes
merecem dispor, alguns pacientes com difculda-
de de sair do ambiente familiar puderam, com os
passeios, sentir-se mais seguros para transitar em
outros espaos, o que viabilizou o aumento da
autonomia. Os vnculos estabelecidos com pa-
cientes e estagirios ofereceram a continncia ne-
cessria para que o sentimento de pertena gru-
pal garantisse segurana e confana.
Acompanhamentos a consultas psiquitricas e
neurolgicas possibilitaram uma maior compre-
enso do fenmeno da psicose em seu aspecto
fsioqumico, auxiliando na lida diria com os be-
nefcios e difculdades trazidas pelas medicaes
psiquitricas. O acompanhamento concomitante
dos pacientes junto a psiquiatras ambulatoriais
trouxe importantes benefcios para uma clnica
que acredita na no internao, mas que se be-
nefcia do saber psiquitrico medicamentoso, o
que contribui para o dilogo entre os diversos sa-
beres que atuam na sade mental.
104
Tarefas como tirar documentos, dar entrada ao
benefcio de aposentadoria, denunciar abandono
ao Ministrio Pblico, acompanhar consultas clni-
cas, podem no se confgurar como uma atuao
propriamente de cunho psicolgico, mas atravs
delas foi possvel abordar questes centrais nas
vidas dos pacientes (s vezes questes emergen-
ciais) tornando-se mais um meio de aproximao
de suas subjetividades. So atitudes transdiscipli-
nares como estas que devem permear o modo de
atuao dos profssionais de sade que querem
cuidar da psicose numa perspectiva ampliada em
favor da ressocializao.
Aps mais de um ano do incio das ativida-
des do Programa de Intensifcao de Cuidados,
observa-se uma melhora signifcativa no quadro
clnico da maioria dos pacientes, merecendo des-
taque a reduo das reinternaes e o aumento
da autonomia e dos laos sociais dos mesmos. As
recadas e pioras que aconteceram durante o ano
foram abordadas pelos cuidadores de uma forma
mais compreensiva e cuidadosa, surgindo outros
recursos sociais e institucionais, como a procura
pela emergncia psiquitrica, a ida a uma igre-
ja, a conversa mais estimulada e a escuta mais
atenta. O recurso da internao comeou a ser
questionado pelos pacientes e seus cuidadores;
alternativas mais acolhedoras trouxeram as crises
psicticas para mais perto do convvio social e
mais longe da excluso do manicmio.
Percebe-se tambm um amadurecimento pro-
fssional dos estudantes dentro de uma perspecti-
va de atuao, em geral, pouco trabalhada nos
meios acadmicos tradicionais. Alm disso, o ca-
rter inovador e transitrio deste tipo de atuao
cerceado por algumas questes de ordem ma-
cro. O enquadramento de atuao calcado na
psiquiatria tradicional difculta a viabilizao de
propostas que ultrapassem este molde. O Esta-
do, os servios de sade e a prpria cidade no
esto preparados para lidar e dar suporte a um
portador de transtornos psquicos que seja mais
autnomo, mais cidado. A internao como re-
curso teraputico largamente utilizada, destarte
os esforos que convergem para o oposto des-
ta situao. O paciente ainda no tem um lugar
genuno de escuta nestas instituies tradicionais,
o que pode ser confrmado nas consultas mdi-
cas de curta durao. Tambm ocorre, freqen-
temente, a falta de medicao nas farmcias,
que prejudica o andamento do tratamento. No
entanto, alguns espaos como o promovido pelo
PIC tm surgido, com uma viso mais integrada
e abrangente. Trata-se de uma viso psicossocial
que compreende o tratamento no s do ponto
de vista mdico (atravs do uso de medicaes)
como tambm envolve a famlia e a comunidade,
com o intuito de resgatar laos sociais. A predo-
minncia do modelo mdico em detrimento de
uma abordagem mais fexvel difculta muito a
prtica das mudanas preconizadas pela Reforma
Psiquitrica. Muitas barreiras ho de ser enfrenta-
das pelos profssionais engajados nessa luta, mas
as conquistas alcanadas, ainda que longe do
considerado ideal, podem ser encaradas como
vitrias e estmulos para os que desejam que seja
destinada uma outra posio para o louco em
105
nossa sociedade.
Referncias
BARRETTO, K. D. tica e Tcnica no Acompanhamento
Teraputico: andanas com Dom Quixote e Sancho Pana.
So Paulo, UNIMARCO, 2000.
BLEGER, J. Simbiose e Ambigidade. Rio de Janeiro, Ed.
Francisco Alves, 1977.
Declarao de Caracas. 14 de novembro de 1990.
GARFUNKEL, J. L. Incluso/Excluso: Limites e Possibi-
lidades desse conceito. So Paulo, Instituto de Psicologia
PUC SP, p. 9 26, s/d.
GOFFMAN, E. Manicmios, prises e conventos. So
Paulo, Editora Perspectiva, p. 109-143, 173-259 e 261-
312, 1985.
Lei n 10.216, de 6 de abril de 2001.
MELMAN, J. Famlia e Doena Mental. So Paulo, Escri-
turas, 2001.
ROSELL, F.T. Antropologia Del Cuidar. Cap. 8: La radi-
cal vulnerabilidad del ser humano. Institut Borja de Biotica.
Fundacin MAPFRE Medicina. Espanha, 1998.
106
Resumo: O presente artigo um resumo de
monograa do curso de Terapia Ocupacional da
Fundao Bahiana para Desenvolvimento das Ci-
ncias (FBDC) / 2005, que tem como ttulo Pro-
grama de Intensicao de Cuidados: Um Cami-
nho para a Qualidade de Vida. O Programa de
Intensicao de Cuidados (PIC) um trabalho de
acompanhamento de cunho biopsicossocial desti-
nado a portadores de transtornos mentais desen-
volvido por professores e estudantes de psicolo-
gia e medicina da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e de Terapia Ocupacional da FBDC em
parceria com Hospital Especializado Mrio Leal
(HEML). Este trabalho consistiu numa pesquisa
de campo, onde buscou-se avaliar as mudanas
que podem ter ocorrido na Qualidade de Vida dos
usurios inscritos no programa.
Introduo
A
o longo da histria, a forma de ver e tratar
o doente mental tem sido transformada e
reconstruda. O Programa de Intensifcao de
Cuidados (PIC) para psicticos do Hospital Espe-
cializado Mrio Leal um trabalho de acompa-
nhamento de cunho biopsicossocial desenvolvido
por estudantes da Universidade Federal da Bahia
e da Fundao Bahiana para Desenvolvimento
das Cincias, sob a superviso de professores que
idealizaram o programa. A partir de uma lgica de
trabalho que tenta transpor as barreiras manico-
miais, o PIC, compartilhando com os pensamen-
tos da Reforma Psiquitrica, vem questionando o
saber clnico da psiquiatria clssica e construindo
um novo olhar e fazer clnico no cuidado aos por-
tadores de transtornos mentais.
Reconhecendo que a psicose um fenmeno
de intensas ressonncias sociais que fragilizam as
relaes interpessoais do sujeito, o PIC dispensa
uma ateno intensiva aos aspectos das vincula-
Programa de Intensicao de Cuidados: Um Caminho para
a Qualidade de Vida
*Terapeuta ocupacional graduada pela FBDC e ex-estagiria do PIC
Fernanda Abreu R. Nascimento*
107
es sociais com vistas melhoria da continn-
cia social e qualidade de vida do paciente. Para
atingir tais objetivos, os estudantes do programa
realizam um trabalho de acompanhamento tera-
putico a esses pacientes, que inclui visitas domi-
ciliares, encontros grupais e familiares, passeios,
assessoramento e outros.
Foi realizado um estudo, onde se buscou ava-
liar se o programa tem sido um dispositivo que
promove a Qualidade de Vida dos usurios inscri-
tos no mesmo e a repercusso na vida daqueles.
Tal pesquisa foi apresentada no trabalho de con-
cluso de curso do curso de Terapia Ocupacional
da FBDC no ano de 2005, que tem como ttulo
Programa de Intensifcao de Cuidados: Um
Caminho para a Qualidade de Vida.
O impacto da doena mental repercute imen-
samente na qualidade de vida dos portadores de
transtornos mentais. Um estudo feito pelo The
Global Burden Disease (OMS / Banco Mundial /
Harvard) revelou que das dez doenas mais inca-
pacitantes no mundo, cinco so de natureza psi-
quitrica. (PITTA, 2000).
A OMS defniu qualidade de vida (QV) em um
conceito amplo que inter-relaciona o meio am-
biente com aspectos fsicos, psicolgicos, nvel de
independncia, relaes sociais e crenas sociais.
Essa organizao defne qualidade de vida como
a percepo do indivduo de sua posio na
vida no contexto da cultura e sistema de valores
nos quais ele vive e em relao aos seus objeti-
vos, expectativas, padres e preocupaes (The
WHOQOL Group, 1995, apud FLECK, 2000).
Esse conceito valoriza a percepo prpria do in-
divduo frente a todas as dimenses de sua vida.
Metodologia
Para a realizao da pesquisa, foi aplicado um
questionrio com dez pacientes inscritos no PIC
que foram escolhidos atravs dos seguintes cri-
trios: no estar institucionalizado e estar partici-
pando h mais de um ano do programa.
A elaborao do questionrio foi baseada no
Instrumento de Qualidade de Vida da WHO-
QOL-100, considerando os aspectos que mais se
relacionam aos objetivos do PIC e ao cotidiano
dos portadores de transtornos mentais, buscando
avaliar as mudanas que podem ter ocorrido na
qualidade de vida dos pacientes pela participa-
o no PIC.
O questionrio composto de 24 itens, que
podem ser agrupados em categorias, conforme
segue: Relacionamentos Sociais (averigua as re-
laes com familiares e amigos do sujeito), Ativi-
dades Sociais (averigua as atividades que o indi-
vduo tem realizado), Estado de Sade (averigua a
sade do indivduo quanto freqncia de inter-
naes, bem como sua dependncia de terceiros
e utilizao de medicaes), Auto-estima (averi-
gua sentimentos positivos em relao a si mesmo)
e Projeto de Vida.
Dos dez pacientes participantes da pesquisa,
sete so do sexo masculino e trs do sexo femini-
no, sendo que as idades variaram entre 20 e 43
anos. Cinco possuam o primeiro grau incomple-
to, um tinha o primeiro grau completo, trs com
segundo grau incompleto e apenas um com se-
108
gundo grau completo. Nove eram solteiros e um
casado. Apenas um entrevistado possua emprego
remunerado, dois dependiam da renda familiar e
sete recebiam benefcio do INSS.
Resultados
Segundo os dados obtidos referentes catego-
ria de Relacionamentos Sociais, percebeu-se uma
mudana signifcativa quanto ao sentimento de
solido. Os dados mostraram que a maior por-
centagem de pacientes 80% passou a se sentir
menos sozinho. Verifcou-se tambm que 80% dos
pacientes conseguiram fazer novos amigos, ape-
nas 20% deles no conseguiram ampliar o n-
mero de amizades, continuando com os mesmos
amigos de antes. O resultado mostrou que 60%
das pessoas afrmaram ter tido melhora na con-
vivncia com as pessoas em casa, enquanto 20%
delas disseram que continuou ruim a relao, e
os outros 20% disseram que a relao sempre foi
boa. A maioria dos pacientes - 70% - passaram
a receber mais ajuda de outras pessoas. Metade
respondeu haver mudana no quadro de ativi-
dades que realiza com outras pessoas, e a outra
metade diz no ter havido mudana. 50% dos pa-
cientes disseram que sentimentos depressivos e de
tristeza diminuram, em 30% no mudaram esses
sentimentos, enquanto que 20% disseram nunca
se sentir assim.
Sobre a categoria de Atividades Sociais, 50%
dos pacientes disseram sempre ter sado de casa
para passear ou fazer outras coisas, 30% disse-
ram que no passaram a sair mais de casa para
realizar essas atividades. Dentre os motivos para
isso, alguns responderam no ter vontade, no
ter oportunidade ou a confana da famlia para
sair mais de casa. Os dados apresentaram que
30% dos pacientes passaram a se sentir mais se-
guros para sair de casa sozinhos, enquanto 30%
ainda no se sentem confantes. A maioria dos
pacientes - 80%, disseram sempre ter feitos coisas
para se divertir. Os dados mostraram que mais da
metade dos pacientes 60% voltou ou passou
a realizar atividades fora de casa. Dentre essas
atividades, encontram-se: voltar aos estudos, fre-
qentar a academia, dar aula de dana, freqen-
tar a igreja e vendas de produtos por encomenda.
Apenas 20% no passaram ou voltaram a realizar
alguma atividade.
Referente categoria de Estado de Sade, os
dados mostraram que a maioria dos pacientes j
estiveram internados, sendo que 30% j estiveram
vrias vezes e 30% j estiveram, porm poucas
vezes. Verifcou-se que a maioria do pacientes -
70% - no se internaram nesse ultimo ano, 20%
foram internados poucas vezes e 10% foram inter-
nados, mas apenas uma vez. 40% dos pacientes
passaram a tomar sua medicao corretamente,
sem precisar da ajuda de outra pessoa; 10% pas-
saram a tomar, mas ainda precisando de orien-
tao; enquanto a maioria dos pacientes 50%
disseram sempre ter tomado corretamente. Os
dados destacam que nenhum dos pacientes teve
a quantidade de remdios aumentados, enquanto
70% pacientes tiveram a medicao diminuda. A
maioria dos pacientes 80% tiveram menos ne-
cessidade de ir ao mdico, enquanto apenas 20%
109
no diminuram a ida ao mdico. Observou-se
que para 60% dos pacientes, houve uma melho-
ra no quadro de sono, enquanto para 20% deles
nada mudou. Metade dos pacientes passou a ter
bons sentimentos em relao a si mesmo, en-
quanto 20% disseram no haver mudana nesse
quadro, e 30% sempre se sentiram bem consigo
mesmos.
Em relao categoria de Auto-Estima, obser-
vou-se que metade dos pacientes disse achar que
as pessoas passaram a se importar mais com eles,
sendo que 20% responderam que no acham que
passaram a ser mais percebidas pelas outras pes-
soas. Observou-se que 50% dos pacientes res-
ponderam que sempre sentiram vontade de se
cuidar e se arrumar, porm 30% disseram que
houve mudana nestas questes e 20% no tm
sentido vontade de cuidar de si. Metade dos pa-
cientes passou a acreditar mais na sua capacida-
de de realizar suas atividades, enquanto apenas
20% relataram no ter havido mudana quanto
ao sentimento de capacidade para fazer bem as
coisas.
No que tange categoria de Projeto de Vida,
fcou bem destacado que a maioria dos pacientes
60% sempre tiveram um sonho a ser realizado,
20% passaram a ter um e 20% no possuam um
projeto de vida. Dentre os projetos de vida relata-
dos pelos pacientes esto: ter um carro, comprar
uma casa melhor, estudar, casar, ter flhos, dar
continuidade carreira profssional e fcar bom.
Discusso
De acordo com as questes referentes cate-
goria de Relacionamentos Sociais, pode-se notar
que houve uma mudana signifcativa para me-
lhor nesses aspectos. Os dados mostram que os
pacientes passaram a se sentir menos sozinhos.
Tais achados podem estar relacionados ao au-
mento do nmero de amizades, a um maior apoio
prestado pela famlia ou vizinhana, realizao
de atividades fora de casa junto com outras pes-
soas, pela prpria presena constante dos acom-
panhantes teraputicos (ats). Logo, esses fatores
podem tambm ter infuenciado na diminuio de
sentimentos de tristeza e depresso.
As atividades realizadas pelo PIC, como o fun-
cionamento do grupo com os pacientes, podem
ter contribudo para a formao de novos amigos,
pois um dispositivo que proporciona a eles um
espao de construo de novas amizades, que al-
guns conseguem manter fora do ambiente institu-
cional. Para muitos, depois da doena, os amigos
se afastam, s vezes, at os prprios parentes. A
doena tambm causa um grande peso na es-
trutura familiar, tornando a convivncia domstica
ruim e confituosa. Os ats atuam muito no sentido
de intermediar as relaes entre os pacientes e
seus familiares que, em alguns casos, no com-
preendem as difculdades psquicas do doente,
orientando e conscientizando estes sobre a impor-
tncia de assumirem a responsabilidade de se cui-
dar. Quando se consegue o apoio dos familiares
ou do cuidador, estes passam a melhor valorizar o
sujeito. Em algumas situaes, quando os familia-
110
res se do conta da ateno prestada ao doente
pelos ats, tambm acabam por mudar o trato com
estes. O grupo de familiares do PIC proporciona
a troca de experincias. Todos esses so fatores
que podem ajudar na convivncia familiar, o que
de extrema importncia para o sentimento de
acolhimento do psictico. A interveno na rede
social do paciente tambm realizada, principal-
mente quando o paciente no possui uma famlia.
Muitas vezes, faz-se necessrio fazer parceiros na
comunidade do indivduo que possam colaborar
com os objetivos do programa.
Na categoria relacionada s Atividades Sociais
dos pacientes, destacou-se tambm um aumento
no quadro de pessoas que voltaram ou passaram
a realizar atividades fora de casa. Segundo as re-
postas obtidas na pesquisa, voltar aos estudos, fre-
qentar academia, dar aula de dana, freqentar
a igreja e vender produtos por encomenda foram
as atividades mencionadas por eles. Esses dados
so um bom sinal de mudana, na medida em
que, quando esto estudando, esto ampliando
seu conhecimento, suas oportunidades e sua rede
de relaes, assim como quando realizam algu-
ma atividade remunerada, que proporciona uma
melhora de suas condies econmicas e sociais.
Muitos, quando fcam doentes, deixam de fazer
suas atividades costumeiras, principalmente os es-
tudos e o trabalho, tornando-se ociosos. Existem
famlias que no incentivam e at no permitem
que o doente volte ao trabalho ou estude, pois
considera que essas atividades podem provocar a
recada deles. O prprio estigma da doena men-
tal leva-os a acreditar que so incapazes de reali-
zar qualquer tipo de atividade, desprestigiando-os
socialmente e diminuindo sua auto-estima.
Esta questo pode ter ligao com o sentimen-
to de capacidade para realizao de certas ati-
vidades. Segundo os dados, 20% dos pacientes
relataram no se sentirem capazes. Alguns se de-
sestimulam facilmente e no se sentem seguros
frente s difculdades, deixando de acreditar em
si mesmos e na sua capacidade de fazer suas ati-
vidades costumeiras. Por isso, desistem de conti-
nuar essas atividades, seja o trabalho, os estudos,
algum curso, etc, e acabam tambm por diminuir
sua rede de relaes sociais, j que muitos pas-
sam a se isolar, fcando a maior parte do tempo
em casa. Tambm importante comentar que al-
guns pacientes se acomodam quando passam a
receber o benefcio pelo INSS e no acham mais
necessidade de fazer alguma atividade, como as
discutidas anteriormente.
A mudana no quadro de atividades realizadas
pelos pacientes pode ter sido infuenciada pela
interveno dos ats junto ao paciente e a sua fa-
mlia. Os ats incentivam o paciente, ajudando-o a
encontrar segurana e desmistifcar seus anseios.
E, quando necessrio, faz-se uma interveno fa-
miliar quando, em alguns casos, os parentes no
so a favor que o indivduo retorne a esses tipos
de atividades.
De acordo com a categoria referente ao Esta-
do de Sade, percebe-se um bom resultado nas
freqncias de internaes psiquitricas. Nota-se
que apenas 20% dos pacientes no tinham sido
internados antes do programa, sendo que, dos
que j se internaram, apenas 30% relataram te-
111
rem sido internados vrias vezes. Porm neste lti-
mo, a maioria 70% no fcou internada, 20%
fcaram poucas vezes e 10% uma nica vez. Es-
ses dados so muito importantes, uma vez que se
trata de um dos principais objetivos do PIC. Este
programa pode ter contribudo para essa reduo
do nmero de internaes psiquitricas, devido a
um acompanhamento constante dos estagirios
aos pacientes, que estavam atentos aos sinais e
sintomas da doena, interveno familiar atravs
de conversas e orientaes quanto experincia
que o sujeito passa na internao e continncia
nos momentos de crises.
Os dados referentes ao controle e freqncia
no uso de medicaes mostraram que a metade
dos pacientes sempre tomou corretamente as me-
dicaes, 40% passaram a tomar sem precisar de
ajuda e 10% passaram a tomar, mas ainda neces-
sitam do auxlio de outra pessoa. A correta medi-
cao bastante importante para a estabilidade
psquica do paciente, reduzindo o nmero de cri-
ses e a probabilidade de futuras internaes. ta-
refa tambm dos ats orientar os pacientes quanto
importncia de tomar os remdios corretamen-
te e tambm tornar os familiares parceiros nesta
funo quando se fzer necessrio. Outro dado
importante relacionado sade do doente apre-
sentou que para 70% dos pacientes a medicao
foi diminuda. Os pacientes se queixam que algu-
mas medicaes estimulam o sono e os deixam
indispostos para fazer as atividades do dia-a-dia,
e estimulam o apetite, engordando-os.
Consideraes nais
A convivncia com os no iguais o que se
tem buscado nesta luta em prol daquelas pessoas
que sofrem de algum transtorno psquico. Num
momento social em que se prega e valoriza os
direitos humanos, a cidadania e a democracia, o
programa tem procurado oferecer um tratamento
que permita a esta clientela viver em liberdade,
respeito, dignidade e reconhecimento de seus pa-
res, pois essa condio desse sujeito no mundo,
como algum que pertence, se relaciona, pensa,
decide, escolhe e participa, que se encontra mais
afetada, refetindo na diminuio da sua qualida-
de de vida.
O PIC, aos poucos, tem conseguido alcanar
seus objetivos, promovendo mudanas signifcati-
vas na vida do paciente, atuando e mediando as
relaes sociais destes. imprescindvel conhecer
e fazer parte do cotidiano desses indivduos para
ser colocado no lugar de depositrio de confan-
a e, conseqentemente, estabelecer um vnculo
capaz de permitir as intervenes nas diversas si-
tuaes de cada um.
A maior repercusso da doena mental se d
no campo dos relacionamentos sociais, razo
pela qual o programa procura mediar as relaes
interpessoais dos pacientes, reconhecendo a im-
portncia desse convvio para a estabilidade psi-
cossocial do indivduo.
De acordo com os resultados da pesquisa reali-
zada, podemos constatar que um bom nmero de
pacientes conseguiu formar novos vnculos e for-
talecer outros, passaram a estar menos isolados e
112
a receber mais apoio e ajuda familiar, tornando
a relao mais sustentvel e tranqila; amplia-
ram o nmero de amizades, passaram a realizar
atividades externas, como retornar aos estudos,
trabalho, sadas para passeios e outros, ativida-
des que ocupam o tempo e do sentido vida.
Merece destaque tambm a reduo do nmero
de internaes psiquitricas durante o ano, pois
estas desestruturam e interferem na vida social e
cotidiana do sujeito.
Este modelo de tratamento tem uma repercus-
so positiva, pois no exclui e no interrompe a
vida do sujeito, d continuidade a ela no seu pr-
prio meio social. O acompanhamento teraputico
dispensa uma ateno especial ao indivduo e o
faz sentir valorizado, pois h espao para escuta
de suas subjetividades, desejos, partilha de novos
vnculos e experincias que o ajudam a compre-
ender e dar sentido ao seu mundo de signifca-
es. Essa prtica se torna importante por levar
em considerao aquilo que de signifcado para
o indivduo: sua famlia, suas atividades, seu co-
tidiano, seus desejos, projetos, etc., eles passam
a perceber que a doena mental no invalida a
capacidade das pessoas e que muitos podem ter
uma vida ativa, trabalhando, estudando e se re-
lacionando.
A despeito das respostas positivas que o pro-
grama vem alcanando, sua realizao tem re-
presentado um grande desafo para os estudantes,
que, ao longo de seu caminho, tm enfrentado al-
guns obstculos. Este trabalho exige comprometi-
mento, disponibilidade de tempo e recursos fnan-
ceiros. A maioria dos pacientes foi selecionada
a partir dos casos mais graves, pois so estes os
que mais se encontram margem da sociedade
e necessitam de um cuidado especial. Alguns de-
mandam maior ateno, requerendo tempo para
um acompanhamento mais constante. Muitas re-
sidncias visitadas so distantes, implicando num
investimento fnanceiro signifcativo.
Outro grande desafo a ser vencido o que diz
respeito forma de pensar das pessoas na famlia
e na comunidade acerca da doena mental que,
na maioria dos casos, est baseada fortemente
na excluso e no preconceito. Isso se refete numa
resistncia e falta de apoio ao modelo de trata-
mento proposto, pois a concepo de excluir para
tratar est arraigada na mente das pessoas, alm
de ser, muitas vezes, uma condio cmoda para
a famlia, a comunidade e a instituio.
Pode-se concluir, ento, que, apesar das dif-
culdades encontradas, o Programa de Intensifca-
o de Cuidados um dispositivo que, ao seu
tempo, tem promovido a qualidade de vida dos
pacientes. Para o programa, esta busca da quali-
dade de vida no se limita a eliminar os sintomas
que o indivduo produz para, assim, normaliz-lo
e adequ-lo dentro da sociedade, mas antes de
tudo, reconhec-lo como um ser humano capaz
de conviver no seio social com suas diferenas e
ampliar suas possibilidades sociais que propor-
cionam uma melhora na sua qualidade de vida.
113
Referncias
FLECK, M. P. DE A. O Instrumento de avaliao de qua-
lidade de vida da Organizao Mundial da Sade (WHO-
QOL 100): caractersticas e perspectivas. Cincia & Sa-
de Coletiva, ABRASCO. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2000.
MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qua-
lidade de vida e sade: um debate necessrio. Cincia
& Sade Coletiva, ABRASCO. Rio de Janeiro, v. 5, n. 1,
2000.
ORGANIZAO MUNDIAL DA SADE. Projeto desen-
volvido no Brasil pelo Grupo de Estudos em Qualidade de
Vida. Verso em portugus dos instrumentos de avaliao
de qualidade de vida (WHOQOL). Porto alegre. Universi-
dade Federal do rio de Janeiro, 2001.
PITTA, A. M. F. Qualidade de Vida: uma utopia oportu-
na. Cincia & Sade Coletiva, ABRASCO. Rio de Janeiro, v.
5, n. 1, 2000.
114
Resumo: Este artigo objetiva descrever o Pro-
grama de Intensicao de Cuidados, vinculado
ao Hospital Especializado Mrio Leal. Esse progra-
ma coaduna-se com as novas diretrizes polticas
de ateno sade mental e atende pacientes
psicticos, em sua maioria, jovens, em casos de
primeira internao ou de internaes recorren-
tes sobretudo por motivaes sociais. A clientela
proveniente da internao e ambulatrio do
HEML, selecionada e indicada pelos prossio-
nais destes setores, com base nos critrios supra-
citados. Parte-se da perspectiva terica e prtica
de uma clnica psicossocial da psicose, que visa
proporcionar aos pacientes inscritos uma ao
intensiva dirigida aos aspectos da sociabilidade
e das vinculaes sociais, com vistas melhoria
da continncia social e da qualidade de vida dos
mesmos. Para tanto, so realizados encontros de
grupo semanais, visitas domiciliares, reunies com
cuidadores, etc. Os resultados dessa experincia
tm apontado para uma melhora signicativa no
quadro clnico dos pacientes, com aumento de sua
autonomia e reduo das internaes e das crises;
busca por outros recursos teraputicos que no a
internao, fortalecimento dos vnculos sociais e
ampliao das redes sociais de apoio, alm de
um signicativo amadurecimento pessoal e pros-
sional dos estagirios.
Introduo
O
Programa de Intensifcao de Cuidados a
Pacientes Psicticos (PIC) integra o progra-
ma de estgio supervisionado de Psicologia e Te-
rapia Ocupacional, a partir de uma parceria entre
a Universidade Federal da Bahia e a Fundao
para o Desenvolvimento das Cincias com a Se-
cretaria de Sade do Estado da Bahia. Uma equi-
pe multidisciplinar, composta por estudantes de
Psicologia (UFBA) e Terapia Ocupacional (FBDC),
atende pacientes psicticos que j utilizavam ser-
vios tradicionais em sade mental do SUS, como
internaes, emergncias e servios ambulatoriais
psiquitricos.
Este programa insere-se na perspectiva de uma
Programa de Intensicao de Cuidados: Uma Experincia de Interveno
Psicossocial
*Piclogo graduado pela UFBA e ex-estagirio do PIC
**Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
Allann da Cunha Carneiro*
Lygia Silva Pedreira de Freitas**
115
clnica psicossocial da psicose e tem por objetivo
proporcionar aos pacientes inscritos uma ao
intensiva dirigida aos aspectos da sociabilidade
e das vinculaes sociais, com vistas melhoria
da continncia social e da qualidade de vida dos
mesmos. Busca-se, sob esta perspectiva, inter-
ferir na dinmica da carreira manicomial dos
pacientes, diminuindo a recorrncia das reinter-
naes; fortalecer as redes sociais dos mesmos,
ampliando os suportes extra-assistenciais de base
familiar e comunitria; colaborar com os objeti-
vos assistenciais da unidade por via da promoo
de discusses e seminrios tericos, bem como
ampliar os recursos humanos disponveis por via
do trabalho dos estagirios e supervisores; e, por
fm, contribuir para a formao profssional dos
estagirios no campo da clnica psicossocial, ofe-
recendo referncias tericas e tcnicas compat-
veis com as novas diretrizes polticas de ateno
sade mental.
No campo da reforma psiquitrica, onde se
percebe a atuao de diversos saberes, encontra-
se a formulao de programas baseados no mo-
delo de reabilitao psicossocial, em que so ofe-
recidos aos indivduos incapacitados e debilitados
a oportunidade de atingir o seu nvel potencial
de funcionamento independente na comunidade.
(...) Inclui assistncia no desenvolvimento das ap-
tides sociais, interesses e atividades de lazer que
do um senso de participao e de valor pessoal
(Organizao Mundial de Sade, 2001, p. 94).
De acordo com a nova legislao brasileira
de sade mental, fundamentada na Lei 10.216,
de autoria do deputado Paulo Delgado (PT-MG),
que entrou em vigor em seis de abril de 2001, o
sistema de atendimento a pessoas com transtor-
no mental passa a ter como princpio norteador
a substituio progressiva dos hospitais psiqui-
tricos por recursos extra-hospitalares, tais como
os CAPS (Centro de Ateno Psicossocial) e NAPS
(Ncleo de Ateno Psicossocial), Lares Abriga-
dos, Casas de Acolhimento e Hospitais Gerais.
Nesse sentido, busca-se oferecer aos pacientes
psiquitricos um tratamento mais amplo e de me-
lhor qualidade, em que a internao s ocorra
quando os recursos extra-hospitalares se mos-
trarem insufcientes. Para tanto, primordial um
maior investimento na rede de apoio social, no
intuito de que esta se implique no tratamento, j
que toda pessoa portadora de transtorno mental
deve ser tratada com humanidade e respeito e
no interesse exclusivo de benefciar sua sade, vi-
sando alcanar sua recuperao pela insero na
famlia, no trabalho e na comunidade (Ministrio
da Sade, 2004, p. 17).
Essa reorientao do modelo de assistncia em
sade mental inaugura, dessa forma, um novo
olhar sobre as abordagens dos transtornos men-
tais, marcado pela crtica ao reducionismo bio-
logizante, em que a internao dos pacientes e
a utilizao indiscriminada dos psicofrmacos se
constituem na nica estratgia teraputica efcaz.
Assim, o progresso das neurocincias e da psico-
farmacologia apontam para a importncia de se
demarcar um limite tico no questionamento das
prticas que incidem sobre o sofrimento do pa-
ciente psiquitrico (Assad et all, 2003).
116
Vnculo social e psicose
A abordagem psicossocial, nesse contexto,
mostra-se como pea chave no trato com a lou-
cura, em virtude de uma das principais questes
que se colocam diante do sujeito psictico dizer
respeito formao de vnculos e conseqente ex-
cluso social. Esse sujeito, por ter uma acentuada
difculdade de estar no mundo com o outro, tende
a formar vnculos sociais muito frgeis. Acrescido
a isso, h a idia de que lugar de louco no
hospcio, amplamente difundida e, sobretudo, o
prprio embarao do outro em lidar com ele, j
que o louco torna fagrante a loucura e a possibi-
lidade de desorganizao presente em cada um.
Esses fatores favorecem a excluso do psictico
atravs de sua internao em hospitais psiqui-
tricos. Esse afastamento do convvio social e as
precrias condies de tratamento, por sua vez,
cronifcam o quadro patolgico, tornando o re-
torno do paciente sociedade ainda mais rduo.
A vulnerabilidade relacional do psictico est
alicerada na forma de estruturao psquica des-
se sujeito. Bleger (1977) considera que o homem,
no incio de seu desenvolvimento enquanto sujei-
to, passa por um perodo de indiferenciao pri-
mitiva, em que no consegue estabelecer um limi-
te entre si e o mundo externo. Ainda que no haja
essa distino, cabe salientar que se trata no de
um estado de indiferenciao, mas de uma orga-
nizao particular que inclui, sempre, o sujeito e
o meio que o circunda. Quando a personalida-
de adulta organiza-se a partir da persistncia de
ncleos dessa etapa inicial (ncleos aglutinados),
tem-se o surgimento de uma personalidade am-
bgua, com traos, simultaneamente, de simbiose
e autismo.
Para uma melhor compreenso desses dois fe-
nmenos, faz-se necessrio um breve comentrio
acerca dos conceitos de depositante, depositado
e depositrio, oriundos dos estudos de Pichon Ri-
vire (apud Bleger, 1977). O trip por ele formu-
lado composto por um sujeito (depositante) que
projeta determinado contedo (material deposita-
do) sobre o outro ou si mesmo (depositrio), uma
vez que a introjeo do mesmo pode causar de-
sestabilizao psquica (BLEGER, 1977).
De acordo com Bleger (1977) por conside-
rar o outro ou como um enigma ou como uma
extenso de si mesmo, o psictico tem visveis di-
fculdades vinculares, orientando-se ora por uma
postura autista ora por uma simbitica. Ele pos-
tula que a primeira caracteriza-se por um isola-
mento do ambiente externo e predomnio relativo
ou absoluto da vida interior, que refete uma con-
duta defensiva diante de situaes persecutrias.
O vnculo, nesse caso, , fundamentalmente, de
carter narcsico, pelo fato de predominar uma
relao com objetos internos.
A conduta simbitica, em contrapartida, mar-
cada por um vnculo de dependncia intensa com
um objeto externo, ocorrendo uma projeo de
parte do ego do indivduo nesse objeto. H, na
realidade, uma identifcao projetiva entre o psi-
ctico e o objeto, que tem por fnalidade manter
um certo nvel de organizao e satisfazer as ne-
cessidades do mbito mais primitivo da personali-
dade do sujeito (Bleger, 1977).
117
Tanto a simbiose quanto o autismo so exem-
plos de vnculos narcsicos e, portanto, constituem
relaes com objetos internos, que objetivam
assegurar a satisfao do princpio do prazer e
proteger tais objetos da intromisso da realidade
externa. Ambas coexistem no modo de funciona-
mento do sujeito psictico, podendo haver trs
formas de ascendncia de uma sobre a outra:
ou h predomnio absoluto ou relativo, havendo
ainda a possibilidade de ambas se alternarem no
modo de funcionamento psquico do sujeito (Ble-
ger, 1977, p. 20).
Entendendo a psicose como um fenmeno ps-
quico de intensas ressonncias sociais, em que a
questo da vinculao dos sujeitos se coloca de
forma crtica, considera-se a necessidade de inten-
sifcao de cuidados direcionados a reforar os
laos sociais destes indivduos em seus contextos
relacionais. A reconstruo da cidadania dessas
pessoas visa assegurar-lhes uma participao ati-
va, digna e verdadeira, consistindo na tentativa de
criao de um espao em que possam expressar
a dimenso poltica do seu discurso (Garfunkel,
sd, p. 21).
Para tanto, o trabalho do PIC realizado com
base nos princpios do acompanhamento tera-
putico, que consiste num novo modo de manejo
clnico pautado nas refexes de Winnicott acerca
das intervenes no campo da Psicanlise. Nessa
abordagem, a atuao do terapeuta se d no s
atravs da palavra, mas tambm pela utilizao
de objetos da cultura. O manejo clnico objetiva
possibilitar ao sujeito a simbolizao de alguma
questo existencial e/ou o desenvolvimento de al-
guma funo psquica (Barretto, 2000, p. 17) por
meio de uma interveno que no se restrinja
prtica puramente clnica, alcanando um carter
tambm social.
O acompanhamento teraputico constitui-se,
portanto, numa pea fundamental desinstitucio-
nalizao dos pacientes, ao se utilizar dos espa-
os pblicos como alargamento do campo poss-
vel de tratamento e, desse modo, dar visibilidade
doena mental, alm de possibilitar a reorgani-
zao subjetiva e social dos pacientes atravs de
dispositivos e estratgias teraputicas descentra-
das de seu antigo aspecto assistencial (Pelliccioli,
Guareschi & Bernardes, s.d.).
Barretto (2000) descreve onze funes ineren-
tes ao trabalho do acompanhante teraputico:
holding, continncia, apresentao de objeto,
handling, desiluso, interdio, interlocuo dos
desejos e angstias, discriminao de campos se-
mnticos, funo especular, funo de aliviar as
ansiedades persecutrias e funo de servir de
modelo de identifcao.
A funo de holding refere-se ao apoio e am-
paro, tanto fsicos quanto psquicos, oferecidos
pelo acompanhante teraputico (AT) como forma
de propiciar ao acompanhado a experincia de
constncia e continuidade atravs de uma atitu-
de emptica. A continncia, por sua vez, embora
guarde semelhanas com a funo anteriormente
descrita, corresponde capacidade de o AT aju-
dar a manter as experincias do sujeito dentro de
limites suportveis, por lhe apresentar novas pos-
sibilidades de simbolizao. Do contrrio, corre-
se o risco de transbordamento de afetos, emoes
118
e impulsos, como se, por exemplo, o sujeito fosse
possudo por sua ansiedade e no apenas a pos-
susse (Barretto, 2000).
Outra funo, a de apresentao de objeto,
diz respeito ao oferecimento, por parte do AT, de
possibilidades de que o acompanhado entre em
contato com um dado objeto, permita-se utiliz-lo
e possa, por fm, separar-se dele sem que isso se
constitua numa experincia disruptiva. As experi-
ncias do sujeito passam, portanto, a ser vivencia-
das de modo completo, isto , passam a ter incio,
meio e fm. J a funo de manipulao corporal
(handling) trata da leitura do corpo do acompa-
nhado a partir do prprio corpo, possibilitando
que ele vivencie suas necessidades corporais de
modo a integrar psique e soma (Barretto, 2000).
A desiluso ou capacidade de discriminao
relaciona-se possibilidade de utilizao de uma
situao potencialmente frustrante e desagrega-
dora, como forma de enriquecer o campo de ex-
perincias do acompanhado. Assim ele torna-se
capaz de suportar suas angstias e frustraes, ao
tempo em que pode alcanar uma melhor noo
de realidade subjetiva e realidade compartilhada.
Como auxiliar do processo anterior, existe a inter-
dio, que ocorre quando o AT exerce a funo
paterna, barrando uma situao potencialmente
satisfatria. Para que essa ao tenha o efeito
desejado, necessrio que o sujeito j tenha vi-
venciado uma experincia de satisfao anterior
(Barretto, 2000).
A funo de interlocuo de desejos e angs-
tias trata do processo por meio do qual, atravs
de conversas, o acompanhado pode elaborar
seus contedos e questes subjetivas. Por meio da
discriminao de campos semnticos, o AT pode
auxiliar o sujeito a ampliar sua conscincia a res-
peito de si e do mundo, ao lhe apresentar novas
categorias de signifcao. A funo especular
efetiva-se no momento em que o acompanhado
identifca no AT, ou em algum objeto da cultura,
algum aspecto de si mesmo. J o apaziguamento
das ansiedades persecutrias consiste no aumen-
to, por parte do acompanhado, da percepo de
si e do mundo e conseqente reduo dos fen-
menos alucinatrios. Por fm, a funo do AT como
modelo de identifcao opera na ampliao dos
repertrios de vinculao e dos mecanismos de
defesa fornecendo ao acompanhado diferentes
modos de atuar e reagir diante dos percalos que
permeiam seu cotidiano (Barretto, 2000).
Metodologia
O PIC conta com a participao, preferencial-
mente, de pacientes psicticos, em sua maioria,
jovens, em casos de primeira internao ou com
histrico de reinternaes freqentes, sobretudo
por motivaes sociais. A clientela de baixa ren-
da e proveniente da internao e ambulatrio do
HEML, selecionada e indicada pelos profssionais
destes setores, com base nos critrios acima de-
fnidos.
O Programa de Intensifcao de Cuidados efe-
tiva-se por meio de algumas atividades tais como:
visitas domiciliares, encontros grupais, reunies
com cuidadores, acompanhamento a consultas,
119
atividades externas, assessoria em questes de ci-
dadania e atendimentos individuais.
As visitas domiciliares consistem em contatos
sistemticos com a dinmica familiar e o entor-
no social mais prximo dos pacientes. Cada um
deles visitado, regularmente, por uma dupla de
estagirios. Essa aproximao possibilita interven-
es mais fundamentadas nas interaes desses
pacientes junto a seus familiares, amigos e cuida-
dores. Assim, torna-se possvel interferir nos pa-
dres de relacionamento objetais que podem estar
trazendo difculdades sociabilidade. Alm disso,
pode-se tambm constatar os recursos sociais e
institucionais aos quais os cuidadores recorrem
em momentos de crise e, dessa forma, intervir de
modo mais efcaz no manejo destas situaes.
Outra atividade desenvolvida no programa diz
respeito aos encontros grupais, que constituem
espaos de troca de experincias semanais cujo
objetivo ampliar o espao de convivncia entre
os participantes do programa, alm de estimular
e fortalecer sua sociabilidade. Para tanto, so rea-
lizadas diversas atividades, que incluem vivncias
corporais atravs de dana e dramatizaes, tra-
zendo tona aspectos signifcativos do cotidiano
dos participantes; e discusses sobre temas varia-
dos, como autonomia, projetos de vida, relaes
familiares, uso de medicaes, dentre outros.
Ainda so efetuadas reunies mensais com cui-
dadores, em que a troca de experincias abre es-
pao para o compartilhamento de dvidas, preo-
cupaes, crenas e sugestes acerca do manejo
da psicose. muito freqente familiares relatarem
vivncias que so comuns a outros participantes,
criando, assim, um ambiente de acolhimento e
cumplicidade que favorece sobremaneira o con-
vvio deles com os que esto sob seus cuidados.
Ao mesmo tempo, viabiliza-se uma relativa des-
mistifcao do transtorno mental e uma mudana
na forma de lidar com o mesmo, j que os cui-
dadores podem vislumbrar novas possibilidades
de interao e deixar de lado vcios adquiridos
ao longo dos anos, muitas vezes nocivos ao de-
senvolvimento da sociabilidade e autonomia do
paciente.
Nas atividades externas, so realizados, pe-
riodicamente, passeios teraputicos em diversos
locais da cidade, iniciativas legitimadoras do
convvio social e do exerccio dos direitos e de-
veres, que viabilizam o aumento da autonomia e
o sentimento de pertena grupal dos pacientes.
Estas vivncias objetivam ainda dar visibilidade
psicose, possibilitando uma diminuio do estig-
ma social que a envolve ao lev-la a espaos p-
blicos como shoppings, praias, museus, cinema,
zoolgico etc.
realizado, igualmente, acompanhamento a
consultas psiquitricas, que se apresenta como
um importante espao de interlocuo entre sa-
beres que atuam na sade mental, possibilitando
uma maior compreenso do fenmeno da psico-
se, por promover uma interao entre seus aspec-
tos fsioqumico e psicossocial.
Devido s difculdades enfrentadas pelos pa-
cientes no manejo de questes relativas cida-
dania, tambm prestado um auxlio nessa rea.
Os participantes do programa so acompanha-
120
dos pelos estagirios em tarefas como tirar docu-
mentos, dar entrada a benefcio e aposentadoria,
alm de serem realizadas denncias ao Ministrio
Pblico em casos de abandono.
Por fm, ocorrem, excepcionalmente, atendi-
mentos individuais nos casos em que so perce-
bidas demandas por este tipo de servio, seja por
meio de atendimentos psicoterpicos seja pela
participao em ofcinas teraputicas ocupacio-
nais.
Para dar suporte terico s atividades desen-
volvidas, acontece, semanalmente, durante trs
horas, superviso coletiva com um Professor do
Departamento de Psicologia (UFBA) e uma Pro-
fessora de Terapia Ocupacional (FBDC). Nesta
atividade, so apresentados, pelos estagirios,
seminrios tericos acerca do tema da psicose,
acompanhamento teraputico, encontros grupais,
etc, sendo realizadas discusses sobre o texto ex-
posto. Alm disso, os casos atendidos pelo pro-
grama so apresentados e debatidos.
Resultados e Discusso
No decorrer destes mais de dois anos de Pro-
grama de Intensifcao de Cuidados, pode-se
observar uma relevante melhora no quadro cl-
nico da maioria dos pacientes acompanhados,
merecendo destaque a reduo das reinternaes
e o aumento de sua autonomia, assim como o
fortalecimento de laos sociais. Mesmo nos casos
em que houve crises, os familiares, com a aju-
da dos estagirios, puderam lidar com a situao
de uma forma mais compreensiva e acolhedora,
buscando outros recursos teraputicos que no a
internao. Passaram a procurar o auxlio de au-
toridades religiosas de referncia, como pastores
e padres; vizinhos e parentes; dos prprios acom-
panhantes teraputicos; e da emergncia psiqui-
trica. Com isso, a recuperao dos pacientes tem
se tornado mais rpida, e diminui no apenas o
tempo em que fcam desestabilizados, como a in-
tensidade das crises.
Pode-se perceber tambm um gradual e rele-
vante incremento na autonomia e insero social
de muitos pacientes. Alguns, por exemplo, que
no saam de casa ou s saam acompanha-
dos, passaram a freqentar lugares pblicos com
maior regularidade e grau de ansiedade reduzi-
do. Como exemplo de ampliao da autonomia,
podemos citar um caso em que o paciente foi
sozinho formatura dos alunos do curso de psi-
cologia que haviam lhe acompanhado durante a
atividade de estgio. Do mesmo modo, outra pa-
ciente, cuja relao com a famlia e o ex-marido
era confituosa em virtude da falta de compreen-
so, por parte deles, dos problemas associados
ao seu transtorno; deu incio a um processo de
reconciliao, e hoje os visita, com freqncia, no
interior da Bahia, onde residem.
Tambm tem se tornado possvel notar as re-
percusses positivas da atuao dos estagirios
junto aos pacientes em questes relativas cida-
dania. Um determinado paciente, por exemplo,
recebia uma aposentadoria da Marinha, mas vi-
via em situao precria, em razo de seu irmo,
responsvel judicialmente pelo recebimento da
quantia em questo, no arcar com as despesas
121
relativas s suas necessidades bsicas. Os esta-
girios, ento, entraram com uma ao no Mi-
nistrio Pblico, denunciando o abandono sofrido
pelo paciente e requerendo a substituio de seu
irmo por outro tutor legal. Embora no tenha
havido essa modifcao de tutela, o irmo do
paciente foi obrigado a repassar-lhe os recursos
necessrios a sua sobrevivncia digna.
Ainda digna de nota a experincia dos gru-
pos semanais, realizados no Hospital Especiali-
zado Mrio Leal, que evidenciou a importncia
desses encontros na criao e fortalecimento de
laos sociais entre os pacientes, na promoo de
discusses sobre temas, em geral, relacionados
ao transtorno mental e suas repercusses na vida
dos pacientes e familiares; e, por fm, na produ-
o de continncia, que constitui uma experincia
psquica de contorno, limite, possibilitada pela
alteridade, ajudando o sujeito a se sentir mais or-
ganizado.
Ademais, vale salientar que a atuao no Pro-
grama de Intensifcao de Cuidados permite aos
estudantes um signifcativo amadurecimento pes-
soal e profssional, uma vez que possvel entrar
em contato com diferentes realidades sociais e,
sobretudo, subjetivas. Dessa forma, pode-se obter
um entendimento mais abrangente do ser huma-
no e de suas idiossincrasias, o que enriquece mui-
to a nossa formao, conferindo-lhe consistncia
e uma gama de conhecimentos mais coesa. Alm
disso, possvel adquirir uma viso consonante
com as novas diretrizes polticas de atuao em
sade mental e devidamente voltada para a infu-
ncia dos aspectos sociais na vida dos sujeitos.
Concluso
Durante o desenvolvimento do Programa de
Intensifcao de Cuidados, a proximidade com
a psicose, a precariedade do SUS na Bahia, o
persistente predomnio da lgica manicomial e
realidades sociais muito distintas possibilitou-nos
um aprendizado nico, no s em termos profs-
sionais como pessoais.
O contato com pacientes, em sua maioria psi-
cticos, gera um conhecimento desse fenmeno
psicossocial que ultrapassa em muito o obtido nos
bancos da universidade. Afnal, por mais funda-
mentao terica que se adquira sobre esse sa-
ber, difcilmente ele ser contemplado de modo
to vasto quanto o com a convivncia cotidiana
junto loucura.
Em relao s novas diretrizes polticas de as-
sistncia aos portadores de transtorno mental,
vale dizer que, na Bahia, por mais boa vontade
que, eventualmente, se tenha, o modelo de aten-
o em sade mental ainda deixa muito a dese-
jar, por no acompanhar, devidamente, as novas
regras. Os servios substitutivos, na capital, espe-
cifcamente, esto longe de abarcar a populao
que necessita de atendimentos em sade mental.
No raro, os pacientes fcam sem os medicamen-
tos, em virtude de estarem em falta na farmcia
do hospital; sem falar nas consultas psiquitricas,
cujo intervalo entre uma e outra muito espaado
(em geral de quatro a cinco meses), todos esses
fatores contribuindo para difcultar a interao
entre o tratamento mdico e o psicossocial e, em
122
conseqncia, o sucesso teraputico.
Assim, fca clara a persistncia da lgica mani-
comial, pelo fato de, dadas as difculdades de se
conseguir medicao e atendimento psiquitrico,
as crises psicticas terem maior probabilidade de
acontecer, o que leva a famlia e os prprios hos-
pitais especializados a recorrerem em, primeira
instncia, ao internamento como forma de conter
e tratar os pacientes em surto.
Ademais, cabe ressaltar a difculdade de en-
frentamento de situaes em que a pobreza
alarmante, impondo uma necessria fexibilizao
e manejo por parte dos estagirios. Cabe citar,
por exemplo, situaes nas quais alguns pacien-
tes nos pediam dinheiro emprestado, porque no
tinham o que comer. Em outras, as circunstn-
cias eram to graves que exigiam providncias
urgentes, como quando uma paciente estava com
a casa com risco de desabamento, em razo das
fortes chuvas que assolavam a cidade.
Esses casos denotam a importncia de se leva-
rem em conta os aspectos sociais que constituem,
tambm, a subjetividade dos indivduos quando
o que se pretende o alcance de um tratamento
diferenciado e de qualidade.
O Programa de Intensifcao de Cuidados
funda, na Bahia, uma possibilidade de constru-
o de novas formas de interveno, pensamento
e refexo acerca da assistncia em sade mental,
evidenciando a relevncia de uma abordagem
psicossocial para a consecuo deste objetivo.
Referncias
ASSAD et all. A Clnica da Psicose: Uma Articulao
Necessria entre a Extenso Universitria, a Psicanlise e
a Reforma Psiquitrica. Disponvel em: www.prac.ufpb.br/
anais/anais/saude/psicose.pdf. Acesso em: 10 de setembro
de 2005.
BARRETTO, K. tica e Tcnica no Acompanhamento Te-
raputico: andanas com Dom Quixote e Sancho Pana.
So Paulo: Unimarco Editora, 1998. 210p.
BLEGER, J. Simbiose e Ambigidade. Traduo de Maria
Luza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977, 402
p.
BRASLIA. Secretaria Executiva, Secretaria de Ateno
Sade. Legislao em Sade Mental. Braslia: Ministrio da
Sade, 2004. 340p.
GARFUNKEL, J. L. Incluso/Excluso: Limites e Possibi-
lidades desse Conceito. Instituto de Psicologia PUC, So
Paulo, p. 9 26, s/d.
GUARESCHI, N. M. F. ; BERNARDES, Anita Guazzelli ;
PELLICCIOLI, Eduardo C . O trabalhador da sade mental
na rede pblica: o acompanhamanto teraputico na rede
pblica. In: II SEMINRIO INTERNACIONAL: EDUCAO
INTERCULTURAL, GNERO E MOVIMENTOS SOCIAIS,
2003, Florianoplis. Identidade, Diferena e Mediao.
Florianoplis : Rizoma, 2003.
Estratgias
125
Resumo: A assistncia domiciliar pode ser pen-
sada como uma possvel estratgia teraputica
para os sujeitos afetados por desordens mentais.
Ela pode ser compreendida enquanto atendimen-
to, visita e internao domiciliar. Este artigo atm-
se s duas primeiras, que embasam as atividades
do Programa de Intensicao de Cuidados a Psi-
cticos (PIC), vinculado ao Hospital Especializado
Mrio Leal, na cidade de Salvador/BA e que ob-
jetiva a clnica ampliada como proposta de cui-
dados para a sade mental, entendendo que os
portadores de transtorno mental caracterizam-se,
particularmente, pela fragilidade nas formas de
vinculao. Deste modo, delineiam-se os estudos
de Lacan (1985) no que se refere postura de se-
cretariar o alienado e as teorizaes propostas por
Barretto (1998) acerca do surgimento do acom-
panhante teraputico (AT) e da importncia da
funo de holding neste processo. A famlia surge
nesse mbito de prticas extra-institucionais como
co-autora da continuidade da assistncia. As m-
tuas relaes entre a assistncia domiciliar e as re-
des sociais so ressaltadas, porque se acredita ser
imprescindvel o apoio destas ltimas como possi-
bilitadoras de novas alternativas para os sujeitos.
E, evidenciando-se um pouco da estranheza que
a loucura ratica, buscou-se ilustrar o texto com
expressivas citaes de Clarice Lispector.
Introduo
... para os gregos no se esgotava a seu sen-
tido; na sua crena de que seu destino era coman-
dado pelos deuses, a loucura tinha um sentido de
mstico, de revelao, sem nenhuma conotao
pejorativa. Os gregos no descartaram o sagra-
do, presente em todas as manifestaes huma-
nas (FOUCAULT, 1994).
A
sade mental, assim como tantos outros fe-
nmenos sociais, pode ser apresentada como
A Assistncia Domiciliar no mbito
do Cuidado Sade mental
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagirio do PIC
Jlia Mignac dos Santos*
Wellington Carlos Moreira Jnior**
126
um fenmeno composto, em seus domnios, por
representaes histricas e socialmente constru-
das. O excerto supracitado condiz a uma pas-
sagem da obra de Foucault Doena Mental e
Psicologia. Nesta, o autor faz ressaltar como as
formas de excluso e estigmatizao desse con-
ceito se delineiam at a constituio do cerce-
amento social a que, por longos anos, esteve e
ainda encontra-se refreada a loucura.
O texto de Foucault (1994) aponta que com
o advento da era clssica que a loucura vai esvair-
se das signifcaes mticas que a ela estavam as-
sociadas e passa a ser apreendida enquanto des-
vio. No existia uma preocupao mdica com
o louco e muito menos com o seu isolamento.
A excluso, quele momento, incidia sobre os
leprosos, que eram ao mesmo tempo temidos e
sacralizados. A sua doena era smbolo da clera
e da bondade de Deus, uma vez que simbolizava
para o leproso o caminho purifcao e a sal-
vao.
Uma anlise da forma da produo de saberes
e do exerccio do poder se evidencia necessria
na compreenso dos fuxos conceituais que inci-
dem sobre esses sujeitos e que so fundantes do
pensamento moderno. A histria da loucura nos
sculos XVIII e XIX quase sinnimo da histria
do seu enlace pelos conceitos de alienao e, por
conseguinte, de doena mental. Esse desdobra-
mento de conceitos encerra seu signifcado vincu-
lado criao de um novo modelo de homem ou
de um novo sujeito na modernidade (AMARANTE,
2001). A emergncia do valor aferido razo
poca do renascimento consentiu com surgimento
de um sujeito da Razo. A loucura, deste modo,
se torna seu contraponto. O seu representante
major o louco passa, desde ento, a ser con-
cebido como sujeito da desrazo.
Por conseguinte, surge a criao de espaos
para confnamento daqueles que conformam a
falha nas concepes quimricas de ser huma-
no. Nesse modelo de teraputica dispensado
ao cuidado da loucura, sobejam sentidos, ditos
cientfcos, de ordem marcadamente nosolgica,
que enquadram e representam a fgura do louco
para a humanidade. De tal modo, assenta-se a
denominao de alienado, enquanto indiferente
ao universo de concepes compartilhadas pelos
demais indivduos sociais.
A alienao entendida como um distrbio
das paixes humanas, que incapacita o sujeito de
partilhar do pacto social (AMARANTE, 2001). Os
sentidos conferidos ao alienado expressam um es-
tar fora de si, fora da realidade, seria aquele in-
divduo que tem alterada a sua possibilidade de
juzo. Como efeito da aplicao deste conceito,
delimita-se um modo particular de relao social
com o sujeito representante da loucura. Destarte,
sendo o alienado incapaz do juzo, incapaz da
verdade, determina-se, por extenso, simbolizar
perigo, para si e para os demais. Neste ponto,
funda-se uma lgica que circunda as justifcativas
implementao dos espaos de isolamento ins-
titucionais o manicmio ou hospital psiquitrico
encontra deste modo, sua legitimidade.
A proposta deste estudo conferir sentidos
desinstitucionalizao das prticas de cuidado
dispensadas sade mental entendendo que uma
127
ressignifcao da loucura mostra-se conexa nesta
caminhada. Para tanto, ser desenvolvida a pro-
posta da assistncia domiciliar como estratgia
de cuidado aos sujeitos que sofrem de desordens
psquicas.
A Clnica Ampliada como Teraputica
Sade Mental
A Psicose pode ser pensada como um fenme-
no psquico de intensas ressonncias sociais que
fragilizam as relaes interpessoais dos sujeitos
(NASCIMENTO, 2005). Desta maneira, atenta-se
importncia de novos modelos que proporcio-
nem sade mental um cuidado e ateno con-
tinuados.
Lacan (1985) aponta as nuances imperativas a
serem alcanadas no momento de proporcionar
cuidado a um sujeito que apresenta uma forma
de funcionamento diversa daquela compartilha-
da pelos neurticos que representam a grande
parcela dos cuidadores em sade mental. Mas,
contrariamente ao sujeito normal para quem a re-
alidade lhe chega de bandeja, ele tem uma cer-
teza, que a de que aquilo de que se trata da
alucinao interpretao lhe concerne. No
de realidade que se trata com ele, mas de certeza.
Mesmo quando ele se exprime no sentido de dizer
que o que sente no da ordem da realidade, isso
no atinge a sua certeza, que lhe concerne. Essa
certeza radical (LACAN, 1985). Lacan ainda
defne o cuidador do sujeito psictico como se-
cretrio do alienado. Vamos aparentemente nos
contentar em passar por secretrios do alienado
(pp. 235). Por conseguinte, ao desenvolver essa
noo de secretariar, ele ressalta, com metforas,
formas de compreenso outras que escapariam a
uma apreciao de investigao superfcial. As-
sim, ele expe a relevncia de oferecer ao delrio
do psictico uma escuta que permita signifc-lo
na sua linguagem. Por que ento, condenar de
antemo caducidade o que se externa de um
sujeito que se presume estar na ordem do insen-
sato, mas cujo testemunho mais singular, e mes-
mo inteiramente original? (pp. 237).
Essa condenao caducidade de que nos
fala Lacan poderia ser elucidada na magnitude
de estranheza que o fenmeno psictico parece
revelar. Esse real que fascina a uns tantos e expe
a outros encontra um caminho nas alneas dis-
corridas por Clarice Lispector. No seu primoroso
texto a paixo segundo GH ela torna evidente a
sensao de estranhamento provocada diante da
percepo do inusitado: ... mas s enquanto eu
no assustar ningum por ter sado dos regula-
mentos. Mas se souberem, assustam-se, ns que
guardamos o grito em segredo inviolvel. Se eu
der o grito de alarme de estar viva, em mudez e
dureza me arrastaro, pois arrastam os que saem
para fora do mundo possvel, o ser excepcional
arrastado, o ser gritante (pp. 62-63). O ser gri-
tante caracteriza as desconexes representativas
da psicose. Secretariar esse indivduo torna-se
uma possvel maneira de experienciar estratgias
de cuidado que acresam novas signifcncias
loucura.
Um novo modelo de pensar a sade men-
tal surge a partir das contribuies advindas do
128
movimento psiquitrico ingls, da psiquiatria de-
mocrtica italiana e da psicoterapia institucional
francesa. Em torno dessa nova proposta, surgem
algumas denominaes conferidas queles que
implementavam teraputicas com os loucos. Ami-
go qualifcado, atendente teraputico, auxiliar psi-
quitrico. Com os desdobramentos dessa ativida-
de de cuidar, surge o Acompanhante teraputico,
medida que o trabalho extrapolava as paredes
das instituies psiquitricas (BARRETTO, 1998).
Dentre a totalidade de intervenes teraputi-
cas destinadas sade mental, o Acompanhante
Teraputico (AT) despende um cuidado de amplo
alcance de maneira que a subjetividade do sujeito
possa ser acompanhada em suas constantes me-
tamorfoses. A fgura do AT poderia ser pensada
como a de algum que busca estar ao lado do
seu acompanhante sem lhe imprimir formas de
conduta, mas constantemente atento aos poss-
veis acontecimentos expressos. Deste modo, o AT
surge como o fel escudeiro que observa atenta-
mente os passos do seu senhor. Barretto (1998)
ressalta o valor da experincia do acompanha-
mento porque esta se processa no apenas pela
existncia de um corpo fsico. Sua primazia resi-
de na crena de que esse corpo passa a ser um
corpo habitado, um corpo atento, um corpo que
carrega a histria do prprio vnculo. Em outras
palavras, a experincia integradora porque o
sujeito est sendo acompanhado por um corpo
simblico (simbolizado e simbolizante), e no so-
mente matria fsica (BARRETTO, 1998).
A funo de Holding desenvolvida por Winni-
cott e retomada por Barretto encontra um parale-
lo no conceito de secretariar esboado por Lacan
no seu seminrio do livro III as psicoses. A essa
funo... Winnicott denominou holding (BARRET-
TO, 1998). Este autor defne a funo de holding
(a qual ele tambm chama de sustentao) como
os mltiplos elementos que, encontrados no am-
biente, fornecero a uma pessoa a experincia
de uma continuidade, de uma constncia tanto
fsica quanto psquica (BARRETTO, 1998).
Essa experincia de holding seria delineada por
quaisquer objetos concretos que fornecessem aos
sujeitos possibilidades teraputicas ou, de igual
forma, pelo desejo de um indivduo em acolher
demanda de um outro no percurso de sua traje-
tria. Nos seus desenvolvimentos concernentes ao
conceito de holding, Barretto fala da importncia
da me cuidadora que dispensa ateno s ne-
cessidades do beb e lhe prov do que necessita.
Winnicott a chama de me sufcientemente boa,
aquela que fornece cuidados e limites (BARRET-
TO, 1998).
Nesse contexto de novas propostas que aten-
tem sade mental, que se implementou o Pro-
grama de Intensifcao de Cuidados para psic-
ticos (PIC) no Hospital Especializado Mrio Leal,
fundando um novo molde de estgio interdisci-
plinar que compreende a primazia das relaes
vinculares no manejo e cuidado psicose.
A reforma psiquitrica e o Movimento Nacio-
nal da Luta Antimanicomial defendem a negao
do manicmio como forma de tratamento para a
sade mental. Deste modo, propem novas al-
ternativas teraputicas ao indivduo portador de
129
transtornos psquicos. Embasado nessa premissa,
o PIC tem como objeto norteador de sua prtica
o cuidado intensivo ao indivduo em crise, de for-
ma que a internao seja evitada. Assim, como
apontou Nascimento (2005) em seu estudo sobre
a qualidade de vida dos pacientes participantes
desse programa, o mesmo reduziu em aproxima-
damente 70% as recorrncias a internaes psi-
quitricas durante o seu decurso.
As atividades do programa compem a im-
plementao de duplas de estagirios para o
acompanhamento de cada paciente. O trabalho
acontece em dois momentos: encontros grupais
no supracitado hospital ou em recintos pblicos
da cidade; e as visitas domiciliares. Estas permi-
tem aos acompanhantes uma compreenso do
lcus que referenda cada sujeito e objetivam a
reinsero dos mesmos em suas originrias redes
sociais. Barretto (1998) afrma que a funo de
holding poderia ser pensada como um suporte
ao acompanhado. Assim, os encontros em locais
diversos daqueles j conhecidos pelos participan-
tes possibilitariam a descoberta de novos espa-
os.
Destacando-se a fragilidade das formas de
vinculao empreendidas pelos psicticos em
suas redes sociais e familiares, faz-se mister a
concepo de modelos que imponham um olhar
diferenciado a este sujeito, abarcando as inume-
rveis idiossincrasias a que este personagem en-
contra-se arraigado. A assistncia domiciliar, em
concordncia com o acompanhamento terapu-
tico, revela-se uma promissora estratgia no per-
curso desta prtica.
A Assistncia Domiciliar
A assistncia domiciliar defnida como um
conjunto de procedimentos hospitalares possveis
de serem realizados na casa do paciente. Abran-
gem aes de sade desenvolvidas por equipe
interprofssional, baseadas em diagnstico da re-
alidade em que o paciente est inserido, visando
promoo, manuteno e reabilitao da
sade (FABRICIO & cols., 2004).
O histrico da prtica de assistncia domiciliar
localiza seus primrdios nos EUA, particularmente
no hospital de Boston com as enfermeiras visita-
doras. Ainda ressaltam-se os possveis desenvol-
vimentos dessa atividade na Europa, em virtude
do incremento da populao idosa (FABRICIO &
cols., 2004). No Brasil, acredita-se que esta ati-
vidade tenha surgido com a implementao do
Servio de Enfermeiras Visitadoras no Rio de Ja-
neiro, na primeira metade do sculo passado, e
com a criao do servio de Assistncia Mdica
Domiciliar e de Urgncia (SAMDU).
A promoo dessa nova prtica surge priori-
tariamente para dispensar cuidados a pacientes
com doenas crnicas que pudessem ser acom-
panhados no domiclio, pacientes convalescentes
que no necessitassem de cuidados dirios de
mdicos e enfermeiros, e ou portadores de en-
fermidades que exigiam repouso. Observa-se que
a incluso da doena mental nessa proposta de
cuidado parece tambm ter surgido em meados
do sculo passado com a criao dos atendentes
psiquitricos na cidade de Porto Alegre e a fgura
do auxiliar psiquitrico na clnica Vila Pinheiros no
130
Rio de Janeiro (BARRETTO, 1998).
A assistncia domiciliar pode ser compreendida
enquanto trs esferas de prestao de cuidados:
visita domiciliar, atendimento domiciliar e interna-
o domiciliar. Bellido (1998 citado por Rehem e
Trad, 2004) refere que esta diversa nomenclatu-
ra deriva das difculdades histricas de expressar
claramente as caractersticas dessa modalidade
assistencial, diferenciando-a das outras formas de
assistncia. Dentre as denominaes constituintes
dessa prtica, enfoca-se, particularmente, a visi-
ta e o atendimento domiciliar, pois constituem os
tpicos que embasam a atividade de cuidados in-
tensivos sade mental ora em foco.
A visita domiciliar pode ser entendida como
atendimento realizado por profssionais de sade
ou por uma equipe, que se desloca da institui-
o e vai busca do paciente. A atividade almeja
uma avaliao das necessidades do paciente, de
seus familiares e do ambiente adscrito em que vi-
vem. Assim, visa estabelecer um plano assistencial
voltado recuperao e/ou reabilitao. As vi-
sitas so realizadas levando-se em considerao
a necessidade do cliente e a disponibilidade do
servio de sade. Ela abarca atividades de orien-
tao s pessoas responsveis pela continuidade
do cuidado no domiclio em grande parte a fa-
mlia.
O Atendimento domiciliar abrange atividades
assistenciais exercidas por profssionais e/ou equi-
pe de sade na residncia do cliente. Este objeti-
va a execuo de procedimentos mais complexos,
que demandam formao tcnica para tal. De
igual forma, so realizadas orientaes aos res-
ponsveis pelo cuidado no domiclio, e a periodi-
cidade do atendimento acontece de acordo com
a complexidade do cuidado requerido.
A internao domiciliar tambm constituiria
um tipo de assistncia especializada, exercida por
profssionais da equipe de sade na residncia do
cliente, e diferencia-se das demais pela disponibi-
lidade de maiores recursos tcnicos e humanos.
Como ela objetiva a criao de um mini-hospital
na residncia do sujeito, ratifca-se a necessidade
da oferta de medicamentos e ateno de longa
permanncia, o que caracterizaria um ambiente
hospitalar.
Como j referido outrora, o programa de cui-
dados intensivos para pacientes psicticos (PIC)
engloba as primeiras duas dimenses da assistn-
cia. No nterim das visitas domiciliares, os estagi-
rios freqentam as residncias dos pacientes e
buscam estabelecer hipteses das formas de vin-
cular at ento assumidas pelos sujeitos e demais
membros integrantes de sua rede social. Por con-
seguinte, empreende-se uma atividade de ressig-
nifcaes das formas de pensar a sade mental
naquele mbito.
Essa forma de cuidar da sade implica no en-
contro com a famlia e demais constituintes da
rede social na qual o sujeito est imerso. Esta, a
famlia, pode representar um entrave ao desenvol-
vimento das prticas ou emergir como co-autora
no processo de cuidado que lhe for dispensado.
De tal forma, evidencia-se a primazia em situar os
intercursos a que esto expostos, famlia e cliente,
nesta nova forma de trato.
O desencadear da crise psictica expe senti-
131
mentos que, em muitos momentos, so avassala-
dores para o familiar do doente mental. Melman
(2001) afrma que o surto psictico de um flho,
de um irmo ou de um companheiro rompe e
desorganiza a vida de muitas famlias. O evento
representa, de certa forma, o colapso dos esfor-
os, o atestado da incapacidade de cuidar ade-
quadamente do outro, o fracasso de um projeto
de vida, o desperdcio de muitos anos de investi-
mento e dedicao. Portanto, faz-se imprescind-
vel atentar ao sofrimento da famlia em presena
das vivncias traumticas desses sujeitos, ainda
que a mesma parea revel-lo de forma hostil.
pertinente ressalvar que formas silenciosas no
trato com o sujeito psquico afetado por distrbios
mentais, de igual modo, poderiam ser revelado-
ras das difculdades por que passa a famlia. P,
paciente acompanhada no programa, (PIC) pare-
cia encontrar diversas difculdades em falar sobre
a sua doena. No trabalho de assistncia que lhe
foi prestado, observou-se que o seu genitor refe-
ria, continuamente, que sua flha no apresentava
quaisquer comprometimentos psquicos (Minha
flha no ouve vozes, ela est curada). Assim, foi
possvel aventar como se processava a circulao
do discurso entre esses sujeitos. Atendendo a um
desejo paterno, P parecia no expor as suas
construes fantsticas. Ela afrmou para as es-
tagirias que a acompanhavam que elas seriam
as moas das vozes e lhes mostrou, em um outro
momento, seu guarda-roupa repleto de acessrios
para beb evidenciando uma possvel fantasia
de gravidez. Desta forma, P parece encontrar
um arranjo psquico para lidar com suas difculda-
des e para no falar dessas possveis construes
delirantes. Neste caso, percebe-se que, embora
o genitor da paciente parea contribuir para que
ocorra um bloqueio no seu discurso, P mostra
que encontrou uma forma de escoamento para
o mesmo, evitando o desencadeamento de situ-
aes que, porventura, suscitassem sofrimento ao
seu ncleo familiar.
Uma outra circunstncia ocorrida no estgio
parece ser reveladora da funo de holding exer-
cida pela famlia por um membro desta na
estabilizao dos sintomas. R um paciente
masculino, jovem, que residia com sua me e
sua irm, numa localidade prxima desta cidade.
As visitas domiciliares eram realizadas quinzenal-
mente em virtude da distncia. Contudo, quando
preciso, os estagirios o visitavam semanalmente
ou ainda duas vezes por semana. R possua um
relacionamento difcil com sua irm, que havia
se casado e aguardava a chegada de um beb.
R mencionava constantemente as brigas e dis-
cusses travadas com sua irm. Era o som, a te-
leviso, o aparelho de DVD, sempre existia algo
que os irritava. Durante as visitas, R falava sobre
sua irm e relatava suas desavenas e o respeito
pela mesma. Demonstrava muito desejo em po-
der virar tio, era algo que aguardava com muita
expectativa. Barretto (1998) salienta que a fun-
o de holding pode ser estabelecida por diversos
elementos do ambiente que proporcionem uma
experincia teraputica para o sujeito.
Deste modo, possvel supor que o nascimen-
to desta criana na famlia de R alvitra-se como
um objeto que lhe permite encontrar satisfao
132
e um lugar outro na estrutura familiar. R agora
deixa de ser o flho caula, mimado, que tem pro-
blemas, para fgurar como o tio do beb. Neste
ponto, evidencia-se como o nascimento do sobri-
nho de R emerge como um recurso teraputico
para a estabilizao do seu sintoma. Retomando
as discusses empreendidas por Melman (2001),
no que tange esfera da famlia, depreende-se
que existe uma difculdade grande dos servios
de sade em conseguirem reconhecer o fami-
liar como um importante recurso teraputico a
ser mobilizado. Portanto, a experincia da assis-
tncia domiciliar parece ser favorecedora de que
esse recurso seja validado e utilizado. A observa-
o dos sujeitos e familiares, aliada ao desenvol-
vimento de vnculos, possibilita a emergncia de
sentimentos de parceria e ateno queles indiv-
duos que esto sendo cuidados.
No momento em que os estagirios freqentam
as comunidades dos seus acompanhados, eles
mostram que ali h um sujeito, h uma pessoa
com quem se pode preocupar e que merece-
dora de cuidados. Imagina-se que possa ocorrer
nesta hora um processamento de novas acepes
diante da percepo daquele indivduo para a
sua rede social. Melman (2001) afrma que alm
dessa ampliao territorial do espao teraputico,
as intervenes na rede social podem mobilizar
importantes recursos internos e externos fam-
lia; muitas vezes recursos esquecidos, deixados
margem, que podem ser acionados e ser de gran-
de utilidade no tratamento.
Assim, poder-se-ia pensar que a funo das
visitas domiciliares tambm seria fornecer ao su-
jeito que sofre de adoecimento psquico novas
possibilidades diante das pessoas que compem
a sua rede social. Esta no se restringiria apenas
famlia nuclear ou extensa, mas inclui todo o
conjunto de vnculos interpessoais signifcativos
do sujeito: famlia, amigos, relaes de trabalho,
de estudo, vnculos na comunidade, vnculos co-
letivos, sociais e polticos (MELMAN, 2001).
Adentrando ao campo das relaes mtuas
entre redes sociais e visita domiciliar importante
salientar passagens de dois casos acompanhados
no PIC. Ambos os pacientes so do sexo masculi-
no. Os chamaremos de W e V.
W um paciente morador de rua. Durante
as visitas e atendimentos domiciliares, o traba-
lho era desenvolvido sempre em algum local do
bairro onde ele morava que funcionava como
a sua casa. Ele demonstrava sentir uma tristeza
muito grande e, entre momentos de crise, expu-
nha uma grande revolta pelo bairro e por todos
os seus moradores. Contudo, era nesses mesmos
momentos, precisamente quando W atentava
contra si, que os moradores intervinham. Eles o
levaram ao hospital em um episdio em que W
utilizou uma cartela inteira de sua medicao. Es-
ses mesmos moradores retiraram W do bueiro
de esgoto quando ele resolveu que iria morar l
dentro. Destarte, percebe-se como imprescind-
vel o apoio da rede social como possibilitadora
de novas alternativas aos sujeitos. Melman (2001)
observa que a presena de enfermidades crnicas
poderia comprometer a qualidade de suas intera-
es sociais. E, dessa maneira, as visitas domici-
liares atuariam como corroboradoras dos cuida-
133
dos dispensados quele sujeito, evidenciando a
importncia de que se busque tentar compreen-
d-lo, ainda que o mesmo esboce comportamen-
tos de tamanha estranheza.
Melman (2001) defne a Rede Social de Sus-
tentao como a soma de todas as relaes que
um indivduo percebe como importantes ou dife-
renciadas da massa annima da sociedade. Ele
ainda postula que essa rede alude a um nicho
interpessoal, uma microecologia na qual a pes-
soa desenvolve um modo particular de expres-
so de sua singularidade (Sluski, 1997 pp. 42
citado por Melman, 2001). Assim sendo, durante
as visitas W era importante a construo de
redes de referncia que dessem continuidade ao
trabalho desenvolvido pela dupla. A barraquinha
de lanches de Dona A, a casa de Dona T, a
banca de artesanato de R, todos esses que
eram os locais em que combinvamos para nos
encontrarmos com W fguravam como pontos
de apoio estratgicos na busca de suportes tera-
puticos para o paciente.
O caso de V ressalta-se como ratifcador dos
resultados advindos da efetiva participao das
redes sociais no trabalho de assistncia domiciliar.
V sempre referiu ser uma pessoa muito sozinha.
Durante o perodo em que o acompanhamos no
chegamos nem mesmo a conhecer sua famlia nu-
clear (eles no querem saber de mim no). Ele
residia num quarto alugado. As visitas domicilia-
res primaram, inicialmente, pelo estabelecimento
de vnculos com a dona e os moradores da casa
onde ele residia. A senhora dona do estabeleci-
mento funcionava como elo entre os estagirios
e V. Apenas uma irm dele morava prximo.
Contudo essa irm trabalhava o dia todo, e era
muito difcil encontr-la. O bar de dona J tam-
bm funcionou como um outro ponto de supor-
te para a continuidade do trabalho desenvolvido
com V. Este fazia suas refeies naquele local
e as pagava mensalmente. Convidamos dona J
a nos auxiliar no cuidado com suas medicaes.
V precisava tomar a medicao juntamente s
refeies, e, dessa forma, a participao de dona
J se mostrava necessria porque ele sempre se
esquecia dos horrios. Os membros da igreja
evanglica que V freqentava tambm foram
promotores de uma assistncia continuada. Per-
cebendo as difculdades encontradas por V,
contribuam junto comunidade, explicitando-lhe
as difculdades por que ele passava.
De tal modo, salienta-se a importncia do tra-
balho de assistncia domiciliar em continuidade
com a formao de pontos de apoio nas redes
que referendam o sujeito para a comunidade. A
presena dos acompanhantes teraputicos dentro
da realidade social dessas pessoas possibilitaria,
portanto, a ressignifcao de conceitos arrai-
gados sobre o portador do sofrimento psquico.
Contiguamente, a edifcao de novas redes de
suporte contribuiria com o sustento do trabalho
e a continuidade da assistncia. A rede emerge
como ancoradouro para a prtica do AT ou mes-
mo da assistncia domiciliar. Melman discorre
sobre as aquisies que o grupo poderia propor-
cionar: o poder grupal tem a funo de proteger
seus integrantes das foras ameaadoras (Mel-
man, 2001).
134
Portanto, compreendendo que a sade mental
caracteriza-se por um mal-estar crnico na vida
dos sujeitos, formas teraputicas que dispensem
uma ateno global e continuada mostram-se ne-
cessrias. Dessa maneira, como apontam Andrade
e Vaitsman, muitas vezes, o enfermo experimen-
ta fragilizao da identidade, do prprio sentido
da vida e da capacidade de resolver problemas
que o afetam, j que tudo aquilo que organiza-
va a identidade alterado de forma brusca com
a doena (Gibson, 1991 citado por Andrade &
Vaitsman, 2002). Esta fragilidade que permeia o
vnculo na psicose fundamenta a implementao
desses novos modelos de prticas.
Consideraes Finais
A assistncia domiciliar demonstra ser revela-
dora da promoo de novos signifcantes dispen-
sados sade mental. A insero de prticas de
cuidado que atentem s diversifcadas demandas
expressas pelos sujeitos brotam como um possvel
mbil de compreenso dos fenmenos psquicos.
Destaca-se que a assistncia domiciliar pode
aferir ganhos diversos queles que se destinam
desde que a sua implementao acontea de for-
ma responsvel, com competncia e planejamen-
to. Assim, o cuidado e a reconstruo das redes
podem ser realizados de forma mais segura e ef-
caz, proporcionando um cuidado embasado na
realidade social em que vive o sujeito a partir de
uma melhor compreenso da mesma.
A famlia surge, neste contexto da assistncia
domiciliar, como pea fundamental na atribuio
de signifcados e valores aos sujeitos em desordem
mental. Melman (2001) esboou a importncia
de compreend-la como um recurso teraputico e
enfatizou o valor de que se atente a todas as pos-
sveis representaes condizentes loucura que
nela se encontram fxadas. A funo de holding
ou suporte destacada por Barretto (1998) corro-
bora as formas de cuidar desses indivduos, alm
de incluir neste espao a rede social que sustenta
e promove a vinculao.
No percurso deste artigo, constatou-se que a
disponibilidade do trabalho de atendimento (ou
assistncia) domiciliar ressalta-se como um pr-
requisito fundante para o trabalho com sujeitos
afetados por desordens mentais.
A magnitude do estranhamento que as mani-
festaes do sujeito psictico desencadeiam no
outro semelhante poderia ser suscitada como um
dos elementos contributivos ao cerceamento do
louco. Freud salienta que ocorreria na psicose
uma substituio da realidade perdida, por ou-
tra. Na psicose o que ocorreria que um mundo
novo seria recriado e colocado no lugar da reali-
dade perdida (FREUD, 1915). Em meio a tantas
teorizaes concernentes ao que seria esta reali-
dade, o que se depreende que a loucura no se
confna a estes parcos critrios. Ela to somente
: inconstante, exuberante e mltipla em suas ex-
presses. que eu no estava mais me vendo,
estava era vendo (Lispector, 1998, pp. 63).
135
Referncias
ANDRADE, G. R. B. & VAITSMAN, J. (2002). Apoio so-
cial e redes: conectando solidariedade e sade. Cincia e
sade coletiva. [online]. 07, 04. Disponvel em: <http://
www.scielo.br
BARRETTO, K. D. (1998). tica e tcnica no acompanha-
mento teraputico: andanas com Dom Quixote e Sancho
Pana. So Paulo: Unimarco Editora.
COSTA, I. I. (2001). Mal-estar, Subjetividade e Psicose:
Refexes a partir do Sistema Familiar. Rev. Mal-estar e Sub-
jetividade. 01, 01. pp 124-137.
FABRCIO, S. C. C., WEHBE, G., NASSUR, F. B., & AN-
DRADE, J. I. (2004). Assistncia domiciliar: a experincia
de um hospital privado do interior paulista. Revista Latino
- Americana de Enfermagem. [online]. 12, 05. Disponvel
em: <http://www.scielo.br
FILHO, N. G. V., & NBREGA, S. M. (2004). A ateno
psicossocial em sade mental: contribuio terica para o
trabalho teraputico em rede social. Estudos de Psicologia
(Natal). [online]. 09, 02. Disponvel em: <http://www.scie-
lo.br
FOUCAULT, M. (1994). Doena mental e psicologia (5a
ed.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
FREUD, S. (1911). Notas psicanalticas sobre um relato
autobiogrfco de um caso de parania. In: ESB. Rio de
Janeiro: Imago, 1977, v. XII.
_______________(1924[1923]). Neurose e psicose. In:
ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1977,v.XIX.
_______________(1924). A perda da realidade na neu-
rose e na psicose. In: ESB. Rio de Janeiro: Imago, 1977,
v.XIX.
GONALVES, A. M., & SENA, R. R. (2001).A reforma
psiquitrica no Brasil: contextualizao e refexos sobre o
cuidado com o doente mental na famlia. Rev. Latino-Am.
Enfermagem. [online]. 09, 02. Disponvel em: <http://www.
scielo.br
LACAN, J. O seminrio livro 03: as Psicoses. Coleo
dirigida por Jacques Alain-Miller e Judith Miller. Traduo
brasileira de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1973.
MELMAN, J. (2001). Famlia e Doena Mental: repen-
sando a relao entre profssionais de sade e familiares.
So Paulo: Escrituras editora. (Coleo Ensaios Transver-
sais).
NASIO, J. D. Lies sobre os sete conceitos cruciais da
psicanlise. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997.
NASIO, J. D. Os Grandes Casos de Psicose. Traduo
de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
NASIO, J. D. Lies sobre os sete conceitos cruciais da
psicanlise. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1997.
PEREIRA, M. A. O. (2003). Representao da Doena
Mental pela famlia do paciente. Interface Comunicao,
Sade e Educao. [online]. 07, 12. pp. 71-82. Disponvel
em: <http://www.scielo.br
REHEM, T. C. M. S. B., & TRAD, L. A. B. (2006). Assis-
tncia domiciliar em sade: subsdios para um projeto de
ateno bsica brasileira. Cincia e sade coletiva. [online].
10, supl. pp. 231-242. Disponvel em: <http://www.scielo.
br
ROCHA, A. A. R. M., & TRAD, L. A. B. (2005). A traje-
tria profssional de cinco mdicos do Programa Sade da
Famlia: os desafos de construo de uma nova prtica.
Interface - Comunicao, Sade, Educao. [online]. 09,
17. Disponvel em: <http://www.scielo.br
SOUZA, R. A., & CARVALHO, A. M. (2003). Programa
de Sade da Famlia e qualidade de vida: um olhar da Psi-
cologia. Estudos de Psicologia (Natal).[online] 08, 03. Dis-
ponvel em: <http://www.scielo.br
SOUZA, R. C., & SCATENA, M. C. M. (2005). Produo
de sentidos acerca da famlia que convive com o doente
mental. Revista Latino-Americana de Enfermagem. [online].
13, 02. Disponvel em: <http://www.scielo.br
TORRE, E. H. G., & AMARANTE, P. (2001). Protagonismo
e subjetividade: a construo coletiva no campo da sade
mental. Cincia e sade coletiva. [online]. 06, 01. Dispon-
vel em: <http://www.scielo.br
136
Resumo: Desde o surgimento dos debates em
sade mental no Brasil, h diculdades no desen-
volvimento de prticas mais ecazes e que tenham
um olhar mais humanizado segundo os princpios
da Reforma Psiquitrica. Neste terreno, a Ateno
Domiciliar surge como proposta de atuao, apos-
tando na relao vincular como alicerce para a
construo de novos laos sociais para as pesso-
as em sofrimento psquico. Algumas diculdades
operacionais so apontadas para a implementa-
o desta tecnologia, bem como alguns caminhos
so vislumbrados.
Introduo
D
esde o surgimento dos primeiros debates em
sade mental no Brasil, que culminou com a
Reforma Psiquitrica Brasileira e a lei Paulo Del-
gado, trazido como discusso principal qual
forma de cuidado deve ser prestado ao portador
de transtornos psiquitricos. Este dito cuidado
que, durante muito tempo, resumiu-se ao conf-
namento de pessoas em hospitais psiquitricos e
que hoje, pela legislao, proposto como uma
abordagem humanizada voltada para cidadania
e ressocializaco, ainda encontra entraves e pos-
turas heterogneas quando posto em prtica, de-
vido a dois principais questionamentos:
1) Os atuais profssionais em sade mental
esto realmente preparados para atuarem neste
novo modelo de assistncia preconizado pela Re-
forma Psiquitrica Brasileira?
2) Como vm sendo democratizados os conhe-
cimentos em sade mental, at ento restritos aos
profssionais psi, para que todos possam se res-
ponsabilizar por este cuidado?
A atual legislao em sade mental, no Brasil,
tem buscado progressivamente substituir os hos-
pitais psiquitricos por outros servios como os
CAPS, NAPS, enfermarias psiquitricas em Hos-
pitais Gerais, Residncias Teraputicas e servios
de sade mental na rede de ateno bsica e
Programa de Sade da Famlia. Muitos destes ser-
vios substitutivos utilizam a estratgia de visitas
domiciliares, visando um acompanhamento mais
Ateno Domiciliar:
Uma tecnologia de cuidado em sade mental
*Estudante de Medicina (UFBA) e ex-estagiria do PIC
**Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
***Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
Allana Moreira*
Ana Paula M. da Hora**
Maria Clara Guimares***
137
humanizado do paciente. Mas no que consiste e
para que realmente serve a visita domiciliar?
Sendo utilizada primeiramente pelo Programa
de Sade da Famlia, a visita domiciliar assume,
muitas vezes, um carter compulsrio de atendi-
mento em casa para pacientes impossibilitados de
irem ao Posto de Sade (idosos, acamados, por-
tadores de alguma defcincia) ou para cumprir
algum objetivo preestabelecido (reconhecimento
familiar, por exemplo) reproduzindo a lgica tra-
dicional de consultrio sob o pressuposto de hu-
manizao. Seguindo lgica semelhante, os atu-
ais servios de sade mental, a partir do momento
que buscam os seus pacientes em casa somente
por conta de ausncias repetidas nas atividades
propostas, situaes de crise e no adeso a me-
dicao, acabam por no abarcar as reais ne-
cessidades deste tipo de paciente que apresenta
especifcidades em suas relaes.
O presente artigo visa contrapor a visita do-
miciliar ateno domiciliar, acreditando nesta
como tecnologia fundamental no cuidado em
sade mental, proposta-base do Programa de In-
tensifcao de Cuidados ao Paciente Psictico,
do qual as autoras participaram.
Do psictico...
Singular, fragmentado, frgil, misterioso, im-
previsvel, rindo e chorando de maneira peculiar...
Ser realmente inacessvel o diferente? Temos ns
alguma interferncia na direo dos seus moinhos
de vento? Ser que se depararo com a violncia
do vizinho, o grito do parente ou a indiferena
do profssional? Quem ele que, mesmo quando
recluso, calado, absorto, mobiliza famlia, comu-
nidade e trabalho? Ele tem nome? Tem desejos?
cidado?
Na perspectiva da abordagem do sujeito que
ampliamos a percepo da psicose para alm de
um conjunto de sintomas psicopatolgicos, dos
estigmas e medos da populao de uma maneira
geral, inaugurando uma nova forma de atuao
e formao em sade mental a qual prioriza as
relaes vinculares, responsabilizao e quebra
do enquadre teraputico. Propomos, desta forma,
um ambulatrio que verdadeiramente ambula e
se preocupa com este grupo especfco de pacien-
tes e sua relao com o meio em que vive.
Da Ateno Domiciliar...
Em contraposio visita domiciliar, a ateno
domiciliar apresenta-se como uma tecnologia
que prope cuidar integralmente do indivduo,
preocupando-se em ampliar suas redes de apoio,
responsabilizando a famlia e apoiando-a, bus-
cando meios que melhorem a qualidade de vida
do paciente.
Esta tecnologia busca ser sistemtica e cont-
nua. Os encontros com o paciente, a famlia e
a comunidade no pressupem retirar uma in-
formao, mas estabelecer relaes vinculares
com fnalidade de se aproximar e contribuir com
eles, estando disposio e secretariando a re-
lao deste paciente com o meio. Neste aspecto,
podemos ilustrar como um exemplo o holding,
defnio introduzida por Winnicott como sendo
138
tudo que, no ambiente, fornecer a uma pessoa
a experincia de uma continuidade, de uma cons-
tncia tanto fsica quanto psquica (BARRETTO,
1998: 60). Estas atitudes favorecem mecanismos
para que o paciente se movimente, se questione,
se coloque no mundo, estabelecendo uma am-
pliao da troca de poder contratual.
Por se propor a ocupar a funo de um acom-
panhante dentro desta relao, o profssional
acaba transcendendo os protocolos tcnicos exis-
tentes hoje em dia, no que se refere s restries
de acompanhar o paciente somente em situaes
especiais e pr-estabelecidas, como os momentos
de crise. Amplia-se o atendimento, atuando nos
espaos urbanos e rompendo com o enquadre e
a proteo que o setting proporciona. Este tipo de
ateno expe o profssional ao afetamento com
as questes do paciente, permitindo-se tocar com
seus sentimentos.
Haja vista suas caractersticas de funcionamen-
to, a tecnologia da ateno domiciliar se faz ne-
cessria e fundamental no atendimento da sade
mental dentro dos moldes da nova proposta psi-
quitrica.
Das difculdades...
Dentre as difculdades do processo de trabalho,
podemos citar a exposio criada pela quebra do
enquadre teraputico, que pode ser exemplifcada
no somente como exposio de afetos em que
h uma troca com a questo do outro, como tam-
bm nuances fsicas ao se adentrar em um territ-
rio que at ento desconhecido. Podemos ilus-
trar isso com um caso do estgio em que, depois
de algum tempo de acompanhamento, quando
fomos visitar o paciente, encontramo-lo na frente
de casa com um pedao de pau na mo le-
vantado pro alto nos dizendo ningum entra em
casa, s parente e amigo; ou situaes de mane-
jo do vnculo de um paciente que se apaixonou
pela acompanhante.
Outro fator difcultador o da disponibilida-
de, o estar disponvel requer entrega afetiva bem
como temporal. Combinar esses itens nem sem-
pre possvel e vivel, tornando-se umas das dif-
culdades centrais do acompanhamento.
H tambm as difculdades de mbito opera-
cional, como a falta de profssionais capacitados
para lidar com situaes previstas de atuao
neste tipo de ateno, bem como a inexistncia de
formao permanente. Difculdade de um apoio
para este tipo de atendimento foi se estendendo
ao longo dos anos, o que gera uma contratao
defasada de profssionais na rea, tanto pela falta
de incentivo de contratao quanto pela falta de
profssionais capacitados. Juntamente a isso, h a
falta de incentivo educacional, como a no-refor-
mulao dos currculos objetivando formao de
profssionais preparados para as reformas institu-
cionais como a reforma psiquitrica.
Consideraes Finais
Com o advento da Reforma Psiquitrica e a im-
plementao da lei Paulo Delgado, foram preco-
nizados novos princpios para o cuidado em sa-
de mental. A Ateno Domiciliar desenvolvida
139
neste contexto como uma tentativa de resposta ao
novo modelo de atuao que se faz necessrio.
Esta nova tecnologia leva em considerao as-
pectos singulares do indivduo, apostando na re-
lao vincular como base para interveno.
A Ateno Domiciliar busca desenvolver a au-
tonomia do sujeito, oferecendo dispositivos para
sua sociabilidade e formao de vnculos. O pro-
fssional atua como um secretrio, gerenciando as
relaes do paciente, negociando com familiares
e agentes da comunidade, ampliando suas redes
sociais e de apoio, de modo a oferecer-lhe maior
poder contratual na sociedade.
No obstante a relevncia desta tecnologia de
cuidado, existem alguns entraves que precisam
ser superados para fns de sua implementao.
O primeiro deles o preparo dos profssionais.
Existe um descompasso entre a atuao desses
tcnicos e as novas diretrizes para a reforma da
sade mental. O lidar com pessoas em sofrimen-
to psquico, principalmente psicticos, exige uma
tecnologia de cuidado especial que vai alm dos
conhecimentos tcnicos e cientfcos. Corrobora
para esta constatao a observao de pessoas
que, embora desprovidas desses conhecimentos
tcnicos, possuem grande habilidade no manejo
das relaes com este pblico. Um outro obst-
culo a ser superado a burocracia dos servios
pblicos de sade. A implementao desta nova
tecnologia de cuidado encontra difculdades,
uma vez que exige recursos humanos e materiais
freqentemente em falta nesses servios, como
transporte, profssionais etc.
Em contrapartida, iniciativas de insero da
sade mental na Ateno Bsica tm apontado
para direes possveis quanto implementao
da Ateno Domiciliar. Tem-se observado que
muitos agentes comunitrios de sade (ACSs), nos
Programas de Sade da Famlia (PSFs), possuem
grande habilidade no trato com os usurios de
sade mental. Quando capacitados tecnicamen-
te, esses trabalhadores adquirem um preparo, no
qual se combina sensibilidade, vnculo estabele-
cido e saberes tericos e tcnicos. Tal iniciativa
apresenta-se como tentativa de aproveitamento
dos recursos j existentes, mas no resolve o pro-
blema da capacitao de novos profssionais que
encontra na reformulao curricular e na mudan-
a de posturas os seus principais desafos.
Com a proposta da Ateno Domiciliar, vis-
lumbra-se um novo saber em sade mental que
pressupe a socializao dos saberes at ento
restritos s disciplinas. Ainda no h respostas
que atendam a todas as difculdades para a im-
plementao desta tecnologia de cuidado. Portan-
to, fazem-se necessrios maiores estudos e novas
estratgias para formao de recursos humanos
com prticas consoantes aos princpios da Refor-
ma Psiquitrica.
140
Referncias
BARRETTO, Kleber Duarte. tica e Tcnica no acompa-
nhamento teraputico. So Paulo: Unimarco, 1998.
LANCETTI, Antnio. Sade Mental nas entranhas da me-
trpole. In: Sade Loucura, 7. So Paulo: Hucitec
MELMAN, Jonas. Famlia e Doena Mental: repensando
a relao entre profssionais de sade e familiares. So Pau-
lo: Escrituras, 2001.
PICHON-RIVIRE, Enrique. Teoria do Vnculo. So Pau-
lo: Martins Fontes, 1992.
ROSA, Walisete; LABATE, Renata. A contribuio da sa-
de mental para o desenvolvimento do PSF. In:Rev. Bras. En-
ferm., Braslia (DF), vol 56(3): 230-235, maio/jun: 2003
TENRIO, Fernando. A reforma psiqutrica brasileira,
da dcada de 1980 aos dias atuais: histria e conceitos.In:
Histria, Cincias, Sade-Manguinhos-Rio de janeiro, vol
9(1): 25-59, jan-abr, 2002.
141
Resumo: Este artigo enfoca o trabalho em du-
pla realizado durante os atendimentos em domi-
clio, que constituem uma das estratgias do Pro-
grama de Intensicao de Cuidados a Pacientes
Psicticos (PIC). Faz-se uma tentativa de elabora-
o terica sobre este tema por parte das auto-
ras, com subsdio de alguns depoimentos colhidos
junto a estagirios e ex-estagirios do PIC. Cada
paciente atendido pelo programa acompanhado
por uma dupla de estagirios (um de Psicologia e
outro de Terapia Ocupacional), numa freqncia
estabelecida de acordo com a demanda do caso.
O trabalho em dupla visa amenizar as diculda-
des encontradas nesse, em geral, primeiro contato
dos estagirios com a questo da loucura e de seu
manejo clnico. O compartilhamento de angstias,
sofrimentos e questionamentos , sem dvida, um
fator de grande destaque no andamento do est-
gio, na medida em que engendra o surgimento de
questes no s na relao dos estagirios com os
pacientes, como deles entre si e consigo mesmos.
A possibilidade de acompanhar um caso junto
outra pessoa propicia uma observao muito mais
rica e dedigna, em razo de ser feita durante o
prprio acompanhamento, ampliando, assim, as
verses dos acompanhamentos que so apre-
sentadas durante a superviso grupal. Sem falar
na possibilidade de auto-observao a partir do
olhar do outro, fundamental nesse processo de
formao prossional. Desse modo, evidencia-se
que a experincia vivenciada pelos estagirios que
passam pelo PIC no apenas informativa, como
tambm, e essencialmente, formativa.
Introduo
O
Programa de Intensifcao de Cuidados
a Pacientes Psicticos (PIC) efetivado por
diversas formas de trabalho: ateno domiciliar,
encontros teraputicos grupais entre pacientes e
estagirios/ extensionistas, atividades externas,
reunies com cuidadores, atendimentos indivi-
duais, quando necessrio; acompanhamento a
A Formao de Dades no Trato com a Loucura:
Acompanhando o acompanhante
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
Lorena Almeida*
Lygia Freitas**
142
consultas mdicas e psiquitricas, superviso em
grupo semanal, etc.
Neste artigo, ser enfocado o trabalho em du-
pla, realizado durante os atendimentos em domi-
clio. Ser feita uma tentativa de elaborao te-
rica sobre este tema por parte das autoras, com
subsdio de alguns depoimentos colhidos junto a
estagirios e ex-estagirios do PIC.
No Programa de Intensifcao de Cuidados a
Pacientes Psicticos, cada paciente do programa
acompanhado por uma dupla de estagirios,
numa freqncia estabelecida de acordo com a
demanda do caso. H pacientes que so acom-
panhados semanalmente; outros, quinzenalmen-
te e, em algumas situaes, sobretudo quando o
paciente est em crise, as visitas so realizadas
todos os dias.
Inicialmente, quando os estudantes so selecio-
nados para o programa, feita uma breve expla-
nao, por parte dos estagirios que esto saindo
ou mesmo dos que vo permanecer no estgio,
acerca dos casos que compem a clientela do
PIC. Formam-se as duplas, buscando-se, sempre
que possvel, que, em cada uma, haja um estagi-
rio de Psicologia e outro de Terapia Ocupacional,
no sentido de propiciar a troca de experincias
tcnicas e tericas que o trabalho multidisciplinar
possibilita. Alm deste critrio, que o principal,
outro que fundamenta a formao das duplas a
questo da empatia, interesse e/ou identifcao
por cada caso apresentado, alm, logicamente,
da compatibilidade de dias e horrios para a rea-
lizao dos atendimentos domiciliares.
Depois de formadas as dades que acompa-
nharo os pacientes, tem incio a passagem dos
casos, em que cada nova dupla realiza um con-
tato inicial com os mesmos, acompanhada dos
antigos estagirios. Num primeiro momento, con-
vm aos ingressantes no programa uma postura
mais discreta e de observao, no intuito de irem
se familiarizando com a dinmica de cada pa-
ciente e, em contrapartida, serem reconhecidos
como algum de confana, em que eles podem
depositar suas angstias, alegrias e sofrimentos.
Aps esse primeiro contato, os novos respons-
veis pelo caso vo adotando um estilo mais ativo
e participativo, com intervenes sobre o que, na
etapa anterior, eles apenas observaram. Assim,
d-se a despedida dos antigos estagirios, e uma
nova relao vai se estabelecendo. Com a sada
deles, os iniciantes assumem o caso em defnitivo,
tendo respaldo tcnico e terico para suas con-
dutas durante as supervises. O aprimoramento
terico, portanto, vai se dando simultaneamente
ao propriamente dita, que feita junto aos
casos.
2 Por que trabalhar em dupla?
Inicialmente, o trabalho em dupla pode ser
justifcado como uma tentativa de amenizar as
difculdades encontradas nesse, em geral, primei-
ro momento em que os estagirios se defrontam
com a questo da loucura e de seu manejo cl-
nico. Tendo em vista que, geralmente, tanto os
estudantes do curso de Psicologia como os de Te-
rapia Ocupacional s se deparam com essa pro-
blemtica j no fm da graduao, o trabalho em
143
dupla mostra-se um recurso de apoio queles que
esto iniciando na prtica em sade mental que
complementa a superviso.
Assim como os cavaleiros andantes saem
cata de emendar todas as situaes que, porven-
tura, carreguem algum erro ou injustia e exijam
do seu exerccio alguma interveno ou media-
o, tambm os escudeiros os acompanham, a
fm de poderem, igualmente, dar amparo a seus
senhores em ocasies adversas.
Kleber Barretto (2000, p. 59)
Embora, na situao ora focalizada, no se
trate de uma relao hierrquica, mas horizon-
tal entre os estagirios, essa citao de Barretto
explicita bem a nuance de suporte exercida, mu-
tuamente, durante o trabalho em dupla. O com-
partilhamento de angstias, sofrimentos e ques-
tionamentos , sem dvida, um fator de grande
destaque no andamento do estgio, na medida
em que engendra o surgimento de questes no
s na relao dos estagirios com os pacientes,
como deles entre si e consigo mesmos.
Ademais, a possibilidade de discusso e de bus-
ca pela questo dos sujeitos que so acompanha-
dos pelos estagirios, por aquilo que deve nortear
o trabalho feito com eles, propicia a indispensvel
experincia de pensar em voz alta. Esta, por sua
vez, permite um melhor entendimento do caso e
conseqente alcance das estratgias de manejo
clnico mais adequadas a cada um deles.
Segundo Barretto (2000), para exercer a ativi-
dade de apoio (holding) aos pacientes, necess-
rio que o (futuro) profssional tenha vivido e inter-
nalizado essa funo, uma vez que s possvel
dar holding a algum na medida em que j se
tenha experimentado tal vivncia. Na maior par-
te das vezes, o profssional no consegue exercer
essa funo, porque lhe difcil aceitar e compre-
ender que faz algo ao no fazer absolutamente
nada s estar presente. (p. 64)
Desse modo, fca claro que a funo de hol-
ding acaba sendo praticada tanto na relao dos
estagirios com os pacientes (e entorno social dos
mesmos) como na dupla de estagirios entre si.
Em um dos casos que acompanhei, a funo
de holding foi exercida entre os prprios estagi-
rios. O suporte e o apoio psquico to falados
entre estagirio e usurio (ou acompanhante e
acompanhado), neste caso, foram tambm perce-
bidos entre estagirio e estagirio (acompanhante
e acompanhante). Um deu apoio ao outro tanto
na diviso como no revezamento do que precisa-
va ser feito para evitar ou amenizar a sobrecarga
psquica caracterstica do caso.
Ana Cludia Braga (estagiria de Terapia Ocu-
pacional do PIC durante 1 ano)
Cabe salientar que no se trata de uma atitude
exclusivamente ativa, incluindo tambm, em cer-
tos momentos, uma certa passividade, apenas um
estar junto, estar presente.
Tambm digna de nota a importncia da tro-
ca de conhecimentos e experincias que o traba-
lho em duplas formadas por estudantes de Psico-
logia e Terapia Ocupacional possibilita. Esse tipo
de experincia favorece a construo de um saber
terico-prtico comum s duas disciplinas, num
verdadeiro trabalho interdisciplinar.
Em algumas situaes, entretanto, pode-se ob-
144
servar certa difculdade em se atingir esse compar-
tilhamento de saberes, em virtude, muitas vezes,
de alguns estagirios se fecharem dentro das teo-
rias obtidas nos bancos da faculdade, no sendo
fexveis a idias que divirjam, em algum aspecto,
daquilo que acreditam ser teraputico ou mesmo
o mais adequado dada circunstncia.
Vale assinalar que tambm h outras ocasies
em que o trabalho a dois no funciona de modo
satisfatrio, o que sugere que a dinmica entre os
membros de cada dade precisa ser trabalhada,
de modo que se compreendam as diferenas de
estilo individual e mesmo de valores e concep-
es, que podem tanto contribuir como prejudicar
o andamento dos casos. Em diversos perodos, foi
possvel perceber que um dado caso, que no se
desenvolvia satisfatoriamente com determinada
dupla de estagirios, obteve avano signifcativo
quando houve a mudana dos responsveis pelo
caso.
Na primeira experincia em dupla no pude
aproveitar muitos dilogos sobre a experincia
com os pacientes, o que empobreceu um pouco o
trabalho. J nesta
segunda, est sendo timo. Acho que conse-
guimos, em vrias oportunidades,
compartilhar, principalmente antes e depois das
aulas de xadrez e dana,
muitas experincias, interpretar e discut-las. As-
suntos como receios, do
que poderia acontecer conosco e com o pa-
ciente, medos de um surto acontecer,
j que achamos nossa interveno corporal, a
dana, um pouco ousada. Pudemos
suportar uma a outra diante de situaes inusi-
tadas, quando a fora acabou -
as aulas eram puxadas, quando bateu um
branco ou tomamos um susto ou uma
surpresa. Sempre uma das duas encontrou uma
sada. Rimos muito juntas, o que
aliviou a ansiedade em algumas situaes dif-
ceis e dividimos tambm a
responsabilidade.
Vera Hittel (estagiria de Psicologia do PIC du-
rante 1 ano)
Intensicar cuidados em dupla interessante,
na medida em que se torna possvel compartilhar
as experincias vivenciadas com o sujeito acom-
panhado. Compartilhar com um outro (a dupla) o
estranhamento diante da desorganizao do dis-
curso de um paciente foi fundamental para reetir
sobre os desaos de se estar com o sujeito que
possui um sofrimento mental e um arranjo psqui-
co diferenciado.
Tatiana Medeiros (estagiria de Psicologia duran-
te 1 semestre)
3 Consideraes Finais
Diante do exposto, fca claro que o trabalho
em duplas de estagirios, desenvolvido no Pro-
grama de Intensifcao de Cuidados a Pacientes
Psicticos, pode ter tanto aspectos positivos como
obstaculizantes.
A possibilidade de acompanhar um caso junto
145
outra pessoa propicia uma observao muito
mais rica e fdedigna, em razo de ser feita du-
rante o prprio acompanhamento, ampliando,
assim, as verses dos acompanhamentos que
so apresentadas durante a superviso grupal.
Sem falar na possibilidade de auto-observa-
o a partir do olhar do outro, fundamental nesse
processo de formao profssional. Desse modo,
evidencia-se que a experincia vivenciada pelos
estagirios que passam pelo PIC no apenas
informativa, como tambm, e essencialmente, for-
mativa.
Acho que o legal de trabalhar em dupla po-
der contar com um outro que sinaliza para algo
que voc fez de errado, que d suporte, que per-
cebe coisas que voc no v. Intervm quando
faltam palavras, age quando voc est falando
demais. um equilbrio necessrio e produtivo.
rica Coelho (estagiria de Psicologia do PIC,
durante 1 semestre)
Dividir anseios, expectativas, intervenes ade-
quadas e outras frustradas com um parceiro gera
um trabalho muito mais consistente do que se o
acompanhamento dos casos fosse feito de modo
individual. As contribuies obtidas com essa mo-
dalidade de trato da loucura favorecem, sem d-
vida, tanto o mbito do manejo clnico como o da
formao profssional de cada um.
Um parceiro possibilita compartilhar dvidas,
pensar em estratgias, como tambm dividir as
angstias, tristezas e alegrias. Um estmulo ao
cansao e desnimo causado pelo esforo ineren-
te a essa prtica clnica. O parceiro, muitas vezes,
pode constituir um terceiro na relao muitas vezes
dual com o paciente e, assim, diluir a depositao
intensa direcionada ao estagirio. Para mim, a
importncia de um companheiro na caminhada foi
essencial para conseguir planejar, organizar e dar
continuidade nos momentos de angstias e triste-
za e para poder continuar acreditando, enfren-
tando diculdades e obstculos. Como a relao
entre os estagirios bastante intensa, acabamos
por constituir grandes amizades e at alguns de-
safetos.
Mabel Jansen (estagiria de Terapia Ocupacio-
nal do PIC durante 1 ano e extensionista durante
1 semestre)
146
N
as teras tarde, ocorre um momento crucial
do Programa de Intensifcao de Cuidados
- a superviso dos estagirios, que coordenada
por uma dupla de supervisores, com formaes
(psiclogo e terapeuta ocupacional), instituies
(UFBA e FBDC) e estilos diferentes, mas comple-
mentares, que se esforam para criar um espao
ao mesmo tempo acolhedor das mobilizaes dos
estagirios e gerador de uma tenso provocadora
que estimule o compromisso com o aprendizado
e o cuidado intensivo. Essa parceria vem ocorren-
do h quatro anos com uma sintonia crescente;
as diferenas citadas enriquecem o trabalho con-
junto, demarcando que a clinica psicossocial no
pertence a nenhuma categoria profssional, mas
sim queles que se detm em estar constantemen-
te se preparando para trabalhar na rea da sade
mental dentro de uma viso ampliada.
A metodologia foi se consolidando ao longo
da experincia. A superviso dividida em dois
momentos: um de discusso terica, que pode ser
por explanao, leitura e discusso de textos, fl-
mes, e outro de discusso dos casos e da direo
dos atendimentos. Complementando o emba-
samento terico, o Professor Dr. Marcus Vincius
(pesquisador e estudioso da psicose) oferece um
seminrio parte Elementos Tericos para uma
Clnica Psicossocial das Psicoses, como disciplina
de extenso da UFBA.
Trabalhamos com o princpio da autonomia e
do compromisso com os casos. Apesar de termos
alguns acordos de participao (grupo semanal
e visita domiciliar semanal), o tempo, a presena
dos estagirios regulada pela necessidade de
cuidado com os casos. Quando o cuidado in-
sufciente, aparece sob a forma de crise; o descui-
do ou no implicao nos casos so trabalhados
na superviso dentro da clnica, e no somente
como uma questo burocrtica. Vale ressaltar que
os estagirios, de modo geral, nos surpreendem
pela disponibilidade e investimento pessoal e pro-
fssional, indo muito alm do esperado.
Iniciamos com a constituio das duplas inter-
disciplinares de estagirios, que sero a referncia
para cada paciente e responsveis pelo caso. Os
estagirios, tanto de terapia ocupacional quanto
Superviso:
Espao de continncia, aprendizado e reexes
*Supervisora de Terapia Ocupacional do PIC
Eduarda Mota*
147
de psicologia, chegam desprovidos de uma expe-
rincia signifcativa com relao psicose. Acre-
ditamos que o maior aprendizado vem do contato
com o psictico. A orientao inicial de expo-
sio psicose; estar com, escutar, olhar o pa-
ciente de referncia e tudo o que est a sua volta,
ler os registros das estagirias e no atrapalhar
o trabalho da psicose (partindo do pressuposto
que a psicose trabalha em direo de retorno
cultura).
Os primeiros meses so dedicados formao
de vnculo, pois acreditamos que esta a con-
dio necessria para que se d alguma possi-
bilidade real de interveno. Nessa fase, as su-
pervises atuam como um suporte, recebendo e
acolhendo as ansiedades e inseguranas comuns
nos primeiros encontros. Os contatos iniciais dos
estagirios novos so acompanhados pelos que
esto saindo do programa, fase conhecida como
passagem.
Paralelamente, vamos construindo um respal-
do terico, entrelaando as teorias que tecem a
complexa teia da psicose. As temticas tericas
passam pela crtica ao modelo de internao
como forma de tratamento, pela clnica psicos-
social, reforma psiquitrica, estruturas psquicas,
simbiose, acompanhamento teraputico, vnculo,
redes sociais, famlia, grupos, interdio, solido,
entre outras.
Tendo acompanhado at o momento oito gru-
pos de estagirios, percebemos que algumas
questes e situaes so recorrentes a desesta-
bilizao de alguns pacientes no momento da tro-
ca de estagirios; discusso a respeito de quando
devemos concordar quando um paciente recusa
atendimento; o que fazer com o investimento
amoroso do paciente. Apesar das repeties,
no existe regra ou respostas prontas. Cada caso
ouvido e pensado a partir de sua histria, con-
texto e relaes, analisado luz de uma teoria
que contribua para o entendimento da psicose,
seja esta lacaniana, winnicottiana, rosellniana ...
No entanto, o que est por trs das questes tem
quase sempre a ver com a difculdade do psicti-
co na relao com o outro.
Surpreendentemente, no o contato com o
discurso delirante ou a estranheza da experincia
alucinatria, nem mesmo situaes de crises onde
eles so chamados a intervir o que mais mobiliza
os estagirios, mas sim a misria, a fome, a falta
de condio bsica para existncia, a solido, as
difculdades institucionais at mesmo nos servios
atuais de sade mental.
A superviso, segundo os prprios estagirios,
o local de organizar o pensamento e a ao.
Porm muitas vezes temos que desorganizar idias
preconcebidas, cristalizadas a respeito da loucu-
ra, para que possa surgir um posicionamento di-
ferenciado diante do psictico. Na sade mental,
no basta fazer, preciso saber o porqu, para
quem e como fazer. E isso se constri com experi-
ncia, estudo, refexo e delicadeza.
No somente cada caso de paciente que
acompanhamos, e sim cada caso na tica de
cada estagirio que o acompanhou, e isso um
repertrio imenso de aprendizado e refexo para
os supervisores, que tambm aprendem com cada
estagirio e com cada paciente.
Complexidades
Resumo: Este artigo pretende tratar de uma for-
ma de abordagem da crise na psicose luz do cui-
dado integral e intensivo. O sujeito aqui entendi-
do como uma construo histrica, fundamentada
num projeto societal normo-neurtico que exige
autonomia e capacidade de produzir vnculos.
Os sujeitos psicticos dispem de poucos recur-
sos para tal. Sendo assim, a psicose se congura
como um embarao na ordenao da sociedade
moderna, o colapso do modelo ideal de sujeito. A
crise, que emerge quando o sujeito colocado em
questo, representa a tentativa de lidar com o in-
sustentvel, sendo um arranjo providencial que se
tem quando todos os recursos psquicos j foram
utilizados. Por essa perspectiva, o que precisa ser
tratado o sujeito, e no a crise. Nesse sentido,
na proposta de cuidado apresentada, o acompa-
nhamento teraputico, cujo recurso bsico o es-
tabelecimento do vnculo acompanhante-usurio,
uma prtica possibilitadora do manejo da preca-
riedade dos recursos subjetivos e objetivos dos su-
jeitos, uma tentativa de (re) signicao da vida.
N
este artigo, a partir do relato de algumas situ-
aes vividas como estagirias do Programa
de Intensifcao de Cuidados - PIC e de referen-
ciais tericos que embasam esta prtica, preten-
de-se justifcar algumas das abordagens utilizadas
e, assim, estruturar elementos que possibilitem
contestar outras. A experincia com o caso que
aqui ser discutido levantou questes acerca das
formas de abordagem do sujeito em crise. Para
tal, faz-se importante apresentar, brevemente, a
proposta de ao deste programa, visto que, para
ns, constitui-se como uma referncia importante
no cuidado com pacientes psicticos, e mais es-
pecifcamente, no trato com situaes de crise.
O Programa de Intensifcao de Cuidados,
em conformidade com as diretrizes da Reforma
Psiquitrica, tem como principal objetivo promo-
A abordagem da Crise na Psicose
*Estudante de Psicologia (UFBA) e estagiria do PIC
**Terapeuta ocupacional graduada pela FBDC e ex-estagiria do PIC
***Terapeuta ocupacional graduada pela FBDC e ex-estagiria do PIC
Fernanda Blanco Vidal*
Ana Claudia Silva Braga**
Adelly R. Orselli Moraes Sodr***
151
152
ver a qualidade de vida de pessoas com transtor-
no mental, especifcamente a psicose, por meio
do cuidado intensivo e do desenvolvimento das
redes sociais de apoio. Nesse sentido, a ateno
dirigida para os diversos mbitos da vida dos
sujeitos, visando a (re) signifcao subjetiva, o
reconhecimento da alteridade, a construo e o
fortalecimento de vnculos sociais, a incluso -
na cultura, na escola, no trabalho, nos espaos
da cidade, etc. - a responsabilizao da famlia,
comunidade, instituies e outros, no cuidado a
essas pessoas, de modo a produzir a descoberta
de novas possibilidades de vida e, acima de tudo,
a efetivao dos direitos humanos.
A prtica dessa forma de cuidar integral, como
aponta Silva (s/d, a), possvel atravs da noo
de Intensifcao de Cuidados, defnida por ele
como:
Um conjunto de procedimentos teraputicos
e sociais direcionados ao indivduo e/ou ao seu
grupo social mais prximo, visando o fortaleci-
mento dos vnculos e a potencializao das redes
sociais de sua relao, bem como o estabeleci-
mento destas nos casos de desfliao ou forte
precarizao dos vnculos que lhes do sustenta-
o na sociedade (s/d, p.01.
Nessa proposta, a intensifcao de cuida-
dos se efetiva atravs do Acompanhamento Te-
raputico, em que o estabelecimento do vnculo
acompanhante-usurio o recurso bsico por
meio do qual este ltimo pode desenvolver e/ou
(r)estabelecer funes psquicas que na sua hist-
ria de vida fcaram comprometidas (BARRETTO,
1998, p.43).
Nesse sentido, considerando o redireciona-
mento da ateno sade mental e a amplia-
o da oferta de servios, pertinente indagar
de que modo, na atual conjuntura, a crise vem
sendo abordada. Quais so os recursos aciona-
dos? Lana-se mo de mecanismos teraputicos
fexveis que estejam em consonncia com as pro-
postas de uma Clnica Integral ou ainda se repro-
duzem modos de interveno descontextualizados
e segregadores?
Na tentativa de responder a tais questio-
namentos, sero trazidas as vivncias de estgio
documentadas em dirio de campo. Essa experi-
ncia proporcionou o contato direto com o sujeito
e seu cotidiano, por meio do trnsito na sua fa-
mlia, na sua comunidade e nas redes sociais de
suporte com as quais ele possui relao, como,
por exemplo, o CAPS de sua regio.
1 A Crise do Sujeito
Convencionalmente, supe-se que o sujeito
idntico a si mesmo; (...). Ele o centro da iden-
tidade, estvel e inabalvel(...).O sujeito Um:
universal, indivisvel e eterno. O sujeito o sujei-
to e, portanto, cumpre duas funes distintas na
topografa social: universalizao e individuao.
Por um lado, o sujeito uma fgura de univer-
salizao na medida em que o grau-zero da
humanidade (...).Em suma, o re-conhecimento se
transfere- por meio de corpos e faces individuais
(DOEL, 2001, p. 86 e 87)
153
Problematiza-se, nesta primeira parte do arti-
go, a noo de sujeito e, por conseqncia, a
interpretao desta noo como uma produo
terica e poltica datada no projeto social da re-
voluo burguesa e que pressupe a existncia
de seres humanos como seres iguais, universais,
autnomos e racionais.
Simone de Beauvoir, em seu livro O segundo
sexo, foi uma das precursoras na crtica ao su-
jeito, desafando sua presumida universalidade,
neutralidade e unidade, argumentando que, no
mundo social, existem aqueles que ocupam a
posio no especfca, sem marcaes (sexual,
racial, religiosa), universal; e aqueles que so
defnidos, reduzidos e marcados por sua diferen-
a, sempre aprisionados em suas especifcida-
des, designando o Outro.
Essas crticas colocavam em evidncia o fato
de que a noo de sujeito estava marcada por
particularidades que se pretendiam universais e,
na medida em que pretendiam universalizar as es-
pecifcidades do homem branco, heterossexual e
detentor de propriedades e autnomo, este su-
jeito tornava-se uma categoria normativa e opres-
sora, para usarmos a defnio de Judith Butler.
(MARIANO, 2006)
Tomando-se estas importantes problematiza-
es como pontos de partida, preciso perceber
e conceber, alm destas questes colocadas, o
lugar do registro psquico na fundao das so-
ciedades humanas, a fundao simblica do lu-
gar do Eu e do Outro como etapa fundamental
para produo das organizaes sociais. Neste
sentido, as diversas formas de organizao scio-
cultural desenvolvem, nos diversos lugares e mo-
mentos da histria, certos modos de estruturao
e instaurao do Psiquismo.
O sujeito social, tal como conhecemos, no
a-histrico. O que somos, portanto, deve ser to-
mado como uma forma de organizao, um ar-
ranjo particular de certo processo civilizatrio que,
em nosso caso, podemos considerar como parte
do projeto da sociedade moderna ocidental. Em
cada sociedade, produzem-se os modos de for-
matao dos sujeitos e as falhas desse projeto.
Consideramos que o modo de apresentao da
loucura, na experincia da psicose, guarda ntima
relao com a produo humana na sociedade
moderna (SILVA, 2006).
Em nosso projeto civilizador mais atual, datado
de cerca de 300 anos, produzimos um nvel de
individuao muito radical na histria humana.
Mais do que nunca, a habilidade da individua-
o requerida dos sujeitos para viver nesta so-
ciedade. O xito da vida humana nesta socieda-
de medido pela nossa capacidade de produzir
vnculos. Essa sociedade exige dos sujeitos certa
competncia para a autonomia radical. Se a so-
ciedade est posta desta maneira, a relao com
ela fca constrangida para os sujeitos psicticos,
que dispem de poucos recursos para o trato com
as relaes vinculares. Nesta perspectiva, a psico-
se se apresentaria como a expresso dos sujeitos
embaraados com o Outro e com a ordenao
societal moderna (SILVA, 2006).
Alm disto, neste contexto, que pressupe
a regulao social dos atos e comportamentos
a partir de uma certa instncia administrativa e
154
controladora no interior dos sujeitos, que os
psicticos, enquanto sujeitos nos quais tais instn-
cias so precrias, representam uma crise e a de-
sordem deste projeto. sob estas condies que a
sociedade ocidental moderna pode ser vista como
denominaremos aqui: Normo-neurtica. Ela tor-
na o modo de estruturao neurtica no s o
modo universal de produo humana necessria,
mas tambm o modo regulador da existncia em
sociedade. Torna-se, portanto, uma normatizao
dos modos de registro psquicos suportveis no
interior desta organizao social. Os psicticos,
neste processo, so uma crise, a crise dos projetos
de sujeito. So a expresso da crise dos modelos
de sujeito ideal de nossa sociedade.
A partir destas problematizaes e tomando-as
como pressupostos de anlise, comearemos a
exposio da histria de um sujeito em crise e da
crise deste sujeito. Como ser possvel notar, este
um sujeito cuja individuao imposta extrema-
mente radical e torna-se um desafo constante e
complexo, num contexto em que a competncia
para o gerenciamento e a autonomia da vida e
de suas circunstncias se colocam como nica
opo para a sobrevivncia.
O acompanhamento a Joaquim foi realiza-
do em um perodo de dez meses pelas autoras
do presente artigo. Ele faz parte do PIC h trs
anos, sempre sendo atendido semanalmente, por
dois ou trs acompanhantes. Joaquim (35 anos)
portador de esquizofrenia e tem um longo histri-
co de internaes recorrentes desde a adolescn-
cia. considerado um dos mais complexos casos
atendidos pelo programa, por sua precria con-
dio familiar, social e de sade, a qual se conf-
gura como uma extrema situao de desfliao/
excluso social. Na histria dessa famlia, a perda
pode ser considerada uma palavra constitutiva,
visto que, na entrada de sua adolescncia, a me
de Joaquim morre, e o pai abandona os flhos
quase que prpria sorte, deixando apenas uma
pequena casa que hoje disputada entre os ir-
mos. Joaquim e seus cinco irmos foram criados
separados por senhoras da vizinhana e uma av.
Um dos irmos foi morto, no se sabe exatamente
como, mas aparentemente o motivo guarda rela-
o com a histria de loucura que atravessa os
membros dessa famlia. Dos outros quatro irmos
vivos, trs possuem algum tipo de transtorno men-
tal. Conforme informao do usurio e da irm,
ele apresentou a primeira crise, quando foi inter-
nado pela primeira vez, aos dezessete anos.
A situao da famlia de extrema pobreza.
Quase todos tm renda muito baixa e vivem da
ajuda de poucos. Joaquim vive com uma irm no
trreo do prdio deixado pelo pai. Sua condio
social precria. Servios bsicos como forneci-
mento de gua e energia eltrica esto cortados. A
casa um lugar extremamente escuro, onde mor-
cegos, ratos e baratas encontram abrigo. A comi-
da pouca, episdica e no garantida. O pouco
que conseguem vem da doao de terceiros, da
ajuda de alguns vizinhos mais compreensivos e
solidrios e de algum dinheiro que conseguem
catando papelo, ferro velho e lixo reciclvel.
Joaquim mora num bairro de baixa renda,
muito violento, com aes comuns de grupos de
extermnio e com convivncia cotidiana com a
155
morte. O trfco de drogas tambm parte da
rotina, e a convivncia com a vizinhana marca-
da por confitos e desentendimentos constantes. A
relao com os irmos quase uma no relao.
Vivendo seus prprios problemas, ningum se res-
ponsabiliza por apoi-lo, e as poucas interven-
es que fazem so para intern-lo em momentos
mais crticos. Internando-o, no realizam visitas e
reatualizam a histria de abandono da famlia.
Alfabetizado, Joaquim gosta de escrever hist-
rias com contedos diversos. As histrias tm re-
lao com sua vida, com o convvio dirio com
a violncia e com suas esperanas de, por exem-
plo, ser um grande escritor. Faz uso de medicao
controlada e usurio intensivo do CAPS de sua
regio. Devido gravidade de seu caso, Joaquim
tem grande difculdade em gerenciar e tomar as
medicaes nos horrios indicados e todos os
dias, fcando longos perodos sem tom-las.
Outras difculdades somam-se a estas to ob-
jetivas. A difculdade no cuidado com o corpo,
consigo, com a higiene pessoal e alimentao
so algumas de suas peculiaridades. A precria
vinculao com a famlia, com a comunidade e
com o CAPS agrava sua condio. Joaquim est
posto num lugar fora das normas sociais, sendo
repudiado e pouco tolerado pelos que o cercam.
O desamparo, por no achar esse lugar no mun-
do, e a ausncia de estrutura para lidar com essas
situaes - se que se pode lidar com elas - lan-
am Joaquim para um estado de crise. A experi-
ncia da angstia e da destruio de si parte
dos sofrimentos envolvidos neste caso.
2 O Sujeito em Crise
...que eu me organizando posso desorganizar
que eu desorganizando posso me organizar...
(Chico Science)
Durante os vrios meses do atendimento a Jo-
aquim, o trio de acompanhantes pde conhecer
no s sua histria de vida e seus modos de rela-
o, mas tambm perceber os primeiros sinais de
sua crise. Essa foi uma crise longa e muito difcil.
Intensa e bastante angustiante tanto para Joaquim
quanto para as estagirias. Durou cerca de 60 e
poucos dias e oscilou entre momentos de maior e
menor intensidade.
Para o Programa de Intensifcao de Cuida-
dos, a crise deve ser concebida na esfera da falta
de tratamento, como uma expresso do desacom-
panhamento e, em certa medida, de uma srie de
etapas de falta de cuidados que pode comear na
escassez de medicaes no SUS (Sistema nico
de Sade) e ser ratifcado em outras esferas da
vida caracterizadas por abandono e descuidado.
preciso, portanto, tratar o sujeito, no a crise. O
sujeito tem tratamento. A crise um arranjo pro-
videncial que se tem disposio quando todos
os outros recursos psquicos do sujeito j foram
utilizados. A crise ponto de corte. Ela representa
a experincia de inconsistncia subjetiva que se
coloca para o sujeito quando este colocado em
questo.
Nem todo evento externo produz crise, e nem
sempre com um evento objetivo e concreto que
estamos lidando, mas com aqueles que colocam
156
em questo as signifcaes fundantes e consti-
tutivas dos sujeitos, aquelas que, em sua fragili-
dade, do a consistncia do que o sujeito para
o sujeito. Tais signifcaes so pontos de apoio
que o ajudam a SER-NO-MUNDO e, portanto,
ao coloc-las em xeque, produz-se a experincia
de Desmoronamento, a Angstia da Destruio,
do No-Eu, do que no possvel signifcar.
O vnculo um importante sinalizador do
modo de estruturao e desestruturao dos su-
jeitos psicticos. Entendemos que o psictico de-
tecta, registra permanentemente que de nature-
za vinculante a estruturao das relaes sociais.
A alienao deste registro permanente do vnculo
permite aos neurticos a sensao de conforto
diante do outro, o conforto de no se perceber em
relao continuamente. Na psicose, esta questo
vincular se coloca como um elemento problem-
tico em sua experincia com o mundo, j que,
na relao com o Outro, existem poucos recursos
para uma mediao simblica. O Outro como
algo enigmtico e invasivo em certos momentos
(SILVA, 2006).
Outro ponto importante que, diferentemente
dos neurticos, que possuem recursos como os
mecanismos de defesa do ego para mediar sim-
bolicamente suas relaes com o mundo e com o
Outro, a psicose no possui tais recursos dispo-
nveis, ou os tem em precariedade. Na psicose,
o corte, portanto, no real. H a experincia
psquica da morte, do No-Ser, da destruio de
si, quando certas condies insuportveis para o
sujeito colocam em questo sua capacidade de
permanecer como tal (SILVA, 2006).
Para BARRETTO (1998), o homem necessita
intermediar suas experincias afetivas, pulsio-
nais, existenciais - do contrrio estas podem ser
disruptivas, pois o sujeito passa a viver o horror de
no mais sentir uma emoo ou sentimento, mas
transformar-se neles; no mais experimentar um
impulso, mas ser este impulso.
Neste momento da experincia da destruio,
uma possibilidade de lidar com tal sensao tor-
na-se disponvel para o psictico, ele abre a porta
de emergncia e suspende a signifcao, desco-
lando os signos dos signifcado. No delrio, os sig-
nos deslizam sobre os signifcados, e as palavras
se descolam umas das outras (...). A crise o fm
da angstia, a angstia precede a organizao.
Quanto mais desorganizado, menor a experincia
da destruio. Este afastamento de tal sofrimento,
entretanto produz um outro sofrimento: descone-
xo com a cultura, o estranhamento do compar-
tilhado e a perda da conexo de sentido com o
mundo. Diante da experincia da proximidade da
morte, o psictico faz um suicdio simblico (SIL-
VA, 2006).
Tomando estes pressupostos como pontos de
partida de nossas anlises e intervenes, trare-
mos um pouco da nossa leitura da entrada na cri-
se de Joaquim. Sinalizaremos aqui alguns de seus
comportamentos que consideramos indcios desta
entrada e apresentaremos algumas de nossas hi-
pteses, norteadas por estes pressupostos ante-
riores. A seguir, traremos cerca de trs ou quatro
relatos de episdios de nosso atendimento nos
quais a crise era mais intensa e difcil e de como
intervimos em tal situao, a fm de fornecermos
157
certas exemplifcaes que ajudem a compreen-
der um tipo de manejo apropriado, mas no ni-
co, para situaes como esta.
A ocorrncia da crise pode ser conseqncia
de vrios fatores. No caso de Joaquim, supe-se
que tenha ocorrido devido a algumas situaes
insustentveis em que ele mostrou-se inquieto e
desorganizado. Consideramos estes fatores: a sa-
da de estagirias anteriores com as quais tinha
um forte vnculo, o falecimento de um tio prxi-
mo, o aluguel de um ponto comercial que fca em
sua casa pela irm cujo valor tambm tem direito
a receber - e no recebe - e os recorrentes desen-
tendimentos com esta, alm da irregularidade no
uso da medicao.
O riso imotivado, delrios freqentes, compor-
tamento libidinoso e agressivo foram os sintomas
apresentados de forma mais acentuada no per-
odo anterior e durante a crise. Vrias situaes
desconfortantes decorriam deste momento, e o
contato com Joaquim precisava ser cauteloso,
preciso e cuidadoso. Ele recusava aproximao
de qualquer pessoa nos momentos em que no
estava bem, sendo nossa permanncia junto a ele
sempre algo cauteloso e cuidadoso, de tal ma-
neira que, aos poucos, ele conseguia retomar o
contato conosco. A fala desorganizada, assuntos
ntimos como homossexualidade e orgias, convi-
tes a prticas sexuais com as acompanhantes, de-
lrios sempre voltados morte e destruio, tanto
de si e dos outros, alm de agresses fsicas se
tornaram freqentes nesse perodo de 60 dias.
Joaquim passou por sofrimentos intensos, e este
sofrimento interferiu tambm nas estagirias.
Nas primeiras visitas em que a crise foi eviden-
ciada, fomos casa de Joaquim, que estava mui-
to agitado e agressivo. Ele gritava bastante, dizia
no querer nos ver e entrava e saia de casa diver-
sas vezes. Ficamos muito ansiosas com a agres-
sividade at ento no vivida. Conversamos um
pouco, tentando compreender as motivaes de
seu comportamento to diferente. Relembramos
a questo do enquadre trazida por Thiago - an-
tigo acompanhante de Joaquim - que o levava
para passear sempre que, chegando a sua casa,
percebia-o inquieto e violento. Este local parece
ter grande efeito sobre Joaquim, e foi importante
a percepo deste elemento para nossa interven-
o.
Joaquim repetia os gritos e tentativas de nos
agredir - importante ressaltar que eram sempre
tentativas, nunca chegando a realizar o ato. Con-
vidamo-lo a sair de sua casa para irmos a uma
praa l perto. Ele estava muito apreensivo e se
comportava como se todos ao seu redor o esti-
vessem olhando ou o invadindo. Sentamos em
torno dele, fazendo uma espcie de proteo que
o acalmava. Falvamos que estvamos com ele,
que nada deixaramos ocorrer e que as pessoas
no o iriam machucar. Aos poucos, ele se acal-
mou e comeou a nos presentear. Interagiu conos-
co de forma mais tranqila e alegre, contando-
nos de nossa importncia em sua vida. Cantamos
algumas canes, e o clima fcou menos hostil e
invasor. Imaginvamos o tipo de experincia que
ele devia estar vivendo e como o ambiente e as
pessoas (os Outros), em seu estado de crise, co-
locavam-se mais ameaadores e devastadores do
158
que efetivamente eram. Tentamos, neste sentido,
dialogar com a angstia que vivia, criar uma situ-
ao mais favorvel, alterando o enquadre do lo-
cal e produzindo certo nvel de proteo corporal
a partir de nossa proximidade com ele.
A elaborao de um discurso sobre morte se
fazia cada vez maior. Joaquim comeou a falar do
desejo de matar um vizinho, misturado a um del-
rio de este ter tentado estuprar as antigas estagi-
rias que o acompanhavam. Ele detalhou, a cada
visita, o desejo de matar diferentes pessoas, e ns,
sempre que podamos, pontuvamos, levemente,
que tal ato no resolveria seus problemas e que o
levaria para um lugar pior, coisa que no quer-
amos. Em certa etapa de elaborao das mortes
de pessoas com quem convivia, Joaquim pensava
em matar sua irm - fonte de muitos confitos no
dia a dia. Visita aps visita, ele trazia dados mais
reais de sua inteno, primeiramente, dizendo
que havia conseguido uma arma com um amigo
bicho-solto chamado Bartolomeu; depois, que
faltavam as munies, e por fm, que estava perto
de conseguir as balas com algum. Este ponto
importante, por nos ter trazido muitas angstias e
ser o discurso mais organizado e aparentemen-
te mais real. Nossa agonia aumentava junto com
nossa preocupao e, buscando o amparo do
CAPS, pouco conseguamos evoluir na melhora
do quadro. No dia 14 de agosto, quando vamos
realizar uma nova visita, somos surpreendidas
por um momento mpar e complexo de sua crise.
Traremos aqui trechos de nosso dirio de campo
para contar sobre este momento e sobre nossa
interveno.
Chegamos s 9:15h na casa de Joaquim e
batemos na porta, como sempre, chamando-o.
Ouvimos uma leve gritaria, quando, de repente,
Maria (sua irm) abriu a porta e comeou a gritar
conosco, dizendo que devamos lev-lo ao hos-
pcio, pois ele estava maluco (...). Ento Joaquim
aparece com uma madeira enorme na mo e ten-
ta bater com bastante fora na cabea de Maria
que escapa e empurrada por ele para fora da
casa. Imediatamente, e movidas pelo susto, sa-
mos da frente da casa. Ele continua empurrando a
irm, que se senta em casa mesmo, numa cadeira
na pequena salinha, e comea a rezar. Ele sai da
casa transtornado e comea a nos procurar com
os olhos, entrando em casa em seguida. Ficamos
distantes um tempo, por acharmos perigoso en-
trar em contato com ele portando um pedao de
madeira na mo.
Este tempo em que permanecemos afastadas
foi utilizado para nos acalmarmos e pensarmos
em como agir numa situao como aquela, visto
que nunca havamos nos deparado com algo as-
sim. Sabamos que Joaquim no tomava as me-
dicaes regularmente, e, em momentos de crise,
esta difculdade se agravava. Discutimos um pou-
co, nos acalmamos umas as outras e resolvemos
lev-lo emergncia do Hospital Mrio Leal para
que tomasse uma medicao e pudesse descan-
sar um tempo e se reorganizar minimamente.
Ficamos num local em que podamos ver a
casa, mas de onde no ramos vistas. Decidimos
ligar para o SAMU para lev-lo ao hospital. O
SAMU nos informou que precisvamos de um fa-
miliar ou comprovante de residncia. No havia
159
unidade disponvel no momento. Neste intervalo
comeamos a perceber certa movimentao na
comunidade de pessoas com paus e pedaos de
ferro em punho - cerca de cinco pessoas. No
tnhamos certeza se tinha relao com Joaquim,
mas, diante da tentativa de machucar a irm - vi-
svel para todos - e dos confitos comuns na co-
munidade, achamos que poderia ter relao com
ele. Ligamos para a superviso, buscando orien-
tao sobre como agir em relao comunida-
de. Nos orientaram a conversar com as pessoas
que estavam armadas e a colaborar com o SAMU
quando este chegasse.(...)
Esperamos o SAMU por cerca de 20 a 30
minutos, tempo utilizado para conversarmos so-
bre o que faramos, como falaramos com ele e
como agiramos em caso de violncia contra ns.
Era mais difcil lidar com nossas fantasias do que
acreditar que tudo daria certo. Pensvamos que a
situao fcaria impossvel de ser controlada, que
a comunidade comearia a agredi-lo e tambm a
ns. Com a agresso da comunidade, ele fcaria
mais desorganizado e violento e no agentara-
mos a presso do confito. Produzamos fantasias
to destrutivas quanto as sensaes que Joaquim
devia viver. Pensvamos em ir embora, j que
uma situao de violncia nos colocaria em risco,
e no deveramos ir to longe. Com esta racio-
nalizao, conseguamos nos sentir mais calmas,
mas mais irresponsveis tambm. Pensvamos na
importncia de nossa permanncia e auxlio num
momento como aquele e que, como responsveis
pelo caso, no devamos deix-lo entregue pr-
pria sorte como acontecia tantas vezes. Despedi-
mo-nos de nossas fantasias decididas a fazer o
que deveria ser feito e no o que, no fundo, mais
gostaramos de fazer. Lembramos alguns elemen-
tos tericos importantes, como a importncia da
delicadeza para abord-lo e a experincia de in-
vaso e destruio a que ele deveria estar subme-
tido.
Aps certo tempo, as pessoas se dispersa-
ram, e o SAMU chegou. Fomos ao seu encontro
para combinar a estratgia. Combinamos com o
SAMU que, caso o paciente no aceitasse ou esti-
vesse agressivo, a policia no seria chamada. Ao
chegarmos casa, chamamos Joaquim, e Maria
abriu a porta com a bblia na mo e com um
amigo de sua igreja que estava dentro da casa
rezando. Joaquim sai, ainda transtornado, e fala
que ir conosco, mas apenas se for internado,
porque no agentar chegar l e retornar para
casa novamente. Se isso ocorrer, prefere se jogar
pela janela do SAMU e acabar com isso. Tenta-
mos acalm-lo, e o escutamos. Ele continua di-
zendo seguidamente que precisa ser internado e
que no vai conosco se for para tomar medicao
e voltar. Falamos que vamos com o SAMU, e l
conversaremos tudo com a mdica. Ele vai buscar
sua mochila, e fcamos fora, conversando com os
atendentes do SAMU que no devemos falar de
injeo, pois ele no fcou bem quando usou a
injeo e est recusando bastante este procedi-
mento. Ele retorna, falando que o Diabo est em
sua casa, e, num momento breve, sai da casa e
fala oh meu Deus porque esse Armagedon no
vem logo e acaba com tudo. H um pequeno
confito entre ele e Maria , mas negociamos com
160
ele que pegue a mochila para irmos logo, pois
precisava de cuidados. Maria se recusa a ir com
ele ou entregar qualquer documento. Ela pouco
fala conosco. Ele retorna, e falamos que vamos
com ele. Joaquim fala que sabe que s se interna
com familiar e que ns no poderemos intern-lo
e que, portanto, no vai. Falamos que ele deve
ir para tomar a medicao, e decidimos tudo l
(...). Enfm, entramos na ambulncia e vamos.
Diferentemente de tudo que imaginvamos,
Joaquim aceitou de imediato nossa ajuda e no
tentou nos atacar ou agredir. Como possvel no-
tar em algumas falas dele, como a destruio do
armagedon e algumas relacionadas existncia
de um diabo em sua casa, Joaquim vivia um mo-
mento de enorme desespero misturado a um de-
sejo da destruio, de trmino da angstia, do fm
daquele mortfero sofrimento que estava vivendo
e que no conseguia mediar simbolicamente, vi-
vendo como uma experincia que o tomava em
absoluto. Como Barretto afrma, o sofrimento
de no viver um sentimento de angstia, mas tor-
nar-se a Angstia. Tentvamos dialogar e mediar
o que imaginvamos estar vivendo, no nos refe-
rindo aos temas dos delrios, mas sim dialogando
com as experincias que vivia e com as quais bus-
cvamos nos relacionar.
Joaquim est com alguns plsticos enrolados
no p, dizendo que foi um corte ocorrido na noite
anterior por uma briga com o vizinho, que jogou
uma garrafa em seu p, ocasionando um corte
profundo. Na ambulncia, ele fala que queria
matar seu irmo Pedro Srgio. Ana pede que re-
pita, porque no escuta bem, e ele grita com ela e
diz que no mexa com ele ou lhe dar um murro.
Ana se cala, e ele continua o relato. Fala de uma
violncia bastante confusa, ora em relao a ele
ora dele em relao aos outros. Pergunta a Fer-
nanda se Maria pegou a arma que conseguiu e
guardou embaixo da cama numa caixa de sapato
e diz que pegar a munio logo. Ela responde
que no sabe, mas que ele no deve ter arma, pois
isso trar problemas e no resolver o que quer,
que devemos agora cuidar dele e depois resolve-
mos outros problemas. Ele faz variadas perguntas.
Pergunta sobre a arma. Pergunta sobre a interna-
o. Num dado momento, fala: Fernanda, sabe
que eu t com vontade de me matar aqui agora.
Pedimos que se tranqilize, que estamos ali com
ele e que tudo fcar bem. Ele sacode a cabea
positivamente. Pergunta se fcar com essa lou-
cura para sempre. Fala que tem ouvido vozes e
visto vises. Diz que quer ver o pai para tentar
conseguir o carto da Coelba para se internar no
Bom Viver. Que pode fcar l seis meses at me-
lhorar um pouco e organizar a cabea. Tentamos
acalm-lo e falamos que vai melhorar e que tudo
fcar bem. Falamos que preciso cuidar do corte
no p e dele para que no fque pior. Ele conta
sobre seus livros, diz ter terminado dois. Falamos
que compramos um caderno e que traremos na
prxima visita. Ele se alegra, mas retorna para os
outros temas.
Sobretudo no momento de crise, quando para
todos difcil lidar com o sem sentido produzido
pelo sujeito, preciso manter-se e suportar estar
com este em sua estranheza, em sua bizarrice, de
modo que possibilite certa posio de alteridade
161
diferente das alteridades comuns que o cercam
e que se relacionam com sua estranheza como
se fosse apenas isso. Acreditamos que tudo que
est desorganizado busca se reorganizar. No mo-
mento da crise, o sujeito faz um grande esforo
para se reorganizar. preciso, no acompanha-
mento destes momentos, estar atentos angstia,
dialogando com esta e buscando uma reconexo
do sujeito com o mundo e com a possibilidade de
compartilhamento (SILVA, 2006).
Chegamos ao Mrio Leal e entramos na emer-
gncia. Ele s quer fcar e ser atendido se for ser
internado, saindo algumas vezes do local e dizen-
do que estvamos armando para ele. s vezes ri
sozinho. Fala sobre o corte, conta novamente a
situao (...). Falamos que cuidaremos disso tam-
bm. Ele continua falando da arma para matar
Maria e que teme que ela a encontre e entregue
no mdulo. Diz que conseguiu com um bicho
solto ali de perto e s falta a munio. Falamos
que no deve matar ningum e que deve cuidar
de si e que os problemas tentaremos resolver de
outra maneira. Ele fala que tudo que est ocor-
rendo com ele culpa das antigas estagirias que
o tiraram do Hospital. O tiraram e o deixaram
s. Pontuamos que estvamos ali com ele (...). Li-
gamos para a superviso por acharmos que ele
fcaria em observao um tempo e que podera-
mos aproveitar para ir comunidade e conversar
com Maria. A superviso nos orienta a esperar ele
tomar a medicao, acalmar-se e deix-lo falar
com a mdica.
Ficamos todo o tempo a seu lado e respon-
dendo pontualmente a suas falas. No falva-
mos muito nem com frases extensas, visto que tal
ao no tinha nenhuma efccia, sendo inclusive
pouco adequada para momentos crticos como
aquele. Dialogvamos apenas com os pontos que
nos articulavam com ele, no sentido da experin-
cia que vivia e do cuidado que buscvamos ter,
lembrando-lhe sempre que precisava ser cuidado
e que estvamos ali para realizar este cuidado.
Sabamos que no estava bem e estvamos com
ele no que precisasse.
Aps certo tempo, entramos na sala, e ele diz
mdica que quer se internar e que no tomar
injeo. Ela fala que injeo seria melhor e que,
como ele se internava sempre, estava acostuma-
do com este procedimento. Ele fca agressivo e
sai da emergncia em direo rua. Vamos atrs
dele, alguns funcionrios o chamam, e ele retor-
na. Fala que no quer injeo e que quer ser in-
ternado. Ela fala que passar outra medicao
e que deve tranqilizar-se. Ele fca olhando para
a enfermeira que prepara a medicao para ver
se ser injeo e fca muito inquieto e agressivo.
A mdica sai e chama os seguranas, que fcam
com ela do lado de fora da sala. Ele fala que no
tomar Haldol em gotas porque lhe faz mal, e
ela retruca, dizendo que ou toma isso ou injeo.
Ele fala conosco que devemos impedir, e falamos
que deve tomar o remdio para melhorar e que
fque calmo, porque a dosagem menor e no
lhe far mal. Ele levanta, grita e se inquieta, mas
depois toma a medicao. Ficamos com Joaquim
na sala o tempo todo. Aps tomar medicao, a
mdica faz a receita e diz que est liberado. Ele
162
quer falar com ela, que lhe diz que s poder
fazer mais uma pergunta e sair. Ele pergunta se
ainda h vagas para se internar, ela diz que no.
Explica-lhe que os manicmios foram fechados.
O paciente pega a receita, e vamos buscar sua
medicao.
Diante do quadro apresentado na emergncia,
acreditvamos que deveria permanecer um tem-
po deitado at o efeito da medicao acalm-lo.
Entretanto, para aqueles que o atendiam, era pre-
ciso apenas receitar e pedir-lhe que se retirasse.
Em nenhum momento a mdica dialoga com suas
inquietaes e por vezes usa de sua posio para
questionar e interpelar o sujeito em sua exigncia
por no tomar injetvel. Sair da sala correndo e
chamar seguranas foi o nico procedimento en-
contrado pela equipe, que o tratava como se fos-
se um perigo para todos. Claro que suas atitudes
nos assustavam, mas sabamos do enorme deses-
pero que vivia e de como a posio invasiva dos
mdicos, por vezes exigindo que tomasse a inje-
o, s agravavam o quadro. Permanecemos na
sala todo o tempo, mediando o desejo da equipe
de livrar-se dele com o remdio mais efcaz e a
experincia de invaso do outro e do ambiente
vivido por Joaquim.
Vamos farmcia buscar suas medicaes (...)
Explicamos como deve tom-las. Ele pergunta
constantemente se a mdica mentiu, porque no
queria intern-lo ou se no tem mais vaga mesmo.
Falamos que no tem mais vaga. De tempos em
tempos, ele retoma a pergunta. Explicamos como
tomar a medicao e dizemos que deve tom-la
para fcar bem. Falamos que entendemos que,
quando fala de internao, o que quer mesmo
so cuidados e um tempo distante dos problemas,
mas que no deve se preocupar, porque o aju-
daremos a lidar com os problemas e cuidaremos
dele l fora. Ele quer voltar para casa. Falamos
que seria melhor que voltasse ao CAPS, para al-
moar e fcar l tarde at melhorar. Ele prefere
voltar para casa. Pergunta que horas so, para
esperar e ir para o grupo no Mrio Leal . Falamos
que eram 11 horas e que talvez fosse melhor des-
cansar e ir ao CAPS perto de sua casa, por conta
da distncia (achamos ele ainda muito agressivo
e agoniado para retornar andando para o grupo).
Vamos com ele pegar o nibus para voltar para
casa. O retorno no nibus difcil para Joaquim.
Quando vamos entrar no nibus, ele pega com
fora o brao de Ana e diz para no subirmos,
que no tem dinheiro e depois pagar (...). Fa-
lamos que deve se acalmar e que vamos pagar
sua passagem. Ele quer ir a p, e falamos que a
p no podemos. Uma de ns senta a seu lado
e a outra em sua frente fazendo uma espcie de
muralha que o protege do contato com outros.
(...) O caminho longo, e Joaquim varia entre a
agressividade e a normalidade. Achamos que,
pelo tempo e pelo horrio, deve estar com fome,
ento lhe oferecemos uma barra de cereal. Che-
gamos a sua casa s 12:15. Ele quer que entre-
mos, mas achamos melhor no. Nos despedimos
e falamos para tomar medicao e descansar.
Tentamos, durante esta longa interveno,
abord-lo de uma forma tranqila e delicada,
mediando as circunstncias to difceis para ele
e para os outros. No momento da crise, preciso
163
cuidar do tom. Ser delicado na presena e no uso
sutil e leve das palavras. Num momento de crise, a
experincia de invaso e destruio de si, para os
sujeitos, demasiado grande para que atuemos
de forma comum. preciso mediar o insuportvel
para o sujeito. Acalmar o em torno para que seu
momento seja possvel. Saber esperar e saber in-
tervir, dialogando com a angstia, e no com as
frases em si. Dialogar com a comunidade em que
vive tambm uma etapa importante. Acalmar
a famlia, acreditando que o sujeito ir melhorar.
Tentar mediar a presso que vem de fora, as fa-
las e atos que se dirigem aos sujeitos, de modo
a evitar as interpelaes radicais que o atingem
de forma invasiva e destrutiva. A desorganizao
do sujeito tem lgica. preciso conhecer sua his-
tria, perceber o que lhe ameaador, hostil e
destrutivo. O sujeito faz uma interpretao desta
hostilidade e ameaa, derivando da a importn-
cia de se mediar as situaes enquanto este busca
se reestruturar.
Da tcnica do Acompanhamento Teraputico,
baseada nas teorias de Winnicott, utilizamos, ao
longo desta interveno, o conceito de Holding
como uma funo importante no manejo da crise.
O Holding dado pelos aspectos invariantes do
meio ambiente que tanto podem ser objetos con-
cretos de um lugar, quanto a disponibilidade de
outra pessoa estar junto de ns, atenta s nossas
necessidade ao longo do tempo (...). No Acom-
panhamento Teraputico, em muitos momentos,
essa funo HOLD exerce papel marcante. So
momentos em que simplesmente estamos ali, jun-
tos (...) o fato de estarmos ali, nossa presena, j
signifca bastante (...) o valor dessa experincia
no se d somente por haver um corpo junto (...)
mas por ser um corpo habitado, um corpo atento,
um corpo que carrega a histria do prprio vncu-
lo(...) a experincia integradora porque o sujeito
est sendo acompanhado por um corpo simbli-
co e no apenas matria fsica. Um outro capaz
de testemunhar e compartilhar as experincias do
acompanhado. A estabilidade e a constncia nas
atitudes do terapeuta tambm exerciam uma fun-
o de Holding (BARRETTO, 1998 p. 64)
Durante os dias que se seguiram a essa se-
mana, intensifcamos as visitas e os cuidados,
investindo naquilo que consideramos ser parte
da expresso da crise: o descuidado. A vivncia
nessas situaes novas e angustiantes interpelou-
nos psiquicamente, afetando inclusive o vnculo
que estava sendo construdo, visto que Joaquim
passava a ser temido. O apoio buscado junto ao
CAPS foi insufciente e precrio, demonstrando a
difculdade na equipe em lidar com o caso. Foi
preciso aprender a lidar com este modo de estar
e produzir uma presena suave, sem interpela-
es bruscas nem julgamentos, para restabelecer
e fortalecer o vnculo com ele, produzindo a ex-
perincia para Joaquim de um suporte psquico
necessrio em momentos como este.
Os dias seguintes foram repeties deste rela-
tado anteriormente. Aps uma semana, sem ter-
minar a crise, Joaquim tem um primeiro momento
de maior tranqilidade e reelaborao dos mo-
mentos vividos. Traremos aqui este dia pela rique-
za de aprendizados que ele apresenta. Em outros
momentos, ao longo dos 60 dias da crise, tivemos
164
dias de maior complexidade na abordagem e dias
de melhoria no quadro. Essas melhoras, entretan-
to, no permaneciam por muito tempo, visto que
a nica intensifcao de cuidados que o paciente
vivia era advinda de nossos encontros.
As difculdades com a irm permaneciam, os
confitos com esta e com a comunidade tambm.
Realizamos algumas visitas aos vizinhos, tentan-
do explicar o momento que vivia e a importncia
em saber respeitar este momento, mas o cansao
visvel da comunidade era claro e a lembrana
da difculdade em lidar com Joaquim era sempre
convocada como justifcativa dos comportamen-
tos. O tratamento no CAPS no era particulariza-
do e ampliado neste momento. O gerenciamento
da medicao continuava difcil. A vida continu-
ava a mesma, com pouca comida, pouco abrigo
e nenhum cuidado. A esperana era menor, para
ele e para ns, e, por tudo isto, a crise no ces-
sava mesmo quando havia momentos de signif-
cativa melhora. O dia que se segue exemplo de
muitas aprendizagens compartilhadas, de trocas e
de demonstraes de que o cuidado humano tem
efeito na vida e nas crises de usurios como este,
mas que sozinho e sem uma rede social real que
signifque apoio e suporte, torna-se insufciente e
limitado. Vejamos alguns trechos dos relatos da
semana seguinte:
Chegamos s 9:30h e conversamos antes de
adentrar ao CAPS e encontrarmos Joaquim. Con-
versamos sobre a melhor estratgia e sobre como
estvamos compreendendo os acontecimentos.
Consideramos que a ausncia de Mabel e Lygia,
antigas estagirias que o atendiam, estava sen-
do trazida junto com o tema da internao, pela
sensao que tem destes momentos e por consi-
derarmos que est vivendo momentos difceis em
sua relao familiar e comunitria. Consideramos
que a difculdade de lidar com tais circunstncias,
bem como o no uso das medicaes e a ausn-
cia no tratamento no CAPS tm contribudo na
sua desorganizao e crise. O discurso sobre a
morte de Maria vem sendo mais e mais elabora-
do, deixando-nos preocupadas com a veracidade
dos dados: primeiro sinalizou que seria uma boa
idia, depois que teria conseguido a arma com
Bartolomeu, fuzileiro Naval que seu amigo e
bicho-solto, faltando apenas a munio, e, em
seguida, que est tentando arranjar a grana para
comprar a munio. No conseguimos delimitar
bem o que seria delrio e o que seria real, e, por-
tanto, tememos que a arma pudesse existir, j que
a idia da morte da irm vinha ocorrendo h trs
semanas (...) Na ultima reunio do CAPS, eles nos
informaram que sua concluso sobre o caso era
de que Joaquim deveria ser internado e que deve-
ramos parar de nos arriscar tanto, demonstrando
assim a limitao da equipe e da instituio para
lidar com momentos e pacientes como este.
Nossa esperana estava diminuda, e as op-
es de trabalho no caso tornaram-se poucas.
Vivemos o que, possivelmente, vivia Joaquim: a
impossibilidade de encontrar meios para sobre-
viver e suportar a vida. Ele tentava, de maneiras
variadas e divergentes, lidar com sua difcil condi-
o. A destruio de si e dos outros que o cercam
parecia-lhe uma possibilidade sempre disponvel.
Ele no lidava, ou lidava pouco, por meio de es-
165
tratgias simblicas tais como a tentativa de com-
preender ou conversar sobre estas questes que o
angustiavam. Os confitos freqentes, a vida difcil
ou as perdas que acabara de viver no encontra-
vam mecanismos relativizadores e simblicos para
que pudessem ser elaboradas. Diante do quadro
colocado, a autodestruio ou a destruio total
da situao e dos outros por meio da morte, do
assassinato ou de um Armagedon foram uma
sada.
Encontramos Joaquim no CAPS s 10:00h
conforme havamos combinado. Ele estava com
aparncia abatida e inicialmente parecia forte-
mente dopado. O segurana, que inmeras vezes
nos ajuda a conversar com Joaquim, reclama que
ele tem dormido muito e participado pouco das
atividades. Comeamos a conversar com o pa-
ciente, que nos mostra seu brao engessado - te-
ria brigado na rua e quebrado o brao (...). Aps
certo tempo, notamos que no estava com o p
enfaixado ou com plstico cobrindo como antes,
quando teriam lhe jogado uma garrafa e cortado
seu p. Olhamos discretamente, e no havia ne-
nhum corte. Parte da enorme confuso dos dias
anteriores comeava a ser dissipada. Aps um
tempo conosco, comea a conversar animado.
Num dado momento, pergunta sobre o passe-li-
vre e os benefcios . Falamos que estamos pegan-
do o documento que atesta sua condio junto
ao CAPS, para comearmos a tirar sua documen-
tao. Ele nos mostra alguns documentos, como
um relatrio de sua doena que, aparentemente,
recebeu quando tentou internao com seu irmo
semanas atrs. Aps certo tempo, mostrou-nos
uma carteirinha que estava em sua carteira dentre
os documentos. Era uma carteira de papelo que
ele mesmo havia feito onde estava escrito Passe-
Livre de Joaquim Souza Silva e tinha duas fotos
de revistas de homens do exrcito. Ele nos diz que
um deles Bartolomeu, seu amigo fuzileiro que
serviu com ele no quartel e teria lhe dado arma.
Perguntamos, bastante surpresas, se era ele mes-
mo, e ele confrma novamente.
Este foi, sem dvida, um momento muito mgi-
co para ns, ver o desejo de tirar seu passe-livre
num documento de papelo feito por ele mesmo
e descobrir, de forma to simples, que tudo que
nos estava deixando ansiosas e amedrontadas era
parte de um delrio. Por no ser to irreal a pos-
sibilidade de conseguir a arma e por este delrio
aparentar um discurso normal, linear, lgico e
bem elaborado, estvamos, por que no dizer,
delirando junto com ele e fantasiando todas as
formas de tentarmos resolver algo que, at ento,
nos parecia real e iminente. Quando Joaquim nos
mostrou parte de sua realidade num recorte de
revista, passamos a notar que no era mais to
compartilhada a possibilidade da existncia da
arma. Foi balsmico e mgico este momento, e
todas ns fcamos muito alegres e nos sentindo
pegas pelo delrio - como algum que nos pre-
ga uma pea e, no fnal, tudo se dissipa.
Fernanda entregou-lhe o caderno que havia
comprado conforme tinha prometido (...) Ele en-
to buscou um de seus cadernos-livro e comeou
a mostrar algumas histrias. Algumas que fala-
vam de uso de drogas e prticas sexuais que teria
participado numa heavy foram vetadas por ele.
166
Depois de um tempo, mostrou-nos um pequeno
trecho em seu caderno que falava algo parecido
com isto: e naquela noite de insnia e gritos, de-
mnios e neblina, fez-se a guerra, muita guerra e
neblina e no meio da Neblina chegou Fernanda
e as Estagirias trazendo a felicidade. Pergun-
tamos a ele sobre o que era esse trecho, e nos
disse que era sobre aquele dia que chegamos a
sua casa, e Maria teria tentado bater com um pau
em sua cabea, o derrubando no cho onde ele
teria batido a cabea. Diz ter sado de casa, cor-
rendo pela rua armado, quando chegou a polcia
(viatura) e o liberou aps a apresentao de seu
documento do exercito. Perguntamos se este foi
um momento de neblina. Fala que sim. Comenta
sobre como difcil viver com Maria. Fala que sua
irm sempre mexia com ele, eles brigam h muito
tempo, pois ela que tinha epilepsia e fcava cha-
mando ele de maluco. Diz ento ter se desfeito
da arma, pois Bartolomeu teria dito que poderia
machucar algum.
Deste trecho, duas questes nos chamam aten-
o. A primeira diz respeito primeira possibilida-
de, depois de alguns dias, de viver e signifcar o
vivido a partir dos pequenos trechos de textos de
seus cadernos. Aps o dia de crise aguda, no qual
investiu contra a irm e estava bastante desorga-
nizado e delirante, Joaquim consegue mediar e
reviver simbolicamente o que houve e demonstrar,
por meio da escrita, a importncia de nossa pre-
sena para dissipar a neblina e terminar com a
guerra. Outro ponto importante perceber, a par-
tir do que nos conta sobre os fatos do dia da crise,
como, para Joaquim, a percepo e vivncia do
eu e do outro neste dia era imprecisa, confusa e
fundida. Para ele, Maria teria lhe batido, ele teria
cado e batido com a cabea, e no o contrrio,
como ocorreu. Como vimos em discusses iniciais
deste artigo, a produo da separao simblica
do eu e do outro na psicose ocorre de forma pre-
cria e imprecisa, de tal forma que, em momentos
de menor organizao, este processo de viver a
relao com outro pode ser apreendida como se
o outro fosse um invasor, hostil, destruidor, que o
toma de seu lugar no prprio corpo.
Continuando a leitura de seu caderno, Jo-
aquim escreve sobre sua fama como escritor e
como esta fama estava sendo conseguida graas
a nossa ajuda na busca pela Editora abril, mais
importante editora do Brasil, nas palavras dele,
que lanaria seu livro. Esse trecho tem formato de
uma nota de jornal e fala dele e de outros gran-
des escritores como Saramago e Paulo Coelho.
Aps vermos esta nota, ele retorna ao tema das
mortes e do desejo de matar algumas pessoas, e
novamente falamos que no deveria fazer isso.
Dialogamos com ele, dizendo que, como escritor,
no deve fazer isso, porque nunca vimos escri-
tores famosos matando ningum, e isso no era
bom para a histria e futura carreira dele. Joa-
quim sorri, fca pensativo e fala que verdade,
que matar no coisa de escritores.
O desejo de tornar-se escritor enorme para
Joaquim. Ao tentarmos esta interveno, relacio-
nando seu desejo de ser um outro algum com o
desejo de cometer um ato que o afastaria deste
sonho, o toca de uma forma diferente de outros
momentos em que pontuvamos que no deveria
167
resolver seus problemas dessa forma. Desde en-
to, de tempos em tempos, quando h um retorno
para este tema com muita intensidade, relembra-
mos o seu sonho e a importncia de persistirmos
para que sua vida mude e torne-se melhor e mais
possvel para ele.
Aps um tempo, comea a nos presentear. Deu
um presente para cada uma de ns. Comentou
que sua madrinha havia lhe dado aquelas coisas
para ele dar a sua namorada, mas, como no
tinha uma, quis dar o presente pra gente, pois
somos suas amigas. Fernanda ganha uma capa
de celular, Ana ganha uma for e uma bandeira
do Brasil para pr na mesa e Adelly, uma bolsa
e um Papai Noel. Fala que quer nos presentear,
porque ajudamos muito ele. Ana pergunta se ele
tem certeza que quer nos dar, j que sua tia tinha
dado para dar a namorada. Ele fala que sim, que
sabe que somos apenas suas amigas. Ele retoma
o tema de manter relaes sexuais com as acom-
panhantes, e, quando novamente falamos que
no estamos l para isso, ele, diferente de mo-
mentos anteriores, diz que est brincando conos-
co e que resolver isso num brega. Aproveita-
mos o assunto para falarmos sobre a importncia
da higiene pessoal para arrumar uma namorada.
A importncia de estar limpo, ter as unhas cor-
tadas e os dentes escovados para abraar e bei-
jar algum. Ele concordou. Diz para Adelly que
ela lembra sua me, e ento ela fala que deve
ser pelo cuidado que tem com ele e que por isso
acaba se lembrando dela. Ela sorri, e continua-
mos papeando at termos de ir. Antes, ele nos
pede para escutarmos uma msica, e depois nos
despedimos alegres por esta nova etapa que se
iniciava.
... a gente espera do mundo e o mundo es-
pera de ns... um pouco mais de pacincia...
(Lenine)
Referncias
BARRETTO, K. D. tica e Tcnica no Acompanhamen-
to Teraputico: andanas com D. Quixote e Sancho Pana.
So Paulo, UNIMARCO, 1998.
BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Trad. Sergio
Milliet. v.1, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
BRASIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno
Sade. Departamento de Aes
Programticas Estratgicas. Sade mental no SUS: os
centros de ateno psicossocial. Braslia: Ministrio da Sa-
de, 2004.
BRASLIA. Secretaria Executiva, Secretaria de Ateno
Sade. Legislao em Sade Mental. Braslia: Ministrio da
Sade, 2004.
CAMPOS, Gasto Wagner de S. & NICCIO, Fernanda.
Instituies de portas abertas: novas relaes usurios-
equipes-contextos na ateno em sade mental de base
comunitria/territorial. Rev. Ter. Ocup. Univ. So Paulo, So
Paulo, 16, n.1, p.40-46, jan./abr.,2005.
CASTRO, Helenice. Da urgncia psiquitrica urgncia
do sujeito. Seminrio: Dispositivos de tratamento em sade
mental na rede pblica construindo um projeto, CERSAM.
s/d.
CHICO SCIENCE & NAO ZUMBI. Da lama ao caos.
CD: Da Lama ao Caos, 1994.
DOEL, Marcus. Corpos sem rgos: esquizoanlise e
desconstruo. In T. T. Silva (Org.), Nunca fomos humanos:
nos rastros do sujeito. Belo Horizonte: Autntica, 2001,
p.76-110.
LENINE. Pacincia. CD: Na Presso, 1999.
LOBOSQUE, Ana Marta. Princpios para uma clnica
antimanicomial. In: Princpios para uma clnica antimanico-
mial e outros escritos. Hucitec, s/d.
MARIANO, Silvana Aparecida. O sujeito do feminismo
e o ps-estruturalismo. Universidade Estadual de Londrina.
2006 Revista Estudos Feministas
SILVA, Marcus. Vincius O. Deslocamentos no campo
das teraputicas: tica e poltica. Texto apresentado no N-
cleo de Estudos pela Superao dos Manicmios NESM.
Salvador: BA, (s/d, b).
SILVA, Marcus. Vincius O. A clnica integral das psico-
ses: o paradigma psicossocial como uma exigncia da clni-
ca psicossocial. (s/d, a).
SILVA, Marcus. Vincius O. Programa de Intensifcao
de Cuidados PIC. Supervises de Estagio para os cursos
de Psicologia / UFBA e Terapia Ocupacional / EBMSP, Sal-
vador, 2006 (mimeo).
VIDAL, Fernanda B., BRAGA, Ana Claudia S. & SODR,
Adelly R.O.M. Dirio de Campo do Programa de Intensif-
cao de Cuidados. 2006 (mimeo).
168
169
A raposa calou-se e observou por muito tempo o
pequeno prncipe:
- Por favor... cativa-me! disse ela.
- Eu at gostaria disse o principezinho -, mas
no tenho muito tempo. (...)
- A gente s conhece bem as coisas que cativou
disse a raposa. Os homens no tm mais tem-
po de conhecer coisa alguma. Cativa-me! (...)
- Que preciso fazer? perguntou o pequeno
prncipe.
- preciso ser paciente respondeu a raposa.
Tu te sentars primeiro um pouco longe de mim,
assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho
e tu no dirs nada. A linguagem uma fonte de
mal entendidos. Mas, cada dia, te sentars um
pouco mais perto...
Antoine de Saint-Exupry em
O Pequeno Prnipe
Dana e xadrez:
O papel da intensicao de cuidados no fortalecimento da autonomia de
Felipe
Resumo: O presente artigo constitui-se num
relato sobre o direcionamento clnico adotado
com um usurio do Programa de Intensicao de
Cuidados a Pacientes Psicticos do Hospital Espe-
cializado Mrio Leal, com vistas ao fortalecimen-
to da autonomia. Este paciente acompanhado
pelo programa h trs anos e por ns h apro-
ximadamente seis meses, por meio de visitas do-
miciliares semanais. Um ponto central para o de-
senvolvimento adotado neste caso foi o fato de a
intensicao de cuidados ser realizada em dupla.
Isso permitiu que pudssemos tomar conscincia,
discutir e elaborar as questes em ns suscitadas
pelo paciente e pelos direcionamentos que consi-
deramos mais adequados.
O
presente artigo constitui-se num relato so-
bre o direcionamento clnico adotado com
um dos usurios do Programa de Intensifcao
de Cuidados a Pacientes Psicticos no Hospital
Especializado Mrio Leal (PIC), com vistas ao for-
talecimento da autonomia. Compreendemos que
a autonomia constitui eixo central na relao do
*Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
**Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
Luane Neves*
Vera Rittel**
170
sujeito consigo e com o mundo externo e adota-
mos a conceituao explicitada no Novo Dicio-
nrio Aurlio da Lngua Portuguesa, pelo qual a
autonomia defnida como a 1. Faculdade de
se governar por si mesmo. (...) 3. Liberdade ou
independncia moral ou intelectual. (...) 5. Pro-
priedade pela qual o homem pretende poder es-
colher as leis que regem a sua conduta. Desta-
ca-se ainda que o PIC, ao contrrio do modelo
tradicional de ateno sade mental - baseado
no princpio normatizador psiquitrico - considera
a extrema vulnerabilidade vincular do paciente e
por isso atua na intensifcao de cuidados focan-
do no desenvolvimento e fortalecimento do sujeito
e das redes sociais do mesmo, aumentando desta
forma sua qualidade de vida. Sendo assim, o PIC
funda-se na clnica psicossocial, que ao invs de
centrar sua ateno na pessoa doente, considera
a existncia-sofrimento dos pacientes e sua re-
lao com o espao social (Nascimento, 2005,
p. 34).
Este paciente acompanhado por ns h apro-
ximadamente seis meses. Vera o conheceu quan-
do ele fez uma apresentao de dana numa fes-
ta de confraternizao do estgio e depois o viu
apenas uma vez no grupo dos pacientes, quando
ele estava se queixando de dor de cabea e per-
cebeu seu jeito gentil e muito calmo. J Luane o
conheceu a partir das passagens, momento em
que feita a transio de estagirios. A dana
um processo marcante na vida de Felipe e acre-
ditamos ter sido signifcativo Vera o conhecer em
uma de suas apresentaes, pois fortaleceu diante
de ns a expresso dele como um sujeito psquico
multifacetado, em que a posio de danarino se
sobressaiu de doente mental.
Aps algumas visitas da passagem, comea-
mos a juntar mais as peas do quebra-cabea de
sua biografa, inicialmente atravs de conversas e
depois quando ele tirou alguns lbuns de fotogra-
fas do ba para nos mostrar, o que ressuscitou
muitas memrias, principalmente sobre a poca
em que ele trabalhava como danarino de dan-
a de salo. Felipe foi adotado quando criana,
numa famlia de oito irmos. Sua me biolgica
ainda est viva e mora na regio litornea acerca
de 30 km de Salvador. O paciente mantm um
contato espordico com ela e atualmente reside
com sua famlia adotiva, numa casa de classe
mdia baixa com dois cmodos e um pequeno
quintal, onde a me cria aves.
H quatro anos, ele teve a primeira crise psi-
ctica com internao por 26 dias. A partir de
ento, toma medicao com antipsicticos e j
foi internado outra vez. Nessas ocasies, o pron-
turio mdico destaca que o comportamento de
Felipe era muito agressivo. Entretanto, sua forma
de nos receber, sempre solcita e afetuosa, nos
fez questionar onde foi parar sua raiva e agres-
sividade. Posteriormente, percebemos que essas
nuances de sua personalidade se apresentam no
delrio e nos momentos de crise. Considerando
a perspectiva psicanaltica de que o homem se
constri a partir das relaes que desenvolve com
o ambiente, interessante refetir sobre o tipo de
ambiente a que ele estava exposto no perodo
de internao. Alm disso, destaca-se tambm a
condio psicolgica precria da famlia para li-
171
dar com os desconfortos que uma crise psictica
produz.
Embora conste que sua crise foi paranica, a
famlia sempre se refere sua doena como sen-
do depresso, destacando que, nesses momen-
tos, ele fcava em casa, sem vontade para fazer
nada. Felipe era danarino profssional (com for-
mao em ballet), tendo feito cursos e algumas
apresentaes na regio sudeste. Aparentemente,
foi o surgimento da doena mental, aliado a seus
desdobramentos, que interromperam sua carrei-
ra profssional. Apesar do relato de que, a partir
da crise, Felipe passou a no sair muito de casa
devido a este suposto estado depressivo, nos mo-
mentos em que ele nos acompanha at o carro,
no trmino da visita, podemos observar que, na
vizinhana, tem muitos conhecidos com os quais
ele conversa. Alm disso, sua casa bastante
movimentada, o que inicialmente no nos leva a
pensar num quadro de isolamento social.
Visto que ele no se apresenta muito disponvel
para realizar sadas de casa conosco, as primei-
ras visitas a Felipe (perodo de transio de esta-
girias) seguiam sempre um mesmo padro: ns
chegvamos e fcvamos na sala com ele e seu
pai, sempre com a televiso ligada. O dilogo
entre ns circunscrevia-se a questes do cotidia-
no, em geral, desenvolvidos a partir de comen-
trios sobre programas televisivos. Vale ressaltar
que Felipe mantinha rotinas bem estabelecidas
em relao ao decorrer da visita: sempre nos re-
cebia com alegria, sorriso no rosto, fcvamos na
sala quase sempre nas mesmas posies e, no fm
das visitas, ele nos acompanhava atenciosamente
at o carro. Alm disso, ele no se apresentou
disponvel para trocar o dia e horrio das visitas,
proposta feita por ns em um dos primeiros en-
contros.
Neste sentido, ganha relevo a constante apre-
sentao de Felipe como uma pessoa gentil e
solcita, aparentemente com pouca demanda de
cuidado. Destaca-se ainda que a necessidade de
se apresentar socialmente conforme o suposto
desejo do outro pode denotar pouca autonomia.
Segundo Tatossian (2006), a atitude de alegria
constante no signifca que a pessoa realmente
esteja alegre, podendo refetir uma inautenticida-
de no somente das expresses afetivas, mas dos
sentimentos mesmos; o que pode se traduzir em
alguns sintomas psiquitricos.
Compreendemos que essa atitude, apesar de
reforada socialmente, nem sempre positiva
para o desenvolvimento psquico de Felipe, pois
pode cristaliz-lo no papel de buscar sempre
sentir e atender as necessidades externas. Teori-
camente, essa questo tambm abordada por
Keleman (1992) que, ao analisar a estrutura do
sujeito, a partir de sua postura corporal emocio-
nal, observou traos de imaturidade em pessoas
que apresentam estruturas corporais inchadas
(possvel caso de Felipe, segundo nossa percep-
o). De acordo com o referido autor, essas pes-
soas preocupam-se em ser aquilo que os outros
querem que ela seja. Almeida (2006, p. 89) com-
plementa tal questo, ressaltando que o psicti-
co goza de ser, ser o falo que completa o Outro,
o que equivale a dizer que o gozo est localizado
no Outro.
172
Notamos, ento, a necessidade de desenvolver
outras atividades que favorecessem a Felipe apre-
sentar suas necessidades e desejos. Neste sentido,
Barretto (1998) afrma que - para ser interlocutor
dos desejos e angstias do paciente - o terapeu-
ta no deve se limitar a interpretaes, mas sim
agir como pessoa real, por exemplo, num simples
bate papo. Outro ponto importante era estabele-
cer uma maior aproximao da famlia, para per-
ceber como Felipe inseria-se neste contexto. Para
tanto, demonstramos interesse por aquilo que sua
me gostava: a criao de galinhas e codornas e
algumas pequenas plantaes no quintal, o que
propiciou alguns momentos de dilogo. Somen-
te a partir da, fomos convidados a entrar mais
no interior da casa. Destaca-se, entretanto, que
a aproximao com a me de Felipe fcou estag-
nada na compra de ovos de codorna, que se tor-
naram quase sempre semanais. Percebemo-nos,
depois, neste sentido, submetidas tanto quanto
Felipe fora do desejo de sua me.
Atentas para o surgimento de alguma neces-
sidade apresentada pelo paciente, ele nos reve-
lou que sempre quis aprender xadrez, aps Vera
lhe contar uma histria, a Novela de Xadrez, de
Stefan Zweig, em que um preso poltico se defen-
de de enlouquecer durante a tortura atravs da
prtica do jogo de xadrez na imaginao. Combi-
namos com ele, ento, uma troca: ns lhe ensina-
ramos xadrez e ele nos ensinaria dana de salo;
forma por ns encontrada de incentiv-lo a voltar
para sua antiga ocupao (a dana) e re-experi-
mentar como se sente na posio de bailarino e
professor. Essa tambm foi uma forma de valo-
rizar o saber do paciente e propiciar um espao
em que ele pde atuar como sujeito no mundo.
Considerando a noo de complementaridade
ou reciprocidade exposta por Fumagalli (1995)
em concordncia com a teoria de Pichon-Rivire
- pela qual a constituio de um papel implica a
instituio do papel contrrio - colocamo-nos no
lugar de alunas para propiciar um espao em que
ele pudesse assumir a posio de professor. Alm
disso, sentimos que as aulas de dana fortalece-
ram o vnculo entre ns, o respeito no estar junto,
a alegria espontnea e a criatividade de Felipe
ao planejar as aulas. Ressalta-se ainda que, no
caso dele, a escolha pelas aulas de dana ocor-
reu por, aparentemente, constituir-se no elo capaz
de fortalecer mais sua rede social, engajando-o
na cultura; uma vez que ele demonstrava interesse
pela atividade e j possua uma histria vinculada
mesma.
Felipe aceitou prontamente a troca, e, a partir
da, comeou dinamicamente a conduzir o plane-
jamento de nossos encontros, alterando em dife-
rentes momentos sua postura, da passividade para
a atividade e autonomia. Ele guiava a ordem das
atividades nas visitas: primeiro a aula de xadrez,
depois a aula de dana e, entre elas, assistir um
flme sobre dana. Isso foi marcante, pois Felipe
anteriormente apresentava certa indefnio sobre
as coisas, por mais simples que fossem. E, a par-
tir deste processo, ele comeou a se posicionar
mais, expondo com antecedncia o que queria
fazer nas nossas visitas futuras.
A partir das visitas em que jogamos xadrez,
173
alm de perceber sua iniciativa de organizao,
observamos tambm uma delimitao maior de
seu espao atravs de palavras frmes em diver-
sos momentos: a exemplo de quando uma amiga
bem prxima de sua famlia quis que Luane fcas-
se com ela conversando, enquanto ele precisava
dela para api-lo na partida de xadrez que joga-
va com Vera, e ele no permitiu. No jogo, obser-
vamos que Felipe aprendeu com rapidez o signif-
cado de cada pea, bem como seus movimentos
especfcos e, aps certa hesitao, pde tambm
mostrar iniciativa e enfrentamento, matando as
fguras do adversrio para tentar ganhar.
Um outro ponto que surgiu a partir desse semes-
tre foram as constantes desmarcaes em nosso
horrio de visita, fxado em dia e hora especfcos,
por escolha do prprio paciente. Teve alguns mo-
mentos em que no sabamos como interpretar
essas desmarcaes no dia da visita, mas, atravs
de sua voz alegre ao telefone, confamos em suas
explicaes sobre sadas inadiveis para anivers-
rios e festas acompanhando sua antiga professora
de dana e percebemos que ele tambm passou
a organizar, de certa forma, a freqncia de seus
encontros conosco. Alm disso, compreendemos
que o processo de mudanas em curso mobilizou
o paciente de diversas maneiras, e seguindo um
dos princpios da clnica psicossocial, de tensionar
e destensionar as questes, decidimos respeitar o
seu espao.
Refetindo posteriormente, percebemos tam-
bm um outro ponto signifcativo neste contexto:
as desmarcaes de Felipe, em geral, referiam-se
s visitas marcadas para assistir flmes ou para as
aulas de dana. Alm disso, ele desmarcou duas
visitas posteriores s aulas de dana. Acrescenta-
se a isso que, no fnal do semestre, Felipe nos re-
latou que vinha repensando se seu desejo e seus
planos continuariam a incluir a dana e que sen-
tia recorrer televiso como uma fuga, utilizando
esse recurso s vezes na tentativa de entender o
que acontecia com ele. Podemos perceber, assim,
que Felipe desenvolveu conosco um projeto
(termo utilizado por ele) que buscava novas ex-
perimentaes e que foi permeado tambm por
refexes sobre o direcionamento que dar sua
vida, a partir das vivncias anteriores.
Quanto s aulas de dana, o resultado foi
surpreendente. Na primeira visita que ele mar-
cou para este fm, chegamos sua casa e en-
contramos um ambiente novo: ele j tinha esva-
ziado a pequena sala, elaborado um roteiro de
aula bem estruturado, posicionado o pai numa
cadeira atrs da cortina que separa a cozinha da
sala e desligado a TV; reconfgurando o espao
para sua necessidade naquele momento. Pode-
mos considerar, a partir das contribuies tericas
de Winnicott, retomadas por Safra (2006), que
a atitude de Felipe modifcando o ambiente se-
gundo suas necessidades pode ser compreendida
como um placement, que produziu novas tenses
no ambiente, alm de proporcionar a revivncia
de memrias. Quanto ao roteiro elaborado por
ele, as aulas iniciavam e terminavam com alon-
gamento, perpassando cerca de quatro estilos de
dana de salo e, no fm ele nos trazia pipoca
e suco para um relaxamento; destacando que o
lanche foi feito por ele para ns. Esse momento
174
fnal foi especialmente importante, por propiciar
um espao em que ele pde reviver algumas de
suas lembranas da poca de danarino profs-
sional e elabor-las junto a ns.
Durante as aulas, Felipe demonstrou bastan-
te profssionalismo e pacincia, feedback dado a
ele por ns tambm. Podemos compreender essa
vivncia junto ao paciente como uma experincia
esttica e de satisfao. Segundo Safra (2005),
nestes momentos, tanto o paciente quanto os
terapeutas experienciam vivncias de encanto,
de alegria ou de beleza. Winnicott (1967, apud
Safra, 2005) acrescenta que, nestas ocasies, o
refexo especular fornecido pelo outro abre a pos-
sibilidade do paciente encontrar a si mesmo e, ao
mesmo tempo, ao outro.
Uma grande questo trazida nos relatos das
estagirias anteriores sobre Felipe e tambm per-
cebido por ns nas primeiras visitas era que ele
costumava fazer muitos planos, mas apresentava
pouca iniciativa para realiz-los. Neste sentido, as
aulas de dana funcionaram como oportunidade
de reviver, na prtica, essa posio antes ocupa-
da com orgulho, de ser um professor de dana.
Alm disso, atravs de nossas difculdades nas au-
las, pudemos lhe demonstrar como expressar e
lidar com vulnerabilidades, erros, vergonhas e vi-
venciamos algumas sadas possveis. Rimos muito
nesses momentos. Considerando as intervenes
e a convivncia com a famlia, no caso de Feli-
pe, retomamos as teorizaes de Barretto (1998)
ao esclarecer que, atravs do trabalho em nvel
dramtico-vivencial, o paciente aprende modos
diferentes de atuar e reagir frente s vicissitudes
da vida cotidiana. De maneira semelhante, acon-
teceu com o jogo de xadrez, em que a necessida-
de de avanar frente aos campos desconhecidos
(campo do outro) constituiu-se em ato, ao invs
de somente palavras. O autor supracitado acres-
centa ainda que o jogo de xadrez pode ser utiliza-
do tambm como espelho da vida.
Durante as aulas de dana, percebemos mais
vitalidade e graciosidade em seu corpo, resgatan-
do um pouco da fexibilidade e auto-regulao
(Lowen, 1982), o que se refetiu, posteriormente,
em algumas intervenes na famlia e em suas
aes e reaes. Segundo Piti e Santos (2005),
possvel inferir que a conscincia do limite cor-
poral proporcionada pelo toque constante, na
dana de salo, pde ajudar Felipe a delimitar
seu espao dentro da famlia, fato observado na
prtica. Alm disso, os referidos autores destacam
que o trabalho corporal proporciona mudanas
de pensamento e atitudes, ao facilitar uma maior
integrao mente-corpo; podendo ter como con-
seqncia uma diminuio da ansiedade. Por
tudo isso, notamos que a inter-relao entre ofe-
recermos as aulas de xadrez para Felipe e ele nos
ofertar as aulas de dana permitiram uma alter-
nncia na posio de saberes (aquele que doa e
aquele que recebe) e podemos perceber, ento, o
fortalecimento da autonomia de Felipe.
Em nossas visitas regulares, fornecemos hol-
ding processo pelo qual uma pessoa se dispo-
nibiliza para outra, utilizando da presena do seu
corpo simblico e habitado de forma constante,
tanto fsica quanto psquica, com vistas a oferecer
sustentao. Para tanto, so necessrios tranqi-
175
lidade e um referencial terico bem integrado, no
caso de terapeutas (Barretto, 1998). No decorrer
do trabalho, sentimos que Felipe desenvolveu uma
maior confana no vnculo conosco e segurana
para, em ato, planejar seu futuro, conduzindo-se,
agora, no somente em idias, mas tambm em
aes: decidiu se matricular novamente no 3o ano
do Ensino Mdio e, por isso, foi at a escola sa-
ber informaes sobre a matrcula para o prximo
ano. Interessante que, nesta visita, ele passou um
bom tempo falando, animadamente, sobre a es-
cola que visitou e suas idias para o prximo ano:
combinou com sua antiga professora de dana
de receber aulas pela manh, ministr-las com
ela pela tarde e estudar noite. A partir desses
fatos, inferimos que sua falta de reatividade rela-
tada pelas estagirias anteriores diminuiu. Desta-
ca-se, tambm, que ele j consegue demonstrar
para ns, de modo mais claro, seus sofrimentos e
mgoas.
Notamos, contudo, que para a efetividade na
execuo dos planos desenvolvidos por Felipe
para sua prpria vida, sero necessrias muitas
mudanas, as quais incluem desde um novo po-
sicionamento do paciente diante da vida at uma
reformulao na viso da famlia sobre suas po-
tencialidades de se autogerir a partir das crises
psicticas; visto que o cuidado pode tambm se
revestir em controle. Na tentativa de compreender
e lidar melhor com o fenmeno da psicose, al-
guns de seus familiares explicam o surgimento da
doena mental em decorrncia da mente traba-
lhar muito rpido e do excesso de atividades. Esta
viso equivocada comum a alguns familiares de
usurios de sade mental, sendo inclusive difun-
dida anteriormente pela psiquiatria.
Devido a tais concepes, um de seus familia-
res preocupa-se em delimitar o horrio de Felipe
voltar para casa, quando este sai, por exemplo.
Ele destaca que Felipe tem de voltar a fazer as
coisas devagar e ter um tempo para descansar
a cabea (sic). De fato, o processo de mudan-
a de Felipe deve ser gradual para que ele possa
adaptar-se s mudanas de maneira saudvel,
contudo, o ritmo e o desejo dessa readaptao
s podem ser determinados pelo prprio pacien-
te, e no pelo ambiente externo. Considerando
o surgimento de seu desejo de mudana, Felipe
avanou ao verbalizar que se percebe cristaliza-
do e segregado na funo de doente mental e
o quanto isto doloroso; fazendo-o sentir-se in-
compreendido. Neste sentido, compreendemos
ter sido muito importante para o paciente poder
constituir junto conosco um espao de escuta, em
que suas experincias puderam ser compartilha-
das, simbolizadas e elaboradas; fenmeno expos-
to por Barretto (2005) como continncia.
Em um de nossos ltimos encontros em 2006,
Felipe, pela primeira vez desde o seu ingresso
no programa, falou para ns de si e de maneira
bastante mobilizada. Neste encontro, o ambiente
estava diferente, alm das pessoas estarem deslo-
cadas de suas posies habituais. Felipe parecia
sentir-se oprimido e sufocado. Comeou dizen-
do que no queria mais ser acompanhado pelo
programa e que no queria estagirias novas,
pois estava bem e existiam outros pacientes que
precisavam mais de tratamento do que ele. Ele
176
retomou que entrou no programa por que quis
e agora queria sair, pois no queria lembrar das
coisas que j passou. Sentimos que, por trs des-
sa fala de querer sair do programa, havia outras
coisas que ele precisava externalizar, mas no sa-
bia como. Por isso, perguntamos-lhe o que estava
sentindo e o porqu desse desejo de deixar de
participar do PIC, sinalizando que era importante
para ns ouvir o que ele tinha a dizer.
Foi ento que Felipe comeou a falar vrias
coisas, dizendo que iria abrir o jogo. Comeou di-
zendo que ningum sabe o que ele passou quan-
do internado e que ele iria morrer sem aceitar o
que aconteceu com ele. Relatou que no gosta
nem de passar pelo Mrio Leal para no recor-
dar isso e que no queria mais ser acompanhado,
pois no queria mais este rtulo de doente men-
tal. Retomou sua mgoa, dizendo que sua famlia
no soube apoi-lo e, ao invs de dar as mos
para juntos caminharem, o internou mais de uma
vez. Esse momento foi muito rico, pois o fato de
poder ter nos contado o que sentia quando foi
internado, traduzindo a experincia numa lingua-
gem, signifcou certa elaborao/simbolizao
por parte do paciente e, conseqentemente, de-
senvolvimento psquico. Ele destacou no querer
mais acordar e somente arrumar a casa, que ele
quer mais. Valorizamos muito seu desejo de mu-
dar, destacando que ele tem muitos potenciais.
Discutimos bastante sobre o estigma da doen-
a, temtica trazida tambm em visitas anterio-
res, e sobre o desconforto que esse sentimento de
ser taxado de maluco produz, destacando que
preciso aprender a lidar com esses desconfor-
tos para no se paralisar diante do preconceito
do outro. Neste sentido, Goffman (1982) postula
que, diante do estigma, expresses emocionais
mais fortes ou atitudes menores (a exemplo de
uma briga na famlia) podem ser interpretados
de forma errnea, associando tais processos aos
atributos diferenciais estigmatizados, neste caso,
a patologia mental. Enquanto isso, nas pessoas
consideradas normais, no se interpreta tais acon-
tecimentos como expresso sintomtica. Compre-
endemos tambm que, na postura diferenciada
do terapeuta, possvel aliviar os impactos que
a viso estigmatizante produz. Segundo Barretto
(1998), estar junto como pessoa real e no ape-
nas como profssional ajuda a evitar um lugar
excessivamente institucionalizado, embora exija
bastante discriminao, capacidade de anlise e
refexo.
Refetindo sobre as mudanas vivenciadas e
aquelas que Felipe deseja empreender, reforamos
que tudo isso s foi possvel por ele estar aberto
e que a prpria idia do xadrez partiu dele. Neste
momento, ele nos disse que tem se questionado
sobre o que quer de fato, inclusive repensando
a dana em sua vida. Vera falou um pouco de
como as mudanas, de modo geral, nos afetam
e afetam os outros ao nosso redor, relatando sua
experincia ao sair da Alemanha para o Brasil, o
que implicou no afastamento de sua tradio fa-
miliar, e as difculdades de sua famlia em aceitar
as diversas quebras de padres. Felipe concordou,
e sentimos que ele se identifcou com isso, repre-
sentando, de algum modo, o que tambm sente,
diante de todas as diferenas que vivencia com a
177
sua famlia. Para Barretto (1998), nestas ocasies,
o terapeuta age como pessoa real, inserido numa
cultura em que elaborou suas experincias.
Referindo-se ao desejo de sair do programa,
por no querer mais se ver como doente mental,
Felipe relatou que no est tomando a medica-
o psiquitrica h cerca de cinco meses e no
est sentindo nada. Foi muito importante estar-
mos atentas a esse caso, pensando clinicamente
sobre o mesmo, para no cairmos na cilada de
priorizar os remdios ao invs do sujeito, pois,
neste sentido, perderamos toda chance de dialo-
gar com a experincia que ele estava vivenciando,
que era justamente a de no se posicionar como
doente. Destaca-se, neste sentido, a importncia
de estabelecer junto ao paciente um lugar que
sustenta ser depositrio de suas angstias (Rivi-
re, 2000). Discutimos que a medicao, o pro-
grama, a psicoterapia, dentre outras coisas, so
possibilidades, as quais ele pode ter acesso para
sentir-se bem e que poderia articular-se diante de-
las de diversas maneiras. Ele acrescentou que no
queria mais se consultar com os mdicos, enfm,
rejeitou essa rotina que o faz sentir-se cristalizado
na posio de doente, ao invs de um sujeito com
potencialidades.
Destacamos para Felipe a necessidade de rea-
lizar um processo de mudana gradual e que res-
peite o seu ritmo interno, para no sentir o peso
de uma transio brusca; mas, na realidade, essa
mudana j vem ocorrendo h muito tempo den-
tro dele e agora eclodiu. Ele falou, tambm, da
noo de projeto que nossos encontros tiveram
e aproveitamos para falar que estvamos dispo-
nveis para desenvolver novos projetos com ele,
assim como as novas estagirias, segundo suas
necessidades. Felipe demonstrou bastante impli-
cao no processo, centrando nele a responsabi-
lidade de mudar: falou da necessidade de perder
peso, que somos os nossos maiores psiclogos e
que ele precisava lutar contra si mesmo, para se
controlar.
Barretto (1998) destaca que, uma vez estabe-
lecida a confana, o paciente pode apresentar
algo de sua realidade psquica, sendo que, ao
compartilhar a angstia com o outro, esta se torna
suportvel e humanizada. A experincia de inves-
tir confana em Felipe e acreditar que ele pode
ser capaz de dar conta de sua liberao dentro
e fora da famlia, respeitando seu desejo de fcar
sem contato conosco durante o perodo de festas
de fnal de ano e nas situaes em que as visitas
foram desmarcadas, nos trouxe muitas inseguran-
as. Contudo estamos conscientes de que, para
chegar a um certo grau de autonomia, neces-
srio passar por desafos. Outro aspecto central
observado na situao do desabafo que esta
proporcionou a oportunidade de Felipe direcionar
certas questes tambm para a famlia, e isso, de
algum modo, mobilizou a todos: fosse na maior
movimentao de seu pai na cadeira, na sada de
seu irmo de casa ou nas panelas que sua me
deixou cair.
Ao fnal desta visita, fomos nos despedir da
me de Felipe, e ela j havia separado os ovos de
codorna para levarmos. Como combinado ante-
riormente entre ns, dissemos-lhe que no leva-
ramos os ovos essa semana, ao que ela insistiu
178
enfaticamente. Felipe fez sinal para seguirmos, o
que fortaleceu a nossa deciso de no cedermos,
com a inteno de modifcar a relao com a
me. Mais do que nunca, depois de tudo que ele
trouxe nessa visita, no podamos nos submeter
fora do desejo de sua me; terapeuticamente
precisvamos nos posicionar diante dela tambm.
Percebemos a beleza deste encontro e como esta
experincia foi capaz de liberar um acmulo in-
terno de suas necessidades, aliviando a tenso e
tambm o libertando de alguma forma das exi-
gncias externas. Keleman (1992, p. 140) abor-
da bem esta questo ao explicitar que o corpo
inchado grita para ser deixado em paz, sem ser
abandonado.
Segundo Safra (1995, apud Barretto, 1998),
uma experincia, para ser integradora e consti-
tutiva deve ter incio, meio e fm, em que o ritmo
da criana (e da vida nascimento, constituio
do sujeito morte) deve ser respeitado at chegar
a um gesto espontneo. Expandindo essa viso
para o processo teraputico, o paciente, aps
uma fase de hesitao, comea a estabelecer um
vnculo de confana com a fgura e a pessoa real
do terapeuta. Depois, o setting teraputico pre-
cisaria ser destrudo aos poucos pelo paciente,
at que a relao dos dois (paciente terapeuta)
possa se encerrar, construindo a possibilidade do
sujeito vir a exercer sua autonomia frente ao tera-
peuta. Ser que Felipe agora expressou o gesto
espontneo?
Muitas outras questes podem vir a ser traba-
lhadas nesse caso, a exemplo da relao do pa-
ciente com a me biolgica, pois, compreenden-
do de outra forma a sua origem e ressignifcando
as circunstncias de sua adoo, ele poder se
localizar com mais sustentao no mundo, e, des-
sa forma, desenvolver mais segurana e autocon-
fana. Ademais, Marinho (2006) destaca que o
psictico apresenta difculdade em achar o seu
lugar diante da histria familiar, necessitando re-
construir as origens de sua vida, o que se expres-
sa no delrio. Contudo, compreendemos que esta
necessidade deve partir do prprio paciente, para
que sejam as necessidades dele, e no as dos es-
tagirios ou da famlia a serem trabalhadas.
Um ponto central para o desenvolvimento
adotado neste caso foi o fato de a intensifcao
de cuidados ser realizada em dupla. Isso permi-
tiu que pudssemos tomar conscincia, discutir e
elaborar as questes em ns suscitadas pelo pa-
ciente e tambm adotar os direcionamentos que
consideramos mais adequados. Depararmo-nos
com nossos pr-conceitos e imaginrios sobre a
sade mental e o investimento no fazer clnico foi
de fundamental importncia para que pudsse-
mos sustentar essa posio de troca, que exigia
um grande envolvimento e disponibilidade, inclu-
sive fsica, para o processo. Neste sentido, revela-
se no apenas o cuidado para com o paciente,
mas tambm entre as prprias estagirias que,
no processo da clnica, formularam, para alm
de um conhecimento sobre o paciente, um maior
conhecimento sobre si mesmas.
179
Referncias
Almeida, B. H. M. de (2006). Que Paris esse? Frag-
mentos Clnicos. In Santos, R. G.(Org.). Textos, Texturas e
Tessituras no Acompanhamento Teraputico. (pp. 79-103).
So Paulo: Hucitec.
Barretto, K. D. (1998). tica e Tcnica no Acompanha-
mento Teraputico: Andanas com Dom Quixote e Sancho
Pana. So Paulo: Unimarco.
Ferreira, A. B. de H. (1986). Novo Dicionrio da Lngua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Fumagalli, C. (1989). Teoria do Papel. Texto publicado
pela Primeira Escola de Psicologia Social da Argentina. Tra-
duo do Ncleo de Psicologia Social da Bahia. Argentina.
Goffman, E. (1982). Estigma: Notas sobre a Manipula-
o da Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar.
Keleman, S. (1992). Anatomia Emocional: a Estrutura da
Experincia. So Paulo: Summus.
Lowen, A. (1982). Bioenergtica. So Paulo: Summus.
Marinho, D. (2006). Das Teias Familiares Encarnao
da guia. In Santos, R. G. (Org.). Textos, Texturas e Tessitu-
ras no Acompanhamento Teraputico. (pp. 133-141). So
Paulo: Hucitec.
Nascimento, F. A. R. (2005). Programa de Intensifcao
de Cuidados para Psicticos: um Caminho para a Quali-
dade de Vida. Trabalho de Concluso de Curso - Terapia
Ocupacional. Fundao Bahiana para Desenvolvimento
das Cincias. Salvador.
Pichon-Rivire, E. (2000). Teoria do Vnculo. So Paulo:
Martins Fontes.
Piti, A. C. de A. & Santos, M. A. dos (2005). Acom-
panhamento Teraputico: a Construo de uma Estratgia
Clnica. So Paulo: Vetor.
Safra, G. (2005). A Face Esttica do Self: Teoria e Clni-
ca. So Paulo: Unimarco.
Safra, G. (2006, setembro). Placement: Modelo Clnico
para o Acompanhamento Teraputico. (pp. 13-20). Revista
Psique: Ano X, n 18. So Paulo: Unimarco.
Tatossian, A. (2006). A Fenomenologia das Psicoses.
So Paulo: Escuta.
180
O solitrio na multido: a solido da diferena
Ana Paula Miranda da Hora*
* psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
Resumo: O presente artigo tem como objetivo
dar visibilidade a um sentimento de solido pe-
culiar aos psicticos a partir de uma reexo so-
bre o tema. Para tanto, utiliza-se da experincia
de acompanhamento a um paciente inserido no
PIC (Programa de Intensicao de Cuidados a
pacientes psicticos). A solido psictica um as-
sunto de grande relevncia clnica e social. Entre
os fatores que contribuem para a presena desse
sentimento esto o processo histrico de excluso
do diferente do convvio social e a prpria relao
frgil do psictico com o outro. Durante a discus-
so do caso, so levantados pontos importantes,
assim como comentadas as intervenes realiza-
das com vistas criao e fortalecimento dos la-
os sociais do acompanhado.
Quem esse que perambula pela es-
trada sem rumo em meio multido? O
que ele busca? O que deseja? um so-
litrio, absorto em seus delrios: a ltima
chance de se livrar do insuportvel senti-
mento de solido.
A
solido um fenmeno pungente em nossa
sociedade. Na Modernidade, anlises scio-
antropolgicas j apontavam para uma tendncia
alienao e ao isolamento do indivduo, prin-
cipalmente nas grandes metrpoles. A passagem
do modo de produo coletivo, sociedades hols-
ticas, para as sociedades de consumo, capitalistas
e individualistas trouxe o embrio para a experi-
ncia do sentir-se s de cada um. Nas grandes
cidades, o sentimento de solido se torna cada
vez mais intenso.
Imersos na multido indiferenciada, os indiv-
duos andam alheios uns aos outros, cada qual
em busca dos seus interesses particulares. Se vol-
tarmos um pouco da ateno para o nosso com-
portamento durante o transcurso de um dia, no
raro nos fagraramos a planejar o prximo com-
promisso, a pensar na discusso com o colega
de trabalho ou a fantasiar um possvel encontro
amoroso para o fnal de semana. Ou seja, vive-
mos um tempo em que a nossa rotina tende a
nos levar para um ensimesmamento que no nos
permite olhar a nossa volta. Como Brentano tra-
duziu: Todos os que eu via andavam na mesma
181
rua, uns ao lado dos outros e, no entanto, cada
um parecia seguir seu prprio caminho solitrio,
ningum se cumprimentava, cada um ia atrs de
seu interesse pessoal (...) (BRENTANO apud TA-
NIS, 2003, p.57).
Atualmente, observamos o fracasso da profun-
didade das relaes, que esto cada vez mais su-
perfciais e fugazes. Estamos experimentando uma
carncia de substncia que pode ser observada
nos padres de comportamento das pessoas. Os
relacionamentos virtuais ganham espao e vo,
passo a passo, substituindo o contato fsico. Os
encontros fcam a cargo da fatalidade ou coin-
cidncia, e as promessas de reencontros, aos
poucos, vo sendo esquecidas com o passar dos
dias. No fazemos muita questo do outro, de es-
tarmos com o outro, embora este outro seja fun-
damental para nossa sobrevivncia enquanto hu-
manos. Normalmente, quando este procurado,
por um motivo pontual, claro e objetivo. Seja
como uma companhia para diverso seja como
um confdente de nossas conquistas e desiluses.
A celebrao do encontro e o prazer de estar com
o outro so cada vez mais raros na nossa cultura.
As anlises mais pessimistas (ou realistas?) diriam
que viver de forma isolada e alienada uma ten-
dncia do homem urbano contemporneo (TA-
NIS, 2003, p. 55).
Para Tanis (2003), este comportamento tem a
ver com a atomizao da sociedade, com a in-
capacidade de comunicao e uma certa faln-
cia da linguagem (TANIS, 2003, p. 13). Podemos
falar tambm do surgimento de um novo tipo de
comunicao e linguagem quando pensamos na
Internet. E por que no dizer de uma certa conde-
nao solido? O mundo das virtualidades, ao
qual o homem contemporneo se encontra sub-
merso, de certa forma, anuncia a sua condena-
o a ser solitrio (KATZ, 1996, p.63).
De acordo com Katz (1996), a presena do
outro insufciente para que a solido se fnde.
Esse autor afrma que na busca pelo outro que
o homem se depara com a solido. O ir em bus-
ca, para este autor, desvela a constatao do
ser s que no sanado no encontro com o
outro. Ao contrrio, quando o indivduo busca
mais desesperadamente a procura do outro,
nesta procura que ele encontra a solido (KATZ,
1996, p. 29). A concepo universalizante de que
o homem deve viver em sociedade faz com que a
solido seja vista como uma anormalidade, como
um sentimento negativo que todos devem evitar
(KATZ, 1996, p.29).
Contudo h quem visualize uma positividade
na experincia do sentir-se s. Katz (1996) fala
da solido positiva, o que vai de encontro nor-
ma geral da solido como algo negativo (KATZ,
1996, p. 30). O autor defende que momentos de
solido podem nos permitir experincias inalcan-
veis quando se est na vida social. Ele chega a
defender o asilamento como uma forma de estar
com os seus pares, libertados das regras sociais
ou psquicas ditas normais (KATZ, 1996, p.141).
Para Tanis (2003), esta solido diz algo sobre a
capacidade de estar s e de usufruir a experincia
de agir apenas de acordo com o que nos manda
a nossa vontade. (TANIS, 2003, p. 151). com-
preensvel que, muitas vezes, queiramos nos isolar,
182
fugir da correria das cidades grandes, estarmos
ss com ns mesmos. No entanto esta deciso
deve ser voluntria, no imposta pela sociedade.
De acordo com Tanis (2003), vivemos de for-
ma defensiva a todo instante. que, para o autor,
se confgura como uma ameaa o contato com o
outro e com seus prprios confitos internos, pois
nos remete a nossos prprios confitos. Isso leva o
indivduo a voltar-se para si mesmo, a escapar do
contato com o mundo e a estar, permanentemen-
te, alerta e precavido, embora no se saiba muito
contra o qu. Esta a solido dos neurticos, que
todos ns, ditos normais, vivemos (TANIS, 2003,
p.99).
Desta forma, a solido se faz presente como
uma produo social da qual todos fazem parte. A
solido tambm pode desorganizar psiquicamen-
te o neurtico. O sentir-se s ou, simplesmen-
te, a ausncia da presena do outro pode levar
a uma desestruturao, podendo chegar a uma
alterao do estado de conscincia, desorgani-
zao espao-temporal e vivncias alucinatrias
(TANIS, 2003, p.139). O sentir-se s denomi-
nado pelo mesmo autor como a solido da dife-
rena (TANIS, 2003, p.29). Esta solido engen-
drada pela excluso da diferena. a solido do
no pertencimento, freqentemente experimenta-
da pelos indivduos margem da sociedade. Esse
sentimento se aproxima da sensao de estranha-
mento do mundo no qual se est inserido, como
nos conta Tanis (2003):
A maior parte tinha um modo de an-
dar satisfeito e prtico e evidentemente s
pensavam em abrir caminho na multido.
Outros, de faces coradas, tambm nume-
rosos, andavam com movimentos inquie-
tos (...), como se a densidade da massa
que os rodeava lhes fzesse sentir mais a
prpria solido (TANIS, 2003, p. 68).
Para Tanis (2003), h uma diferena entre
estar s e sentir-se s. Esta solido expe-
rimentada mesmo na presena de muitas pesso-
as. O sentir-se s uma experincia prxima ao
desamparo em nossa sociedade. Para o autor, a
solido resulta do esvaziamento do papel do ou-
tro e dos vnculos do sujeito com este. De acor-
do com o autor, o que est nas bases da solido
so as relaes entre o eu e o objeto. Para ele,
no existe solido sem referncia ao outro (TANIS,
2003, p.168). Nesse sentido, merece destaque a
experincia vivida pelo psictico, uma vez que sua
relao com o outro estabelecida de forma pre-
cria, ou seja, a posio que este ocupa no est
bem defnida nas relaes de objeto. A psicose
desenvolve uma relao especial com o objeto
(TANIS, 2003, p. 123).
O louco compe um grupo especfco, no
qual a solido existe de forma impactante e con-
creta. Esta a solido da excluso, considerada
aqui como imposta. Nossa sociedade exclui aque-
las pessoas que no teriam condies de compar-
tilhar das mesmas regras sociais da maioria. No
dizer de Katz (1996), so os solitrios naturais,
pois no teriam condies naturais de se comu-
nicar e conviver com outros de modo natural.
O ser natural signifca, para o autor, possuir
183
a capacidade de atender s variadas exigncias
produtivas dos grupos sociais. Para ele, o louco
se expressa numa linguagem impossvel de ser so-
cializada (KATZ, 1996, p. 43). Esta solido tem
um aspecto negativo, por ser marcada pela im-
possibilidade do indivduo de compartilhar algum
projeto grupal ou social.Como se no bastasse
tamanho determinismo natural, o psictico ain-
da se insere em um outro grupo: o grupo dos soli-
trios sociais. Neste grupo, esto aquelas pessoas
destinadas ao isolamento social, pois no conse-
guem acompanhar o sistema educacional, entrar
no mercado de trabalho, alm de serem isoladas,
muitas vezes, pela prpria famlia.
Os loucos esto a includos por possurem
caractersticas que os tornam incapazes perante
as exigncias sociais (KATZ, 1996, p. 45). Segun-
do Katz (1996), a solido desses grupos da
ordem geogrfca ou fsica e corresponde mais
estritamente a um isolamento (KATZ, 1996, p.
46). Essa idia vem combater o isolamento como
algo voluntrio, fruto de um desejo interno do ho-
mem. A solido que se recusa inscrio social
produzida pelos saberes socialmente organiza-
dos, vivida e pensada como um processo negati-
vo (KATZ, 1996, p.111).
O psictico vivencia a experincia da solido
de forma muito particular. Este sujeito a prpria
solido, uma vez que o outro, para ele, sempre
um enigma. Essa forma particular de ser no mun-
do encontra a intolerncia e indiferena das pes-
soas que, perturbadas com a diferena, afastam a
loucura da sociedade, temendo modos de subje-
tividade que perturbem uma dita continuidade e
coerncia do mundo da vida, uma expectativa de
felicidade e harmonia (KATZ, 1996, p.45). Desse
modo, esta solido deve ser afastada da socieda-
de dos ditos normais sob risco de contamin-la
com a loucura que est em cada um de ns.
O louco recusa-se a fcar sozinho. Angstia
desesperada do indivduo na multido solitria.
Mesmo - o outro - no estando estruturado psi-
quicamente para o psictico, ele procura a sua
presena. A simples proximidade fsica parece
lhe conferir uma tnue sensao de pertinncia
(TANIS, 2003, p.72). Segundo o autor, seria uma
forma de criar uma familiaridade, maneira con-
creta de suportar a dor de sentir-se s.
A solido como fenmeno psictico parece
referir-se a pessoas e objetos fragmentados, as-
sim como a prpria noo de si (TANIS, 2003,
p.89). Na psicose, a formao de laos sociais
uma questo crtica, ou seja, esse sujeito no
criou vnculos ou esses so muito frgeis. Assim
sendo, o psictico precisa de algum que geren-
cie suas relaes, pessoas que se importem com
sua questo, proporcionando o fortalecimento de
suas redes sociais.
Neste sentido, este artigo tem como objetivo
refetir sobre a temtica da solido psictica a
partir da experincia de um acompanhamento te-
raputico a um paciente psictico. A importncia
do tema pela sua presena na prtica contrasta
com a carncia de estudos. Pretendemos dar vi-
sibilidade a um sentimento particular de solido
vivida pelos psicticos o qual julgamos de extre-
ma relevncia clnica e social. No fcil abordar
um tema que estamos vivenciando. Falar sobre
184
a solido nos faz pensar sobre a nossa prpria.
Pessoas como ns, especifcamente, que fazem
do lidar com o sofrimento do outro seu trabalho,
tm ainda a oportunidade de ver uma outra face
da experincia do sentir-se s. Isso nos obriga a
no negligenciar ou camufar a solido atravs
dos nossos mecanismos de defesa. Ao contrrio,
temos o compromisso tico de divulg-la e assim
tornar pblica a dor, dor de que nenhum de ns
est livre.
Cenrio da Solido
A experincia de acompanhamento teraputico
aqui relatada parte das atividades do Programa
de Intensifcao de Cuidados a pacientes psic-
ticos (PIC), o qual tem como foco a reinsero
social do sujeito, ao lanar mo do recurso do
acompanhamento teraputico para formao de
redes do acompanhado.
O PIC tem como objetivos a criao e o forta-
lecimento de redes sociais dos pacientes median-
te a intensifcao de cuidados realizada pelas
duplas de estagirios que fcam mais prximos de
cada caso, podendo intervir nas interaes desses
pacientes junto a familiares, amigos e cuidado-
res.
Caso V.
V. tem 33 anos, solteiro, natural de Feira de
Santana-Ba, residente de um bairro popular da ci-
dade de Salvador-Ba, mora sozinho, de aluguel.
responsvel por todas as suas despesas, as quais
arca com o salrio mnimo que recebe por conta
de sua aposentadoria por invalidez. Foi deixado
num orfanato pela me aos trs anos de idade,
onde viveu at os nove. Para l tambm foram
suas duas irms.
V. morou at os 19 anos com sua patroa,
modo como se refere mulher para quem traba-
lhou como servente, e suas irms como bab e
cozinheira. Ele sofreu um acidente de carro, aos
16 anos, em que estavam presentes sua patroa
com flha e genro. Sofreu princpio de traumatis-
mo craniano e, por conta disso, interrompeu os
estudos na 6 srie do ensino fundamental. Mo-
rou por um perodo com sua irm mais velha, aju-
dando-a nas despesas.
Nessa poca, ele trabalhou em diversas fun-
es, entre elas, vigilante e vendedor de picol,
ocupao que tinha na poca da primeira inter-
nao, em abril de 1997. Na ocasio, alegou-se
desgaste fsico e mental. Depois desta internao,
V. passou ainda por vrios hospitais. Ao sair de
alta, passou a morar sozinho numa casa alugada
pela irm mais nova, responsvel por sua ltima
internao. Desta vez, os motivos alegados foram:
ausncia do uso das medicaes, falta de higiene
pessoal, perambulao pelas ruas, dejees em
pblico e risos imotivados. Em maro de 2005, V.
passou a ser acompanhado pelos estagirios do
Programa de Intensifcao de cuidados.
A primeira visita das estagirias a V. se deu em
julho de 2005 num momento de passagem do
caso. O encontro aconteceu num bar. Esse es-
tabelecimento se localizava numa residncia da
qual a proprietria alugava quartos. Era num
deles que morava V. Ele j tinha conhecimento
185
da mudana de duplas e, ao ser apresentado
s novas estagirias, voltou-se para o antigo e
perguntou: Voc j passou tudo para elas?. O
acompanhamento das andanas de V. possibili-
tou a seus acompanhantes um entendimento da
questo desse sujeito. A ateno dispensada a V.
era freqente e contnua. A nossa insistente pre-
sena fez com que V. nos depositasse a confana
necessria para que compartilhssemos dos seus
confitos, angstias e solido.
O homem s na multido:
a diferena excluda
Durante o perodo de um ano em que acompa-
nhamos V., fomos observando o quanto era pun-
gente o seu sentimento de solido. Sabemos que
a experincia do sentir-se s parece ser uma ten-
dncia do homem contemporneo. Contudo, na
psicose, esta solido existe e insiste anteriormente
aos fatores que contriburam para a emergncia
da sociedade individualista. evidente que se faz
necessrio levar em considerao o fato de que a
solido do louco, nas grandes cidades, s ten-
de a aumentar. Isto porque o homem urbano est
muito voltado para si, para seus interesses pesso-
ais. No h muito lugar para o outro em nossas
vidas, principalmente, quando esse outro se apre-
senta como diferena. V. esta diferena.
A sensao de estar s entre muita gente foi
experimentada por V. a todo instante. No decorrer
dos acompanhamentos, pudemos compreender
como a solido se imps na vida do acompanha-
do de uma maneira muito peculiar, tendo em vista
a sua condio psquica. Ela - a solido - estava
por toda parte: em seu discurso, em sua mora-
dia, na disposio dos seus pertences domsticos.
A presentifcao desse sentimento foi produzida
pelo processo de isolamento sofrido por V. por
parte dos seus vizinhos, famlia e comunidade.
O programa do qual fazamos parte tinha
como objetivo reinserir o paciente socialmente,
bem como secretari-lo nas suas aes, buscan-
do pessoas dispostas a ajud-lo. Afetamo-nos
com a presena e recorrncia, no discurso de V.,
da sua questo: Morar sozinho e no fazer nada
muito enjoativo, Estou cansado de morar so-
zinho, quero uma mulher para me fazer compa-
nhia. Comeamos, ento, a suprir a solido de
V. com a nossa presena e ateno, ao mesmo
tempo em que nos sentamos no dever de fazer
algo para mudar a sua situao. A solido de V.
nos incomodou a ponto de utilizarmos, incons-
cientemente, de estratgias para san-la. Fic-
vamos horas em sua casa, passeando pelo bairro
etc. Era angustiante e muitas vezes insuportvel
nos depararmos com tamanha sensao de estar
sozinho, uma vez que nos deparvamos com a
nossa prpria solido.
V. era realmente s, no havia ningum inte-
ressado por ele. S mais tarde percebemos, com
a ajuda das supervises e discusses, o quanto as
prticas que estvamos implementando eram as-
sistencialistas, ao irem de encontro ao objetivo do
nosso trabalho. Ou seja, o que precisvamos era
encontrar formas, buscar pessoas que se sensibili-
zassem com a questo do nosso acompanhado e
se dispusessem a colaborar, ao traz-lo para mais
186
prximo da convivncia em sua comunidade.
Na tentativa de buscar moradores do bairro in-
teressados por V., vislumbramos D. Maria (nome
fctcio), proprietria do quartinho alugado pelo
paciente. Em cada visita, a procurvamos para
conversar, no intuito de explicar a situao do
acompanhado e solicitar a sua colaborao. D.
Maria, sempre muito atenciosa, disponibilizava
seu telefone e seu bar para entrarmos em con-
tato com V. Era, at ento, a nica pessoa com
que podamos contar. Aos poucos, percebemos o
quanto a intolerncia convivncia com o acom-
panhado se fazia presente. V. tinha um modo pe-
culiar de ser e de agir, o qual provocava muito
incmodo nas pessoas.
Em uma das visitas, fomos surpreendidas com o
semblante preocupado de D. Maria, ao nos aler-
tar quanto insatisfao do vizinho de quarto de
V. para com algumas de suas atitudes. Conversa-
mos com Sr. Jos (nome fctcio), o qual nos disse
que, se dependesse dele, o paciente j teria sido
expulso de sua casa e internado. Sr. Jos se justi-
fcou, afrmando no gostar do cheiro de V. nem
do seu comportamento em relao a sua flha e
esposa, aparecendo em trajes ntimos diante de-
las. A proprietria, apesar de saber da existncia,
por parte de Sr. Jos, de uma intencionalidade
em relao sada de V., concordou com sua re-
tirada, alegando estar em atraso seu pagamento
do aluguel. Isso nos mostra o engendramento da
solido do acompanhado pelo seu afastamento
da sociedade.
Como vimos, muito comum excluirmos o di-
ferente do nosso convvio, principalmente, quando
este diferente nos diz algo sobre a nossa prpria
fragilidade psquica. Entre os fatores que contri-
buam para a solido de V. estava o incmodo
gerado nas pessoas diante da sua presena e na
convivncia com ele. V. desafava o nosso equi-
lbrio, a nossa razo, questionava a nossa inte-
gridade psquica com o seu modo particular de
ser no mundo. Era expulso do convvio social, e,
junto a isso, sua solido se acentuava cada vez
mais com o freqente afastamento das pessoas
da comunidade onde morava.
A solido de V. era a solido da excluso, im-
posta pela sociedade. Primeiramente, pela sua
condio psquica, e, em segundo lugar, pela sua
condio socioeconmica, a qual acentuava o
seu sentimento de solido. V. era louco, pobre e
negro, ou seja, renia caractersticas que s acen-
tuavam a sua condio de solitrio no mundo e
que o excluam do mundo dos scios da nossa
sociedade. Esta solido tem um aspecto negativo,
por ser marcada pela impossibilidade do indiv-
duo de compartilhar algum projeto social e de se
enquadrar no repertrio das exigncias sociais.
V. era visto pelas pessoas como o louco,
aquele indivduo que nada entendia, nem era ca-
paz de entender. Era o incapaz, o doente, o de-
sajuizado. Desse modo, ningum lhe dava crdi-
to ou lhe depositava confana. V., devido a sua
condio psquica, no conseguia compartilhar
de projetos ou grupos sociais, ou, pelo menos,
era visto desse modo.
Da mesma forma, ele tambm era excludo por
no conseguir seguir os padres sociais exigidos.
Ou seja, no conseguia estudo, trabalho, o que
187
era reforado pela sua situao social precria.
Chegou a se matricular numa escola do bairro
anterior, onde morava. Todavia no chegou a cur-
sar, porque entrou em crise. Ele tambm procura-
va trabalhar. Dizia-nos passar sempre pela ofcina
mecnica do seu bairro e perguntar se havia tra-
balho para ele, mas a resposta era sempre ne-
gativa. Quem daria trabalho a um louco? Quem
acreditaria que este poderia estudar e aprender?
Esses preconceitos arraigados em nossa socieda-
de aumentavam a condio solitria de V.
A solido de V. era amplifcada ao ser excludo,
tambm, pela famlia. Uma das irms do paciente
era moradora do seu bairro. Era o nico mem-
bro da famlia com o qual o nosso acompanhado
mantinha contato, ainda que este fosse objetivo e
espordico. Snia (nome fctcio) funcionava como
uma espcie de fadora do irmo, a exemplo da
casa alugada por V., a qual negociou, garantindo
honrar com o compromisso, caso ele no o fzes-
se. O paciente quase no encontrava sua irm e
contava, ocasionalmente, que esta estava sem-
pre com pressa, e o porto estava sempre fecha-
do quando ia visit-la.
Snia nos contou que V. uma pessoa difcil
de se conviver, insuportvel, para viver sozi-
nho. Disse ter informado a todos do bairro sobre
a doena de seu irmo, a fm de lhe avisarem caso
acontecesse algo com ele. A irm de V. acreditava
ainda defend-lo porque o sangue ainda puxa,
mas recusava-se a abrig-lo em sua casa, mesmo
sabendo e dizendo entender a sua solido. Snia
disse no levar V. casa da sua me, para que
no aprendesse o caminho. Uma das vezes em
que isso aconteceu, a me precisou mudar de
casa. V. era completamente excludo do convvio
da famlia. Ele foi rejeitado pela me e irmos, os
quais desveladamente disseram no querer estar
na sua presena e convivncia. Essa rejeio s
acentuou a condio de V. como um ser solitrio,
abandonado prpria sorte pela famlia, vizinhos
e comunidade.
A solido de V. estava presentifcada em sua
vida. Sua casa era a moradia da solido. Esta era
sentida, at mesmo, na carncia de objetos do-
msticos, assim como na disposio dos mesmos.
O nosso acompanhado possua apenas duas ca-
deiras, que fcavam dispostas em sua sala, a qual
se tornava ampla pela carncia de mveis. Quan-
do chegvamos, nicas visitas, esses objetos eram
utilizados para sua verdadeira funo, uma vez
que, usualmente, serviam de guarda-roupas ou
suporte para outros objetos.
V. comparava o isolamento no qual fcava em
sua casa ao de um exlio. Dizia passar a maior
parte do tempo em sua residncia, ouvindo rdio,
afrmando estar esperando o tempo passar, sem
trabalhar, sem estudar, s a comer uma refeio
ao dia e dormir. V. dizia no achar certo fcar em
casa o dia todo sem fazer nada. Ele utilizava um
ditado popular, corriqueiramente, para referir-
se a sua angstia: mente parada ofcina do
diabo. O paciente fez uma comparao da sua
casa internao. Nela, V. sentia-se distanciado
do mundo, das pessoas, assim como se sentia,
quando estava internado.
Contudo, em alguns momentos, quando a so-
lido se fazia mais presente, V. referia o desejo de
188
voltar para o hospital. Ainda que os aspectos ne-
gativos de uma internao fossem incontestveis
para o nosso acompanhado, ele a cogitava como
uma alternativa para livrar-se do sentimento in-
suportvel de sentir-se s. O Hospital aparecia
como ltimo recurso, e no como um desejo de V.
O paciente se justifcava, ao dizer que l encon-
traria pessoas com as quais fez amizades, como o
vigilante do hospital, o auxiliar de enfermagem, e
conversaria com elas, passaria o tempo...
Entre uma andana e outra na busca de par-
ceiros sensveis questo de V., encontramos Ce-
leste, a proprietria do bar onde o acompanhado
almoava. Ela surgiu em momentos conturbados
da vida do nosso acompanhado e se mostrou
sensvel a sua questo. Quando a intolerncia
dos vizinhos se fez mais forte e concreta, V. no
suportou e entrou em crise. Estava na iminncia
de ser despejado, sem ter para onde ir, alm de
estar sendo pressionado pela proprietria para
pagar as contas em atraso. Antes disso, j vinha
h algumas semanas sem tomar as medicaes,
alegando que queria descansar.
Nestas condies, a rejeio do paciente pela
comunidade se fez ainda mais presente. Ningum
queria alugar uma casa para um louco. Celeste
o abrigou na casa do seu empregado. Era, na
verdade, um casebre situado um pouco afastado
da rea central do bairro. V. apenas dormia nesta
casa e fazia todas as suas refeies, apenas duas,
no bar. Ele havia feito um acerto com Celeste de
pagar, mensalmente, pelas refeies. A dona do
bar tambm resolveu, ela mesma, fcar com as
medicaes do acompanhado e dar-lhe nas ho-
ras certas. interessante notar o local emergen-
cial que Celeste conseguiu para abrigar V. Era a
casa do seu empregado que tinha uma leve de-
fcincia mental e morava s. Isso nos fez pensar
sobre a atitude histrica da humanidade de reunir
os diferentes e afast-los do seu meio.
Por outro lado, Celeste, de certa forma, contri-
bua para a manuteno do diferente na comuni-
dade, fazendo do seu bar um ambiente de sociali-
zao e incluso. V. passava todas as tardes nesse
estabelecimento. L ele conversava com alguns
freqentadores, enquanto outros diziam o que ele
devia ou no fazer. O paciente comentava com
impacincia que todos fcavam perguntando se
ele havia tomado os remdios, at quem ele no
conhecia. No obstante este contato de V. com
as pessoas, sua posio na comunidade era bem
demarcada, visto sempre como aquele louco,
pois no se enquadrava nas normas sociais es-
tabelecidas. Desta forma, V. continuava sozinho,
marcado pela diferena.
Eram as ocasies em que V. se encontrava em
crise os momentos em que a sua excluso se fazia
mais evidente. O paciente em crise descuidava-
se da higiene pessoal, perambulava pelo bairro,
mexia com as mulheres na rua, dizia o que pen-
sava. Desse modo, despertava o incmodo dos
moradores do bairro, os quais queriam expuls-lo
da comunidade. Freqentemente, eles se dirigiam
a ns, acompanhantes, a fm de que tomssemos
uma atitude: tem que encher de remdio at o
teto e internar.
Algumas vezes, fagramo-nos tomando partido
189
de V., ou seja, fcvamos intolerantes e indigna-
das com a atitude das pessoas. Percebemos, mais
uma vez, mediante orientaes dos supervisores,
que oportunidades como estas deveriam ser apro-
veitadas para conquistar mais parceiros interessa-
dos em colaborar para a melhora da situao do
acompanhado.
Busca pelo outro dilacerado:
encontro da solido
A experincia do sentir-se s vivenciada por V.
se fazia presente no seu encontro com o outro. A
solido vivida pelo paciente lhe era peculiar. Ele
era a prpria solido, uma vez que o outro no se
encontrava bem estabelecido psiquicamente para
ele. A solido como fenmeno psictico a soli-
do da ausncia de algo que no se sabe bem o
que . Todavia V. procurava a presena do outro,
buscava estar prximo das pessoas, o que pare-
cia lhe conferir uma certa familiaridade, ou seja,
uma sensao de pertencimento: nica maneira
de suportar a dor de sentir-se s.
V. continua a sua solitria luta. Luta no se sabe
bem contra o qu ou contra quem, mas que se faz
incessante, pois deseja livrar-se do sentimento in-
suportvel da solido. A experincia de sentir-se
s do paciente nos disse muito sobre a sua capa-
cidade de fcar sozinho. Perguntvamos at onde
V. suportava sua solido. Qual o seu limite? O
que o fazia suport-la?
V., em sua busca por livrar-se do insuportvel
sentimento de solido, procurava o bar de Celes-
te, a igreja, a escola, os vizinhos e, at mesmo, o
hospital. Sabemos que o psictico tem uma forma
particular de estar no mundo e vincular-se s pes-
soas. Portanto entendemos as atitudes do acom-
panhado como esta tentativa de busca, uma vez
que era freqente o seu discurso de insatisfao
quanto a sua situao.
O paciente cumprimentava a maioria dos mo-
radores do seu bairro. Conversava com o pas-
tor da igreja, com o rapaz da mercearia, com o
mecnico da ofcina. Todos sabiam quem era V.,
conheciam seus hbitos e sua condio de do-
ente mental, porm no passava disso. Para o
acompanhado, viver nesta aparente proximidade
parecia lhe abrandar o sentimento de completa
solido. O paciente recusava-se a fcar sozinho,
no obstante a fragilidade vincular que lhe era
constitutiva. Devido a tal caracterstica, seus vn-
culos sociais, quando existiam, eram muito fr-
geis, como a sua relao com a dona do bar e
seu empregado.
Agimos em direo ao fortalecimento dos la-
os sociais de V. A sua situao econmica no
permitia que freqentasse os grupos semanais re-
alizados pelo programa, bem como participasse
de alguns passeios promovidos pelo mesmo. To-
davia, constantemente, o paciente fazia pergun-
tas sobre tais atividades. V. nos perguntava quem
dos demais participantes havia comparecido,
que atividades haviam sido realizadas etc. Fre-
qentemente, buscvamos alternativas para que
o acompanhado participasse das programaes,
pedindo uma contribuio fnanceira junto a sua
irm ou mesmo tirando do nosso prprio bolso.
190
No intuito de corroborar com esta busca de
V., tentvamos sensibilizar as pessoas quanto a
sua situao, de modo a conseguirmos parceiros
para a luta que nos propomos travar. Consegui-
mos aliados como Celeste, a dona do bar, que se
confgurou como a nossa principal aliada, pois
era sensvel questo de V., e ele estabeleceu um
vnculo de confana com a mesma. Outra pessoa
importante foi o pastor da igreja, que se props a
ajudar no que fosse necessrio, inclusive disponi-
bilizando o espao do centro comunitrio do bair-
ro para realizarmos reunies informativas sobre o
lidar com o louco na comunidade.
Procuramos durante o perodo em que acom-
panhamos o paciente criar uma rede social de
apoio, a fm de reinser-lo na comunidade e, des-
sa forma, abrandar o seu sentimento de completa
solido. Obtivemos alguns xitos como expomos
anteriormente. Ao trmino do acompanhamento,
no deixamos de sentir com pesar a separao de
V. Talvez esta tenha sido sentida muito mais forte
por ns que nos vinculamos ao paciente ao modo
neurtico. Ele, em contrapartida, nos disse: Foi
bom enquanto durou. Disse-nos que sentiria sau-
dades, ao mesmo tempo em que se preocupou
em passarmos tudo para as prximas estagirias,
o que nos diz algo sobre o lugar que ocupamos
em sua vida. V. continua sendo acompanhado
pelo programa.
Consideraes Finais
A solido um sentimento negativo em nos-
sa cultura. Algo que todos devem evitar. Contudo
caminhamos a passos largos para um estado de
ensimesmamento, no qual o outro se torna pres-
cindvel para a nossa existncia. Ou, pelo menos,
a sua presena, uma vez que os relacionamentos
virtuais dominam o nosso cotidiano e o aprisio-
namento da rotina no nos deixa tempo para os
encontros casuais, os quais so cada vez mais ra-
ros.
A concepo universalizante de que o louco
no possui capacidade de compartilhar das re-
gras sociais, aliada a idia de ele ser detentor de
uma linguagem impossvel de ser socializada est
nas bases do processo de excluso da loucura em
nossa sociedade. Diante desse contexto, assisti-
mos presena de um modo particular de solido
que anterior, embora amplifcado, pelo proces-
so vivido ao modo contemporneo. a solido
da diferena, solido do no pertencimento ao
mundo dos scios.
A nossa experincia enquanto estagirias do
PIC Programa de Intensifcao de Cuidados a
pacientes psicticos nos possibilitou entender
o engendramento de uma solido que tem suas
principais bases no processo histrico de excluso
do diferente do convvio entre os ditos normais. O
louco como o diferente, o estranho, o incapaz,
o alienado colocado margem da sociedade.
Tudo em funo da preservao da homogenei-
dade do comportamento e do enquadramento do
psiquismo s exigncias sociais.
Compreender a solido do psictico s nos
foi possvel mediante a ampliao do cenrio da
clnica tradicional, ou seja, acompanhamos o
paciente em outros mbitos da sua vida, como
191
comunidade, famlia e pudemos observar como
pde ser produzida a sua solido, assim como
ter acesso a um discurso s possvel a partir do
estabelecimento de uma relao de confana en-
tre acompanhante e acompanhado. Essa relao
de confana s foi estabelecida, porque insisti-
mos com a nossa presena na vida de V. A nossa
presena contnua e incondicional foi condio
fundamental para o estabelecimento do vnculo,
o que permitiu fazermos intervenes importantes
em sua vida.
Neste trabalho, buscamos contribuir para dar
visibilidade ao tema da solido psictica, uma vez
que este de grande relevncia clnica e social,
alm de muito recorrente em nossa prtica. Uma
segunda contribuio deste artigo reside na des-
mistifcao da idia do isolamento como algo
voluntrio. Ao contrrio, destacamos e buscamos
identifcar o que est por trs da solido na psi-
cose. Tal solido tambm chamada de solido
imposta, produzida pelo processo de excluso so-
frido pelo psictico.
Este artigo trata de um tema muito caro re-
forma psiquitrica, uma vez que toca em ques-
tes relativas reinsero social dos pacientes
psicticos. A refexo sobre a solido imposta ao
dito louco leva a um entendimento sobre as bases
do processo de excluso sofrido por este. Desse
modo, fazem-se necessrias mais intervenes cl-
nicas pautadas no acompanhamento do paciente
na famlia, comunidade, a fm de que o sentimen-
to de sentir-se s seja mais bem compreendido e
aliviado.
Tendo em vista tamanha importncia, novos
estudos fazem-se necessrios, visando um apro-
fundamento do assunto. Sugerimos mais estudos
que abordem a busca peculiar do psictico, no
obstante a sua fragilidade vincular, bem como tra-
balhos que versem sobre intervenes sociais e
comunitrias baseadas no manejo das relaes
com este pblico.
Referncias
BARRETTO, Kleber Duarte. tica e Tcnica no acompa-
nhamento teraputico. So Paulo: Unimarco, 1998.
KATZ, C. H. O Corao Distante: ensaio sobre a solido
positiva. Rio de janeiro: Revan, 1996.
PICHON-RIVIRE, Enrique. Teoria do Vnculo. So Pau-
lo: Martins Fontes, 1992.
TANIS, B. Circuitos da Solido: entre a clnica e a cultu-
ra. So Paulo: Casa do Psiclogo: FAPESP, 2003.
192
Resumo: O presente estudo trata de um caso
desenvolvido durante o Programa de Intensifca-
o de Cuidados a Pacientes Psicticos, progra-
ma de extenso universitria que constitui parce-
ria entre a UFBA, a FBDC e o HEML e efetiva-se
por meio de atendimentos domiciliares, encontros
grupais com os pacientes, reunies com cuida-
dores, acompanhamento a consultas, superviso
grupal, dentre outras atividades. Este texto busca
descrever o acompanhamento realizado durante
nove meses com um indivduo do sexo mascu-
lino portador de transtorno mental, solteiro, 35
anos, com longa carreira manicomial e precria
condio scio-econmica. Durante o acompa-
nhamento do caso, pde-se perceber que investir
ativamente na constituio e fortalecimento do
vnculo com o paciente ocasionou mudanas em
suas formas de vinculao social. As internaes,
antes freqentes, sofreram signifcativa reduo.
Tornou-se fagrante a concepo de que, para
ser cuidado, o paciente pode e deve permanecer
em sua comunidade, j que a recluso em hospi-
tais psiquitricos s contribui para fragilizar os j
to vulnerveis laos sociais desse sujeito. Outra
questo relevante refere-se aos desafos impostos
pela aproximao com a pobreza e todas as re-
percusses que ela pode gerar no psiquismo do
sujeito. Sem dvida, os bancos das universidades
ainda no preparam seus alunos para lidarem
com as classes menos favorecidas e com as dife-
renas culturais que a convivncia com esse tipo
de clientela faz aforarem. O sujeito psictico no
fca ou est em crise, mas a expresso da cri-
se do ideal, do ideal do homem contemporneo,
racional, autnomo, dono de si. E trat-lo requer
muito mais do que sua mera incluso em servios
de assistncia ao portador de sofrimento psquico.
premente que, ao tempo em que so constitu-
dos servios substitutivos em sade mental, sejam
construdas tambm novas formas de lidar com o
louco, que possibilitem seu cabimento no seio da
sociedade.
Transbordamento psictico:
Desaos e possibilidades de interveno
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**Terapeuta ocupacional graduada pela FBDC e ex-estagiria do PIC
Lygia Freitas*
Mabel Jansen**
193
1- Introduo
O
presente trabalho trata de um caso desenvol-
vido durante o Programa de Intensifcao
de Cuidados a Pacientes Psicticos (PIC). Com-
preende a descrio da trajetria particular de
um indivduo do sexo masculino (Emerson ) porta-
dor de transtorno mental, solteiro, 35 anos, com
longa carreira manicomial. Busca ainda abordar
os recursos teraputicos disponveis, bem como
o processo de aprendizagem ocorrido durante os
nove meses em que o paciente foi acompanha-
do.
2- Fundamentao Terica
2.1 Sobre o desenvolvimento do sujeito
A entrada do ser humano no mundo da cultura
se d, sempre, por intermdio de um outro, um
outro que cuida dele. Toda produo de signifca-
o depende, num primeiro momento, de intro-
duzir o outro como ponto de referncia . Segundo
Winnicott (apud BARRETTO, 2000), o homem, no
incio de seu desenvolvimento enquanto sujeito,
passa por um perodo de indiferenciao primi-
tiva, de no-integrao com o mundo externo,
quando, a partir da convivncia e experincias
com a me, so constitudos ncleos de eu, mar-
cas notadamente sensoriais, mas que guardam
traos de alguma humanizao por intermdio
justo desse contato com um ser da cultura.
A constituio do sujeito enquanto tal depen-
der, fundamentalmente, da capacidade de o
ambiente fornecer ao beb uma experincia de
constncia e continuidade, atravs da qual ele
poder, gradativamente, ir integrando os dife-
rentes ncleos de eu. Em outras palavras, a me
deve modular os perodos em que est ausente
de acordo com a capacidade de o recm-nascido
suport-los.
Quando a personalidade adulta organiza-se a
partir da persistncia de ncleos dessa fase ini-
cial, tem-se o surgimento de uma personalidade
ambgua que inclui, ao mesmo tempo, traos de
simbiose e autismo (BLEGER, 1977). Nesse sen-
tido, a postura autista caracteriza-se por um iso-
lamento do mundo externo e predomnio relativo
ou absoluto da vida interior, refetindo uma con-
duta defensiva diante de situaes persecutrias.
O vnculo, nesse caso, , fundamentalmente, de
carter narcsico, visto que prevalece uma relao
com objetos internos.
A conduta simbitica, por sua vez, marcada
por um vnculo de dependncia intensa com um
objeto externo, ocorrendo uma projeo de parte
do ego do indivduo nesse objeto. H, em verda-
de, uma identifcao projetiva entre o psictico e
o objeto, cuja fnalidade manter um certo nvel
de organizao e satisfazer as necessidades do
mbito mais primitivo da personalidade do sujeito
(BLEGER, 1977). Cabe salientar que tanto o au-
tismo quanto a simbiose coexistem no modo de
funcionamento psictico, havendo constante va-
riao entre a ascendncia de um sobre o outro.
194
2.2 A questo do vnculo na psicose
Segundo Pichon-Rivire (2000) o vnculo pode
ser defnido como uma relao particular com um
objeto, que pressupe uma conduta mais ou me-
nos fxa com este objeto, formando um pattern,
uma pauta de conduta que tende a se repetir au-
tomaticamente, tanto na relao interna quanto
na relao externa com o objeto.
Uma teorizao til para compreender melhor
as nuances de relao vincular concernentes ao
sujeito psictico diz respeito que trata do trip
formado pelos conceitos de depositante, deposi-
tado e depositrio, formulados por Pichon Rivire
(apud BLEGER, 1977). Essa trade compe-se de
um sujeito (depositante) que projeta determina-
do contedo (material depositado) sobre o outro
ou si mesmo (depositrio), j que a introjeo do
mesmo pode originar desestabilizao psquica
(BLEGER, 1977).
Em se tratando do sujeito psictico, pode-se
dizer que o vnculo constitudo de modo bas-
tante frgil, levando o indivduo a se relacionar
com o outro ora como se este fosse uma extenso
de si mesmo ora como se fosse uma ameaa na
iminncia de invadi-lo.
Diante desse arranjo em que se sustenta o su-
jeito psictico, o outro tido como implacvel:
exige, prescreve, condena sem discusso, tornan-
do-se, dessa forma, o separado e o separante,
papis que o prprio psictico acaba por realizar
(CASTORIADIS, 1999). Isso, sem dvida, contri-
bui decisivamente para a visvel difculdade de
vinculao experimentada por esse indivduo no
convvio social e afetivo.
2.3 Vulnerabilidade social e gesto do sujeito
Do exposto, cabe ressaltar que a difculdade
vincular do sujeito psictico se expressa como de-
sorganizao psquica, e, para enfrentar a vulne-
rabilidade social a que est exposto o portador de
transtorno mental, algumas formas de interveno
se fazem necessrias, dentre as quais podemos
destacar a de continncia e a de holding. Tais
funes foram desenvolvidas por Barretto (2000)
como sendo inerentes ao trabalho de acompa-
nhamento teraputico.
2.3.1. Sobre a continncia
O sujeito psictico, por vivenciar, com freqn-
cia, situaes de transbordamento psquico que
podem traduzir ultrapassagem de limites, neces-
sita de um intermedirio para suas experincias
afetivas e pulsionais. Transformar as experincias
de um sujeito por meio da imaginao eis a
principal fnalidade da funo de continncia.
A promoo de acolhimento, permitindo que
vivncias notadamente marcadas pela sensoriali-
dade possam ser passveis de simbolizao , de
fato, o que melhor confgura a continncia. Ana-
logicamente, segundo Barretto (2000), essa situ-
ao pode ser comparada de um poeta, que
consegue expressar, por meio de palavras ou ima-
gens, experincias e sentimentos que permeiam a
vivncia humana, mas os quais, muitas vezes, no
195
somos capazes de explicitar.
Em meio a uma crise, a continncia o que se
impe, a partir da alteridade representada pelo
tcnico em sade mental, como produtora de
uma sensao de contorno, limite, possibilitando
ao sujeito se sentir um pouco mais organizado e
integrado, ao inscrever suas vivncias no universo
simblico.
O lugar que o agenciador do caso passa a
ocupar em sua teia de signifcaes, por inter-
mdio do vnculo desenvolvido com o paciente,
contribui, portanto, para uma aproximao maior
entre o mundo interno do sujeito e sua realidade
circundante.
disso que ir se falar no decorrer do presente
artigo, da importncia do vnculo como elemento
mediador da relao entre acompanhante tera-
putico e acompanhado e favorecedor da possi-
bilidade de se fazer continncia.
2.3.2 Sobre o holding
O holding caracteriza-se como uma funo de
amparo, suporte, um estar-junto que possibilita
ao acompanhado uma experincia de constn-
cia, continuidade, tanto fsica quanto psquica.
Durante o acompanhamento de Emerson, essa
funo precisava ser acionada na maior parte
do tempo, uma vez que, freqentemente, o pa-
ciente mostrava-se psiquicamente desorganizado,
carecendo de um suporte que favorecesse uma
sensao de acolhimento e segurana.
Em muitos momentos do percurso com o pa-
ciente, essa funo exerceu um papel marcante.
Foram momentos em que simplesmente estivemos
ali, situaes em que percebemos que no ha-
via o que fazer ou dizer, e o fato de estarmos ali,
nossa presena j era muito importante. O valor
dessa experincia estava no s na aproximao
de dois corpos, um corpo junto ao do paciente,
mas por ser um corpo atento, capaz de testemu-
nhar e compartilhar as experincias do portador
de transtorno psquico.
3 - Introduo ao Caso
Emerson tem 35 anos e uma histria de recor-
rentes internaes, iniciada aos 18, durante sua
entrada no Exrcito. Quando criana, morou com
os pais e os cinco irmos, at que sua me veio
a falecer, ainda durante a infncia do paciente, e
seu pai foi morar em outra cidade, deixando os
flhos aos cuidados da vizinhana.
Hoje o paciente mora com uma irm, Joana
em condies precrias, numa casa dada pelo
pai. No h nem luz nem gua no recinto, e am-
bos tm como fonte de renda o recolhimento de
papelo e material reciclvel.
No andar superior da casa, mora outro irmo,
Jonas . Casado, tem dois flhos e um relaciona-
mento bastante conturbado com Joana, demons-
trando indiferena aos problemas por que passam
os irmos do andar inferior. Esse fato evidencia
que, na questo da excluso social, em sujeitos
psicticos, no se trata apenas de pobreza, mas
de desvinculao scio-afetiva, uma vez que es-
ses indivduos possuem um arranjo psquico que
restringe sua sociabilidade, suas possibilidades
196
de criarem vnculos sociais. Sem falar no difcil
manejo da desfliao psictica, no que tange
questo de quem vai cuidar, quem vai se respon-
sabilizar por esses sujeitos.
Joana portadora de epilepsia, e um terceiro
irmo, Juvenal , que mora prximo casa deles,
alcoolista. A relao dos trs bastante confitu-
osa, sobretudo a de Emerson com Joana, que
com quem ele tem maior contato e proximidade.
Os dois esto sempre s turras, e a situao pio-
ra quando o paciente est na iminncia de uma
crise. Nesses momentos, invariavelmente, ele
encaminhado para internao por ela ou por Ju-
venal, o que acabou se tornando algo freqente
em seu cotidiano.
Por conta de todas essas questes ilustrativas
da grave precariedade social a que Emerson esta-
va exposto, em meados de 2004, ele foi selecio-
nado para participar das atividades desenvolvidas
pelo Programa de Intensifcao de Cuidados a
Pacientes Psicticos. O acompanhamento do caso
durou cerca de cinco meses com uma dupla de
estagirios, at que os presentes estagirios assu-
missem o caso, dessa vez por aproximadamente
nove meses.
4- O processo de vinculao de Emerson ao
Programa
No incio do acompanhamento, a maior parte
das visitas a Emerson era feita em hospitais psi-
quitricos onde ele estava internado. Nos raros
momentos em que o paciente era encontrado em
casa, tratava os estagirios ora de forma agres-
siva e hostil ora como se, de fato, necessitasse
de sua presena, expressando, assim, a coexis-
tncia de autismo e simbiose na relao vincular.
Ao mesmo tempo em que ele se mantinha dis-
tante, tentando impedir uma aproximao dos
responsveis pelo caso, estabelecia outro tipo de
vnculo, em que fazia destes depositrios de uma
intensa projeo, visando um vnculo simbitico
que tambm lhe era necessrio ou imprescindvel
(BLEGER, 1977). Nesse sentido, vale salientar que
o papel de depositrio exercido pelos estagirios
aponta para a possibilidade de que o sujeito in-
tegre suas vivncias no tempo e, desse modo, re-
signifque-as.
Eram comuns as brigas e discusses entre
Emerson e Joana, assim como ameaas inte-
gridade fsica dos estagirios, o que corroborava
sua difculdade de vinculao aos mesmos. Alm
disso, outro obstculo aproximao dos esta-
girios dizia respeito ao fato de Joana, quando
ia se ausentar de casa, manter sempre Emerson
trancado.
O paciente costumava escrever histrias com
temas dos mais diversifcados possveis: desde ter-
ror e Segunda Guerra, que tambm serviam de
fonte inspiradora para seus delrios, at temticas
buclicas e infantis. As construes delirantes gira-
vam em torno de sentimentos de perseguio, em
geral, relacionados a soldados e policiais que o
ameaavam, bem como aos estagirios, demons-
trando que, para o sujeito psictico, a lei surge
sempre como persecutria (LOBOSQUE, 2001).
Est presente de forma atormentadora, mas numa
posio constante de exterioridade, visto que, na
197
prpria estruturao de tal arranjo psquico, a lei
no inscrita no registro simblico, permanecen-
do como uma presena exterior.
Durante o perodo inicial de acompanhamen-
to, os dilogos entre os estagirios e Emerson
eram travados com a porta da casa servindo de
intermediria, o que difcultava uma maior apro-
ximao dele e do caso, de modo geral. Com o
passar do tempo, houve a percepo de que era
necessrio estabelecer algum tipo de relao com
Joana, pois, do contrrio, Emerson permaneceria
trancado em casa quando ela estivesse ausente.
Inicialmente, os contatos com Joana eram es-
tabelecidos nas proximidades de onde morava.
Ela sempre tratava os estagirios de forma seca
e hostil, questionando o porqu de estarem ali e
se o trabalho que realizavam daria, de fato, al-
gum resultado. medida que o tempo foi pas-
sando, foi-se percebendo que era importante es-
cutar mais Joana, compartilhar de seu sofrimento
e suas angstias, no mais centrando a ateno
apenas em seu irmo, mas dividindo-a com ela.
Quando um membro de uma famlia enlouque-
ce, isto perturba seriamente o grupo familiar; com
certeza, a famlia precisa de apoio e auxlio para
lidar com esta perturbao (LOBOSQUE, 2001).
Aos poucos, Joana foi se tornando mais fexvel
no s na relao com os estagirios como em
seu relacionamento com o irmo.
Cuidar de Joana acabou se tornando uma es-
tratgia para cuidar do prprio Emerson, uma vez
que as precrias condies que afetavam-no tam-
bm eram prejudiciais a ela, e isso no poderia ser
ignorado durante o acompanhamento do caso.
Desenvolver uma vinculao com Joana facilitou
o estabelecimento de um vnculo com Emerson
que, no perodo inicial do acompanhamento,
tambm tratava os estagirios de forma agressiva
e ameaadora, questionando, a todo momento,
o papel que ali ocupavam. A insistncia da pre-
sena dos Ats sustentava-se na idia de que era
necessrio entrar em contato com as angstias do
paciente, atravs de uma atitude emptica, para
que fosse possvel uma efetiva aproximao, tanto
fsica como afetivamente (BARRETTO, 2000).
Vale salientar que, mesmo tendo sido facilitado
o acesso aos dois, as difculdades com o caso
persistiram, visto que a crena de que o interna-
mento era a nica soluo para seus problemas j
estava enraizada na famlia. Sem falar que, para
Emerson, o hospital psiquitrico constitua um re-
fgio. L, alm da possibilidade de se alimentar e
higienizar, ele se sentia til, auxiliando os profs-
sionais do local em tarefas rotineiras como forrar
as camas e limpar os banheiros. Tambm digno
de nota o escambo realizado por Emerson com os
demais internos, que era mais um elemento sus-
tentador de sua presena naquela instituio.
Apesar de todas essas aparentes vantagens,
no se pode fechar os olhos para as condies
sub-humanas a que os pacientes psiquitricos
esto submetidos nos manicmios, locais de vio-
lncia, superlotao, abandono, desvalorizao
do sujeito, que foram e continuam sendo alvo de
denncias. No caso de Emerson, principalmente,
as freqentes internaes contribuam no ape-
nas para intensifcar seu isolamento social, como
difcultavam seu posterior retorno comunidade
198
e a criao de vias alternativas ao manicmio que
dessem sentido a sua existncia.
5- A ampliao das redes de suporte social
No decorrer do acompanhamento, foi-se no-
tando que a forma mais efcaz de quebrar o ciclo
de internaes vivenciado por Emerson seria ofe-
recer a ele uma outra possibilidade de existncia,
longe dos hospitais psiquitricos. Para tanto, co-
meou-se a pensar em inseri-lo num CAPS. Esta
idia baseou-se na necessidade de que o pacien-
te fosse acolhido em um espao articulador de
uma rede social de cuidados, que promovesse
sua integrao comunitria e familiar, ao passo
que estimulasse suas iniciativas em busca de au-
tonomia.
Os CAPS constituem uma tentativa de substi-
tuio do modelo hospitalocntrico, como com-
ponentes estratgicos de uma poltica destinada
a diminuir a signifcativa lacuna assistencial que
ainda persiste no atendimento a pacientes com
transtornos mentais graves. As prticas realizadas
nessas instituies ocorrem em ambientes aber-
tos e acolhedores, inseridos na cidade, no bairro.
Seus projetos, muitas vezes, ultrapassam a pr-
pria estrutura fsica, em busca da rede de suporte
social, potencializadora de suas aes, preocu-
pando-se com o sujeito e sua singularidade, sua
histria, cultura e vida cotidiana (Ministrio da
Sade, 2004).
Diante da identifcao de que inserir Emerson
nessa perspectiva de servio substitutivo seria fun-
damental para ampliar sua rede de suporte social,
passou-se a intensifcar os cuidados com o pa-
ciente, por meio de um incremento na freqncia
das visitas domiciliares, uma vez que, para inse-
ri-lo em tal servio, seria preciso, primeiramente,
mant-lo fora do hospital psiquitrico.
O trabalho de convencimento para a plena
capacidade de Emerson ter uma vida digna fora
do internamento foi sendo desenvolvido grada-
tivamente, tanto com ele, como com Joana e o
entorno social em que viviam. O uso correto da
medicao passou a ser incentivado, tendo em
vista que o paciente ou tomava os remdios de
forma equivocada ou se desfazia deles na expec-
tativa de que fosse internado. Passou-se a orientar
Joana quanto aos efeitos da ausncia de medi-
cao, fazendo-a discriminar os comportamentos
que Emerson manifestava quando a usava corre-
tamente daqueles que emitia quando no a usa-
va. Alm disso, buscou-se trabalhar a relao dos
dois, uma vez que os desentendimentos entre eles
sempre haviam constitudo motivos sufcientes
para Joana intern-lo.
Numa ocasio, samos com ele para conver-
sar com o dono de um estabelecimento no qual
Emerson tinha demonstrado interesse em traba-
lhar. Tratava-se de uma ocupao de carregador
de sacos de arroz numa cerealista. Nessa opor-
tunidade, pde-se, a partir da posio que sus-
tentamos, dar validade ao desejo do paciente e
amenizar o embarao que a postura e expresso
de Emerson causava no responsvel pelo estabe-
lecimento e at em ns mesmas.
No decorrer do percurso, a idia de encontrar
um emprego para o paciente acabou no indo
199
avante, pois ele carecia de maior preparo para
encarar um projeto de tal magnitude. Nesse per-
odo, as crises de Emerson no cessaram, e as vi-
sitas domiciliares passaram a ser dirias. A seguir,
sero detalhadas situaes especfcas, ocorridas
dentro do espao de tempo de cerca de uma se-
mana, que ilustram momentos de crise do pacien-
te e como se deu o manejo teraputico do caso
nessa conjuntura.
Numa ocasio especfca, quando os estagi-
rios chegaram, o paciente estava bastante agi-
tado e agressivo. Mandou que fossem embora e
saiu andando pela rua. Os estagirios, aps um
breve momento de indeciso, resolveram segu-lo,
chamando por seu nome. Quando, fnalmente, o
paciente decidiu parar, pde-se iniciar uma co-
municao com ele. A disponibilidade e frmeza
demonstradas pelos estagirios fzeram com que,
aos poucos, Emerson fosse fcando mais calmo e
passasse a aceitar interagir com eles. Nesse epi-
sdio, fcou claro que um elo estava comeando
a ser constitudo entre o paciente e os estagirios,
ratifcando o poder do vnculo social como ele-
mento fundamental da continncia psquica.
No dia seguinte, os responsveis pelo caso re-
tornaram casa de Emerson, cujo quadro no
havia se alterado. Aps vrios chamamentos, o
paciente saiu, abruptamente, de casa, com um
grande pedao de madeira nas mos. Avanou
contra um dos estagirios, empurrando-o e ame-
aando-o e, em seguida, fez o mesmo com o ou-
tro, retornando para dentro de casa e fechando
a porta. Aps se refazerem do susto, os estagi-
rios resolveram esperar um pouco para tomar
uma deciso quanto melhor estratgia a ser
adotada naquela situao, levando em conta a
grande possibilidade de o paciente ser internado
pela irm ou mesmo por algum vizinho se fosse
encontrado naquele estado.
A primeira ttica foi acionar o SAMU (Servio
de Atendimento Mvel de Urgncia) para que
Emerson pudesse ser levado a alguma emergn-
cia psiquitrica e, ento, medicado. Aps mais
de trs horas de espera, os estagirios resolveram
contatar a equipe do CAPS mais prximo, como
forma tambm de diluir a depositao vincular
macia que o paciente estava realizando sobre
eles. Alm disso, buscava-se contribuir para que
se formasse um elo inaugural com aquela insti-
tuio, ampliando as redes de suporte social de
Emerson. Dois funcionrios do CAPS, um auxiliar
de servios gerais e uma enfermeira, acompanha-
ram os estagirios casa do paciente, levando
medicao injetvel. Depois de muita insistncia
para que Emerson aceitasse tomar a medicao,
os estagirios acabaram sendo vencidos pelo
cansao e decidiram, aps mais uma porta na
cara, retornar no dia seguinte.
Nessa nova tentativa, os profssionais do CAPS
acompanharam os estagirios levando a medica-
o em forma de comprimido, pelo fato de se ter
concludo que, assim, seria mais provvel que o
paciente aceitasse tom-la. Depois de muita ne-
gociao, Emerson cedeu.
O CAPS ainda precisou ser acionado algumas
vezes antes que o paciente passasse a freqen-
t-lo. Sua insero naquele servio foi difcultada
no apenas por ele se opor a essa nova forma de
200
cuidado, mesmo antes de conhec-la, como por
alguns entraves institucionais.
Era muito difcil fazer com que o paciente acei-
tasse ir ao CAPS, e, no dia em que se conseguiu
lev-lo at l, no havia profssionais disponveis
para fazer o acolhimento. Quando, fnalmente,
Emerson foi entrevistado, outros obstculos se so-
brepuseram. A equipe da instituio no pde se
reunir na semana prevista para discutir os casos
que seriam admitidos, e o paciente no pde fre-
qentar o CAPS antes que isso fosse feito. Tal fato,
de certo, contribuiu para a posterior difculdade
de vinculao de Emerson quele estabelecimen-
to.
Alm disso, havia uma espcie de mal-estar
causado pela presena dos estagirios na insti-
tuio. Era como se houvesse uma disputa tcita
pelo controle do cuidado com o paciente, que,
com o passar do tempo e as tentativas de esclare-
cimento dos papis que cabiam a cada uma das
partes, foi sendo amenizada.
Com a admisso de Emerson no CAPS, a atu-
ao dos estagirios passou a ser pautada na
tentativa de tornar aquela instituio um espao
de referncia para ele. As visitas domiciliares con-
tinuaram, e o acompanhamento paralelo Joana
tambm.
6- Consideraes fnais
Durante o acompanhamento do caso, pde-
se perceber que, apesar de o vnculo de Emerson
com o CAPS no ter sido to fortalecido quanto
necessrio para sua continncia psquica e social,
investir ativamente na ateno ao paciente e ao
caso, de modo geral, ocasionou mudanas nas
formas de vinculao social de Emerson. As in-
ternaes, antes freqentes, sofreram signifcativa
reduo, ao passo que sua relao com a irm
melhorou sensivelmente no que tange aos cuida-
dos que um passou a ter em relao ao outro e
ao companheirismo que surgiu entre eles.
Evidencia-se, assim, a importncia da intensif-
cao de cuidados como dispositivo essencial no
trato com o paciente psictico, tendo em vista as
graves ressonncias sociais que a loucura pode
gerar no seio da sociedade, comunidade, bairro,
ncleo familiar. preciso, sem dvida, apostar no
vnculo e, antes de qualquer coisa, trabalhar de
forma ativa para favorecer sua constituio e for-
talecimento. No caso apresentado, tornou-se fa-
grante a concepo de que, para ser cuidado, o
paciente pode e deve permanecer imerso em sua
comunidade, uma vez que a recluso em hospi-
tais psiquitricos s contribui para fragilizar os j
to vulnerveis laos sociais desse sujeito.
Outra questo que fcou patente durante o
acompanhamento do caso diz respeito aos desa-
fos impostos pela aproximao com a pobreza e
todas as repercusses que ela pode gerar no psi-
quismo do sujeito. De fato, os bancos das univer-
sidades ainda no nos preparam para lidar com
as classes menos favorecidas e com as diferen-
as culturais que a convivncia com esse tipo de
clientela faz aforarem. Afnal, onde que se re-
aliza a vida social do pessoal de classe baixa ?
na rua. Onde que se do as trocas, onde que
as pessoas enriquecem os seus conhecimentos ?
201
na rua. A possibilidade de refgio no privado, no
particular da classe baixa, muito menor, muito
pequena (Cesarino, 1991).
Ao contrrio do que se costuma dizer em al-
gumas situaes, o sujeito psictico no fca ou
est em crise, mas a expresso da crise do ide-
al, do ideal do homem contemporneo, racional,
autnomo, dono de si. E tratar esse tipo de sujeito
requer muito mais do que sua mera incluso em
servios de assistncia ao portador de sofrimento
psquico, que, da forma como vm se confguran-
do, ao menos em algumas instituies do Estado
da Bahia, se constituem numa mera transferncia
de lugar, do hospital psiquitrico, em que o pa-
ciente sofria maus tratos e era obrigado a fcar
internado; para o servio substitutivo, onde h li-
berdade de ir e vir, mas o portador de transtorno
mental continua excludo do convvio social preso
s to propaladas ofcinas teraputicas. premen-
te que, ao tempo em que so constitudos servios
substitutivos em sade mental, sejam construdas
tambm novas formas de lidar com o louco, que
possibilitem seu cabimento no seio da sociedade,
sua real insero social.
Vale salientar, ainda, a importncia da arti-
culao dos servios de atendimento em sade
mental como forma de ampliar as possibilidades
de cuidado e potencializar os vnculos que do
sustentao ao sujeito na sociedade. A criao
de dispositivos coletivos de acolhimento e convi-
vncia que grupalizem no apenas os sujeitos
como seus familiares contribui signifcativamente
para a auto-regulao e autonomia desses indi-
vduos.
Por fm, compete valorizar a ateno domi-
ciliar como dispositivo essencial no trato com a
loucura, principalmente quando se consideram as
grandes possibilidades de trocas sociais e afeti-
vas que os profssionais de sade mental podem
intermediar entre os pacientes e os membros da
comunidade.
Referncias
BLEGER, J. Simbiose e Ambigidade. Rio de Janeiro: F.
Alves, 1977.
CASTORIADIS, C. A construo do mundo na psicose.
In: Feito e a ser Feito. Rio de Janeiro: DP & A, 1999.
EQUIPE DO HOSPITAL DIA A CASA. A Rua como espa-
o clnico. So Paulo: Escuta, 1991.
LOBOSQUE, A.M. Experincias da Loucura. Rio de Ja-
neiro: Garamond, 2001.
PICHON RIVIRE, E. Vnculo e teoria dos trs D (depo-
sitante, depositrio e depositado). Papel e Status. In: Teoria
do Vnculo. 6 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
202
Resumo: A Reforma Psiquitrica possibilitou o
surgimento de novas clnicas que buscam aten-
dimento alternativo aos manicmios. O Acom-
panhamento Teraputico (AT) uma prtica que
coopera com essas diretrizes da reforma. Nesta
prtica, exposies do prossional a afetaes
que ultrapassam o enquadre teraputico produ-
zem algumas questes entre o acompanhante e
paciente, como que relao essa?. A relao
se baseia no vnculo e coloca o prossional em
situaes intimistas de mo dupla, adquirindo teor
afetivo e prossional, como uma espcie de ami-
zade poltica.
Acompanhamento Teraputico: Que relao essa?
D
e acordo com as diretrizes da Reforma Psi-
quitrica em busca de um atendimento mais
humanizado os pacientes psiquitricos, especial-
mente psicticos, novas clnicas se fazem neces-
srias. Uma delas foi utilizada pela autora em sua
prtica clnica e serviu de base para a cons-
truo deste artigo e engloba algumas tcnicas
(acompanhamento teraputico, visitas domicilia-
res, terapia ocupacional, formao de grupos,
etc.) com fnalidade de oferecer um atendimento
integral, intensifcando o cuidado e fornecendo
uma nova forma de atendimento que no seja a
manicomial.
Dentro das tcnicas utilizadas neste tipo de
atendimento, destaca-se a prtica do Acompa-
nhamento Teraputico (AT). Ela ocorre no espao
extra-muros por meio de visitas domiciliares aos
pacientes, permitindo a entrada em contato com
seu meio particular, passeios com eles, interven-
es nas relaes familiares e atuao junto co-
munidade.
*Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
Maria Clara Guimares*
203
No formato desta prtica, as relaes vincu-
lares se estabelecem de forma particular, em que
profssional e paciente afetam-se mutuamente.
Diante disso, algumas dvidas surgem: que tipo
de relao essa que se estabelece com o pa-
ciente? At que ponto essa relao no ultrapassa
a relao teraputico-profssional? Ela no pode
se tornar uma relao de amizade? No ser um
misto de profssionalismo e amizade?
Questionamentos como esses atingem espe-
cialmente iniciantes. No h regra que direcione
as aes de um acompanhante teraputico. Ela
parte de sua sensibilidade e olhar teraputico. D-
vidas como essas afetam a relao e o modo de
interveno. Este artigo busca refetir e responder
como essa questo pode ser gerada e afetar a in-
terveno. No caso clnico que ser apresentado,
a questo levantada tem um recorte que gira em
torno de uma relao profssional e de amizade.
Sobre relaes vinculares:
como se estabelecem?
Dentro da relao AT e paciente, o mecanismo
que viabiliza uma ao teraputica o vnculo.
Uma vez constitudo, o paciente torna-se aberto
a intervenes, bem como passa a confar no te-
rapeuta.
O vnculo se estabelece com o tempo, aps
algumas provas de que o profssional conf-
vel, de que no vai sumir da vida do paciente de
uma hora para outra, quando testes de seu amor
(interesse) por ele j foram realizados e compro-
vados.
Para conquistar essa confana, o terapeuta
deve passar por esses testes e ter uma postura
desapreensiva, sendo capaz de aceitar qualquer
coisa que o paciente deposite nele seja boa ou
m, materna ou paterna, feminina ou masculina,
etc. (PICHON-RIVIERE, 1998, p. 110).
Em alguns momentos, o AT no consegue apre-
sentar esta postura, afetando-se com as transfe-
rncias que so trazidas pelo paciente, tais como:
as transferncias maternas, de namoradas (os), de
amigos (as) etc. Como lidar com elas? Como tor-
n-las teraputicas?
So questes que permeiam os iniciantes de AT
e que abrem espao para uma formao vincular
particularizada em cada caso de acordo com a
transferncia e a postura assumida pelo AT.
Quanto amizade: como se d?
Em muitos casos de Acompanhamento Tera-
putico, observa-se o estabelecimento de uma
relao de amizade. Que amizade essa? Ser
uma relao de igualdade? H trocas mtuas?
Ter um sentimento de irmandade? Como ser
esta relao?
O AT um profssional com uma equipe de
apoio que possui um suporte terico sustentador
desta atividade e das propostas de interveno.
H um objetivo nessa relao que direciona o
acompanhante. A relao oferecida pelo AT
assimtrica; ele quem direciona as atividades
apesar de acordar com o paciente as aes que
sero desenvolvidas.
Quanto s trocas, elas existem, mas no so o
204
foco da relao entre AT e paciente. Elas ocorrem,
independentemente, a partir das afetaes ocorri-
das e das questes que paciente e acompanhan-
te provocam entre si. De qualquer forma, no
uma troca igualitria, afnal a disponibilidade do
AT para o paciente o que existe; o contrrio no
se espera.
Diante de aspectos da postura de um AT, no
parece estranho que os pacientes o tomem, mini-
mamente, como um amigo, como aquela pes-
soa com quem podem contar, como um irmo
para toda hora.
No entanto no apenas um sentimento frater-
no que gerado; a alteridade ocorre. esperado
pelo AT que este sentimento seja despertado no
paciente independentemente do que ocorra na
relao. A alteridade um mecanismo que se usa
na clnica como meio de interveno e que no
pode ser controlado, ocorrendo espontaneamen-
te. Afnal o acompanhante uma pessoa diferente
do paciente; h uma estranheza que causada
reciprocamente. Quando o vnculo estabeleci-
do, toda essa disparidade aceita por ambos, os
abalos e a desestruturao causados pelo dife-
rente so acolhidos.
Na relao entre AT e paciente, um misto de
sentimentos pode ser gerado. A prpria postura
do profssional promove muitos sentimentos, ques-
tes e abalos. As reaes que o acompanhante
assume diante de tais produes o que confgu-
ra a relao. Dentre essas produes, observa-se
uma maior freqncia na construo da amiza-
de, seja ela permeada por sentimentos fraternos
seja pela alteridade em todos os envolvidos na
relao.
Resultados e discusses
Caso: uma relao teraputico-profssional e
de amizade.
Alguns pacientes do PIC foram acompanhados
pela autora. Dentre eles, um caso foi escolhido
para ser discutido e refetido. Os demais tambm
so igualmente importantes, contudo no so to
afns ao tema quanto este. importante salientar
que um recorte ser dado, deixando para outro
momento informaes que tambm mereceriam
destaque. Portanto informaes quanto ao vncu-
lo e formao da amizade sero focadas e discu-
tidas.
A dupla que atendia anteriormente este caso
j havia comunicado da mudana de terapeutas.
No dia marcado, meu colega e eu fomos apre-
sentados a Carlos (nome fctcio do paciente) e a
sua famlia. Foi afrmado que ns, a nova dupla,
iramos atend-lo a partir do prximo ms e que
nas semanas seguintes participaramos das visitas
juntamente aos antigos terapeutas.
Conhecemos Carlos na casa de sua av. Ape-
sar de morar com a me, prximo dali, ele passa
muitas tardes com a av. Ela [me] sempre larga
ele aqui pra ir igreja., nos conta a av. Ela
no deixa ele l, porque ele sai e deixa a casa
sozinha e aberta ... perigoso, n? Ladro pode
entrar ....
Na casa da av, moram um tio, duas tias com
os maridos e primos de Carlos. Ele tambm tem
um irmo e uma irm que j so independentes
205
e moram prximos dali, cada um em sua casa.
Seu pai mora longe e tem outra famlia. A rede
de apoio de Carlos se resume av, me e ao
pai, eventualmente, quando Carlos vai visit-lo.
No entanto a av muito idosa, queria poder
ajudar mais conta ela, j a me vive ameaando
internar Carlos, dizendo para ele e todos ouvirem
No agento mais Carlos!! Qualquer dia des-
ses, interno ele!. A famlia o enxerga como um
peso que no querem ter.
Apesar de sua educao em nos receber, Car-
los no interagia conosco. O dilogo era quase
inexistente, ele mostrava-se incomodado com a
nossa presena, demonstrando uma ansiedade
bem evidente. No parava um segundo, andando
de um lado para o outro da sala. s vezes, saa
sem falar nada, sumindo por minutos ou meia
hora, depois voltava com um cigarro na mo ou
pedindo um para algum da famlia. Quando
no conseguia cigarro e ningum dava dinheiro
para ele comprar, dava uns tragos no charuto
da av.
O nvel de ansiedade foi aumentando com o
passar das visitas, at que chegou num ponto em
que ele foi se tornando agressivo frente aos fami-
liares e principalmente conosco. Um dia, Carlos
no quis nos receber, pedindo para que a me
no abrisse a porta para a gente e ameaando
jogar gua em ns. Conversamos com a me
dele ali mesmo, na porta, com a grade fechada.
Ouvimos suas queixas e intolerncia com Carlos,
tentamos dar apoio a ela para que segurasse o
momento e no o internasse.
Na visita seguinte, a agressividade de Carlos
foi mais intensa e direta, recebendo-nos com um
cabo de vassoura na mo levantado para o alto e
gritando aqui no entra ningum no, s famlia
e amigo. O clima fcou muito tenso, a famlia
intervindo para que nossa entrada fosse permiti-
da, at que a av, com autoridade, afrmou que
a casa era dela e permitiu nossa entrada. Mes-
mo contra sua vontade, Carlos respeitou a deci-
so. No conseguimos nada alm disso e fomos
embora em seguida. Aps isso, soubemos que o
paciente havia sido internado no sanatrio So
Paulo (prximo dali) devido a uma briga que tive-
ra com a me no fm de semana.
Durante o perodo em que fcou internado,
Carlos construiu o vnculo conosco. Este vnculo
ocorreu quando nos mostramos abertos a ele e
dispostos a ajud-lo no que ele precisava; mo-
mento em que a famlia, inclusive a me dele,
desapareceu. A ento vi que vocs eram meus
amigos, afrma Carlos. Foi o momento que o
apoiamos e, em seguida, cobramos esse papel
da famlia. Depois disso, ele gravou nossos no-
mes e no mais esqueceu. Nossas fguras fsicas
passaram a ser semelhantes com outras que ele
conhecia. Ele passou a ter ateno quando fal-
vamos, interagindo conosco numa postura mais
afetiva do que meramente formal.
Carlos passou a confar em ns, contando tudo
o que ele pensava: os delrios, as idias de produ-
o artsticas (msicas e poesias) e de engenharia
(o design de skate, de biquni, etc.) de objetos que
passou a desenvolver e construir, entre outros as-
suntos.
Na relao dele com a me, Carlos adotou
206
uma postura mais crtica, menos dependente,
questionando-a com relao ao dinheiro que ela
recebe para sustent-lo (recebe penso do pai
e do governo). Ele passou a exigir da me que
atendesse alguns desejos de consumo seus, como
tnis e skate que queria. A criatividade dele impe-
rava, e a crtica s relaes interpessoais (princi-
palmente familiares) tambm. Considero que sua
vida se tornou mais saudvel e independente.
Consideraes Finais
Observa-se que, no AT, a relao entre profs-
sional e paciente construda a partir dos senti-
mentos e abalos produzidos por ambos. O vnculo
uma conquista do acompanhante que luta por
essa posio de depositrio fel de seu paciente,
passando por todos os testes, inclusive os mais
agressivos, desde esperar um balde dgua na
cabea at uma cadeirada ou paulada caso entre
na casa sem ser convidado, justamente por no
ser da famlia nem amigo.
Tem-se de provar que essa posio de confan-
a ser sustentada independente das intempries
da vida, principalmente as provocadas pelo pr-
prio paciente. A partir do momento em que o AT
conquista isso, a transferncia afetiva do paciente
inevitvel, tornando-se amigo dele, como exem-
plifcado no caso, algum com quem Carlos pas-
sou a esperar por considerar como um irmo,
contando para o que precisar.
Apesar da psicose, o paciente teve cincia das
diferenas entre ns. Inicialmente, estranhamo-
nos em muitos aspectos e nos abalamos; poste-
riormente, houve uma aceitao dessas diferen-
as. Aliado a isso, um sentimento de amizade se
desenvolveu, afetando no somente a Carlos,
mas a ns tambm. Nossos sentimentos para com
ele no foram num grau que poderia considerar
amizade fraterna, mas uma afetividade de cuida-
do desigual, como aquele que responsvel pela
relao e bem estar do outro (em certa medida).
A relao construda tinha um intuito teraputi-
co, uma fnalidade de promover qualidade de vida
a Carlos. Aps a construo do vnculo, nossas
intervenes passaram a surtir maior efeito, o pa-
ciente tornou-se mais crtico e independente. Isso
se deve no somente amizade que se desenvol-
veu, mas tambm alteridade que foi produzida
nele pela nossa presena, nossas diferenas.
Passado esse momento de estabelecimento do
vnculo e de confgurao do formato do relacio-
namento, o profssional pode fcar confuso de que
relao essa. Afnal, ela torna-se extremamente
intimista. No se deve nunca esquecer do pr-
prio papel, a fm de promover um avano na vida
do paciente, mantendo-se numa postura profs-
sional. No entanto no h como no se afetar
com o paciente e sentir-se mais prximo, como
um cmplice dele.
Questionei-me se no era outro tipo de rela-
o que havia construdo com Carlos, se era algo
alm de profssionalismo, se ramos alguma es-
pcie de amigos, como uma amizade poltica que
prev assimetria e desigualdade, baseando-se
na alteridade. Contudo observo que a alteridade
produzida tinha um fm, e era previsto que ocor-
resse dentro dessa nova clnica, como tambm a
207
amizade, o carinho e cuidado que tenho por Car-
los fazem parte da construo vincular que se d
numa mo dupla. A relao profssional sim,
mas tambm tem uma afetividade que ultrapas-
sa os limites de um consultrio, tendo um vis de
amizade, de cuidado, como uma relao profs-
sional e de amizade poltica (afetiva e desigual).
Referncias
ARENDT, H. A condio humana. 10 ed., Rio de Janei-
ro, Forense Universitria, 2005.
BARRETO, K. D. A tica e Tcnica no Acompanhamento
Teraputico: andanas com Dom Quixote e Sancho Pana.
Sobornost e Unimarco, So Paulo, 1998, 212 p.
_______________. Anotaes de aula. Material no-pu-
blicado, Salvador, 2006.
BLEGER, J. Simbiose e ambigidade. Francisco Alves,
Rio de janeiro, 1977, 402 p.
GOMES, L. G. N. Semntica da amizade e suas impli-
caes polticas: familialismo e alteridade entre amigos nas
classes populares. Dissertao de mestrado, rea de con-
centrao: Psicologia Social e do Trabalho, USP, orientador
Nelson da Silva Junior, So Paulo, 2005, 216 p.
MOREIRA, A.; HORA, A. P. M. e GUIMARAES, M. C.
Ateno domiciliar: uma tecnologia de cuidado em sade
mental. In: Revista: In-Tensa Ex Tensa, vol 1, 1 edio,
Salvador, 2006.
OLIVEIRA, M. V. Anotaes de aula. Material no-publi-
cado, Salvador, 2006.
ORTEGA, F. Para uma poltica da amizade: Arendt, Der-
rida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2000.
PICHON-RIVRE, E. Teoria do vnculo. Martins Fontes,
6a ed., So Paulo, 1998.
TAVARES DA SILVA, A. S. A emergncia do acompanha-
mento teraputico: o processo de constituio de uma cl-
nica. Dissertao de mestrado, rea de concentrao: Psi-
cologia Social e Institucional, Programa de Ps-Graduao
em psicologia da UFRGS, orientadora Dra. Rosane Azevedo
Neves da Silva, Porto Alegre, 2005, 144 p.
208
Resumo: Este artigo visa promover um dilogo
entre as diretrizes da Reforma Psiquitrica e o sis-
tema prisional brasileiro. Em decorrncia das ex-
perincias, ao longo do trabalho de intensicao
de cuidados a um paciente que se encontra no
Hospital de Custdia e Tratamento/BA, pudemos
constatar a incompatibilidade entre os princpios
propostos pela Lei 10.216, que vem assegurar os
direitos dos portadores de transtorno mental, e o
atual modelo de assistncia regido pelos saberes
psiquitricos e jurdicos nesta instituio. Sero
abordadas algumas conceituaes da literatura
jurdica criminal que, ao longo do nosso percurso,
tornaram-se necessrias compreenso e conse-
qente interveno nesse caso. Alm de discuti-
las, pretendemos apresentar a idia de como estas
colaboram para a manuteno do aparelhamento
institucional que aprisiona os portadores de sofri-
mento mental, privando-os dos direitos de cida-
dania e convvio social. Ao acompanhar este pa-
ciente, pudemos testemunhar a suposta forma de
tratamento oferecida pela referida instituio que
atua tendo em vista os princpios de alienao e
excluso dos portadores de sofrimento mental em
conito com a lei. Por m, discutiremos a impor-
tncia da intensicao de cuidados em relao
aos pacientes em conito com a lei, como propul-
sora de novas possibilidades referentes a uma as-
sistncia que priorize a cidadania e subjetividade,
apontando para a impossibilidade de conciliar os
princpios da Reforma Psiquitrica e a permann-
cia dos loucos atrs dos muros. Esta proposta de
cuidado intensivo aos loucos infratores aposta na
substituio das barreiras (dos muros) pelo vncu-
lo, sendo este ltimo aqui compreendido como
uma ferramenta de trabalho que permite uma in-
terveno no cotidiano do sujeito, considerando
suas necessidades, sua histria e a cultura na qual
est inserido.
Uma Breve Apresentao
O
objetivo deste artigo promover um di-
logo entre as diretrizes da Reforma Psiqui-
Derrubando Muros, Construindo Vnculos:
Intensicao de Cuidados no HCT/BA
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
***Estudante do curso de Psicologia (UFBA) e estagiria do PIC
Carolina Brando Vieira Lima*
Larisa Andrade e Castro**
Tatiana Lacerda Medeiros***
209
trica e o sistema prisional brasileiro que aprisio-
na os portadores de sofrimento/transtorno mental
em confito com a lei. Em decorrncia das nossas
experincias, ao longo do trabalho de intensifca-
o de cuidados a um paciente que se encontra
em tratamento no Hospital de Custdia e Tra-
tamento, localizado na cidade de Salvador - BA,
pudemos constatar a incompatibilidade entre os
princpios propostos pela Lei 10.216, que vem as-
segurar os direitos dos portadores de transtorno
mental, e o atual modelo de assistncia regido
pelos saberes psiquitricos e jurdicos.
Pretendemos abordar algumas conceituaes
da literatura jurdica criminal que, ao longo do
nosso percurso, se tornaram necessrias com-
preenso e conseqente interveno no caso. Os
conceitos que sero desenvolvidos posteriormente
- medida de segurana, periculosidade, imputa-
bilidade e inimputabilidade - colaboram para a
manuteno do aparelhamento institucional que
confna e segrega grande nmero de portadores
de sofrimento mental infratores, privando-os dos
direitos de cidadania e convvio social.
Torna-se relevante trazer a nossa experincia
enquanto cuidadoras de um sujeito que, desde a
sua entrada no HCT, vivencia situaes cotidianas
de opresso impostas pela normatizao inerente
a este sistema manicomial. Assim, pudemos teste-
munhar a suposta forma de tratamento oferecida
pela instituio que, mesmo tendo o seu nome re-
formulado de Manicmio Judicirio para Hospital
de Custdia e Tratamento, segue atuando a partir
dos mesmos princpios: alienao e excluso dos
sujeitos.
Por fm, discutiremos a importncia da intensi-
fcao de cuidados em relao a estes sujeitos,
como propulsora de novas possibilidades referen-
tes a uma assistncia que priorize a cidadania e
a subjetividade; subjetividade compreendida aqui
enquanto um conceito que abarca a ordem dos
afetos, ou seja, o afetar e ser afetado. Assim, po-
deremos concluir, diante do exposto, a impossibi-
lidade de conciliao entre tais perspectivas e a
permanncia dos loucos atrs dos muros.
Quem est atrs dos muros...
O paciente aqui referido vem sendo acompa-
nhado desde 2004 pelo Programa de Intensifca-
o de Cuidados para psicticos (PIC) enquanto
ainda estava em liberdade, morando com a sua
av materna. N. ingressou no PIC por ter sido
internado trs vezes em hospitais psiquitricos e
necessitar de cuidados intensivos. A famlia rela-
ta que, ainda quando trabalhava, N. apresentou
comportamentos que provocaram a interrupo
de suas atividades. Com a permanncia desta
condio, a me deu entrada na aposentadoria
por invalidez junto ao INSS, buscando a curatela
para o flho.
Desde o incio do acompanhamento, o PIC ti-
nha conhecimento de que N., antes da mudana
de bairro, tinha sido surpreendido por policiais
que o levaram a um mdulo policial e posterior-
mente para uma delegacia onde fora acusado de
ter cometido um crime pelo qual responde at o
presente momento. Durante o perodo que ante-
cedeu a sentena, a justia solicitou um laudo psi-
210
quitrico, realizado no manicmio judicirio, no
qual o paciente no foi considerado um portador
de sofrimento mental, o que acarretou no seu jul-
gamento como imputvel responsvel pelos seus
atos no momento do delito sendo assim conde-
nado a uma pena privativa de liberdade. Aps
o habeas-corpus, solicitado por uma advogada
contratada pela famlia, N. foi solto e mudou-se
para outro bairro. No entanto, segundo a famlia
e o prprio sujeito, a advogada no acompanhou
devidamente o caso, tendo ocorrido o julgamento
revelia.
N. s teve conhecimento da sua sentena
quando foi abordado no mesmo dia em que ha-
via ido ao Frum para ser avaliado a respeito da
sua curatela. Nesta ocasio, foi levado Polinter
e tratado como um fugitivo da justia, mesmo sob
as contestaes da me que afrmava ter informa-
do a mudana de endereo. Aps um perodo,
foi conduzido Penitenciria Lemos Brito, onde
permaneceu por seis meses, sendo acompanhado
ainda de forma mais intensiva pelas estagirias. Ao
longo desses meses, observou-se o agravamento
do quadro psiquitrico do paciente, necessitando
uma interveno ativa das estagirias, famlia e
alguns funcionrios da penitenciria mobilizados
com a situao. Estava evidente que aquele local
no era o mais adequado para um portador de
sofrimento mental cumprir sua pena, j que, nos
seus ltimos dias neste local, o paciente, que es-
tava desorganizado, foi colocado em uma soli-
tria com a justifcativa institucional de proteger
N. e os outros detentos. Procurou-se uma trans-
ferncia imediata para o HCT, local considerado
mais adequado, nas atuais condies e dentro
das possibilidades de assistncia a estes sujeitos
na cidade de Salvador, para acolher o paciente.
Desde agosto de 2005, ele est na referida
instituio, sendo possvel observar melhoras no
seu quadro clnico, em comparao ao tempo
que permaneceu na penitenciria, ainda que te-
nha passado por um perodo de desorganizao
psquica quando completou um ano de interna-
mento no HCT.
Atualmente, o paciente encontra-se organiza-
do psiquicamente e recebe visitas constantes das
estagirias e de sua me. O PIC tem trabalhado
no sentido de possibilitar um acompanhamento
deste paciente em liberdade, a partir do questio-
namento dos modelos de tratamento atuais para
os pacientes com sofrimento mental em confito
com a lei. Recentemente, foi elaborado um novo
laudo psiquitrico pelo diretor do Manicmio Ju-
dicirio, atestando que N. um portador de trans-
torno mental que j deveria estar sendo assistido
em liberdade. O juiz da Vara de Execues Penais
est com o processo em mos e afrmou para as
estagirias que a pena de N. ser, ento, conver-
tida para Medida de Segurana.
Reforma Psiquitrica e Medida de Segurana:
possvel conciliar?
Aps tramitar durante 12 anos no Congresso
Nacional, no ano de 2001 a Lei Paulo Delgado
(Lei Federal 10.216) sancionada no Brasil. Esta
lei se caracteriza pelo redirecionamento da assis-
tncia em sade mental, propondo a construo
211
de uma rede de ateno substitutiva ao modelo
hospitalocntrico reforador da internao em
leitos psiquitricos.
Com a promulgao da referida lei, um novo
ritmo se imps para o processo de Reforma Psi-
quitrica no Brasil, efetivando a curtos passos
a desinstitucionalizao, que vem sendo coloca-
da em prtica pelo desmonte do antigo aparato
institucional e pelo engendramento de um novo
modelo de assistncia de carter extra-hospita-
lar e comunitrio. A partir de ento, lugares de
grande tradio hospitalar vm experimentando a
expanso signifcativa da rede de ateno diria
sade mental. No entanto, possvel constatar
um abismo entre aquilo que foi proposto e o que
foi, de fato, efetivado a partir dos pressupostos da
Lei 10.216.
No que se refere s instituies prisionais res-
ponsveis pelo recolhimento dos loucos infratores
rotuladas de Hospitais de Custdia e Tratamen-
to ainda muito pouco o que se observa em re-
lao ao princpio antimanicomial, disposto no
1 do art. 4 (Lei 10.216), em concordncia com
o direito assegurado ao portador de transtorno
mental no inciso II do Pargrafo nico do art. 2,
que garante o tratamento visando, com fnalidade
permanente, a reinsero social do sujeito, com a
garantia de recuperao junto ao convvio fami-
liar, o trabalho e a livre circulao na comunida-
de. Diante de tal perspectiva, a internao s se
torna admissvel, em consonncia com o art. 4,
na medida em que os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insufcientes para prestao de as-
sistncia integral pessoa portadora de sofrimen-
to mental. Sendo assim, caso a internao, em
quaisquer de suas modalidades, se coloque como
um recurso necessrio em uma situao espec-
fca, no se deve perder de vista que esta deve
ser encarada como uma medida excepcional,
temporria e de curta durao, no intuito de ga-
rantir a continuidade do tratamento, tendo como
perspectiva no o isolamento, mas a permanente
insero social do portador de sofrimento mental
(NETTO & MATTOS, 2004).
Entretanto uma outra realidade se faz presente
nos Hospitais de Custdia e Tratamento, onde se
encontram muitos moradores, com longo per-
odo de permanncia, extrapolando o tempo de
cumprimento da pena. Na realidade, o louco in-
frator corre um grande risco de, ao ser considera-
do inimputvel e conduzido ao Manicmio Judici-
rio para realizar tratamento, cumprir pena em
carter perptuo inconstitucional e viver em
um regime de internao que, alm de compul-
srio, , muitas vezes, sem fm. Entendemos que
esta situao perversa tem sido explicada tanto
pela ausncia de algum que os acolha fora da
instituio (discurso largamente utilizado pela De-
fensoria Pblica), mas tambm atravs de entra-
ves impostos pelo carter subjetivo do conceito de
periculosidade.
A periculosidade compreendida no mbito
da justia penal como o equivalente da culpabi-
lidade em relao s penas privativas de liberda-
de. Enquanto a culpabilidade recai sobre aquele
que agiu por vontade prpria, com capacidade e
conscincia plena para reconhecer a ilicitude de
seu delito, a periculosidade compreende a pr-
212
pria natureza do agente, quando este no apre-
senta a referida capacidade ou no consegue se
desvencilhar da natureza que o conduz ao ato
delituoso.
Dessa forma, apenas atravs da percia psiqui-
trica possvel determinar se o sujeito, plena ou
parcialmente, possui ou no capacidade de com-
preender a ilicitude de seu ato ou de pratic-lo
por sua livre vontade, ou seja, se ele considera-
do inimputvel ou no.
Portanto, a imputabilidade do sujeito pode ser
explicada atravs da compreenso do agente em
perceber o carter ilcito do ato praticado, sendo
considerado responsvel pelo crime cometido e,
s assim, submetido a uma pena. J a inimputa-
bilidade determinada quando o agente inter-
pretado como incapaz de entendimento e de au-
todeterminao, no ato da prtica delituosa, por
conta de doena mental, desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, sendo considerado pe-
rigoso e irresponsvel, e assim submetido a uma
medida de tratamento, ou seja, a Medida de Se-
gurana.
Esta ltima pode ser compreendida como re-
curso judicial em que o sujeito considerado inim-
putvel fca detido ou recluso em instituies que
funcionam sob forma de regime fechado, por ofe-
recer perigo a si mesmo e a outrem. Neste sen-
tido, a medida de segurana, segundo Jacobina
(2003), pode ser pensada como:
Um instituto que pune a loucura, sob o funda-
mento, nem sempre explcito, de a desmascarar,
arrancar do ser humano essa doena. E que, de
resto, acaba restringindo a liberdade do portador
da doena, por via de um internamento que, se
no discurso no punitivo, na prtica lhe arranca
a liberdade e a voz. (...) Neste sentido, a medida
de segurana, mais do que uma defesa social,
seria uma paradoxal defesa da pessoa portadora
de doena mental contra a sua prpria loucura.
(p. 21 e 22).
Torna-se claro, ento, que estes princpios (pe-
riculosidade, medida de segurana, imputabilida-
de e inimputabilidade) so manejados de forma
a corroborar e legitimar a excluso social da lou-
cura, tanto por meio do discurso mdico, como
atravs do aparato jurdico. A Psiquiatria se inte-
ressou em trazer para si a responsabilidade pelos
loucos, cerceando, assim, a liberdade dos que
ela considera perigosos para a sociedade afr-
mando ser capaz de reconhec-los. Esta institui-
o emprestou seu modelo de tratamento como
mecanismo de punio ao direito penal, uma vez
que os portadores de sofrimento mental no de-
vem permanecer no manicmio judicirio tempo
sufciente para serem curados, mas sim aquele
que a justia e a psiquiatria impem com base na
sua periculosidade.
A defnio do destino deste louco em confi-
to com a lei se d atravs de parmetros mui-
to questionveis, j que avalia de forma objetiva
ao desconsiderar a amplitude e a subjetividade
relacionadas ao conceito de periculosidade. Af-
nal, admissvel defnir quem oferece perigo ou
no? Para a Psiquiatria possvel: basta avaliar a
condio de sanidade mental, baseando-se nos
seguintes quesitos encontrados nos laudos anexa-
dos aos processos:
213
O sujeito, ao tempo da ao, era portador de
doena mental ou desenvolvimento mental in-
completo ou retardado? No momento do delito
era capaz de discernir inteira ou parcialmente o
carter ilcito do fato? Sendo capaz, poderia se
determinar de acordo com esse entendimento?
Respondendo pergunta que introduziu esta
seo, podemos afrmar que a Medida de Segu-
rana e as diretrizes da Reforma Psiquitrica no
podem caminhar de mos dadas, na medida em
que a primeira deslegitima a noo de cuidado,
insero social, individualidade, livre-arbtrio,
etc., ou seja, os fundamentos norteadores da luta
daqueles que vm construindo uma nova forma
de ateno e cuidado aos sujeitos com sofrimento
mental.
Em tempos de movimento antimanicomial, s
um louco defenderia a internao compulsria
como terapia bastante e sufciente para a rein-
tegrao do inimputvel. No h como ocultar,
portanto, que essa medida no se d em benef-
cio do portador de transtornos mentais, mas que
se d to-somente em benefcio da sociedade que
se considera agredida e ameaada pelo inimpu-
tvel que cometeu um fato descrito pela lei como
tpico. (JACOBINA, 2003, p.91).
As experincias do cuidar entre os muros
Ao nos dispormos a intensifcar os cuidados
a um portador de sofrimento mental em confito
com a lei, nos deparamos com as peculiaridades
dessa ateno, que se torna limitada por estar
sendo realizada em uma instituio que no m-
nimo priva o louco infrator de sua liberdade,
afastando-o do convvio social.
Sentimo-nos aprisionadas, no que se refere
s possibilidades de proporcionar a este sujeito
um contato diferenciado com o outro e com o
mundo, j que atravs da intensifcao de cuida-
dos, possibilitada pelo estabelecimento do vncu-
lo ocasionado pelos alicerces de uma presena,
alicerces de singularidades jamais generalizveis
(ZYGOURIS, 2002, p.11), possvel viabilizar,
alm de uma ressignifcao subjetiva, a amplia-
o da rede social junto com o sujeito.
Os muros nos contm, restringindo a nossa atu-
ao enquanto acompanhantes de uma pessoa
que est privada do direito de ir e vir, logo, este
trabalho torna-se submetido s poucas possibili-
dades oferecidas pelo manicmio. Sendo assim,
o nosso ponto de partida presena enquanto
alteridade o que prevalece como recurso tan-
to no que se refere ao sujeito objeto de cuidado
quanto aos profssionais que fazem parte desta
instituio, no caso aqui tratado, o HCT.
Este sujeito supracitado passa a viver apenas
merc do cotidiano normatizador desta institui-
o, tendo inclusive seu ritmo biolgico alterado
para se enquadrar na rotina imposta. Os horrios
estabelecidos so seguidos de forma rgida por
todos, submetendo esses indivduos a uma padro-
nizao que os aliena enquanto sujeitos constran-
gidos na sua organizao singular da experincia
social. Tomamos como exemplo o horrio fxado
para o jantar: todos os pacientes so chamados
para o refeitrio s 16 horas, j que s 17 horas
eles so recolhidos para as suas respectivas alas,
214
onde so trancafados e de onde s podem sair
no dia seguinte.
H tambm, no que diz respeito ao uso da me-
dicao, uma prescrio quase inquestionvel,
pois, na relao com os profssionais de sade, a
palavra do sujeito no levada em considerao
(ou a ausncia de palavras dos que esto dopa-
dos). No caso dos internos do HCT, a medicao
receitada permanece inalterada por um longo pe-
rodo de tempo, o que questionvel por se tra-
tar de uma instituio com fns teraputicos. Vale
considerar que vivenciamos uma situao na qual
o indivduo apresentava desconforto em relao
ao uso da medicao injetvel, o que s foi rea-
valiado pelas equipes de enfermagem e mdica
aps dez meses.
Outra situao que negligencia a condio de
sujeito a forma de tratamento por parte de al-
guns agentes penitencirios que destratam e mui-
tas vezes humilham os internos, como tem sido
presenciado por ns nas visitas. Entendemos que
existem diversos fatores associados a esta falta
de cuidado como: as vivncias subjetivas destes
profssionais que esto imersos numa sociedade
que julga e desumaniza o louco e, mais ainda, o
louco criminoso, o despreparo no que diz res-
peito formao para exercer uma atividade que
pressupe uma delicadeza na relao com o ou-
tro e a desvalorizao profssional, na medida em
que estes no so reconhecidos socialmente pelo
trabalho que realizam. No entanto, apesar desta
situao ser facilmente observada no HCT, pouco
ou nada tem sido feito para transformar este mo-
delo de ateno.
No meio deste caos, a famlia surgiria como
um sustentculo para estas pessoas, ora permitin-
do a relao destas com a realidade extra-muro,
ora atualizando a sua condio de sujeito social.
Isto pode ser observado claramente no caso que
acompanhamos, onde a presena da famlia, prin-
cipalmente da fgura materna, essencial para
que este indivduo possa suportar a exposio a
tais mecanismos que conduzem a sua anulao
enquanto sujeito. Em um lugar onde manter-se or-
ganizado psiquicamente um desafo permanen-
te, a famlia exerce um papel primordial, porm
no caso do HCT prevalece muito mais a ausncia
do que a presena da mesma.
preciso ousar...
Diante da nossa experincia e do contato com
novos olhares sobre o louco infrator, entendemos
que necessrio devolver-lhe a voz, combater a
excluso e conseqentemente resgatar sua auto-
nomia e dignidade - direito inalienvel de todo
cidado.
Contudo, ao expormos a realidade do HCT,
constatamos que preciso ousar: rompendo com
a lgica segregadora e violenta do manicmio
que invoca com seus muros a ruptura dos laos
de convivncia social. Um modelo que cria uma
instituio para abrigar, em sua maioria, pesso-
as submetidas medida de segurana: (...) um
tratamento cuja alta no se d em razo pura e
simples da recuperao do paciente, mas pela
sua submisso percia da cessao de pericu-
losidade(...) (JACOBINA, 2003, p.90), precisa
215
ser urgentemente reformulado, tendo como nor-
teadores os princpios propostos pela Reforma
Psiquitrica.
Tendo em vista que o isolamento social perdeu
a sua legitimidade legal como uma possvel forma
de tratamento destes sujeitos, torna-se imprescin-
dvel que os profssionais envolvidos com os por-
tadores de sofrimento mental em confito com a
lei estejam dispostos a transformar as prticas at
ento vigentes, em conformidade com um novo
modelo de ateno e cuidado, tendo em vista que
cada sujeito capaz de construir um projeto de
vida com cabimento na sociedade.
A partir da experincia proporcionada pela
participao no Programa de Intensifcao de
Cuidados, onde acompanhamos um paciente que
se encontra no HCT, acreditamos que possvel
vislumbrar novos fazeres que partam das necessi-
dades concretas dos sujeitos sociais.
Com o fm dos muros, o cuidado intensivo a
estes pacientes torna-se uma alternativa interes-
sante, por apostar na substituio das barreiras,
que se sustentam por conferir proteo socie-
dade, pelo vnculo, aqui entendido como uma
ferramenta de trabalho que permite uma inter-
veno no cotidiano do sujeito considerando suas
necessidades, sua histria e a cultura na qual est
inserido.
Referncias
JACOBINA, P. V. Sade Mental e Direito: um dilogo
entre a reforma psiquitrica e o sistema penal. 2003. 99 f.
Monografa (Especializao em Direito Sanitrio) - Faculda-
de de Direito, Universidade de Braslia, Braslia, 2003.
MENEZES, A. L. possvel conciliar as diretrizes da re-
forma psiquitrica ao cumprimento das medidas de segu-
rana? 2006. 109 f. Monografa (Graduao em Direito)
- Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Sal-
vador, 2006.
ZYGOURIS, R. O vnculo indito. So Paulo: Escuta,
2002, 80 p.
216
Resumo: A relao do sujeito com seu prprio
corpo inicia-se e sofre inuncia do outro que o
toca e com quem se relaciona. a partir do olhar
do outro que o sujeito se percebe, relaciona-se
consigo mesmo e com os outros. Na psicose,
existe a impossibilidade de apropriar-se do corpo
com suas marcas singulares, de perceb-lo como
formando certa unicao. Um aspecto que a cl-
nica das psicoses evidencia a freqente relao
de estranhamento que os psicticos mantm com
seu corpo. Pacientes psicticos muitas vezes vem
o corpo de forma fragmentada, o que revelado
inclusive por vontade de modicaes fsicas, uma
vez que, na sua percepo, seria possvel modi-
car a cor a partir de mudanas em partes do cor-
po. Durante o acompanhamento de uma paciente
no Programa de Intensicaes de Cuidados a
Pacientes Psicticos, pde-se observar que esta
paciente psictica expressava grande sofrimento
psquico e angstia advindos do fato de ser negra,
assim como revolta contra aquele ou aqueles que
lhe impunham uma posio inferior devido cor.
A questo racial surgiu como foco de trabalho e
projeto teraputico apenas nos ltimos meses do
acompanhamento, possivelmente, por diculdades
e resistncias pessoais terem ocasionado a acei-
tao tardia do tema como foco do acompanha-
mento. Tais diculdades esto relacionadas com a
questo da suposta neutralidade do branco. Para
os indivduos considerados brancos na sociedade
brasileira, a cor nunca algo a ser questionado e
no se constitui como fonte de discriminao; por-
tanto, no um empecilho para se relacionar.
Vem voc dizer que eu sou preta,
que eu sou a macaca da sala.
Eu pareo urubu ?....
Eu no sou negra, quem negra
aquela prostituta que se vendeu.
A
relao do sujeito com seu prprio corpo ini-
cia-se e sofre infuncia do outro que o toca
e com quem se relaciona. a partir do olhar do
outro que o sujeito se percebe, relaciona-se con-
sigo mesmo e com os outros.
O corpo humano se constitui a partir de um
Psicose Negra: A Imagem de si e a Recusa do Corpo
*Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
*Estudante de Psicologia (UFBA) e ex-estagiria do PIC
Gisele Vieira Dourado Oliveira Lopes*
Mnica Machado de Matos**
217
processo de simbolizao, da inscrio de marcas
deixadas por uma histria, pela constante intera-
o com o Outro, por recortes do desejo. Na psi-
cose, existe a impossibilidade de apropriar-se do
corpo com suas marcas singulares, de perceb-lo
como formando uma certa unifcao (Goidani-
ch, 2003).
De acordo com Goidanich (2003), um aspecto
que a clnica das psicoses evidencia a freqente
relao de estranhamento que os psicticos man-
tm com seu corpo. Relacionam-se com ele como
se fosse um outro, um objeto estranho.
No perodo de crise, os sujeitos psicticos so
quase esmagados pela enxurrada de estmulos
que os afige e sobre a qual no mantm controle
- escutam vozes, vem imagens, sentem empur-
res, belisces e puxes que os dominam total-
mente. Evidencia-se que no h nenhum tipo de
barreira ou censura, nenhum amortecimento para
a torrente de sensaes produzidas e percebidas
pelo sujeito. A alteridade o esmaga, o domina e
aniquila a possibilidade de existir enquanto um
sujeito que impe algum tipo de corte separador
(Goidanich, 2003).
As frases citadas no incio deste trabalho so
de M. uma mulher negra, de 25 anos, classe
mdia, estudante de administrao hoteleira. Na
presena de estagirias do Programa de Intensi-
fcao de Cuidados, durante um surto psictico,
M. expressa seu sofrimento psquico e sua angs-
tia advindos do fato de ser negra, mas tambm
sua revolta contra aquele (ou aqueles) que lhe
impem uma posio inferior devido a sua cor.
Segundo Andrade e Silva (2006), o desenvolvi-
mento do sujeito negro, de sua subjetividade e de
sua identidade, marcado por vivncias sistem-
ticas de discriminao e ofensa em relao a suas
caractersticas tnicas. Essa experincia, por sua
vez, gera uma srie de questes identifcatrias,
a partir das quais o sujeito no pode reconhecer
a si prprio de forma serena e no confituosa, o
que permite produzir tanto o sofrimento quanto
constrangimento da sua expresso subjetiva.
O primeiro surto de M. ocorreu no ltimo ano
da escola. Fora desencadeado aps uma apre-
sentao de trabalho, na qual ela teria que re-
presentar o papel principal numa dana sobre o
Il-Ay, por ser negra. Entretanto, ela foi substitu-
da por uma colega branca que, segundo M., era
mais bonita, prostituta e aidtica. Esta experin-
cia foi muito marcante na vida da paciente.
Andrade e Silva (2006) salientam que a vio-
lncia racial e o sofrimento gerado por esta so
frequentemente relatados por pacientes psiquitri-
cos negros, chegando, em alguns casos, a serem
centrais na construo do delrio. No caso de
M., o sofrimento psquico advindo da sua cor est
sempre presente nas suas falas, no s em mo-
mentos de delrios ou em suas fantasias.
A questo racial bastante forte e presente na
vida da paciente. A cor sempre fonte de ques-
tionamento sobre si mesma e lhe confere uma
aparncia que ela rejeita. M. sente-se inferior, in-
clusive entre seus familiares, por acreditar que
mais escura do que eles. Isso pode interferir no
sentimento de pertena, de fliao e, portanto,
na relao com os outros e na sua auto-estima.
No conseguindo negar sua cor e no poden-
218
do modifc-la, M. encontra meios para no res-
salt-la. Assim, restringe suas atividades no vai
praia, clube ou qualquer lugar que possa bron-
zear a sua pele, evita sair de casa a p ou fcar em
ponto de nibus em horrios em que o sol esteja
muito forte. possvel afrmar que M. organiza
sua vida em funo da preocupao constante
com a sua cor.
Eu prefro fcar assim... amarela.
Em quase todas as visitas, M. observa e nos
questiona sobre a nossa aparncia. Comenta so-
bre nosso cabelo, sobre nosso corpo, repara se
emagrecemos ou se estamos mais bronzeadas.
Voc foi praia?... Voc era mais branqui-
nha.
Na relao da paciente com o prprio corpo,
os aspectos que lhe remetem a sua negritude lhes
so os mais inquietantes.
Estagiria: Voc est sempre preocupada com
sua aparncia....
M.: , Sempre.
Estagiria: O que mais lhe incomoda na sua
aparncia?.
M.: A cor
Estagiria: Por qu?
M.: Porque eu sou negra, n? Na escola di-
ziam que eu era negra. Eu via que tinha diferena.
Os meninos s achavam as brancas bonitas. As
morenas e as negras ningum achava bonita.
Nota-se uma percepo negativa de M. sobre
seu corpo e uma busca constante de transforma-
o. Ao ser questionada sobre seus desejos e pla-
nos para o prximo ano, M. responde:
Quero mudanas! Mudar de casa, de curso,
fazer plstica no nariz, mudar meu cabelo,
meu corpo.
M. expressa, costumeiramente, o desejo de mu-
dar. Desde mudar de curso at mudar a si mesma,
naquilo que a incomoda: a cor e seus traos t-
nicos. Rejeitar em si o que o outros rejeitam nela
promove uma procura constante por meios que
possam torn-la mais aceita socialmente e, por-
tanto, sofrer menos. A forma mais fcil, portanto,
seria adaptar-se ao ideal de beleza branco, so-
cialmente mais aceito e at mesmo cultuado.
Carone (2002), discorrendo sobre o conceito
de ideologia do branqueamento, salienta que tal
conceito pode ser entendido, inicialmente, como
o ideal de clareamento da populao brasileira
resultante da intensa miscigenao entre brancos
e negros no perodo colonial. Entretanto, ressalta
que o branqueamento tambm pode ser entendi-
do como uma presso cultural exercida pela he-
gemonia branca, para que o negro negasse a si
mesmo, no seu corpo e na sua mente, como uma
espcie de condio para se integrar nova
ordem social ps abolio.
Neste sentido, a maioria da populao introje-
219
tou o ideal de branqueamento, o que deixou mar-
cas invisveis no imaginrio e nas representaes
coletivas. Inconscientemente, estas marcas interfe-
rem no processo de construo da identidade do
negro, bem como na formao da auto-estima
geralmente baixa da populao negra e na su-
pervalorizao idealizada da populao branca
(Munanga, 2002).
O ideal do branqueamento constantemente
percebido no discurso de M.:
Eu vou fazer cirurgia no nariz, pra puxar a
cor, quero fcar igual Sandy.
Fazer cirurgia no nariz simboliza o desejo de
branqueamento de M. Na sua percepo, seria
possvel modifcar a cor a partir da modifcao
de partes do corpo, o que revela uma fragmenta-
o do mesmo e um dado real de preocupao
com a sua identidade tnica.
De acordo com ela, as mudanas fsicas (nariz
e cabelo) promoveriam uma melhor auto-estima
uma vez que a aproximariam do ideal de beleza
branco. Assim, haveria tambm uma mudana de
posio, sentida como inferior diante da sua con-
dio esttica.
Durante seis meses acompanhando M., a
questo racial surgiu para ns como foco de tra-
balho e projeto teraputico apenas nos ltimos
meses. A partir de ento, realizou-se uma reviso
dos relatrios de estagirios anteriores que, ape-
sar de citarem o sofrimento psquico de M., no
tiveram como objetivo de trabalho essa questo.
As nossas difculdades e resistncias pessoais em
relao questo racial podem ter ocasionado a
aceitao tardia do tema como foco do acompa-
nhamento.
importante ressaltar duas difculdades encon-
tradas por ns durante esse processo. Uma delas
o fato de sermos estagirias brancas e como
tais, termos herdado a neutralidade do branco.
A nossa cor nunca foi algo a ser questionada por
ns, nunca se constituiu como fonte de discrimi-
nao e, portanto, no um empecilho para nos
relacionarmos.
Silva Bento (2003) ressalta que o branco sem-
pre aparece como modelo universal de humani-
dade, alvo de inveja e desejo dos outros grupos
raciais no brancos. Dessa forma, o foco de dis-
cusso sempre o negro e h um silncio sobre
o branco. Para a autora, parece haver uma es-
pcie de pacto entre os brancos, de no se reco-
nhecerem como parte essencial da permanncia
das desigualdades raciais no Brasil. Assim, evitar
focalizar o branco evitar discutir as diferentes
dimenses de privilgio simblico da brancura.
A outra difculdade encontrada por ns a de
responder as perguntas que M. nos direciona. Ela
nos convoca, costumeiramente, a opinar e dar
respostas sobre ela que possam solucionar suas
demandas, inclusive sobre sua cor.
M.: Eu sou negra, no sou?
O que voc acha?
Quero saber como as pessoas de fora, na rua,
me vem.
220
Esses questionamentos provocam em ns cer-
to desconforto, pois nos levam a indagar sobre
ns mesmas e sobre nossa condio de brancas.
Alm disso, M. constantemente se compara co-
nosco e nos coloca em uma posio superior
a ela, devido a nossa cor, o que aumenta nosso
desconforto.
Aceitar nossa branquitude e as implicaes
culturais, polticas e socioeconmicas de sermos
brancas o primeiro passo para podermos de-
senvolver um bom trabalho com M.
Implicar-nos em estudos e discusses sobre o
tema possibilita a construo de um arcabouo te-
rico que possa embasar uma atuao mais tica
e prxima da realidade de M. Entretanto, tam-
bm uma dvida social, uma vez que o problema
do negro tambm o problema do branco.
Bento (2003) aponta que foi a elite branca bra-
sileira quem criou o problema do negro brasilei-
ro. A primeira fez uma apropriao simblica que
refora o autoconceito do branco e sua (suposta)
supremacia econmica, poltica e social. Alm
disso, construiu um imaginrio negativo sobre o
negro, o que solapa sua identidade racial, dani-
fca sua auto-estima, culpa-o pela discriminao
que sofre e, por fm, justifca as desigualdades ra-
ciais (Santos, 2003, p. 32).
importante salientar que os delrios de M. so-
bre a questo racial so fundamentados em suas
experincias sociais e relaes estabelecidas com
o outro. Supe-se que essas experincias pro-
movam muito sofrimento psquico para ela, bem
como para outros negros, uma vez que, na socie-
dade brasileira, o preconceito constitutivo das
relaes sociais.
O mundo pesa sobre os sujeitos impondo seu
tempo, seu andamento, seu modo de funcionar,
e, com isso, marca o corpo, confgurando gestos,
velocidades, modos de se comportar. (Goidanich,
2003).
Referncias
BENTO, MARIA APARECIDA SILVA, Branqueamento e
Branquitude no Brasil. Psicologia Social do Racismo, estu-
dos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrpo-
les: Vozes, 2003.
CARONE, IRAY. Breve histrico de uma pesquisa psicos-
social sobre a questo racial. Psicologia Social do Racismo,
estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Pe-
trpoles: Vozes, 2003.
MUANGA, KABENGELE. Psicologia Social do Racismo,
estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Pe-
trpoles: Vozes, 2003.
GOIDANICH, MRCIA. Confguraes do corpo nas
psicoses. Psicologia e Sociedade: 15 (2): 65-73, jul.dez.
2003.
ANDRADE, N. C.; SILVA, M. V. O. Violncia Racial: A
Subjetividade em discusso. In: Reprsentatiosn ds Noir(e)s
dans ls pratiques discursives et culturelles em Carabe.Ed.
Victorien Lavou Zoungbo, Marges 29, Universit de Perpig-
nan Via Domitia.
Ressonncias
223
H
avia cerca de quatro meses que ns acom-
panhvamos Alice. O vnculo vinha sendo
construdo e reconstrudo a duras penas: ela no
conseguia compreender como duas pessoas po-
deriam estar ali disponveis para ela sem nenhum
interesse escuso por trs. Sua trajetria de vida
j havia lhe provado que no se deve confar em
ningum. Antes de conhec-la, as nicas informa-
es que tnhamos era de que ela reagia sempre
muito mal presena dos estagirios, alegando
que iriam l vigi-la, investigar alguma coisa er-
rada em sua vida para infigir-lhe algum tipo de
punio.
No entanto, ainda que essa recusa de Alice
em participar do Programa de Intensifcao de
Cuidados j fosse motivo de tenso sufciente, a
informao que mais se destacava para as pes-
soas que me relataram o caso era o fato de ela
ser me. Me de duas crianas pequenas e grvi-
da de um terceiro flho. Essas foram as primeiras
informaes que tive sobre a paciente e, no de-
correr do seu acompanhamento, pude perceber
o quanto a escolha desses dados pelos antigos
estagirios para apresent-la a mim foi revelado-
ra de como Alice se relaciona com o mundo e,
principalmente, de como o mundo - ns, os ou-
tros se relaciona com ela.
A simples presena de Alice nos espaos pelos
quais ela transita j costuma ser o sufciente para
mobilizar as pessoas, no entanto o fato de ser
me emerge sempre como uma espcie de pro-
vocao, algo que gera perplexidade aos olhos
do outro. De fato, ao se impor ao mundo como
mulher e me, ela rompe com o contrato tcito
segundo o qual os papis sociais que lhe so re-
servados devem respeitar os limites impostos pela
sua condio de pobreza e de loucura.
De acordo com a psicanalista argentina Ma-
rie Langer (1981), a sociedade atual se confgu-
ra como anti-instintiva e anti-maternal, na qual o
nascimento de um flho tende a ser visto como
Ela no pode ser me!
Quando maternidade e loucura se cruzam
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
Mariana Carteado*
224
um estorvo econmico-social, e no uma alegria.
A maternidade encarada como um empecilho
para a realizao profssional da mulher, princi-
palmente se essa quiser competir em paridade
com os homens. Ser me implica sempre uma
disponibilidade para o cuidar do outro, o que
muitas vezes est associado a uma dimenso de
sacrifcio pessoal. Isso, obviamente, se contrape
ao discurso individualista, to comum na socieda-
de contempornea, de que a mulher deve pensar
primordialmente nos seus projetos de sucesso e
bem-estar pessoais.
Ainda que o ideal de mulher moderna, que
subsidia as refexes de Langer, esteja um tanto
distante da realidade da nossa paciente, um olhar
mais apurado pode captar sinais de convergn-
cia. Alice percebida como algum que precisa
de cuidados intensos de sade, tanto fsica quanto
psquica, alm de viver numa situao scio-eco-
nmica extremamente precria. Se o cuidar de si
j to escasso, como ela conseguiria cuidar dos
flhos? E por que ela no recorre ao planejamento
familiar e vai cuidar de si mesma?
Certo dia, caminhvamos com ela perto de
sua casa, quando uma de suas vizinhas gritou
Doutora, d uma injeo em Alice pra ela parar
de ter flho!. Na mesma hora, veio a resposta
A barriga minha e se eu quiser ter dez flhos,
voc no tem nada com isso!. Langer considera
que, em contraposio ao imperativo anti-mater-
nal da sociedade, a biologia da mulher mantm
as suas funes de procriao em pleno exerccio
e o instinto maternal prossegue infuenciando o
comportamento feminino. Seria tentador atribuir
relao de Alice com a maternidade um triunfo
do instinto maternal sobre as normas sociais, no
entanto a complexidade do caso nos aponta ou-
tras perspectivas de anlise.
Desde muito cedo, Alice convive com experi-
ncias radicais de desamparo e fragilidade vin-
cular. Sua me, psictica com extensa carreira
manicomial, desapareceu por algumas semanas
e retornou para casa j grvida dela. Do seu nas-
cimento, no tivemos informaes, mas sabemos
que sua av assumiu os seus cuidados e a re-
gistrou legalmente como flha, contudo nunca a
considerou efetivamente como tal. O conceito de
vnculo elucidado por Pichon-Rivire (1998) como
interjogo de papis complementares adjudicados
e assumidos numa relao permite-nos inferir
possveis repercusses dessa circunstncia em seu
processo de individuao: no sabendo ao certo
quem era a sua me, como poderia Alice reco-
nhecer-se integralmente no papel de flha?
Os papis subseqentes ocupados pela pa-
ciente na sua teia relacional vieram a reifc-la
numa posio social regida pelo imperativo
NO SEJA. De fato, desde a primeira infncia,
quando foi diagnosticada como doente mental,
qualquer expresso sua que escapasse (ou no)
norma passou automaticamente a ser conside-
rada como sintoma de sua doena. Tambm
seu destino j estava traado, pois, com o tempo,
ela estaria fadada a assumir o papel que fora de
sua me, de bode-expiatrio da famlia e da co-
munidade. Os estigmas da loucura e da pobreza
impendiam-na de assumir qualquer outro papel
social de valorao positiva.
225
Frente a uma realidade com recursos to par-
cos de construo identitria, a maternidade pode
ter-se tornado para ela o ponto de ancoragem
psquica capaz de lhe garantir lugar minimamente
digno na cultura. Alice, ao gerar um flho, gera
tambm um outro para quem ela uma me. E
a partir desse lugar de me que ela passa a
circular pelas instituies que, de certa forma, a
confrmam nesse lugar: creche, escola, cartrio,
pediatra, CAPS infantil.
Assumir o papel de me e se relacionar com
o mundo a partir desse papel talvez tenha sido a
forma encontrada por Alice para escapar da po-
sio alienada que lhe foi imposta pelo estigma
da loucura. Essa sada, entretanto, fez emergir
uma nova gama de tenses. O imperativo NO
SEJA para pessoas como ela no admite exce-
es. Quando se louco e pobre, no se pode
ser mais nada, muito menos me!
Como dizia no incio do relato, fazia aproxi-
madamente quatro meses que acompanhvamos
Alice, quando, certo dia, chegamos a sua casa e a
encontramos com um beb nos braos. A menina
havia nascido h apenas trs dias e Alice estava
radiante e cumprimentava orgulhosa a caravana
de vizinhos que iam ver a criana. Samos de l
surpreendidas com sua reao diante da chegada
da flha, pois estvamos apreensivas com a possi-
bilidade de ela se desorganizar ou at entrar em
crise diante dos desafos que viria a enfrentar para
cuidar de um beb. Pelo contrrio, Alice, ainda
que meio desengonada, nos parecia tranqila e
confortvel no lugar de me.
Retornamos trs dias depois e ela comentou co-
nosco que havia estado com a flha, pela manh,
em uma organizao do judicirio, para solicitar
um documento exigindo que o pai reconhecesse a
paternidade da criana. Quando l chegou, com
a menina nos braos, a assistente social pergun-
tou-lhe como ela estava alimentando o beb, ao
que ela respondeu que estava preparando papas
com leite em p e arrozina. Segundo o relato de
Alice, a assistente social lhe disse que ela no te-
ria a menor condio de cuidar da criana e que
o melhor seria entreg-la a um abrigo. Tentamos
tranqiliz-la esclarecendo que devia ter ocorrido
um mal entendido, a assistente social s deve-
ria ter fcado preocupada porque arrozina um
alimento muito forte para a criana. Alice disse
que sabia da existncia de um leite prprio para
recm-nascidos, mas a lata custava quinze reais
e ela no tinha condies de compr-lo. Samos
de l ento com a incumbncia de buscar meios
para que ela conseguisse o leite apropriado ou
at mesmo o materno num banco de leite.
No dia seguinte, ao chegarmos casa da
paciente, sua av veio em nossa direo e me
abraou chorando e dizendo que haviam levado
a menina. Alice apareceu em seguida e, muito
agitada, comeou a mostrar o enxoval que havia
feito para o beb, as fraldas que comprou, e a ex-
plicar que sabia cuidar da sua flha, que fervia a
gua, passava os panos com ferro, etc. Aps esse
primeiro momento de muita tenso, conseguimos
acalm-la para que ela nos contasse o que ha-
via ocorrido. Naquele dia, algumas horas antes,
representantes daquela organizao do judicirio
Estadual estiveram em sua casa e constataram
226
que a criana se encontrava em situao de risco.
Sendo assim, algum teria que assumir a respon-
sabilidade pelos cuidados da criana ou ela seria
levada a um abrigo. A soluo encontrada para o
impasse foi colocar a menina sob os cuidados de
uma vizinha, que tambm era madrinha da crian-
a. O clima na casa era tenso. A qualquer baru-
lho de carro na rua, imaginava-se que poderia ser
algum da Justia que, ao ver Alice prxima a sua
flha, iria lev-la ao tal abrigo.
No dia seguinte, fomos a organizao judici-
ria para tomar conhecimento do que estava de
fato acontecendo. O relato de Alice remetia a
procedimentos que nos pareciam no mnimo ina-
dequados para tcnicos de um rgo pblico no
trato direto com a populao. L, em conversa
com as assistentes sociais responsveis pelo pro-
cesso, pudemos compreender alguns dos critrios
utilizados na avaliao do caso. Um dos aspectos
levantados com bastante nfase referia-se con-
dio de extrema pobreza de Alice e sua famlia.
A ausncia de reboco na casa, a proximidade en-
tre a cozinha e o banheiro, a sujeira, os insetos, a
alimentao incorreta do beb, tudo corroborava
a constatao de que aquele no era o ambiente
adequado para se cuidar de uma criana recm-
nascida. Diante dessa situao, a resoluo ado-
tada pelas autoridades foi a de retirar a criana
da casa e entreg-la aos cuidados de outrem, o
mais rpido possvel, afastando-a assim da me.
Estranho... No seria mais justo e mais condizen-
te com o bem-estar da criana auxiliar essa me
economicamente para que ela pudesse oferecer
melhores condies sua flha? De fato, a po-
breza em si no seria sufciente para justifcar a
tal interveno. Sobrepondo-se ao fato de ser po-
bre, Alice tambm era louca, o que, por si s, j
se confgurava como um risco integridade da
criana, percepo baseada no esteretipo que
associa loucura violncia.
Langer ajuda-nos a pensar um pouco sobre
essa questo ao refetir sobre um mito argentino,
uma espcie de lenda urbana, na qual a persona-
gem principal uma empregada m que assas-
sina as crianas. De acordo com a autora, todos
ns levamos em nosso psiquismo, junto imagem
da me boa e devotada, uma imagem da me
terrvel, que destri, mata e devora os seus flhos.
Essas imagens, reminiscncias da relao amb-
gua que estabelecemos com as nossas prprias
mes nos primeiros anos de vida, tendem a ser
projetadas no futuro de acordo com a valorao
social da pessoa objeto da projeo. Para exem-
plifcar a sua tese, Langer nos remete a uma es-
pcie de arqutipo de seu pas, no qual a faceta
cruel e destruidora da me projetada na fgura
de uma empregada m que maltrata os flhos
da patroa. Certamente, essa refexo elucidada
por Langer pode nos ajudar a pensar um pouco
sobre as possveis fantasias que povoam a mente
das pessoas que lidam diariamente com a noo
de crianas em situao de risco.
Com o intuito de dirimir possveis preconceitos,
argumentamos que a maternidade no era uma
novidade na vida de Alice, que ela havia criado
duas crianas saudveis, mesmo com todas as di-
fculdades impostas pela sua condio psquica e
social. Alm disso, sua qualidade de vida iria me-
227
lhorar signifcativamente quando ela recebesse o
Benefcio de Prestao Continuada do INSS, pelo
qual vinha esperando h alguns meses. Quan-
do toquei nesse ponto, para minha surpresa, a
assistente social mencionou que o processo de
requerimento desse benefcio, na verdade, vinha
a corroborar a avaliao de que ela no tinha
condies de criar sua flha. Na verdade, um dos
requisitos para a concesso do BPC consistia na
interdio judicial do requerente, ou seja, na de-
clarao pblica de que o requerente no pos-
sua discernimento para reger os prprios atos,
necessitando para isso de um curador. Sendo as-
sim, como uma pessoa que no era responsvel
por si prpria poderia se responsabilizar por trs
menores? Tratava-se de uma armadilha legal. Ali-
ce estava prestes a abrir mo de todos os seus
direitos de cidad em troca de um auxlio fnan-
ceiro governamental. A ingerncia do imperativo
NO SEJA em sua vida chegara a limites impen-
sveis: a inacessibilidade a seus direitos civis es-
tava prestes a ser ofcializada juridicamente. Essa
constatao incidiu signifcativamente sobre ns,
pois percebemos que, a partir daquele momento,
nossa interveno clnica s faria sentido se as-
sumssemos um posicionamento poltico ativo, no
sentido de exigir a garantia cidadania plena dos
nossos pacientes.
A exigncia da interdio judicial para a con-
cesso do Benefcio de Prestao Continuada no
possui respaldo legal, ou seja, baseada unica-
mente no esteretipo reducionista de que ser louco
implica necessariamente uma incapacidade total
para a vida civil. queles tocados pelo estigma
da loucura, resta apenas ser loucos, e mais nada.
Alice, ao seu jeito, vem tentando escapar dessa
posio alienante. At hoje, o papel de me tal-
vez tenha sido o nico que ela tenha encontrado
para SER em sociedade. Esperamos, com a inten-
sifcao de cuidados, poder acompanh-la por
novos caminhos, experimentando novos papis
que, integrados sua personalidade, lhe permi-
tam SER no mundo com a dignidade que lhe de
direito.
Referncias
LANGER,M. (1981). Maternidade e Sexo. Porto Alegre:
Artes Mdicas
PICHON-RIVIRE, E. (1998). Teoria do Vinculo. So
Paulo: Martins Fontes
228
Resumo: Este artigo fruto da experincia de
Estgio Supervisionado no Programa de Intensi-
cao de Cuidados a Pacientes Psicticos. Pro-
curamos desenvolver, neste texto, como o encon-
tro com o paciente psictico pde nos remeter a
questionamentos sobre sua presena no mundo,
como sujeito em si ou como sujeito da prpria psi-
cose. Os encontros, mais do que certeza acerca
da psicose, remeteram-nos a questionamentos
sobre quem o sujeito psictico, seu estado de
isolamento, excluso e solido, o efeito de nome-
ao (diagnstico) da psicose e as formas de inter-
veno que podem ser delineadas a partir disso.
Os encontros, muitas vezes, revelaram-se, ento,
desencontros com a psicose.
A
os 18 anos, no ano de 1985, Joo acorda
no meio da noite agitado, dizendo que algo
havia cado em sua cabea. Um dos seus irmos,
que dormia numa cama debaixo da dele, acen-
deu a luz do quarto e o encontrou na cama, pro-
nunciando palavras em baixo som. Questionado
sobre o que estava fazendo, Joo responde que
estava orando. Ele relata que, antes deste epis-
dio, comeou a se sentir vazio por dentro, prag-
mtico.
No dia 11 de junho de 1986, ainda aos de-
zoito anos, Joo levado por uma de suas irms
pela primeira vez a um sanatrio. Segundo ela, o
paciente dizia que via um navio, fcava lendo a
bblia dia e noite, parecia que estava pregando.
Joo dizia no saber o que estava fazendo na-
quele local, que no sentia nada e nem entendia
o motivo de terem lhe aplicado uma injeo.
provvel que, neste mesmo dia, com uma boa
anamnese e entrevista clnica, tenham sido iden-
tifcados alguns sinais que indicavam a presena
no s de algo errado, mas de uma doena men-
tal. provvel que, neste dia, Joo tenha recebido
uma nomeao alm daquela que j carregava
desde o dia de seu nascimento; Joo agora era
Encontros e desencontros com a psicose
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
**Psiclogo graduado pela UFBA e ex-estagirio do PIC
Lorena de Almeida Oliveira*
Thiago Lima Melo**
229
esquizofrnico e, como a maioria, sujeito a alu-
cinaes, delrios, discurso confuso, um compor-
tamento tambm desorganizado, diminuio da
vontade, da fala e demonstraes de afeto con-
comitantes com a perda de habilidades sociais e
interpessoais.
Joo, paciente do sexo masculino, 38 anos,
diagnosticado como esquizofrnico, residente
de um bairro popular da cidade do Salvador, o
ltimo dos seis flhos de pais j falecidos. Em seu
pronturio, h registros de hetero-agressividade,
delrios de perseguio, desinibio sexual e in-
quietude. Segundo informaes de seus familia-
res, ele era estudioso, inteligente, chegou a com-
pletar os estudos do segundo grau e a realizar
estgios como auxiliar em laboratrios de patolo-
gia. Demorou a falar, (somente aos quatro anos
de idade), no tinha muitos amigos e sempre foi
muito quieto; gostava de desenhar, escrever e ler.
No falava muito com as pessoas de sua casa,
gostava mais de fcar sozinho. Aps ter sido iden-
tifcada a doena, a famlia constata que havia
algo errado desde o incio.
No nicio de julho de 2005, 20 anos aps o
primeiro episdio que a psicopatologia denomi-
na de surto, aos 37 anos, conhecemos Joo.
Ele nos chega atravs do programa de estgio de
Intensifcao de Cuidados a Pacientes Psicticos,
com 20 anos de carreira na esquizofrenia, na
psicose, e atravs dela que entramos em conta-
to com ele. Antes mesmo de conhec-lo, de olhar
em seus olhos, j sabamos que ele era psictico;
antes mesmo de nosso primeiro encontro, j tra-
zamos em ns o nome psictico. E assim que
se iniciam os nossos encontros, pela psicose.
Eram encontros semanais, nas tardes de quin-
ta-feira, em um municpio da regio metropolita-
na de Salvador. Joo se encontrava em regime de
asilamento h quase um ano, em uma instituio
de cunho religioso que se propunha recupera-
o de seus alunos. Nessa instituio, no ha-
via mdicos, psiclogos, assistentes sociais, tera-
peutas ocupacionais ou qualquer indivduo que se
encaixasse na categoria de profssional de sade
mental. Mas, assim como em outras instituies
asilares, nesta, havia tambm a presena do ou-
tro que garante que a alienao de alguns, e
suas atribulaes podem ser depsitos das mais
variadas atuaes.
Guardadas as difculdades prprias dos pri-
meiros encontros com Joo, devido a suas res-
postas hostis possibilidade de vinculao com
os acompanhantes teraputicos, (afnal, difcil
receber qualquer um propondo ajuda a males
que nem ele mesmo suporta por inteiro), conse-
guimos, numa tarde desses encontros, mas no
muito tarde ainda, sentarmos ao seu lado. Cada
um de ns sentado, em seus lugares, numa pe-
quena calada, onde batia sombra naquela tarde
quente. E, dentro de ns, no dele, procurvamos
em nossas histrias pregressas algo que garantis-
se um conforto maior e silenciasse nossos medos.
Refazamos o caminho de nossa formao pelos
corredores abertos da faculdade de psicologia
procurando por informaes claras, mas, mesmo
com o nome da psicose em nossas mos, ainda
nos encontrvamos do outro lado de Joo.
Mesmo sentados to prximos, sendo olhados
230
por aqueles olhos grandes, aquele olhar estranho
que s os psicticos (os loucos) possuem, olhos
que parecem atravessar os corpos, desvelar as al-
mas alheias, deixando trmulos e assustados estes
acompanhantes teraputicos, Joo parecia guar-
dar para si todo o impossvel a ser descoberto por
ns e nossa psicologia. Para nossa surpresa, ele
era mais que um psictico e, sendo assim, escon-
dia muito bem essa parte.
O encontro estava dado, a psicose estava
dada, e todos os pr-requisitos para ser realizado
o encontro entre ns, acompanhantes teraputi-
cos, e a psicose estavam ali presentes: as teorias
esquecidas nas nossas memrias, alguns sinais
vagos e caractersticos do que seja a psicose (del-
rios, alucinaes...), o nome de Joo vinculado a
um hospital especializado em atendimento a pes-
soas acometidas por transtornos mentais e o Pro-
grama de Intensifcao de Cuidados; os desejos
individuais de cada acompanhante teraputico,
o estado de asilamento, garantindo encontros
confortveis, e, fnalmente, a disponibilidade
ou indisponibilidade de alguns que permitem a
realizao de tais encontros e o assentamento dos
lugares de psictico e de acompanhante terapu-
tico.
Mas no sabemos se pela psicose ou por ser
prprio de Joo, os lugares tinham de ser tocados
e apontados como denncia na fala dele: isso
que vocs chamam de transtorno mental, de de-
lrio persecutrio, de embotamento afetivo, esses
nomes que vocs dizem; isso na verdade sou eu,
sou eu que sinto; e isso que sinto, isso que vivo
tambm realidade, o que vivo aqui dentro tam-
bm real.
E, se assim se faz, me responda uma pergun-
ta: o que a esquizofrenia? Me responda uma
outra pergunta: se a psicologia no igual psi-
quiatria, o que ento a psicologia? Como surge
a esquizofrenia? E esses medicamentos anti-psi-
cticos, o que eles fazem?, e por fm: Por que
eu tenho que fcar aqui nesta instituio?.
Se Joo toca, balana e troca os lugares, profe-
rindo seus questionamentos, decretando-os, jun-
tamo-nos a ele em seus questionamentos: como
este momento (como num efeito de magia) de
nomeao da psicose? A psicose aparece como
efeito isolado, a partir de um episdio estranho
de alucinaes, delrios ou esvaziamento do su-
jeito? E, num desconforto maior nosso: como
essa coisa de, um dia, de repente, ter se torna-
do psictico? A vida do sujeito a psicose ou a
experincia prpria, radical e enigmtica que
nomeada anos seguintes? Por que tal evoluo
de determinados sujeitos, conduzindo-os psi-
cose? (Castoriadis, 1999. p. 123 ) e por fm, a
quem pertence a psicose?
A partir desses questionamentos e de outros
que, certamente, surgiro, tentaremos apresen-
tar um ensaio que tem como objetivo apreender,
em algum nvel, nossa gratifcante experincia de
encontros e desencontros com o sujeito Joo, to-
mando sua histria como exemplo do que pode
acontecer com pessoas acometidas de algum tipo
de transtorno mental.
231
Quem o sujeito psictico?
Pela histria de vida de Joo, podem-se perce-
ber alguns indcios da difculdade que ele apresen-
tava ao se relacionar com o outro, difculdade
que se apresenta como um enigma para o sujeito
psictico. Sempre tmido e quieto, Joo no ti-
nha muitos amigos e, mesmo em casa, sempre
fora muito sozinho. Mas como essa solido se
apresenta para ele? Indo mais alm, como essa
solido percebida e nomeada pelo outro?
Na sociedade contempornea, o homem soli-
trio visto como anormal; a solido conce-
bida como uma patologia, e, assim, o sujeito so-
litrio excludo de alguma forma das relaes
com o outro. Segundo Katz (1996):
... desde seus primeiros movimentos, o infante
humano estaria sempre em sociedade, em situ-
ao de socius, existente apenas como necessi-
dade dos outros. O que determinaria, para um
certo registro do pensamento, a impossibilidade
da solido do humano; que, se manifesta, deve
ser tratada, curada enquanto afastamento carente
de normalidade social. (KATZ, 1996. p. 29)
Desse modo, atualmente, impossvel se con-
ceber a solido como possibilidade intrnseca de
um sujeito; mesmo cabendo solido um impor-
tante e essencial papel na constituio da sub-
jetividade humana, sua existncia se tornou uma
patologia a ser tratada. Apesar da existncia de
todos os conceitos explcitos ou no sobre a soli-
do, Joo no deixava de ser solitrio, ou melhor,
ele no via essa possibilidade. Inicialmente, isso
no era visto como incmodo s pessoas prxi-
mas dele; talvez para Joo esse incmodo fosse
sentido ou talvez no fzesse diferena para a vida
dele enquanto um sujeito normal. Sim! Joo,
antes de ter a nomeao de psictico, era um
sujeito normal; um pouco estranho, mas nor-
mal. Ento, o que, afnal, aconteceu para que ele
deixasse de pertencer categoria da normali-
dade e passasse a fazer parte de uma outra ca-
tegoria, a dos anormais? Talvez se possa tomar
a questo do incmodo como determinante para
essa classifcao; o incmodo que Joo passou
a sentir com mais intensidade ou que passou a
produzir nos outros.
Assim, existe uma aproximao entre o su-
jeito solitrio Joo e o sujeito psictico Joo.
Tanto a solido quanto a psicose comeam a ter
existncia a partir do momento em que passam a
provocar algum incmodo no sujeito e no meio
em que vive. Voltando a Katz (1996):
verdade que, inmeras vezes, especialmente
para o homem burgus contemporneo, a solido
s se deixa escutar quando atinge um modo insu-
portvel: quando, no ser humano, no encontra
mais lugar para ela, eis o momento em que ela
emerge para a experincia, insiste em se afrmar.
(KATZ, 1996. p. 29)
Da mesma forma que a solido, a psicose e
suas desorganizaes psquicas s so percebi-
das no momento em que transbordam do sujei-
to; a passam a ter existncia, quando no mais
possvel administr-las dentro dele.
Assim como a solido, a psicose algo de dif-
cil entendimento tanto para as pessoas ditas nor-
mais quanto para as psicticas. Desse modo,
232
... A loucura uma experincia humana cujas
questes se colocam para os loucos ou no lou-
cos, situando problemas para a razo; (...) reco-
nhecemos as experincias da loucura no como
aberrao ou dfcit, mas como experincias le-
gtimas e pensveis do corpo, da existncia, do
pensamento. Experincias perturbadoras, sim,
porque podem rasgar o sentido; mas podem tam-
bm, em certos casos, imprimir ao sentido outros
cortes, possibilitando inimaginveis refazendas.
(LOBOSQUE, 2001. p. 22)
Dada sua vida solitria, ocupando os espaos
das sobras no silncio dos dilogos de sua fam-
lia, na sua qualidade de calado, quieto, descrita
pelos seus, Joo se fazia; e tal quietude, tal soli-
do, tal monlogo de sensaes pde ser nome-
ado no agravamento de suas aes. quando o
estado de estranheza, de esvaziamento e angstia
desemboca numa completa loucura, que o mr-
bido pode ser descrito e nomeado, neste caso,
por psicose. O mundo privado que revelado pe-
los devaneios e, dessa forma, exposto aos olhos
alheios est apto a ser analisado e classifcado
como doena mental, sendo revelado ento sua
histria psicolgica (Foucault, 1984. p. 67-69)
susceptvel ao casusmo e efeitos no presente e
futuro.
Mas, enfm, o que a psicose? O que a defne
enquanto tal? Tomadas as devidas difculdades
em se nomear essa experincia desorganizado-
ra, tentaremos defni-la, ainda que saibamos da
impossibilidade de apreend-la em sua totalida-
de. Tomando Katz (1996) como referncia: Irrup-
es, cortes abruptos, violncia psquica perma-
nente, reclamos insistentes pela mera indicao
da ausncia de outra coisa, pela presena equi-
vocada destes outros que se podem perder num
momento ou de um s golpe. Afies, recorda-
es de realidades nunca existentes, perdidas lem-
branas de uma memria a se criar, intervenes
de pensamentos no-reclamados, no-esperados
pelo pensador, infltrao de idias terrveis e
inesperadas (contra as quais nada se pode fazer,
a no ser, no melhor dos casos, suport-las com
angstia). (KATZ, 1996. p. 44). A partir disso,
pode-se tomar a psicose a partir da complexidade
que assume para todos, psicticos ou no.
Aquilo que era quietude durante anos seguidos
e construdos a fo lentamente, irrompe-se no es-
tranho, na loucura, na doena mental. No pre-
tendemos afrmar que sua histria, agora, justifca
sua psicose, depois que Joo assim nomeado,
mas sim considerar, a ttulo de refexo, que ato
de magia este que o nomeou como tal. O que
parecia ser experincia de vida individual, restri-
ta, solitria e talvez angustiante, parece ter sido
absorvido completamente pela doena, e tudo, a
partir daquele fato de irrupo do estranho, se-
guido da nomeao (alucinaes, delrios), fez
desaparecer o Joo de antigamente ou justifcar
de vez aquele Joo. Agora as fronteiras entre Joo
e os outros estavam de vez alargadas, dito agora
a qualquer um que passe na rua, apontado pe-
los outros, justifcando sua presena nos lugares
de forma excluda. Joo agora sai de seu mundo
de solido, de quietude, e adentra na estranheza
da pura atuao concreta e vista at mesmo por
quem anda de olhos fechados.
233
Psicose: morte ou ressurgimento
visvel do sujeito?
A loucura a ameaa e a presena viva da
morte, e os loucos so a morte a, espreitando
na sua disrupo no-anunciada mas esperada.
(Chaim Samuel Katz)
Voltando novamente histria de Joo, outros
questionamentos surgem: por que ele teve de ser
isolado do seu meio? O que legitima essa forma
de tratamento dispensada a esse sujeito? Algu-
mas respostas podem aparecer. Analisemos, sob
o ponto de vista do social, deste social que ajuda
a constituir, mas tambm exclui o sujeito.
Segundo a famlia de Joo: no havia outra
forma de lidar com ele, nossa me, que era quem
cuidava dele em casa, tinha acabado de morrer.
No sabamos o que fazer, a nica alternativa foi
intern-lo. E assim Joo est privado de apro-
veitar sua vida em casa, de fazer as coisas que
sempre gostou, de estar prximo das pessoas co-
nhecidas e da sua famlia.
Nota-se que a atitude de intern-lo por um pe-
rodo prolongado deu-se a partir da presena da
morte; da morte da me e cuidadora de Joo.
Antes de tudo, da morte de uma pessoa importan-
te para a famlia, da morte presentifcada.
Pensando de uma forma mais ampla, a psi-
cose, assim como a morte, vista como algo a
ser afastado das discusses cotidianas e, dessa
forma, excluda das relaes entre as pessoas.
No que no tenham existncia; mas so fontes
de to grandes sofrimentos, que no merecem ser
pensadas ou faladas. Tomando a aproximao
feita por Katz (1996): ... que a loucura a
presena da morte, morte feita a cada instante,
sem respeitar condies fsiolgicas e biolgicas,
etrias e de sade. (KATZ, 1996. p. 44). Assim,
a aproximao entre a psicose e a morte talvez
possa se dar pela imprevisibilidade: no se sabe
como sero os acontecimentos posteriores ins-
talao da psicose, da mesma forma que a mor-
te um grande enigma e, como tal, no tem lugar
dentro das relaes cotidianas normais.
Mas, assim como a morte, a psicose tambm
existe. Mesmo sendo afastada das relaes coti-
dianas dessa famlia, a psicose est a. No h
como ignor-la. Ento, por que no aceit-la?
Segundo os prprios familiares de Joo, no
sabemos como agir quando ele entra em crise.
Temos a nossa prpria vida, nossos trabalhos,
no podemos nos dedicar exclusivamente ao cui-
dado dele. Ficamos mais tranqilos com ele l,
internado. E, dessa forma, Joo continua insti-
tucionalizado; mesmo expressando claramente o
desejo de voltar sua casa, ao convvio com seus
familiares e sua comunidade. A sua voz emude-
ce, assim como seus desejos e planos so sempre
postergados e vistos pelos familiares como sem
importncia. E, assim como a morte, so ignora-
dos por eles.
234
Por efeito de nomeao
Agora Joo psictico. Muitas vezes, fora
levado s pressas aos centros de internamentos
psiquitricos por seus familiares, quando se en-
contrava em momentos de exasperao de sua
angstia, quebrando todos os mveis de sua casa.
L, nestes centros, em suas salas e corredores,
as estranhezas de Joo foram sendo descritas e
classifcadas. Devemos, ento, ao isolamento de
pessoas como Joo o desenvolvimento de clas-
sifcaes semiolgicas daquilo que se concebe
como doena mental, afnal so nas salas espe-
cializadas que se pode debruar com mais visi-
bilidade sobre as estranhezas comportamentais
e estabelecer em seguida uma lgica (Lobosque
2001, pg. 56-57).
Mas a qual lgica Joo e a sua psicose obe-
decem? A lgica da desrazo e a perda do sen-
tido ou lgica da produo de sentido atravs
de sua psicose? Vamos situar: quando Joo se
torna psictico, nomeado como tal, suas de-
monstraes estranhas, ou seja, delrios e aluci-
naes, compem um rompimento em sua vida,
e da se faz sujeito a anlises descritivas? Ou suas
demonstraes estranhas, acima de qualquer de-
lrio, so dotadas de um sentido que afrma seu
carter singular?
Podemos referenciar este tipo de anlise nos
textos de Lobosque (2001), pontuando a perspec-
tiva psicanaltica e a psiquiatria clssica de Jas-
pers. Para a autora, este ltimo modelo de anlise
tende a ressaltar as caractersticas do comporta-
mento de pessoas que sofrem de transtorno men-
tal a ttulo de ilustrao de um desarranjo, uti-
lizvel para uma identifcao diagnstica, mas
no como material para seu prprio trabalho de
cura (Lobosque 2001, p. 50); enquanto que, na
psicanlise, devolvido ao sujeito psictico o sen-
tido dos seus atos, a psicose, questo do sujeito
responde, vamos dizer dessa forma: (...) a po-
sio subjetiva do psictico enquanto sujeito de
um pensamento inconsciente que s pode ser o
seu... mas que se apresenta a ele como fora de
si (Lobosque 2001, p. 52). Ento, no modelo psi-
quitrico, haveria a ruptura da cadeia do sentido
a partir da entrada em suas manifestaes sinto-
mticas, alis, o indivduo s aparece quando se
exaltam seus sintomas, e, neste momento, o sujei-
to desaparece, pois perde sua lgica de sentido;
enquanto na psicanlise, ali onde parece no
haver mais sentido algum que o inconsciente se
enuncia; nas produes delirantes teramos ento
uma reconstruo do sentido .
Ficamos, ento, com a discusso se houve um
rompimento na vida de Joo aps o seu surto e
da ele se fez psictico ou se Joo continua com
sua vida enigmtica e agora radical aps o epi-
sdio. Tentamos responder a este questionamen-
to, retirando da psicanlise a condio de lgica
na produo do sentido na psicose, pois o que
temos de mais prximo que afrme uma continui-
dade na vida de Joo aps o episdio de surto,
considerando que a teoria psicanaltica se alimen-
ta de tal sentido nessa produo e se afrma a
onde se diz no haver sentido algum (Castoriadis,
1999. p. 119).
Se os sintomas psicticos so invasivos, vm
235
de fora do sujeito conforme sua estruturao, tais
sintomas poderiam ser a justifcativa radical de
uma existncia angustiante ou da prpria expe-
rincia de Joo como sujeito. Poderamos pensar
assim, a partir dos questionamentos dele: isso
que no compreendo, mas que me angustia e
me faz sofrer; essas coisas que tenho, que sinto,
s pode ser por algum motivo. E este motivo s
pode se encontrar nos outros, ento so eles os
responsveis por tudo o que sinto, no eu. E,
como confrmao mxima de tal certeza, vtima
e algoz, temos o internamento psiquitrico ou o
atual asilamento (isolamento) de Joo na institui-
o. Com isso, ele constri uma justifcativa para
esse fato, ainda que tal justifcativa no seja reco-
nhecida pelo outro. Aquilo que parece ser falta de
sentido, atravs dos sintomas psicticos, parece
revelar ou exaltar a experincia subjetiva de Joo.
Melhor ainda, os delrios e as alucinaes so a
forma de sua fala, e quem quiser entender ou dar
signifcado, assim o faa, ou o tranque de vez o
mais distante possvel de sua prpria vida.
Consideramos a produo de sentido na psi-
cose como estritamente, ou estreitamente, impli-
cada no valor representativo e singular do sujeito.
A produo do sujeito psictico apresenta, ento,
por mais estranho que seja, coerncia com sua
experincia e seu valor, sem compromisso vis-
vel com a representao do grupo social. Como
quando Joo, em um de seus dias, rasga suas
roupas e resolve passear nu pela instituio, como
se avisasse: a mim no interessa seus bens, sua
categoria de possuidor de coisas; alis, a mim
no importa a condio de possuidor de coisa
alguma. Joo, ento, produz para si mesmo!
Antes da lgica psi, da lgica orgnica ou de
qualquer outra, ele produz, no fnal da histria,
para si-mesmo (Castoriadis, 1999).
Ento, de qual Joo estamos falando, daque-
le de antes do surto e suas estranhezas ou deste
com suas peculiaridades? possvel considerar a
existncia de duas entidades diferentes numa s
pessoa, ou Joo sempre foi o mesmo, mas com
o nvel de sofrimento bem mais intenso do que
quando vivia calado dentre os seus irmos? Con-
siderar sua vida como ruptura radical a partir de
seu adoecimento beira, para ns, uma incoern-
cia de anlise, que se aproxima mais das catego-
rias diagnsticas, sejam elas referentes estrutura
preconcebida ou descrio do fenmeno, do
que da experincia do sujeito Joo. E, se a nome-
ao por diagnstico acaba confrmando de vez
a separao dele em relao a sua vida, parece
que, neste mbito, Joo somente ele, como psi-
ctico, no como outro, e assim que ele se faz
e feito por ela, a psicose. J considerando que,
em sua produo psictica, h sentido (como vis-
lumbrado pela psicanlise), e que seu sentido s
se d agora, dessa forma, pela estranheza, no
haveria ento dois viventes de Joo, um antes e
outro depois do surto; este um s, que produz
realmente sentido, de forma singular, mas que as-
sim o conhecemos como Joo Psictico, conce-
bido por uma condio estruturante.
Teramos ento de escolher entre duas opes:
conceber o Joo rompido, desfgurado, nomeado
e justifcado a partir do seu primeiro surto; ou o
236
Joo organizado, arranjado, nomeado e justi-
fcado tambm a partir do seu primeiro surto, s
que agora com uma histria pregressa desde o
seu nascimento. Situando mais uma vez: psiquia-
tria, psicanlise ou uma boa combinao entre
as duas? E Joo, em qual lugar se encontra? A
quem pertenceria Joo ou a quem pertence Joo?
psicose, aos pressupostos da psicose, ao psi,
ao orgnico, tcnica, aos tcnicos, desorgani-
zao, aos muros fechados da instituio, ao pas-
tor, ao seu irmo (que o representa civilmente)?
A quem pertence Joo, e, se psicose, a quem
pertence a psicose?
A quem pertence a psicose?
Mas, se formos para bem distante de sua es-
trutura ou para bem longe da descrio de seus
sintomas, que Joo encontraramos? Este que se
apresentou a ns, negando que ele fosse qual-
quer destes que dizamos que era em seus ques-
tionamentos e replicaes. Dessa forma, entre
o Joo que nos chega e que nos apresentado
pela instituio, existe uma distncia considervel,
no sei se por ns, mas afrmada por ele prprio.
Nessas dvidas, nesses anseios daqueles encon-
tros que promovem, sempre, a dvida, no sabe-
mos ento em qual lugar Joo se encontra, se do
lado dos alunos, dos psicticos e, dessa forma,
tambm da psicologia, psiquiatria e psicanlise
ou em seu lugar ou em lugar algum. Enfm, qual
o lugar de Joo, quais so os lugares dos loucos?
Os lugares dos loucos so na casa das psicoses
e, porventura, nas formas culturais de determina-
o da psicose.
Seja qual for o lugar de Joo, dele prprio ou
na casa das psicoses, este tende a ser um lugar
de isolamento e excluso, pois assim nossa cul-
tura determina: a loucura (...) situa-se a: neste
nvel de sedimentao nos fenmenos de cultura
(...) (Foucault, 1984. p. 89). As estranhezas que
chegam ao seu limite no surto so, assim, consi-
deradas como doena, como psicose, cumprindo
um papel social que lhe prprio em nossa his-
tria. Para se formarem muros, para se formarem
quartos, varandas e lugares de psictico, temos
de considerar para que fnalidade se erigem as
casas de psictico; e, no nosso mundo, mesmo
que se derrubem os muros dos manicmios, ou
que os reforme, louco ainda louco, e, por assim
ser, d trabalho aos outros, desvirtua a lgica
racionalista do dia-a-dia das construes, e (...)
dizer: este um louco, no um ato simples nem
imediato. Repousa, de fato, num certo nmero de
operaes prvias (...) segundo as linhas da valo-
rizao e da excluso (Foucault, 1984. p. 89). E,
para que vivamos tranqilos, para que sua famlia
viva tranqila, para que o pastor e sua instituio
vivam tranqilos, para que as instituies vivam
tranqilas, para que a psicologia viva tranqila e
para que Joo tambm viva tranqilo, melhor
que ele continue sendo louco, ainda que louco
seja apenas louco para alguns e prprio de inter-
venes para outros.
Consideramos que Joo psictico, e sua psi-
cose pertence a sua prpria cultura. Ento, quais
so os espaos (lugares) que se renovam para
abrigar os psicticos? Os loucos retornaro para
237
suas casas quando no hospitalizar e absorver as
peripcias da loucura em suas famlias passa a ser
a regra? E, se assim , que tipo de tcnicas sofsti-
cadas e capilares entrar no dia dos psicticos,
e como estas comportaro a loucura? Precisar-
amos delimitar, dessa forma, o que pretendemos
com a loucura, com a psicose, com Joo? Quais
so as novas regras?
Assumindo o lugar de profssionais psi, nossa
argumentao sobre o modo de cuidado dispen-
sado aos portadores de transtorno mental se ba-
seia em uma clnica que leve em considerao o
sujeito; sujeito que sofre que excludo e rotulado
pela sociedade como incapaz, como perturba-
dor da ordem. exatamente esse sujeito dife-
rente que nos interessa; e essa clnica deve ser
estruturada de modo a dar conta dessa diferena
do outro, e mais alm, deve ser capaz de fazer o
sujeito sustentar sua diferena, sem aceitar sua ex-
cluso social. No se trata de propostas prontas,
cabveis a qualquer situao e utilizadas como se
fossem um manual de tcnicas preconcebidas;
mas sim, de algo a ser construdo cotidianamente
nas prticas de cada profssional. Esses sim, de-
vem saber os propsitos de suas prticas; devem
procurar, nelas, meios que faam minimizar o
sofrimento dos sujeitos atendidos, alm de os
colocarem em primeiro plano.
Entendemos que, no cuidado dispensado aos
psicticos, eles devem ter a relevncia, e no os
rtulos a eles atribudos. Assim, a psicose, o trans-
torno mental ou qualquer outra designao dada,
deve ser apenas o pano de fundo de uma prti-
ca comprometida com a verdade de cada sujeito
atendido. Pensamos tambm que essa clnica aqui
proposta tem o papel de refexo sobre a socie-
dade em que est inserida, de forma que a loucu-
ra seja aceita socialmente; isso se d atravs de
profundas discusses sobre prticas clnicas que
tm, em sua base, a interlocuo com variadas
espcies de prticas e pensamentos.
Referncias
CASTORIADIS, Cornelius. A construo do mundo na
psicose. In: Feito e a ser feito. (pp. 117-131) Rio de Janeiro:
DP & A, 1999.
FOUCAULT, Michel. (1926) Doena mental e psicolo-
gia. 2 Edio. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
KATZ, Chaim Samuel. O corao distante: ensaio sobre
a solido positiva. (pp. 27 - 63). Rio de Janeiro: Revan,
1996.
LOBOSQUE, Ana Marta. A experincia da loucura: da
questo do sujeito presena na cultura. In: Experincias
da Loucura. (pp. 13-35) Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
__________. Neuroses X Psicoses: uma primeira aborda-
gem quanto ao diagnstico diferencial. In: Experincias da
Loucura (pp. 54-70). Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
__________. A psicose, questo do sujeito. In: Experi-
ncias da Loucura. (pp. 41-53) Rio de Janeiro: Garamond,
2001.
238
D
epois de muita insistncia por parte de Marta
, resolvi acompanhar Thiago na visita domi-
ciliar que ele, costumeiramente, lhe fazia. Mar-
ta fora minha paciente logo quando iniciei no
estgio, mas, com os freqentes remanejamentos
das duplas de estagirios, deixara de ser. Isso,
contudo, no evitava que ela, sempre que ia aos
grupos que realizvamos no Mrio Leal, questio-
nasse quando eu iria a sua casa, alegando que
seus pais sempre perguntavam por mim.
Naquela tarde de sexta-feira, atendi seu pedi-
do e fui visit-la com o estagirio responsvel por
seu caso. No caminho, fomos conversando; eu,
vontade como sempre, como se fora morado-
ra daquele bairro; e Thiago, mais srio como de
costume, mas tambm relaxado. Foi ento que
aconteceu algo que nunca nos havia passado
pela cabea acontecer, sobretudo quando amos
visitar os pacientes do Programa, j que o fato
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
O incrvel poder do vnculo
Lygia Freitas*
de os visitarmos com freqncia nos tornava meio
membros das comunidades em que estavam inse-
ridos: fomos assaltados.
Um homem nos seguiu na descida de uma
ladeira e, quando chegamos ao beco que nos
levaria casa da paciente, abordou-nos, supos-
tamente com uma arma escondida embaixo da
camisa, exigindo que lhe dssemos nossos per-
tences, minha bolsa e a mochila de Thiago. Meu
parceiro ainda tentou dialogar com o rapaz, mas
ele no estava para conversa. Entregamos-lhe
nossas coisas, e o rapaz mandou que voltssemos
por onde tnhamos vindo, sem olharmos pra trs.
E foi isso que fzemos.
Fiquei descontrolada e comecei a chorar, no
sei se porque aquela era a primeira vez em que eu
era assaltada, se pelo susto do inesperado ou se
pelo fato de terem me roubado justo quando eu
ia fazer uma boa ao. Talvez pela conjuno
desses fatores!
Fomos para o Mrio Leal, que fcava no topo
da ladeira que tnhamos descido para ir casa de
239
Marta. Meu choro provocou uma comoo geral
entre os funcionrios do HEML, e fomos condu-
zidos para a diretoria da instituio. Ainda tive-
mos de ouvir algumas crticas ao Programa, pois
era muito perigoso fazermos as visitas em bairros
como os que os pacientes moravam, e ainda por
cima sem seguro de vida! (sic).
E, em meio a essas sutis ressalvas ao funciona-
mento do PIC, quando eu menos esperava, apa-
rece Marta, trazendo nossos pertences de volta!
Eu, que j estava mais calma, quando vi minha
bolsa, com a carteira e tudo que nela havia antes
do assalto, voltei a chorar. Marta, bastante emo-
cionada, pediu-me desculpas por haver insistido
para que eu fosse visit-la, o que acabou sendo
at bom para que eu me acalmasse, retomasse
a postura de estagiria e deixasse um pouco de
lado a emoo que me tomava naquele momen-
to. Disse-lhe que assaltos acontecem a toda hora
e em todo lugar, que no havia razo para ela se
sentir culpada, etc.
Samos da sala da diretoria para conhecer o
benfeitor que havia recuperado nossas coisas. Era
um homem alto, magro, negro, com seios de
silicone e trejeitos bastante femininos, conhecido
como Bida. Foi ento que Marta nos contou que
havia visto o assaltante passar e reconhecera a
mochila de Thiago. Como j estava esperando
nossa visita, ligou as peas daquele quebra-cabe-
a e concluiu que o rapaz, seu vizinho, havia nos
roubado. Foi, ento, casa de Bida e pediu que
ele fosse buscar o que nos havia sido tirado. Nos-
so heri nos disse que fcou com medo, pois o as-
saltante era viciado em drogas e parecia bastante
nervoso, mas atendeu ao pedido da vizinha e foi
casa dele recuperar minha bolsa e a mochila de
Thiago. Chegando l, mandou que o rapaz de-
volvesse o que roubara, e o dito cujo jogou tudo
em cima da cama.
No fm das contas, perdemos apenas nossos
celulares, pois o assaltante j tinha dado sumio
neles antes que o heri da histria chegasse a sua
casa.
E foi assim que vivi um dos dias mais emo-
cionantes de minha vida, em que tive a certeza
de que o trabalho que realizamos no Programa
de Intensifcao de Cuidados, propiciador da
criao de vnculos com os pacientes, pode gerar
bons frutos no apenas para eles, como para os
estagirios que os acompanham. Afnal de con-
tas, se o elo entre Thiago e Marta no houvesse
sido bem estabelecido, ela jamais teria reconhe-
cido sua mochila em mos alheias e essa histria
no teria o desfecho fantstico que teve! At hoje,
quando lembro desse fato, fco impressionada ao
me dar conta de como as relaes que cultivamos
com os pacientes podem ir muito alm do que
postulam as teorizaes acerca dos modos de
vinculao do sujeito psictico...
240
Resumo: Este artigo tem como objetivo tecer
uma discusso a respeito da transferncia e do
vnculo no acompanhamento de pacientes em
intensicao de cuidados. O artigo transcor-
re dentro de uma pequena reviso sobre o que
pensava Freud quanto relao com o paciente,
ao mesmo tempo que traz as idias de Radmila
Zygouris, em seu O vnculo indito, onde ela se
nega a reduzir o vnculo estabelecido repetio.
a contraposio e complementao dessas
duas posies que permitir compreender, ao lon-
go do artigo, o conjunto das manifestaes que se
inauguram - ao se repetirem - na relao com os
pacientes. Assim, considerando o que prprio de
cada sujeito, os sentires, o sensvel e a subjetivida-
de, feita uma analogia entre a intensicao de
cuidados e a dana, tomando-as ambas como arte
e como vida. O artigo, dentro dessa discusso,
traz a anlise de um caso em acompanhamento,
sobre o qual se tem uma hiptese no exatamen-
te de amor transferencial, mas ao menos de uma
depositao mais macia. A partir da, discute-se
como manejar as relaes vinculares, no caso do
paciente, e como lidar com o que ele adjudica a
quem o acompanha, reconhecendo que o cresci-
mento dentro dessas vivncias recproco.
P
ontos de convergncia. sabido que h mi-
lhes deles entre a intensifcao de cuidados
e a prpria vida, embora, entre enlaces e entrela-
ces, ambos se misturem. Mas, ento, arriscar-me-
ei a puxar pelas artes que so to vida quanto
qualquer outra coisa - enquanto teo comentrios
sobre o conjunto das manifestaes que se inau-
guram - ao se repetirem - na relao com os pa-
cientes. No aspiro novidades, strictu sensu, mas,
no menos audaciosa...
Entre amores, quase-amores e no-amores
Fernanda Rebouas*
*Estudante de Psicologia (UFBA) e estagiria do PIC
241
(...) Aquilo que revelo
e o mais que segue oculto
em vtreos alapes
so notcias humanas,
simples estar-no-mundo,
e brincos de palavra,
um no-estar estando
mas de tal jeito urdidos
o jogo e a confsso
que nem distingo eu mesmo
o vivido e o inventado.
Tudo vivido? Nada.
Nada vivido? Tudo.
(Drummond, 1991)
Freud anunciava nuances de nossos modos de
existir com as discusses sobre transferncia, e
inaugura uma nova possibilidade de fazer com a
sade mental, uma experincia indita do ponto
de vista social e subjetivo. Assim, em sua Confe-
rncia XXVII (1916/1917), ele fala sobre o sujeito
transferir para a pessoa do mdico intensos sen-
timentos de afeio ou de hostilidade, sendo que
estes no podem ser explicados pela conduta do
profssional nem justifcados pela situao que se
criou durante o tratamento. Por isso que Freud
suspeitou de que esse arsenal de endereamentos
proviesse de outro lugar, j estando preparado no
paciente e pronto a emergir to logo surgisse uma
oportunidade (Freud, 1916/1917).
Parte das idias de Radmila Zygouris j apa-
recia indiretamente nos escritos psicanalticos de
1914, quando Freud, em Recordar, repetir, ela-
borar, fala da transferncia como um fragmento
de experincia real, tornado possvel por condi-
es favorveis. De certa forma, essa posio
concordante com Zygouris em seu O vnculo in-
dito (2002), embora ele ainda se mantenha na
idia pouco abrangente de doena artifcial.
Zygouris vai mais alm dessa posio ao falar
de um encontro, seja de duas estruturas, seja de
duas falhas, seja de duas demandas em abismo,
deixando a cu levemente mais aberto a subje-
tividade de ambos os danarinos, bem como os
aspectos pessoais inconscientes (Santos, 2006);
ambos se apresentam nesse nterim. A arte apare-
ceu sem que eu decidisse o momento. Mas a est
a dana, posta, como a msica, que invade os
sentidos mesmo quando no fomos ns a ligar-
mos a vitrola. Como a dana, essa modalidade
sobre a qual falamos da intensifcao de cuida-
dos deixa mostra que tipo de danarinos somos
ns, que ritmo nos mais confortvel, que esp-
cime de parceiro nos faz bambearmos na pista,
que momento vacilamos pedir para que a dana
se interrompa. Mas, enfm, como sujeitos que se
propem a acompanhar e muito mais, tornamo-
nos tambm danarinos dispostos a ouvir a m-
sica em alto volume e a danar, com o parceiro
que vier, a msica que nos convocar. Com muita
sorte (leia-se trabalho, implicao, arte e tcnica),
na manh seguinte, poderemos descansar os ps
ao som de um cool jazz, at que a vitrola toque
outra batida.
Dessa forma, respeitando o que h de nico
em cada dana e em cada parceiro, que Zygou-
ris se nega a reduzir o vnculo estabelecido re-
petio, pois a transferncia remete tambm ao
242
novo em virtude de sua eterna falha. Essa rela-
o, para a autora, feita de sentires, de emo-
es conscientes e inconscientes, da presena, do
que nico em cada um, do que prprio, das
singularidades jamais generalizveis e que no
podem exatamente se repetir. E como toda dan-
a e encontro de corpos que desejamos ou no
manter, o vnculo, para Zygouris, algo que pode
durar ou no, algo da vida. Essa aceitao
do vnculo fundamental, ao mesmo tempo que a
procura de um fm possvel para a transferncia,
constitui uma relao social e ntima verdadeira-
mente indita em nossas sociedades. (Zygouris,
2002).
Para fugir ao medo do inesperado e inevita-
bilidade de que o incrvel, o obscuro, o desconhe-
cido irrompa, profssionais da sade mental pro-
curam ao mximo seguir enquadres especfcos
e modelos de atuao pr-determinados e, para
tanto, se arriscam inadvertidamente, na tentativa
de impedir que a complexidade das relaes hu-
manas contamine o seu trabalho (Zygouris, 2002).
Tentativa v e, muitas vezes, inconseqente. Isso
porque o profssional, dessa forma, no estar
realizando sua tarefa teraputica no sentido de,
atravs do manejo das situaes transferenciais e
vinculares, ajudar o sujeito a lidar posteriormente
com as relaes na sua vida de uma forma geral.
Com suposta neutralidade ou no, h vida em
movimento, circularidade nas relaes e emer-
gncia do que j existe.
A clnica da intensifcao de cuidados no nos
permite almejar tal posio discutida acima. A ir-
rupo do novo a que estamos sempre subme-
tidos to incisiva que, maioria dos acompa-
nhantes, no resta esta alternativa. O processo
vivido a todo tempo conjuntamente e, para pensar
a relao usurio-estagirio, h de se estar aber-
to para olhar para o encontro que se estabelece,
para pensar a unio no entre do que se cria e se
recria nessa trama de tempo presente (Barbosa,
2006), que, como a dana, depois de formado o
par, impossvel de ser sozinha. Quando se olha
para um, j est olhando-se para o outro ou ou-
tros, e para ver de que dana se fala, no h ou-
tro jeito a no ser sentir o todo. Dana de dois, de
trs, ou de grupo, os envolvidos so muitos.
Problema est dado quando um dos dana-
rinos nesse caso, o que acompanha acaba
tomando o palco, no por seus atributos pesso-
ais de leveza e graa, mas porque assim o pos-
sibilitou a situao. E, para tanto, no falemos
apenas de impulsos instintuais reprimidos, mas
do que contribui sendo prprio de cada um, do
que chama Zygouris de plano do sensvel. H
uma maneira bem particular do danarino se mo-
vimentar na pista, que no se sabe muito bem
de onde vem, mas que interfere de forma funda-
mental no vnculo que se cria entre os parceiros
e em como sero as danas a partir de ento.
nesse paradoxo de lgica e imprevisibilidade que
fcamos susceptveis s surpresas que viro pela
frente, aos sentimentos que surgiro, ao amlga-
ma que encobrir usurio e estagirio (Santos,
2006). Este ltimo, como o primeiro, posto em
confguraes transferenciais em que imperam os
mais distintos e intensos confitos e ansiedades,
algo que precisa ser cuidado, pois o tratamento
243
seguir aps esse encontro e a crise que se en-
frenta (Santos, 2006).
Falamos de crise, falemos de psicose, desses
sujeitos que so em crise, muito mais do que
esto, para que ela no parea por demais de-
savisada sobre as particularidades transferenciais.
Lembremos tambm dos aspectos simboticos
e autsticos (Bleger, 1991), os quais existem in-
dependentes da estrutura psquica ser neurtica
ou psictica, para que assumamos que a mesma
matria que constitui uma constitui a outra. Se-
gundo Gilsa Tarr de Oliveira, a psicose exibe
claramente como o rigor de uma lgica bivalente
comanda uma relao inteiramente fusional com
o semelhante que fomenta o amordio., poden-
do o sujeito apresentar tanto condutas autsticas
quanto simbiticas alternadamente, bem como a
coexistncia desses dois tipos (Bleger, 1977). Pi-
chon (apud Bleger, 1977) acrescenta que a ten-
dncia a estabelecer contato com outras pessoas
to intensa quanto a tendncia ao isolamento
como defesa.
Uma diferena crucial e estrutural, entretanto,
o fato de que essa experincia de ambivalncia
simbiose e autismo emerge, nos psicticos, na
sua parte desorganizada, estando eles submeti-
dos a um controle menor quanto a uma instncia
de gesto, por ocuparem uma posio menos
estruturada a partir das experincias como sujei-
tos que tiveram. Bleger (1977) prope haver um
lado desorganizado em todos ns, uma parte
psictica da personalidade, mais imatura e mais
primitiva e que permaneceu segregada do ego
mais integrado e adaptado. Essa parte, dentro
do pensamento lacaniano, condicionada pelo
mecanismo da foracluso do Nome-do-Pai, o
que, segundo Gilsa Tarr de Oliveira, acarreta
uma profunda perturbao da relao do sujeito
com o Outro, terceiro simblico e suporte de nos-
so pertencimento ao mundo humano.
A no-discriminao entre eu e no-eu, mundo
externo e mundo interno, depositrio e projetado,
decorrente da ausncia da lei e caracterstica
fundamental da parte psictica da personalidade
e da transferncia psictica. Ela faz com que o Ou-
tro perca seu lugar de alteridade para este sujeito,
tornando-se opressor e no dando possibilidade
de que se inscreva a troca. Segundo Gilsa Tarr
de Oliveira, esse corpo a corpo mortal denun-
cia o quanto a relao topolgica entre externo
e interno torna-se eminentemente problemtica,
provocando um apagamento do lugar subjetivo,
pois obriga o sujeito a uma resposta no campo
do real.
Mas, se esto os sujeitos psicticos fora-do-dis-
curso, fora do simblico e, portanto, fora do lao
social por estrutura (Quinet, 2006), poder-se-ia
pensar numa impossibilidade lgica e estrutural
de faz-los circular por esses laos, com a hip-
tese de que jamais entrariam em relao com um
outro sujeito. Entretanto, dando os devidos des-
contos pelas caractersticas da transferncia psi-
ctica, estudadas por Bion (apud Bleger, 1977)
prematura, precipitada, macia, tenaz e frgil
-, a vida cotidiana e a clnica com a psicose nos
mostram que esses sujeitos tm as suas tentativas
particulares de lao social e de vnculo, pois, em-
bora fora do signifcado, o psictico no est, de
244
modo algum, fora do sentido (Juranville, 1987).
E isso fca mais claro quando dividimos a dana.
Passo ento a fala para a parte de mim que
cuida dos casos clnicos e que se mistura a todo
tempo com as outras partes.
Falarei de V., 25 anos, usurio do Programa de
Intensifcao de Cuidados (PIC) desde o incio
deste. E, embora tudo tenha comeado quando
tenha comeado, situarei o nosso incio na super-
viso em que eu mesma disse: Ele sempre foi o
paciente que a gente pediu a Deus e, por isso,
sabamos que havia algo errado. O signifcante
soou forte, alm de se repetir, e eu e minha dupla
fomos arrebatadas pela seguinte questo: No
teriam sido vocs as estagirias que ele pediu a
Deus?. Engolindo seco, pensei em que medida
conseguimos ser Outro para esse sujeito. Isso
porque descobrimos que V. estava encenando
todo o tempo para ns uma vida extremamente
equilibrada, camufando uma srie de desorga-
nizaes e confitos. Confesso, deixamo-nos en-
ganar. Mas, cometida tal falha, nos apoderamos
da posio de depositrias que descobrimos, de
algum modo, j ocuparmos (principalmente pelo
seu investimento e preparo pessoal para nos re-
ceber), na tentativa de produzir a to falada al-
teridade e, assim, viabilizar que ele tambm se
situasse no lugar de outro.
A partir desse momento, o comportamento de
V. foi sutilmente se modifcando. Ele comeou a
nos confar mais suas inquietaes e a nos permitir
ir entrando, com muito cuidado, nos seus mbitos
mais profundos, para que pudssemos ajud-lo a
dar sentido a suas experincias. Acho que, enfm,
algo estava caminhando, mesmo que a passos
curtos. Mas, como em campos transferenciais es-
tamos sempre sujeitos a shows abrilhantados e a
quedas bruscas, a nossa histria no acaba a. O
que venho relatar agora ainda constitui impres-
ses muito iniciais e aparecer mais a ttulo de
ilustrar a nossa discusso do que de propriamente
oferecer uma anlise precisa do caso.
Uma hora da manh. V. liga para o meu ce-
lular, o que nunca havia ocorrido anteriormente
nesse horrio. Isso me preocupa, no exatamente
pelo carter pouco convencional da situao em
si embora tambm - mas porque tal comporta-
mento, extremamente comum em outros pacien-
tes, fugia maneira como ele vinha se portando
conosco. Mais curioso ainda foi o motivo expres-
so para a ligao: entre rodeios, segundos de
silncio e frases entrecortadas, ele disse-me que
estava a fm de uma menina e que no tinha co-
ragem de contar, falar com ela. Soou, no mnimo,
estranho, a ligao em plena madrugada para
comunicar tal fato. Junto a isso, h as inmeras
ligaes de V. para mim diariamente (estas em
horrio comercial), dentre as quais a maioria no
tinha um motivo especfco ou dizia ele estar se
sentindo sozinho, bem como o seu comportamen-
to sempre muito observador sobre minhas roupas,
cabelo, vida pessoal, seus olhares fxos para mim,
entre outras coisas. Enfm, o que se visa aqui no
confrmar se a menina para a qual ele en-
dereava seus sentimentos era, de fato, eu, mas
colocar na pista a hiptese, esta mais embasada
em percepes sutis do cotidiano do acompanha-
mento do que em declaraes propriamente ditas.
245
Entretanto, ainda assim, tal suposio no indica
exatamente um caso de amor transferencial, mas,
pelo menos, uma depositao mais macia.
Interessante notar que a intensifcao de
comportamentos mais erotizados de V. em rela-
o a mim comeou a surgir quando passamos
a caminhar no sentido de produzir continncia;
provavelmente, o ver-se contido tenha sido
complicado por demais para esse sujeito. Lem-
bramos novamente de Freud, quando em seu
texto Observaes sobre o amor transferencial
(1914/1915), falou sobre as ocasies nas quais
se est tentando levar o paciente a admitir ou re-
cordar algum fragmento particularmente afitivo e
pesadamente reprimido da histria da sua vida,
e, nesse sentido, remeto nossas refexes, mais
uma vez, importncia da delicadeza nas nossas
intervenes. No que se refere a V., v-se que, a
partir de um dado momento, ele estava entrando
em contato com contedos novos e que talvez isto
estivesse sendo muito penoso, levando-o a fazer
uso da transferncia como arma forte de resistn-
cia. Dando-se conta de que as deformaes do
material patognico no podem, por si prprias,
oferecer qualquer proteo contra sua revelao
(1914/1915), a utilizao de tal artimanha mu-
daria o foco do tratamento e desviaria seu inte-
resse sobre o trabalho, concluindo Freud que, de
fato, a intensidade e persistncia da transfern-
cia constituem efeito e expresso da resistncia
(1914/1915).
Perguntamo-nos ento: O que fazer com
isso tudo?. Diria, a priori, que a palavra-chave
suportar, palavra com a qual nos defrontamos
tantas vezes quando ousamos escorregar. Pchon
(2000), em Teoria do Vnculo, nos auxilia bas-
tante nessa empreitada ao falar sobre a teoria dos
trs D (depositante, depositrio e depositado). Se-
gundo ele, a comunicao entre o usurio e o
acompanhante se produz na medida em que o
primeiro adjudica um papel ao segundo e este
o assume, sendo tal fenmeno fundamental para
que a clnica acontea. Isso especialmente im-
portante quando lembramos a ambigidade que
constitui tais sujeitos em sua relao conosco, em
um misto de repulsa e endereamento, intros-
peco e alienao. Acrescentamos posio
de Pichon a de Ferenczi (apud Zygouris, 2002)
que, analogamente, fala sobre a importncia de
o estagirio participar da dana sugerida pelo
usurio, enquanto parceiro desapreensivo, com
pouca ansiedade e capaz de aceitar em depsi-
to qualquer coisa que o paciente queira colocar
nele, deve se colocar de um modo particular
(...) disposto a controlar e cuidar daquilo que foi
depositado nele (Pichon, 2000). Entretanto, no
fquemos nessa posio unilateral. O prprio Pi-
chon acrescenta: Para que se estabelea uma
boa comunicao entre dois sujeitos, ambos de-
vem assumir o papel que o outro lhe adjudica,
o acompanhante sempre se questionando sobre
estar ou no na posio devida de depositrio,
sobre as afetaes que esto permeando a rela-
o. Isso s ser possvel se no nos limitarmos
questo sobre o que fao para produzir efeito
no outro, colocando mostra, ao menos para
si, a pergunta quem sou eu?, pois, a partir
disso, que se produz efeito no outro. Ns somos a
246
matria-prima da nossa clnica. Assim, sabendo-
se necessrio dialogar com a experincia psquica
do sujeito, dando lugar sua signifcao e es-
tando atento aos olhares e dizeres, aportamo-nos
no que h de arte e no que h de tcnica dentro
da clnica; no que h de novo e no que h de
repetido.
No podemos negar que o manejo das rela-
es vinculares representa grande difculdade,
mas tambm excelente instrumento. Segundo
Freud (1916/1917), seria impossvel ceder s exi-
gncias do paciente, decorrentes da transfern-
cia, mas, ao mesmo tempo, seria absurdo se as
rejeitssemos de modo indelicado e, o que seria
pior, indignados com elas. Dessa forma, seria
to desastroso para a clnica que os anseios do
paciente fossem satisfeitos, quanto que fossem su-
primidos; o estagirio deve se lembrar que est
lidando com um vnculo indito e que deve seguir
um caminho para o qual no h modelo na vida
real (1914/1915). Ele precisa ter cuidado para
no se afastar do vnculo que foi estabelecido,
nem repeli-lo ou torn-lo desagradvel para o
usurio, mas tambm deve recusar retribuio.
Pensaremos agora, mais especifcamente, so-
bre V., sobre o acompanhar a sua solido, ao
mesmo tempo em que movimentvamos sua imo-
bilidade (Barbosa, 2006). Em primeiro lugar,
preciso ter claro que no devemos julgar se uma
conduta boa ou m (...), [observando] simples-
mente qual a fnalidade da comunicao, cons-
cientes de que aquilo que o paciente est fazendo
a nica coisa que ele pode fazer nesse momento
e nessa situao particular (Pichon, 2000). Isso
importante inclusive para que a resistncia no se
torne do estagirio!
Em relao a V., era muito pouco provvel que
ele declarasse qualquer coisa palpvel, caso a
nossa hiptese sobre o amor transferencial esteja
correta. Isso porque, durante o acompanhamento,
percebemos que as situaes com V. mantinham-
se muito no campo do no-dito, do enigmtico,
e muitas informaes que tnhamos sobre o caso
eram provindas da sua famlia ou de suposies
nossas. Justamente por isso, no seria fcil - e
nem deveramos - exercer corte ou colocar limi-
tes, mas sim produzir, dia aps dia, atravs de
pequenas intervenes, a citada continncia, j
que os limites, por serem externos, no costumam
ser sufcientes para surtir efeito em pacientes psi-
cticos, por estes, geralmente, estarem totalmente
fora do registro simblico e da experincia ps-
quica que permite a normatizao. Junto a isso,
importante pensar que efeito teria isso para o
sujeito a partir da maneira como seria feito, pois
uma grande questo dos pacientes como sero
algum no mundo, de que maneira podero exis-
tir, e uma interveno inadequada pode prejudi-
car o sujeito com relao ao sentido que atribui
a si mesmo: Ela rejeita meu amor porque sou
pobre, ou porque sou negro, ou porque uso dro-
gas, etc?. Devemos tentar faz-lo entender que o
que ele enderea est sendo aceito, embora no
correspondido, mas isso no se deve falta de
atributos pessoais.
Iniciamos a nossa interveno com V. dialogan-
do sobre o telefonema da madrugada, no sentido
de ir fazendo-o entender que no somos uma ex-
247
tenso dele mesmo. Nesse sentido, discorremos
sobre a possibilidade de certos assuntos espera-
rem at a prxima visita ou at um horrio mais
vivel, sem, com isso, invalidar a sua importncia;
falamos tambm sobre o fato de termos outras ati-
vidades e vida pessoal, e, por isso, no estarmos
sempre aptas a atender os telefonemas. Apresen-
tado dessa forma, talvez tenhamos a impresso
de termos sido rudes ou frmes em demasia, mas
vale ressaltar que essas atitudes foram tomadas
com bastante cuidado e sutileza. O a partir da,
receio informar que no haver como dar muitas
informaes, assim como os danarinos se abstm
de explicar as milhares de pequeninas movimen-
taes que formam um passo de dana. Primeiro,
porque o caso est em andamento e os aconteci-
mentos citados so muito recentes, no havendo,
de fato, grandes consideraes a serem feitas so-
bre atitudes tomadas. Segundo, porque, como j
havia dito, este sujeito, como muitos outros, no
pede exatamente como ferramenta intervenes
enrgicas; quase tudo construdo na base da
delicadeza, de intervenes mnimas. Dessa for-
ma, pensar e agir atravs do vnculo constitui um
desafo constante, pois no se trata de descobrir
como ocorre a depositao e no se preocupar
mais com isso; ora estamos colocados aqui, ora
ali (Metzger, 2006); a luta incessante, o show
tem que continuar.
Ao fnal dessa discusso, mas certamente no
ao fm da dana, algumas consideraes podem
ser feitas, talvez muito mais poticas do que te-
ricas. Confesso que, se sei um pouco sobre V.
hoje atravs do que ele tem me mostrado, sei
muito mais do que sabia antes sobre mim mes-
ma. Os pacientes, a todo tempo, fazem com que
nos olhemos no espelho, e o que vemos nada
mais do que o refexo do que j existe em ns. A
riqueza do encontro est justamente nas criaes
e recriaes que surgem a partir dele, aquilo que
lhes dar forma, contorno e a possibilidade de
movimento emocional, fsico e psquico (Santos,
2006). O vnculo este estar sempre a desdo-
brar-se nos movimentos que produzimos e nos
detemos a pensar, interpretar, compreender, en-
carnar (Santos, 2006).
A arte nos ensina que se dana para si mes-
mo e para a msica, mas com o outro. nes-
se momento que as pernas precisam fcar frmes
para que se possa danar no ritmo instalado. No
demore demais para no sair do compasso, no
se apresse demais para no acabar no cho! As-
sim como a dana, a intensifcao de cuidados
sempre nos trar ambigidade nos sentimentos,
a depender do contexto. Termino, por isso, com
perguntas do Drummond (1991), que nos faro
contradio, que nos permitiro a complexidade
e que nos traro, possivelmente, nada mais do
que respostas-perguntas.
Que metro serve
para medir-nos?
Que forma nossa
e que contedo?
Contemos algo?
Somos contidos?
Do-nos um nome?
248
Estamos vivos?
A que aspiramos?
Que possumos?
Que relembramos?
Onde jazemos? (...)
Referncias
ANDRADE, C. D. Claro enigma. 2 ed. Rio de Janeiro:
Record, 1991.
BARBOSA, A. C. Acompanhante-acompanhado: hist-
ria de dois. In: R. G. Santos. Textos, texturas e tessituras: no
acompanhamento teraputico.: Hucitec, 2006.
BLEGER, J. O grupo como instituio e o grupo nas insti-
tuies. In: R. Kas, et al. A instituio e as instituies. So
Paulo: Casa do Psiclogo, 1991.
_________. Estudo da dependncia-independncia em
sua relao com o processo de projeo-introjeo. In:
Simbiose e ambigidade. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1977.
_________. Estudo da parte psictica da personalida-
de. In: Simbiose e ambigidade. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1977.
FREUD, S. Recordar, repetir e elaborar. In: Standard
Brasileira das Obras Psicolgicas Completas de Sigmund
Freud. Rio de Janeiro: Imago, v.XII, 2 ed, 1914.
_________. Conferncia XXVII. In: Standard Brasileira
das Obras Psicolgicas Completas de Sigmund Freud. Rio
de Janeiro: Imago, v. XVI, 2 ed, 1916/1917.
_________. Observaes sobre o amor transferencial.
In: Standard Brasileira das Obras Psicolgicas Completas
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, v. XVI, 2 ed,
1914/1915.
JURANVILLE, A. Lacan e a flosofa. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1987.
METZGER, C. Um olhar sobre a transferncia no acom-
panhamento teraputico. In: R. G. Santos. Textos, texturas
e tessituras: no acompanhamento teraputico. : Hucitec,
2006.
PICHON RIVIRE, E. Vnculo e teoria dos trs D (depo-
sitante, depositrio e depositado). Papel e Status. In: Teoria
do Vnculo. 6 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
QUINET, A. Psicose e lao social. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2006.
SANTOS, R. G. Ventos transferenciais no acompanha-
mento teraputico. In: R. G. Santos. Textos, texturas e tessi-
turas: no acompanhamento teraputico. : Hucitec, 2006.
OLIVEIRA, G. F. T. Foracluso e lao social: os avatares
da funo paterna no mundo. Acessado em http://www.ge-
ocities.com/HotSprings/Villa/3170/GilsaOliveira.htm.
ZYGOURIS, R. O vnculo indito. So Paulo: Escuta,
2003.
Dados e eventos
251
A
Constituio Federal de 1988 introduziu um
novo patamar de cidadania para os brasilei-
ros. As mudanas na legislao propiciaram o
resgate da cidadania e a ampliao dos direitos
dos portadores de transtorno mental. Mais espe-
cifcamente, o Art. 5 da Constituio que se re-
fere aos Direitos e Garantias Fundamentais dos
cidados brasileiros, a Lei 10.216/01 e o Art. 3
do Novo Cdigo Civil produziram conseqncias
relativas proteo dos direitos de cidadania
destes sujeitos. Entretanto, apesar da fora destas
legislaes, suas conseqncias no tm sido su-
fcientemente apreendidas e operacionalizadas.
A partir do movimento da Reforma Psiquitrica,
a assistncia em sade mental no Brasil tem sido
alvo de importantes transformaes. Alguns seto-
res da sociedade civil lutam por um novo modelo
de ateno que priorize a dignidade, autonomia e
a reinsero na famlia, no trabalho e na comuni-
dade dos usurios dos servios de sade mental.
Com a promulgao da Lei Federal 10.216, os
direitos dos portadores de transtorno mental fo-
ram reconhecidos legalmente.
Na experincia de acompanhamento de pa-
cientes no Programa de Intensifcao de Cui-
dados (PIC) a psicticos, cuja atuao est em
conformidade com as novas diretrizes polticas de
ateno sade mental, constatamos uma falta
de sensibilidade por parte de certos rgos p-
blicos em incorporar sua cultura institucional os
paradigmas da Reforma Psiquitrica. Diante disso,
pode-se perceber que tais instituies, ao opera-
cionalizarem as polticas pblicas relacionadas a
esta parcela da populao, tendem a interpretar
as leis sem ter em perspectiva tais paradigmas, j
que as mesmas so passveis de julgamento sub-
jetivo.
Tendo em vista o redirecionamento da ateno
aos portadores de transtorno mental, a partir de
uma concepo ampliada de clnica que impe
aos profssionais de sade uma prtica profssio-
nal comprometida com os aspectos psicossociais
destes sujeitos, faz-se urgente um debate em torno
da mediao das prticas burocrticas por partes
dos mesmos, j que, ao modo tradicional de fazer
O BPC e a Banalizao
da Interdio Judicial: um exemplo de atuao clnico-poltica
*Psicloga graduada pela UFBA e ex-estagiria do PIC
** Estudante do curso de Psicologia (UFBA) e estagiria do PIC
Mariana Ferreira Santos Carteado*
Tatiana Lacerda Medeiros**
252
clnica, os dilogos com as instituies pblicas
e os trmites burocrticos que as caracterizam e
que se apresentam eventualmente para os nossos
pacientes so compreendidos como extraclni-
cos.
No acompanhamento a psicticos no referido
programa, uma situao especfca envolvendo o
requerimento de um benefcio assistencial o Be-
nefcio de Prestao Continuada, previsto na Lei
Orgnica de Assistncia Social (LOAS) revelou-
se como uma questo de pouca visibilidade e ex-
trema relevncia, devido prtica inconstitucional
de exigncia, por parte de determinados rgos
pblicos, da declarao de que os requerentes
so totalmente incapazes para o exerccio dos
atos da vida civil, o que acarreta a banalizao
da interdio judicial. Esse procedimento, indica-
do apenas para casos em que haja prejuzo grave
da capacidade de discernimento para a prtica
destes atos, ao ser imposto como condio para
o recebimento do benefcio, traz como conseqn-
cia a amputao desnecessria da cidadania de
inmeros portadores de sofrimento mental. O di-
reito a esta renda mnima, que poderia signifcar
um avano na conquista da autonomia por parte
destes sujeitos, torna-se assim uma armadilha da
pobreza.
Com base na interpretao tendenciosa de um
critrio expresso na LOAS, que restringe a con-
cesso do benefcio comprovao de incapa-
cidade para a vida independente e para o traba-
lho, criou-se uma cultura no interior do INSS de
encaminhamento dos requerentes ao Ministrio
Pblico Estadual para darem entrada no processo
de interdio. O Ministrio Pblico, por sua vez,
acata estes pedidos e os encaminha ao Judicirio,
que fnaliza o processo, desabilitando a cidadania
do sujeito.
Diante de recursos to escassos de sobrevivn-
cia, o psictico facilmente abre mo da sua cida-
dania em troca de um benefcio fnanceiro, o que
se justifca pelo fato de que a discusso da cida-
dania e dos direitos humanos se apresenta para
tais sujeitos de maneira muito sofsticada, contra-
pondo-se concretude das difculdades fnancei-
ras do cotidiano. Tendo em vista uma clnica psi-
cossocial das psicoses que opera no registro do
respeito autonomia e dignidade do portador
de transtorno mental, faz-se urgente atentar para
as dinmicas institucionais que vo de encontro a
estes princpios e que impedem a evoluo clnica
dos nossos pacientes. Assim, o profssional de psi-
cologia comprometido com o modelo assistencial
defendido pela Reforma Psiquitrica deve assumir
um posicionamento poltico ativo, manejando
junto ao paciente as situaes crticas emergentes
da sua relao com as instituies, assumindo um
papel questionador dos paradigmas que norteiam
as aes dos atores institucionais e atuando em
consonncia com a defesa dos direitos dos por-
tadores de transtorno mental previstos nas legis-
laes.
Tendo essa perspectiva em vista, o PIC, unido
Comisso de Direitos Humanos da OAB-BA,
ao Conselho Regional de Psicologia e ao Con-
selho Regional de Servio Social, promoveu um
seminrio com o tema Direitos dos Portadores de
Transtorno Mental: atualizaes legais, realizado
253
no dia 9 de Maro de 2007 no auditrio da OAB-
BA, contando com a participao de representan-
tes das instncias envolvidas com a problemtica
da banalizao das interdies judiciais no Brasil:
Ministrio Pblico Estadual, INSS, Defensoria P-
blica e Associao Psiquitrica da Bahia. O de-
bate, alm de lanar luz sobre o incremento da
Interdio Judicial e oferecer os devidos esclare-
cimentos acerca dos reais critrios para a con-
cesso do Benefcio de Prestao Continuada aos
portadores de transtorno mental, teve como prin-
cipal intuito o comprometimento de cada um dos
envolvidos na interface desta temtica, em aes
efetivas que visem transformao da cultura e
das prticas institucionais.
254
O
Programa de Intensifcao de Cuidados a
Pacientes Psicticos teve incio em janeiro
de 2004 e, desde ento, j atendeu cerca de 40
pacientes e recebeu e preparou, entre estagirios
e extensionistas, 71 de Psicologia, 41 de Terapia
Ocupacional e 3 de Medicina, sendo que muitos
em regime semestral; outros, anual e alguns, in-
clusive, permanecendo por trs semestres conse-
cutivos.
O PIC tem inspirado a realizao de alguns
trabalhos de concluso de cursos de graduao e
ps-graduao:
Monografa de concluso de curso de Terapia
Ocupacional de Fernanda Abreu Rodrigues, na
poca ainda estagiria do programa, que teve
como tema Programa de Intensifcao de Cui-
dados um caminho para a qualidade de vida,
Monografa da terapeuta ocupacional No-
mia de Arago Casais para concluso do curso
de Especializao em Sade Mental do Depto de
Neuropsiquiatria da UFBA, que teve como tema
Acompanhamento Teraputico - uma tecnologia
na ateno psicossocial.
Monografa de concluso de curso de Terapia
Ocupacional de Larissa Figueiredo Santos, na
poca ainda estagiria do programa, que teve
como tema Redes sociais em sade mental: uma
experincia com o Programa de Intensifcao de
Cuidados a Pacientes Psicticos.
O PIC tambm esteve presente, como progra-
ma assistencial ou discutindo alguns dos seus as-
pectos relevantes, atravs de apresentaes orais
e psteres, em importantes eventos tais como:
Congresso Norte Nordeste de Psicologia (Sal-
vador, 2005)
Congresso Latinoamericano de Extenso Uni-
versitria (Rio de Janeiro, 2005)
Ofcina sobre Ateno Domiciliar no Encon-
tro Nacional de Sade Mental (Belo Horizonte,
2006)
O PIC em letra e nmero
255
Congresso Internacional de Direitos Humanos e
Sade Mental (Buenos Aires, 2006)
V Congresso Norte-Nordeste de Psicologia
(Macei, 2007), em que foram apresentados os
seguintes trabalhos:
Transbordamento psictico: desafos e possibi-
lidades de interveno
A formao de dades no trato com a loucura:
acompanhando os acompanhantes
Intensifcao de cuidados a pacientes psic-
ticos: uma clnica ampliada
Interdio judicial de pacientes psicticos: a
amputao da cidadania
Psicose, maternidade e papis sociais
Dana e xadrez: o papel da intensifcao de
cuidados no fortalecimento da autonomia de Fe-
lipe
A abordagem da crise na psicose
O vnculo e a transferncia na clnica psicosso-
cial das psicoses
II Frum Internacional de Sade Mental e D. H.
no Rio de Janeiro (maio,2008).
Tambm foram realizados cursos no formato
de atividades de extenso, visando oferecer aos
estagirios e ao pblico externo uma complemen-
tao dos aprofundamentos tericos especfcos
vinculados ao nosso universo de trabalho teri-
co:
Curso de Extenso Elementos Tericos para
uma Clnica Psicossocial das Psicoses, realizado
nos perodos de setembro a dezembro de 2005
e maro a junho de 2007, na UFBa, que contou
com 50 alunos na primeira turma e 40 na segun-
da.
Curso de Extenso A tica e a tcnica do Acom-
panhamento Teraputico, realizado em dois pe-
rodos, novembro e dezembro de 2006, com 30
alunos em cada turma, que contou com o Prof.
Kleber Barretto, prof. doutor da Unip, como mi-
nistrante.
Disciplina optativa: Ateno Psicossocial em
Saude Mental. Departamento de Psicologia UFBA,
2007.2.
Encontro Nacional de Sade Mental (Belo Horizonte, 2006)
256
Psicologia
dem Ramos
Adriana Bitencourt
Aline Freire de Carvalho Frey
Allan Jeffrey Vidal Maia
Allann da Cunha Carneiro
Amanda Muniz Caetit
Amon Requio de Castro
Ana Luisa Marques Fagundes
Ana Margarete Freitas
Ana Paula Miranda da Hora
Ana Paula Silva Pereira
Andra Pato
Antnio Marcos Santana Barreira
Carla Silva Fiaes
Carolina Brando Vieira Lima
Caroline Barbosa Tanajura
Charlene Gomes de Souza
Clotildes Silva Sousa
Cristiane Batista da Silva
Daphne Soares
Emanuelle Teixeira
rica Almeida Coelho
Fernanda Rebouas
Fernanda Vidal
Fernando Luiz Failla
Filipe Soares Rodrigues
Flavia Bomfm Hasselman
Flora Albuquerque Matos
Gabriela Pena Cal
Gabriela Souza de O. Sampaio
Gelly Costa
Gisele Lopes
Isadora de Andrade Pinheiro
Ivana Maciel Cangussu
Jaqueline Vitoriano
Jamili Calixto
Joo Batista Pereira Neto
Jlia Mignac dos Santos
Juliana de Andrade Passos
Ktia Cordlia Cunha Carneiro
Lara Hardman
Larisa Andrade e Castro
Leila Reis Leal
Leza Nazareth
Lvia Gomes de Vasconcelos
Lorena de Almeida Oliveira
Luane Neves
Lucineide Santiago de Souza
Lygia Silva Pedreira de Freitas
Maria Anunciao Brites Guimares Frana
Maria Clara Guimares
Mariana de Castro Brando Cardoso
Mariana Ferreira Santos Carteado
Marianna Luiza Alves Soares
Marilia de Azevedo Alves Brito
Marines Oliveira
Milena Gonalves Sobral
Milena Silva Lisboa
Relao de estagirios/extensionistas
treinados pelo PIC
257
Mnica Machado de Matos
Naiara Oliveira
Nara Corts Andrade
Polyana P. Mendona
Sandra Assis Brasil
Sheila Silva Lima
Tatiana Medeiros
Thiago Lima Mello
Vanessa Nobre Vilas Bas
Vera Christiane Rittel
Wellington Carlos
Terapia Ocupacional
Adriana Balaguer (Supervisora substituta)
Adelly Rosa Orselli Moraes Sodr
Adriana Bitencourt
Alanda Ribeiro Dos Santos Andrade
Ana Claudia Silva Braga
Ana Cristina Oliveira Nogueira
Ana Patrcia Oliveira Souza
Ana Paula Silva Pereira
Carol Silva Andrade
Clarissa Brito Barbosa
Daniela Maria Ribeiro Astolpho
Dayane Boa Ventura Lima
Eitha Milena Teixeira Arajo
Ester Bonfm Ges
Fernanda Abreu Rodrigues Nascimento
Fernanda Gonalves de Moura
Flvia Conceio Borges Matos
Gisele Duarte Lordelo
Hlvia Vieira Aguiar
Itatiara Nascimento
Jamile Oliveira Menezes
Ktia Luzia de Camargo Jesus
Larissa Figueiredo Santos
Leni Lima Silva
Lvia Maria dos Santos Cerqueira
Luciana Principe de Oliveira Galheigo
Luiana Lima Fernandes
Luza Viana Ferreira
Mabel Dias Jansen Silva
Magnovanda Martins D. Oliveira
Manuela Gagliano Ferreira
Maria Eduarda Nunes Correia Lima
Naama Correia Lima Pires
Patricia Barreto da Silva Rocha
Patricia Freitas Lima
Sharlene Bawes
Silvnio Silva Souza
Tmara Silva Cedraz
Thalita de Figueiredo Taboada
Thyena Oneida Carneiro Rios
Yandra Magalhes C. Marques
Medicina
Diego Espinheira da Costa Bomfm
Allana Silva
Lucas Nascimento
Apoio:
Вам также может понравиться
- Psicologia e promoção de saúde: Em cenários contemporâneosОт EverandPsicologia e promoção de saúde: Em cenários contemporâneosОценок пока нет
- Setembro Amarelo Suicidio Orientando A PrevençãoДокумент16 страницSetembro Amarelo Suicidio Orientando A PrevençãoCPSSTОценок пока нет
- Aplicações Dos Desenhos Projetivos VI - HTP Parte IVДокумент18 страницAplicações Dos Desenhos Projetivos VI - HTP Parte IVPaula MeloОценок пока нет
- Profecias Auto Realizadoras em Sala de Aula PDFДокумент9 страницProfecias Auto Realizadoras em Sala de Aula PDFjoaomartinelliОценок пока нет
- Theodor LowenkronДокумент33 страницыTheodor LowenkronLorraineMagesteОценок пока нет
- Helena - VA2 EsquizoanáliseДокумент2 страницыHelena - VA2 EsquizoanáliseLetícia FajardoОценок пока нет
- Aula 2Документ28 страницAula 2flaviana araujoОценок пока нет
- Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos em Catanduva SP.Документ77 страницCentro de Reabilitação para Dependentes Químicos em Catanduva SP.Juliene MesquitaОценок пока нет
- A Biologização de Problemas Psicológicos e A Psicologização de Problemas BiológicosДокумент4 страницыA Biologização de Problemas Psicológicos e A Psicologização de Problemas BiológicosrdlhazzОценок пока нет
- Relatório Supervisionado E.F.Документ8 страницRelatório Supervisionado E.F.HelenaОценок пока нет
- Psicoterapia Analítica Funcional - Criando Relações Terapêuticas Intensas e CurativasДокумент257 страницPsicoterapia Analítica Funcional - Criando Relações Terapêuticas Intensas e CurativasNatalia BlegniskiОценок пока нет
- Psicoeducação - Crenças Nucleares Negativas Disfuncionais - Desamparo, Desamor e DesvalorДокумент4 страницыPsicoeducação - Crenças Nucleares Negativas Disfuncionais - Desamparo, Desamor e Desvalorlais pires e silva lala piresОценок пока нет
- Livro - Psicologia Social Do Preconceito e Do RacismoДокумент143 страницыLivro - Psicologia Social Do Preconceito e Do RacismoWellisson VerissimoОценок пока нет
- Atuação Do Terapeuta Sistemico - MetaforasДокумент74 страницыAtuação Do Terapeuta Sistemico - MetaforasElsemara Alípio CostaОценок пока нет
- Introdução A PsicologiaДокумент25 страницIntrodução A PsicologiaCarlos Eduardo BaldinОценок пока нет
- Apostila Revisada PsicopatologiaДокумент91 страницаApostila Revisada PsicopatologiaAna Caroline MinelliОценок пока нет
- Monografia Psicanálise Sandro FontanaДокумент27 страницMonografia Psicanálise Sandro FontanalizanthusОценок пока нет
- Psicologia Desenvolvimento Contexto BrasileiroДокумент315 страницPsicologia Desenvolvimento Contexto BrasileiroFabio Pinheiro PachecoОценок пока нет
- Recursos de Enfrentamento (Coping)Документ14 страницRecursos de Enfrentamento (Coping)marcos003Оценок пока нет
- Livro-Texto Curso de Prevenção CompletoДокумент272 страницыLivro-Texto Curso de Prevenção CompletoMarcusОценок пока нет
- Avaliação Saúde MentalДокумент24 страницыAvaliação Saúde MentalM gamesОценок пока нет
- FMUSP20-Prova-045-Psiquiatria Da Infancia e AdolescenciaДокумент8 страницFMUSP20-Prova-045-Psiquiatria Da Infancia e AdolescenciaLeonardo Santos100% (1)
- Abordagens em Psicologia Saúde Mental CotidianaДокумент141 страницаAbordagens em Psicologia Saúde Mental CotidianaSERGIO REISОценок пока нет
- Gabarito Avaliacao Proficiencia Psicologia RE V1 PRF 345717 OriginalДокумент10 страницGabarito Avaliacao Proficiencia Psicologia RE V1 PRF 345717 OriginalCristiane SimõesОценок пока нет
- Primeira Parte Curso Psicologia Do DesenvolvimentoДокумент30 страницPrimeira Parte Curso Psicologia Do DesenvolvimentoCamilaMAlvesОценок пока нет
- O Caso Vera Análise Fenomenológico Existencial de Uma Experiência Fracassada Ou Dos Dilemas e Dos Impasses Dos Psicoterapeutas IniciantesДокумент26 страницO Caso Vera Análise Fenomenológico Existencial de Uma Experiência Fracassada Ou Dos Dilemas e Dos Impasses Dos Psicoterapeutas InicianteschristykellyОценок пока нет
- Conceitos e Técnicas Da Abordagem Centrada Na PessoaДокумент21 страницаConceitos e Técnicas Da Abordagem Centrada Na PessoaSaulo Almeida100% (1)
- CASO: Jovem Rapaz de 28 Anos Casado e Morando Com Mais UmДокумент2 страницыCASO: Jovem Rapaz de 28 Anos Casado e Morando Com Mais UmNielsen ValeОценок пока нет
- Resumo Desenvolvimento HumanoДокумент2 страницыResumo Desenvolvimento HumanoLaura CristinaОценок пока нет
- Mapa Social de Serviços Gratuitos Durante A Pandemia - UFMGДокумент7 страницMapa Social de Serviços Gratuitos Durante A Pandemia - UFMGMaia MieleОценок пока нет
- Primeiros Cuidados Psicológicos PDFДокумент24 страницыPrimeiros Cuidados Psicológicos PDFViviane MoraesОценок пока нет
- Avaliacao Psicologica Na Atualidade e Elaboraçao de Documentos Psicológicos 1 1Документ47 страницAvaliacao Psicologica Na Atualidade e Elaboraçao de Documentos Psicológicos 1 1Anderson AlvesОценок пока нет
- Psicologia Escolar E-BookДокумент229 страницPsicologia Escolar E-Bookana queziaОценок пока нет
- Livro Criatividade - Symon HillДокумент82 страницыLivro Criatividade - Symon HillSymon HillОценок пока нет
- Livro - Saude Mental Da Criança e Do Adolescente em Contextos Institucionais PúblicosДокумент211 страницLivro - Saude Mental Da Criança e Do Adolescente em Contextos Institucionais PúblicosRoseane RochaОценок пока нет
- Ensaio Um Estranho No NinhoДокумент2 страницыEnsaio Um Estranho No NinhoPedro GuimarãesОценок пока нет
- 4.1 - Jaspers - ResumoДокумент74 страницы4.1 - Jaspers - ResumoBruna Aqino Dos SantosОценок пока нет
- Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados & Transtornos Sono-VigíliaДокумент18 страницTranstorno Bipolar e Transtornos Relacionados & Transtornos Sono-VigíliaMaury SilvaОценок пока нет
- Melanie Klein - Conceitos PrincipaisДокумент47 страницMelanie Klein - Conceitos PrincipaisWalbenОценок пока нет
- Aula - Comunicação Nas Relações Interpessoais em SaúdeДокумент32 страницыAula - Comunicação Nas Relações Interpessoais em SaúdeArthur MonteОценок пока нет
- Apostila Do Curso PsicoterapiaДокумент115 страницApostila Do Curso PsicoterapiaAndré AraujoОценок пока нет
- Aula 10 - Aspectos Tecnicos - Recordar, Repetir e Elaborar - EstácioДокумент21 страницаAula 10 - Aspectos Tecnicos - Recordar, Repetir e Elaborar - Estáciosuele Souza100% (1)
- IGTnR 2006 17 PDFДокумент9 страницIGTnR 2006 17 PDFRaquel Santana MeloОценок пока нет
- Logoterapia - o Caminho e o Papel Dos Valores No Processo TerapêuticoДокумент10 страницLogoterapia - o Caminho e o Papel Dos Valores No Processo TerapêuticoMarcio JuniorОценок пока нет
- Cartilha PsicoterapiaДокумент48 страницCartilha PsicoterapiasandraОценок пока нет
- Resumo Rogério Castilho ISEC 01Документ1 страницаResumo Rogério Castilho ISEC 01João OliveiraОценок пока нет
- Centros Atencao Psicossocial Unidades AcolhimentoДокумент46 страницCentros Atencao Psicossocial Unidades AcolhimentoBete FerreiraОценок пока нет
- Placemaking Conceito, Aplicação e Pós-IntervençãoДокумент13 страницPlacemaking Conceito, Aplicação e Pós-IntervençãoEliel BaíaОценок пока нет
- FRAZÃO - Gestalt-Terapia 1Документ19 страницFRAZÃO - Gestalt-Terapia 1Giovanna F MenezesОценок пока нет
- Literacias Do Mindfulness Um Programa Longo de Práticas Na Sala de AulaДокумент3 страницыLiteracias Do Mindfulness Um Programa Longo de Práticas Na Sala de AulajotafreireОценок пока нет
- Transtornos Comportamentais Da Criança e Do Adolescente - v2Документ31 страницаTranstornos Comportamentais Da Criança e Do Adolescente - v2Alexandre SoaresОценок пока нет
- Matrizes Do Pensamento - Behaviorismo - A Busca Da Objetividade e o Laboratório de Wundt (Pronto)Документ40 страницMatrizes Do Pensamento - Behaviorismo - A Busca Da Objetividade e o Laboratório de Wundt (Pronto)Carmen MirandaОценок пока нет
- Transtornos Psicóticos - Slides para ImpressãoДокумент24 страницыTranstornos Psicóticos - Slides para ImpressãobenquererОценок пока нет
- Introdução À PsicopatologiaДокумент64 страницыIntrodução À PsicopatologiaAntonio Da SilvaОценок пока нет
- O Cerebro Piagetiano Revisão Final 2018-1Документ128 страницO Cerebro Piagetiano Revisão Final 2018-1Patrícia GrilloОценок пока нет
- Introdução À PsicologiaДокумент20 страницIntrodução À Psicologiarodolpho freitasОценок пока нет
- Aula de Transtornos de Personalidade TCCДокумент21 страницаAula de Transtornos de Personalidade TCCJoice Amanda Schwab BiegerОценок пока нет
- Psicologia e As MinoriasДокумент314 страницPsicologia e As Minoriasduh meu gostoОценок пока нет
- Chana Angústia PsicofДокумент12 страницChana Angústia PsicofRamosPauloGoncalvesОценок пока нет
- Aula 8 - PGII - A Atenção e Suas AlteraçõesДокумент3 страницыAula 8 - PGII - A Atenção e Suas AlteraçõesCharlisson Mendes100% (1)
- FISPQ AMB-C-16 #Atul003Документ3 страницыFISPQ AMB-C-16 #Atul003CONFIARE PINTURAS E JATEAMENTOОценок пока нет
- Ufcd 0349Документ57 страницUfcd 0349António AlvesОценок пока нет
- Folheto Crisma 1Документ2 страницыFolheto Crisma 1Murilo Vilas BoasОценок пока нет
- Transmissor Com Ba1404 e 2sc2458Документ8 страницTransmissor Com Ba1404 e 2sc2458carrlosalbertodossantossilvaОценок пока нет
- Ementa Curso Iluminação CênicaДокумент3 страницыEmenta Curso Iluminação CênicajouglaswiОценок пока нет
- 06 LIGACAO CUBO-EIXO - Chavetas Rev-CДокумент41 страница06 LIGACAO CUBO-EIXO - Chavetas Rev-CLuiz Carlos BrandaliseОценок пока нет
- BriofitasДокумент19 страницBriofitasDalton Homisio100% (1)
- O Guardador de Rebanhos IiДокумент2 страницыO Guardador de Rebanhos IiAna PaivaОценок пока нет
- A Psicoterapia Breve - Abordagem TCCДокумент19 страницA Psicoterapia Breve - Abordagem TCCAdriana AraldiОценок пока нет
- Prova Pism 2020 Dia - 1 Módulo - Iii SaúdeДокумент20 страницProva Pism 2020 Dia - 1 Módulo - Iii SaúdeGuilherme BaumgratzОценок пока нет
- 73 78Документ6 страниц73 78Thiago AguiarОценок пока нет
- 7 Regras de Ouro Dos Casais de SucessoДокумент24 страницы7 Regras de Ouro Dos Casais de SucessoAlineОценок пока нет
- To Accessories en - En.ptДокумент16 страницTo Accessories en - En.ptthamirislopesОценок пока нет
- Analise de VOZ Com WiresharkДокумент4 страницыAnalise de VOZ Com WiresharkAlexsandre MichelsОценок пока нет
- MecFund Aula 08 - Oscilador Harmonico Amortecido PDFДокумент57 страницMecFund Aula 08 - Oscilador Harmonico Amortecido PDFLeonardoMaiaОценок пока нет
- Bingo CientirinhasДокумент10 страницBingo CientirinhasCARLOS FALCASSA100% (2)
- 6P PDFДокумент9 страниц6P PDFChristian RafaelОценок пока нет
- Ecologia GeralДокумент4 страницыEcologia GeralCastigo Agostinho Castigo Jemusse50% (2)
- 20 Hábitos para Desenvolvimento Pessoal e ProfissionalДокумент23 страницы20 Hábitos para Desenvolvimento Pessoal e Profissionalanon_38127560100% (3)
- Sebenta TotalДокумент195 страницSebenta Totaldabysk100% (3)
- Capital SocialДокумент45 страницCapital SocialFocoОценок пока нет
- Desenvolvimento de Um Dispositivo Detector de Vazamento de Gás Utilizando Arduino Como Interface de AutomaçãoДокумент2 страницыDesenvolvimento de Um Dispositivo Detector de Vazamento de Gás Utilizando Arduino Como Interface de AutomaçãoLucas GodoiОценок пока нет
- As Microcervejarias No Brasil Atual - Eduardo MarcussoДокумент171 страницаAs Microcervejarias No Brasil Atual - Eduardo MarcussoodairnettoОценок пока нет
- Montando Um Descarregador de CapacitoresДокумент4 страницыMontando Um Descarregador de CapacitoresriofelizОценок пока нет
- Teorias BehavioristasДокумент12 страницTeorias BehavioristasCornélio Eugénio MarqueleОценок пока нет
- Asma e Rinite Ocupacionais 2010Документ6 страницAsma e Rinite Ocupacionais 2010Li LiuОценок пока нет
- GREGOLIN, Remontemos de Foucault A Spinoza-PecheuxДокумент11 страницGREGOLIN, Remontemos de Foucault A Spinoza-Pecheuxraquel_rybandtОценок пока нет
- Sexo Privilegiado (O Fim Do Mito Da Fragilidade Feminina) PDFДокумент8 страницSexo Privilegiado (O Fim Do Mito Da Fragilidade Feminina) PDFShirley Kettili100% (5)
- Questo Es - Qui Mica Ba Sica - Parte 1Документ8 страницQuesto Es - Qui Mica Ba Sica - Parte 1Manoele DominicОценок пока нет
- Dezembro LaranjaДокумент7 страницDezembro LaranjaLetíciaОценок пока нет