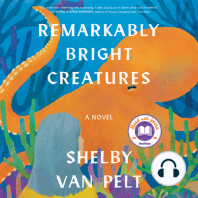Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Engrenagem 1
Загружено:
Davi Pessoa Carneiro BarbosaОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Engrenagem 1
Загружено:
Davi Pessoa Carneiro BarbosaАвторское право:
Доступные форматы
engrenagem
#1
ral antelo
DOSSI
engrenagem
engrenagem uma revista criada pelo grupo de pesquisa coordenado pelo Prof
Dr. Manoel Ricardo de Lima, no curso de Letras, Lngua Portuguesa e Literaturas
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Do grupo fazem
parte as alunas Beatriz Matos, Isadora Bellavinha, Isadora Marques e Marina
SantAna, que se dedicam a pesquisar, respectivamente, Paulo Leminski, Ana
Cristina Cesar, Hlio Oiticica e Torquato Neto, e Cacaso. Os sub-projetos de pes-
quisa das alunas esto vinculados ao projeto do professor, intitulado Poesia, os
anos 1960, 70, 80 - um arquivo por vir: releitura crtica e desdobramentos para
a produo contempornea [fnanciamento Faperj].
As edies da engrenagem, bimensais e editadas sempre por uma das
pesquisadoras, pretendem girar em torno da criao de um espao livre de
encontro entre as artes e a crtica, a partir de um novo olhar que d abertura
inveno e criao como modos de reler, reinventar, associar e aproximar
diferentes leituras e procedimentos.
contato
revistaengrenagem@gmail.com
www.blogrevistaqualquer.wordpress.com
1
expediente
engrenagem
ano 1 - nmero 1
janeiro 2013
rio de janeiro - RJ
uma publicao bimensal
orientao e superviso
[Manoel Ricardo de Lima]
bolsistas
[Beatriz Matos]
[Isadora Bellavinha]
[Isadora Marques]
[Marina SantAna]
conselho editorial
[Carlos Augusto Lima] - UFC
[Daniel do Nascimento e Silva] - UNIRIO
[Davi Pessoa] - UFSC
[Eduardo Sterzi] - UNICAMP
[Gustavo Rubim] - UNL
[Jlia Studart] - UNICAMP
[Leonardo Munk] - UNIRIO
[Maria Lcia de Barros Camargo] - UFSC
neste nmero:
edio
[Isadora Marques]
co-edio
[Marina SantAna]
projeto grfco
[Marina SantAna]
fotografa
[Dbora Ferrol]
textos
[Isadora Marques]
[Marina SantAna]
[Manoel Ricardo de Lima]
[Ral Antelo]
2
Agamben inicia seu ensaio O que o contemporneo?
1
retomando a ideia
de Nietszche de que o homem verdadeiramente contemporneo aquele que no
est adequado, no coincide perfeitamente com seu tempo; atravs desse leve des-
locamento, desse anacronismo, ele ento seria capaz de realmente apreender seu
tempo, olhar para ele de um lugar diferente. uma relao singular e especial a
que o contemporneo tem com o tempo, aderindo e tomando distncia simultne-
amente. Mas Agamben continua: o contemporneo, ao fxar o olhar no seu tempo,
no olha para as luzes, e sim para o escuro. Olhar o escuro uma ao, uma habi-
lidade; poder descobrir ativamente as trevas, a obscuridade do tempo, e saber que
essa obscuridade nos concerne, mais que as luzes. , tambm e principalmente,
um ato de coragem. O compromisso do contemporneo se inscreve no no tempo
cronolgico; mas uma urgncia que nasce dentro dele e o transforma. Quando o
contemporneo olha o escuro do presente, sem medo, ele pode dividir e interpelar
o tempo, colocar em relao o que anteriormente estava dividido, e ler a histria de
uma forma indita. O contemporneo rearma e cria sries imprevistas, novos rotei-
ros de leitura. Pode usar outras categorias pra resgatar e rearmar os fragmentos da
histria, da cultura, da arte.
Muito pertinente que essa nossa primeira edio venha logo aps o I Semi-
nrio Interdisciplinar da Escola de Letras da UNIRIO: Cartografas do contempor-
neo, com abertura de Ral Antelo, pois no contemporneo que se inscreve seu
pensamento. Tambm nessa perspectiva, nesse procedimento do contemporneo,
que encaixamos a vida e a arte de nossos objetos de pesquisa: Ana Cristina Cesar,
Cacaso, Hlio Oiticica, Torquato Neto e Paulo Leminski. Que a engrenagem seja sm-
bolo do nosso compromisso com o contemporneo, com reabrir, rearmar e mover o
arquivo. Bem vindos.
1 AGAMBEN, Giorgio. O que o contemporneo ? e outros ensaios. Trad: Vincius Honesko. Argos:
Chapec, SC, 2009.
Editorial
[Marina SantAna]
3
Para apresentar e falar minimamente acerca do trabalho do crtico cultural
e professor Ral Antelo, ou seja, da composio erudita, incisiva, anacrnica [no
sentido de uma coliso dos tempos] e desruptiva de sua fco-crtica, retomo
de certo modo o que afrmou Milton Santos em uma de suas ltimas entrevis-
tas, quando disse que a universidade, no Brasil atual, no passava de uma con-
tinuidade deliberada do colgio em seu pior sentido. Dizia ele que a universidade
perdera, principalmente, o seu carter de densidade: A minha impresso a de
que hoje uma boa parte dos estudantes quando entra na faculdade no sente
muita diferena entre o colgio e a faculdade. Ns a sentimos porque a forma
de dar aula, a densidade do curso, digamos assim, era diferente. [...] tnhamos
um ensino slido, muito consistente, provocativo, cheio de problemticas e ques-
tes.
Ao mesmo tempo, enquanto quase toda a discusso sobre literatura como
formulao radical e arriscada do pensamento no passa de um res a missa, ou
seja, da coisa perdida, da runa moderna e monstruosa se fechando como uma
esfera em direo ao espao-tempo contemporneo com uma imposio muito
foto: Debora Ferrol
Apresentao da conferncia de Ral Antelo na abertura do
I Seminrio da Escola de Letras da UNIRIO Cartografas do Contemporneo,
intitulada A biblioteca pegou fogo, no dia 05 de novembro de 2012
[Manoel Ricardo de Lima]
4
violenta do capital e da impossibilidade de qualquer noo de distncia [como
as circunstncias armadas pelo mercado editorial ou pela passividade crtica que
arma colees conformadas naquilo que est ao redor, por perto, ntimo], com
uma deriva poltica de que toda literatura dspar e que sempre preciso armar
sries imprevistas e heterogneas, desde suas aulas [das quais me orgulho de ter
sido aluno em mais ou menos seis ou sete de seus cursos durante meu doutorado
e ps-doutorado, e ainda depois disso, como aluno-ouvinte] at os seus tantos
livros [que tambm me orgulho de ter sido editor de dois deles: Ausncias, pela
Editora da Casa, em 2009, e a segunda edio de Algaravias discursos de
nao, pela editora da UFSC, em 2010].
E nessa perspectiva aberta que ele prope aqui, hoje, como ttulo, a partir
da imagem da biblioteca que pegou fogo, interessante lembrar da cena inicial
do captulo VI de Dom Quixote, quando a sobrinha pede ao padre Pero Prez e
ao barbeiro Nicols para fazer uma fogueira da biblioteca do ensandecido Alonso
Quijada [mas lembrem: o padre quem quer, antes de tocar fogo, ler e ver ao
menos alguns dos ttulos dos livros, o padre quem quer saber sobre o que toca-
ria fogo. E Nicols lhe mostra, primeiro, Los cuatro de Amads de Gaula, livro de
Garc Rodrigues de Montalvo, que teve sua ltima edio em 1508, e o ponto
de partida de todos os livros do ciclo de cavalaria]: No, disse a sobrinha, no
h para que perdoar nenhum, pois todos foram danadores; melhor ser atir-los
pelas janelas ao ptio e fazer com eles um monte e tocar-lhes fogo; ou, se no,
lev-los ao quintal, e l fazer a fogueira, para que a fumaa no ofenda. Cer-
vantes nos apresenta um problema fundamental ao estatuto moderno: o de que
parece no haver estado laico.
Depois, lembrar tambm da srie de esculturas de sombra do artista ita-
liano Claudio Parmiggiani, como esta, de 2003, uma espcie de biblioteca que
pegou fogo. Diz ele, numa defesa da perspectiva anacrnica, numa defesa de
sua condio de anartista: De onde somos? No sei, de nenhuma parte, de toda
parte, no ar, no fogo, de toda parte... E nossos corpos, onde? E nossos corpos,
do ar. O movimento? Assim lento. Que lentido, as memrias, vagas. E depois? E
depois? Tudo colapsa, tudo vive, tudo se move, tudo volta, nada passado. [tra-
duo minha] O trabalho de Parmiggiani, objeto de Georges Didi-Huberman em
seu livro Esculturas de Sombra ar poeira impresses digitais fantasmas
articulado criticamente a partir do poder do lugar que anda de mos dadas o
tempo inteiro com o poder do tempo; assim, Didi-Huberman sugere, anacroni-
camente, que o lugar que habitamos e o ar que respiramos so sufcientes para
formar o molde de impresso de todas as nossas imagens e de todas as nossas
memrias. Eis o nosso fantasma, a potncia da sombra: quando uma imagem da
memria se encontra com o ar. E a, numa articulao da sombra entre o devir-
-lugar e o devir-humano, a pergunta pode ser: como possvel ainda dar
densidade ao espao? Ou seguindo Derrida: o que resta do fogo?
5
Isso tudo, me parece, de alguma maneira, diz no s do que pode vir a
ser a conferncia do Ral Antelo aqui, hoje, mas diz tambm um pouco sobre
todo o seu trabalho que, a meu ver, composto por um pensamento dos mais
contundentes, ambiciosos e sofsticados que temos entre ns. Ral Antelo pro-
fessor titular de literatura brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina,
UFSC, Pesquisador-senior do CNPq, foi Guggenheim Fellow e professor visitan-
te nas Universidades de Yale, Duke, Texas at Austin, Autnoma de Barcelona e
Leiden, na Holanda. Presidiu a Associao Brasileira de Literatura Comparada
[ABRALIC]. autor de livros, como Transgresso & Modernidade; Potncias
da imagem; Crtica acfala; Maria com Marcel - Duchamp nos trpicos
e Alfred Mtraux: antropofagia e cultura. Entre tantas outras coisas, cola-
borou nos catlogos Roteiros. Roteiros. Roteiros , da Bienal de SP (1998);
Fricciones (Museo Reina Sofa, Madrid, 2000); Argentina Hoy (CCBB, SP-Rio,
2009) e Franklin Cascaes: desenhos / esculturas (2010). Editou A alma
encantadora das ruas, de Joo do Rio; Antonio Candido y los estudios
latinoamericanos e a Obra Completa de Oliverio Girondo para a coleo
Archives da Unesco.
Por fm, Mrio Faustino escreveu numa linha de seu poema A reconstru-
o: fca a meu lado, agora. E isso, no sentido de que tudo volta, de que nada
passado, logo, bem depois do quadro de Giovanni Serodine [de 1625] e muito
antes do texto de Giorgio Agamben intitulado O AMIGO, Mrio Faustino j apon-
tava nessa pequena linha que o nico acesso aparentemente possvel para uma
ofcina compartilhada do pensamento s se d com aquele que amorosamente
pode fcar em sua potncia de lugar, o do estranho: o amigo. Tal qual escreve
Ernesto Saba no comeo de seu poema intitulado AMIGO [fao uso da muito boa
traduo de Davi Pessoa]: Encontrar, / quando a vida est em seu declnio, o
raio / que primeiro a encantou: um amigo. o bem / que me foi dado. // Seme-
lhante e dessemelhante de mim, rebelde / e dcil.
uma alegria imensa t-lo aqui, conosco, no I Seminrio da Escola de Le-
tras, da UNIRIO, este um de nossos esforos para compor alguma densidade.
Seja bem vindo, muito obrigado em nome da Escola de Letras por ter aceito
o nosso convite, e muito obrigado, por tudo.
6
Ral Antelo
1
atualmente Professor Doutor na Universidade Federal de
Santa Catarina. Atua, principalmente, em teoria literria, modernismo e moder-
nidade, e poesia e crtica contempornea. Possui, dentre livros e artigos, uma
srie de textos e ensaios publicados. Em seus textos, seu pensamento parece
sempre fugir do lugar comum da critica e da poesia, e dos territrios pr-estabe-
lecidos pela flosofa e pela poltica, de modo a ocupar espaos ainda no tocados,
e a apresentar um novo olhar sobre a histria, sobre a literatura e a tradio.
Mas no so somente os nveis de lugar e de territrio que seu procedimen-
to parece rearmar, porm, tambm e principalmente a dimenso do tempo. Seu
movimento de escrita parece remontar e reapresentar o cnone atemporalmen-
te, de modo que faz as relaes mais inusitadas e interessantes entre os autores
da tradio e aqueles que se encontram fora ou ao lado dela. A partir disso, seu
texto nos coloca diante de um pensamento que parte da desconstruo de uma
ordem, seja social, seja do sistema literrio, ou do mercado, por exemplo. Contu-
do, no simplesmente constitui outra ordem, porm, cria novos caminhos para o
pensamento, que se abrem e se bifurcam constantemente, mas sempre de outra
maneira. Assim, talvez seja possvel dizer que Ral Antelo nos oferece formas
diferentes de enxergar o real, aquilo que est exposto no mundo.
O real, como convencionalmente reconhecido, est na verdade encober-
to e contaminado pela fco, pelo valor habitual e pela simbolizao universal,
a ele atribudos. O efetivo se torna representao e a representao se torna o
efetivo. Assim, um objeto s pode ser real quando ausente das concepes valo-
rativas e morais a partir das quais a sociedade habituou-se a enxerg-los. Porm,
os objetos so normalmente vistos por trs de seus signifcados simblicos; por
exemplo, o dinheiro s entra em circulao quando a ele atribudo valor, assim
como a histria s possui credibilidade quando contada de forma judicativa por
aqueles que exercem poder sobre ela, e que a submetem exclusivamente sua
tradio. Entretanto, o real s real, de fato, quando se desnuda de toda moral
e do senso comum, e por isso se trata daquilo que nos estranho, e que nos
causa certa resistncia. Um lugar da arte em que essa articulao do real na fc-
o, e vice-versa, se mostra de forma bem clara no cinema. O cineasta Pedro
1 Ral Antelo professor titular de literatura brasileira da UFSC. Pesquisador-senior do CNPq,
foi Guggenheim Fellow e professor visitante nas Universidades de Yale, Duke, Texas at Austin e
Leiden, na Holanda. Presidiu a Associao Brasileira de Literatura Comparada e integra a direto-
ria da Asociacin Espaola de Estudios Literarios Hispanoamericanos. autor de diversos livros
publicados no Brasil e no exterior.
Quando o real fico
[Isadora Marques]
7
Costa, ao comentar seu prprio procedimento de criao, aponta que o cinema
uma arte que alcana seu paroxismo com a ideia da falta, com a ideia do cine-
ma como uma arte da ausncia. (COSTA, p. 149, 2010)
1
, e que, por essa falta,
apresenta ao pblico uma realidade na qual ele no se reconhece, personagens
com os quais ele no se identifca, e com uma histria criada, e por isso fccional,
que revela uma realidade despida da forma convencional atravs da qual iludi-
mos nossa viso de mundo. Contudo, no se trata de separar a realidade de sua
camada de fco para obter uma realidade pura, e nem de simplesmente rela-
cion-las, o que seria, igualmente, consider-las separadas. Mas talvez a ideia
seja criar pontos comuns, passagens e portas de acessos entre uma e outra. Ao
comentar as Escritas polticas
2
, Roland Barthes afrma que as formas de poder
ou de combate produzem os tipos mais puros de escrita, j que nelas a palavra
se torna libi da linguagem, justifcativa dos atos, explicao dos princpios de
determinada ordem social ou fundamento de julgamentos e valores. Em con-
traposio, tambm faz referncia quelas escritas literrias que se preocupam
exclusivamente com o engajamento e com a forma, e que, por isso, so impo-
tentes e nada polticas. A partir disso, ento, Barthes no distancia estas duas
instncias de forma dicotmica, porm, nos aponta para um novo movimento de
escrita que se realiza, no atravs da relao superfcial entre fato e fco, entre
literatura e poltica, entre flosofa e poesia, mas na incorporao entre um e o
outro. O limite entre os polos antagnicos se transforma em limiar: o lugar onde
no se escolhe um ou outro, mas onde um e outro se encontram:
A expanso dos fatos polticos e sociais no campo de conscincia das Letras produziu um
tipo novo de scriptor, situado a meio caminho entre o militante e o escritor, retirando
do primeiro uma imagem ideal de homem engajado, e do segundo a ideia de que a obra
escrita um ato. (BARTHES, p. 23, 2004).
A escrita de Ral Antelo parece articular as fronteiras entre histria e fc-
o, interioridade e exterioridade, ou ento, desapropriar o objeto de seu hbito
simblico para apropri-lo sua singularidade. Como um traado nmade que
no busca ponto fxo, lugar permanente e nem propriedade, mas que move sua
originalidade justamente em sua errncia, na posse de cada passagem. Parece
recuperar aquilo que nos falta, como, por exemplo, um pensamento crtico, uma
condio de povo, ou uma atuao poltica. No mesmo sentido, tambm parece
criar lugares nos quais aquilo que foi deixado de lado, e que perdeu sua condio
de existncia livre, tenha possibilidade de se expor de maneira atuante no mundo.
Por isso, talvez no seja possvel pensar que o procedimento de Ral Antelo parta
2 COSTA, Pedro. Uma porta fechada que nos deixa a imaginar in O cinema de Pedro Cos-
ta. Centro cultural Banco do Brasil, 2010.
3 BARTHES, Roland. O grau zero da escrita. Trad. Mario Laranjeira. Martins Fontes: So Paulo,
2004.
8
apenas da aproximao da escrita flosofa e poltica como resistncia litera-
tura elitista e prestigiosa. Porm, mais que isso, parece se direcionar na atribuio
de uma funo poltica ao engajamento da palavra, no sentido em que dizer fazer.
9
[engrenagem]
Voc pode falar um pouco sobre como se d a direo do seu trabalho na
articulao entre crtica, literatura e flosofa? Alis, voc v distino nos
termos dessa articulao ou prefere toc-la como um lugar indistinto?
[Ral Antelo]
Antes de mais nada, deveria dizer que a flosofa fazia parte da formao de al-
gum, como eu, que nasceu na metade do sculo XX. Se tenho que evocar as lei-
turas mais antigas de que tenho memria, sem dvida, a leitura fragmentria, no
fnal da primria, 12 anos talvez, da Histria dos heterodoxos espanhis de
Menendez Pelayo, crtico absolutamente alinhado com o historicismo e o destino
imperial espanhol, porm, atrado tambm, decerto para enquadr-los, por esses
heterodoxos que me abriam o olhar a uma tradio diferente da convencional. Se
penso em termos curriculares, a Potica de Aristteles, logo depois, aos 15, como
requisito do terceiro curso de lngua, e O lugar do homem no cosmos de Max
Scheler, aos 17, numa disciplina especfca, Filosofa, que havia, na poca, na es-
Entrevista: Ral Antelo
[Isadora Marques]
foto: divulgao
10
cola mdia, e que me permitiu tambm as primeiras leituras de Plato, Descartes, Kant,
Hegel. Na faculdade, ento, nem se fala, vrios cursos de Histria da Filosofa, Esttica
etc. Mais tarde, j na ps, uma parte dos cursos foi de flosofa. Tenho a melhor das
lembranas de um curso com uma verdadeira mestra, Maria Sylvia de Carvalho Franco,
e lembro tambm de um curso de flosofa poltica com Francisco Weffort, um semestre
dedicado a ler o Maquiavel, um laboratrio de ideias do qual sairia, pouco depois, o
Partido dos Trabalhadores. Mas lembro igualmente, a ttulo individual e meio a contra-
pelo, de ter ensaiado uma articulao entre o fundo flolgico, que na minha formao
foi muito importante, historicista, com uma matriz signifcante, crtica do historicismo,
que, por aqueles anos, meados dos 70, encontrava na obra do Galvano Della Volpe. Es-
tava Gramsci, evidentemente, por trs, mas tambm as leituras psicanalticas (o sujeito
dividido, o sujeito que linguagem) e, fundamentalmente, uma certa tradio italiana
que talvez explique, ainda na dcada de 90, minha atrao, a despeito de uma forma-
o absolutamente laica e iluminista, pelo pensamento do Agamben, cujo Homo sacer,
em portugus, nasceu, a propsito, de um dos meus seminrios. Em muitas oportuni-
dades, Agamben, precisamente, defende em seus textos que a arte no , a rigor, uma
atividade exclusivamente de ordem esttica, mas uma ao que pode, eventualmente,
adquirir tambm um sentido poltico preciso. A arte ela prpria constitutivamente po-
ltica, por ser uma operao que torna inoperante aquilo mesmo que modela os senti-
dos e os gestos da gente e, nesse sentido, se abre (e nos abre) a um novo possvel uso
do tempo e da histria, ao valor de uso do impossvel. Por isso, argumenta Agamben,
mas a ele poderamos associar tambm boa parte do pensamento italiano, Cacciari,
Virno, Rella, mesmo Vattimo ou Eco que, em verso debole, retomam o existencialis-
mo personalista de Luigi Pareyson, a arte confunde-se at com a flosofa e a poltica.
[engrenagem]
Como voc v o problema de uma atribuio valorativa majoritria a uma li-
teratura produzida e inserida no circuito de ofcialidades do mercado editorial
e, ao mesmo tempo, uma espacialidade dispersa para o que se produz mar-
gem da ofcialidade, das matrias pagas, das revistas comprometidas etc. que
acompanham o mesmo sistema de repetio de qualquer objeto de consumo?
[Ral Antelo]
Ontem mesmo estava ouvindo o Alexis Tsipras, um jovem poltico grego, no chega
aos quarenta, que lidera a coligao de esquerda radical Syriza, primeiro partido da
oposio grega, e que acaba de visitar o Brasil e a Argentina. Para quem, adolescente
como eu, se reconheceu no quadro traado por Costa-Gavras em Z (1968), a imagem
fornecida hoje pelo Tsipras soa tambm muito familiar. Tsipras descreve a situao con-
tempornea como um tringulo. Mas no mais o tringulo do linguista gestltico Karl
Bhler, cuja Sprachtheorie era publicada quase contemporaneamente ao nascimento
de Costa-Gavras e que eu ainda reconheceria, poca de Tsipras-beb, no esquema
11
trdico da Formao de Antonio Candido: autor-obra-pblico. No. O tringulo
de Tsipras pressupe no topo, no lugar do autor, uma terceira-pessoa, um sis-
tema poltico corrupto, que adota polticas de ajuste e austeridade com relao
sociedade, mesmo com a cnica lamria de que no bem isso que gostariam
de estar fazendo, e essas polticas aplicam-se a uma populao que, acuada pelo
desemprego e pela falta de valor mesmo do trabalho, se v forada a recorrer
aos bancos, um dos plos da base, que lhes emprestam capital a nveis usur-
rios e, no raro, confscam no s as propriedades impagas, mas at mesmo o
futuro desses trabalhadores. o que se v hoje alis em toda a Europa meri-
dional: Espanha, Portugal, Grcia. No outro plo de base, temos o sistema da
mdia, monoplica e sustentada pelo sistema fnanceiro, ao qual ela remunera,
apoiando o sistema poltico corrupto que, sem questionar essa lgica, s perde o
sono tentando salvar os bancos, que garantem, por sua vez, a hegemonia. No
h hoje, como em Z, uma ditadura dos coronis: h uma ditadura do mercado
e do lugar comum. Donde, a teoria da forma e da formao (autor ou poltica;
obra ou capital; e pblico, substitudo agora pela simples audincia da mdia)
so nos dias de hoje a caricatura do sistema iluminista em que nos educamos, e
isto por uma razo muito simples, no s a de que o liberalismo ou seu herdeiro
atual, o neoliberalismo, nunca foram sinnimo de democracia (mais at: na Eu-
ropa do sculo XIX, democracia e liberalismo eram conceitos antagnicos), mas
a de que a prpria democracia precisa ser, chegado o caso, antidemocrtica para
poder vir a ser democracia. Guimares Rosa aponta essas relaes complexas
em Aletria e hermenutica: a estria (o que a mdia nos conta todo dia, seus
valores) precisa ser contra a Histria. Seno no tem obra, no tem fco, no
tem sensibilidade, no tem cultura. Jean-Luc Nancy, alis, tem teorizado muito
sobre o carter no-democrtico da democracia. Argumenta que ela forada
a representar o todo da poltica virtuosa e por isso vista, alm disso, como a
nica maneira de garantir o bem comum, sob um prisma exclusivamente formal
(veja-se o fetichismo 10 de janeiro reivindicado pela oposio venezuelana
para a posse de Chvez, opo delirante desse setor social, que raciocina feito
uma normalista, no sentido de que aluno que no se apresenta ao primeiro dia
de aula perde o curso, como se, anulada a posse e chamadas as novas elei-
es, o chavismo sairia de cena graciosamente e pudssemos regressar, sos
e salvos, Venezuela de 1930, virando a pgina defnitivamente. A Histria
bem mais complexa do que um jogo de bandidos e heris). Por isso, a palavra
democracia acabou por absorver e por dissolver todo carter problemtico de,
simplesmente, questionar-se a respeito de si prpria. A democracia contempor-
nea pressupe uma profunda mutao poltica, at mesmo cultural, que a cinde
ao meio em duas vertentes. A democracia nomeia, de um lado, as condies
prticas de possibilidade da participao e da organizao sociais, sem inter-
veno de qualquer princpio transcendente; mas, de outro lado, a democracia
11 12
tambm designa a Ideia do homem sem qualquer transcendncia incondicionada,
ou seja, como imanncia absoluta e, nesse sentido, o conceito de democracia
compromete o homem por inteiro, ontologicamente, e no apenas o cidado, o
consumidor. A concluso que a democracia, no podendo ser fundada sobre um
princpio transcendente, necessariamente fundada, ou talvez infundada mes-
mo, em cima da ausncia de uma natureza humana universal, o que acarreta
no apenas uma ambivalncia do conceito de democracia, mas at mesmo uma
relativa insignifcncia desse conceito, para dar conta da complexidade do mundo
atual. Por isso, segundo Nancy, democracia , portanto, o nome de uma muta-
o da humanidade na sua relao com os fns que se entrega; no mais o
nome de uma autogesto da humanidade racional, nem o nome de uma verdade
defnitiva inscrita na esfera das ideias. o nome de uma humanidade exposta
ausncia de todo fm dado, de todo futuro. Por isso, a pretenso pedaggica
que, para alm dos seus ideais estticos confitantes, mantinham, digamos as-
sim, suplementos literrios to diferentes como o do O Estado de So Paulo ou
o do JB, nos anos 60-70, no tem qualquer parmetro equivalente nos dias de
hoje. Caiu o semblante da formao e vige, to somente, o do poder dinerrio
liberal, que, como apontava Tsipras, solidariza mdia e mercado, numa mesma
aliana at ento indita. A arte, evidentemente, no pode ser confundida com
os palpites que a Folha mancomunada ao IBOPE nos do, de vez em quando.
[engrenagem]
Qual sua opinio sobre o lugar da poesia em meio a uma escrita que tende a
romper, desde a mais tenra modernidade, as fronteiras entre o que ainda
chamamos de romance, de ensaio, de poesia, entre alguns outros gneros?
[Ral Antelo]
Bataille, meio en passant, em A literatura e o mal, diz la posie qui sub-
siste. Ou seja, a poesia aquilo que subsiste, enquanto sobrevivncia (Mace-
donio Fernndez a chamava de survivncia) e, portanto, ela algo que resis-
te, insiste, em certa dico contra a regra comunitria. Creio que na poesia
onde melhor se manifesta a noo de que a arte contempornea fragmento de
fragmentos. freqente ver o torso, que a modernidade recebeu da estaturia
grega como sinal de resto sem forma ou valor, como simples dejeto ou rejeito
da Histria. O crtico de arte alemo Carl Einstein, por sinal, dizia, numa carta
provavelmente dirigida a seu amigo Flix Fneon, que Negerplastik, sua obra
pioneira acerca da escultura africana, era um simples torso, algo negligenci-
vel, portanto, abortado. que a Repblica de Weimar prezava muito a forma.
Adorno, por exemplo, dizia que a verdadeira linguagem da poesia uma arte
sem palavras, e que seu momento averbal, ou semitico, tem prioridade at
mesmo sobre o momento signifcativo, semntico, do poema, momento que no
13
se encontra totalmente ausente da msica, por exemplo. Mas o importante, o
relevante mesmo, era poder submeter o semitico ao semntico. Manuel Ban-
deira, cuja poesia , de fato, uma teoria da traduo ao moderno, no fez outra
coisa ao passar para o portugus (para o brasileiro de 1920) um poema de Rai-
ner Maria Rilke, Torso arcaico de Apolo (1908), do qual nos deu esta verso:
No sabemos como era a cabea, que falta,
de pupilas amadurecidas, porm
o torso arde ainda como um candelabro e tem,
s que meio apagada, a luz do olhar, que salta
e brilha. Se no fosse assim a curva rara
do peito no deslumbraria, nem achar
caminho poderia um sorriso e baixar
da anca suave ao centro, onde o sexo se alteara.
No fosse assim, seria essa esttua uma mera
pedra, um desfgurado mrmore, e nem j
resplandecera mais como pele de fera.
Seus limites no transporia desmedida
como uma estrela; pois ali ponto no h
que no te mire. Fora mudares de vida.
A expresso de Rilke, pois ali ponto no h / que no te mire, que, segundo
Adorno, era, alis, um conceito que Benjamin muito apreciava e repetia cons-
tantemente, esquematizou, de maneira difcilmente superada, a linguagem no
signifcativa das obras de arte, de tal sorte, diramos, que a expresso o prprio
olhar das obras de arte, um olhar, que salta e brilha. Brilha num hiato, num en-
jambement, que uma demanda de vnculo, porque a unio, justamente, se que-
brou. A linguagem da poesia, em relao linguagem signifcativa, ento algo
de mais antigo, mas no por isso recuperado, totalmente, pelo poema. como
se as obras de arte, ao se modelarem a partir de sua estrutura sobre o sujeito,
repetissem o modo do seu nascimento e da sua libertao. Elas tm expresso,
mas no quando comunicam o sujeito, quando exprimem-no, seno quando se
estremecem com a histria primignia dessa subjetividade, que se toca com um
sujeito especfco: o poeta, o leitor de poesia. nesse sentido que diramos que
a imagem subsiste porque aquela histria primordial sobrevive no sujeito que,
a cada instante, recomea sempre desde o incio. A poesia, portanto, no seria
mimese do existente, porm, movimento da imagem, um movimento intermin-
vel, de semelhana a semelhana. O torso arde, tal como a imagem, que quei-
13 14
ma. E no foro a noo se digo que quando me deparo com que o torso arde,
escuto que o torso arte, arte acabada sem mais, arte que subsiste. Mas essa
sobrevivncia do torso nos ajuda a ler um outro poema cannico de Bandeira,
O cacto, de Libertinagem, que tem sido recorrentemente lido como exemplo
do sublime modernista. Gostaria, no entanto, de relembrar o incio do poema:
Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estaturia:
Laocoonte constrangido pelas serpentes,
Ugolino e os flhos esfaimados.
Evocava tambm o seco nordeste, carnaubais, caatingas...
Como o poema no nos permite esquecer que o cacto nordestino tem forma de
candelabro, o poema de Rilke sobre o torso retorna aqui, mais uma vez, em sua
evocao de que o torso arde ainda como um candelabro. Mas essa sobrevivn-
cia, essa aproximao entre dois tempos, entre dois textos, sendo sensivelmen-
te verdadeira, cientifcamente falsa. A Euphorbia ingens, que assim se chama
cientifcamente o nosso cacto, parece, de fato, um cacto, mas no cacto, porque
o cacto-candelabro , na verdade, uma euforbicea adaptada ao semi-rido nor-
destino. O falso cacto , a rigor, fruto de adaptao ao meio, de simulao, muito
embora alguns leitores considerem, entretanto notadamente a partir do verso
fnal, Era belo, spero, intratvel, que o cacto seria um exemplo de resistncia
popular homognea e que o poema alcanaria, precisamente, um dos pontos altos
dessa sntese de humildade e paixo, em outras palavras, de mimese coloquial, re-
baixada, porm, sublimada, que atravessaria a poesia modernista como um todo.
Ora, Didi-Huberman, dirigindo, todavia, um olhar mais atento aos fragmentos fa-
mosos da estaturia grega, freqentemente reproduzidas, diga-se de passagem,
por Andr Malraux em seu museu imaginrio, donde vem, entre outras fontes, a
noo benjaminiana de arquivo, ponderaria que, diante deles, experimentamos a
sensao de que os torsos encontram-se, com efeito, intensifcados em seu prprio
dfaut de personne, que uma experincia que no s convoca os poderes racio-
nais, mas tambm, e talvez basicamente, os poderes corporais, e at mesmo as
potncias do drapejado, as dobras da estaturia ou da planta, que nos permitiriam
concluir que no s o artista, de maneira autnoma, mas tambm o tempo, sempre
fora do eixo, foram as duas foras que, em conjunto, trabalharam essa fgura, ge-
rando, assim, uma duplicidade da imagem, este duplo sentido (arde /arte) que traz
consigo o autntico poder do negativo. Em suma, a sobrevivncia nunca positi-
va, material, signifcante. Ela negativa, imaterial, semitica. um trao que nos
obriga a reconstruir um (possvel) percurso e que nos diz fora mudares de vida.
15
[engrenagem]
Ao levar em conta, nos termos de Bataille, que a flosofa geralmente dis-
sociada da vida, de seus momentos mais intensos, e muitas vezes somente
relacionada com o ambiente de trabalho institucional e burocrtico, como
voc pensa sua relao com a vida, levando em conta o seu trabalho como
professor de uma instituio federal e, ao mesmo tempo, como um crti-
co cultural de notria independncia de pensamento e posicionamentos?
[Ral Antelo]
Kojve ensina a toda uma gerao de pensadores que, desprovida a existn-
cia de qualquer resduo de naturalidade, e ao nos confrontamos, na Europa do
aps-guerra, com um humanismo meramente pstumo, o tempo surge como
um valor artifcialmente produzido. Portanto, a vida politiza-se automaticamente,
dado que qualquer deciso tcnica ou artstica, referida ao tempo, , em ltima
anlise, uma deciso pblica, poltica. Nessas novas circunstncias biopolticas,
arte s lhe resta potencializar esse seu artifcio de falsifcao anacrnica do
modo mais explcito possvel. Mas a, como nem o tempo, nem a vida admitem
serem mostrados diretamente, a arte contempornea documenta essas experi-
ncias, tornando-se arquivo de sensaes. O ltimo Rancire trabalha nesse sen-
tido: a aisthesis e no a mmese. Cenas, e no obras. claro que esse arquivo
reabre a defnio de forma. Vou dar um exemplo. Quem no conhece No meio
do caminho do Drummond? Poema emblemtico do modernismo, foi lido como
poema-piada, ultraje que fez com que o poeta reunisse, obsessivamente, como
era de seu feitio, tudo quanto desse poema se publicou. No entanto, o ltimo
nmero da revista de pesquisa literria italiana Anterem, dedicada ao irredu-
tvel a si, surpreende-nos (algo prprio do arquivo: captar o tempo suspenso)
com uma anotao manuscrita de Derrida, abandonada em um exemplar de A
disseminao (trata-se de conveno muito acatada por poetas como Bandei-
ra ou Drummond, o poema abandonado, sem saber-se poema, num exemplar
esquivo. Temos, assim, o Poema tirado de uma notcia de jornal ou o Po-
ema desentranhado de uma prosa de Augusto Frederico Schmidt, de Manuel
Bandeira, ou No exemplar de um velho livro, em Fazendeiro do ar. Mes-
mo Borges tem um Manuscrito achado num livro de Joseph Conrad). Annimo
(no tem ttulo, nem vocao de ser poema), os editores de Anterem lem-no
como poema, porm ns, educados na pedra drummondiana, verdadeira mqui-
na antropolgica do modernismo, no podemos deixar de ver nele uma leitura
de um poema que, muito provavelmente, Derrida nunca leu. Vou transcrev-lo:
au centre
du pome
la pierre
16
LA DISSMINATION parse et lui
comme une vole de pierres
sclaboussant
dailleurs
en lui
traverse
la pierre
...
inverse la pierre
...
la pierre dure
la pierre tendre
ensemble aussi le chemin
...
l
aile
tombe
anonyme
de la pierre
...
rose
amre
semence
le miroir em as peine
...LA DIFFRENCE MME
1
[engrenagem]
Fale um pouco sobre sua relao com o arquivo, e sobre a importn-
cia que ele exerce, no somente no campo da pesquisa, mas, de modo
mais amplo, na perspectiva da construo de um impacto social.
[Ral Antelo]
O trabalho esttico com o arquivo no deixa de ser um trabalho fortemente para-
doxal porque se, de um lado, uma mediao que humaniza o mundo, de outro,
ele tambm uma experincia que mundializa, que globaliza o homem, criando,
1 Anterem. Rivista di Ricerca Letteraria. Verona, n. 85, VI serie, II semestre 2012, p.7.
17
mas, ao mesmo tempo, transformando o mbito da vida, o que faz desse ho-
mem, um ps-homem, uma criatura criadora, que gera mil dispositivos para os
mais variados usos, mas cujo destino fnal , justamente, alterarem o homem,
produzirem outra consistncia do humano. Tenho analisado essa questo com
minha equipe de trabalho: Flvia Cera, com o arquivo de Oiticica; Larissa da
Matta, com o de Flvio de Carvalho e sua noo de primitivo como impugnao
do homo academicus modernista; Nena Borba e o arquivo de textos e imagens
de Valncio Xavier; Kelvin Klein e a potica do inventrio em Borges, Cozarinsky,
Bolao, Wilcock ou Vila Matas. Mas freqente vermos, de maneira aguda, essa
mesma atrao pelo arquivo em artistas contemporneos, tais como o poeta
chileno Juan Luis Martinez, o artista uruguaio Alejandro Cesarco, o colombiano
Bernardo Ortiz, o venezuelano Eduardo Gil e os mais familiares Arthur Bispo do
Rosrio, Rosngela Renn, Fernando Lindote ou Alexandre Navarro Moreira. De-
tecto, na questo do arquivo, um movimento dplice, de um lado, tentar isolar a
inequvoca singularidade do evento obliterado, recuperar uma experincia perdi-
da, la pierre dure, dizia Derrida, o osso duro de roer, mas, de outro lado, operar
com a ambivalente pluralidade da rede em que este novo valor se insere: la pierre
perdure. Ao rachar a essencialidade ideal do tempoa pedrae abri-la, em com-
pensao, como campo operatrio, o arquivo desvenda que a essncia do tempo
, a rigor, uma co-essncia que se ativa no presente de cada leitura, de modo tal
que uma temporalizao no pode ser defnida, to somente, como um conjunto
aleatrio de tempos quaisquer, sem que o tempo do corte no implique tambm,
simultaneamente, um tempo da montagem, tempo sempre aberto e indefnido,
porm, justaposto a outros tempos, o que derruba a noo de um tempo cumu-
lativo e meramente sucessivo. O arquivo, creio eu, nos permite uma participao
temporal na temporalidade, quer dizer, uma hiper-temporalizao, infnita e po-
tencializada do evento, a pedra no meio do caminho, atravs do recurso anagra-
mtico da releitura. Mais importante at do que a Histria, portanto, a estria,
isto , mais importante do que o fetiche do tempo o com, que coloca, de par em
par, a pungncia do contemporneo em termos de sintaxe ou composio, aler-
tando assim para seu uso, sua poltica, sua tica. A soleira do contemporneo foi
defnitivamente ultrapassada quando as palavras deixaram de confundir-se com
as representaes e de enquadrar, obsessivamente, o conhecimento das coisas.
18
A Patagnia um signifcante vazio. Il ne sagit pas de pauvret mais
dabscenceobserva Caillois. A Patagnia, local no de pobreza mas de au-
sncia, o espao do sem-sentido. Absence, ab-sens. Mas essa carncia,
precisamente, que abre a possibilidade de refetir sobre o sentido. Sabemos
que, para que haja sentido, deve haver srie, uma vez que o sentido no
imanente a um objeto mas fruto de articulaes no interior de uma srie de
discursos. Mas, mesmo separado do objeto, o sentido igualmente exterior
conscincia do intrprete, para o qual o sentido sempre se impe por acaso
e coao. A palavra, portanto, no dispe, a rigor, de uma forma ou valor es-
pecfcos mas ela dotada de uma fora, de uma potncia de disseminao e
proliferao prprias. Melhor dizendo, o nome nada vale por si, isolado, mas
to somente por sua combinao. Todo nome , em ltima instancia, um tro-
po, uma fgura e, assim sendo, vrios tericos, no s Paul de Man ou Derri-
da, mas tambm Ernesto Laclau, vo extrair dessa equao consequncias po-
lticas da maior relevncia. Tomemos a equao que iguala Patagnia e vazio.
Mrio de Andrade chegou a dizer que no existe para o argentino o pro-
blema patagnico que nem mesmo existe para a gente o problema amaznico.
Enganou-se. Assim como no existe unidade sem zero, da mesma forma, argu-
mentar Laclau, o zero sempre aparece na forma do um, do singular. Em outras
palavras, o nome o tropo do zero mas o zero, na verdade, sem nome, j que
ele no pode ser nomeado. Essa soberana acefalidade da Patagnia nos ilustra
que ela, da fato, heterognea com relao ordem dos espaos, notadamente,
a do espao primordial da lei, do nome, do Estado. Porm, a srie do nome e do
nomos no poderia se constituir enquanto tal sem referncia a esse vazio origin-
rio. Ele um suplemento ao sistema nacional-estatal que, entretanto, estrutural
a ele. Em relao ao sistema, o vazio patagnico, sua falta de histria, encontra-
-se em situao de indecibilidade, numa posio sublime, de incluso, mas tam-
bm, simultaneamente, de excluso. Ela faz parte da geografa mas na histria
que se lhe compreende a confgurao. Ele se integra nao mas, ao mesmo
tempo, inerente ao espao internacional, ora pela explorao, ora pelo turismo.
Mesmo quando includo nos marcos da nao, esse espao permance
heterogneo ao sistema. Mas, ainda que estrutural, essa regio faz parte, no
entanto, de um pensamento exterior a todo nacionalismo. Apesar de sua so-
berana exterioridade, como territrio de foragidos, banidos, exilados ou bus-
Sentido, paisagem, espaamento
[Ral Antelo]
19
cadores de fortuna, esse espao do exterior produz efeitos no interior do sis-
tema, j que lhe outorga coeso ao passo que se apresenta a si mesmo como
inassimilvel. O vazio nada contm em si prprio mas ele aponta, entretan-
to, impossbilidade de obturao hermtica do sistema nacional da que, ain-
da quando sinal vazio, ele conota sempre a mais absoluta e sublime plenitude.
Laclau interpreta que essa anlise tropolgica da heterogeneidade absoluta
coincide, no por acaso, com o conceito de hegemonia, uma vez que, a partir
da tradio gramsciana, hegemonia seria todo aquele fechamento no conclu-
sivo de um sistema de signifcao poltica. A estabilidade de um sistema des-
cansaria, ento, em seus limites, limites que se tensionam, polarmente, graas
s oposies estruturais, binrias, do prprio sistema. Mas esses limites so
ditados, em ltima anlise, por um valor situado para alm do sistema, embora
no exista entre ambos, como se sabe, uma relao de completa exterioridade.
O heterogneo, indecidido e em suspenso, pertence ento ao sistema,
porm, em chave de no-pertencimento. No bem um limite. liminar. Algo
construdo em chave de espera, diria Ettore Finazzi-Agr. Algo situado, ma-
neira de Jean-Luc Nancy, la limite. Portanto, esse elemento vazio e hetero-
gneo, que a condio de possibilidade da nao, ainda, e simultneamen-
te, sua condio de impossibilidade e, nesse sentido, qualquer pertencimento,
qualquer identidade, ir se constituir no interior de uma tenso irredutvel e
ambivalente que, permanentemente, oscilar entre equivalncia e diferena.
Segue-se da que se o sentido do vazio tributrio da srie em que
ele se insere, porque nenhum sentido imanente a um objeto individu-
al, deslocando-se, entretanto, no interior dos agenciamentos discursivos. To-
davia, o sentido , ao mesmo tempo, igualmente exterior conscincia do
intrprete porque nenhum discurso dispe, a princpio, de uma forma espe-
cfca. Esse sentido que, retrospectivamente, podemos atribuir ao vazio de-
riva de uma fora de disseminao e proliferao, em que o nome no vale
por si mas por sua combinao, visto que o nome, na verdade, uma fgura.
Gabriela Nouzeilles j demonstrou, em La naturaleza en disputa, que,
para a Patagnia, esse sentido liminar: ele depende tanto do discurso natura-
lista local quanto do discurso antropolgico internacional. Com efeito, como em
tantos outros casos, quando, simultaneamente a seus ensaios sobre arte e na-
tureza para O Estado de So Paulo, Roger Caillois percorreu a regio e escreveu
Patagnia, em 1943, ele operou, decerto, com algumas categorias tomadas,
dentre outros autores, de Walter Benjamin. Admitia, por exemplo, junto ao crti-
co alemo, que a semelhana algo que se encontra no s na cultura mas at
mesmo na natureza, nas formas do mimetismo de paus e pedras, de tal sorte
que, enquanto crticos da cultura, Benjamin e Caillois passariam a se defnir a
si prprios como leitores de semelhanas imateriais, sujeitos que estimulam o
reencontro, diferido, com aquela imaterialidade esquecida pela histria. a idia
20
de ler o que nunca foi escrito que se desenvolve no ensaio de Benjamin sobre a
faculdade mimtica e reencontraremos, ainda, nas teses sobre a flosofa da his-
tria, como refgio nominal das energias simblicas ainda informes. , portanto,
a operatividade desse esquecimento ainda presente ou, em outras palavras,
essa lembrana do presente aquilo que, em ltima anlise, permite a possibili-
dade de o sujeito deter uma experincia. Caillois tambm deriva desse debate
a convico de que, nas paragens desrticas, como a patagnica, encena-se
a dialtica da servido voluntria, onde impera a independncia, mesmo que
falte a liberdade. A Patagnia, a seu ver, atravessada pelo abandono. Nela, a
liberdade nada sustenta e nada fundamenta, nos diz, ao passo que a autonomia
que ela exige quer conseguir tudo s prprias custas, gabando-se da espera,
to involuntria quanto inoperante. Nesse vento do inverno que a varre v
Caillois uma autntica Erfahrung, algo que produz vertigem em solo frme, j
que estimula a regresso do animal em direo ao inanimado. Sob esse pon-
to de vista, todos os triunfos da identidade na natureza, at mesmo a prpria
repetio no vazio, abrem aos humanos a possibilidade de um destino severo
e lhes atribuem o lcido torpor que alimenta as maiores ambies da espcie.
Quando de sua primeira edio em livro, essas idias de Caillois foram
ilustradas esse, enfm, o efeito da srie mas ele tambm o paradoxo
das imagenspor um conjunto de gravuras de Manuel ngeles Ortiz. Amigo
de Picasso e ntimo de Garcia Lorca, ngeles Ortiz (1895-1984) encenou em
Paris o Maese Pedro de Falla, a Genovive de Brabante de Satie e a Au-
bade de Poulenc, trs manifestaes desse primitivismo modernista em bus-
ca de um sentido originrio para a experincia. Ligado ao construtivismo cer-
cle et carr de Torres Garca, quando se v obrigado ao exlio, ngeles Ortiz
escolhe, primeiro, a capital francesa e, mais tarde, Buenos Aires. Alm do li-
vro de Caillois, suas viagens patagnicas alimentam a exposio Constru-
es: madeiras e pedras patagnicas, tambm de 1943, para cujo cat-
logo Rafael Alberti compe um poema em que destaca sua busca da raiz
Que arranca, abriendo cicatrices
sobre las cosas materiales,
una ilusin de naturales
formas en vuelo de races.
Angel que suea silencioso,
del barandal de su azotea,
cmo se crea y se recrea
su propio espacio misterioso.
21
Outro escritor espanhol, Arturo Serrano Plaja, analisa a obra do artista
associando-a de Alberto (o toledano Alberto Snchez, nascido em1895 e morto
em Moscou em 1962), autor, junto a Picasso, do pavilho espanhol na Exposio
Internacional de Paris, srie que se abisma se pensamos que o Guernica a ex-
posto se associa ento s severas gravuras de Lino Spilimbergo, ilustrando In-
terlunio, o poema de Oliverio Girondo, exibidas tambm na mesma exposio.
Serrano Plaja v, nas madeiras de ngeles Ortiz, uma fantasmagoria
natural, cheia de reminiscncias arqueolgicas e atavismos arcaicos, em que
a matria tende a um estado fssil que assimila estranhos monstros primor-
diais. s vezes essas imagens se contagiam de contedos mitolgicos; outras
vezes, so portadoras de um carter trgico ou at mesmo religioso, como
a demonstrar a assertiva de Caillois, le mythe, cest la religion des autres.
Nessa formas, analisa Serrano Plaja, nada quiere decir nada, uma vez
que a natureza aparece submetida nelas a um processo artifcioso, ou talvez,
com maior propriedade, j artstico, na medida em que as pedras de um altar, por
exemplo, sem deixarem de ser pedras, testemunham tambm, ao mesmo tem-
po, a grafa do homem, seu lastro, sua passagem. ngeles Ortiz, nos diz Serrano
Plaja, viu, nesses troncos e nessas pedras, vetustos residuos de una selva. A
partir de uma escolha anestsica, obedecendo lgica do ready-made, a matria
torna-se nelas maneira e essas madeiras passam a constituir no apenas extra-
ordinrias obras de arte, mas expresso de uma linguagem muda, to arcaica
quanto presente. Elas, diz o crtico, nos llevan a ver todo lo visible, para logo se
emendar e dizer que elas no mostram tudo. Ou melhor: elas mostram o no-to-
do. Como efeito desdobrado, ambivalente, tanto da mo, que as coloca em srie,
quanto do olhar, que as resitua no interior de um discurso, essas fguras infor-
mes, esses elementos naturais mais ou menos corrodos pelo tempo ou exaspe-
rados pelas guas, que lhes enfraqueceram a resistncia, essas formas, portan-
to, parecen imitar al arte. Elas so autnticas manifestaes do abandono, do
mimetismo e da autonomia mais radicais. So formas soberanas que alcanam o
informe. Nesse sentido, deixam de ser troncos desumanos ou at mesmo contra-
-humanos (os adjetivos so de Serrano Plaja) e, por serem naturais, i.e. por se
inscreverem na physis para melhor ultrapass-la, elas abrem uma nova dimenso
esttica, e mesmo tica, que no se contenta, internamente, con ser uno solo.
Com efeito, as Construes: madeiras e pedras patagnicas de Manuel
ngeles Ortiz so disseminadas e proliferantes; elas tm o movimento da poesia mas
tambm da profecia, por ms que sea una sola su letra, hasta no obstinarse para que
su sentido se nos revele en varias direcciones a la vez, de sugerencia e intencin.
Arturo Serrano Plaja (San Lorenzo de El Escorial, 1909-Santa Brbara,
1979), alm de Manuel ngeles Ortiz (1945), foi autor de vrios livros de
poesia (El hombre y el trabajo, 1938; Versos de guerra y paz, 1944; La
22
mano de Dios pasa por este perro, 1965), e de narrativa (Del cielo y el
escombro, 1943 e Don Manuel de Lora (1946). Reuniu uma Antologa de
los msticos espaoles (1946) mas talvez seu ensaio mais conhecido seja
mesmo Realismo mgico en Cervantes (1966), editado tambm, com su-
cesso, em ingls. Preso no campo de concentrao de So Cipriano, em 1939,
exilou-se na Argentina, mais tarde Paris e, fnalmente, na Califrnia, onde foi
professor de literatura at a morte. Em 1937 coube-lhe a responsabilidade de
ler, no II Congresso Internacional de Escritores de Valncia, o manifesto coleti-
vo dos jovens escritores (que muitos suspeitam ser de sua autoria), assinado,
entre outros, por Miguel Hernndez, onde a guerra defnida como a mtua
excluso de razo e f. Como na fco de Dostoievski, diz Serrano Plaja que,
na guerra, colidem frontalmente duas foras: la razn exige categoricamente
y la voluntad quiere apasionada, divinamente. No hay manera de conciliarlas.
(...) La razn no se explica la voluntad, y, a su vez, la voluntad no quiere la ra-
zn. Contra esse paradoxo, Serrano Plaja props, no manifesto coletivo, uma
alternativa fccional, cujo modelo era o Quixote, onde as foras ativas e reati-
vas, tanto as idealistas do heri, quanto as materialistas do criado, abrissem
passagem ao novo, uma organizao racional da existncia em que, por un
acoplamiento, conforme a razn, de um mundo que excluya el desorden ra-
cionalmente capitalista, inhumanamente monopolista, o artista pudesse lutar,
com paixo, pela vitria da autonomia. Essa seria, enfm, a potncia passiva.
Sua leitura das Construes de ngeles Ortiz pauta-se por essa proposta.
Ele retira o sentido do presens a partir do absens da imagem, de seu carter de
imago, como ausncia cavada na matria ou mscara dos ausentes, donde pode-
ramos dizer que, em ltima anlise, as imagens produzem o presente e que, longe
de se situarem s no espao imaginrio do recndito e do arcaico, as imagens de
Caillois-ngeles Ortiz-Serrano Plaja so produes de presena: elas nos apre-
sentam o mundo tal como podia ser imaginado em 1943. Tal como ele ainda podia
ser perdido, mais uma vez, durante a guerra. So, enfm, tal como os tamancos de
Van Gogh, as imagens do abandono. Ao exibirem no exatamente uma matria,
mas a cova, a fenda, que a histria cava na matria, as Construes, verdadei-
ras imagos primordiais, nos devolvem nossa prpria imortalidade. Essa ausncia,
que outra coisa no seno o sentido, no tem um modo unvoco de existncia.
As coisas que, pelo contrrio, tm presena plena, idntica a si prprias, e por
isso mesmo elas, a rigor, no existem, esto apenas abandonadas. J o sentido
existe como movimento e deslocamento, como fruto de exceo e exlio. O novo
sentido, o sentido de toda construo, , portanto, o processo da desidentifcao
simblica, uma singular busca contra-hegemnica entre materiais abandonados.
Ensaio publicado no livro Ausncias [Florianpolis, Editora da Casa, 2009. p. 35-44]
23
janeiro
2013
UNIRIO
Centro de Letras e Artes - CLA
Escola de Letras
Вам также может понравиться
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionОт EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (20011)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeОт EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (5794)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyОт EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItОт EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (3271)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionОт EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2506)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksОт EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationОт EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (2499)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseОт EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (1107)
- The Covenant of Water (Oprah's Book Club)От EverandThe Covenant of Water (Oprah's Book Club)Рейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (519)


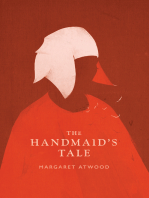


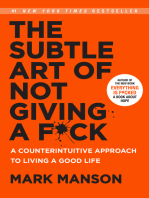

![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)