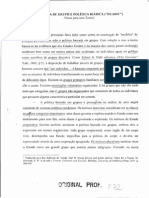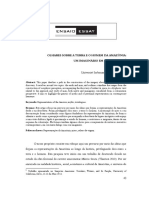Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Revista Mana - Resenhas Richard Graham
Загружено:
Pamellasss0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
22 просмотров25 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
22 просмотров25 страницRevista Mana - Resenhas Richard Graham
Загружено:
PamellasssАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 25
BARREIRA, Csar. 1998.
Crimes por En-
comenda: Violncia e Pistolagem no
Cenrio Brasileiro. Rio de Janeiro: Re-
lume Dumar/Ncleo de Antropolo-
gia da Poltica.178 pp.
Antnio Rafael
Doutorando, PPGAS-MN-UFRJ
Cada vez mai s, afi rma-se dentro do
campo de estudos sobre a vi ol nci a no
Brasi l , em especi al da cri mi nal i dade, o
entendi mento de que no poss vel
tratar dos fenmenos a ele relacionados
sem l evar em conta as val oraes pro-
duzidas por aqueles que participam dos
contextos vi ol entos. I sso si gni fi ca el e-
ger como objeto de estudo as organiza-
es ou aes criminosas, a partir da re-
presentao que seus membros fazem
de si mesmos e de suas prti cas. Se a
vi ol nci a aparece como o Outro que
desnaturaliza a ordem social, colocando
em xeque seus fundamentos e mecanis-
mos de coeso e desl ocando i denti da-
des pessoai s e grupai s, necessri o
perceber que i mposs vel si tu-l a fora
da experincia, afirmando, deste modo,
cl assi fi caes apri or sti cas como ponto
de partida e de sustentao do trabalho
etnogrfi co. A vi ol nci a, como di men-
so imanente a todo campo social, deve
ser entendida como algo que se produz
e que s exi ste sob formas soci ocul tu-
rai s espec fi cas (o que recol oca o ques-
ti onamento a respei to da posi ti vi dade
do confl i to), e que s atravs da expe-
ri nci a nati va, no momento em que es-
ta se arti cul a com a experi nci a de
campo do i nvesti gador, pode se dar a
conhecer. O que no l i mi te equi val e a
um desl ocamento de perspecti va: es-
quivar-se de um vis que parte do Esta-
do e responde excl usi vamente de-
manda por polticas pblicas penais, fa-
zendo uso de model os jur di cos ou cri -
mi nol gi cos, e desi gnando, refl exi va-
mente, o aparato jurdico, policial e pri-
sional como objeto privilegiado da an-
lise.
O livro de Csar Barreira segue nes-
ta direo, na medida em que busca si-
tuar um personagem da sociedade bra-
si l ei ra que at aqui permaneceu nas
sombras o pistoleiro, assassino de alu-
guel , brao armado e autor mate-
ri al dos cri mes de mando, de enco-
menda. Se a sua exi stnci a remonta ao
scul o passado, quando era aci onado
como medi ador das l utas pol ti co-fami -
l i ares, suporte de um poder econmi co
que se exercia a partir do territrio, ho-
je torna-se pea-chave de uma comple-
xa rede de rel aes, denomi nada pel o
autor de si stema de pi stol agem . Tal
rede pode ser sumariamente configura-
da em doi s bl ocos. O pri mei ro consti -
tu do pel o l ado mai s vi s vel do si stema,
expl ci to na fi gura de seus operadores:
pistoleiros, ajudantes do crime, inter-
medi ri os e mandantes. No segundo, a
trama se rami fi ca: o poder judi ci al e os
rgos de segurana, uma vez parci al -
RESENHAS
MANA 5(2):177-201, 1999
mente capturados por tai s organi za-
es, i ro tornar-se responsvei s pel a
converso do cri me em l egal i dade. O
que, juntamente com o apoi o dos de-
tentores de capital poltico ou econmi-
co, permi te a manuteno de um l ado
legal da organizao como contrapon-
to a algo que continuamente ser posto
fora da lei .
O modo como o l i vro est organi za-
do reflete o prprio movimento de apro-
ximao do tema por parte do autor. Ini-
ci a-se atravs de matri as de jornai s,
especi al mente no mbi to da campanha
promovi da no fi nal do ano de 1987 e
incio de 1988 para acabar com a pisto-
l agem no Estado do Cear. Destas pri -
meiras incurses surge a constatao de
que tai s cri mes, hi stori camente, esto
l i gados a duas grandes vertentes: o vo-
to e a terra. Materi al i za-se no assassi -
nato de adversri os, parti cul armente
quando se aproxi mam as el ei es, pro-
movendo a reproduo do mando pol -
ti co, assi m como no de l deres campo-
neses envol vi dos na organi zao e re-
presentao dos trabal hadores rurai s.
Tal a matri a do segundo cap tul o,
juntamente com a anlise de dois outros
momentos em que o fenmeno da pi s-
tolagem ganha visibilidade: a Comisso
Parl amentar de Inquri to sobre Pi stol a-
gem i nstal ada no Congresso Naci onal
no ano de 1994, e um estudo sobre as
eleies de 1996 em Maracana, muni-
c pi o do Estado do Cear. Estes estu-
dos, al m de exporem o modo como a
pi stol agem apreendi da em di ferentes
momentos e contextos institucionais, in-
troduzem o fenmeno expl i ci tando al -
guns dos mecani smos que esto na ba-
se do seu funci onamento (ci to, como
exemplo, a hierarquia nas classificaes
morais dos crimes, produzidas pelos jor-
nai s; o desl ocamento de um cri me pol -
ti co em di reo ao seu enquadramento
como confl i to i nterpessoal ; a tentati va
de convencer a opi ni o pbl i ca de que
a v ti ma responsvel pel o seu desti no
a morte f si ca precedendo ou suce-
dendo a morte moral; a insero de po-
l i ci ai s na pol ti ca e todo o processo de
l anar-se candi dato movi do por uma
pl ataforma que tem sua sustentao no
combate pistolagem).
A parte central do l i vro, que se
apresenta como uma anl i se associ ada
di retamente aos dados emp ri cos, en-
contra-se no captulo terceiro, no qual o
autor busca trabal har a fal a de doi s i n-
formantes, tomados como casos para-
di gmti cos para a compreenso do te-
ma tratado. Mas, certamente, vale abor-
dar introdutoriamente, e ele assim o faz,
todas as armadi l has e di fi cul dades re-
sul tantes da entrada e permannci a no
campo. No di zer de um dos seus i nfor-
mantes: Olha, vou dizer o seguinte: eu
tenho alergia a pergunta. No gosto de
rseo, nem de azul , cai xo de anjo
(:27). Como trabal har em um ambi ente
fortemente marcado por questes mo-
rais e de honra e, sobretudo, como arti-
cular estes cdigos com aqueles do pes-
qui sador sem cai r em um rel ati vi smo
absol uto ou na afi rmao de uma exte-
ri ori dade i rredut vel do objeto? O cri -
me de encomenda , em princpio, des-
ti tu do de val ores ti cos (:20)? Ei s as
i nterrogaes que o autor nos col oca e
que podem ser estendi das para engl o-
bar a perti nnci a dessas noes en-
quanto operadores anal ti cos: que l u-
gar, por exempl o, deve ocupar a noo
de honra em nossas anl i ses? Outras
questes lhes so adjacentes e resultam
do prpri o processo de col eta dos da-
dos: qual o papel de terceiros na indica-
o de possveis entrevistados e de que
modo esses medi adores i nterferem no
processo de pesqui sa? Como deve se
apresentar o entrevistador para o entre-
vi stado? Deve decl arar seu real objeto
de estudo quando obrigado a assumir,
RESENHAS 178
RESENHAS 179
em vri as si tuaes, o l ugar de i nterro-
gado? Deve demonstrar conheci mento
prvi o sobre si tuaes espec fi cas nas
quai s o entrevi stado teve parti ci pao
ou uma ignorncia forada ? Afinal, o
que esta l gi ca da suspei ta (:31)
que tanto o pesqui sador quanto os en-
trevistados parecem partilhar dentro de
um contexto em que o limite entre a in-
vesti gao soci ol gi ca e a i nvesti gao
pol i ci al tnue? Por fi m, e de modo
mai s subjeti vo: qual o l ugar do medo
e empati a? Todas estas i ndagaes nos
remetem no tanto a pressupostos me-
todol gi cos quanto qui l o que os i nfor-
mam: escol has estratgi cas postas em
movimento na tentativa de reduzir a re-
l ao assi mtri ca consti tuti va do pro-
cesso de i nvesti gao, assi m como de
fundar a reflexividade o pensar pes-
qui sando (:33) atravs da expl i ci ta-
o dos cnones de neutral i dade e di s-
tanci amento nas pesqui sas soci ol gi -
cas.
Entre todas as hi stri as col hi das,
doi s casos so tomados como verses
exempl ares. Em um del es, o pri nci pal
personagem assume sua vi ncul ao
com os crimes de pistolagem, ainda que
tenha uma cl ara noo dos ri scos que
corre ao entrar em um jogo que no do-
mina, o do discurso. No segundo caso, o
i ndi ci ado em cri mes de pi stol agem ne-
ga seu envol vi mento, posi ci onando o
motor de suas aes no campo da hon-
ra. De um plo a outro, as categorias de
vi ngador e de pi stol ei ro vo sendo
objeti vadas, expondo as l i mi taes de
tal cl i vagem (l embro que a di sti no
entre profi ssi onai s e vi ngadores ,
em especi al no que se refere ao canga-
o, recorrente nos estudos sobre o te-
ma). No se trata aqui de propor uma ti-
pologia cristalizada a partir das motiva-
es forneci das pel os i nformantes, mas
de perceber os efei tos gerados pel a
evocao de um moti vo ou outro quan-
do do cumpri mento de determi nada
ao. S assi m podemos abandonar o
projeto, sempre redutor, de buscar as
causas da criminalidade e dirigir nossos
esforos para a compreenso do funcio-
namento real daqui l o que tomamos co-
mo objeto de nossa i nvesti gao e de
todo o conjunto de normas e valores im-
bricados no processo.
Assim, utilizando como fio condutor
a trajetri a de vi da destes depoentes, o
autor bri nda-nos com i nformaes va-
liosas acerca do mundo da pistolagem :
os atributos pessoais e comportamentos
requeridos para o exerccio de tal ativi-
dade; a relao assimtrica e hierrqui-
ca e tambm conflituosa entre man-
dantes e executores; os modos como os
servi os so contratados e o papel dos
i ntermedi ri os, os chamados correto-
res da morte (com a crescente profis-
sionalizao do pistoleiro, as contrata-
es de servios tornam-se interesta-
duais ou interregionais); a lei do siln-
ci o que i mpera quando da pri so de
al gum pi stol ei ro; os preos e tabel as
de preos que vari am em funo da
posi o soci al ocupada pel a v ti ma; os
si ndi catos do cri me , organi zados em
torno de uma l i derana ou i ntermedi -
ri o, e sua concatenao com empresas
l egai s; a atomi zao da rede de prote-
o, que de certa manei ra atual i za seu
l ado nmade (:105) (tal vez fosse me-
l hor fal ar aqui de uma mobi l i dade se-
dentria); a incorporao de valores ur-
banos; os estatutos da justi a (certa-
mente, nos casos assi nal ados, no a
mesma justia que est em jogo. Os me-
cani smos compensatri os que o Estado
aci ona quando requer uma reparao
por um dano cometido no equivalen-
te queles que so acionados diante dos
cri mes l i gados honra ou cri mes de
vi ngana, que tm como embl ema as
di sputas fami l i ares. Trata-se de um ou-
tro cdigo, de um outro registro).
Por fi m, val e ressal tar que a opo
por trabal har com fontes di versas
meios de comunicao; entrevistas; lite-
ratura de cordel (assunto do cap tul o
quatro, em que aborda as representa-
es popul ares do fenmeno, tendo co-
mo contraponto as hi stri as de canga-
cei ros e bandi dos-heri s) possi bi l i tou
ao autor focal i zar o tema em sua pol i s-
semi a. As ml ti pl as verdades que o fe-
nmeno comporta descortinam-se em
suas concluses, que, sem dvida, mais
do que esgotar o tema, apontam para
desdobramentos futuros e para efei tos
concretos, escapando, assim, do encap-
sul amento em um terreno uni camente
acadmico.
BECKER, Howard S. 1998. Tricks of the
Trade. How to Think about your Re-
search While Youre Doing It. Chica-
go: Chicago University Press. 232 pp.
Elizabeth Travassos
Prof. de Fol cl ore e Etnomusi col ogi a, Uni -Ri o
Como na parbol a contada nas l ti mas
pgi nas do l i vro, sobre portes i nvi s -
vei s no fundo do mar que transformam
em drages os pei xes que por al i pas-
sam, tornar-se soci l ogo requer uma
transformao para a qual no h recei-
ta. Segundo Howard Beck er, torna-se
ci enti sta soci al quem passa a pensar
sociologicamente de forma rotineira. E
al gumas ferramentas do raci oc ni o so-
ci ol gi co podem ser si nteti zadas sob a
forma de truques a serem exerci tados
no decorrer de qualquer estudo que te-
nha como foco a vi da soci al , i ndepen-
dentemente do enquadramento di sci -
plinar, quer envolva as tcnicas qualita-
ti vas da etnografi a, quer faa uso de
surveys e estatsticas. A palavra truque,
adverte o autor, no deve ser entendida
como procedi mento si mpl i fi cador: ao
contrri o, al guns foram si stemati zados
por seu potencial de complexificao da
pesquisa.
Fartamente ilustrado por estudos da
soci edade norte-ameri cana com des-
taque para as pesqui sas sobre i nsti tui -
es (escolas, prises etc.), subgrupos e
comportamentos desvi antes , o l i vro
prefere a pedagogi a dos exempl os
di scusso de teori as abstratas, vi stas
com certa desconfiana. No se trata de
uma introduo metodologia das cin-
ci as soci ai s que descreva suas grandes
matri zes teri cas, mas de um convi te
refl exo sobre probl emas que podem
ser levantados no decorrer de uma pes-
qui sa. Para o autor, a produti vi dade da
reflexo proporcional capacidade de
abandonar formas convenci onai s de
ol har a real i dade soci al : no coi nci -
dnci a a l embrana, na i ntroduo, do
construtor das Watts Towers, naf que
no pensava seu trabal ho nos termos
estabel eci dos pel a arte ofi ci al . Em arte,
como em soci ol ogi a, as convenes so
peri gosas porque estrei tam o l eque de
possibilidades.
Os truques esto ordenados em
quatro cap tul os que obedecem se-
qncia temporal de uma investigao,
com sua defi ni o do objeto, del i mi ta-
o do materi al emp ri co, consti tui o
de concei tos, anl i se e i nterpretao.
Como observa o autor, mel hor do que
ver cada captulo como uma etapa tra-
t-los, todos, como componentes interli-
gados de uma rede.
Sob o t tul o Imagens , Becker di s-
cute as formas como so representados
o mundo soci al e a prpri a expl i cao
soci ol gi ca. Tanto os estereti pos do
l ei go quanto as narrati vas expl i cati vas
das ci nci as soci ai s so i magens. Al gu-
mas di reci onam i ndevi damente a apre-
enso do real , caso no se tenha cons-
ci nci a de seus efei tos, outras ampl i am
RESENHAS 180
RESENHAS 181
o cenri o sugeri ndo possi bi l i dades me-
ramente vi rtuai s que podem ser con-
frontadas com o real . Tal o caso da
hi ptese nul a , proposi o que o pes-
qui sador l ana sabendo de antemo
que no ser confi rmada, mas cuja re-
futao permi te enxergar rel aes an-
tes invisveis e construir proposies v-
l i das. Outra i magem a da conti ngn-
ci a (l argamente i nspi rada pel o texto de
Mari za Pei rano sobre o recurso ao aca-
so no di scurso de ci enti stas soci ai s bra-
si l ei ros), proposta como al ternati va ao
di l ema entre determi nao e acaso. As
i magens da soci edade como maqui ni s-
mo e como organi smo provocam, res-
pecti vamente, os trabal hos de enge-
nharia reversiva (que revela como fun-
ciona a mquina) e de busca de interco-
nexes de processos. Outros truques
decorrem da substi tui o de i magens
das pessoas como ti pos e dos objetos
como coi sas dotadas de propri edades
i ntr nsecas pel a vi da soci al como con-
junto coordenado de aes si tuadas no
tempo e no espao. A suspei ta das ex-
pl i caes causai s determi ni stas tam-
bm torna prefervel perguntar como
em lugar de por que , truque que con-
duz ao achado de processos, expl i ca-
es expressas geral mente sob a forma
de vari vei s que s tm efei to quando
operam em conjunto, em certos contex-
tos.
O captulo seguinte ( Amostragem )
aborda vrios problemas englobados na
questo mai s ampl a do papel das si n-
doques na cincia social, isto , proble-
mas rel ati vos del i mi tao da parte
chamada a representar um todo que se
est estudando, cujas frontei ras tam-
bm devem ser demarcadas. Trata-se
de di scuti r as escol has i nevi tvei s, que
vo desde a definio do objeto de uma
disciplina (o exemplo dado o da etno-
musi col ogi a, que pretende estudar to-
das as msi cas, uma total i dade que a
prti ca dos estudi osos desmente) at a
amostragem de casos que permi te ge-
neral i zaes l eg ti mas, passando pel a
simples descrio dos fatos observados.
J que nenhuma descri o compl eta
e neutra, resta saber o que escol her,
quai s categori as gui am a percepo e
fazem a mediao entre observar e des-
crever. Para evi tar a armadi l ha das ex-
cl uses i nconsci entes, Beck er prope
truques que consistem em levar o deta-
l hamento da descri o a um ponto em
que a incluso de fenmenos coloca em
xeque as categori as de percepo: ma-
ximizar a possibilidade de aparecimen-
to do caso singular e olhar todo o espec-
tro de casos. Mai s uma vez, a l i o ge-
ral desconfi ar das manei ras conven-
ci onai s de observar e categori zar a so-
ci edade: [...] the general sol uti on of
the probl em i s to confront oursel ves
wi th just those thi ngs that woul d jar us
out of the conventi onal categori es, the
conventi onal statement of the probl em,
the conventional solution (:85).
A apl i cao destes procedi mentos
encontra barrei ras na organi zao so-
cial que se est estudando cujos agen-
tes tm i di as sobre o que rel evante
para a descrio , nas teorias j desen-
vol vi das, na mai or credi bi l i dade que
uma organizao hierarquizada confere
s defi ni es dos grupos soci ai s de sta-
tus el evado. A hi erarqui a de credi bi l i -
dade tambm afeta a ci nci a soci al va-
l orando seus temas como mai s ou me-
nos rel evantes. O autor l embra, al i s,
que foi criticado por escolher temas me-
nores, como os msicos de bares dos ar-
redores de Chicago, as carreiras de pro-
fessores de escol as pbl i cas e mesmo o
uso de maconha que, por volta de 1950,
no tinha as dimenses de um proble-
ma social .
No captulo Conceitos , o autor ar-
gumenta em favor da soci ol ogi a que se
mantm prxi ma do mundo emp ri co,
cujos concei tos so formados i nduti va-
mente. Na medida em que os conceitos
so general i zaes emp ri cas e pres-
supem um exame extensi vo dos fen-
menos aos quai s se referem, el es tam-
bm so um caso de si ndoque e guar-
dam a marca da sel eo que os gerou.
A procura dos casos excludos ou an-
mal os pode forar uma bem-vi nda re-
defi ni o dos concei tos. Por vezes, i sto
si gni fi ca despoj-l os de seus atri butos
aci dentai s para que retenham somente
as propriedades essenciais dos fenme-
nos que designam. Outra forma de revi-
so tem por objeti vo al argar-l hes o al -
cance rompendo com as defi ni es do
senso comum.
O ltimo captulo, Lgica , discute
o tratamento do material emprico e dos
concei tos como apl i caes da l gi ca
cl ssi ca e da l gi ca matemti ca de
George Bool e, esquemati zada em ta-
bela-verdade que alinha todas as pos-
s vei s rel aes entre um objeto e seus
predi cados. No caso da l gi ca cl ssi ca,
o truque reside na descoberta da pre-
mi ssa mai or de um si l ogi smo, proposi -
o que no expl i ci tada pel os atores
soci ai s ou pel as teori as soci ol gi cas. O
funci onal i smo, exempl o dado pel o au-
tor, repousa em uma premissa maior so-
bre o estado de i ntegrao da soci eda-
de que pode ser objeto de questi ona-
mento. Com rel ao l gi ca de Bool e,
Becker mostra como diversas metodolo-
gi as desenvol vi das na ci nci a soci al ,
quanti tati vas e qual i tati vas, podem ser
formal i zadas como combi naes entre
variveis, proposies entre as quais se
estabelecem correlaes ou relaes de
causa e efeito. Assim, as tabelas que re-
sumem ti pol ogi as, l i stando hori zontal -
mente objetos e ordenando verti cal -
mente suas propri edades, podem ser
converti das em tabel a-verdade . Es-
tas promovem a i nspeo da total i dade
de combi naes poss vei s, al gumas i n-
vi s vei s para o anal i sta que trabal ha
com um nmero restrito de casos oriun-
dos da pesquisa emprica. A lgica boo-
l eana gera, portanto, um conjunto de
truques desti nados a expl orar o mbi to
total de fenmenos, dentre el es os que
so apenas possibilidades lgicas.
Trs mtodos de estabelecimento de
tipologias, de socilogos norte-america-
nos, exempl i fi cam os truques: a pro-
perty space analysis (de Paul Lazars-
feld e Allen Burton), a anlise qualitati-
va comparati va (de Charl es Ragi n) e a
i nduo anal ti ca (associ ada a Al fred
Li ndesmi th, entre outros). Todas as ti -
pol ogi as podem ser expressas como
tabel a-verdade . No pri mei ro caso,
cl assi fi cam-se fenmenos conforme s-
ri es de atri butos (sejam el es mensur-
vei s, expressos em quanti dades rel ati -
vas ou si mpl esmente di cotmi cos, i sto
, esto presentes ou ausentes). Confor-
me cresce o nmero de atributos ou va-
riveis com as quais trabalha o analista,
as tabel as se tornam i l eg vei s porque
contm um nmero i ntratvel de ti pos.
Um dos truques, adotado por Lazars-
feld, era a reduo que funde combina-
es semel hantes de atri butos. A ope-
rao i nversa tambm vi vel e deve
ser feita quando se deseja descobrir ou-
tros ti pos, i sto outras possi bi l i dades
que podem ser transformadas em hip-
teses a serem confrontadas com o mate-
rial emprico.
A anl i se comparati va qual i tati va
i mpl i ca outra concepo de ci nci a so-
ci al e de causal i dade, mai s i nteressada
na si ngul ari dade dos processos do que
em ti pol ogi as. A ateno aqui se con-
centra nas combi naes poss vei s de
atri butos ou vari vei s que produzem o
fenmeno que se quer expl i car. En-
quanto a pesqui sa quanti tati va busca
conhecer o efeito de uma varivel sobre
outras, em quaisquer situaes, a quali-
tati va oferece expl i caes a parti r da
RESENHAS 182
RESENHAS 183
combi nao ni ca e conjuntural de
ml ti pl as vari vei s. Natural mente, as
formas de general i zao l eg ti ma em
cada uma das anlises diferem.
A tercei ra al ternati va, i nduo ana-
ltica, apropriada ao estudo de apenas
um dos tipos ou casos possveis de uma
tabela, como se o pesquisador focalizas-
se apenas uma de suas cl ul as ou l i -
nhas. Identi fi cada com o mtodo etno-
grfi co e a tcni ca de obteno de da-
dos por entrevistas, d origem a teorias
desenvol vi das a parti r das parti cul ari -
dades dos casos emp ri cos, teori as que
so reformul adas medi da que suas
i nadequaes se evi denci am. O exem-
plo clssico deste mtodo que, segundo
Beck er, remonta a John Stuart Mi l l ,
George H. Mead e Herbert Bl umer, a
anl i se de Li ndesmi th em Opiate Ad-
diction, de 1947. A metodol ogi a de seu
prpri o trabal ho sobre usuri os de ma-
conha identifica-se com a induo ana-
ltica e as lies desses autores. De fato,
um bom nmero de probl emas e seus
respecti vos truques nasce como desen-
vol vi mento de di cas ou sugestes de
seus professores Herbert Blumer e Eve-
rett Hughes.
Pontuado por pi adas e escri to num
tom col oqui al que del i beradamente
adota defi ni es si mpl es para os gran-
des conceitos sociolgicos (organizao
social, por exemplo: a situation in which
most peopl e do pretty much the same
thing in pretty much the same way most
of the ti me, p. 41), o l i vro traduz a op-
o do autor pel a ao col eti va coorde-
nada como objeto prprio da sociologia
e a opo pel o caso anmal o, pel o des-
vio e pela possibilidade inusitada como
estratgi a de pesqui sa. As artes, sobre-
tudo l i teratura e msi ca, so grandes
i nspi radoras do soci l ogo, sobretudo
quando permi tem sacudi r as i magens
convenci onai s dos objetos e as catego-
rias de percepo. Neste sentido, 433,
de John Cage, encerra tambm uma li-
o de ci nci a soci al , poi s o equi va-
l ente, na cri ao art sti ca, das questes
bsicas que um socilogo deve endere-
ar aos fenmenos que despertam seu
interesse.
GRAHAM, Richard. 1997. Clientelismo
e Poltica no Brasil do Sculo XIX. Rio
de Janeiro: Editora da UFRJ. 542 pp.
Ivana Stolze Lima
Doutoranda em Hi stri a, UFF
Por que um si stema pol ti co forjado pa-
ra assegurar a manuteno das hi erar-
qui as soci ai s, garanti r a conti nui dade
da escravido e do virtual monoplio da
propri edade fundi ri a preci sou de el ei -
es to constantes e que ocupavam a
ateno das comunidades durante qua-
se todo o ano? Por que o l ti mo pa s a
pr fim escravido, e nica monarquia
americana tinha um nmero de pessoas
envol vi das com o processo el ei toral
mai or que o de al guns pa ses europeus
da mesma poca? Como o clientelismo,
que assegurou o predom ni o soci al e
poltico do chefe local sobre seus paren-
tes e aderentes, foi a base atravs da
qual se construiu a centralizao polti-
ca de um Estado moderno e fami l i ar
ao mesmo tempo? Estas so al gumas
das ori gi nai s e i nsti gantes questes l e-
vantadas por Ri chard Graham em l i vro
que enri quece deci si vamente a hi sto-
riografia sobre a sociedade brasileira do
scul o XI X, mas que nos l eva a uma
inevitvel e um tanto angustiante refle-
xo sobre as nossas prpri as crenas
eleitorais.
Atravs de descri es mi nuci osas
de si tuaes, ri tuai s el ei torai s, do deta-
lhamento de processos polticos e admi-
nistrativos, Graham evidencia o contex-
to hi stri co sem separar pol ti ca, rel a-
es sociais, e experincias culturais. O
cl i entel i smo, ai nda que gerado para
consol i dar a supremaci a dos propri et-
ri os de terra e escravos arti cul ada ao
poder central , no aparece como um
sistema infalvel ou isento de incertezas
e tenses. O controle social obtido nun-
ca foi absol uto, e as ameaas de desor-
dem, brechas, desobedincias, ansieda-
des conti nuaram a atuar. Ao tratar das
ansi edades dos l deres pol ti cos, das
mobi l i dades soci ai s e espaci ai s, Gra-
ham indica que sua perspectiva no es-
t restri ta el uci dao de um model o
formal , ou de um si stema em funci ona-
mento perfei to e harmni co, uma vez
que a tenso e o movi mento esto pre-
sentes no fenmeno que desvenda.
A l egi sl ao, rel atri os mi ni steri ai s
e de outras autori dades, memori al i stas,
discursos parlamentares, e outras publi-
caes do scul o XI X foram pesqui sa-
dos. Mas as pri nci pai s fontes do l i vro
so correspondnci as ofi ci ai s e pes-
soais, em quantidade formidvel, a que
a anl i se empresta uma i ndi ta di men-
so de conjunto, a partir da qual o autor
i ndi ca a extenso naci onal do cl i ente-
lismo. No fundo mais do que isso, pois a
construo do Estado central i zado ba-
seou-se nas redes clientelistas. Nega-se
uma imagem mais ou menos atual, pro-
vavel mente gestada na Pri mei ra Rep-
blica, de que o Nordeste seria o grande
responsvel pel o atraso de um suposto
projeto de modernidade.
As estruturas da poltica , A atua-
o pol ti ca e A prti ca do cl i entel i s-
mo so as trs partes do l i vro atravs
das quai s se vi sl umbra a vi da soci al e
pol ti ca do I mpri o, em uma narrati va
circular. O Teatro das Eleies o ca-
ptulo mais inovador e pode ser escolhi-
do como entrada, merecendo um co-
mentrio mais longo. A Constituio de
1824 i mpl ementou um si stema de el ei -
es indiretas e censitrias. Os votantes
escol heri am os membros do col gi o
eleitoral ou eleitores que por sua vez
escol heri am os componentes da Cma-
ra dos Deputados. Mas a dvida levan-
tada pelo autor : quem eram de fato os
votantes? Longe estavam de pertencer
a uma classe dominante , como nebu-
losamente defenderam algumas corren-
tes da hi stori ografi a que no havi am
ainda se debruado sobre tal documen-
tao, e com olhos menos predispostos a
reconhecer a especi fi ci dade da pol ti ca
na poca imperial. Vinham, antes, do va-
ri egado mundo dos homens l i vres, sem
di sti no formal baseada em raa ou
exi gnci a de al fabeti zao. A junta de
qual i fi cao, control ada pel a faco no
poder, decidia quem seria ou no quali-
fi cado como votante. As i nterpretaes
da lei sobre as exigncias de renda obe-
deciam necessidade dos chefes locais
em arrebanhar protegi dos, l evando-os
quase como um pequeno exrcito a en-
cher nos dias de eleio as pequenas ci-
dades. Al i eram cal ados, vesti dos, al i -
mentados e alojados, e mantidos sob cui-
dadosa vigilncia, pois adeptos do exr-
ci to i ni mi go poderi am al i ci -l os. Exi bi r
seu nmero si gni fi cava medi r foras
com o adversri o. Havi a um compl exo
jogo entre aes extral egai s pel a for-
a ou pel a fraude e a l egal i dade. Os-
tentar uma fora (mesmo que no se con-
cretizasse) seria o caminho para o futu-
ro reconhecimento de um lder poltico.
Encenava-se a detalhada hierarquia
soci al , os di ferentes status dos votantes
bachari s, membros da Guarda Na-
ci onal , cl ri gos, agregados ou si mpl es
l avradores , a posi o i nferi or dos vo-
tantes diante dos superiores, e mesmo a
superioridade dos votantes sobre os de-
mai s habi tantes l i vres e os escravos
(di sti no esta fundamental , al i mai s
uma vez l embrada). Mai s do que uma
excl uso, as el ei es eram uma forma
RESENHAS 184
RESENHAS 185
de di ferenci ao. Os cl i entes demons-
travam l eal dade, obedi nci a, reconhe-
ci mento; os patres reafi rmavam seu
dom de proteo. Por tudo i sso o espe-
tculo devia e podia ser amplo, bem co-
mo essenci al mente pbl i co, quase uma
festa, embora uma festa sempre tensa e
que podia ser tambm violenta.
Nas i grejas onde antes havi a si do
montado um cenri o l i gei ramente di fe-
rente daquel e dos di as comuns e que
recortava, na hierarquia social, a ordem
pol ti ca chegavam, ostentando as i n-
s gni as ofi ci ai s de cada cargo, o jui z de
paz e membros da Cmara muni ci pal ,
ocupando a mesa el ei toral , soberana
sobre o resul tado l ocal das el ei es. Ao
l ado destes, o padre. A parti r de 1842
juntava-se a estes o delegado, presena
do di stante poder central , que roubava
do juiz de paz ele prprio eleito local-
mente o l ugar de presi dente da mesa
e outras atribuies policiais e judiciais,
mudana que no se operou sem rea-
es violentas.
Espel hando o paradi gma fami l i ar, a
troca de lealdade e obedincia por pro-
teo e favores consti tu a a matri z das
relaes sociais entre clientes e patres,
recri ada quase i ndefi ni damente entre
os vrios estratos sociais.
O virtual monoplio da propriedade
da terra consi sti a no tanto em i nteres-
se econmico imediato, mas em um de-
ci si vo i nstrumento pol ti co. Um grande
propri etri o transformava-se efeti va-
mente em um chefe local ao formar sua
prpri a cl i entel a. Podi a consegui r dos
moradores que ocupavam suas terras
al go pareci do com um pequeno exrci -
to, fosse para trabalhar em alguma em-
prei tada ocasi onal , para votar ou para
l utar. El e tambm consegui ri a l i vrar
seus potenci ai s protegi dos do recruta-
mento forado, poderoso i nstrumento
de controle social, da mesma forma que
entregaria os recalcitrantes.
Tambm o governo central simbo-
l i zado no pri mei ro pai , o I mperador
funcionava como uma espcie de padri-
nho para os chefes locais, constituindo-
se na proteo contra as tenses sociais
latentes, ao controlar uma rede de auto-
ridades para vigiar a manuteno da or-
dem pblica. Ficava cada vez mais cla-
ro que a autonomia regional ou provin-
ci al podi a si gni fi car peri go. Ocupar
aquel a mesma rede de autori dade era
objetivo dos chefes locais, uma vez que
si gni fi cari a aumentar sua cl i entel a e
prest gi o. Surge da o senti do da ex-
presso tomar posse dos cargos p-
blicos, ainda em voga. Por outro lado, o
gabi nete mi ni steri al necessi tava da
l eal dade do chefe l ocal para consol i dar
a central i zao pol ti ca. Os mi ni stros,
mesmo nomeados pel o Imperador, de-
pendi am do Congresso. Os deputados
eram eleitos pelos chefes locais. Mas os
ministros tinham o poder de controlar o
processo el ei toral atravs das nomea-
es, seja para funes di retamente l i -
gadas s el ei es, seja para outros car-
gos que preci sari am ser devi damente
retri bu dos com l eal dade. Cl aro que o
poder que nomeava tambm afastava.
Toda a rede cl i entel i sta mi nuci osa-
mente expl orada por Graham, nesse
movi mento de di rees di spersas e s
vezes contraditrias entre o poder local
e o central.
A estrutura pol ti ca recri ava a hi e-
rarqui a soci al . A cada voto, pedi do de
emprego, concesso de um favor, cada
um reconheci a sua posi o de i nferi or
ou superi or, dependendo da si tuao.
Atender s sol i ci taes dos cl i entes co-
locava em questo a prpria posio co-
mo protetor, mesmo tratando-se de um
ministro de Estado.
A anl i se da organi zao parti dri a
do Imprio, evitando categorias anacr-
nicas, indica como Liberais e Conserva-
dores participavam igualmente dos pro-
cedi mentos cl i entel sti cos. Sua ci so
no era i deol gi ca ou programti ca. A
l eal dade parti dri a, cuja manuteno
no era tarefa fci l , dobrava-se antes a
uma lealdade pessoal. Durante as cam-
panhas procuravam-se as afinidades fa-
miliares, as amizades, as influncias, as
obrigaes muito mais do que se defen-
dia uma plataforma singular.
Curi osamente, era comum a preo-
cupao em real i zar el ei es justas, o
que si gni fi cava acei tar que os advers-
ri os em al gum momento parti ci passem
do poder. Os pol ti cos acredi tavam-se
portadores de uma adeso pl ena aos
pri nc pi os consti tuci onai s e representa-
tivos.
Uma espcie de revezamento impl-
ci to expressava como cada parti do ou
faco, mai s do que estar no governo,
al mejava ser o governo. As tenses en-
tre faces ou entre autori dades, se
bem administradas, perpetuavam o sis-
tema como um todo.
Embora estabel ea como l i mi tes
temporai s do l i vro o rei nado de D. Pe-
dro II, entre 1840 e 1889, Graham refle-
te sobre o contexto de i mpl antao do
regi me republ i cano ao abordar a refor-
ma el ei toral de 1881 como fruto de
transformaes soci ai s. A i ntroduo
das eleies diretas e a exigncia de al-
fabeti zao reduzi u o nmero de habi -
tantes envol vi dos nas el ei es de um
milho para 150 mil. Os argumentos fa-
vorvei s reforma evi denci am que,
com o fi m i mi nente da escravi do, e o
risco de que o sistema, tal como era, no
fosse mais capaz de servir a seus objeti-
vos, os fazendei ros acei taram a restri -
o aos alfabetizados, bem como a nova
forma de comprovao de renda. No
entanto, a mudana era uma adaptao
do cl i entel i smo, poi s os procedi mentos
bsi cos conti nuaram. A Repbl i ca con-
ti nuou tanto com o voto restri to sob a
nova aparnci a de uni versal , quanto
com o cl i entel i smo, desde ento torna-
do federal . Haveri a, entretanto, agora,
novos cargos na disputa.
Fi nal mente, a narrati va no segue
um tom comum entre al guns brasi l i a-
ni stas norte-ameri canos, pretendente a
uma descri o emp ri ca neutra que
desperta certo enfado, apesar do mrito
das pesqui sas de grande al cance. Ao
contrrio, a leitura de Clientelismo e Po-
ltica no Brasil do Sculo XI X marca-
da pel o envol vi mento de sua escri ta. A
um entendi mento estrei to de que o
cl i entel i smo seri a um fenmeno ti pi ca-
mente brasileiro o autor contrape uma
sri e de refernci as a l ugares e pocas
nos quai s fenmenos semel hantes tm
sido analisados.
GRUPIONI, Lus Donisete Benzi. 1998.
Colees e Expedies Vigiadas: Os
Etnlogos no Conselho de Fiscaliza-
o das Expedies Artsticas e Cient-
ficas no Brasil. So Paulo: Hucitec/An-
pocs. 341 pp.
Marco Antonio Gonalves
Prof. de Antropol ogi a, PPGSA-I FCS-UFRJ
Este l i vro representa uma contri bui o
significativa histria da etnologia bra-
si l ei ra. Ori gi nal mente uma di ssertao
de mestrado em Antropol ogi a Soci al
apresentada USP, recebeu a premi a-
o da Anpocs como melhor dissertao
no ano de 1997. A pesqui sa real i zou-se
nos arqui vos do Consel ho de Fi scal i za-
o das Expedi es Art sti cas e Ci ent -
fi cas no Brasi l , hoje sedi ado no Museu
de Astronomi a, no Ri o de Janei ro. O
Conselho funcionou de 1933 a 1968, fis-
calizando as expedies cientficas rea-
l i zadas por pesqui sadores estrangei ros
ou por brasileiros no vinculados a uma
instituio cientfica.
RESENHAS 186
RESENHAS 187
O autor redescobre este acervo co-
mo fonte i mportante para a compreen-
so do desenvol vi mento da ci nci a e
das i nsti tui es ci ent fi cas no Brasi l .
Sob uma aparncia burocrtica, o acer-
vo apresenta uma ri ca documentao
sobre as expedi es ci ent fi cas, que re-
vel am percepes sobre patri mni o ,
ci nci a , nao , e as rel aes e es-
tratgi as que se estabel eceram entre
di ferentes ci enti stas e i nsti tui es de
pesqui sa no Brasi l e no exteri or. O ar-
qui vo rene onze mi l documentos bas-
tante di versos cartas, of ci os, atas de
reuni o, rel atri os de ati vi dades, l i stas
de freqnci as, demonstrati vos de pa-
gamentos, tel egramas, recortes de jor-
nai s, fotografi as e de tal forma
abrangente, que o autor teve de real i -
zar sucessi vos recortes at chegar ao
ncl eo documental que seu objeto
pri vi l egi ado de anl i se: os pedi dos de
l i cena para expedi es etnogrfi cas,
antropolgicas e arqueolgicas.
Na estrutura documental do acervo
destacam-se os dossi s expedi ci on-
rios ; so, ao todo, 437 dossis, dos quais
61 so rel ati vos a pedi dos de l i cena
para expedi es cl assi fi cadas como et-
nogrfi cas, arqueol gi cas e antropol -
gi cas. Neste uni verso, o autor focal i za
ci nco dossi s, dando mai or nfase a
doi s: os de Cl aude Lvi -Strauss e Curt
Ni muendaj, que consti tuem o ncl eo
do l i vro (cap tul os 4 e 5); a anl i se dos
outros trs (Charl es Wagl ey; Wi l l i am
Li pk i nd e Buel l Quai n; e Davi d May-
bury-Lewis) integra o captulo 3.
A i nteno de Grupi oni entender
como esses etnl ogos real i zaram suas
pesqui sas e a rel ao destas com suas
carrei ras futuras. No anal i sa, contudo,
as obras dos pesqui sadores cujos dos-
sis so investigados, mas sim o dossi
em si mesmo . Segundo o autor, a an-
l i se constru da de dentro do conjunto
documental para fora del e , etnografi a
que implica elevar o documento inves-
ti gado condi o de parte consti tuti va
da anl i se, e no de mera i l ustrao
(:26-27). Entretanto, a escolha inicial do
objeto e os recortes que procedeu at
chegar aos dossi s efeti vamente anal i -
sados i mpl i cam medi aes que so i m-
postas por outros contextos que no os
dos dossi s tomados como peas i sol a-
das. Sua concepo da hi stri a da an-
tropologia no Brasil, por exemplo, leva-
o a um recorte espec fi co do materi al a
ser analisado, que, por sua vez, o leva a
uma cl assi fi cao dos autores escol hi -
dos e a um determinado quadro tempo-
ral.
O cap tul o 1, O Campo Indi geni s-
ta , l ocal i za o Consel ho em um campo
bastante heterogneo que envolvia dis-
putas, travadas desde o comeo deste
sculo, sobre o lugar dos ndios no pro-
jeto de construo naci onal , i di as e
prti cas que ci rcul avam naquel e mo-
mento e que fizeram parte da constitui-
o e da elaborao de uma poltica in-
di geni sta fomentada pel o Estado brasi -
l ei ro. Grupi oni , a parti r do Consel ho,
repensa o campo indigenista, propondo
um al argamento do mesmo para i ncor-
porar no apenas as chamadas polticas
de intervenes nas populaes indge-
nas, mas tambm a produo do conhe-
ci mento sobre esses grupos e, assi m, a
relao dos antroplogos com o Estado.
Embora o materi al restri nja-se aos an-
tropl ogos estrangei ros, pode-se vi s-
l umbrar uma rede compl exa de rel a-
es entre as i nsti tui es brasi l ei ras e
seus pesqui sadores e suas respecti vas
relaes com o Estado. Outro ponto im-
portante evocado por Grupi oni que,
no momento em que se el abora uma
pol ti ca sobre as expedi es ci ent fi cas
e de preservao de col ees percebi -
das como parte do patri mni o hi stri co
e cultural da nao, os ndios passam a
ocupar um l ugar de destaque na i di a
de nao que o Estado est construi n-
do (:44).
No cap tul o 2, O Consel ho de Fi s-
cal i zao , o autor faz uma anl i se mi -
nuci osa da estrutura do Consel ho, seus
objeti vos, seu papel fi scal i zador, dos
pri nc pi os que nortearam sua cri ao e
do debate pol ti co em jogo. A i nsti tui -
o do Consel ho produzi u um uni verso
de categorias classificatrias como ex-
pedies cientficas , expedicionrio ,
pesquisador , especialista , colees
etnogrficas categorias que no eram,
at aquel e momento, consti tuti vas de
um campo organi zado. A prpri a cate-
gori a expedi o ci ent fi ca j evi den-
ci a uma percepo espec fi ca do que
significa pesquisa e do modo como esta
deve ser conduzi da (para produo de
conheci mento e para apropri ao de
bens culturais e cientficos). O expedi-
cionrio seja ele nacional sem vincu-
lao institucional, ou estrangeiro tem
de submeter seu projeto ao Consel ho,
que documenta suas ati vi dades e l he
concede uma autori zao para pesqui -
sa. Para tanto, o Consel ho cri a as fi gu-
ras de consel hei ros e consul tores ,
mui tos destes formal mente vi ncul ados
s instituies de pesquisa no pas, que
passam a opi nar, vetar ou autori zar as
expedi es ci ent fi cas . Com i sso, o
Conselho legitimava o pesquisador na-
cional .
No cap tul o 3 chega-se, fi nal mente,
anlise dos dossis dos etnlogos. So
anal i sados os de Charl es Wagl ey, de
William Lipkind e Buell Quain, e de Da-
vi d Maybury-Lewi s. Grupi oni oferece
um v vi do quadro da antropol ogi a da-
quel e per odo, reconsti tui ndo as rel a-
es entre pesqui sadores brasi l ei ros e
estrangeiros, relaes que definiram in-
teresses e questes sobre os quais a an-
tropol ogi a no Brasi l i ri a se debruar no
futuro. O autor reconstri as conexes
da escol a ameri cana de antropol ogi a
por meio de representantes como Boas,
Li nton e Benedi ct e dos estudos desen-
vol vi dos no Brasi l por seus al unos Wa-
gl ey, Li pk i nd, o casal Watson, o casal
Murphy com as i nsti tui oes brasi l ei -
ras, uma rede que se conectava a He-
l o sa Al berto Torres e aos pesqui sado-
res do Museu Naci onal . A anl i se dos
dossi s revel a no apenas as di sputas
institucionais entre museus e rgos de
pesquisa no Brasil e de seus respectivos
pesqui sadores a parti r do capi tal i nte-
l ectual estrangei ro, mas tambm um
esti l o de conduo da pesqui sa etnol -
gi ca, seja no que se refere aos temas
(estudos l i ng sti cos, musi cai s, acul tu-
rao e mudana, cul tura materi al , an-
tropometri a) ou ao prpri o trabal ho de
campo. Mui tos dos pesqui sadores, de-
nomi nados expedi ci onri os , fazi am-
se acompanhar por matei ros, carrega-
dores, cozi nhei ros e assi stentes, o que
levava o Servio de Proteo aos ndios
a questi onar no as boas i ntenes e
integridade moral dos pesquisadores,
mas a de seus acompanhantes, que en-
travam em contato com as popul aes
indgenas.
O captulo 4 analisa o dossi Claude
Lvi -Strauss enfocando sua segunda
expedio. Grupioni narra a disputa in-
tel ectual que se trava entre o Departa-
mento de Cultura de So Paulo e o Mu-
seu Naci onal , medi ada pel o Consel ho,
sobre o controle e fiscalizao da expe-
di o. A i nfl unci a de Hel o sa Al berto
Torres acaba por impor expedio um
del egado do Museu Naci onal , Lui z
de Castro Fari a, fi scal do Consel ho ,
que acompanharia Lvi-Strauss Serra
do Norte. O cap tul o reconstri a rede
de relaes acadmicas e polticas, bem
como as estratgi as dos atores envol vi -
dos, que girava em torno da legitimida-
de da pesqui sa ci ent fi ca desenvol vi da
no Brasil. Grupioni, ainda neste captu-
l o, redi mensi ona a contri bui o de L-
RESENHAS 188
RESENHAS 189
vi -Strauss para o corpus etnogrfi co
sul -ameri cano, reconectando suas pes-
qui sas sua produo i ntel ectual mai s
ampl a. O autor concl ui que a real con-
tri bui o de Lvi -Strauss etnol ogi a
sul -ameri cana fi cou ofuscada pel a en-
vergadura de sua obra que, se ultrapas-
sava o ameri cani smo tropi cal , no dei -
xava de ser importante para a constitui-
o desse campo de estudos.
Para a anlise do dossi Nimuenda-
j (captulo 5), o autor lana mo de ou-
tros documentos, presentes nos arqui -
vos do Museu Naci onal , para aval i ar a
efeti va parti ci pao desse etnl ogo no
desenvolvimento da antropologia brasi-
l ei ra. Reconstri as rel aes de Ni mu-
endaj com museus, i nsti tui es e pes-
qui sadores no Brasi l e no exteri or, por
mei o das quai s el e se construi u como
colecionador e depois como pesqui-
sador . Descrevendo os interesses pol-
ti cos e acadmi cos desse jogo de al i an-
as, Grupi oni revel a o campo em que
Ni muendaj se movi mentou durante o
tempo em que contribuiu para produzir
um conheci mento etnol gi co sobre as
populaes indgenas brasileiras.
Al m de permi ti r compreender me-
l hor um determi nado per odo (1930-
1945) da antropologia praticada no Bra-
si l , a parti r dos materi ai s do arqui vo do
Consel ho Grupi oni aval i a, tambm, a
produo do conheci mento na etnol o-
gi a brasi l ei ra. Sua hi ptese sobre as
grandes influncias germnica e ameri-
cana na etnol ogi a naci onal , fundamen-
ta-se na constatao de Anne-Christine
Tayl or, segundo a qual em i n ci os dos
anos 70 se podi am contar apenas ci n-
qenta monografi as sobre as soci eda-
des da Amazni a, enquanto outra re-
gio de igual tamanho, o Oeste da fri-
ca, contava com mais de duas mil. Fran-
a e I ngl aterra concentravam seus es-
foros em conhecer suas Col ni as, ao
mesmo tempo em que os alems teriam
se voltado para a Amrica, influencian-
do profundamente a etnol ogi a norte-
americana com suas idias culturalistas
e di fusi oni stas, e tambm com os estu-
dos sobre os ndios brasileiros.
At hoje no se escreveu uma hist-
ri a da etnol ogi a prati cada no Brasi l , a
parti r de sua obra escri ta e publ i cada,
que permi ta uma aval i ao das contri -
bui es de seu di versos autores, l i gan-
do carreira, pesquisa e obra constituda.
Os trs vol umes da Bibliografia Crtica
da Etnologia Brasileira, sobretudo os
doi s pri mei ros organi zados por Bal dus,
revel a uma quanti dade e qual i dade de
material que, no mnimo, torna comple-
xa qualquer tentativa de produzir hip-
teses de carter geral sobre um mate-
ri al to vasto e ai nda no cl assi fi cado e
aval i ado apropri adamente. Pensar que
o boomda etnol ogi a brasi l ei ra se i ni ci a
na dcada de 70, apostando numa des-
qual i fi cao da produo anteri or, ,
antes, uma estratgi a para col ocar em
evi dnci a ummodel o de antropol ogi a
(e, conseqentemente, do ameri cani s-
mo ), do que uma verdade ancorada
em bases sl i das demonstrvei s. Neste
senti do, o esqueci mento das contri bui -
es anteri ores e a estranha sensao
dos ameri cani stas de estarem sempre
comeando do zero revel a a constru-
o de umahistria da etnologia, apoia-
da mai s em rupturas do que em conti -
nui dades: foi o que se passou com os
estudos de contato , na dcada de 60,
e com a chamada etnol ogi a pura na
dcada de 70. A hi stri a da etnol ogi a a
partir de sua produo escrita seria uma
contraparti da i mportante aos trabal hos
que vm sendo desenvolvidos, nas lti-
mas dcadas, sobre as hi stri as da an-
tropol ogi a e da etnol ogi a prati cadas no
Brasi l , cujo l i vro de Grupi oni um dos
seus resultados significativos.
MAGALHES Nara. 1998. O Povo Sabe
Votar, Uma Viso Antropolgica. Pe-
trpolis: Vozes/Uniju. 140 pp.
Irlys Alencar Firmo Barreira
Profa. do Programa de Ps-Graduao
em Soci ol ogi a, UFC
O t tul o do l i vro provocati vo, contra-
ri ando a frase de Pel , j consagrada
pelo senso comum, de que o povo no
sabe votar porque transforma mui tas
vezes esse exerccio democrtico em le-
gi ti mao de foras soci ai s contrri as
aos seus prpri os i nteresses. As i di as
desenvol vi das no l i vro de Nara Maga-
l hes no se fundamentam, entretanto,
na busca de uma pureza ou essenci al i -
dade conti das na prti ca pol ti ca dessa
categori a fl ui da e de di f ci l apreenso
que nomeamos povo .
De modo pecul i ar, a prti ca do voto
analisada como expresso de uma l-
gi ca que no resi de nos concei tos de
consci nci a pol ti ca , fal si dade ou
alienao . A trilha metodolgica per-
corri da pel a autora a de buscar nos
significados culturais os modos de pen-
sar e atuar na poltica, entre os quais se
incluem as manifestaes eleitorais. Es-
sa no uma tarefa fcil, pois se o con-
junto das representaes ou vi ses de
mundo que del i mi ta as prti cas pol ti -
cas no se enquadra nas cl assi fi caes
convenci onai s, como buscar a l gi ca
das opes el ei torai s? Que razes justi -
fi cam a escol ha de di ferentes candi da-
tos?
Atravs do conjunto de di scursos
nem sempre convergentes, e s vezes
aparentemente desconexos, a autora
expl ora a presena de mi tos ou vi ses
de mundo que fundamentam a tei a de
si gni fi cados cul turai s e i nfl uenci am as
concepes sobre o poder e a pol ti ca.
O que si gni fi ca a pol ti ca para as pes-
soas comuns, ou como os grupos popu-
lares interpretam e decodificam as men-
sagens que recebem, constituem os fios
condutores que gui am a pesqui sa. As
opes el ei torai s, nessa perspecti va,
termi nam funci onando como portas de
entrada para anal i sar val ores sobre o
poder e a poltica.
Segundo as pal avras da autora:
Nesse trabal ho, no pretendo encon-
trar a verdadei ra organi zao popul ar
nem a poltica autntica, nem a mais de-
mocrti ca. Mi nha i nteno apontar o
gosto, o detal he, a manei ra prpri a de
alguns grupos populares pensarem e pra-
ti carem a pol ti ca, em especi al quando
votam (:19).
A percepo da pol ti ca enquanto
prtica e elaborao simblica incorpo-
ra as experi nci as que so cunhadas
em outros domnios da vida social e cul-
tural. Destaca-se nesse plano a influn-
cia de Evans Pritichard, que, a partir de
estudo real i zado entre os Nuer, buscou
compreender a pol ti ca para al m das
i nstnci as ofi ci ai s de representao. O
estudo de Nara Magalhes filia-se, por-
tanto, a autores que pensaram a poltica
em senti do ampl o: tomo a pol ti ca en-
quanto representao, ou seja, no ana-
liso a poltica a partir de instituies so-
ci ai s, mas tento captar, atravs do que
as pessoas di zem e fazem com el a, co-
mo a qualificam, qual o significado que
l he atri buem. E ai nda, como este si gni -
fi cado se arti cul a com um imaginrio
coletivo (:29).
As interaes entre valores culturais
e pol ti cos, segundo a i nterpretao
proposta no livro, supem que a poltica
se rel aci ona a um conjunto de crenas
tambm defi ni das no terreno da subje-
ti vi dade. Rejei tando as determi naes
culturais contidas, por exemplo, na ver-
so de hegemoni a dos mei os de comu-
ni cao de massa, a autora resgata a
capaci dade cri ati va do pbl i co consu-
RESENHAS 190
RESENHAS 191
mi dor na el aborao de percepes so-
bre a vi da soci al e pol ti ca. Os el ei tores
no so assi m consi derados como me-
ros agentes passi vos, poi s emi tem opi -
ni es sobre o tema da pol ti ca, mesmo
em si tuaes nas quai s decl aram no
entender do assunto.
Al gumas questes tratadas no pen-
samento cl ssi co perpassam a aborda-
gem da poltica de uma perspectiva cul-
tural. Uma delas a ruptura com o con-
ceito de ideologia, que traz implicaes
para as noes de falso e verdadeiro. A
percepo da i deol ogi a como vi so de
mundo, i nspi rada no pensamento de
Gramsci , permi te tambm pensar a he-
gemoni a como um processo no total i -
zador e permevel cri ao de novos
bens cul turai s. Os grupos popul ares
anal i sados atuam no i nteri or de uma
ci rcul ari dade de bens si mbl i cos e ma-
teriais, no obstante serem pessoas que
parti l ham si gni fi cados convergentes a
respeito de determinado tema.
A pesquisa, realizada em Porto Ale-
gre, trabalha com dois campos de signi-
ficado. Um, produzido por especialistas
pol ti cos, outro, constru do atravs de
el ei tores anni mos no engajados em
parti dos pol ti cos e moradores de bai r-
ros populares e vilas operrias. O mate-
ri al emp ri co col etado em di ferentes
conjunturas, i ncl ui ndo as el ei es para
prefeitura em 1985 e 1992 e as eleies
presidenciais de 1989.
Constata a autora que a i nfl unci a
da propaganda pol ti ca sobre as esco-
l has el ei torai s entre as cl asses popul a-
res i mportante, mas no i ntei ramente
deci si va. Isso porque as vi ses sobre a
pol ti ca e os pol ti cos encontram-se
mui tas vezes cri stal i zadas em mi tos ou
verses i ncorporadas ao l ongo do tem-
po. De outro l ado, os i nteresses e val o-
res no so monol ti cos, i ntroduzi ndo
grande complexidade s opes por um
ou outro candidato.
O captulo sobre as eleies munici-
pais de 1985 visa apreender o modo co-
mo o el ei tor constri suas moti vaes
para a escolha de candidatos. A explici-
tao dos moti vos para o voto termi na
revelando representaes negativas so-
bre o poder, ao lado de concepes que
associ am as escol has el ei torai s com a
busca de sati sfao de i nteresses: as
pessoas votam em quem pode fazer al -
guma coisa . Curioso observar que se
vota pel os mesmos moti vos em candi -
datos com perfis ideolgicos diferentes,
ao mesmo tempo que se critica a polti-
ca e o mundo dos pol ti cos pel a trai o
e presena de senti mentos mesqui -
nhos .
As candidaturas ao pleito municipal
de 1985 tm em comum a perspecti va
personal i sta que se expressa na forma
como os candi datos so apresentados.
Exi stem constantes evocaes a pol ti -
cos notvei s como Leonel Bri zol a, ou
Tancredo Neves, que vo corporificar a
transfernci a de credi bi l i dade, refor-
ando o el emento retrgrado de que o
mais seguro apostar no conhecido.
Na expl i cao sobre a efi cci a e vi -
tri a de Al ceu Col l ares prefei tura de
Porto Al egre em 1985, a sol i dari edade
destacava-se como valor principal, res-
saltado pelos entrevistados, que o viam
como parte integrante do grupo. Sua vi-
tri a associ a-se, assi m, a uma i magem
constru da no i nteri or de setores popu-
l ares, i denti fi cados com sua condi o
portadora de pouco capi tal cul tural e
econmico.
A di scusso sobre as el ei es presi -
denci ai s de 1989 percorre o mesmo ca-
mi nho de i nvesti gao, si nal i zado na
arti cul ao entre mensagens pol ti cas
emi ti das por candi datos e concepes
elaboradas por moradores do bairro Vi-
l a Assuno. A i nvesti gao no centra
seu ol har uni camente na escol has el ei -
torai s, veri fi cando tambm o que pen-
sam as pessoas a respeito do poder e da
poltica.
Nessa perspecti va, a l gi ca popul ar
marcada por al guns pri nc pi os de
identificao de classe: o que mais vai
fazer pel os pobres . Outro pri nc pi o
tambm preside as escolhas: as eleies
consti tuem um jogo no qual ganhar
i mportante. O votante, na condi o so-
cial de perdedor, transforma-se em ven-
cedor quando identificado com o candi-
dato vitorioso.
No conjunto de i magens que fun-
ci onam como jogo de espel hos, para
usar uma metfora da prpri a autora, a
ordem simblica e material encontram-
se mescl adas, si nal i zando movi mentos
de aproximao e afastamento no res-
tri tos ao mbi to da pol ti ca. o caso,
por exemplo, dos apelos religiosos tam-
bm anal i sados na pesqui sa. As arti cu-
l aes entre o campo pol ti co e o rel i -
gioso, que se expressam no uso da reli-
gi o em di scursos pol ti cos e nas cren-
as j exi stentes nos el ei tores, consti -
tuem uma tni ca que atravessa o con-
junto das campanhas. Enquanto Col l or
brandi a a i magem de So Franci sco,
Bri zol a pri vi l egi ava as rel i gi es afro-
brasileiras.
As i nformaes sobre as el ei es
para prefeito em 1992 foram obtidas em
dois bairros populares denominados In-
tercap e Vi l a Lupi c ni o Rodri gues. No
bairro Intercap, a poltica e o poder so
i denti fi cados como di stantes e portado-
res de uma natureza perversa. Prevalece
a uma viso hierrquica do poder e uma
ati tude de omi sso que supem a i m-
possibilidade de nada interferir em algo
consi derado di stante e i nacess vel . A
Vi l a Lupi c ni o Rodri gues pensa pol ti ca
como um jogo de vantagens materi ai s,
em que o voto dado para o candi dato
que vai fazer benfeitorias urbanas.
No emaranhado de opinies sobre a
pol ti ca, concl ui a autora que exi ste
uma l gi ca na manei ra como os grupos
populares encarnam a poltica e os pol-
ti cos, em especi al quando votam, que
extrapol a o momento de uma el ei o .
Essa l gi ca di z respei to a um i magi n-
rio sobre a poltica que os leva a agir de
manei ra si ngul ar, para al m de noes
correntes geradas no senso comum e
nas abordagens acadmicas, que expli-
cam as escol has el ei torai s a parti r de
variveis como desinformao, despoli-
tizao ou alienao.
O trabalho enfrenta, portanto, o de-
safi o de buscar entre as posi es e vi -
vnci as di ferenci adas a exi stnci a de
um uni verso compl exo de senti dos. Ta-
refa di f ci l , que supe uma superao
da cristalizao de opinies colhidas em
um tempo, presentes em frases como
as cl asses popul ares pensam ou as
cl asses popul ares agem . O ri sco desse
tipo de abordagem o de engessar opi-
ni es ci rcunstanci ai s, col ocando-as co-
mo sendo a verso das classes popula-
res . Reproduz-se assi m, em outras pa-
lavras, os conceitos de alienao ou fal-
sa conscincia. Em uma perspectiva di-
ferente, a abordagem etnogrfi ca e
suas i mpl i caes de ordem teri ca e
metodol gi ca termi nam gui ando uma
pesqui sadora curi osa e pouco afei ta a
generalizaes fceis.
O l i vro susci ta tambm novas i nda-
gaes ao l ei tor, que so necessri as
compreenso da di nmi ca do voto. O
desl ocamento do ol har das i nsti tui es,
para busca dos senti dos el aborados por
grupos popul ares no pol ti cos , po-
deri a ser compl ementado por uma re-
fl exo sobre o modo como os parti dos
pol ti cos col aboram para reforar de-
termi nadas vi ses sobre a representa-
o pol ti ca. Tambm uma refl exo so-
bre o si gni fi cado do contexto el ei to-
ral ajudari a a entender como so con-
sol i dadas e pol ari zam-se opi ni es em
determi nadas zonas da ci dade, i ncl ui n-
RESENHAS 192
RESENHAS 193
do principalmente os bairros populares.
O povo sabe votar, afi rma o traba-
lho de Nara Magalhes, rompendo com
as abordagens tradi ci onai s sobre el ei -
es, que pensam as dimenses negati-
vas da poltica com base na pretensa ir-
racionalidade do el ei tor. Esse saber ,
no entanto, complexo, devendo ser sub-
meti do ao cri vo das construes si mb-
l i cas que sedi mentam o uni verso da
cultura e da poltica.
NARAYAN, Uma. 1997. Dislocating
Cultures: Identities, Traditions, and
Third World Feminism. New York/Lon-
don: Routledge. 226 pp.
Joo Feres Jr.
Doutorando em Ci nci a Pol ti ca,
Ci ty Uni versi ty of New York
Dislocating Cultures uma das contri -
bui es mai s provocantes e cri ati vas
que apareceram no cenri o acadmi co
ameri cano dos l ti mos anos. A aborda-
gem escolhida por Narayan abre um le-
que de possi bi l i dades i nterdi sci pl i na-
res, sacudi ndo as frontei ras que sepa-
ram os c rcul os acadmi cos. O espao
epi stmi co ocupado pel a obra tem i m-
portantes i ntersees com teori a femi -
ni sta, estudos de gnero, antropol ogi a,
estudos da cultura, cincia poltica, his-
tria, epistemologia das cincias sociais
e estudos do colonialismo. O livro um
estudo cui dadoso da construo do pa-
pel da mul her em uma soci edade ps-
colonial, a ndia. Sua principal virtude
o desvendamento das ml ti pl as cone-
xes que ligam a cultura poltica atra-
vs do per odo hi stri co que vai do co-
l oni al i smo i ngl s do scul o XIX ndi a
contempornea.
O livro composto por cinco captu-
los/ensaios sobre temas relacionados. O
pri mei ro cap tul o i ntroduz o probl ema
do femi ni smo em pa ses do Tercei ro
Mundo. Narayan defi ne-se como uma
feminista do Terceiro Mundo, mas ime-
di atamente faz questo de escl arecer
que assume essa i denti dade com a
ni ca fi nal i dade de expl i ci tar sua l o-
cal i zao , e no de assumi r um con-
junto fi xo de val ores e saberes da cul -
tura qual pertence. Ao se localizar, a
autora define o campo de foras daqui-
l o que o probl ema pri nci pal do cap -
tulo: a viabilidade de um pensamento e
uma ao femi ni stas em um contexto
tercei romundi sta. Doi s pl os de resi s-
tncia implantao desse projeto ime-
diatamente se revelam: por um lado, fe-
mi ni stas dos pa ses do Pri mei ro Mundo
que tm, mui tas vezes, uma ati tude de
suspei o em rel ao s suas col egas
de outros pa ses; por outro, grupos l o-
cai s que tm i nteresse na conservao
de prti cas di scri mi natri as i denti fi ca-
das com a tradio cultural .
As femi ni stas dos pa ses desenvol -
vidos no raro aceitam acriticamente as
di stores do ol har pri mei romundi sta
sobre o outro. Essas di stores l evam
oci dentai s, i ncl usi ve mui tas femi ni stas,
a verem outras cul turas como total i da-
des estti cas e organi camente coeren-
tes. A conseqncia mais comum dessa
postura a de cul par o todo da cul tura
por prti cas consi deradas i ndesejvei s.
Segundo a anal ogi a organi ci sta, o mau
funci onamento de uma parte s pode
ser causa, ou consequncia, de um cor-
po doente. Outra vari ante desse raci o-
c ni o enxerga a postura cr ti ca e mu-
dancista do feminismo do Terceiro Mun-
do como uma forma de traio integri-
dade da cultura . Em uma verso mais
esquerdi sta dessa cr ti ca, as ati vi dades
de protesto femi ni sta naquel es contex-
tos so vistas como uma forma de abur-
guesamento oci dental i zante. Rel em-
brando Edward Sai d, Narayan mostra
que por trs dessas crticas est a noo
i mperi al i sta de que o Oci dente di n-
mi co e pl ural , enquanto soci edades do
resto do mundo esto apri si onadas
por cul turas tradi ci onai s i morredouras.
De acordo com esse preconcei to, o fe-
mi ni smo, por l utar pel a mudana dos
hbi tos e val ores, s cabe no Oci dente.
Segui ndo este raci oc ni o, em contextos
tercei romundi stas o femi ni smo s pode
ser vi sto como um produto i mportado
do Oci dente, exti co e mal adaptado,
uma forma de desestabi l i zar os val ores
da tradi o l ocal . A resposta de Na-
rayan desenvol ve-se atravs dos cap -
tul os do l i vro, mostrando que, ao con-
trrio do preconceito ocidental, a socie-
dade i ndi ana repl eta de val ores e i n-
teresses confl i tantes, e em constante
transformao histrica.
Narayan comea o Captulo 2 usan-
do o l i vro Gyn/Ecology de Mary Dal y
(1978) como exempl o dos preconcei tos
conti dos na ati tude femi ni sta pri mei ro-
mundi sta. Nessa obra, Dal y di scute o
Sati imolao ritual da viva no fune-
ral do mari do. Narayan argumenta que
a descri o apresentada por Dal y de
fato uma descaracterizao do Sati, que
reti ra essa prti ca de seu contexto so-
cial e histrico para conferir a ela um lu-
gar fi xo na cul tura i ndi ana . A autora
mostra que o Sati foi prati cado no pas-
sado em apenas al gumas regi es da
ndi a; novas ocorrnci as so extrema-
mente raras e restri tas excl usi vamente
quelas regies. Daly, contudo, d a en-
tender que o Sati uma prtica corren-
te que ameaa a vi da de grande parte
das mul heres i ndi anas ai nda hoje. Na-
rayan acusa Dal y de desprezar a hi st-
ria do Sati e seu papel na sociedade in-
di ana do passado e do presente. Isso
conseqnci a de uma postura col oni a-
l i sta, poi s nega que a soci edade em
questo tenha uma histria, e, portanto,
esteja sujeita transformao.
Narayan no se limita a dizer o que
no deve ser feito, e, logo aps apontar
as fal has no texto de Dal y, apresenta
sua prpri a i nterpretao sobre o fen-
meno do Sati. Segundo a autora, a i n-
corporao do Sati tradio indiana
deve ser entendi da como um produto
da rel ao col oni al entre naci onal i stas
i ndi anos e col oni zadores i ngl eses. Os
vrios grupos nacionalistas da ndia co-
lonial buscaram forjar uma cultura na-
ci onal que fosse capaz de uni fi car os
povos do subcontinente em torno da lu-
ta pel a i ndependnci a pol ti ca. Nesse
processo, mui tos usos regi onai s e an-
cestrais, como o caso do Sati, adquiri-
ram a aparnci a de caracter sti cas tra-
dicionais da cultura nacional indiana. A
i ncorporao do Sati tradi o , po-
rm, sempre foi uma questo de di spu-
ta entre grupos conservadores patri ar-
cal i stas que vi am na prti ca mai s um
i nstrumento de domi nao das mul he-
res e grupos naci onal i stas progressi s-
tas, que rejeitavam totalmente esse uso.
Os i ngl eses tambm se i nteressaram
pel a naci onal i zao e tradi ci onal i zao
do Sati, pois tal prtica acentuava o ca-
rter brbaro e i nci vi l i zado dos i ndi a-
nos, e, portanto, ajudava a justi fi car o
colonialismo.
Segundo Narayan, o Sati prati ca-
mente desapareceu depois da Indepen-
dncia indiana. Ela ento examina duas
raras ocorrnci as recentes e mostra
que, em ambos os casos, a morte ri tual
da esposa no foi produto do funci ona-
mento orgni co de uma soci edade tra-
di ci onal . Pel o contrri o, o que ocorreu
foi a manipulao da idia do Sati como
tradio pelas autoridades locais e pela
fam l i a do mari do, com fi ns pol ti cos e
pecunirios.
O tercei ro ensai o fi nal i za a tri l ogi a
de cap tul os que consti tui , de fato, a
parte pri nci pal do l i vro. Narayan exa-
mi na as i nterpretaes correntes na l i -
RESENHAS 194
RESENHAS 195
teratura oci dental de l ngua i ngl esa so-
bre a prtica indiana do assassinato por
dote para demonstrar quo preconcei -
tuosas e prenhes de noes col oni al i s-
tas el as so. Nesse mesmo cap tul o a
autora faz uma comparao entre os n-
vei s de vi ol nci a domsti ca nos EUA e
na ndi a e chega surpreendente
descoberta de que el es se equi val em.
Para tanto, Narayan desconstri o m-
todo quanti tati vo empregado pel as
ci nci as soci ai s, acabando por desvel ar
a arbi trari edade das categori as empre-
gadas pela literatura acadmica e a ma-
nei ra como a escol ha dessas categori as
i nfl uenci a o resul tado da pesqui sa. Se-
gundo a autora, o i ntel ectual oci dental
tende a enfati zar a di ferena e menos-
prezar as caractersticas das sociedades
do Tercei ro Mundo que so comuns s
dos pa ses desenvol vi dos . Uma con-
seqnci a dessa di storo a escol ha
de vari vei s de anl i se que super-re-
presentam os aspectos exti cos da-
quelas sociedades.
O quarto captulo uma reflexo so-
bre os di ferentes papi s desempenha-
dos por i ntel ectuai s do Tercei ro Mundo
no contexto acadmico do Primeiro Mun-
do. Baseando-se em parte na sua traje-
tri a de vi da, Narayan i ni ci a uma i m-
portante refl exo sobre a antropol ogi a
e os estudos da cultura no Ocidente, e a
manei ra como i ndi v duos de fora so
tratados por profi ssi onai s dessas di sci -
pl i nas. Sem cai r na sol uo i rreal do
abandono de qual quer rotul ao, a au-
tora prope uma ttica de apresentao
na qual o i ndi v duo de fora se uti l i za
dos prpri os preconcei tos conti dos no
ol har do outro para descontrui r esses
preconcei tos e i nfundi r uma perspecti -
va crtica ao encontro.
O ltimo captulo do livro leva o no-
me de Comendo Cul turas ( Eating
Cultures) e funci ona, de fato, como
uma sobremesa ao fim de uma lauta re-
feio. Narayan comea o captulo com
a revel ao, surpreendente para mui -
tos, de que o tempero curry um pro-
duto i nternaci onal mente reconheci do
como genui namente i ndi ano , de fa-
to uma cri ao col oni al i ngl esa. Os i n-
di anos de verdade comem massalas,
que so combi naes vari adas de tem-
peros que mudam de acordo com o pra-
to e a regi o onde el e preparado. Os
i ngl eses foram os responsvei s por
transformar um massala qual quer em
um produto i ndustri al , ao qual deram o
nome de curry. A autora mostra que na
ndi a a comi da assumi u um i mportante
papel pol ti co e cul tural . Mui tos naci o-
nalistas indianos usaram a culinria co-
mo fator de aglutinao cultural e orgu-
lho perante a incipiente culinria ingle-
sa. A comi da, porm, pode ser tambm
fator de gerao de preconceitos e divi-
so i nterna em um pa s com tantas cul -
turas, l nguas e hbi tos al i mentares:
muul manos comedores de carne bovi -
na, hi ndus vegetari anos do sul , i ndi a-
nos carnvoros do norte etc.
Narayan nasceu e passou sua infn-
ci a na ndi a, estudou na Ingl aterra, e,
mais tarde, mudou-se para os EUA para
prossegui r em sua carrei ra acadmi ca.
Ao longo de sua vida, a autora conta ter
si do exposta a um sem-nmero de en-
contros nos quai s foi chamada a assu-
mir uma identidade que lhe era descon-
fortvel . O descompasso entre a vi so
do outro sobre o sujei to e a auto-i ma-
gem desse sujei to tem si do um assunto
recorrente na filosofia e nas cincias so-
ci ai s. Essa questo encontra-se na Fe-
nomenologia do Esprito, de Hegel , no
Segundo Sexo, de Si mone de Beauvoi r
e tambm no livro de Narayan, Disloca-
ting Cultures. Em sua nsi a de respon-
der a essa questo, a autora acaba por
abusar do concei to de Tercei ro Mun-
do , dando a entender que todas as so-
ciedades que no pertencem ao Primei-
ro Mundo tm al guma coi sa essenci al
em comum, que no o si mpl es fato de
no pertencerem a el e. Conseqente-
mente, Narayan acaba tomando coi sas
que so parti cul ares a seu objeto, a
ndia, como caractersticas gerais do tal
Tercei ro Mundo . Essa ati tude , em
parte, um produto das demandas da
academia americana, na qual conceitos
pseudodescri ti vos e general i zantes co-
mo Terceiro Mundo , Amrica Latina ,
raa , etnia etc. ainda se encontram
em pl eno uso. I sso porm no cancel a
as vi rtudes desse l i vro. Nel e, Narayan
apresenta um potente argumento em
prol do movi mento femi ni sta e da l i be-
rao da mul her i ndi ana e, atravs de
uma prosa fluida e expressiva, demons-
tra que questes culturais esto inevita-
velmente ligadas poltica.
PONTES, Helosa. 1998. Destinos Mis-
tos. Os Crticos do Grupo Clima em
So Paulo (1940 1968). So Paulo:
Companhia das Letras. 297 pp.
Gustavo Sor
Professor Recm-Doutor, FAPERJ/I FCS-UFRJ
O primeiro historiador da arte brasilei-
ra, sistemtico e com viso geral do de-
senvolvimento cultural, erudito e capaz
de i nterpretao, este ai nda no o ti ve-
mos . Publ i cada nas pri mei ras pgi nas
de Retrato da Arte Moderna do Brasil
(1947), esta categri ca afi rmao de
Louri val Gomes Machado abre o l i vro
de Hel o sa Pontes. Ao escrev-l a, Ma-
chado era um jovem de apenas 28 anos,
i mpel i do pel a i ndi ta qual i fi cao de
pri mei ro doutor em ci nci as soci ai s e
professor de pol ti ca da Facul dade de
Fi l osofi a, Ci nci as e Letras da USP. J
era, por outro l ado, cr ti co de arte dos
jornais Folha da Manh e Folha da Noi-
te. Para compreender a fora conti da
naquel as pal avras, aos poucos a autora
vai esboando um perfil daquele indiv-
duo, o momento de enunci ao, outras
apostas i ntel ectuai s, os efei tos de sua
recepo a parti r do contraste com ou-
tros crticos consagrados (Srgio Milliet,
Geral do Ferraz) ou pretendentes (Lui s
Martins, Ruben Navarra). No campo ar-
t sti co, o barroco mi nei ro i naugurava
uma topografi a i ntel ectual del i neada
pel os mentores do Servi o do Patri m-
ni o Hi stri co e Art sti co Naci onal . Afi m
com este referente, repudiando o Imp-
ri o e a Repbl i ca Vel ha, gl ori fi cando a
vanguarda de 1922 e reescrevendo a
hi stri a a parti r da Col ni a, em seu ob-
jeto, Machado no rompi a com os es-
quemas gerais do modernismo. Em que
residia, pois, a diferena do estudo e da
postura desse homem?
Entre outros aspectos, Pontes confe-
re destaque ao senti do da resposta que
Machado deu El egi a de Abri l , pre-
fci o que Mri o de Andrade escreveu
para o pri mei ro nmero da revi sta Cli-
ma, de maio de 1941. Como voz central
do campo intelectual, Andrade clamava
que se vol tasse a ateno para a po-
tnci a moral i zadora da tcni ca e para
a consci nci a profi ssi onal , a fi m de er-
radi car o di l etanti smo e a i mprovi sao
dos cr ti cos e ensa stas pol grafos. Em
1945, ao morrer o autor de Macunama,
Retrato da Arte Moderna, Machado re-
tomava a pregao de Andrade e aven-
tava que os nicos capacitados a levar a
cabo esse novo programa eram os edi -
tores daquel a revi sta, egressos da Fa-
cul dade de Fi l osofi a da USP, que An-
drade havi a al avancado. Uma di feren-
a radical havia sido incorporada que-
l es i ndi v duos pel os esquemas de tra-
bal ho i ncul cados pel as mi sses de
professores franceses, que, a contragos-
to, foraram a construo de objetos
centrados no Brasil, em uma associao
RESENHAS 196
RESENHAS 197
indissolvel entre teoria, mtodo e pes-
qui sa. A formul ao i ndi ta dos pro-
bl emas da tradi o el evaram Macha-
do condio de legtimo herdeiro e in-
trprete do moderni smo, ao mesmo
tempo que provocava uma cl i vagem
temporalizadora do que at ento havia
si do e passava a ser o ensaio e a cr ti ca
de arte no Brasil, os limites do pensvel
e do i mpensvel , do admi rvel e do
desprezvel neste terreno da alta Cultu-
ra. Basta dizer que em 1951, j ocupan-
do a di reo art sti ca do MAM de So
Paul o, Gomes Machado i naugurou a
primeira Bienal.
Antes que um ato de cl ari vi dnci a
i ndi vi dual , para Pontes as apostas cul -
turai s e uni versi tri as de Machado s
so i ntel i g vei s como uma vari ante ex-
pressi va do grupo de jovens que com-
parti l haram a aventura da revi sta Cli-
ma: dezessei s nmeros i rregul armente
l anados entre 1941 e 1944, que cata-
pul taram seus mentores a carrei ras si -
milares de Machado.
Inspi rada pel o estudo de Raymond
Wi l l i ams sobre o Bl oomsbury Group,
Hel o sa Pontes del i nei a, na Introduo,
um ponto de vi sta soci ohi stri co, si st-
mico, comparativo. Como o grupo brit-
nico, do qual fazia parte Virginia Woolf,
Clima era, antes de mais nada, um gru-
po de ami gos. Assi m como o pri mei ro,
este ser compreendi do no s do pon-
to de vista de seus membros, suas traje-
tri as e propri edades i nternas s obras,
mas tambm pel o contraste com outras
experincias contemporneas e polares
como a representada, no caso paul i sta,
por Florestan Fernandes.
O esboo de fi gura do pri mei ro
cap tul o conecta el ementos sobre a g-
nese de uma nova posi o no cenri o
cul tural paul i sta, di spersos durante to-
da a dcada de 40. Sobre essa camada,
no segundo captulo, Pontes sobrepe o
tempo de i rrupo de Clima, revi sta de
cr ti ca fi nanci ada por A. Mesqui ta, que
estabel eceu o desti no de seus respon-
sveis nas especialidades a cargo de ca-
da um: Lourival Gomes Machado, artes
pl sti cas; Antoni o Cndi do, l i teratura;
Paulo Emlio Salles Gomes, cinema; D-
ci o de Al mei da Prado, teatro; Ruy Coe-
l ho, al ternadamente entre estes quatro
dom ni os; Gi l da de Mel l o e Souza, fi c-
ci oni sta. Pontes l eva ao l i mi te a anl i se
dos efei tos e al cances da pl ataforma
i ntel ectual que i mpul si onou este grupo
a parti r de sua pri mei ra expresso p-
bl i ca(da). Val or central ganham as for-
mas de autopercepo e os critrios ne-
gociados para sua recepo grupal: ge-
rao jovem, de cr ti cos puros. Se os
moderni stas foram demol i dores-cons-
trutores, eles seriam analticos e funcio-
nai s. Numa mi stura de audci a juveni l
e petul nci a erudi ta, fundaram um no-
vo cdi go para fal ar do movi mento
cul tural de sua ci dade e do pa s. A
parti r del es o concei to de cul tura no
Brasi l parece haver tomado uma nova
direo. Aquele produto de estudantes,
pri mei ro experi mento col eti vo emana-
do da Facul dade de Fi l osofi a, Ci nci as
e Letras, investia sem temores contra as
obras dos moderni stas, rel endo-as em
si stema com contextos ampl os. Os
lanamentos revolucionaram o caldo de
debates da ci dade. A i nsti tui o os i a
recrutando como assi stentes promi sso-
res; a i mprensa, como novi dade. Os
agora marcados como ul trapassados,
caso de Oswal d de Andrade, reagi ram
das al turas, numa mi stura de i ndi gna-
o-admi rao, desqual i fi cando e con-
fi rmando, control ando, na medi da do
poss vel , o poder de fogo destes jovens
crentes e ti tul ados. Aquel e pi onei ro
os denomi nou e ao mesmo tempo de-
marcou como os chato-boys . Face ao
estilo bomio e diletante dos modernis-
tas e cr ti cos pl uri val entes, estes jovens
refi nados e especi al i zados reuni am-se
na Confei tari a Vi enense para degustar
seus chs e bebidas sem lcool. Ali che-
gavam desl umbrados, em transe esot-
rico, dos cursos de filosofia de Jean Ma-
g. Progressivamente o livro d desta-
que ao locus i ni gual vel da Facul dade
de Fi l osofi a e os efei tos de revel ao
que sobre esses el ei tos ti veram os cur-
sos dos professores franceses.
Destinos Mistos trata, como indica o
subt tul o, dos cr ti cos de cul tura do
Grupo Cl i ma e da fundao de um no-
vo model o de autori dade no campo i n-
tel ectual naci onal . A revi sta, abordada
no tercei ro cap tul o, aprofunda a anl i -
se da i ndi vi dual i zao dos cr ti cos, de
seus textos, dos enfrentami entos que
cada um travou em suas frentes de
ao, dos desl ocamentos de posi es
estti cas e i ntel ectuai s que col eti va-
mente geraram, mas no chega a ser
trabalhada em seus contornos materiais
como objeto edi tori al aval i vel no con-
traste com outras publ i caes. As foto-
grafi as uti l i zadas evi denci am este vi s.
O leitor no chega a imaginar nem a ca-
pa de Clima, mas no pi ce do l i vro ob-
serva os jovens enturmados, vestidos de
terno, portando l i vros, jogando xadrez,
cortejando-se, forjando seu esprit de
corps em passei os pbl i cos, de fri as
em Campos do Jordo, em jantares, e,
j adul tos, no Salo Nobre da Facul da-
de, em seus lares, sorridentes e seguros
das posies mpares que alcanaram a
partir daquele experimento de juventu-
de. A soci abi l i dade comum entre os
membros vai condi mentando a anl i se
e revel a os fundamentos soci ai s e i nte-
l ectuai s da gnese de um esti l o ni co
para entender as coisas de cultura, sen-
sibilidade vigente na So Paulo dos anos
40 e validada como hegemnica no Bra-
sil de dcadas subseqentes.
No l ti mo cap tul o, o quadro anal -
ti co de Pontes sel ado com uma urdi -
dura sociolgica elementar, provida pe-
la caracterizao das origens sociais, as
trajetrias familiares e o prometido con-
traste com a fi gura do ori gi nari amente
despossu do e fi nal mente revol uci on-
ri o Fl orestan Fernandes. Outra das vi r-
tudes deste l i vro resi de na expl orao
dos dados e recursos analticos ali onde
fazem fal ta, nas rel aes de oposi o e
compl ementao perti nentes. Dos efei -
tos de temporal i dade que os chato-
boys geraram frente vanguarda j
consagrada, a economi a demonstrati va
d progressi vo l ugar roti ni zao das
carrei ras de seus membros e s amea-
as que seu estilo ensastico e aristocr-
tico sofreu, na medida em que outra al-
ternati va de construo de dados sobre
as culturas e as sociedades emergiu at
dar forma, nos anos 50, chamada Es-
col a Paul i sta de Soci ol ogi a, gui ada por
Fernandes. A monografi a passou a ri -
val i zar com o ensai o, o estudo com a
crtica, a pesquisa com a teoria. Na opo-
si o entre ci nci as soci ai s e l i teratura
(fi l osofi a), fi cavam defi ni ti vamente as-
sentadas as bases da verso brasi l ei ra
de uma estrutura el ementar das cul tu-
ras modernas. Enrai zados na tradi o
como herdeiros, os limites dos jovens do
Cl i ma, sua capaci dade para i novar e
marcar, no dependi am de suas pr-
pri as foras, mas do novo esquema de
di vi ses do trabal ho i ntel ectual , do no-
vo estado da dominao simblica e so-
ci al atuantes entre as el i tes da cul tura
brasi l ei ra. Desl ocados pel os efei tos co-
l aterai s da onda expansi va do ci enti fi -
ci smo soci ol gi co, os membros do Cli-
ma sofreram e demoraram at os anos
60 para reconverter seus trajetos e cul -
mi nar suas tri unfantes carrei ras como
catedrticos da famosa Faculdade.
Sem perder o foco da confraria inte-
l ectual , das experi nci as vi vi das pel as
pessoas, dos eventos e ci rcunstnci as
com freqncia inesperadas, a etnogra-
fi a hi stri ca de Pontes puxa os fi os de
RESENHAS 198
RESENHAS 199
um jogo profundo e evol ui na com-
preenso de mi tos e monumentos que,
em seus fundamentos, deslocam os me-
cani smos de real i dades cul turai s que a
ns nos toca viver e nos compete trans-
formar.
TROUILLOT, Michel-Rolph. 1995. Si-
lencing the Past: Power and the Pro-
duction of History. Boston: Beacon
Press. 191 pp.
Srgio Paulo Benevides
Mestrando, PPGAS-MN-UFRJ
Uma das caracter sti cas que mai s cha-
mam a ateno em Silencing the Past
so os rel atos ou as decl araes, di ga-
mos, mai s pessoai s, que compem o
prefci o, o i n ci o de cada cap tul o
exceo do pri mei ro e o ep l ogo. No
se trata de um mero recurso i l ustrati vo
atraente mas pouco ti l . Antes, al go
intimamente relacionado com o racioc-
ni o que se vai desenvol vendo ao l ongo
do l i vro, porque permi te mai s uma vez
perceber como a abordagem da hi st-
ri a, de um passado mui tas vezes apa-
rentemente longnquo, compe um dis-
curso ati vo acerca do presente. Por es-
sas passagens, compreendemos por
que Mi chel -Rol ph Troui l l ot preocupa-
se em anal i sar eventos rel aci onados
hi stri a hai ti ana ou ao assi m chamado
descobrimento da Amrica.
O tom mais pessoal, no entanto, no
aparece apenas para justi fi car a i mpor-
tncia que os temas tratados tm para o
prprio autor. Os relatos no so confis-
ses, mas descries que permitem per-
ceber como o passado do Hai ti , por
exempl o, ou a vi agem de Col ombo se
podem ver rel aci onados com o presen-
te, sendo, portanto, mai s que um si m-
pl es di scurso a respei to de fatos de ou-
trora, de tempos i dos que, se apenas
fosse assi m, seri am tempos mortos e,
provavel mente, esqueci dos. Por esses
rel atos percebe-se a atual i dade dos ca-
sos anal i sados e a preocupao de
Troui l l ot com o fazer-se hi stri a . Poi s
isto: o livro sobre o fazer-se histria.
Silencing the Past vol ta-se progres-
sivamente para a compreenso da atua-
l i dade do passado. Para comear, o au-
tor cri ti ca tanto uma abordagem posi ti -
vi sta da hi stri a, que se arti cul a como
houvesse uma verdade r gi da, subs-
tanci al e i nequ voca acerca dos fatos,
quanto um construti vi smo que ao se
apoi ar na i di a de que as narrati vas
sempre di storcem a vi da, trata a hi st-
ri a como mera fi co. A pri mei ra pers-
pecti va desconecta o passado do pre-
sente por meio do fetiche do fato. A se-
gunda, despreza o prpri o processo de
construo do discurso, como pudesse a
narrativa separar-se da vida.
A manei ra posi ti vi sta de narrar a
hi stri a tambm uma forma de l i m-
par o discurso, de apresentar as fontes
que servem de base para a narrativa co-
mo transparentes, os arquivos como fos-
sem provas irrefutveis e, portanto, de
dei xar de fora qual quer questi onamen-
to acerca das rel aes de poder que
atravessam todos esses elementos e que
esto presentes na atual i zao do pas-
sado, em sua narrao a parti r do pre-
sente. O construti vi smo, por sua vez,
acaba por tratar o discurso histrico co-
mo uma construo narrativa a respeito
do passado, negando porm autonomia
ao processo soci ohi stri co do qual de-
pende esse di scurso. No basta di zer
que as narrati vas hi stri cas so produ-
zi das: preci so tambm dar conta des-
sa produo.
Narrar a hi stri a tambm faz-l a,
mas no porque tudo se possa resumi r
a uma construo meramente di scursi -
va. A perspecti va outra: a narrati va
um movi mento ati vo, l i gado a um pro-
cesso soci al de negoci aes e poder
(uma vez que no se pode esperar que
qual quer coi sa que se di ga seja acei ta
como verdade hi stri ca ) pel o qual se
determi na a compreenso acerca dos
eventos passados, d-se-l hes i ntel i gi bi -
l i dade e pode-se agi r (novamente) no
presente.
Nem tudo pode ser di to. Pri mei ro,
porque, para tornar qual quer di scurso
i ntel i g vel , necessri o escol herem-se
os elementos que o comporo, de modo
que tenham conexes, que com el es se
possam estabel ecer rel aes. Portanto,
h que se suprimir algo por razes mes-
mo, digamos, cognitivas. Segundo, por-
que h i nvesti mentos de poder acerca
do que se deve compreender e, assi m,
acerca tambm do que se deve narrar.
Tercei ro, porque, para obedecer a um
pri nc pi o de causa e efei to, os eventos
escolhidos numa determinada etapa da
narrati va l i mi tam a gama de novos
eventos que podem ser menci onados
da para a frente, e assim por diante. Es-
tamos, portanto, perante uma di al ti ca
entre o que se fal a e o que se dei xa de
falar, entre o que se pode dar a dizer e o
que silenciado.
Essa dialtica opera no apenas nas
narrati vas, mas tambm nas fontes e
nos arqui vos que l hes servem de base.
A hi stri a de Sans Souci um exempl o
de si l nci os e menes em todos esses
nveis. Sans Souci Jean-Baptiste Sans
Souci o nome do ex-escravo nascido
na fri ca que i ntegrou as foras que
procederam Revol uo Hai ti ana em
1791. Quando os mai s i mportantes co-
mandantes das tropas rebeladas Tous-
sai nt Louverture, Jacques Dessal i nes e
Henri Cri stophe submeteram-se aos
sol dados franceses, Sans Souci rompeu
com el es, e conti nuou resi sti ndo. De-
pois, quando Dessalines e Cristophe re-
tomaram a revol uo (Louverture foi
preso e levado para a Frana) para, por
fi m, derrotar a metrpol e, recusou-se a
al i nhar-se com o anti go comando. Aca-
bou morto por Cri stophe. Mas, Sans
Souci tambm o nome de doi s pal -
ci os. Um, atual mente em ru nas, ergui -
do em Milot, no Haiti, por Cristophe, fei-
to rei depoi s da Independnci a (1804).
Outro, constru do sei s dcadas antes,
em Potsdam, por Frederi co, o Grande,
da Prssia.
As menes a Sans Souci nas fontes,
nos arqui vos e nas narrati vas da hi st-
ri a hai ti ana, so menes aos pal ci os:
grandi osa obra cuja construo fora
ordenada por Cri stophe ou ao mode-
l o de Potsdam, que, segundo al guns,
ter-lhe-ia servido de inspirao. O coro-
nel Jean-Bapti ste Sans Souci foi si l en-
ci ado. Troui l l ot anal i sa este fenmeno
em cada um dos nveis e mostra como a
operao de si l enci ar o passado fei ta
segundo duas frmul as di sti ntas: a pri -
mei ra consi ste em promover general i -
zaes de forma a apagar di retamente
determi nados eventos; a segunda, em
esvaziar eventos singulares de seu con-
tedo, normal mente por mei o de um
detalhamento feito de modo a banalizar
toda uma cadeia de fatos.
O si l nci o opera tambm nas cel e-
braes da memri a, nas comemora-
es. Se a hi stri a vi vi da pode parecer
uma sri e confusa de eventos para os
atores ou mesmo talvez nem seja per-
cebida como uma srie conformada , a
comemorao cri a, modi fi ca ou sanci o-
na senti dos, si gni fi cados atri bu dos co-
letivamente histria. Sob seu apelo, as
narrati vas hi stri cas tornam-se ai nda
mais limpas, sanitarizadas , e o passa-
do ganha uma aparnci a mai s el emen-
tar: calam-se os demais eventos que ro-
deiam o que celebrado. E o carter c-
cl i co desse ti po de cel ebrao refora
esse silenciar-se, tornando mais eviden-
te o passado tal como comemorado,
RESENHAS 200
RESENHAS 201
funci onando quase como uma prova
a posteriori de que as coi sas foram de
fato como so narradas.
As comemoraes do chamado des-
cobri mento da Amri ca desempenham
um papel -chave para a argumentao
de Troui l l ot neste ponto. i mportante
que se di ga que Silencing the Past no
montado com uma sri e de asseres
meramente ilustradas depois por exem-
pl os que as corroborem. Tampouco as
asseres so posteriores aos casos ana-
l i sados, como se del es se pudesse reti -
rar uma teori a pronta que correspon-
desse a uma verdade . Em vez di sso,
a teori a fruto do cruzamento entre as
consi deraes fei tas por Troui l l ot e os
casos por el e tomados para estudo.
Cri stvo Col ombo no foi fei to he-
ri em seu tempo nos termos em que se-
ri a mai s tarde, nem o 12 de outubro do
tal descobri mento da Amri ca (1492)
descobri mento e Amri ca so ter-
mos probl emati zados por Troui l l ot, que
argumenta que a prpri a termi nol ogi a
uti l i zada para descrever um evento de-
marca campos de poder foi tomado
como data especi al na poca em que o
navegador vi veu. Col ombo e o desco-
bri mento ganhari am i mportnci a pos-
teri ormente, em parti cul ar nos scul os
XVIII e XIX, quando a celebrao do 12
de outubro transformou-se em uma
grande comemorao. Os senti dos atri -
bu dos a tal data esto i nti mamente re-
l aci onados com os contextos em que as
comemoraes se desenvol vem. Assi m
como branco , catlico e italiano ,
Col ombo ganha um si gni fi cado nos Es-
tados Unidos, influenciado pelas teorias
do raci smo ci ent fi co, bastante di feren-
te daquel e atri bu do ao navegador nu-
ma Amri ca Lati na em que as popul a-
es i nd genas so ai nda bastante nu-
merosas. assim que se pode dizer que
essas cel ebraes ancoram o evento
no presente .
Como extenso de suas observa-
es, Trouillot conclui que a histria no
apenas uma remi sso a um passado
que efeti vamente passou. Embora a
exati do emp ri ca seja necessri a para
a produo hi stri ca, no sufi ci ente
para dar-l he autenti ci dade. Isto porque
e encerremos com uma afirmao das
mai s de um l i vro j repl eto de boas
i di as a autenti ci dade hi stri ca resi -
de no na fidelidade a um passado ale-
gado, mas numa honesti dade em rel a-
o ao presente conforme se re-presen-
ta o passado .
Вам также может понравиться
- ALCANTARA - A Profissionalização Da PolíticaДокумент380 страницALCANTARA - A Profissionalização Da PolíticaPamellasss100% (1)
- MARQUES - Gênero e Carreira Política No BrasilДокумент28 страницMARQUES - Gênero e Carreira Política No BrasilPamellasssОценок пока нет
- Bases Neurológicas Do Desenvolvimento de 0 A 10 Anos PDFДокумент45 страницBases Neurológicas Do Desenvolvimento de 0 A 10 Anos PDFReginaldo Rabelo dos Santos100% (1)
- TAVARES, GRILL - Estudos de Elites PolíticasДокумент23 страницыTAVARES, GRILL - Estudos de Elites PolíticasPamellasssОценок пока нет
- ALVES - Elites Políticas e Oligarquias No PiauíДокумент23 страницыALVES - Elites Políticas e Oligarquias No PiauíPamellasssОценок пока нет
- TAVARES, GRILL - Estudos de Elites PolíticasДокумент23 страницыTAVARES, GRILL - Estudos de Elites PolíticasPamellasssОценок пока нет
- Alguns Aspectos Da Organização Política Dos Aborígenes AmericanosДокумент3 страницыAlguns Aspectos Da Organização Política Dos Aborígenes AmericanosJefferson VirgílioОценок пока нет
- A Nova Direita Brasileira Uma Analise Da PDFДокумент20 страницA Nova Direita Brasileira Uma Analise Da PDFPamellasssОценок пока нет
- GRILL - Por Uma Sociologia Da InstitucionalizaçãoДокумент10 страницGRILL - Por Uma Sociologia Da InstitucionalizaçãoPamellasssОценок пока нет
- Alguns Aspectos Da Organização Política Dos Aborígenes AmericanosДокумент3 страницыAlguns Aspectos Da Organização Política Dos Aborígenes AmericanosJefferson VirgílioОценок пока нет
- Bezerra - Estado, Representação Política e CorrupçãoДокумент17 страницBezerra - Estado, Representação Política e CorrupçãoPamellasssОценок пока нет
- OLIVEIRA, WJF - de Gente de Cor A QuilombolasДокумент18 страницOLIVEIRA, WJF - de Gente de Cor A QuilombolasPamellasssОценок пока нет
- Artigo T05Документ6 страницArtigo T05And WebОценок пока нет
- Análise de Redes Sociais e Sociologia Da Acção. Pressupostos Teórico-MetodológicosДокумент17 страницAnálise de Redes Sociais e Sociologia Da Acção. Pressupostos Teórico-MetodológicosPamellasss100% (1)
- Reis e Petrarca - Profissões e Espaços Da Política: As Potencialidades de Uma Agenda de PesquisaДокумент8 страницReis e Petrarca - Profissões e Espaços Da Política: As Potencialidades de Uma Agenda de PesquisaPamellasssОценок пока нет
- Love e Barickman - Elites RegionaisДокумент11 страницLove e Barickman - Elites RegionaisPamellasssОценок пока нет
- Mapeamento Do Conceito de Redes SociaisДокумент10 страницMapeamento Do Conceito de Redes SociaisPamellasssОценок пока нет
- Kussler & Kussler - Seleção e Reprodução de Elites Políticas "Locais" Num Município Do Interior Do Rio Grande Do Sul (1988-2012)Документ16 страницKussler & Kussler - Seleção e Reprodução de Elites Políticas "Locais" Num Município Do Interior Do Rio Grande Do Sul (1988-2012)PamellasssОценок пока нет
- Talcott Parsons Sociologias PerspectivasДокумент20 страницTalcott Parsons Sociologias PerspectivasBruno Guedes100% (4)
- 1 SMДокумент24 страницы1 SMMariana Margarita PandoОценок пока нет
- Memórias Dos Políticos Sec. XX PDFДокумент816 страницMemórias Dos Políticos Sec. XX PDFPamellasssОценок пока нет
- Santos e Leandro - "Grandes Famílias" e Estruturação Do Espaço Do Poder em Sergipe: Reconversões Sociais e Esferas de AtuaçãoДокумент18 страницSantos e Leandro - "Grandes Famílias" e Estruturação Do Espaço Do Poder em Sergipe: Reconversões Sociais e Esferas de AtuaçãoPamellasssОценок пока нет
- Trajetórias Sociais e Formas Identitárias - DubarДокумент12 страницTrajetórias Sociais e Formas Identitárias - DubarPamellasssОценок пока нет
- AUYERO, J - A Rede de Solução de Problemas Do PeronismoДокумент44 страницыAUYERO, J - A Rede de Solução de Problemas Do PeronismoPamellasssОценок пока нет
- Boivin Rosatto BalbiДокумент31 страницаBoivin Rosatto BalbiTom ZeОценок пока нет
- Resenha Ensaios em Antropologia HistoricaДокумент28 страницResenha Ensaios em Antropologia HistoricaLuciana FerreiraОценок пока нет
- Chuva de PapeisДокумент118 страницChuva de PapeisLuciana FerreiraОценок пока нет
- LANDÉ, CH - Política de Grupo e Política DiádicaДокумент11 страницLANDÉ, CH - Política de Grupo e Política DiádicaPamellasssОценок пока нет
- O Lendário Amazônico - Analisando o Fenomeno Religioso Nas Lendas e Mitos Da AmazôniaДокумент8 страницO Lendário Amazônico - Analisando o Fenomeno Religioso Nas Lendas e Mitos Da AmazôniaEliete CristinaОценок пока нет
- Encerramento Catequese 2012 2013Документ4 страницыEncerramento Catequese 2012 2013Catequese de Rendufinho67% (3)
- Cachorro Pastor AlemãoДокумент26 страницCachorro Pastor AlemãoCheiro LeiteОценок пока нет
- Perfil SensorialДокумент8 страницPerfil SensorialLyse Oliveira Calixto75% (4)
- RESPOSTAS Exercícios para Fixação de Tempos e MétodosДокумент4 страницыRESPOSTAS Exercícios para Fixação de Tempos e MétodosJosé Eduardo OliveiraОценок пока нет
- GinásticaДокумент9 страницGinásticaLuïdïnö Flävïo MätüssëОценок пока нет
- Trabalho de FDDI - TCCДокумент26 страницTrabalho de FDDI - TCCvitorino87100% (1)
- Posicionamento de Réplicas em Redes de Distribuição de ConteúdosДокумент12 страницPosicionamento de Réplicas em Redes de Distribuição de Conteúdosubiratam123Оценок пока нет
- Bertazi Marcio HenriqueДокумент106 страницBertazi Marcio HenriquejeanmorenoОценок пока нет
- Sensual SegnificadoДокумент2 страницыSensual SegnificadoDomingos Da Costa CostaОценок пока нет
- Indicados Unidade 2Документ10 страницIndicados Unidade 2rodrigofacearОценок пока нет
- CAETANO Andreza - Hero e Leandro-Uma Lenda e Uma Arte Que Ultrapassam o Tempo - RónaiДокумент17 страницCAETANO Andreza - Hero e Leandro-Uma Lenda e Uma Arte Que Ultrapassam o Tempo - RónaiAndreza CaetanoОценок пока нет
- Análise Do Controle Interno Do Almoxarifado de Um FrigoríficoДокумент9 страницAnálise Do Controle Interno Do Almoxarifado de Um FrigoríficoLarissa GasoniОценок пока нет
- Tese Benjamim 38343 UAlg Faro 2011 PDFДокумент202 страницыTese Benjamim 38343 UAlg Faro 2011 PDFBlacksacerdoteОценок пока нет
- A Vida de Cristo de A A Z e de Gênesis A ApocalipseДокумент7 страницA Vida de Cristo de A A Z e de Gênesis A ApocalipseIzaias DinizОценок пока нет
- Apostila ConsolidadaДокумент59 страницApostila ConsolidadaThomaz FirmoОценок пока нет
- Brigitte Thierion - Olhares Sobre A Terra e o Homem Da AmazôniaДокумент23 страницыBrigitte Thierion - Olhares Sobre A Terra e o Homem Da Amazôniaandressa_marОценок пока нет
- Plano de Acao 5W2H Checklist FacilДокумент14 страницPlano de Acao 5W2H Checklist FacilASSESSORIA VILHENAОценок пока нет
- Quantidade de Capim CavaloДокумент3 страницыQuantidade de Capim CavalorodrigostizОценок пока нет
- ÉTICA - Resenha DO MÉTODO 6 - MariadaconceicaoДокумент5 страницÉTICA - Resenha DO MÉTODO 6 - Mariadaconceicaozlma225Оценок пока нет
- Leandro Lima EscatologiaДокумент11 страницLeandro Lima EscatologiaCristiano SilvaОценок пока нет
- Teste PeregrinaçãoДокумент2 страницыTeste PeregrinaçãoCristina MatiasОценок пока нет
- Curso para Pregadores LeigosДокумент20 страницCurso para Pregadores LeigosThais IllianoОценок пока нет
- NívelC SimetriaДокумент10 страницNívelC SimetriawashingtonОценок пока нет
- Geometria Analítica e Álgebra VetorialДокумент212 страницGeometria Analítica e Álgebra VetorialNadson Silva100% (2)
- AULA - Desempenho em Voo Descendente PropulsionadoДокумент55 страницAULA - Desempenho em Voo Descendente PropulsionadoGiuliano Gardolinski VensonОценок пока нет
- 04b Apostila de Psicomotricidade ApostilaДокумент45 страниц04b Apostila de Psicomotricidade ApostilaDebora LopesОценок пока нет
- Apostila Tortas Geladas Gourmet Confeitaria Creative 2Документ38 страницApostila Tortas Geladas Gourmet Confeitaria Creative 2IaraMartins100% (4)
- 4 - Relatorio - Ensaio de CompressãoДокумент14 страниц4 - Relatorio - Ensaio de CompressãoNicollas AlvesОценок пока нет
- Pré-Relatório - 001Документ3 страницыPré-Relatório - 001Emanuel AmaralОценок пока нет