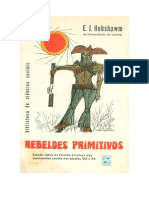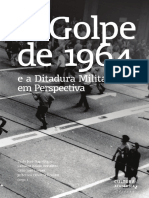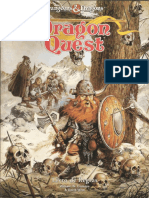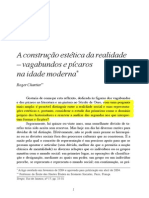Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
FIGUEIREDO, Luciano R. Protestos, Revoltas e Fiscalidades BR Colonia PDF
Загружено:
Maria CristinaИсходное описание:
Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
FIGUEIREDO, Luciano R. Protestos, Revoltas e Fiscalidades BR Colonia PDF
Загружено:
Maria CristinaАвторское право:
Доступные форматы
5
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITOR
Renato Godinho Navarro
VICE-REITOR
Dirceu do Nascimento
DIRETOR DO INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS
Luiz Tyller Pirola
VICE-DIRETORA DO ICHS
Hebe Maria Rola Santos
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HISTRIA -DEHIS
Jos Arnaldo Colho de Aguiar Lima
COORDENAO DO LABORATRIO DE PESQUISA HISTRICA - LPH
Fbio Faversani - Renato Pinto Venncio - Rodrigo Patto S Motta
EXPEDIENTE Correspondncia e contribuies devem ser encaminhadas para LPH-ICHS, rua do
Seminrio, s/no, 35 420 000, Mariana, MG, tel: (031) 557 13 22.
DISTRIBUIO Editora da UFOP. Campus Universitrio, Morro do Cruzeiro, 35.400-000, Ouro
Preto, MG., tel: (031) 559 14 91.
CONSELHO EDITORIAL
Angela Castro Gomes/UFF - Carlos Guilherme Mota/USP - Ciro Flamarion Cardoso/UFF - Fbio
Faversani/UFOP - Jos Antnio Dabdab Trabulsi/UFMG - Jos Arnaldo C. Aguiar Lima/UFOP Luclia Almeida Neves/UFMG - Marco Aurlio Santana/UFOP - Maria Lgia Prado/USP - Renato
Pinto Venncio/UFOP - Rodrigo Patto S Motta/UFOP
Charles Pessanha/IUPERJ (ad hoc) - Joo Pinto Furtado/UFOP (ad hoc) - Jos Carlos Reis/UFOP
(ad hoc)
REVISO Mnica G.R.Alkmin, Mnica Santos de Souza, Rivnia Maria Trota, Clsio Roberto
Gonalves.
EQUIPE DE DIGITAO Alexandre G.F. Silva, Kelly Carvalho, Priscila Brando
CAPA Elias Layon
Pede-se Permuta
We Demand Exchange
On Demande change
LPH: REVISTA DE HISTRIA
No 5. 1995. DEP. DE HISTRIA/UFOP
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
SUMRIO
ENTREVISTA
Entrevista com Laura de Mello e Souza ............................................ 05
ARTIGOS
Contatos culturais na Pennsula Itlica: as estatuetas de bronze
Maria Isabel DAgostino Fleming ..................................................... 13
A Busca do relato verdadeiro: a narrativa histrica de Herodiano
Ana Teresa Marques Gonalves ........................................................ 33
A Questo indgena em Minas Gerais: um balano das fontes e da bibliografia
Crisoston Terto Vilas Bas ................................................................ 42
Protestos, revoltas e fiscalidade no Brasil Colonial
Luciano Raposo de Almeida Figueiredo ............................................ 56
Minas Gerais de 1750 a 1850: bases da economia e tentativa de periodizao
Carla Maria C. AlmeiTirania e fluidez da etiqueta nas Minas setecentistas
Iris Kantor ........................................................................................ 112
Histria urbana de Mariana: primeiros estudos
Cludia Damasceno Fonseca ........................................................... 122
Uma Utopia para o passado: a Inconfidncia Mineira nas leituras das Cartas ChilenasJoaci Pereira
Furtado ............................................................................................. 138
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Os Anarquistas e a questo da moral (1890-1930)
Jardel Dias de Cavalcanti ................................................................. 144
O Soviete de 1905
Ivan Antnio de Almeida ................................................................. 155
Cultura poltica e imaginrio popular no segundo governo Vargas (1951-1954)
Luiz Vitor Tavares de Azevedo ....................................................... 166
COMUNICAO
Organizaciones obreras, clase obrera y vida cotidiana de los obreros: nuevos conceptos en la
historiografia de los movimientos obreros en Europa
Henrike Fesefeldt ............................................................................. 184
RESENHA
Bizire, J-M & SOL, J. Dictionnaire des biographies. La France moderne.
Marcos Antnio Lopes ..................................................................... 198
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Este nmero dedicado memria do Prof. Luiz Vitor Tavares de Azevedo, falecido em janeiro de
1995. A ttulo de homenagem, publicamos um de seus ltimos trabalhos.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
10
ENTREVISTA
Entrevista com Laura de Mello e Souza
Entrevista realizada, em agosto de 1995, pelos Profs. Luiz Carlos Villalta,
Renato Pinto Venncio e Fbio Faversani
Depto. de Histria - UFOP
1. Na sua trajetria intelectual, quais foram os historiadores mais importantes? Qual a
contribuio particular voc atribui a cada um deles do ponto de vista terico e do ponto de vista
temtico?
Sofri influncias variadas no decorrer de minha trajetria profissional. A maior delas foi a de
Fernando A. Novais, porque no diz respeito apenas sua obra - Portugal e Brasil na Crise do
Antigo Sistema Colonial - mas ao convvio intenso que venho mantendo com ele desde 1972,
quando fui sua aluna pela primeira vez, tanto no curso terico como na turma de seminrio, durante
um ano inteiro. Nos seminrios, as leituras eram variadas, os alunos no mais do que 25, e
aprendamos a ler, fichar e comentar textos de autores. O que me fascinava era um certo ecletismo de
sua parte, apesar da ntida e sabida predominncia do marxismo na sua formao. Foi nesses
seminrios que li Foucault pela primeira vez (A Histria da Loucura), tornando-me obsedada por
suas idias durante alguns anos, e Robert Mandrou, minha porta de entrada para a histria das
mentalidades; isto sem falar de clssicos da histria da cultura, como Paul Hazard, e clssicos da
sociologia, como Max Weber, Ferdinand Toennies e Celestin Bougl. Devo minha formao
intelectual a Fernando Novais, sobretudo na recusa a rtulos: no fao s histria social, nem s
histria da cultura, nem s histria das mentalidades, talvez por perseguir o horizonte que ele nos
abriu, e que vastssimo.
Daquela poca data a primeira grande influncia temtica que sofri; a da abordagem dos
desclassificados sociais sugerida por Caio Prado Jr. em Formao do Brasil Contemporneo. Digo
temtica porque, do ponto de vista terico propriamente dito, fui influenciada mais pela leitura que
Fernando Novais fez do sentido da colonizao de Caio Prado Jr. do que pela abordagem deste
11
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ltimo, que apesar de brilhante e fundamental - sobretudo levando-se em conta a poca em que foi
escrita -, parece-me, em geral, pouco nuanada. Logo em seguida, li toda a obra de Gilberto Freyre,
aproveitando mais uma vez a variedade temtica que oferecia e, sobretudo, sofrendo profunda
influncia da forma como escrevia. Ainda no perodo de graduao, destaco a influncia do
antroplogo Oscar Lewis e seus vrios livros sobre cultura da pobreza, que li todos, e dos quais
gostei muito.
Na poca em que realizei meus cursos de ps-graduao, li boa parte da obra de Antnio
Gramsci - creio alis que li quase tudo: Os Intelectuais..., Maquiavel..., os Cadernos do Crcere, A
Questo Meridional (que eu simplesmente adorava). Li tambm partes do Capital e os Gundrisse,
mas no entendia quase nada destes, e daquele s pesquei alguma coisa mesmo do volume 1.
Portanto, tive influncia marxista nesta poca, mas sobretudo por meio de Gramsci, que at hoje o
meu preferido. Dentre os autores nacionais, destaco o Circuito Fechado, do grande mestre Florestan
Fernandes, alguns captulos de O Modelo Poltico Brasileiro, de Fernando Henrique, e, mais do que
todos, Homens Livres na Ordem Escravocrata, de Maria Slvia de Carvalho Franco. Este foi meu
livro de cabeceira durante anos, e at hoje o considero uma obra prima.
At agora, quase no falei de historiadores, mas sobretudo de cientistas sociais. Comecei a
me deixar influenciar pelos historiadores propriamente ditos na dcada de 80, e creio que isto tem a
ver com as caractersticas dos estudos de humanidades no Brasil da ditadura, e com a necessidade de
engajamento poltico que nos obsedava. Nos anos 80, acho que posso resumir minhas leituras
fundamentais a quatro autores: Jacques Le Goff (Para um Novo conceito de Idade Mdia e O
Nascimento do Purgatrio foram dois marcos), Marc Bloch (Os Reis Taumaturgos, a obra prima do
sculo, talvez), Srgio Buarque de Hollanda (tudo, absolutamente tudo, como continua sendo at
hoje, mas com a predominncia de Viso do Paraso e Caminhos e Fronteiras) e Carlo Ginzburg
(sobretudo O Queijo e os Vermes e Mitos-Emblemas-Sinais, mas vale igualmente todo o resto,
sempre excelente). Foi quando dei uma guinada para a histria da Cultura (e no das mentalidades,
da qual sempre gostei muito, mas que me influenciou menos, pois a acho menos problemtica no
bom sentido).
Nos ltimos anos, tenho lido com enorme considerao os livros de Braudel, sobretudo
Civilisation Matrielle, conomie et Capitalisme e tenho gostado muito da historiografia britnica,
como Thompson (que na verdade redescoberta pela primeira vez em 1973, mas sem entender
direito o fundamental) e Trevor-Roper, que um autor fora de moda, conservador demais mas
brilhantssimo e, sobretudo paradoxal - o que me agrada muito. Por fim, tenho me valido muito dos
historiadores italianos mais antigos, que so notveis: Eugnio
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
12
Garin, Federico Chabod, Dlio Cantimori. Fico assim entre uma histria social e uma histria da
cultura. Metodologicamente, creio que o que mais me fascina, hoje, so os trabalhos e as
consideraes da micro-histria italiana neste sentido. Gosto muito de histria da arte, tal como
feita pelos estudiosos ligados ao Instituto Warburg de Londres - Gombrich, sobretudo, e Panofsky;
mas no sou especialista neste assunto, s curiosa.
2. Durante os ltimos quinze anos, a historiografia relativa ao Brasil Colnia viveu um momento de
profunda transformao. No seu entender, quais so os futuros campos de pesquisa em relao ao
Brasil Colonial?
Creio que muito ainda est por fazer, porque por muito tempo a repblica e o imprio foram
mais estudados do que a colnia, em parte devido maior dificuldade oferecida pela leitura e
manuseio da documentao colonial. Acho que a pesquisa daqui em diante deve ser conduzida de
forma mais rigorosa, procurando inclusive preservar e divulgar acervos documentais que, com nosso
clima e nossos polticos, podem desaparecer rapidamente. Sou a favor da publicao de documentos,
da elaborao de edies crticas e, mais do que da realizao de trabalhos imaginosos ou
preocupados com modismos, daqueles que se voltem para a reflexo de questes importantssimas
ainda no esclarecidas: funcionamento da administrao; enraizamento local das oligarquias; origem
das fortunas; controle social; natureza do protesto, etc. Nem sei se sou capaz de fazer este tipo de
trabalho, pois sou impaciente demais, mas os considero importantssimos. Trabalhos como estes
sobre a Fazenda Resgate - que no li ainda mas, pelo que soube, fundamental, apesar de irregular so muito teis. S queria esclarecer uma coisa: no sou contra trabalhos imaginosos e que sigam
modas; acho que a imaginao histrica justamente o que diferencia o grande historiador. S penso
que s vezes, entre ns, preocupamo-nos mais em fazer um trabalho l Darton ou l Chartier do
que em ascultar quais as necessidades efetivas da nossa historiografia. Na verdade, cada um deve
ajustar as escolhas feitas a seu prprio temperamento, acho fundamental voltar a discutir questes
referentes a economia colonial, mas tenho certeza de que s entrarei nessa discusso de forma
indireta dado o meu temperamento e minha vocao mais afeita s anlises da cultura e da
sociedade. De qualquer forma, tenho tais questes no meu horizonte. Acabei de escrever um artigo
sobre os quilombos em Minas, onde enfatizo as relaes entre civilizao e barbrie evidentes no
relato cotidiano de uma expedio; apesar deste ser o foco, dou bastante peso s relaes entre
13
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
perseguio a quilombos e expanso da fronteira agrcola, cortejando inclusive o movimento de
perseguio e os nmeros referentes a doao de sesmarias nos governos do final do sculo.
Enfim, para fechar a questo: no podemos nos dar ao luxo, no Brasil de fazer histria com
base em historiografia, como grandes historiadores europeus o fazem: Perry Anderson, Hobsbawm,
Braudel. Temos obrigao de ir aos arquivos, trancrever documentos, edit-los, denunciar a incria
administrativa e governamental neste campo. Estamos mais de cem anos atrasados, como disse Lus
Felipe de Alencastro numa entrevista polmica h cerca de um ano: no fizemos, at hoje, as nossas
Monumenta. O historiador brasileiro em geral muito preguioso no que diz respeito frequentao
de arquivos.
3. Qual a pesquisa que voc est desenvolvendo atualmente? Qual a relao que ela ter com seus
trabalhos anteriores?
No momento estou envolvida com trs projetos diferentes. Um, coletivo, sobre a vida privada
no Brasil, para o qual devo escrever um captulo referente ao perodo colonial. Outro, que j dura
oito anos, sobre a vida cotidiana em Minas na segunda metade do sculo XVIII; ele acabou saindo
um pouco dos trilhos originais, e tanto a parte j escrita, que a primeira do livro - cerca de 200
pginas - quanto a que estou escrevendo se referem percepo do meio natural e vida nas
fronteiras da capitania. A primeira parte chama-se, provisioramente, As bordas de Minas. A
segunda parte diz respeito zona de minerao, mas sobretudo sociedade e ao poder, e se chama
Os mineiros do centro; explora a idia de que este ncleo exporta valores e padres sociais e
polticos para o resto do territrio, mas se constitui, simultaneamente, em funo dos elementos das
bordas. A terceira parte chama-se algo como Prticas desconcertantes, e explora a idia da revolta
formal e da revolta informal, que venho expondo em outros artigos desde 1989, e que tem partes j
redigidas. O todo procura repensar a questo da inconfidncia, ou melhor, da sociedade da
inconfidncia frisando o problema da tenso entre reforma e sedio. um trabalho muito
complicado e pretensioso (creio que no bom sentido), e no consigo pr um fecho na pesquisa nem
dispor do tempo necessrio para escrever. Creio que ficar enorme, o que talvez seja mau, e eu seja
obrigada a cortar partes.
O terceiro projeto sobre as revoltas e sedies do perodo colonial, e tem me entusiasmado
bastante. mais simples, quase s uma tipologia analtica, e deve ser publicado como livro mais
geral, de divulgao.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
14
4. O conceito de desclassificao social, tal qual voc utilizou em seu primeiro livro e reafirmou
em O Diabo na Terra de Santa Cruz, ainda lhe parece pertinente? Se voc fosse reescrever Os
Desclassificados do Ouro, quais seriam as mudanas de enfoque que voc privilegiaria, caso
julgasse necessrio promover uma reviso? Ao analisar a pobreza e a desclassificao social, em
Os Desclassificados do Ouro, voc concede um lugar especial minerao. Como voc avalia hoje,
luz da historiografia recente, as posies da minerao e da agricultura na economia mineira e
seus reflexos na organizao das sociedades das Gerais?
Obviamente, todo trabalho historiogrfico datado, pois tambm um pedao da histria
intelectual do pas em que foi escrito, e da pessoa que o escreveu - e, neste sentido, inserido no
prprio movimento da histria. Visto assim, Desclassificados foi um esforo considervel de pensar
uma questo social e econmica - a da pobreza e da marginalidade - em chave histrica, referida ao
mesmo tempo ao presente - os anos 70 de nossa histria, com milagre econmico, pobreza e
dependncia - e ao passado - Minas, o ouro que vai embora, a misria, etc. Portanto, um pouco da
histria regressiva cara a Marc Bloch. Foi uma tentativa de enfrentar a questo do engajamento e
da crtica ditadura, e acho que me sa bem, pois busquei uma anlise mais flexvel e aberta sem
deixar, entretanto, de tocar nas questes fundamentais que as esquerdas debatiam ento. Neste
sentido, creio que o conceito de desclassificao social se mantm, e operacional ainda hoje, indo
alm dos limites conceituais presente s vezes nas Cincias Sociais e lanando luz, de forma
satisfatria, sobre uma realidade histrica. Gosto dele, e o mantenho. Alis, acho que outros tambm
vm utilidade nele, pois bastante invocado, para minha surpresa, inclusive entre alunos.
J a questo da agricultura mais complexa. Penso hoje que talvez tenha hipertrofiado o
papel da minerao; quase no havia anlises sobre a agricultura naquela poca, e eu mesmo no as
faria, pois no estudo a economia, como j disse, nem me sinto aparelhada para tal. Por outro lado,
paira sempre a evidncia irrespondvel: com a decadncia da minerao, os mineiros debandaram e
fundaram um sem nmero de vilas e cidades nesse xodo, inclusive em So Paulo. A anlise dos
troncos familiares dos antigos paulistas mostra tal fenmeno: boa parte dos que no remontam ao
sculo XVI, remontam a este momento, ou seja, final do sculo XVIII e incio do sculo XIX,
quando os mineiros voltaram ou fugiram do marasmo econmico.
15
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Por fim, se a minerao conviveu o tempo todo com a agricultura, foi aquela, e no esta, que
deu o padro civilizacional das Minas, que deu o tom que a distinguiu e fez dela a pea-chave da
colnia no setecentos: a urbanizao, e no ruralismo; apreo pela cultura, e inclusive a criao de
um sistema cultural - no sentido de haver criao e consumo de bens culturais; pensamento crtico,
etc. etc. etc.. Portanto, mesmo que caiba relativizar o que disse h quinze anos atrs, acredito que a
anlise no foi ainda ultrapassada e se mantm.
Durante algum tempo, pensei reparar certas passagens dos Desclassificados..., sobretudo
aquela em que me valho muito da leitura de Wilson Cano para a economia mineira. uma anlise
muito terica e pouco emprica, muito generalizadora e, creio, pouco histrica. Mas resolvi deixar,
como testemunho da concepo dominante na poca em que escrevi, como pista que ajuda a
entender os caminhos que trilhvamos ento. A produo historiogrfica estava numa crise
considervel, e tirando um ou outro trabalho - sobre os quais pairavam, sempre olmpicos, os de
Srgio Buarque de Holanda - no era a histria quem melhor pensava o Brasil, mas as Cincias
Sociais. Foi de meados dos anos 70 em diante que as teses produzidas nos programas de psgraduao vieram espanar essa conjuntura.
5. Carlo Ginzburg, em suas investigaes sobre a histria cultural, utiliza os conceitos de cultura
popular, cultura erudita e circularidade. Roger Chartier recusa o estabelecimento de
dicotomias culturais, pois entende que at o sculo XVIII haveria uma cultura comum s elites e s
camadas subalternas, propondo-se a investigar como os mesmos elementos culturais foram
apropriados de modos diversos pelos diferentes grupos sociais (no apenas classes). Como voc
avalia a utilizao desses paradigmas nas investigaes sobre a cultura no Brasil Colonial?
Esta pergunta dificlima, precisaria quase escrever uma tese para respond-la. No
simpatizo muito com a teoria que est por trs das concepes de Chartier, apesar de simpatizar
muitssimo com ele, que uma pessoa muito gentil e afvel, alm de obviamente, inteligentssimo.
Chartier um homem que constri suas concepes sobre cultura em cima da experincia que tem
da anlise dos livros e da leitura: acaba numa anlise da cultura letrada, ou do seu contrrio - o que
vem a ser o mesmo, dada a identidade do referencial. Escreveu muitos artigos, mas poucos livros,
poucas anlises recortadas. Tende, no limite, a afirmar que as diferenas de classe so menores do
que a participao num universo de
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
16
cultura, o que pode ser sugestivo mas deve sempre ser matizado, pois descamba na indistino.
Ginzburg, por sua vez, escreveu vrios estudos sobre objetos diversos: crenas populares de carter
exttico e sua transformao num perodo de cem anos; crenas populares e eruditas no vo noturno
na cavalgada do exrcito furioso, e sua analogia com outras crenas milenares; a construo das
concepes cosmognicas de um moleiro, e seu choque com as crenas e saberes eruditos da mesma
poca; a relao entre os propsitos dos comitentes das obras de arte e os de um artista especfico
(Piero della Francesa), etc, etc, etc. A experincia de Ginzburg como historiador
incomparavelmente superior de Chartier, no h como negar. Alm disso, os resultados
demonstrados a partir do manejo do conceito de circularidade atesta sua eficcia, quando bem
utilizado. Sou f de Ginzburg no tipo de anlise que faz, e o acho quase inigualvel, pois d conta de
uma gama variada de relaes e nuances.
Para a anlise da cultura na colnia, tenho certeza de que a influncia de Ginzburg mais
profcua; tanto acredito nisso que O Diabo na Terra de Santa Cruz e Inferno Atlntico dialogam
com Ginzburg, em dois momentos diversos: O Queijo e os Vermes e os Andarilhos do Bem, no
primeiro caso; Mitos-Emblemas-Sinais e Histria Noturna, no segundo. A nossa realidade cultural
to complexa e multifacetada que torna impositiva a adoo de um vis que leve em conta esse
movimento todo. Agora, bvio que Chartier se mostra muito til no tocante anlise da leitura e
dos livros; da mesma forma, alis, que Robert Darnton.
7. Em entrevista Folha de So Paulo, h tempos atrs, voc se posicionou face controvrsia
existente em torno da figura do Tiradentes. Como voc avalia hoje o papel desempenhado pelo
Alferes? Como voc avalia outra personagem controvertida de nosso passado: o governador das
Minas, Lus da Cunha Menezes?
Muita gente, inclusive amigos, criticou-me por dizer que Tiradentes era amalucado. Continuo
achando que era mesmo, basta ler os Autos para ver como agia por instinto e impulso, envolvendo os
outros sem pensar. A grande guinada veio com a priso, quando ele realmente vira um sujeito
fantstico, digno e reto como nenhum, assumindo para si a totalidade de uma culpa que, obviamente,
era tambm de outros. Tenho bastante afinidade com a leitura que Maxwell faz dos grupos, e acho
que Tiradentes, o Padre Correia e Alvarenga eram os mais estourados, dispostos a romper mesmo
com tudo. Alguns poemas de Alvarenga sugerem que ele tinha muito claro o que significava ser
17
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
colnia e ser explorada: ele e Tiradentes me parecem os que percebem melhor os mecanismos da
explorao e a necessidade de neg-la. Mas so elos de uma corrente, no so gigantes isolados: um
pouco por acaso, outro tanto por mrito, deram a voz a cinquenta anos de insatisfao mais ou
menos difusa. Do ponto de vista da ruptura, e no da reforma, so, a meu ver - e temerrio afirmar
algo assim quando se tem por fonte bsica as viciadssimas Devassas - os mais significativos
elementos de 1789, apesar do Cnego, de Gonzaga e de Cludio serem muito mais cultos,
articulados e brilhantes (mais reformadores do que revolucionrios, possivelmente). Os dois
primeiros eram amalucados, enquanto os trs que acabei de citar eram ponderadssimos (apesar do
final trgico e enigmtico de Cludio, que pode sugerir desequilbrio maior do que seus escritos
fazem supor). No interessante que os amalucados enxergassem mais longe?
J quanto a Lus da Cunha Menezes, acho que no to feio quanto pintam. Corruptssimo
sem dvida, e meio boal; mas tinha um projeto que desejava executar, e que passava pela circulao
das elites locais no poder, deixando de lado - mesmo que momentaneamente - as restries
estamentais de cor e nascimento. Talvez fosse mais moderno, mais burgus do que seus antecessores
- homens muito mais encantadores do que ele, e certamente muito mais cultos, como o Conde de
Cavaleiros. Uma vez, Francisco Iglsias me disse que via o Fanfarro como uma espcie de Ademar
de Barros setecentista. Acho engraada a comparao, bem provocativa - na melhor tradio mineira,
l Feu de Carvalho. Tiradentes louco, e Fanfarro populista. Fico por aqui, pois estou comeando a
dizer coisas que caberiam melhor na boca irreverente de um Darci Ribeiro.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
18
ARTIGO
CONTATOS CULTURAIS NA PENNSULA ITLICA:
AS ESTATUETAS DE BRONZE.
MARIA ISABEL DAGOSTINO FLEMING
Museu de Arqueologia e Etnologia -USP
INTRODUO
Uma primeira insero da produo das estatuetas de bronze no processo histrico da Pennsula
Itlica leva imediata associao com o tipo de desenvolvimento por que passou a arte itlica. O
grande repertrio de tipos, de estilos e de formas dessas estatuetas indica que na histria da cultura
artstica da Itlia antiga, anterior ao completo domnio romano, no se pode nunca falar de um
desenvolvimento unitrio (Bianchi-Bandinelli, 1976: passim). Este o primeiro dado que resulta
evidente pela diversidade de povos que a ocuparam e a povoaram e, sobretudo, pelo diferente grau de
desenvolvimento que em um mesmo momento os diversos povos tinham atingido. Conseqentemente
distinguiram-se diversas estratificaes. H o substrato das populaes existentes na Itlia no incio da
Idade do Ferro, anterior colonizao grega, que se mantm substancialmente imutado, ainda que
tenha havido contatos externos na regio costeira desde tempos remotos (scs. XIV-XIII a.C.) atravs
de correntes de comrcio provenientes da bacia do Egeu. H, em seguida, a chegada dos colonos gregos
e a formao, nas cidades fundadas e administradas por eles, de uma arte colonial, ligada metrpole,
mas diferente da arte da Grcia. H, ainda, o reflexo desta cultura artstica grega sobre os centros
indgenas.
Para compreender melhor as condies nas quais se desenvolveu a arte itlica, devemos levar
em conta alguns caracteres da arte grega na Itlia e na Siclia. De fato, assiste-se ao progressivo
retrocesso a condies mais primitivas dos prprios artesos gregos imigrados, os colonos, em relao
a uma cultura artstica originria grega. Isso aconteceu, seja pela mistura de vrias provenincias dos
prprios colonos gregos (entre os quais no faltavam os artesos e os artistas), seja pelas exigncias
19
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
mudadas da clientela que reagia de modo diferente daquela da metrpole, porque colocada em outro
contexto social e espiritual; ou seja, enfim, pela mistura que teve lugar com os usos e costumes das
populaes indgenas com as quais os gregos entraram em contato.
Deve-se tambm mencionar que algumas cidades da Itlia meridional e da Siclia no so o
produto da colonizao de uma nica plis grega; que nessas cidades confluam colonos de ambientes
de origem cultural diversa; que as colnias, que por sua vez derivavam de outras colnias, assumiam
obviamente um carter sempre mais remoto em relao ao da metrpole.
A autonomia colonial logo articulou-se atravs do peso cada vez maior que foram assumindo
Siracusa, na Siclia; Cuma e Tarento, na Itlia meridional. Este ltimo centro ter um papel de
liderana na arte do perodo helenstico.
O declnio da influncia direta da metrpole e conseqente abrandamento do esprito grego
determinaram o renascimento das autonomias indgenas. As populaes do interior, com efeito, sempre
submetidas civilizao costeira colonial, das quais obtinham sugestes contnuas, se encontraram,
pela fraqueza do mundo colonial, obrigadas a definir tendncias prprias com conseqentes
manifestaes originais. Essas manifestaes permaneceram substancialmente as nicas vlidas para
um notvel nmero de populaes e por um longo perodo de tempo.
, por isso, necessrio compreender a fundo o fenmeno do mundo indgena no sc. V e na
primeira metade de sc. IV. a.C.: no se trata, de fato, mais de um mundo que reagia ao colonial,
diversificando-se antagonicamente em relao a ele, mas de um mundo que chegou, para sobreviver, a
incorporar as prprias normas de civilizao.
Ao lado do mundo colonial grego, parte fundamental do desenvolvimento da arte itlica apiase na civilizao etrusca, que se afirmou na regio delimitada pelo Arno e o Tibre, com uma oligarquia
dominante, economicamente potente e que se manteve por sculos, sendo responsvel por uma
produo artstica de alto luxo. testemunho a documentao material de tumbas que reproduziam os
ambientes requintados dos vivos e perpetuavam o orgulho de uma casta.
Nesta circunstncia e nas possibilidades de ativssimas trocas comerciais e de trabalho dado aos
artesos gregos estabelecidos na Itlia meridional e na prpria Etrria, residem os pressupostos
histricos da arte etrusca.
Na Itlia pr-romana a arte etrusca permanece, sem dvida, a manifestao artstica mais
original e mais rica, superando em quantidade e variedade mesmo a produo artstica da Aplia, da
qual tambm, em um certo momento, a Etrria extraiu elementos estruturais e ornamentais.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
20
Com a maior afirmao do mundo indgena, a partir da metade do sc. IV a.C. se estabelece
uma certa unidade de linguagem artstica na Itlia sub-apennica. Prevaleceram nesta linguagem,
qualitativamente, as verses pulas e etruscas, estas mesmas fortemente influenciadas pelas primeiras;
mas comeavam a distinguir-se caractersticas da Campnia e do Lcio.
A partir de uma linguagem comum mdio-itlica, que estava se estabelecendo na Pennsula no
incio do sc. III a.C., teria podido formar-se e caracterizar-se uma arte relativamente unitria e de um
nvel bastante elevado. O processo foi interrompido pela guerra aniblica, depois da qual restaram
poucos documentos de uma cultura artstica que no exprime uma linguagem articulada e na qual
afloram elementos de vrias provenincias e de vrios acentos junto a resduos de aquisio do
helenstico. sobre esta base, um tanto disforme e inconsistente que, com uma nova leva de obras e de
artistas da Grcia, ir se constituindo a arte romana, que herdar dos predecessores itlicos e etruscos
concepes de estrutura e simbologia iconogrfica, mas, quanto forma, bem pouco.
A PRODUO DE ESTATUETAS DE BRONZE NO CONTEXTO ARTSTICOCULTURAL DA PENNSULA ITLICA
O quadro acima o referencial que situa a produo artstica e artesanal das estatuetas de
bronze na Pennsula Itlica em consonncia com as tendncias que variaram, conforme a maior ou
menor intensidade dos contatos culturais em cada perodo e regio, at o nascimento de uma unidade
mais definida, prenunciando a arte romana.
Assim, uma possvel diviso cronolgica so os perodos que tiveram seu incio marcado por
profundas modificaes nas sociedades envolvidas na produo e consumo desses objetos desde o final
da Idade do Bronze:
1. A Idade do Ferro (scs. XII-VIII a.C.)
2. A fase orientalizante e a colonizao grega (scs. VIII-V a.C.)
3.O final do perodo clssico e o perodo helenstico (scs. IV-I a.C.)
1. A Idade do Ferro (scs. XII-VIII a.C.).
Na regio dos Apeninos, no final da Idade do Bronze (sc. XIII a.C.), teve lugar uma cultura a
que se convencionou chamar de civilizao apennica, a qual se desenvolveu mais na Itlia
meridional e se difundiu do sul para o norte. Das suas manifestaes diferenciou-se mais tarde um
aspecto sub-apennico, em que se deve reconhecer uma fase distinta (scs. XII-XI a.C.) que
21
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
representou um vasto fenmeno de unificao cultural. A esta segunda fase se usa estender o nome,
tambm convencional, de civilizao vilanoviana. Observada primeiramente na rea centrosetentrional (a mesma rea na qual mais tarde se desenvolver a civilizao etrusca) a civilizao
vilanoviana foi mais tarde reconhecida como extensa e particularmente florescente na Itlia
meridional entre a Campnia e a Lucnia. Esta civilizao aparece como expresso, com variantes
locais, de um tipo de cultura comum a populaes diversas. Com a civilizao vilanoviana da Idade do
Ferro se forma efetivamente uma cultura unitria, ainda que com particularidades e atrasos locais, que,
segundo Bianchi-Bandinelli (1976: 24), no tem nenhuma implicao tnica nem poltica.
Nas manifestaes da arte figurativa vilanoviana, praticamente no houve espao para
estatuetas de bronze como elementos isolados. Elas estavam geralmente associadas a vasilhas de vrios
tipos, predominantemente com funes cerimoniais (urnas cinerrias, ossurios, vasos em forma de
animais). Em grupos que representavam cenas do cotidiano, atividades de trabalho, batalhas, jogos ou
cultos, essas figuras traziam as caractersticas formais de um certo primitivismo, tanto nos detalhes
fisionmicos como na prpria anatomia. O corpo cilndrico, a cabea apenas destacada de um longo
pescoo, olhos salientes, cercados por um sulco, grande nariz triangular proeminente, as extremidades,
mos e ps, simplesmente esboados com sulcos (Fig. 1).
Essas figurinhas esto em consonncia com os exemplares da terracota aplicadas em vasos de
impasto, que evoluram de estatuetas isoladas, as quais, num momento histrico posterior Idade do
Ferro inicial, com a afirmao da colonizao grega nas costas meridionais e sicilianas, e o rpido
florescimento da cultura proto-etrusca no mdio Tirreno, tiveram um vasto desenvolvimento e uma
difuso bem maior. Essa produo de terracotas foi perdendo o significado original,
predominantemente funerrio para transformar-se em aplicaes decorativas, ou em ex-votos
oferecidos em santurios.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
22
Fig. 1 - nfora em lmina de bronze com figurinhas, sc. VIII a.C. Bizencio (Lago de Bolsena),
necrpole Olmo Bello. Roma, Museu de Villa Giulia. R. Bianchi-Bandinelli, Etruschi e Italichi Prima
del Dominio di Roma. Milo, 1976, no 46.
Entre os centros de produo das figurinhas de bronze, a preponderncia deve ser atribuda
Campnia, de onde provm inmeros bronzes decorados com carregadores de vasos, guerreiros,
msicos, minotauros, macacos, cervos, gansos etc.. Segundo o local dos achados arqueolgicos, resulta
que esses objetos foram exportados para a Lucnia e a Daunia. Essa posio de liderana da Campnia
confirmada pela presena dos primeiros exemplos de uma escultura em pedra. So estatuetas votivas
de pequenas dimenses que repetem tipos inalterados e frmulas prprias da plstica reduzida.
2. A fase orientalizante e a colonizao grega (scs. VIII-V a.C.).
A ltima fase vilanoviana confirma-se coincidente com a civilizao orientalizante, que
devemos reconhecer como plenamente etrusca. A Campnia meridional, que apresentou um grande
desenvolvimento vilanoviano, rapidamente evolui, como faro outros centros etruscos, para o
orientalizante. Tem-se, portanto, a confirmao de dois fatos de grande importncia cultural: o primeiro
consiste numa
23
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
continuidade entre o perodo vilanoviano e o orientalizante, com uma interpenetrao espontnea; o
segundo evidencia que ao fundo espontneo primitivo da cultura itlica vem sobrepor-se um
patrimnio de formas mais cultas, fruto de elaborao secular em ambientes particularmente sensveis
elegncia e correo da forma naturalstica. O substrato primitivo reaparece sempre que falta o
suporte da forma culta de derivao grega (Bianchi-Bandinelli, 1976: 45).
Fig. 2 - Fragmento de ala de encoa de tipo rdio. Itlia oriental, sc. VI a.C. Paris, Biblioteca
Nacional. A - M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques. Paris, 1984, no 20.
O perodo entre a metade do sc. VIII a.C. e o incio do sc. V a.C. representa o momento da
formao e da articulao de uma civilizao colonial de um lado e, de outro, o da aquisio de
motivos coloniais por parte das populaes indgenas e a criao de manifestaes, mesmo que
espordicas, de uma arte local (Adam, 1980: passim) (Figs. 2 e 3).
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
24
Fig. 3 - Arqueiro a cavalo, ornamento de urna cinerrio (lebes). Cpua, sc. V a.C. Paris, Biblioteca
Nacional. A.-M. Adams, Bronzes Campaniens du Ve Sicle Avant J.-C. au Cabinet des Mdailles. In:
MEFRA. 92 - 1980 - 2. No 892, fig. 1.
As estatuetas de bronze, a partir do perodo orientalizante, sobretudo dos centros etruscos
(Vulci, Chuisi, Veio, Cerveteri, Caere) e das colnias gregas da Siclia e Itlia meridional (Piceno,
Campnia principalmente) tiveram um grande impulso. Elas podem ser divididas em duas categorias:
a) figuras isoladas ou componentes de vasos e outros objetos do mobilirio, como trips e candelabros
predominantemente - muitas dessas estatuetas so de um nvel tcnico e artstico elaborado e as
personagens representadas continuam a tradio iniciada no perodo vilanoviano em que eram
retratadas cenas do cotidiano, religiosas, cultuais, de jogos, batalhas etc. (Figs. 4 e 5); b) a segunda
categoria a de ex-votos, em geral figuras com acabamento mais simples e, em sua quase totalidade
representando divindades do panteo grego: Hracles, Ares, Zeus, Hermes, Atena, Apolo, so as
principais (Figs. 6 e 7).
Alm da grande difuso na Pennsula Itlica, a partir do final do sc. VI - sc. V a.C., os exvotos tiveram grande penetrao ao norte, principalmente na Glia (Boucher, 1976:21 e ss.).
25
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Fig. 4 - Figura masculina. Base de incensrio (thymiaterion). Etrria meridional, sc. V. a. C.. Paris,
Biblioteca Nacional. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et Italique. Paris, 1984, n 46.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
26
Fig. 5 - P de cista: Hrcules e Iolaos combatendo a Hdria. Vulci, sc. V a. C.. Paris, Biblioteca
Nacional.. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques. Paris, 1984, n 26.
27
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Fig. 6 - Hrcules. Castelbellino (Ancona), scs. VI-V a. C.. Florena, Museu Arqueolgico. G.
Colonna, Italica Arte In: Enciclopedia dellArte Antica, vol. IV. Roma, 1963, n 56 a.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
28
Fig. 7 - Minerva. Todi, Etrria, sc. V a. C.. Paris, Biblioteca Nacional A.-M. Adam, Bronzes
Etrusques et Italiques. Paris, 1984, n 252.
3. O final do perodo clssico e o perodo helenstico (scs. IV-I a.C.)
A civilizao de tipo helenstico que se articulou sobretudo em Tarento e que, de l, se difundiu
em toda a Itlia, teve muita ressonncia, sobretudo, na Etrria. A essa civilizao corresponde, na
Siclia, a cultura de Siracusa, que assimilou em grande medida motivos de Alexandria. O perodo que
vai do final do sc. IV ao final do sc. III a.C., representa o apogeu da arte itlica, sob o ponto de vista
da tcnica e da adequao aos modelos cannicos (Fig. 8). Difunde-se uma prtica de bom estilo que d
produtos suficientemente cultos e corretos, ainda que, s vezes, medocres, muito prximos produo
greco-helenstica (Adriani, 1970: 75 e ss.). Pode-se falar de uma Koin cultural itlica que tende
sempre mais a absorver em si o ambiente etrusco e lacial (Colonna, 1963:57).
29
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Fig. 8 - Apolo. Etrria, scs. IV-III a.C.. Paris, Biblioteca Nacional. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et
Italiques. Paris, 1984, n 245.
Na passagem do sc. III para o sc. II a.C., as formas so marcadas por uma vulgarizao,
tornando-se tambm mais pesadas (Fig. 9). medida que se entra no sculo II, este fenmeno se
acentua. Causas de origem geral como, em primeiro lugar, a decadncia das cidades da Magna Grcia,
determinam o estabelecer-se de um clima artstico qualitativamente mais baixo e mais aberto s
deformaes expressionistas (Balty, 1962: 196 e ss.).
No sc. I a.C., o estilo adquire um aspecto claramente tardo-helenstico e vai perdendo
progressivamente a originalidade de modo que, quase insensivelmente, adentra-se na produo romana
do perodo de Augusto e da dinastia Jlio-Cludia.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
30
Fig. 9 - Figura masculina, ofertante com coroa de folhas. Etrria centro-meridional, scs. III-II a.C..
Paris, Biblioteca Nacional. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques. Paris, 1989, n 319.
Em continuao ao perodo anterior, o perodo helenstico acrescentou outras personagens
quelas j consagradas entre os ex-votos de bronze. So as figuras femininas de ofertantes ou
divindades de provenincia claramente oriental, como Cibele (Fig. 10).
31
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
CONCLUSO
A produo de estatuetas de bronze na Pennsula Itlica, compreendida como fruto dos intensos
contatos culturais ocorridos desde a Idade do Ferro at o sc. I a.C., apresenta uma enorme dificuldade
de adequao a unidades de desenvolvimento da arte na Itlia com possveis seqncias entre si.
As unidades propostas neste trabalho, ainda que necessrias para sua exposio, apresentam um
grave risco de homogeneizao que no d espao s especificidades de
Fig. 10 - Figura feminina, ofertante. Carsoli, sc. II a. C.. Chieti, Museu Nacional. G. Colonna,
Italica Arte. In: Enciclopedia dellArte Antica, vol. IV. Roma, 1963, n 63.
algumas tradies mantidas apesar do peso da influncia etrusca e grega na Pennsula Itlica, pelo
menos at o perodo helenstico. Alm desses, h vrios outros aspectos que no podem ser abordados
em um trabalho de sntese e, entre eles, cabe destacar os repertrios iconogrficos intimamente
associados aos contextos de utilizao das estatuetas ou figuras de bronze. de especial interesse a
distribuio das representaes de figuras masculinas e femininas entre as estatuetas.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
32
A abordagem desse problema leva ao confronto entre o mundo etrusco ou de influncia etrusca
(etrusco-itlico) e o mundo colonial grego, tendo como veculo dois tipos diversos de produes a
partir do sculo VIII a.C.:
a) objetos com decoraes plsticas ou figuras isoladas de conotao funerria.
b) ex-votos com sentido cultural.
Fig. 11 - Danarina. Ornamento de recipiente (cttabos) (?). Etrria central, scs. IV-III a.C.. Paris,
Biblioteca Nacional. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques. Paris, 1984, n 78.
33
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
As duas categorias de bronzes apresentam uma diferena de repertrio iconogrfico nitidamente
associada s diferentes funes que desempenham esses objetos de luxo, funerrios, ou religiosos.
Entretanto, no interior mesmo de cada uma dessas categorias de objetos que as diferenas tornam-se
mais significativas, segundo pertenam ao contexto etrusco-itlico ou ao colonial grego. Um dos
elementos diferenciadores a presena da figura feminina assim distribuda:
Fig. 12 - Figura feminina, ofertante. Itlia setentrional, sc. VII a. C.. S. Boucher, Recherches sur les
Bronzes Figurs de Gaule Pr-Romaine et Romaine. BEFAR. Roma, 1976, fig. 7.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
34
Contexto etrusco-itlico
A figura feminina aparece nos objetos das duas categorias. Na categoria a, so freqentes as
representaes de mulheres em cenas de gnero (Fig. 11). Tambm na categoria b (ex-votos), ao lado
de figuras emprestadas ao panteo grego, onde so dominantes as divindades masculinas, exceo de
Atena, representada a figura da ofertante ou fiel, continuando uma tradio baseada no substrato
itlico dos sculos VIII-VII a.C. e, sem dvida, com razes orientais e ligaes precisas a figuras
descobertas na sia Menor (Boucher, 1976:17) (Figs. 12 e 13).
Fig. 13 - Figura feminina, ofertante com um pssaro. Etrria setentrional, Vneto, sc. VI a.C.. Paris,
Biblioteca Nacional. A.-M. Adam, Bronzes Etrusques et Italiques. Paris, 1984, n 223.
35
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Contexto colonial grego
interessante notar a rara presena feminina nas figuraes de adornos de vasos de bronze com
sentido funerrio e de ex-votos de conotao cultual. Nos casos de representaes femininas, os
motivos so de clara influncia etrusca como, por exemplo, os exemplares campnicos de vasos com
decorao plstica dos scs. VI-V a.C., quando a Campnia foi absorvida pela rbita cultural etrusca
(Fig. 14). Quanto aos ex-votos, h uma evidente separao de repertrios distribudos entre as
estatuetas de bronze e as de terracota. Aos bronzes esto associadas predominantemente as divindades
masculinas e Atena e, s terracotas, as divindades femininas, entre as quais Demter, Persfone, Hera,
Afrodite.
possvel fazer um paralelo entre essa distribuio de repertrios de bronzes e terracotas
coloniais com a produo grega, desde o sculo VIII a.C. at o perodo helenstico, ainda que se note
entre os ex-votos de bronze gregos a presena espordica de figuras femininas de ofertantes,
praticamente ausentes na Pennsula Itlica.
A separao dos repertrios de ex-votos de terracota e de bronze no mundo colonial grego entre
os scs. VIII-IV a.C. um aspecto relevante da produo artstica e artesanal da Siclia e da Magna
Grcia que deixa entrever diferentes esferas de atribuio e associao a cultos de naturezas diversas,
onde se opem as divindades ligadas fecundidade e fertilidade e as intimamente associadas ao mundo
masculino, responsvel pela eficincia na defesa dos territrios ocupados.
A partir do final do sc. IV a.C. diminui a produo de ex-votos de terracota da rea colonial
grega, ao mesmo tempo em que so introduzidas personagens do mundo profano. Quanto aos ex-votos
de bronze, o repertrio ampliado com a presena de divindades e personagens absorvidas do mundo
oriental, como Cibele, e que, em parte, substituem as anteriores de terracota ligadas fertilidade situao tpica do amlgama formado pelas monarquias asiticas e egpcias.
Comparando a produo de estatuetas de bronze dos mundos etrusco-itlico e colonial grego,
v-se, atravs da produo etrusco-itlica helenstica, abrir o caminho para a intensa produo do
mundo romano, que levou para confins distantes da Europa e Oriente as heranas recebidas dos povos
da Pennsula Itlica.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
36
Fig. 14 - Stiro e Mnade, ornamento de urna cinerria. Sta. Maria Capua Vetere, sc. V a.C..
Londres, Museu Britnico. R. Bianchi-Bandinelli, Etruschi e Italici Prima del Dominio di Roma.
Milo, 1976, n 139.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADAM, A.-M. Bronzes Campaniens du Ve Sicle Avant J.C. au Cabinet des Mdailles.
MEFRA,1980:155-190.
ADAM, A.-M. Bronzes Etrusques et Italiques. Bibliothque Nationale. Paris, 1984.
37
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ADRIANI, A. La Magna Grecia nel Quadro dellArte Ellenistica. La Magna Grecia nel Mondo
Ellenistico. Atti del Nono Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1969). Tarento,
1970:72-104.
BALTY, J. Ch. Dgradations sucessives dun type dHercule italique. Coll. LATOMUS, LVIII (1962):
197-215.
BIANCHI-BANDINELLI , R. Etruschi e Italici Prima del Dominio di Roma. Milo, 1976.
BOUCHER, S. Recherches sur les Bronzes Figurs de Gaule Pr-Romaine et Romaine. BEFAR.
Roma, Paris, 1976.
COLONNA, G. Italica Arte In: Enciclopedia dellArte Antica, vol. IV. Dir. R. Bianchi- Bandinelli e G.
Becatti. Roma, 1963.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
38
ARTIGO
A BUSCA DO RELATO VERDADEIRO: A NARRATIVA HISTRICA DE HERODIANO.
ANA TERESA MARQUES GONALVES
Departamento de Histria - UFG
Muito pouco se sabe sobre a vida particular e pblica de Herodiano, o que faz com que os
historiadores que trabalham com sua obra, intitulada Histria do Imprio Romano depois de Marco
Aurlio, estejam sempre situados no campo das hipteses. Atualmente acredita-se que ele tenha
nascido por volta de l80 d.C., na regio oriental do Imprio, pois escreveu em grego, e que tenha
falecido na mesma regio em torno do ano de 250 d.C. Sua condio social incerta, mas na sua
prpria obra ele afirma que exerceu vrias funes imperiais ou pblicas, durante as quais foi
testemunha de vrios fatos que constituram o objeto de sua narrativa (Herod. I, 2, 5).
Herodiano inicia o seu primeiro captulo com as seguintes palavras:
A maioria dos que se dedicam composio de obras de histria e aspiram manter viva a
recordao de fatos acontecidos no passado, em seu af de fama perene para seu ensino e com
o fim de no passar sem glria e inadvertidamente pelo grande pblico, preocupam-se pouco
com a verdade em seu relatos, mas cuidam sobretudo do vocabulrio e do estilo, porque
confiam que, ainda que suas palavras lidem com a lenda, eles recolhero o aplauso de seu
auditrio e no ser questionada a exatido de sua investigao (Herod. I, l, l)1.
O autor coloca-se, assim, ao menos a nvel do discurso, ao lado de uma tradio
historiogrfica que remonta aos gregos, na qual busca-se os fatos verdadeiros mediante a feitura de
uma investigao criteriosa do que ser relatado. Moses Hadas, por exemplo, ressalta a influncia da
tradio literria grega e a de
1
Pelo fato de Herodiano ter escrito sua obra em grego (koin), abstivemo-nos de apresentar as passagens aqui
citadas no original. Preferimos inseri-las no corpo do texto mediante uma traduo portuguesa, feita por ns a
partir do original grego.
39
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Tucdides, em especial nas obras de Polbio, Tito Lvio, Tcito e Dionsio de Halicarnasso (HADAS,
l950, pp. 226-243). Gostaramos de demonstrar neste trabalho que esta influncia no se limitou s
obras produzidas na Repblica e nos dois primeiros sculos do Imprio, perodos nos quais o gnero
historiogrfico mais se desenvolveu em Roma. Ela permaneceu ativa no III Sculo d.C. e serviu de
referncia, tanto para a obra de Dion Cssio (BOWERSOCK, l973, p.204), quanto para a obra de seu
contemporneo Herodiano.
Mas o que exatamente teria Herodiano retirado dos ensinamentos gregos acerca da confeco
de obras de Histria?
Em primeiro lugar, Herodiano enfatiza que gloriosos e dignos de memria devem ser os fatos
narrados e no os empreendedores da tarefa de relat-los. Tanto que o nome do autor no aparece
nenhuma vez discriminado na narrativa. Ele s aparece expresso junto ao ttulo da obra,
reponsabilizando-se pelo que est escrito. Contudo, participa de forma indireta no relato ao dar
algumas opinies morais e ao mostrar os procedimentos utilizados em suas investigaes. O gnero
histrico serviria, assim, para glorificar os autores dos feitos narrados e no os autores da narrativa
dos feitos.
Em segundo lugar, a Histria, para Herodiano, no o relato de todos os fatos ocorridos, mas
sim a narrao do que considerado importante e digno de glria pelo narrador, que utiliza como
critrios de escolha do que ser narrado: a possibilidade de verificar a veracidade do fato; a grandeza
em si do acontecimento; e a potencialidade didtica da ocorrncia. O bom historiador deve
concentrar a sua ateno sobre os episdios importantes e significativos e organiz-los de uma forma
lgica, para serem compreendidos pelos leitores de sua poca e pelos leitores posteriores. Seguindo
uma cronologia baseada na sucesso dos imperadores, Herodiano preocupa-se mais em fornecer
elementos para a reflexo poltica e sobre as questes relacionadas ao poder, do que em especificar
indubitavelmente o momento em que os fatos ocorreram. Os fatos s se tornam compreensveis se
dispostos de uma forma encadeada cronologicamente.
Segundo Herodiano: Minha inteno relatar o que ocorreu em cada caso, ordenando os
fatos cronologicamente e por reinados (Herod. I, l, 6). Isto porque o encadeamento cronolgico
dos fatos relatados que garante obra uma coerncia lgica e uma ordem de entendimento
fundamentais para que a mensagem da obra seja bem compreendida pelo pblico. A sucesso dos
fatos fundamenta a sua inteligibilidade, ou seja, o que ocorreu antes explica o que houve depois, do
mesmo modo que o futuro confirma as previses e os atos do passado e do presente. Desta forma, as
digresses se caracterizam por explicar fatos passados que, de
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
40
alguma maneira, auxiliam na compreenso dos fatos narrados. Vide, por exemplo, a digresso que
feita ao tempo de Augusto para explicar a fcil entrada de Septmio Severo na Itlia, onde os
cidados estavam desacostumados do uso de armas de combate (Herod. I, 11, 3-6) ou a citao das
guerras civis para explicar o uso de adagas por alguns senadores no III sculo d.C. (Herod. VII, 11,
4).
por isso tambm que Herodiano se preocupa em comear cada livro com um resumo do
anterior; para que a cronologia dos acontecimentos seja respeitada. Mais importante que dat-los
inseri-los numa cadeia causal. Acrescente-se a isto o fato de que a organizao dos acontecimentos
por reinado facilita a discusso acerca do poder de cada soberano, pois pode-se ver o que os bons
imperadores fizeram em relao com as prticas dos maus governantes. Como o autor se preocupa
mais com a mensagem que ficar para a posteridade sobre os cinquenta e oito anos narrados na obra
do que com a exatido das datas, notvel a falta do que chamaramos de preciso no relato. So
comuns as expresses: durante um curto tempo (Herod. I, 6, 1); durante uns poucos anos
(Herod. I, 8, 1); no muito tempo depois (Herod. I, 10, 1); ocorreu por aquele tempo (Herod. II,
6, 3), entre outras. Seguindo uma cronologia causal, Herodiano preocupa-se em fornecer elementos
para reflexo que se interliguem; deste modo mais do que batalhas, que sero o fio condutor das
narrativas dos Brevirios no IV sculo, ele narra costumes, perfis de agentes histricos, conjuraes
de corte, e tudo o mais que possa dar inteligibilidade ao relato e nos quais a natureza humana seja
transformada em exemplo para as geraes vindouras. Um dos critrios de veracidade arrolados por
Herodiano exatamente o fato dos acontecimentos narrados serem necessrios para a compreenso
do que foi dito anteriormente e para o entendimento do que ser dito depois. Se o fato narrado est
servindo para dar seqncia lgica narrativa, isto j serve para demonstrar a sua veracidade.
Em quarto lugar, os fatos devem ser encadeados para transmitir uma mensagem verdadeira
sobre o passado e no de modo a adular ou criticar imperadores e outros agentes, cujo poder e
posio elevada mereceram a ateno do historiador. Herodiano critica os que ressaltam fatos e
situaes no muito importantes para a compreenso da narrativa, visando algum fim diferente da
rememorizao constante de um passado glorioso romano, ao afirmar:
Alguns por inimizades privadas ou por dio aos tiranos ou por adulao ou honra aos
imperadores, cidades ou particulares tm apresentado fatos triviais e sem importncia com uma
fama superior verdade (Herod. I, 1, 2).
41
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
O autor percebeu, assim, o poder das palavras e dos que as manipulam, pois, tanto podem
construir um relato verdadeiro, quanto falso, uma imagem distorcida, ou uma que se aproxime do
real vivido no passado. Pior que no controlar a veracidade por intermdio de tcnicas precisas seria
procurar deliberadamente o engano no lugar da verdade (Herod. III, 7, 3).
Que tcnicas deveriam ser estas a garantir o princpio da veracidade?
Aps criticar historiadores que no se dedicavam a uma investigao exata e cuidadosa dos
fatos e nem se preocupavam com a causalidade discursiva, Herodiano indica como ir proceder para
no repetir tais falhas metodolgicas, isto , que tcnicas ir empregar:
Eu no aceitei nenhuma informao de segunda mo, sem provas, nem testemunhos, mas,
subordinado recente recordao de meus leitores, eu recopiei os dados para a minha histria
com total respeito exatido (Herod. I, 1, 3)
Mas meu objetivo relatar sistematicamente os sucessos de um perodo (...) que abarca o
reinado de muitos imperadores, sucessos dos quais tenho conhecimento especial. Em
conseqncia, somente apresentarei uma narrao por ordem cronolgica das aes mais
importantes (...). No ressaltarei nada por adulao, como faziam os escritores
contemporneos, nem to pouco omitirei nada do que seja digno de meno ou de recordao
(Herod. II, 15, 6-7).
Ento, as tcnicas bsicas seriam:
1o) ao relatar fatos no vivenciados, mas importantes para a compreenso da narrativa, buscar
verificar a autenticidade das informaes mediante a cpia de relatos anteriores j verificados, a
conversa com pessoas mais velhas e que vivenciaram os fatos e a aceitao do relato pelo pblico
leitor, que perceberia se h nele uma inteligibilidade clara. A veracidade assim garantida no
apenas por quem relata, mas principalmente por quem l ou escuta a obra, pois ao tratar de fatos
ocorridos em tempos prximos, a verdade encontra-se subordinada recordao dos leitores.
Herodiano no fornece o nome de seus informantes ou das fontes consultadas. Porm, como afirma
Moses Finley, esse era o comum na historiografia antiga (FINLEY, 1986, pp. 19-47), j que a
veracidade no advm somente da fonte das informaes, mas principalmente da relao que se
constitui entre o autor e o pblico por intermdio do que narrado.
2o) dar primazia aos fatos presenciados pelo narrador, os acontecimentos por ele vistos e
ouvidos. Por isso, Herodiano escolhe narrar fatos contemporneos a si, como afirma:
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
42
Eu escrevi uma histria sobre os fatos posteriores morte de Marco, fatos que vi e escutei
durante toda a minha vida. E de alguns deles participei diretamente em meus postos de servio
imperial e pblico (Herod. I, 2, 5).
O ver e o ouvir eram critrios incontestveis de veracidade para o homem antigo.
3o) ao crer que o conhecimento que est produzindo tem um aspecto durvel, universal e
didtico e, portanto, uma utilidade e uma finalidade prtica, o historiador deve escolher um tema ou
um perodo que interesse s geraes posteriores. a crena numa utilidade prtica que leva os
autores a procurarem a veracidade. Nesta busca do que deve ser mencionado e recordado, Herodiano
indica o porqu de ter escolhido relatar o que viu e ouviu:
Eu acredito que no desagradar aos leitores posteriores o conhecimento de um to grande
nmero de importantes acontecimentos concentrados em um to curto espao de tempo. Em
todo caso se algum passasse em revista todo o perodo que vai de Augusto, quando o regime
romano se transformou em poder pessoal, no encontraria nos cerca de duzentos anos que vo
at os tempos de Marco nem to contnuos relevos no poder imperial, nem tantas mudanas de
sorte em guerras civis e exteriores, nem comoes nos povos das provncias e conquistas de
cidades (...), nem movimentos ssmicos e pestes, nem finalmente vidas de tiranos e
imperadores to incrveis que antes eram raras ou nem sequer se recordavam. Destes
imperadores, uns mantiveram sua autoridade durante bastante tempo, enquanto para outros o
poder foi passageiro; alguns, procurando somente o poder do ttulo e da glria efmera,
rapidamente foram derrotados. Durante um perodo de sessenta anos, o Imprio Romano
esteve em mos de mais senhores do que o tempo exigia, e produziu um enorme nmero de
situaes cambiantes e surpreendentes (Herod. I, 1, 3-5).
Os fatos narrados tambm recebem veracidade pelo carter de excepcionalidade e de
grandeza que o autor busca lhes imputar. Como sempre, so as situaes de mudanas rpidas, num
curto espao de tempo, que despertam a ateno do historiador. Os fatos so relevantes e dignos de
nota por assinalarem modificaes profundas e relativamente rpidas na condio do corpo cvico
organizado (MOMIGLIANO, 1984, p.52). Frente importncia da narrativa, a preocupao
metodolgica se constitui num elemento a mais para garantir a utilidade do relato para as prximas
geraes.
43
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
4o) para garantir a veracidade de uma narrativa to fundamental e para poder perceber a
cadeia lgica que liga os fatos e que garante a sua inteligibilidade, o historiador deve dar um espao
temporal entre o momento em que os fatos ocorreram e o momento em que ele os relata. Herodiano
s narra os fatos ocorridos at 238 d.C., apesar de ter morrido bem depois. Acreditamos que isto
indica a necessidade desta distncia temporal, para que o narrador tenha condies de identificar
como os fatos devem ser relatados para que convenam o pblico.
5o) no inserir fatos que no sejam importantes para a compreenso do relato e de sua
mensagem moral e, ao mesmo tempo, no omitir nada que seja digno de meno e de recordao. O
relato deve ser equilibrado entre omisses intencionais e fatos dignos de integrarem o conjunto de
exempla romanos. Da Histria de Herodiano no ficam de fora as lendas, os orculos e os sonhos. As
lendas descritas so vistas como mitos historicizados, na expresso de Jean Bayet (BAYET, s.d.,
p.58), ou seja, so estrias que hoje ns identificamos como lendas, mas que na poca imperial
tinham sua veracidade garantida pela tradio e atestada pela repetio, e que foram includas na
trama histrica com um valor moral e tico. A lenda tem lugar no relato histrico quando auxilia na
explicao dos fatos ocorridos e apresentada com suas mltiplas verses. Para os romanos, ela
preenchia as lacunas de seu conhecimento sobre o passado e deveriam fazer parte da memria
poltica e cultural junto com os fatos propriamente histricos. Por exemplo, ao narrar a causa dos
romanos venerarem a Dea Mater, o prprio Herodiano afirma que: Talvez seja uma exposio
cheia de fantasia, mas oferecer uma informao nada desprezvel para os que no estejam
familiarizados com a histria dos romanos (Herod. I, 11, 1-5).
Os orculos e os sonhos, por sua vez, s so relatados quando foram confirmados pelos
acontecimentos posteriores. Aps seu relato, Herodiano sempre faz questo de enfatizar que eles
realmente indicaram algo que se efetivou, demonstrando a pertinncia de seu relato, pois
estimularam as aes humanas. Ao relatar os sonhos e os orculos que previram a ascenso ao poder
de Septmio Severo, Herodiano afirma: Se reconhece que todos estes prognsticos no se
equivocaram e so verdadeiros quando os fatos posteriores lhes do razo (Herod. II, 9, 3-7).
Estas incluses, portanto, no colocavam em perigo a veracidade e a pertinncia do relato.
6o) o historiador no precisa necessariamente buscar uma verdade geral e nica, renunciando
s verses mltiplas, optando sempre pela verso mais verossmil, mais crvel e semelhante ao real
vivido no passado. Herodiano permite a primazia da dvida e do questionamento, apresentando
vrias verses para um mesmo fato e permitindo que o leitor se incline pela que lhe parea mais
verdadeira ou mais provvel. Por exemplo, ao falar de Pescnio Nigro, Herodiano afirma:
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
44
Tem quem opine que a causa de Nigro (de vencer Severo), trado por Emiliano, esteve
condenada ao fracasso desde suas origens. (...) Uns afirmam que Emiliano conspirou contra
Nigro porque o invejava (...) Outros opinam que foi persuadido por seus filhos (...) (Herod.
III, 2, 3).
O prprio Herodiano no opta por nenhuma das duas verses possveis para a traio de
Emiliano, inserindo ambas em sua narrativa e lhes conferindo igual valor. No importa qual das duas
a mais verdadeira, pois ambas ensinam quem as l. Ambas so relatos de maus exemplos que
devem ser evitados: quer agir por inveja, quer se deixar levar pela opinio dos mais jovens e menos
experientes. Herodiano chega mesmo a admitir em alguns momentos que desconhece certas
informaes capazes de dotar um acontecimento narrado de uma veracidade indubitvel. Por
exemplo:
No sabemos se Maximiliano desconhecia o que se tramava ou se estava secretamente
implicado nos preparativos (do motim contra Severo Alexandre) (Herod. VI, 8, 5) e No
sabemos se refletia a verdade ou se era uma inveno do Maximiano (o perigo brbaro); no se
pode diz-lo com exatido, posto que no houve ocasio de prov-lo (Herod. VII, 1, 8).
Acreditamos que estas passagens, ao invs de um descuido com a questo da veracidade e da
objetividade do relato, refletem uma preocupao do autor em separar o que foi comprovado e o que
no pde ser provado, mesmo mediante uma exaustiva investigao de provas e testemunhos. O
primado da dvida e da controvrsia no nos parece ser uma falha metodolgica do autor, mas sim
uma preocupao tcnica em separar o provvel/possvel/desconhecido do confirmado por sua
investigao ou por sua viso/audio.
Seguindo estes princpios e tcnicas historiogrficos de composio do discurso denominado
de carter histrico, expressos em sua prpria obra, Herodiano acredita estar fornecendo ao seu
relato dos acontecimentos, ocorridos entre 180 e 238 d.C., um cunho de veracidade e de objetividade
e um valor de utilidade didtica, mnemnica e poltica para a aristocracia romana, o seu provvel
pblico leitor, que compartilhava com ele o poder de construir a memria poltica romana. Como
afirma Hannah Arendt (ARENDT, 1988, pp.72-79), todas as coisas que devem sua existncia aos
homens, tais como obras, feitos e palavras, so perecveis, como que contaminadas com a
mortalidade de seus autores. A capacidade humana para dotar suas obras, feitos e palavras de alguma
permanncia e impedir sua perecibilidade era a sua recordao constante. atravs da Histria que
ocorre essa permanncia temporal. A Histria acolhe em sua memria aqueles mortais que atravs de
45
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
feitos e palavras se provaram dignos da imortalidade, e sua fama eterna significa que eles podem
permanecer na companhia das coisas que duram para sempre. Cabe, portanto, ao historiador
Herodiano identificar que fatos e personagens merecem a imortalidade pela recordao e garantir a
veracidade e a pertinncia moral e didtica do que passar, por critrios de forma e contedo, a
integrar a memria poltica dos romanos.
BIBLIOGRAFIA
A) Fonte
HERODIANO. Historia del Imperio Romano despus de Marco Aurlio. Traduccin y notas por
Juan J. Torres Esbarranch. Madrid: Gredos, 1985.
___________. Histoire de lEmpire Romain aprs Marc-Aurle. Traduit et comment par Denis
Roques. Paris: Les Belles Lettres, 1990.
___________. Storia dellImpero Romano dopo Marco Aurelio. Testo e versione a cura de Filippo
Cassola. Firenze: Sansoni, 1967.
B) Obras
ANDR, J.M., HUSS, A. La Historia en Roma. Madrid: Siglo XXI, 1975.
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. So Paulo: Perspectiva, 1988.
BAYET, Jean. La Religion Romana. Madrid: Cristiandad, s.d.
BOWERSOCK, G.W. Greek Intellectuals and the Imperial Cult in the Second Century A.D. Le
Culte des Souverains dans l Empire Romain. Genve: Fondation Hardt, 1973. t. 19. pp.179206.
BURY, J.B. The Ancient Greek Historians. London: Macmillan, 1909.
FINLEY, Moses I. Historia Antigua: problemas metodologicos. Barcelona: Crtica, 1986.
HADAS, M. A History of Greek Literature. New York: Columbia University Press, 1950.
LACROIX, B. L Histoire dans l Antiquit. Paris: J. Vrin, 1951.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
46
MOMIGLIANO, A. L Histoire entre la Mdicine et la Rhtorique. In: GADOFFRE, G. (Dir.)
Certitudes et Incertitudes de l Histoire. Paris: PUF, 1987, pp.31-41.
_______________. La Historiografia Griega. Barcelona: Crtica, 1984.
_______________. Problmes d Historiographie Ancienne et Moderne. Paris: Gallimard, 1983.
PIRES, F.M. Histria e Poesia. Revista de Histria, So Paulo, n.121, pp.27-44, ago./dez. 1989.
STARR, R.J. The circulation of Literary Texts in the Roman World. The Classical Quarterly,
Oxford, Oxford University Press, v.37, n.1, pp.213-223, 1987.
WEIL, R. Naissance et Mort de la Verit Historique dans la Grce Antique. In: GADOFFRE, G.
(Dir.) Certitudes et Incertitudes de l Histoire. Paris: PUF, 1987, pp. 19-28.
47
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ARTIGO
A QUESTO INDGENA EM MINAS GERAIS:
UM BALANO DAS FONTES E DA BIBLIOGRAFIA 1
CRISOSTON TERTO VILAS BAS
Depto. de Histria - UFOP
No Arquivo Pblico Mineiro h cpia de um mapa da Capitania de Minas Gerais onde se
podem distinguir os limites da Comarca de Sabar e as terras adjacentes2. Encimando o mapa,
maneira de um frontispcio, uma imagem emoldurada destaca-se como metfora da conquista e
ocupao do territrio interior.
A imagem no mapa identifica os atores: um cartgrafo e um ndio. O cartgrafo, com seu
compasso, estabelece as medidas do reino, indica os acidentes e nomeia a terra. Vestido com suas
roupas de reinol, sentado e circunspecto, seus olhos miram com ateno seu gesto de assinalar no
papel as largas terras do oeste. Diante dele, sorrateiramente um ndio se lhe ope de arco flexionado.
Este se posta do lado oeste, e sua flecha dirigida para um ponto enigmtico entre o corpo e o papel
de seu inimigo.
O mapa identifica parte da terra que, por aquela poca, no mais era povoada em derredor
de diversissimas geraes de Indios muy barbaros e crueis3 conforme relata a crnica do Pe. Joo
de Azpilcueta Navarro que por ali teria andado entre os anos de 1553 e 1555. No mais tantas tribos,
mas o ndio no emblema do mapa da Comarca de Sabar um testemunho histrico de que em fins
do sculo XVIII ainda permanecia por ali, como obstculo civilizao, grupos
Este estudo foi apresentado no Seminrio Mariana, trezentos anos: um balano da produo
historiogrfica, promovido pelo Laboratrio de Pesquisa Histrica do DEHIS-UFOP, Casa SetecentistaPatrimnio Cultural/IBPC e Arquivo Histrico da Cmara Municipal de Mariana. Mariana, 13-15 de outubro
de 1994.
2
Trata-se do Mappa da Comarca do Sabar por Jos Joaquim da Rocha, 1778.
3
Como se pode ler na Carta do Pe. Joo de Aspilcueta, escrita em meados do sculo XVI. Ver Revista do
Arquivo Pblico Mineiro. 6 (4): 1159-1162, 1901.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
48
sobreviventes das guerras ofensivas empreendidas durante o transcurso dos sculos XVII e XVIII.
Considero esse mapa e seu emblema um mito iconogrfico da conquista territorial, onde os
atores so claramente identificados e seus lugares sociais bem discernidos. O ndio est ali e resiste.
E, no entanto, para a historiografia mineira, os indgenas em Minas Gerais tornaram-se como que
invisveis. Eles inexistem.
Assim ocorre com os estudos demogrficos sobre populaes mineiras que desconhecem
inteiramente a presena das populaes indgenas e, mais do que isso, seu papel na histria poltica e
social da Capitania e da Provncia.
Do mesmo modo, a reviso historiogrfica que relativizou o lugar da economia do ouro no
complexo econmico das Gerais e indicou a importncia das atividades agrrias e pastoris, pouca
ateno prestou s formas assumidas pelo trabalho indgena na organizao desse complexo
econmico.
A histria administrativa tampouco analisou a questo relacionada conquista de territrios
ocupados pelo indgena. No examinou o lugar destinado ao ndio desejvel na organizao de
foras-tarefas para o combate ao ndio selvagem e antropfago, identidade genrica para todos os
grupos que se interpunham aos adventcios nos diferentes perodos da histria mineira4.
No diferente a histria da igreja que pouca ateno ainda prestou ao papel sobrelevante do
clero secular nas estratgias de catequese e civilizao dos grupos indgenas de Minas Gerais,
particularmente dos habitantes das ubrrimas matas mineiras do vale do Mucuri e do Rio Doce,
para onde se encaminharam, desde meados do sculo XVIII, padres missionrios, sobre os quais as
histrias dos municpios dessa regio tanto falam.
As populaes indgenas de Minas Gerais so invisveis at mesmo para aqueles
pesquisadores influenciados pelos paradigmas da nova histria, esse vasto leque que engloba os
estudos orientados pela idia de cultura, cotidiano e mentalidade, e que procuram atingir o homem
comum, os que no deixaram de si testemunhos diretos.
Exemplo raro de estudo sobre os presdios e seu papel no controle das populaes indgenas a monografia
de bacharelado de Elizabeth Salgado, Aldeamento Indgena da Regio da Mata Mineira - Presdios de Abre
Campo, Rio Pomba e Cuiet (1730-1850). - Mariana: DEHIS-UFOP, 1986. (Indito). Estudo largamente
influenciado pela tipologia estabelecida por Laura de Mello e Souza em seu Desclassificados do ouro: a
pobreza mineira no sculo XVIII. - Rio de Janeiro: Edies Graal, 1982.
49
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
E sem dvida dessa nova histria, com o consrcio da antropologia, que se espera o
mximo de ateno para a questo indgena em Minas Gerais.
No somente porque necessrio rever o passado e recuperar a memria dos vencidos, mas
porque ainda entre ns esto os sobreviventes do genocdio e do etnocdio, e deles podemos nos
aproximar, oferecendo-lhes agora a memria cultural e poltica de seus antepassados, inscrita nos
nossos arquivos.
Minas Gerais possui atualmente os seguintes grupos indgenas5: os Xakriab6, com 6.000
indivduos ocupando uma rea de 46.000 he., demarcada no norte de Minas, prximo da cidade de
Itacarambi; os Patax, com cerca de 200 indivduos ocupando uma rea demarcada de 3.200 he.,
prxima de Carmsia, no Vale do Ao; os Maxacali, com cerca de 600 indivduos ocupando duas
aldeias divididas por terras invadidas por fazendeiros no municpio de Bertpolis, no Vale do
Mucuri; os Krenk, tambm com 200 indivduos, aproximadamente, ocupando perto de Resplendor,
no Vale do Rio Doce, uma rea de somente 120 he. dos 4.000 he. que lhes pertencem e que apesar de
j demarcada pela FUNAI, encontra-se sob o domnio de fazendeiros; os Pandakur, que migraram
de Pernambuco e que ocupam 60 he. de terras no municpio de Coronel Murta, no Vale do
Jequitinhonha. Tambm os indgenas Kaxix, que ora vm reivindicando sua identidade tnica,
moradores nas proximidades de Pompu, na microrregio de Trs Marias.
Os Kaxix exemplificam esse movimento recente e que se manifesta com relativa
intensidade pelo pas afora, em que os povos indgenas em diferentes graus de aculturao ou
caboclamento, reagem na defesa de seu patrimnio territorial e cultural7. Note-se que a populao
indgena em Minas Gerais est, hoje, em torno de 7.000 indivduos, quando apenas uma dcada atrs
era de 5.197. Como em todo o pas, observa-se que vem ocorrendo em Minas o fenmeno da
recuperao demogrfica.
Esse fenmeno de resistncia e recuperao tnicas impe-se como mais uma razo para que
sejam formuladas perguntas relevantes sobre os povos que at incio do dezoito eram maioria sobre
esse vasto territrio das Gerais e que, j em
As informaes sobre as populaes indgenas atuais, apresentadas aqui, me foram fornecidas por Marilda
Quitino Magalhes, do CIMI - Conselho Indigenista Missionrio (BH-MG), a quem agradeo.
6
Na grafia dos nomes dos povos indgenas sigo a conveno estabelecida em 1953 pela Associao Brasileira
de Antropologia que, entre outras normas, indica que os nomes de povos e de lnguas indgenas sejam
empregados como palavras invariveis, sem flexo de gnero nem de nmero. Ver Revista de Antropologia. 2
(2):150-154, 1954.
7
GOMES, Mrcio Pereira. Os ndios e o Brasil. - Petrpolis: Vozes, 1991, p. 61.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
50
fins daquele sculo, foram reduzidos minoria e encurralados pelos diferentes agentes
neobrasileiros8 de ocupao.
Essas perguntas, a cincia histrica no as fez, infelizmente. Essa indigncia bibliogrfica ,
por decorrncia, tambm temtica e conceitual. Assim, os grandes panoramas histricos das Minas
que acompanham a linhagem inaugurada por Diogo de Vasconcelos9 mais desinformam, por sua
perspectiva cannica. Situa-se neste plano a obra de Oiliam Jos, Indgenas de Minas Gerais, que
no oferece algo como seu til Historiografia Mineira10. Seu Indgenas de Minas Gerais repete, no
essencial, as informaes pouco precisas de Nelson de Senna11. Alm disso, expressa-se num tom
que faz eco aos esteretipos tnicos presentes nos documentos que manuseou. Do mesmo modo, o
trabalho de Daniel Carvalho, Formao Histrica de Minas Gerais, pouco acrescentou ao lugar
comum de que nas bandeiras paulistas, se os chefes e os oficiais possuam sangue ndio, o grosso
da tropa era constitudo por ndios das fazendas, das aldeias prximas e at das redues
jesuticas12.
Mesmo um autor que representou novidade nos estudos mineiros, como Charles R. Boxer,
repete o mote do sangue ndio correndo nas veias dos mineiros:
Embora sangue europeu e africano predominassem no cadinho racial de Minas Gerais,
correntes paulistas e amerndias no eram de forma alguma insignificantes (...) houve alguns
casamentos entre os dois grupos, e algumas famlias paulistas foram absorvidas na populao
geral, depois de uma ou duas geraes. Recorrendo lista de escravos nos arquivos de Minas
Gerais, tambm temos revelada a presena de numerosos escravos amerndios. A maior parte
era designada sob o nome genrico de Carijs e, sem dvida, quase todos pertenciam ao sexo
masculino. Deve ter havido, contudo, algumas mulheres, cujo sangue, com toda a certeza, veio
a mesclar-se com o das famlias de seus senhores13.
Chamo de neobrasileiros os agentes povoadores que chegaram aps o descobrimento.
necessrio fazer justia a Diogo de Vasconcelos. Sua perspectiva est superada em vrias dimenses, mas
ele continua a ser fonte de referncia pela abrangncia e intuio com que tratou diversos temas. Seu grande
defeito talvez esteja em que suas informaes no sejam acompanhadas da identificao das fontes que
manuseou.
10
JOS, Oiliam. ndigenas de Minas Gerais. - Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1965. Historiografia
Mineira tambm foi publicado pela Imprensa Oficial, em 1987.
11
SENNA, Nelson de. Sobre Ethnographia Brasileira - Principaes povos selvagens que tiveram o seo
habitat em territrio das Minas Geraes. Revista do Arquivo Pblico Mineiro. 25 (1): 337-355, 1937. Nelson
de Senna arrola 177 grupos. Mas tambm no oferece suas fontes.
12
CARVALHO, Daniel. A Formao Histrica de Minas Gerais. - Rio de Janeiro: Mec, 1956. p. 12.
13
BOXER, Charles. R. A Idade do Ouro do Brasil. - So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1963, p. 154-155.
9
51
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Nada de novidadeiro em Boxer, seno sua afirmao peremptria sobre a presena da mo-de-obra
indgena escrava tambm nas atividades de minerao. Presena que, por sinal, j podia ser lida em
Antonil em 171114.
As pesquisas histricas no tm feito justia relevncia das populaes amerndias, mas o
mesmo acontece com os estudos antropolgicos.
Os estudos atuais que esto sendo formulados pela antropologia, tomada por uma profunda
cliofilia,15 tm-se ocupado muito pouco com as populaes indgenas em Minas Gerais16. De
destaque mesmo, podem-se assinalar as pesquisas sobre os ndios Maxacali realizadas na dcada de
60 por trs antroplogos. Trata-se de ndios Maxacal: resistncia ou morte, de Marcos Magalhes
Rubinger, na poca professor da UFMG, Maria Stella de Amorim e Snia de Almeida Marcato17.
Esses pesquisadores no puderam nos oferecer o que prometeram devido ao furor da ditadura que,
em 1964, prendeu e exilou Rubinger, idealizador do Projeto de pesquisa Maxacal, inspirado no
conceito de frico intertnica de Roberto Cardoso de Oliveira, outro antroplogo cujos trabalhos
tm sido de grande relevncia para a histria etnolgica.
Vale tambm assinalar os importantes estudos etnogrficos e lingsticos realizados na
dcada de 40 pelo etnlogo paraense Rosrio Gurios,18 elogiados inclusive por Herbert Baldus.
Gurios registrou aspectos lingsticos dos ndios botocudos, entre outros, que permitem em linhas
gerais restabelecer unidades gentico-culturais relevantes para a confeco de laudos tnicos, esses
14
Das cidades, vilas, recncavos e sertes do Brasil, vo brancos, pardos e pretos, e muitos ndios, de que os
paulistas se servem. Ver ANTONIL, Andr Joo. Cultura e Opulncia do Brasil. - Belo Horizonte: Itatiaia;
So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1989. p. 167.
15
Essa uma afirmao de Eduardo Viveiros de Castro, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e pode ser lida
na resenha que fez do livro Histria dos ndios no Brasil. Ver. CASTRO, Eduardo Viveiros de. Histrias
Amerndias. Novos Estudos Cebrap. (36): 22-33 , julho de 1993.
16
Entretanto, o mesmo no se d em relao aos grupos tnicos de outras regies do Brasil. Com uma
orientao histrica temos o excelente ndios da Amaznia, de Maioria a Minoria (1750-1850) - Petrpolis:
Vozes, 1988, de Carlos de Arajo Moreira Neto, talvez o mais informado antroplogo brasileiro sobre a
histria etnolgica do Brasil. E mais recentemente, os estudos dirigidos pela antroploga Manuela Carneiro da
Cunha, publicados em Histria dos ndios no Brasil.- So Paulo: Companhia das Letras/Secretaria Municipal
de Cultura/FAPESP, 1992. Mas antes desses, temos os inspiradores estudos clssicos da etnologia histrica
brasileira realizados por Florestan Fernandes, Curt Nimuendaj, Egon Schaden e Dacy Ribeiro, entre outros.
17
Ver RUBINGER, Marcos Magalhes. ndios Maxacali: resistncia ou morte. - Belo Horizonte: Interlivros,
1980. Apesar do livro trazer na capa e no ndice uma nica autoria, os captulos identificam corretamente as
outras autoras.Rubinger morreu em 1973, no exlio.
18
Gurios publicou diversos estudos lingsticos sobre grupos indgenas de Minas Gerais. Ver, p.ex.
GURIOS, Rosrio Farani Mansur. Entre os botocudos do Rio Doce. Gazeta do Povo, Curitiba, 18, 10 e 21
de junho de 1944. Cf. o resumo feito por H. Baldus na Revista do Arquivo Municipal, So Paulo (96): 217218, 1944.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
52
instrumentos necessrios para a reconstruo da identidade tnica de grupos que se desviram
caboclos.
Conclui-se, portanto, que se conhece de menos apesar da abundncia de fontes e documentos.
Na abundncia de fontes, destacam-se aquelas j publicadas e de fcil acesso tais como as
descries dos viajantes (Saint-Hilaire19, Wied,20 Pohl,21 Spix e Martius,22 Freireyss,23 entre outros)
e os extraordinrios relatrios de engenheiros do sculo XIX, como o de Pedro Victor Reinault,
publicado em 1846 na Revista do Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro24 ela mesma, em seus
diversos volumes, um manancial inestimvel para a pesquisa sobre indgenas de Minas Gerais; bem
como os relatrios dos Diretores de ndios, como o de Jos Janurio de Cerqueira, de 1886, inclusos
como anexos em relatrios dos Presidentes da Provncia.25
Entre os documentos, sobressaem naturalmente aqueles depositados nos diversos arquivos
mineiros. Documentos de manuseio gravemente difcultado por
19
Ver, p.ex., SAINT-HILAIRE, Auguste De. Viagem pelas provncias de Rio de Janeiro e de Minas Geraes. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1975 . As diversas obras de
Saint-Hilaire contm informaes sobre os ndios Botocudo, Maxacali, Malali, Monox, Makuni e Coroado.
20
WIED, Maximilian, Prinz von. Viagem ao Brasil. - Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo, 1989. Informaes sobre os Botocudo.
21
POHL, Joo Emmanuel. Viagem no interior do Brasil, empreendida nos anos de 1817 a 1821. - Rio de
Janeiro: INL, 1951. 2 vols. No segundo volume encontram-se os relatos sobre os Botocudo, os Maxacali e os
Moaquanhis.
22
SPIX, Johan Baptist e MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. - So Paulo:
Editora da Universidade de So Paulo, 1981. 3 vols. Traz importantes informaes etnogrficas sobre diversos
grupos indgenas.
23
FREIREYSS, Georg Wilhelm. Viagem ao interior do Brasil. - Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo: Editora
da Universidade de So Paulo, 1982. Um dos mais interessantes relatrios de viagem do incio do sculo XIX.
24
REINAULT, Pedro Victor. Relatorio da exposio dos rios Mucury e Todos os Santos. Revista do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, Rio de Janeiro, 8: 425-452, edio de 1867 (2). Nesse relatrio
encontram-se importantes descries etnogrficas sobre os ndios Puri, Patax e Botocudo.
25
Os relatrios dos Presidentes da Provncia so fonte importante para o estudo da poltica administrativa em
relao aos ndios. Neles e nos anexos, podem-se obter informaes valiosas sobre poltica de aldeamento, de
ocupao e trabalho indgenas, de educao e mesmo estatstica. Por exemplo, no relatrio de J. J. Cerqueira
obtm-se dados demogrficos e ocupacionais sobre os ndios do aldeamento de N. Senhora dos Anjos de
Itambacury. No aldeamento moravam 1002 ndios botocudos, provenientes de diversos sub-grupos. E a
informao de que, em 1886, os prprios botocudos do notcia de mil nmades que percorrem o interior
desta extensa floresta banhada pelos rios S. Matheus, Itambacury e seus afluentes. Ver. Anexo E (pp. 3-14)
do Relatrio com que o Exm. Sr. Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella, Ex-Presidente da Provncia
de Minas Gerais Passou a Administrao ao Exm. Sr. Dr. Antonio Teixeira de Sousa Magalhes, 1 VivePresidente da mesma Provncia. Ouro Preto: Typographia de J. F. de Paula Castro, 1886. Agradeo ao Prof.
Renato Pinto Venncio por ter chamado minha ateno para a importncia desses relatrios.
53
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
sua disperso geogrfica e inexistncia de guia sistemtico26 so inestimveis, caso o pesquisador
esteja envolvido com a etno-histria, ou seja, o estudo do regime de historicidade dos grupos tribais
ou tnicos, de sua inscrio na temporalidade. Assim, por exemplo, quando o etno-historiador se
depara com a vasta documentao relacionada com a atuao de Guido Thomaz Marlire, chama-lhe
a ateno no as vicissitudes do civilizador dos botocudos, como a ele se referiu a histria
cannica, mas antes a riqueza de detalhes sobre as relaes contraditrias que num momento unem
os ndios e o diretor contra os colonos e, em outro, unem colonos e ndios contra diretor27. Mesma
importncia adquire as correspondncias entre os encarregados da administrao das circunscries,
particularmente aqueles que, por sua riqueza de detalhes sobre as relaes entre administradores,
colonos e ndios aldeados, nos oferecem subsdios para a montagem de uma descrio densa do
cotidiano de uma microrregio mineira.
Inscreve-se neste caso, de forma exemplar, o rico acervo de documentos relacionados aos
aldeamentos do Rio Pomba. Por exemplo, as instrues de Antnio Jos Dias Coelho, um homem de
grande sensibilidade que, enviado para investigar as aes de portugueses com as naes de ndios
Croatos redige, na prpria aldeia de So Janurio de Ub, um documento que um monumento:
(...) eu me encho de horror e espanto pelo que tenho visto e observado pessoalmente. (I)
Tendo S. A. Real feito uma considervel e avultadssima despesa a benefcio desses infelizes e
miserveis ndios, (...) nomeando-lhes proco e diretor em data de novembro de 1764, pouco
ou nenhum adiantamento lhe diviso, pois que apesar de alguns, todos os mais ignoram
inteiramente os mistrios de nossa Santa Religio e o idioma portugus. (II) Devendo o seu
reverendo Proco, e o Diretor defender as terras que lhe so dadas para a sua residncia e a
cultura, consentem que estes mesmos ndios as negociem com os portugueses a troco de
cachaa e de insignificantes bagatelas enganando desta forma os miserveis com
quinquilharias sem valor para lhes apanharem as suas aldeias com o ttulo de compra, quando
nem eles tm autoridade de as vender, nem os portugueses de as comprar. (III) Eu mesmo
tenho visto e observado que aqueles portugueses mais velhacos e astutos tm tido a
providncia que depois de lhas tomarem as suas aldeias, no os correm de sua vizinhana,
mas soltam-lhe a sua criao para lhes destruir o milho, batatas e bananas a fim de que os
miserveis se ausentem e desta forma lhes tm tomado
26
Ainda est para ser confeccionado um guia completo das fontes mineiras. Entretanto, recentemente foi
publicado pelo Ncleo de Histria Indgena e do Indigenismo da USP um importante instrumento de pesquisa
que traz informaes sobre o acervo do Arquivo Pblico Mineiro. Cf. MONTEIRO, John Manuel
(Coordenador). Guia de Fontes para a Histria Indgena e do Indigenismo em Arquivos Pblicos Acervos
das Capitais. - So Paulo: NHII/USP, 1994.
27
Ver a documentao relativa ao diretor na Revista do Arquivo Pblico Mineiro, vols. 10, 11, 12.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
54
todas as suas aldeias e posto em tal desesperao de fugirem e entranhar-se outra vez pelas
matas (...) (IV) Sou mais informado que muitos portugueses os costumam alugar para o seu
trabalho e que depois de servidos no s lhes no pagam o seu suor, o que devem logo fazer,
como lhes do pancadas e os maltratam e correm ameaando-os a castigos. (...) / Aldeia de
Ub, 31 de maio de 1810 / Antnio Jos Dias Coelho / Brigadeiro-Inspetor e Deputado da
Junta.28
Junte-se a este documento as listas nominativas dos habitantes da Capela de So Janurio de
Ub e de So Joo Batista do Prezdio29, da Freguesia de Camargos30 e da freguesia de Rio Pomba31,
depositadas no Arquivo da Cmara Municipal de Mariana, listas onde se identificam os moradores
internos e externos das freguesias, o sexo, a idade, se casado ou solteiro e a ocupao.
Documentos que reportam situao dos aldeamentos mineiros no incio do sculo XIX e de grande
valor para o estudo demogrfico da Capitania.
No se pode deixar absolutamente de lado o acervo do Arquivo Eclesistico da Arquidiocese
de Mariana, em especial a documentao relativa aos procos da freguesia, como os do Padre
Manoel de Jesus Maria, filho de Joo Antunes, branco, e da africana Maria, natural de Angola32,
situao a que o Processo de Habilitao s Ordens Sacras no faz segredo, e que nomeado CapeloCura assumir ao longo de sua vida os ttulos de Cnego Doutoral na Catedral de Mariana,
Comissrio do Santo Ofcio e da Bula da Santa Cruzada, Protonrio Apostlico de Sua Santidade,
Examinador Sinodal, Juiz das Justificaes da Guerra e Vigrio Capitular do Bispado. Prestgio tal
junto a D. Fr. Domingos da Incarnao Pontevel permitiu-lhe fazer com que a Arquidiocese de
Mariana tivesse o privilgio histrico de ordenar um dos padres ndios da Igreja Brasileira. Trata-se
do Pe. Pedro da Mota, ndio Croato que estudou no Seminrio de Mariana e foi ordenado em 1790,
aqui em Mariana, pelo prprio Arcebispo33.
28
Apud CASTRO, Celso Falabella de Figueiredo. Os Sertes de Leste; achegas para a histria da Zona da
Mata. - Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1987, pp. 15-19 infra. Infelizmente, esse autor no indica o cdice e
o Arquivo onde se encontra este e o documento indicado mais frente (ver nota 33). No consegui localiz-los
no Arquivo Pblico Mineiro.
29
Ver cd. 398 do Arquivo da Cmara Municipal de Mariana.
30
Ver cd. 522 do Arquivo da Cmara Municipal de Mariana.
31
Ver cd. 701 do Arquivo da Cmara Municipal de Mariana.
32
Ver Processo de Habilitao De Genere, Vitae et Moribus - Arquivo Eclesistico da Arquidiocese de
Mariana. Armrio 09 - Pasta 1576.
33
Sobre padres ndios puros, assim informa Arlindo Rubert: Padres ndios puros foram descobertos os
seguintes: Pe. Antonio Alvares da Cunha, natural de Extremoz, Capitania de Pernambuco, que foi coadjutor
de S. Amaro, ordenado por volta de 1773 com o Pe. Antonio Dias da Fonseca, ambos ndios; Pe. Jos Inacio
da Silva Pereira, ndio guarani, filho legtimo de Apolinrio da Silva Pereira e Adriana Maurcia, natural da
freguesia de S. Antonio da Guarda Velha, no Rio Grande do Sul, ordenado no Rio de Janeiro a 20/09/1783;
Pe. Antnio Jos de Arajo Silva, filho legtimo de Joo Caj e Maria Ubap, ndios guaranis da aldeia de S.
Nicolau de Rio Pardo, ordenado no Rio de Janeiro a 12/03/1785 por D. Jos Justiniano Mascarenhas Castelo
Branco; Pe. Filipe (sic) da Mota, da diocese de Mariana, discpulo do Pe. Manuel de Jesus Maria, missionrio
dos ndios coroados, ordenado em 1790 em Mariana por D. Fr. Domingos da Incarnao Pontevel. Cf.
RUBERT, Arlindo. A Igreja no Brasil - Expanso Territorial e Absolutismo Estatal (1700-1822). Vol. III Santa Maria (RS): Editora Pallotti, 1988. p. 291. Sobre o Pe. Pedro da Mota ver o Processo de Habilitao
(Armrio 10 - Pasta 1736) no Arquivo Eclesistico da Arquidiocese de Mariana. Deixo aqui registrado meu
agradecimento ao diretor desse Arquivo, Monsenhor Flvio Carneiro, que me franquou seu acervo
bibliogrfico pessoal e me orientou na busca desse documento precioso relativo ao Pe. Pedro da Mota sobre
quem escrevo uma biografia etno-histrica.
55
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Tem-se ainda documentos que assinalam o ponto de vista dos colonos e permitem observar a
complexidade das relaes entre brancos e ndios numa regio de aldeamento. Este o caso da
petio que os moradores da microrregio do Rio Pomba enviaram Rainha, em 1782. Nesse
documento, apesar do filtro ideolgico e do portugus empolado ou rstico do escrivo, l-se um
manifesto dos colonos pobres nos seguintes termos:
Dizem os possuidores de terras, dentro dos limites da Freguesia do Mrtir So Manoel dos
Sertes do Rio Pomba e Peixe, dos ndios Corops e Coroatos da Capitania de Minas Gerais,
alguns dos suplicantes j existentes na dita Freguesia, e outros que se esto estabelecendo, para
se transporem a ela, maiormente por que o Governador e o Capito-General desta Capitania, a
requerimento do Vigrio dela, manda que cada um que tiver terras ponha nelas alguma gente
para assim melhor se povoar a dita Freguesia, (...) o Revmo. Vigrio da dita Freguesia, Manoel
de Jesus Maria, alcanou do Governador e Capito-General, que ento era Luis Diogo Lobo da
Silva, favorecedor da cristianizao dos ndios, despacho, para que preferissem em possuir
terras dos sertes da dita Freguesia, aquelas pessoas que ajudassem a estrada de que o dito
Vigrio tanto carecia, por naquele tempo andar atualmente a p o dito Vigrio, proferindo que
V. M. as faculta gratuitamente aos que concorrem com o seu exemplo, diligncia, zelo e
caridade para a reduo e cristianismo dos preditos ndios; e animando o dito Vigrio aos
suplicantes com este despacho fizeram o caminho do lugar da Aldeia, em que se erigiu a
Matriz, para sair povoao com muito trabalho, por naquele tempo tudo estar muito bravo.
Outros dos suplicantes tm o merecimento de acompanharem a p, com sacos s costas, por
remotas aldeias, com risco de vida. E de prximo alguns dos suplicantes fizeram um novo
atalho, mais breve, para sair do aldeamento da dita Matriz para a Capital. E como se acham
com estes merecimentos e j vo principiando a haver dvidas, e comumente os que se
arriscam a estas diligncias laboriosas e de risco de vida so os pobres e humildes, e depois de
haver picadas, caminhos, e menos risco, os ricos e poderosos costumam tirar as terras dos
pobres e humildes, com o seu respeito, porque a pobreza sempre foi desprezada, aborrecida e
desatendida; e outras vezes alcanam cartas de sesmarias subornando a verdade, e com elas
cobrem o trabalho
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
56
dos pobres e lhe chamam suas. E os pobres que no tm dinheiro para as grandes despesas de
sesmarias, juiz, escrives e medidores, e menos para correr demanda, se vem obrigados a
deix-las e perderem o seu trabalho, o que est claro, que ainda os mesmos ndios a quem
assiste todo o direito, por repetidas ordens de V. M., lhe haviam tirado as suas (...) se lhes no
acudisse, com toda a providncia o General Conde de Valadares, como consta (...) nos
documentos juntos. E como entre os suplicantes tambm se acha por possuidor de terras um
benfeitor dos mesmos ndios, qual o Guarda-Mor Manoel da Mota Andrade, que teve nimo de
por no estudo, e concorrer com todas as despesas at receber a ordem de Presbtero, o Padre
Pedro da Mota, ndio Croato, como consta dos documentos. Este, igualmente, com os
suplicantes recorrem a V. M. para que seja servida confirmar o despacho junto proferido a 2 de
maio de 1768 do General que ento era Lus Diogo Lobo da Silva, o qual General tanto atendia
aos que trabalham na civilizao dos ndios; que ainda nas informaes que tomava, nos
requerimentos dos que pretendiam sesmarias, no permitia [as sesmarias] nos estabelecimentos
dos ndios, nem em prejuzo dos empregados na reduo deles; como tudo se verifica nos ditos
documentos.34
Livros de batismos, correspondncias, peties, relatrios e processos eclesisticos,
associados aos informes etnogrficos sobre os grupos tribais editados desde o incio do sculo
passado e acessveis em publicaes como a Revista do Instituto Histrico e Geogrfico, j citada,
os Anais da Biblioteca Nacional e a Revista do Arquivo Pblico Mineiro permitem, sem dvida,
recompor um pouco os imponderveis da vida social dessa microrregio mineira. , pois, plausvel
que uma escavao arquivstica oferea materiais da mesma monta para as demais regies de
Minas.
Resta-me agora sinalizar os caminhos por onde os estudos sobre ndios em Minas Gerais
devem seguir.
Uma Histria Etnolgica de Minas Gerais deve comear pela identificao dos grupos
indgenas que habitaram essas terras mineiras. A informao sobre os grandes troncos lingsticos
dominantes e as formaes tribais especficas so imprescindveis para se recuperar o estoque de
manifestaes tnicas aparentemente desaparecidas35. Ora, ao se constatar que o grupo Xacriab
pertence ao tronco lingstico J, essa informao se torna preciosa, pois permite, por comparao
com outros grupos aparentados, o exame da cultura imemorial desse grupo do norte de Minas Gerais
e anteriormente tambm em Gois. Quando se
34
Apud CASTRO, Celso Falabella de Figueiredo. Op. cit. pp. 54-55 infra.
Sem dvida alguma, os trabalhos de Aryon DallIgna Rodrigues so os mais significativos no campo dos
estudos etno-lingusticos. Ver RODRIGUES, Aryon DallIgna. Lnguas Brasileiras: para o conhecimento das
lnguas indgenas. - So Paulo: Ed. Loyola, 1986.
35
57
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
verifica que as famlias Pur, Botocudo e Maxacal pertencem ao grande tronco Macro-J, a perda
cultural decorrente do genocdio amenizada em favor da recuperao da identidade tnica dos
sobreviventes. Os dados sobre a composio lingstica destes grupos permitem tambm notar a
distribuio das populaes amerndias e suas migraes pelo vasto territrio interior, alm de
esclarecer sobre o impacto da conquista do territrio pelos neobrasileiros ao longo desses quatro
sculos.
Mas o grande tema , sem dvida, o que diz respeito ao processo de depopulao amerndia
que tem incio j no sculo XVI, com o descimento para aldeias da Capitania do Esprito Santo, de
ndios do Rio Doce. Notcia da entrada dos Padres Domingos Garcia e Diogo Fernandes, informa
que duma vez entrou 180 lguas, e, s, sua conta, trouxe mais de 10.000 almas.36 O Pe. Serafim
Leite, em sua monumental Histria da Companhia de Jesus fonte e manancial de fontes primrias
importantes para analisar tambm a depopulao da regio oeste, a banhada pelo Rio So Francisco,
que foi devassada insistentemente pelas entradas de apresamento desde meados do XVI. Do mesmo
modo, so importantes os estudos sobre as bandeiras paulistas que penetraram tambm o territrio
mineiro, sobretudo a partir da segunda metade do sculo XVII. Essas bandeiras tm hoje, em John
Monteiro, seu mais arguto inquiridor.37
John Monteiro, analisando fontes inditas para a Histria Etnolgica Paulista, fornece-nos o
paradigma de pesquisa arquivstica que ainda no foi explorada em Minas Gerais. Tambm em
Minas temos inventrios e testamentos no publicados, livros de notas, atas das Cmaras e,
sobretudo, livros de batismos, que podem nos oferecer importantes dados sobre o sculo XVIII.
Para o sculo XIX, os acervos das Cmaras Municipais38, bem como os cdices depositados
no Arquivo Pblico Mineiro39, so abundantes em informaes
36
Ver LEITE, Serafim. Histria da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Livraria Portuglia; Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1938. Tomo II - Livro II, p. 184.
37
Ver MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: ndios e bandeirantes nas origens de So Paulo. - So
Paulo: Companhia das Letras, 1994.
38
Que pode ser atestado pelo Arquivo da Cmara Municipal de Mariana. Tambm em Mariana, o arquivo da
Casa Setecentista certamente possui acervo de importncia, como me alertou sua diretora, a historioradora
Ktia Napoleo. Infelizmente, ainda no tive tempo de explorar este importante arquivo.
39
Sobre a questo indgena em particular a documentao em grande parte manuscrita e indita abundante.
Ver cdices SC 197 - 1773; SC 334 - 1808/1814; SC 343 - 1809/1821; SC 369 - 1814/1821; SC 373 1816/1825; SP 59 -1827/1836; SP 508 - 1854; SP 540 - 1854/1860; SP 565 - 1855; SP 610 - 1856; SP 897 1861; SP 1009 - 1863 e SP 1161 - 1866. Alm dos cdices relativos ao Fundo da Secretaria de Governo, subsrie Catequese (ndios), SP/SG 1/4, 1863-1866. O Prof. Tarcsio Rodrigues Botelho (a quem agradeo pelas
valiosas informaes arquivsticas) me indicou um conjunto de documentos depositados em caixas, relativas
aos ndios do norte de Minas Gerais. So os seguintes: SP, PP 1/10, Cx. 48, Doc. 15 e SP/PP 1/10 Cx. 15.
Alm desses documentos, indicou-me um outro conjunto de documentos microfilmados da Casa dos Contos,
em Ouro Preto. Esses documentos so os seguintes (apresento seguindo a ordem: {n} - [rolo] - (foto)):
{08062} [540] (0959); {09001} [543] (0969); {09205} [544] (0607); {09261} [544] (0849); {09497} [54 5]
(0615); {09938} [547] (0019); {10440} [540] (0933); {10564} [511] (0465); {10644} [511] (0696).
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
58
cruciais para a definio dos ndices de destribalizao e a intensidade do impacto da poltica de
catequese e civilizao na reordenao territorial da populao indgena e mesmo de sua reao,
perceptvel quando os mesmos refluem para reas de refgio nas matas mais densas e altos cursos
dos rios, onde se tornam hostis e refratrios ao contato intertnico.
Ora, estes mesmos documentos so fontes para o estudo das relaes intertnicas, isto ,
entre ndios e ndios, ndios e negros e ndios e brancos. Este talvez o campo para o qual as
pesquisas histrico-etnolgicas devem orientar-se, em razo da confluncia entre histria
demogrfica e etnologia que implica.
Este campo incorpora os estudos acerca do contato nas frentes de expanso que operaram
diretamente sobre os ndios. Assim, como exemplo, a frente mineradora fez uso especfico do
escravo indgena, ora vinculando-o procura de ouro e pedras preciosas, sobretudo como
carregadores, ora produo de alimentos, ora ao trabalho domstico. J a frente de extrao de
poaia, madeiras e peles que se instalou na regio do mdio Jequitinhonha e do Mucuri, e que foi
sucedida por outra, dedicada criao de gado e pequena lavoura atuou diferentemente sobre a
composio dos grupos tnicos. Por exemplo, a ltima frente de expanso agro-pastoril ocorrida no
final do sculo passado permitiu uma sobrevida aos Maxacali por ter sido agenciada por uma
populao de baixa densidade, facultando aos ndios encontrarem bolses de refgio. Assim, os
indgenas puderam controlar o contato, mantendo-se relativamente afastados, no que eram
favorecidos pela existncia de matas, ao contrrio da outra rea (a do Alto Jequitinhonha e Pardo),
onde predominavam os descampados.40
Ainda nessa vertente, pode-se estudar o papel assumido pelo consrcio entre o Estado e as
companhias estrangeiras interessados na instalao de empresas de navegao, sobretudo a do Rio
Doce no sculo XIX, bem como o impacto da imigrao europia, sobre as populaes indgenas.41
Ainda no campo da temtica violncia, resistncia e assimilao podem ser pesquisados os
massacres organizados pelas expedies militares e para-militares, como a que foi organizada no ano
de 1766, quando por ordem de 22 de
40
Ver RUBINGER, Marcos Magalhaes Op. Cit., p. 11 e MELLATTI, Jlio Cezar. Trptico Maxacali.
Anurio Antropolgico/82. Fortaleza: Edies UFC; Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
41
Pode ser consultado, no Arquivo Pblico Mineiro, um conjunto bastante volumoso de documentos, reunidos
sob a rubrica Junta de Civilizao e Conquista dos ndios da Navegao do Rio Doce.
59
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Maro se crearam nestas Minas, teros auxiliares de botecudos, pardos e pretos e, em novembro
daquele ano, os moradores do termo de Mariana foram obrigados a contriburem com a somma de
777 oitavas de ouro para as despezas com a conquista dos ndios Puris e Botocudos.42 A crnica
da guerra contra os Botocudo, declarada em Carta Rgia de 13 de maio de 1808 por D. Joo VI,
indica a ferocidade da estratgia: o uso de ces especialmente treinados, alimentados inclusive com
carne de indgenas assassinados; expedies especficas em direo a determinadas aldeias com a
finalidade de matar indiscriminadamente homens, mulheres, velhos e moos, reservando-se as
crianas para o trfico e alguns homens carregadores; uso de ndios recrutados como soldados,
estimulados a cometerem violncia contra os Botocudo; contaminao proposital por agentes
patognicos letais para o indgena, como o sarampo, por exemplo.43 Da represso aos ndios no se
isentam nem mesmos os padres missionrios. Assim, em 1883, os padres do Mucuri organizaram
uma expedio punitiva contra os ndios Pojix que resultou em cerca de 300 ndios assassinados44.
Tem-se a um campo de estudos sobre controle populacional indgena que inclui o papel das tropas
militares, da catequese e da reunio dos indgenas em aldeamentos.
Os interessados no dezoito mineiro no podem deixar de examinar as conseqncias polticas
do apresamento, transferncia e aldeamento de populaes indgenas de diversas regies do Brasil
para terras hoje pertencentes ao territrio mineiro. So significativos os documentos relativos s
Capitanias de Gois, So Paulo, Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia e mesmo a de Pernambuco.
Tomando como exemplo a Capitania de Gois, tem-se o acervo relacionado ao Governador D. Luis
de Mascarenhas, que em 1741 lanou bando convocando ndios carijs e bastardos forros, vadios
para a luta contra os Kayap, que na poca habitavam as vastas extenses de terras compreendidas
a oeste do So Francisco, at o Rio Tocantins, e que foram traspassados a espada, sem distino de
sexo. Este governador declarava, em 1745, guerra continuada at se domesticar, afugentar ou
mesmo extinguir tais gentios.45 D. Lus Mascarenhas foi o responsvel pela transferncia de
indgenas Bororo do Mato Grosso para a regio hoje do Tringulo Mineiro46 e o uso desses ndios
como fora-tarefa na guerra contra os Kayap.
42
Ver. Compndio das pocas da capitania de Minas Geraes, desde o anno de 1694 at o de 1780. Revista
do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, 8: 63, edio de 1868 (2).
43
Ver MARCATO, Snia de Almeida. A represso contra os Botocudos em Minas Gerais. FUNAI Boletim do Museu do ndio, Srie Etno-histria, n 1, maio de 1979.
44
Ibidem.
45
Conforme se pode ler em BARBOSA, Waldemar de Almeida. A Decadncia das Minas e a Fuga da
Mineirao. - Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros/UFMG, 1971. pp. 132-137.
46
Ver SOUZA, Lus Antnio da Silva e. O Descobrimento da Capitania de Gois - Govrno, Populao e
Coisas mais Notveis. - Goinia: UFG, 1967.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
60
* * *
Os temas aqui assinalados fazem a fortuna daquilo que designei como Histria Etnolgica.
Esta representa ainda um modo de ser cartgrafo, como aquele representado no mapa a que aludi no
incio deste estudo. Um cartgrafo relativizador, certo, mas que ainda se coloca do lado leste do
discurso. Entretanto, ser possvel uma Etnologia Histrica? Isto , um discurso a partir do oeste,
que seria aquele do ndio cujo arco continua, de certo modo, ainda flexionado? Ou ser isso uma
melanclica esperana de cartgrafo contaminado pelos anthropological blues, como to bem
assinalou Roberto da Matta?47 Certo que, aps o encontro, cartgrafo e ndio no mais se
enxergam sozinhos; eles precisam um do outro como seu espelho e seu guia.
47
Sobre os anthropological blues, ver DA MATTA, Roberto. O ofcio de Etnlogo, ou como ter
anthropological blues, in NUNES, Edson (org.). A Aventura Sociolgica - Objetividade, paixo, improviso
e mtodo na pesquisa social. - Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
61
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ARTIGO
PROTESTOS, REVOLTAS E FISCALIDADE NO BRASIL COLONIAL *
LUCIANO RAPOSO DE ALMEIDA FIGUEIREDO
Departamento de Histria - U.F.F.
The history of utopian thought is a history of protest
... que as conquistas deste Reino se achavam em manifesto perigo, assim pela grande
inquietao dos nimos de seus habitantes que contra a devida desobedincia e contra o
sossego pblico multiplicam os motins e rebelies que so os princpios por onde
caminham as monarquias para a sua runa...
A fiscalidade metropolitana executada no Brasil se inscreve entre as mais importantes e
permanentes diretrizes da poltica colonial, do sculo XVI ao XVIII. Nesse perodo, no apenas
ganha complexidade, pela multiplicao de impostos e pela necessria diversificao da mquina
administrativa fazendria, mas assume gradativamente uma importncia dramtica como fator de
equilbrio das finanas metropolitanas. Acompanhando de perto essas medidas, eclodem freqentes
manifestaes de resistncia, protestos e revoltas contrrias aos impostos, ora se opondo ao seu
lanamento ora a algum aumento.
A histria da montagem da fiscalidade no Brasil , numa simetria inquietante, a histria dos
protestos e das resistncias antifiscais. Reis, Rainhas, governadores, Cmaras, padres, contratadores
estruturam ao longo dos tempos coloniais uma rede de obrigaes fiscais sob a forma de direitos,
subsdios,
Esse artigo foi discutido no Seminrio organizado pelo Gabinete de Sociologia Histrica da Universidade
Nova de Lisboa/ Faculdade de Cincias Sociais e Humanas, em maro de 1994, na mesa A fiscalidade no
Antigo Regime, tendo como debatedor o prof. dr. Joaquim Romero de Magalhes. Sou grato ao prof. dr.
Francisco Bethencourt pelo convite. Registro ainda especiais agradecimentos aos professores Laura de Mello
e Souza, da Universidade de So Paulo, e Caio Cesar Boschi, da Pontifcia Universidade Catlica de Minas
Gerais, pela leitura crtica e comentrios.
1
PEETSCH, Frank R.. Political utopia or the contemporary relevance of the idea of possibility. Universitas
- an interdisciplinary journal for the sciences and humanities, 4, 1992, v. 34.
2
Arquivo Histrico Ultramarino, cdice 253. consulta do Conselho Ultramarino, 1712 , fl 65v-66.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
62
donativos, contribuies e tributos que atingem camadas sociais variadas, de proprietrios a
trabalhadores livres, de prostitutas a vadios e desclassificados. A uns empurra para a pobreza, a
outros solapa ganhos e rendimentos. Quando, em algumas conjunturas de crise, rene-se um
consenso na comunidade quanto aos prejuzos causados por um imposto definido como injusto, ou
porque excessivo e ilegtimo, ou porque j fora pago, aquilo que parece desigual e desarticulado se
rene para protestar.
Estas so as duas linhas de fora estudadas ao longo desse artigo. Apresentamos discusses
ainda preliminares do projeto de pesquisa voltado para o doutorado - desenvolvido junto ao
departamento de Histria da Universidade de So Paulo - que envolve, grosso modo, duas
dimenses a respeito da fiscalidade colonial que se articulam. De um lado as prticas de arrecadao
fiscal em diferentes nveis da administrao fazendria, com dados a respeito do numerrio que
alimentava as receitas dos cofres metropolitanos, sob o sistema colonial. De outro, sua contraface: os
motins, as rebelies e mltiplas formas de resistncia e protestos que acompanharam o cotidiano
daquela sociedade. Enunciaremos aqui algumas aproximaes ainda precrias - algumas precipitadas
- refletindo um primeiro enquadramento do objeto de pesquisa.
1. FISCALIDADE E SISTEMA COLONIAL
Embora de relevncia reconhecida, no somam grande nmero os estudos dedicados
tributao no perodo colonial. Se, de um lado, obras abrangentes de Histria econmica como as de
3
Roberto Simonsen, Caio Prado Jr., Celso Furtado e Fernando Novais se ressentem de anlises mais
detidas sobre o tema - cabendo produo e comercializao dos produtos coloniais suas principais
preocupaes - por outro, um pequeno conjunto de diferentes estudos temticos ainda no conseguiu
4
tratar de modo sistemtico e abrangente a questo. Pelo menos como ela merece. Algumas
5
contribuies com temticas especficas podem ser alinhadas ,
SIMONSEN, Roberto C. Histria econmica do Brasil (1500-1820). So Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1978; Prado Jr., Caio. Histria econmica do Brasil. 20a. ed., So Paulo: Brasiliense, 1977;
Furtado, Celso. Formao econmica do Brasil. 10a. ed., So Paulo: Companhia Editra Nacional, 1970;
Novais, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial - 1777-1808. So Paulo: Hucitec,
1979.
4
Entre aqueles que se pretendem genricos podemos destacar Dorival Teixeira Vieira em A poltica
financeira. In: Histria Geral da Civilizao Brasileira. 4a. ed. Tomo 1 (A poca colonial), 2o. vol. Rio de
Janeiro: Difel, 1977, pp. 340-351 ; Dom Oscar de Oliveira em Os dzimos eclesisticos do Brasil- nos
perodos da colnia e do imprio. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1964; Maria Brbara Levy em Histria
financeira do Brasil colonial. Rio de Janeiro: IBMEC, 1979; Myriam Ellis em Comerciantes e contratadores
do passado colonial - uma hiptese de trabalho. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. no. 24. So
Paulo, 1982, pp. 97-122; Augusto Viveiros de Castro em Histria Tributria do Brasil. 2a. ed. Braslia:
ESAF, 1989; Frederic Mauro. O papel econmico do fiscalismo no Brasil Colonial (1500-1800) . In: Nova
Histria e Novo Mundo. So Paulo: Perspectiva, 1969. pp. 193-205 e Mauro de Albuquerque Madeira.
Letrados, Fidalgos e contratadores de tributos no Brasil colonial. Braslia: Coopermdia,
Unafisco/Sindifisco, 1993.
5
Ver Maria Thereza Schorer Petrone em Consideraes sobre a tributao do acar e aguardente paulista,
1765-1851 In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 5, So Paulo: EDUSP, pp. 23-30, 1968; Jos
Antnio Gonsalves de Melo. A finta para o casamento da rainha da gr-bretanha e paz da Holanda (16641666). In: Revista do Instituto Arqueolgico, Histrico e Geogrfico Pernambucano , no. 54. Recife, 1981,
pp. 9-62; M. A. Galvo. Dzima da Chancelaria. Reflexes sobre a Histria e Legislao desta renda, e sua
arrecadao at 1855-56; e legislao que regula sua aplicao e percepo. Rio de Janeiro: Typ.
Nacional, 1858.
63
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ressalvando-se desde j que o perodo da economia mineradora no sculo XVIII concentra o maior
6
nmero desse tipo de trabalho, dada a importncia que a fazenda ento assumiu .
A fiscalidade no contexto da historiografia brasileira uma plida sombra que se espraia ao
lado de monumentos erguidos em devoo ao comrcio e produo colonial. Se num primeiro
plano ela no aparenta ser tema to relevante como aqueles, no faltam entre eles evidentes redes de
articulao. A dificuldade de reconhecer sua importncia, aliada patente carncia de estudos,
podem ter, no entanto, algumas explicaes. De um lado, mais recentemente, a historiografia que
revisou o sentido da colonizao esteve, como natural, preocupada com a dinmica do sistema,
suas foras de transformao, de acelerao da acumulao primitiva, atravs das quais os
mecanismos da colonizao moderna contribuem para a transio do capitalismo comercial na
Europa Ocidental. Ora, sob esse quadro essencialmente dinmico, parece uma preocupao
secundria tratar de mecanismos econmicos identificados com as foras de conservao, como
aqueles que operavam para suprir as receitas do Estado absolutista, que em ltima anlise eram
aplicadas na poltica de distribuies de favores (mercs, graas, ordens e hbitos) a grupos sociais
da velha ordem. Nesse quadro de tenses de todo o tipo, tratava-se de conviver com uma das
expresses mais elementares das contradies do mercantilismo portugus, apontadas por Francisco
Falcon: se suas manifestaes mercantilistas operam uma transferncia de rendas dos setores mais
produtivos para os mais estagnados, por outro, no que se refere aos negcios e produo, a
Entre eles, Antnio Luiz de Bessa, Tributao em Minas Gerais: perodo colonial. In: Histria Financeira
de Minas Gerais. Pref. de Francisco Iglesias. Belo Horizonte: Secr. de Estado da Fazenda, 1981, 2vs.; Charles
Boxer com sua clssica A Idade de Ouro do Brasil; Dores de Crescimento de uma Sociedade Colonial 1695-1750. So Paulo:Nacional, 1963; Kenneth Maxwell, A Devassa da Devassa: a Inconfidncia
Mineira,Brasil-Potugal, 1750-1808. Trad. de Joo Maia. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 317 pp.;
Fernando Resende A tributao em Minas gerais no sculo XVIII. In: II Seminrio sobre a economia mineira
Histria Econmica de Minas Gerais/ A Economia Mineira dos Anos Oitenta. Diamantina:
CEDEPLAR/UFMG, pp. 112-148, 1983; Gilberto Guerzoni Filho. Tributao das entradas na capitania de
Minas Gerais (1776-1808).In: Estudos Ibero-Americanos, v. 5, n. 2, pp. 219-250, 1979, sem esquecer dos
pioneiros Joo Pandi Calgeras com As Minas do Brasil e sua Legislao Rio de Janeiro: [s.n.], 1904, 3v. e
Manuel Cardoso em Alguns Subsdios para a Histria da Cobrana do Quinto na Capitania de Minas
Gerais, at 1735 . Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia, 1938.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
64
interveno poltica favorece a acumulao do capital . Sendo assim, a contrapelo desse movimento
tendencial, em outras palavras, a fiscalidade cuidava de sangrar a parcela produtiva do capital em
circulao para os setores que retardariam o projeto de afirmao burguesa. Numa atmosfera ainda
mais ampla, outros complicadores afastam-nos do interesse temtico pela fiscalidade. Por parte da
historiografia atual tem-se uma negligncia para com o tema devido aos efeitos desfavorveis dos
impostos, numa reao, talvez inconsciente nfase excessiva que os historiadores liberais do
8
sculo XIX haviam emprestado ao deste fator .
Superada por ora essa incipiente discusso, visitemos alguns aspectos de uma Histria fiscal
cujo sinuoso percurso parte de isenes e privilgios iniciais para alcanar a mais insuportvel
sobrecarga.
A primeira fase da colonizao e quase todo sculo XVI representou nitidamente um
momento em que a poltica fiscal se reveste de um sentido poltico, ainda disciplinador, sujeita
necessidade objetiva de facultar o povoamento. Os primeiros povoadores dispem de isenes
fiscais e, maneira de estmulo, muitos agentes particulares dispersos por vrios recantos
conseguem arrendar o direito de cobrar impostos em nome de Sua Majestade. No era diferente de
outras regies do imprio colonial portugus como frica, Ilhas e Oriente, vivendo-se no incio da
colonizao uma espcie de negligncia salutar tributria por parte da metrpole, que tambm
9
concedia isenes e distribua favores fiscais com generosidade . Afinal, mais do que obter
rendimentos imediatos, naquela conjuntura de intensas disputas, a colnia deveria, prioritariamente,
estar resguardada. Fundadas sob o signo da guerra, as cidades so verdadeiros fortes para repelir
possveis e reais invasores e assegurar as conquistas, engenhos so obrigados por lei a estarem
providos de muitas armas e Tom de Souza fidalgo mui experimentado na guerra de frica e
ndia 10.
Uma vez que a organizao inicial das unidades produtivas envolvia enormes gastos, o
Estado procurava compensar, no gravando as empresas com impostos convencionais. Assim, ao
lado de uma exigncia fiscal mnima - o dzimo
FALCON, Francisco Jos Calazans. A poca Pombalina - Poltica Econmica e Monarquia Ilustrada. So
Paulo: tica, 1982, pp. 86-87.
8
WILSON, Charles. Taxation and the decline of empires: an unfashionable theme. Economic History and the
Historian. Londres, 1969. Apud Evaldo Cabral. Olinda Restaurada: Guerra e Acar no Nordeste, 16301654 . Rio de Janeiro: Forense Universitria; So Paulo: EDUSP, 1975. p. 158
9
OLIVEIRA, A. guedo de. As finanas portuguesas dos sculos XVI e XVII relacionadas com a expanso
civilizadora no oriente. In: Oramento do Estado da ndia (1574) feito por mandado de Diogo Velho, vedor
da fazenda da ndia. Lisboa: s.e., 1960, pp. 191-458.
10
ACCIOLI, Igncio & AMARAL, Braz do. Memrias Histricas e Polticas da Provncia da Bahia. 6 vols.
Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1919-1940, v. 1, p. 296.
65
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
pago Ordem de Cristo - garantia aos donatrios o privilgio das marinhas do sal, das moendas e
engenhos, possibilitando ainda que recebessem o dzimo daqueles para quem cediam lotes. Cabialhes ainda uma redzima de todas as rendas e tributos da Ordem de Cristo e da Coroa. A montagem
dos negcios coloniais (doaes de terras e montagem de engenhos, extrao do pau brasil) contava
com outras exigncias tributrias bem leves, concedidas durante a fase de instalao da produo
aucareira. A princpio, deveria o acar pagar 10%, ao sair do Brasil, e mais 20%, ao entrar em
Portugal. No entanto, os produtores e senhores de engenho mereceriam durante 10 anos iseno
aduaneira, ao final de que passariam a pagar apenas meios-direitos. Tais vantagens se prendiam
11
naturalmente perspectiva de atrair capitais para a instalao da produo . O Rei concedeu ainda
aos moradores das vilas criadas completa iseno de todas as fintas, talhas, pedidos e outros tributos,
com exceo dos dzimos. Certamente, em circunstncias onde a carga tributria era
tradicionalmente to pesada, a idia de ficar isento de quase todos os impostos deveria servir de
estmulo decisivo para animar a instalao dos colonos.
Superada a fase que, em recente artigo, Luis Felipe de Alencastro, chamou de aprendizado
12
da colonizao , em que os agentes da colonizao no se combinavam, nem entre si, nem com o
mercado a que deveriam atender, o Brasil cai nas mos dos administradores fazendrios. A lgica da
conquista cede lugar lgica econmica. Lentamente, s diretrizes fiscalistas somam-se quelas de
carter militar, sobretudo a partir da montagem da administrao fazendria, em fins do sc. XVI e
incio do XVII.
Os engenhos que em nmero vo crescendo, como disse nosso primeiro provedor-mor da
fazenda do Brasil em 157813, motivam o nimo fiscal do Rei, que passou ento a restringir o direito
tributrio dos particulares, para, atravs da fazenda real e das cmaras, cobrar diretamente de seus
sditos. As instncias metropolitanas vo se sobrepondo fiscalidade que ficava em mos dos
capites donatrios. O Deve e o Haver entre Portugal e Brasil muda de figura: se at ali a Amrica
pertencia ao rol das despesas da metrpole, adiante integraria - competindo ao longo do sculo XVI
e boa parte do XVII com os mercados asiticos - uma de suas mais importantes e vitais receitas.
Ambrsio Brando, cuja autoria atribuda aos Dilogos das Grandezas do Brasil, em 1618
marcaria esta passagem: Todo o Brasil rende para a fazenda de sua majestade sem nenhuma
despesa, que
11
Consultar a este respeito Frdric Mauro. Portugal, o Brasil e o Atlntico (1570-1670). Lisboa: Estampa,
1989, 2 vols.
12
O aprendizado da colonizao. Economia e sociedade - Revista do Instituto de Economia da Unicamp, 1,
1992, pp. 135-62.
13
SERRO, Joaquim Verssimo. O Rio de Janeiro no Sculo XVI. p.125.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
66
o que mais se deve de estimar14. Sugestivamente, na documentao que traduzia o pensamento da
poltica colonial apareceriam doravante com freqncia expresses reveladoras do papel econmico
do Brasil para o equilbrio portugus: o Brasil a jia mais rara da Coroa..., a se repetir - com
variaes - at a emancipao.
Nesse sentido, medida que os ncleos populacionais progridem e se firmam, amparados
pela estabilizao de algumas atividades produtivas, a fiscalidade do rei ganha novas tintas,
atingindo atividades de produo e circulao e alcanando de modo freqente e brutal as
populaes coloniais. Tratava-se de contribuir incessantemente para o dote de casamento de reis
europeus, despesas com canhes e fortalezas, verbas para reconstruir edificaes no reino arrasado
pelo terremoto, recursos para financiar guerras em que se envolvia Portugal, recursos para, ao
contrrio, celebrar a paz, pagamento de despesas para professores, emprstimos forados Real
Fazenda, Bula da Santa Cruzada, manuteno das vivas e enjeitados no reino... Para assegurar essas
receitas a longa teia do fiscalismo se espalhava pelo territrio perseguindo inquietas boiadas, fugazes
veios de ouro, escuras grotas de diamantes, canoas sob rios, prostitutas pelas ruas de Salvador,
frangos, franges e porcos pelas ruas das cidades, escravos que os mercados recebiam, o vinho que
as tabernas consumiam. Regimentos, alvars, ordens, provises do conselho Ultramarino se
multiplicavam prodigamente em todas as direes.
Conforme a conjuntura e a urgncia na necessidade de se fazer receita - situao muito
comum em decorrncia de guerras ou defesa militar, no reino ou nas colnias -, tributos iam sendo
aplicados. Novos impostos com freqncia amparavam obras para sustento de presdios, fortes e
15
guarnies . No Rio de Janeiro, Salvador Correia de S e Benevides, em 1641, criara um novo
imposto para atender ao soldo da infantaria e despesas com as fortificaes: o subsdio grande dos
vinhos, imposto de importao que recaa sobre o vinho importado (5$600 por pipa da Ilha da
Madeira e 2$800 de Portugal). A Cmara instituiu em 1645 tributos sobre gneros exportados: 80 rs.
por arroba de acar branco, 40 rs. sobre acar mascavado, 50 rs. sobre couro de rs, 2 rs. sobre
arroba de fumo, sendo esta renda destinada manuteno das frotas de comrcio e construo de
galees para a defesa martima da cidade. A Cmara, anos mais tarde (1681), introduz o imposto
sobre a aguardente, com uma taxa de 1$200 sobre cada barril importado para a capitania. Desta
arrecadao, 800 rs. eram destinados para a infantaria da guarnio da Colnia de Sacramento e 400
rs. para a concluso das
14
BRANDO, Ambrsio Fernandes. Dilogos das Grandezas do Brasil. So Paulo: Melhoramentos, 1977.
p.138.
15
AZEVEDO, Thales de. Povoamento da Cidade de Salvador, Salvador: Itapo, 1969, pp. 380-381.
67
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
obras da Carioca. Em 1694, a capitania da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco foram gravadas com
uma contribuio de 10 mil cruzados para atender s despesas da disputa pela Colnia de
Sacramento, lanando-se em decorrncia tributos sobre o sal, o azeite de peixe e o contrato das
baleias. Os exemplos poderiam se multiplicar ad nauseam.
O Estado portugus estende para as relaes colnia-metrpole a fiscalidade que praticava no
reino, repetindo, aqui, o vasto e desordenado acmulo de exaes fiscais que conheciam na pennsula. Contudo, se na aparncia eram os mesmos tributos e os mesmos direitos reais, desta vez a
fiscalidade deveria se constituir em um vigoroso instrumento de transferncia da riqueza colonial. Se
na aparncia o estatuto do Brasil era de domnio ultramarino, na realidade sua condio era colonial.
A fiscalidade preserva sua funo tradicional de atender s despesas do Estado com a defesa, justia
e outras necessidades, mas torna-se um voraz instrumento de exao das riquezas geradas no plo
colonial. A complexidade de sua organizao, a abrangncia de suas fontes de receita, a hierarquia
de seus agentes no deve esconder uma fiscalidade com tal sentido. Sob essa aparncia desordenada
das receitas, as despesas para as quais se destinavam eram bem arranjadas: mercs e comendas para
a nobreza, donativos eclesisticos, gastos com o luzimento da realeza. E, mesmo quando parecia
negar essa sua feio espoliativa, uma vez que parte considervel desses recursos recolhidos na
colnia era aplicada em gastos na sua prpria defesa, funcionava justamente para reforar seu carter
primordial: a preservao do mercado sob os termos do exclusivo comercial diante das
permanentes ameaas externas soberania.
Nas alfndegas coloniais, direitos de importao e exportao eram recolhidos: impostos
sobre as vendas do acar, imposies do vinho; do azeite de peixe; da aguardente; do azeite doce;
1% sobre remessa de ouro das Minas; direitos sobre comrcio de escravos (com a frica, com
Minas); passagem (gado) e entrada (pessoas, secos e molhados) entre as capitanias; dzima da
alfndega. Nada deveria circular pelos mares e terras sem contribuir para os direitos reais.
A produo, quando no esteve cercada por vidos contratadores, seria gravada diretamente
pela fazenda sob diversas formas: impostos sobre a produo aucareira; dzimos pessoais; quinto do
ouro e diamantes (e suas sucessivas formas de cobrana). Tudo que a terra gerasse mereceria
retribuio ao Rei e a Deus.
A essa lgica somavam-se impostos de carter regional, adotados apenas em certas reas e
decorrentes de atividades econmicas especficas ali desenvolvidas. Pode-se aqui lembrar o tributo
sobre o fumo ou o quinto dos couros e gado em p, arrecadados na capitania de Rio Grande de So
Pedro do Sul;
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
68
imposto para reforma do cais de Viana do Castelo (cobrado na Bahia); quinto sobre as benfeitorias
holandesas (Pernambuco); imposto para gua da carioca (Rio de Janeiro); imposto nas canoas que
iam para o serto (Par e Maranho); direitos do cacau, do anil, caf e canela (Par).
Aos interminveis tributos somavam-se contribuies de carter extraordinrio. Lembremos
aqui algumas delas, tomando ainda como exemplo o Rio de Janeiro. A Cmara instada pelo
governador-geral a contribuir com um donativo para o dote da infanta D. Catarina, que casava com
Carlos II da Inglaterra. Valor: 26.000 cruzados por ano, a serem pagos durante dezesseis anos. Para
atender e este donativo adotam-se taxas de 4% sobre o acar, e 2% sobre todas as importaes. Em
1664, impe-se Cmara 123$000 anuais para pagar propinas aos ministros do Conselho
Ultramarino e, em 1670, sofre a imposio pela metrpole de uma contribuio de 400.000 ris para
os servios das misses religiosas nas conquistas ultramarinas. Entre todos, foram os impostos dessa
natureza que mais se destacaram, ao menos no plano das tenses sociais, uma vez que motivaram
freqentemente situaes de confronto e resistncia durante seu recolhimento, que partiam de
dificuldades econmicas e, no raro, de questionamentos sua legitimidade. Sob esse carter de
extraordinrio, uma primeira classificao poderia dividi-los entre aqueles cuja receita se dirigia
para o reino e aqueles voltados para despesas coloniais. Aqui aplicados, mas destinados a Portugal,
lembraramos: o real donativo para casamento da infanta portuguesa com o rei ingls (1662); real
donativo para a paz da Holanda (1662); donativo voluntrio para o dote da rainha (1727); donativos
voluntrios para reedificaco de Lisboa (1755) e, outro mais tarde, para reconstruo do palcio da
Ajuda. Cobrados aqui para amparar despesas da colonizao estariam: o donativo para
estabelecimento do Tribunal da Relao do Rio de Janeiro, a contribuio para Nova Colnia de
Sacramento, a contribuio para o resgate da cidade do Rio de Janeiro (1711), o subsdio literrio
para financiar o salrio de professores no Brasil.
As Cmaras Municipais, por seu turno, no eram menos tmidas no lanamento de tributos.
Alguns deles so: Subsdios, Direito do talho, sobre os peixes do mar, Direito de aougagem, que
incidia sobre as reses abatidas, Direito de aferies, pago pela aferio dos pesos e medidas utilizados no comrcio, Rendas do ver (possivelmente apareceu em meados do sculo XVII), imposto
sobre as lojas e vendas ao que parece pago proporcionalmente ao fluxo comercial, sendo seu
pagamento entregue a contratadores 16. Alm disto, as Cmaras intervinham sempre que havia
necessidade de alguma contribuio extra, definindo a forma de
16
RUSSEL-WOOD, A. J. R.. O governo na Amrica portuguesa; um estudo de divergncia cultural. Revista
de Histria, So Paulo, v. 55, n. 109, pp. 25-79, 1977.
69
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
atend-la. Dois exemplos: na Bahia, 1652, o governador estipulou que as Cmaras deveriam
estabelecer donativos e direitos para pagar o sustento do presdio; em Minas as Cmaras decidem a
forma como deveria ser pago o subsdio voluntrio para a reconstruo de Lisboa. Havia ainda, a
cargo das Cmaras, impostos indiretos (licenas e registro anual dos artesos, vendeiros e
aougueiros, taxa para inspeo anual de pesos e medidas, multas, taxa para construo civil, foros
de sesmarias do Senado) e diretos (fintas ou cobranas municipais diretas para atender a despesas
17
especficas . Tais fintas de incidncia local, ou municipal multiplicariam-se - sempre devidamente
autorizadas pelo Rei, aps consulta ao Conselho Ultramarino e ao procurador da fazenda destinadas a consertos de pontes, construo ou reforma de igrejas e cadeias, perseguio a
quilombos (Minas Gerais) ou finta alimentria, utilizada para sustentao dos estudantes de
medicina que iam metrpole aprender o ofcio.
Aliada fiscalidade dos poderes temporais, a tributao eclesistica completava o quadro do
enorme contingente de obrigaes que pesava sobre a populao. Neste sentido, destacava-se - como
apontamos anteriormente - o direito sagrado do dzimo (o divino tributo) e as taxas para realizao
de missas e liturgias, conhecidas como conhecenas. As instncias eclesisticas tambm recorreram
a expedientes fiscais, a fim de garantir sustento material suas atividades. Nas cidades maiores onde
havia Misericrdias, desde o sculo XVII o reino autorizou que cobrassem dzimo sobre frangos,
franges e mais aves, cordeiros, leites, cabritos e ovos para os enfermos ali tratados. Outros
tributos, como as obras pias tambm alcanavam seus cofres. Em sua ao, a Igreja teria ainda
concorrido decisivamente para o sucesso da poltica fiscal, entrelaando lentamente suas mos com o
poder temporal em atividades de convencimento e coero espiritual da populao sobre a
importncia no pagamento dos tributos reais. Utilizando inmeras pastorais e sermes ao longo do
sculo XVIII, ameaam de excomunho aqueles que sonegassem o quinto real e os dzimos. Buscava
fazer valer entre os grupos sociais na colnia as recomendaes de So Paulo na Epstola aos
Romanos: tambm por isso que pagais impostos, pois os que governam so servidores de Deus,
(...). Dai a cada um o que lhe devido: o imposto a quem devido, a taxa a quem devida, a
reverncia a quem devida, a honra a quem devida 18.
A poltica econmica metropolitana foi ainda prdiga na adoo de mecanismos garantidores
de receita, muito prximos de serem verdadeiros
17
SOUZA, Jos Antnio Soares de. A receita e despesa da Comarca do Rio Janeiro, em 1800 e 1801. In:
Revista do IHGB, no. 238, pp. 337-80.
18
Epstola de So Paulo aos Romanos, 13, 6.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
70
instrumentos fiscais. Entre eles, mecanismo de extrema importncia neste sentido foi o sistema de
contratos. Segundo Myriam Ellis, A Coroa proporcionava a particulares a sociedade temporria
com a Fazenda Real, para a explorao do comrcio de um produto.19. Muitos dos monoplios
(Pau-Brasil, Pesca da Baleia - 1603-1798, Tabaco - 1642-1820, e Sal - 1658-1801) foram entregues a
contratadores particulares. A forma de estabelecimento e regulamentao destes estancos deveria
garantir rendas permanentes aos cofres metropolitanos. Diferente modalidade desses contratos foram
aqueles firmados com particulares para cobrana de tributos em nome da fazenda real. Uma nebulosa
atmosfera cercava suas prticas, com contratadores inadimplentes acusando catstrofes naturais, e
uma multiplicao de dvidas jamais pagas fazenda real. O Estado metropolitano se debateu
permanentemente com problemas advindos dos contratos. Contudo, eles eram de certa forma
inevitveis, uma vez que na sua origem est uma dificuldade insupervel: a estrutura administrativa
fazendria era incapaz de atender a toda multiplicidade de fontes de receita que avidamente
precisavam captar. A soluo foi delegar a particulares que, se de um lado cuidam das cobranas, de
outro negociam permanentemente os compromissos de pagamento acertados previamente com o
Estado.
ainda tarefa muito difcil estabelecer uma classificao definitiva dos tributos e direitos
coloniais, pelo seu excessivo nmero e pela complexidade da legislao, mas pode-se ensaiar
enquadr-los a partir de alguns padres.
20
1- Quanto ao destino dos recursos:
- para as despesas locais (defesa, construo de pontes, cadeias, igrejas, obras em geral);
- para despesas do reino.
2- Quanto jurisdio:
- contratadores;
- cmaras municipais;
- fazenda do reino;
- conselho ultramarino;
- igreja.
19
ELLIS, Myriam. Comerciantes e contratadores no passado colonial: uma hiptese de trabalho. In: Revista
do IEB, n. 24, So Paulo, pp. 97-122, 1982.
20
Uma tentativa nesse sentido chegou a ser feita por Jos Maria A.M. DIAS. Algumas Indicaes ao Estudo
da Histria Tributria do Brasil. Rio de Janeiro: FGV/EIAP/CPG, 1977. 112 pp.
71
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
3- Quanto abrangncia de sua cobrana:
- regionais, limitando-se a uma ou mais capitanias;
- genricos, envolvendo todas elas e mesmo outras colnias no ultramar.
4- Quanto esfera econmica:
- comrcio;
- produo;
- ofcios.
5- Quanto freqncia:
- ordinrios;
- extraordinrios.
O certo, porm, que a tributao no perodo colonial (guardadas as diferenas regionais) se
estruturava em diversas camadas justapostas. A iniciativa da propositura do imposto poderia caber a
qualquer instncia, seu lanamento, no entanto, dependia de autorizao rgia (obrigao a que a
coroa se resguardou com enorme ateno, punindo severamente aqueles que ousaram se sobrepor a
ela) e a competncia de sua execuo se distribuiu em vrios nveis. De qualquer forma, qualquer
que fosse sua natureza, abrangncia ou freqncia, o direito de lanamento de tributos esteve sempre
nas mos da Coroa, mesmo que a iniciativa partisse de alguma autoridade - fazendria, militar ou
judicial, cmara municipal, igreja ou parquia - que administrou rigidamente a aplicao dessas
rendas.
2. PROTESTOS, RESISTNCIAS E REVOLTAS ANTIFISCAIS
Mas nem sempre a colnia teria sido uma arca de riquezas, generosa e disponvel. A
fiscalidade colonial revela assim sua outra face, ainda mais obscura na historiografia, que marcou o
cotidiano da vida social no Brasil: freqentes protestos contra os impostos apareceram em simples
palavras, manifestaes individuais de resistncia e, finalmente, revoltas, alimentadas quase sempre
pela crise econmica.
A aplicao de cada novo tributo foi acompanhada de descontentamentos e insatisfaes.
Ordens rgias e bandos de governadores quase sempre so seguidos de grande alvoroo. O protesto
antifiscal demonstra, em primeiro plano, talvez mais que qualquer outro tipo de contestao, as
tenses de ordem poltica, social e econmica nas relaes colnia-metrpole. Protestos de rua,
peties de cmaras,
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
72
splicas de moradores s cmaras, reclamaes e representaes ao Rei, recusa de pagamento, obras
de stira, pasquins e papis sediciosos, rumores e vivas, indignao por cobranas violentas,
sonegao, contrabando, falsificao de cunhos para marcao de barras de ouro, emisso de recibos
falsos, o protesto tomava as formas mais diversas. Eles diferenciam-se a partir de dois determinantes
bsicos: aqueles em que a ampliao da carga tributria era insuportvel diante de uma alegada
misria absoluta nas condies materiais, e aqueles que condenam a legitimidade de determinado
imposto, contra a intromisso do poder pblico temporal, em razo de uma noo de bitributao ou
mesmo do reconhecimento de que no cabia ao grupo seu pagamento.
bem longa a crnica das hostilidades e das revoltas antifiscais no Brasil colnia. Sem
procurar ainda o enquadramento definitivo destes protestos, podemos visit-los brevemente.
a) Rio de Janeiro
A cidade de So Sebastio do Rio de Janeiro assiste ao longo do sculo XVII a intensificao
dos protestos antifiscais. Desde 1620, comerciantes j contestam o imposto de 5$000 rs. sobre a
entrada e sada de embarcaes do porto, que causava tambm grandes descontentamentos. A
Cmara solicita sua revogao ao recm-empossado governador, Francisco Fajardo21. Pouco tempo
mais tarde, em 1625, diante de uma determinao do governador-geral de estender capitania do Rio
de Janeiro o imposto de 80 rs. sobre cada caixa de acar exportado (cobrado para os cofres da
Fazenda Real), a Cmara j prevendo problemas, se exalta com essa autoridade. Alegava que, diante
das dificuldades econmicas, o povo j enfrentava problemas demais para conseguir pagar as
imposies para as obras da gua da carioca (refere-se ao imposto sobre o vinho criado em 1617 para
a canalizao de gua do rio carioca para o centro da cidade). E perguntava: como aquiesceria a
estoutra [imposio] com tanto dano seu?. Vai alm a Cmara, encaminhando ao Rei uma petio
para que suspendesse o imposto, enquanto pactua com o governador sua revogao temporria22.
Enquadrados em uma tensa cronologia, novos protestos eclodem em 1642 contra uma finta
ou donativo lanado para pagar despesas com soldos atrasados da infantaria. Diante do anncio h
um amotinamento com realizao de uma grande assemblia diante da Igreja da Candelria,
reunindo o prelado, camaristas, os homens notveis da cidade e grande concurso popular segundo Vivaldo Coaracy.
21
22
COARACY, Vivaldo. Memrias Histricas do Rio de Janeiro. R.J.: Jos Olympio, p. 53.
Ibidem, p. 66.
73
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Decidem no contribuir com o imposto e a Cmara encaminha ao governador a deciso,
argumentando a pobreza da populao e o exagero do tributo, uma vez que a guarnio da cidade era
pequena (era apenas de trezentos homens como bem se sabia). Ainda mais que um ano antes
(1641) havia sido lanado o subsdio grande dos vinhos (imposto de importao que incidia sobre os
vinhos, conforme a procedncia), justamente para pagar os soldos da guarnio. H rplica do
governador e trplica da cmara. O imposto acaba no sendo pago 23.
A crise poltica que transbordaria nos anos de 1660-61 faz esses primeiros ensaios parecerem
obras menores. Nos ltimos meses de 1660, os tributos lanados pelo governador Salvador Correa
de S e Benevides inauguram uma sucesso de protestos. Em outubro, diante da fraca receita com
um imposto duramente negociado com a Cmara, o governador arbitrariamente lana um outro
suplementar, desta vez sem consulta. Esse imposto (direto) previa uma finta geral para a populao e
um taxa predial para os moradores da rua Direita e arredores. Considerado sem legitimidade para
aplicar tal finta - um direito apenas dos monarcas - e j desgastado sob uma conjuntura econmica
crtica, as insatisfaes com o governador aumentam. Acusavam ainda a elevao de vrios outros
tributos, como o subsdio dos vinhos, a m distribuio no pagamento do donativo e a ampliao
desnecessria do contingente da infantaria de 350 para 500 homens. O protesto possua outros
ingredientes decisivos como a prepotncia deste governador, os desgastes causados pela sua
vinculao com os jesutas contra a escravido indgena, a conjuntura de baixa nos preos do acar,
aliada epidemia e mortes de escravos e a forte oposio de grupos polticos alijados do poder.
24
Com a partida de Salvador Crrea para So Paulo em outubro de 1660, a fim de reconhecer a
situao das minas de ouro em territrio paulista, Tom Correia de Alvarenga permanece
governando em seu lugar. Poucos dias depois realizada a primeira manifestao entre os
descontentes na ponta do Bravo, na freguesia de So Gonalo, sob a liderana de Jernimo Barbalho.
Reclamam das vexaes causadas por Salvador Correia e de arbitrariedades contra os oficiais da
cmara. Os conspiradores redigem um manifesto, apresentado ao ento governador:
23
Ibidem, pp. 112-3.
A respeito da revolta e sua conjuntura deve-se consultar o recente estudo de Miguel Arcanjo de SOUZA,
Poltica e Economia no Rio de Janeiro Seiscentista: Salvador de S e a Bernarda de 1660-61. Rio de
Janeiro: UFRJ, IFCS,(dissertao de mestrado em Histria do Brasil) , mimeo, 1994. 235 fls. C.R. BOXER.
Salvador de S e a Luta pelo Brasil e Angola, 1602-1686. So Paulo: Companhia Editra Nacional-EDUSP,
1973 e VIEIRA FAZENDA. Antiqualhas e Memrias do Rio de Janeiro. In: Revista do IHBG. t. 88, v. 142,
1920.
24
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
74
Captulos que propem o Povo deste Recncavo desta cidade que se ajuntou na ponta
chamada do Barbalho ao Senhor Governador Tom Correia de Alvarenga (...)
Em primeiro lugar protesta o dito Povo que so muito leais vassalos a el Rei Nosso Senhor
Dom Afonso que Deus guarde e mui obedientes ao Senhor Governador Tom Correia de
Alvarenga e mais ministros reais (...)
1- Que em nenhum caso querem que governe esta praa e mais distrito o governador Salvador
Correia de S e Benevides pelas muitas fintas, tributos e tiranias com que tiraniza este cansado
Povo destruindo suas fazendas (...)
25
Apresentam em 2 de novembro um protesto formal a Tom Correia de Alvarenga com vrios
desses captulos e outras exigncias, entre elas reduo do nmero de soldados e abolio imediata
da finta. O governador interino envia procuradores para conversaes com os insatisfeitos. Diante da
dificuldade de acordo, lderes da revolta cruzam a Baia de Guanabara e, atraindo uma multido,
tomam s 5 da manh o prdio da cmara. Destituem o governador Salvador Corra de seu cargo
retomando o tema dos captulos: magoados, queixosos e oprimidos das vexaes, tiranias, tributos,
fintas, pedidos, destruies de fazendas, que lhe havia feito o Governador Salvador Corra de S e
Benavides...26. Diante dos vereadores e tabelies, lavram um auto, removendo de seus cargos o
governador e vereadores. Nomeiam o fidalgo e cavaleiro da Ordem de Cristo, capito Agostinho
Barbalho Bezerra, filho do antigo governador Luis Barbalho, que, reticente em aceitar tal
incumbncia, ameaado de morte pela chusma caso no assumisse, para que governasse na
guerra como no poltico, at Sua Majestade prover o que mais fosse de seu real servio27
A turba substitui todas as autoridades locais por elementos de sua confiana, entre os homens
bons da cidade. A primeira medida do governo ento instalado a reviso das exigncias fiscais que
motivaram a revolta:
que por nenhum acontecimento consentissem os ditos oficiais da Camara neste povo, tributos
nem fintas sem expressa proviso de Sua Majestade, por evitar os tumultos do povo e
alteraes, que esta cidade tem experimentado...28.
Reforava-se ainda mais o carter restaurador (ou conservador) que aparentemente possua
esta revolta. Desejavam afastar um governador desptico
25
Biblioteca Nacional de Lisboa. Reservados. Fundo Geral, caixa 199, n. 47.
Auto de 8 de novembro de 1660. cit. por Vieira Fazenda.Op. cit. , p. 497.
27
Ibidem. p. 497.
28
Correio de 3 de fevereiro de 1661. Ibidem. p. 499.
26
75
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
que sustentou uma prtica fiscal inqua, pela exorbitncia, como pela desigualdade com que foi
lanado, sem ordem de sua Majestade29.
No entanto, algumas medidas titubeantes do novo governador, j em seus primeiros dias,
incomodam a massa organizada e ansiosa que, logo, tambm o depe a 8 de fevereiro de 1661,
passando a Cmara a exercer o governo.
A revolta dura at abril de 1661, com o governador Salvador Corra de S e Benevides
comandando a resistncia em So Paulo, onde permanece. A represso dali organizada desarticula o
movimento, sentencia vrios envolvidos priso, degredo e decapita Jernimo Barbalho (tambm
filho de Luiz Barbalho Bezerra e irmo de Agostinho), ficando sua cabea exposta na cidade. Em
carta a Sua Majestade, uma fiel autoridade da colnia, Francisco Barreto, comentaria:
Entende-se que com o exemplo de uma cabea que cortou, e desengano da pouca
permanncia que a experincia mostrou podia ter aquele governo intonso, (sic) como to
violento em tudo, se no atrevero seus mulos a novo movimento: e se conservar o povo em
sossego30.
Alguns anos depois (1666), em longa petio ao rei, os moradores do Rio continuam
protestando contra a sobrecarga fiscal que atingia a populao, uma situao considerada injusta por
parte de um Rei para com aqueles que j haviam at ali acudido inmeras vezes as necessidades do
Imprio (guerra contra os holandeses, restaurao de Angola). A queixa deriva das dificuldades de
cumprir o total de 26.000 cruzados por ano (para esse montante aceitaram-se taxas adicionais de 4%
sobre o acar e 2% sobre as importaes) que vinham sendo cobradas desde 1662, com durao
prevista para dezesseis anos, para contribuio das despesas da paz com a Holanda e dote da Infanta
D. Catarina, que casava com Carlos II da Inglaterra. As condies para perpetuao do imposto eram
insustentveis, com os moradores to perdidos e impossibilitados, que no podem acudir s
necessidades de suas casas e famlias31, pedindo ao Rei a suspenso desta contribuio voluntria.
Inclemente, o mximo que as negociaes com a Coroa alcanaram foi a dilatao do prazo para 24
anos e o lanamento de um imposto de 5% sobre as rendas provenientes de aluguis, propriedades,
escravos e produtos da terra 32. A mesma Cmara, em 1671, dirigindo-se ao Rei, implora que seja
suspensa a contribuio de 400.000 rs., imposta no ano anterior para os servios das misses
religiosas nas conquistas ultramarinas. As reclamaes iam se acumulando, pois,
29
Correio de 22 de dezembro de 1660 . Ibidem. p. 49.
Documentos Histricos, Biblioteca Nacional, v. 4, no. 136, p. 417.
31
COARACY, Vivaldo. Opcit, p.178.
32
Ibidem.
30
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
76
alm da argumentao de pobreza de seus moradores, alegam que estes j conviviam com
dificuldades at para pagar o donativo para o dote 33.
De todo modo, a rebelio de 1660-61 deixara mostra algumas contradies que vinham
marcando de modo recorrente as relaes entre colnia e Metrpole. Na Representao de 2 de julho
de 1666, acima referida, emitida pela cmara e moradores da cidade do Rio de Janeiro, numa clara
porm sutil advertncia sobre aqueles que cercam o Rei, lembram a origem divina de seu poder
como obrigao para o cumprimento da justia, mesmo em seus domnios mais distantes:
... que pela glria de seu trono, felicidade e amparo de seus vassalos, pede, e clama seja
servido dar eficazes providncias na escolha de homens para o governo desta terra, levando
considerao de Vossa Majestade pesar os inconvenientes de uma autoridade sem limitao
na distncia de mais de mil lguas do Trono, onde no devem chegar os nossos clamores e
gritos da nossa dor, e se por ventura tocar as nossas lgrimas o Paternal Corao de Vossa
Majestade, a que aflies e perseguies no ficamos expostos, debaixo de uma autoridade
regida por paixes e caprichos, que pelo interesse da Justia e Servio de Vossa Majestade,
sustentado por parentes e amigos poderosos que rodeiam o Trono Augusto em que Deus
colocou Vossa Majestade 34.
b) Bahia
A capitania da Bahia, ao longo do perodo colonial, atravessaria tambm graves protestos
antifiscais, tendo como epicentro a cidade de So Salvador, mas espalhando-se por outras regies do
recncavo. As primeiras resistncias situam-se, at onde foi possvel detectar, durante a ocupao
holandesa no nordeste, com a insatisfao popular em virtude dos excessivos impostos lanados na
Bahia para sustentao das tropas militares e construo de quartis, particularmente em 163835. Em
outro instante, os baianos protestam contra o imposto de 4 vintns, ou 80 rs., sobre a canada (3 lts)
de azeite de peixe lanado pela Cmara municipal para construo de 3 quartis. Aqui a crise social
decorre tambm das expropriaes de alguns imveis urbanos pelos militares. Nesta reclamao do
Povo da cidade da Bahia (circa 1658), protestam ainda contra a iniquidade na
33
Ibidem, pp. 188-9.
Ibidem. p. 27.
35
ARAJO, Emanuel. O teatro dos vcios, p. 234. cf. o subcaptulo fardas atrevidas.
34
77
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
cobrana da vintena, por se no cobrar com igualdade por respeitos particulares, porque s paga o
povo o que lhe cabe e os poderosos o que querem. 36
Mas foram as primeiras dcadas do sculo XVIII que ofereceram expressivas demonstraes
da tenso latente em torno da fiscalidade na Bahia. Desde 1710, a populao pobre ameaava iniciar
um motim pressionando violentamente a Cmara, o procurador do Senado e o Juiz ordinrio, contra
a falta crnica de sal, artigo indispensvel para os conservao dos mantimentos da cidade, como a
carne, o peixe e couros.
Esta iminente tenso acaba explodindo no ano seguinte, com a notcia do lanamento de
novos tributos para financiar os cruzeiros contra os piratas que agiam nas barras de Salvador atiados pelo ouro das Gerais - incidindo sobre as mercadorias importadas, que nas Alfndegas
passam a pagar 10% ad valorem, e sobre os escravos que vinham da Costa da Mina (3 cruzados por
cabea) e de Angola (6 cruzados por cabea), alm do aumento do preo do sal de 480$ rs. para $720
rs37. O motim foi liderado pelo comerciante Joo de Figueiredo da Costa (o Maneta) com a
participao de marinheiros, soldados e oficiais do Tero, aos gritos de que no queriam mais
tributos.38
Segundo a narrativa de Igncio Accioli e Braz do Amaral em suas Memrias Histricas e
polticas da Bahia 39, o tumulto comea em outubro de 1711 quando se renem na praa do Palcio,
pessoas do comrcio, um considervel nmero de pessoas da classe mais ordinria, misteres;
todos instados pelo Juiz do Povo que ordenara ento que o sino da Cmara dobrasse sem parar.
As negociaes com o governador geral recm-empossado Pedro de Vasconcelos e Souza,
caminham mal. O Maneta, exige a suspenso do novo tributo e a reduo do preo do sal para 480
rs.. O governador evasivo e sugere que remetam peties a Lisboa. A escalada de violncia se
precipita na cidade e as casas de dois afortunados so invadidas e saqueadas. Em uma delas, a do
negociante de grosso trato e contratador do sal Manoel Dias Filgueiras, arrombam o armazm e
abrem as pipas e todas as mais vasilhas que encerravam diversos lquidos, fazendo-os correr pelas
ruas. A turba nomeia um Juiz do Povo,
36
Cit.em ACCIOLI, Op. cit. pp. 114-6, vol. 2, grifo nosso. Cf. tambm ARAJO, Emanuel. O Teatro dos
Vcios, pp. 295-6.
37
LAMEGO, Alberto. Os motins do maneta na Bahia. Revista do Instituto Geogrfico e Histrico da
Bahia. n. 55, 1929, p. 357-8. Estas e outras revoltas da Bahia colonial esto sumariamente lembradas no texto
Tumulto de 1682 na Bahia publicado pelos Anais do Arquivo Pblico do Estado da Bahia, v. 3, pp. 65-71.
38
AZEVEDO, Thales de. Op. cit, pp.351-52.
39
ACCIOLI, Op. cit. vol. 2, pp.152-4.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
78
destri os depsitos de sal, saqueia outras casas de negcios e cerca o Palcio do Governador.
A multido s detida quando o Arcebispo (note-se que no se trata de uma autoridade
qualquer) recorreu s armas da religio. Com uma mbula contendo os santos leos e
acompanhado de cnegos e irmos da confraria do Sacramento da S, promove uma verdadeira
procisso de pacificao, conseguindo dispersar os tumultos. Mas, logo logo, se renem novamente
para pressionar o governador que, ao final da tarde, capitula, aceitando todas as exigncias e, ainda,
concedendo um perdo generalizado. S ento, na hora das Ave-Marias, o sino da Cmara silencia,
tranqilizando a multido que se dispersa.
A mesma praa assistiria a novos tumultos, 44 dias depois. Uma multido persegue o
governador at encontr-lo na casa de D. Loureno de Almada, presidente da Junta de Comrcio,
onde exige que expedisse um comboio para socorrer na restaurao do Rio de Janeiro, ocupado
pelos franceses. Diante da alegao do governador de falta de recursos, a populao indica o mapa
da mina, sugerindo que lanasse mo do dinheiro dos particulares que estava guardado no
convento de Santa Teresa e Colgio dos Jesutas, obrigando-se a tomarem a seu cargo a maior
despesa da expedio. O governador, (re)conhecendo que nada aproveitavam razes com gente de
tal qualidade, acaba por concordar e ordenar Cmara que regulasse a contribuio. No amanhecer
do dia seguinte, seus oficiais, receosos do progresso do tumulto, estabeleceram com o povo a
contribuio montando grande soma a subscrio dos homens de negcio (grifo nosso). Perguntase: o povo na Bahia tomava os rumos da fiscalidade colonial, invertendo a ordem natural da poltica
fiscal?
Mas logo chega a notcia do resgate do Rio de Janeiro aos franceses e tudo acaba sendo em
vo. Alguns poucos envolvidos so punidos, a Cmara volta a insistir na extino do Juiz do Povo (o
que ocorre por ordem rgia de 25.2.1713), responsabilizado mais uma vez pelos tumultos.
Do outro lado do Atlntico o governador cai em desgraa junto ao Conselho Ultramarino.
Segundo o julgamento de seus ministros, agira com excessiva condescendncia, sendo duramente
reprovado pelos conselheiros que recomendam ao Rei sua substituio. Tamanha inabilidade levarao a proceder com extraordinria diferena entre um e outro levante: em ambos no tivera o
governador a indstria necessria para pr em execuo as reais ordens 40. Ao contrrio de castigar
aqueles que se levantaram contra os impostos, havia perdoado
40
Parecer do Conselho Ultramarino. cit. por LAMEGO. Op. cit, p.363.
79
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
os lderes do levante, quando deveria t-los punido sumariamente como se recomendava:
... faltara o governador a resoluo de prender os cabeas e enforc-los, quando entendesse
que isto era necessrio, para comprimir o motim, e nunca deveria convir que no se
impusessem os impostos, ainda que no tivesse foras para executar quando estas no
faltariam, se puxasse pelos Teros e gente de guerra dos navios e as armasse em palcio e em
outros stios, para conter o povo pelo medo41.
O governador errara novamente ao sentenciar vrios presos nos protestos voltados para acudir o Rio
de Janeiro invadido. Afinal, segundo os conselheiros, esta desobedincia, nascera do zelo do
servio de Sua Majestade42.
Havia no fundo deste problema outra diferena, vinculada composio social destes
protestos. Isto sim verdadeiramente inquietava a Coroa. A desastrada poltica do governador
invertera completamente os termos da ao metropolitana: em uma revolta antifiscal de carter popular aliviara a represso, chegando a conceder o perdo, atitude que estava fora de sua alada (sua
autoridade s permitia que determinasse sumariamente o enforcamento), em outro protesto (quase
imediato), que possua o louvvel intuito de defender a praa melhor e mais importante de todo o
estado do Brasil, prendera elementos envolvidos. Ou, como bem melhor argumenta o parecer do
Conselho Ultramarino:
... na primeira alterao, no concorreram as pessoas de principal qualidade, mas somente o
povo humilde e ignorante, incitado por pessoas da mesma qualidade, que conceberam
cegamente, [por] medo de muitos e vrios tributos, que o rumor popular havia espalhado, que
lhe mandavam lanar43.
Em 1714, por se achar incompatibilizado com os moradores, o governador substitudo
por D. Antonio de Noronha que, corajosamente, consegue aplicar novos impostos, ameaando com a
priso e com o ltimo suplcio no mesmo dia qualquer desobedincia que surgisse 44. Reafirmando
sua autoridade, o Rei anula o perdo que fora concedido pelo antigo governador e o concede
novamente para as duas rebelies. Contudo, admitia: ... como S. Mag., naquela cidade, no tinha
foras e meios suficientes para conter um povo to grande e licencioso, que resiste a novos tributos,
os quais so sempre violentos e maus de
41
Ibidem, p. 364.
Ibidem, p.363.
43
Ibidem, p.365.
44
Ibidem, pp.358-359.
42
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
80
sofrer aos povos os mais obedientes e bem morigerados... 45. O novo governador restabelece, no
mesmo ano, como seu primeiro ato de governo, o imposto da dzima e, para evitar que a sua
administrao no deixasse de ser inquietada por algum tumulto, enforca logo 2 rus que
aguardavam a pena ltima. Parecia estar mais de acordo com a poltica do Conselho Ultramarino.
Porm tambm no teria muita sorte. Um dos enforcados escapa vivo do patbulo quando o travesso
que sustentava a corda se quebra. protegido pelo manto da Irmandade da Misericrdia mas
imediatamente morto estocadas pelo diligente carrasco. Tem incio nova onda de protestos
reunindo o povo irritado e a Irmandade ultrajada.
O desenrolar da Revolta do Maneta trouxe elementos bastante elucidativos para a
discusso. Note-se que o levante tem incio com simples boatos - o temido rumor popular - de que
se lanariam novos impostos, logo aps a chegada e a posse de Pedro de Vasconcelos no governo.
Mesmo sendo falsa a notcia (como o prprio governador explicaria em carta ao Secretrio de
Estado), o motim transcorreu sem qualquer possibilidade de interveno das autoridades, uma vez
que os militares dele tambm participavam ativamente: pois com o tumulto andavam misturados...
oficiais, soldados destes dois Teros, eu no podia valer-me para o fim da quietao daqueles
mesmos que via amotinados... 46. Por outro lado, essa resistncia empurra os colonos da Bahia para
uma contestao bem mais profunda do que as aparncias sugeriam: romper com a soberania
portuguesa. Os consagrados pasquins insolentes, to prprios dos protestos na Bahia colonial,
ameaavam reconhecer vassalagem a outro Senhor se no fosse suspensa a execuo dos novos
tributos 47.
A mesma Bahia que sacudida pelos motins em 1710-11 atravessa de modo intranqilo o
resto do sculo XVIII, sempre que o momento exigiu o lanamento de novos tributos. Apresentando
uma inegvel continuidade (embora sob determinantes bem diversos), no se deve descartar a
importncia do tema da resistncia fiscal presente fortemente na Conjurao Baiana em fins do
sculo. Ainda um ano antes da Revoluo dos Alfaiates, uma representao annima enviada
Rainha j demonstrava o descontentamento com os tributos, que reduziam o povo a uma penria
geral de tudo48. Um dos boletins sediciosos desta revolta se ope aos direitos que so cobrados por
ordem da Rainha de Lisboa. O Aviso ao clero e ao Povo Bahiense indouto comeava justamente
assim:
45
Ibidem. p.365.
Carta do governador Pedro de Vasconcelos ao secretrio de Estado Diogo de Mendona. apud LAMEGO,
Op. cit. p.359-1.
47
Carta do governador Pedro de Vasconcelos ao Rei. apud LAMEGO, Op. cit, p. 360.
48
TAVARES, Luis Henrique Dias. Histria da Sedio Intentada na Bahia em 1798. So Paulo: Pioneira,
1975, p.171.
46
81
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
considerando nos muitos e repetidos latrocnios feitos com os ttulos de imposturas, tributos e
direitos que so cobrados por ordem da Rainha de Lisboa...49.
C) Minas Gerais
Nas Minas Gerais - onde o sculo XVIII prdigo neste tipo de protesto - muito cedo se
contesta o direito ao pagamento de direitos reais. Os levantes que transcorrem entre 1715 - quando
no Morro Vermelho (Vila Nova da Rainha) os povos se insurgem contra o direito das entradas at 1720 - nos protestos contra o quinto real liderados por Felipe dos Santos - expressam
nitidamente um momento em que a autoridade metropolitana encontrava-se ainda incapaz de agir
com sua desenvoltura habitual. uma poca em que se aceitam fintas com um carter de oferta
voluntria ao Rei. a poca em que as condies estruturais e polticas do aparato administrativo
ainda no haviam sido capazes de exercer plenamente a legtima cobrana do direito do quinto. As
negociaes ento pareciam sempre ser favorveis aos mineiros.
A crnica dos primeiros levantes contra a opresso fiscal nas Minas Gerais ainda est para
ser pesquisada mais detidamente. A primeira ofensiva de peso da administrao ocorreria a partir de
1715 com o governador Dom Braz Baltazar da Silveira, buscando ampliar a cota global da
arrecadao do quinto. No tem sucesso. As juntas que promove em reunies com as elites locais
de Vila Rica, Vila do Carmo e Pitangui recusavam sempre qualquer aumento. Diante de insistncias
mais determinadas da parte do governador, sua casa era cercada e ameaada.
Muito pouco se faria at 1719, quando se anunciou o projeto de instalar em Minas uma casa
de fundio e moeda. Da em diante, as resistncias seriam mais ostensivas, em grande parte por
confrontar autoridades confiantes nos recursos militares e judiciais introduzidos na regio e rebeldes
igualmente convictos de seus direitos. Em Pitangui, as instncias judicirias - como o juiz ordinrio e militares - como o capito-mor - so atacadas por grupos liderados por Domingos Rodrigues do
Prado, costumado a seduzir os povos para no pagarem o quinto50. O levante se espalha mais tarde
para Ouro Podre, em Vila Rica, onde se
49
ACCIOLI, Op.cit. v.3, p.110.
J.J. Teixeira Coelho. Instruo para o governo da Capitania de Minas Gerais (1780). Revista do Arquivo
Pblico Mineiro, v. VIII, 1903, p. 466. Essa preciosa Instruo mereceu recentemente publicao em volume
prprio com bem cuidada edio com introduo do professor Francisco Iglsias e reviso paleogrfica e
atualizao ortogrfica do original (Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro, Centro de Estudos Histricos e
Culturais, 1994. 304 pp. Coleo Mineiriana. Srie Clssicos)
50
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
82
confederam alguns homens livres, invadindo a casa do Ouvidor51. Caracterizando o espao de
negociao que os sediciosos esperavam contar, encaminham propostas para acertarem a paz.
Pedem que no se tratasse mais da instalao da casa de fundio e moeda, asseguram ao Rei 30
arrobas de ouro anuais, solicitam a diminuio do imposto de entrada dos escravos para uma oitava
e meia, pedem que a Cmara no cobrasse pelo calamento das ruas e que no forasse os povos a
sustentar as Companhias de Drages, dentre outras exigncias. Aps a represso, sempre violenta,
seu lder enforcado e esquartejado e as casas dos envolvidos queimadas. A truculncia do Conde
52
de Assumar fecha uma pgina importante na Histria da cobrana dos impostos na capitania .
Manifestaes de resistncia fiscal atravessariam o sculo, mediadas pelas constantes
splicas das Cmaras de toda a capitania contra a capitao e censo de indstria (1735-51) e a
vexao que causavam. Se os anos 15-20 foram de estruturao do aparelho fiscal nas reas de
minerao, os anos 30 assistiram sua extenso para o serto. As imagens so fortes: homens
levados misria e mulheres empurradas para a prostituio a fim de cumprir a exigncia do
imposto. O serto das minas onde se criava gado amotina-se em 1736 contra o quinto cobrado de
seus escravos e da populao forra. No norte da capitania, em torno do Rio So Francisco e Rio
53
Verde, vrios motins interligados eclodem em 1736 contra a capitao . O movimento que comea
sob a liderana do potentado rural Domingos do Prado Oliveira envolve camadas mais baixas da
populao.
Tudo comea quando um juiz-cobrador cercado e atacado na barra do rio das Velhas.
Depois disso os desdobramentos se aceleram:
...foi fama constante que se amotinou um grande corpo de gente armada, que seriam sessenta,
no stio da capela das almas, arrombando portas, e convocando o povo com alaridos, e
violentando aquelas pessoas, que os no queriam acompanhar, ameaando-as, que no caso que
no quisessem lhe haviam de lanar fogo as casas, e
51
VASCONCELLOS, Diogo Pereira R.. Memrias sobre a capitania de Minas Gerais (1806). Revista do
Arquivo Pblico Mineiro, v. VI, 1901, pp. 182-3.
52
A respeito de Dom Pedro de Almeida Portugal, terceiro Conde de Assumar, no governo da capitania ver a
introduo da professora Laura de Mello e Souza ao Discurso Histrico-Poltico, atribudo ao governador
(Belo Horizonte: Fundao Joo Pinheiro, Centro de Estudos Histricos e Culturais,1994.Coleo Mineiriana.
Srie Clssicos).
53
Estes motins mereceram estudo da professora Carla Maria Junho Anastasia. A sedio de 1736: uma
Anlise Comparativa entre a Zona Dinmica da Minerao e o Serto Agro-Pastoril do So Francisco.
Dissertao de mestrado em Cincia Poltica. UFMG, 1982. ex. mimeo. e Potentados e bandidos: os motins do
So Francisco. In: Revista do Departamento de Histria da UFMG, 9, 1989, pp. 74-85. Ver tambm Motins
do Serto, que rene uma pequena parcela da documentao gerada pela revolta, In: Revista do Arquivo
Pblico Mineiro, vol 1, Belo Horizonte: Arquivo Pblico Mineiro, 1896.
83
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
outros insultos, tudo em ordem a impedir ao dito juiz, na considerao de que ia na diligncia
da cobrana da real capitao...54.
Pediam mais: Diziam no queriam que se tirasse devassa onde nunca se tirou nem cobrasse
direito algum real onde s se devia dzimo a Deus. As autoridades contra-argumentam, estranhando
ali a presena de membros da elite e ameaando:
...no me posso persuadir a crer o que se diz de serem os tais fomentadores das pessoas de
distino, que os abnegam nas suas fazendas, e vizinhanas; pois estes tenho por fiis, e leais
vassalos de sua Majestade e prontos a concorrerem com os direitos que por suas reais ordens
se lhe impe, e que no querero perder o que tem com a infmia de rebeldes55.
Tratada inicialmente como quimeras do serto pelo ilustrado loco tenente Martinho de
Mendona de Pina e Proena, supondo serem simples boatos divulgados pelos proprietrios da
regio a fim de criar um clima de instabilidade que afastasse a nova forma de cobrana, a realidade
dos fatos logo desmente essa impresso. Cedo percebe que estava diante de poderosa resistncia de
potentados rurais, criadores de gado, produtores de farinha, profundamente articulados com a Bahia
atravs do comrcio interno. Um enorme contingente militar deslocado para a regio, ficando seu
comando nas experientes mos de responsveis pela represso aos motins de 1719 e 1720, como
Joo Ferreira Tavares. A trajetria da revolta espantosa, pela violncia empregada pelos
amotinados (incndios de casas, fazendas e plantaes, morte de pessoas que se recusaram a
participar, ataque s foras legalistas), pelo contingente envolvido (negros, mulatos, brancos, carijs,
ndios, potentados, padres) e pelas vilas tomadas. Em poucos meses, porm, a ocupao militar do
serto vai avanando e as dissimulaes dos principais lderes, entre eles Domingos do Prado de
Oliveira e vrios familiares seus, no conseguem evitar que sejam presos.
As resistncias fiscais nas Minas do ouro no parariam a. Um de seus componentes mais
determinantes foram as normas conflitantes da Igreja e do Estado a respeito do pagamento do quinto,
mesmo sob o Padroado. Nas dcadas iniciais de ocupao da capitania os padres pregam
ardorosamente contra o direito do quinto e em defesa do dzimo. Aos poucos, resolvidos os embates
a este respeito entre poderes temporais e espirituais, sucessivas pastorais e sermes buscam
disciplinar os fiis para o pagamento do quinto, lanando mo de um argumento
54
55
IHGB, Arquivo do Conselho Ultramarino . no 1.1.24.
IHGB, Arquivo do ConseIho Ultramarino. Idem.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
84
decisivo: a excomunho. Mesmo assim, a execuo da tributao eclesistica na regio passaria por
momentos difceis, sobretudo quando os cristos - revelando contrariedade com os efeitos da
bitributao - decidem descontar do pagamento do dzimo aquilo que foram obrigados a pagar com
cngruas e conhecenas para sustentao dos cultos divinos e manuteno dos padres56.
Para complicar o quadro, a participao violenta dos militares na cobranas fiscais, j sob o
governo de Luis da Cunha Meneses, gera insatisfaes, denunciadas nas Cartas Chilenas. O fisco,
como sempre, recaa contra aqueles que ao Errio s devem tnues somas57. Na dcada de 70,
acumulam-se representaes das cmaras contra a iniquidade na aplicao da derrama, diante de
uma organizao fazendria exemplar e complexa como at ento a colnia no conhecera.58
3. VEXAES versus SUAVIDADE: OS ESTREITOS LIMITES DA FISCALIDADE
COLONIAL
Como se v, o lanamento de impostos era o recurso predileto utilizado para atender novas
despesas ou cobrir compromissos dos cofres pblicos. A colnia seria afinal a retaguarda fiscal (e
no apenas comercial) da metrpole: cmaras tributam fatias do comrcio para pagar soldos
atrasados (a defesa, este sorvedouro de verbas nos tempos coloniais) e realizar obras (so nossas
talhas medievais), criam-se impostos para dotes, guerras... repartidos entre as regies, prsperas ou
no. A fiscalidade assume usos mltiplos, sendo o nervo imediato para a sobrevivncia material da
administrao colonial e a condio para o exerccio do governo em suas diferentes esferas, da
manuteno de precrias pontes municipais construo de suntuosos palcios, aquedutos e obras
pias no reino.
Tributar exigia, contudo, precauo poltica. E no apenas porque os cofres da metrpole
dependem cada vez mais destas receitas, mas porque o direito de lanar impostos pelo Estado
(apesar de ser uma de suas primeiras atribuies)
56
BOSCHI, Caio Csar. Os Leigos e o Poder - irmandades leigas e poltica colonizadora em Minas Gerais.
tica, 1986, p. 91. Este autor citando o Cnego Raimundo Trindade, transcreve: Declarou pecado mortal o
no pagamento do quinto ou qualquer fraude que levasse o contribuinte a no pagar esse imposto ou pagar
menos que o devido por lei.
57
O pobre, porque pobre, pague tudo,/ e o rico, porque rico, vai pagando / sem soldados porta, com
sossego. Toms Antonio Gonzaga cit. por Arajo, E. O Teatro dos Vcios, p. 297.
58
Um esforo para interpretao de conjunto desses motins, com a marca da instabilidade que caracterizou os
primeiros tempos da capitania, contraposta realidade da segunda metade do sculo, quando as revoltas so
surdas, disseminadas e cotidianas, encontra-se em Laura de Mello e Souza. Tenses sociais em Minas na
segunda metade do sculo XVIII. In: NOVAIS, Adalto (org). Tempo e Histria. So Paulo: Compania das
Letras; Secretaria Municipal de Cultura, 1992, pp. 347-366.
85
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
59
ainda est em constituio ao longo da poca moderna. O padre Raphael Bluteau, em seu
Vocabulrio (1713) lembrava: Todas as leis obrigam os povos a pagar tributos, e justo , que os que
logram o fruto do bom governo, se mostrem devedores ao cuidado de quem governa. O que importa
que com os tributos no fiquem oprimidos os sditos. Os tributos ho de ser como as velas, devem
levar o navio e segur-lo, no afund-lo com o peso60.
No obstante quaisquer precaues, a condio colonial introduziria novas dimenses s
tenses decorrentes da legitimidade da fiscalidade real. O Estado metropolitano pareceu sempre
temeroso e profundamente inseguro diante da necessidade de cobrana de impostos na colnia.
Efetivamente, vrias linhas da documentao recomendam zelo e precauo ao tratarem desse
delicado tema. Na aplicao da derrama de 1763 em Minas Gerais, o rei adverte ao governador:
estas derramas so de conseqncia assaz forte, e por este motivo confia Sua Majestade que Vossa
Excelncia no s auxilie quanto couber no possvel os mineiros, tratando-os com toda urbanidade e
amor...61. Quando o desembargador e ouvidor geral da comarca do Serro Frio trata do lanamento
de uma finta para manuteno das crianas expostas, reclama:
porm estas providncias que so as de uma finta lanada ao povo, podendo executar-se com
muita suavidade, quando so dadas a tempo, fazem-se muito pesadas quando de uns para os
outros anos se amontoam as dvidas (...) tendo a satisfao delas sobra a parte mais fraca do
povo a vista da extraordiria multido de pessoas privilegiadas e isentas de pagar semelhantes
fintas, que h nesta comarca, assim como em todas as mais destas minas... 62
D. Fernando Jos em carta de 1801 tambm cauteloso ao recomendar ao governador da Bahia:
...fixastes os novos impostos que se poderiam lanar, sem maior vexame dos meus
vassalos..., sugerindo cuidado: promover lenta e sucessivamente algumas
59
Poderamos ir muito longe nesta discusso, onde se encontram as linhas de fora da formao dos Estados
modernos com a criao de impostos de carter nacional e permanente, contrapostas ao direito tradicional de
que impostos deveriam ser temporrios, e jamais servir para sustentar as despesas da monarquia (uma vez que
esta deveria viver de seus prprios recursos). Por ora preferimos no nos enredar nesta teia. Uma importante
contribuio para essa discusso o artigo de A. Guery. Le Roi dpensier - le don, la contrainte, et lorigine
du systme financier de la monarchie franaise dancien rgime. In: Annales E.S.C.. 39e anne, no. 6, 1984,
pp. 1241-1269. A esse respeito ver tambm ELIAS, Norbert. La dynamique de lOccident. Paris: CalmannLvy, 1975 (cap. VI - La sociogense du monopole fiscal, pp. 149-179.
60
Vocabulrio Portugus e Latino. Coimbra: Companhia de Jesus, 1713. Verbete Tributo.
61
Biblioteca Nacional, Seo de Manuscritos, Livros de Cartas Rgias (1765-1807). Carta Rgia ao Conde de
Valadares(4/11/1767).
62
Arquivo Histrico da Cmara Municipal do Serro Frio- Minas Gerais, cx. 17, l.1, fl 180.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
86
alteraes dos mesmos impostos ... em benefcio ... dos meus vassalos ... que podem prosperar
com uma taxao bem entendida e produtiva, e que s ho de sofrer daquela que, ou for
opressiva ou desigual...63
Mas o que deveria temer o Rei (e seus funcionrios), se ordenava que executassem um direito
que tradicionalmente possua?
No Portugal Filipino, afirma o historiador portugus Antnio de Oliveira, acreditava-se que o
imposto, quando injusto, quebrava a harmonia com Deus, propiciando a ira divina (num certo
providencialismo tributrio). Por isto, as armadas portuguesas teriam sido destroadas, ocorreram
64
tempestades, grassava a peste, a metrpole perdera Pernambuco para os holandeses. No entanto, os
impostos, quando se tornavam vexosos ou injustos, no animavam apenas crenas e mitos: eles
legitimavam na cultura popular o recurso extremo rebelio. Para esse autor, o Estado deveria no
mbito de sua poltica financeira cuidar para no empobrecer vassalos atravs de tributos. E
afirma: O peso dos impostos, com efeito, no se pesa apenas na balana da casa da moeda. O peso
mais pesado, que desequilibra o fiel entre o povo e o rei o que se coloca no prato da injustia65.
As revoltas antifiscais que se espalham por quase todas as regies de Portugal em 1637 e
1638, so a prova disso. Partindo de vora, atingindo o Alentejo, Algarve, Serra da Estrela, Porto e
Bragana, elas tm vrios fatores conjunturais envolvidos: a guerra da Espanha contra a Holanda,
crise das importaes do Brasil, diminuio das rendas fiscais. Sendo a dcada de 30 em
63
Citado por ACCIOLI, Op. cit. v. 3., p.176
Esse julgamento a respeito dos efeitos malditos propiciados por impostos injustos aparece com muita
frequncia. O conselheiro do Conselho Ultramarino Antnio Rodrigues da Costa chega a utiliz-lo em um de
seus pareceres mais famosos onde discute o perigo dos excessos fiscais praticados no Brasil : ... O senhor D.
Joo II fez um pedido ao reino para o casamento de seu filho o prncipe D. Afonso ... e como o pedido foi
excessivo, e os povos no deviam esta contribuio, porque s so obrigados aos casamentos das filhas do
Rei, e no dos filhos, se atribuiu a iniquidade deste tributo o sucesso funesto que teve aquele casamento,
morrendo aquele prncipe da queda de um cavalo.... Consulta do Conselho Ultramarino a S.M., no ano de
1732, feita pelo conselheiro Antonio Rodrigues da Costa. In: Revista do IHGB. Tomo 7, vol 7, 1845.p. 480.
65
O lugar da fiscalidade nos protestos populares, sua dimenso e real complexidade aparecem de forma bem
acabada nos trabalhos do historiador portugus Antnio Oliveira, dedicados poca da dominao dos Felipe
(1580-1640) em Portugal Poder e oposio poltica em Portugal no perodo filipino (1580-1640). Lisboa:
Difel, 1990. Utilizamos aqui de modo mais recorrente o artigo Fiscalidade e Revolta no Perodo Filipino.
Lisboa: Centro de Histria da Universidade de Lisboa, 1986, pp. 71-105. (Separata da revista Primeiras
Jornadas de Histria Moderna, p. 81. Estudo econmico que amplia a perspectiva sobre essas alteraes,
para cuja explicao no suficiente a recusa aos tributos e sim o quadro conjuntural de carestia e fome, o
de Joaquim Romero Magalhes, 1637: motins da fome. Separata de BIBLOS. no 52. Coimbra, 1976.
Faculdade de Letras/Universidade de Coimbra, pp. 319-333. pgina 320: no no documento rgio ou na
execuo do arrolamento que est o impulso para as alteraes, mas na crena no que se julga vir a
acontecer, na grande runa de que se suspeita.
64
87
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
toda a Europa uma conjuntura de depresso econmica, a situao bastante conhecida: as
necessidades fiscais encontram a resistncia popular. Porm, h elementos novos de anlise
colocados em cena e a fiscalidade, mais do que apenas simples motivo de protesto, capaz de
articular em torno de si uma vasta rede de tenses que desguam na revolta. Para ampliar a base
social da tributao em um contexto de crise, sem vexar os povos, a administrao recorre aos
impostos indiretos (o real da gua, meias anatas e ao aumento do cabeo das sisas) alcanando as
classes privilegiadas, reunindo ricos e pobres contra o governo de Espanha.
O recurso a esse exemplo reinol parece vlido uma vez que justamente quando os impostos
se tornam vexosos aos povos, agredindo direitos considerados tradicionais, que se legitimam as
revoltas. Quando o soberano exagera nas exaes fiscais, quando as cobranas so violentas e
socialmente desiguais. Nesses momentos se acende a fagulha da revolta66. A melhor sntese dessa
discusso encontra-se na reflexo de um dos conselheiros do conselho Ultramarino que, em 1732,
com sua lucidez cortante, desmascara:
...Os povos do Brasil esto gravemente tributados... A este encargo to grande [refere-se aos
direitos alfandegrios], se ajuntou de novo a contribuio de sete milhes para as despesas dos
casamentos de suas altezas; e esta quantia to excessiva, que nunca nem a metade dela coube
nos cabedais da nao portuguesa, ... nem os portugueses souberam nunca pronunciar sete
milhes.... sem dvida que os povos do Brasil gemem com este novo tributo, e contra a
verdade dizerem o vice-rei e governadores que foi voluntrio neles, e ofereceram com grande
gosto ... e como este tributo h de durar anos, que no possvel cobrar-se s em um ... vem a
se repetir as feridas sobre a primeira; e assim cada ano se far mais aborrecido o governo, e a
pacincia muitas vezes ofendida degenera em furor.
67
Mas, impossvel deixar de perguntar: no obstante cuidados e recomendaes, poderia ser
diferente em se tratando de uma colnia sob o mercantilismo? Em se tratando de um Estado que
necessita atender s despesas crescentes de setores sociais parasitrios?
Aliado essas contradies que transparecem nas relaes colnia-metrpole, o fiscalismo
torna-se cada vez mais voraz conforme a economia portuguesa vivia dificuldades, conjugando os
fracassos da poltica do imprio
66
Tomo esta expresso emprestada de RUD, George. Ideologia e protesto popular. Rio de Janeiro: Zahar,
1982, p. 28.
67
Consulta do Conselho Ultramarino a S.M., no ano de 1732, feita pelo conselheiro Antonio Rodrigues da
Costa. In: Revista do IHGB. Tomo 7, vol 7, 1845.p. 480. Grifo nosso.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
88
colonial - quando vai se acentuando em suas prticas mercantilistas a dependncia dos tributos - com
o sufocamento econmico determinado pela concorrncia com as potncias europias. A poca
pombalina assistiria confirmao desta vocao: dos rendimentos dos contratos reais, das
arrecadaes do fisco, nas minas, nas alfndegas, dependia quase tudo no Portugal setecentista68.
4. CONCLUSO
Os limites da estrutura da poltica fiscal na colnia eram fronteirios, na medida que, ao
empurrarem as condies materiais de vida da populao para prximo dos limites suportveis,
propiciavam a ecloso de um nico protesto possvel: a rebelio. Ao mesmo tempo, a elaborao da
resistncia e a crtica aos impostos proporcionam um reconhecimento em termos elementares da
condio colonial e seus limites.
Contudo, a fiscalidade per se no capaz de explicar, isoladamente, o fenmeno dos motins
nem sequer a formulao dessa conscincia no Brasil. Afinal, ela to somente despertava uma
imensa cadeia de insatisfaes relacionadas, em ltima anlise, s limitaes impostas pelo pacto
colonial.
Em sntese, o contraste de grupos privilegiados, a prtica de contrabando tcito de
autoridades, corrupo consentida, prevaricao, mal uso das receitas pblicas por oficiais
fazendrios, preos extorsivos dos gneros bsicos controlado por atravessadores, violncia nas
cobranas por contratadores e militares, tropas sem rao, armas e fardas pela sonegao das
consignaes praticadas por esses mesmos contratadores, gerando terror, pnico diante das invases
e dos saques, falta de gneros bsicos, peste e a ausncia de representavidade poltica, ativavam uma
recusa que desaguava muitas vezes na contestao.
Veja-se a Representao do povo da cidade da Bahia (circa 1658), quando reivindicavam
eqidade e justia tributria, pedindo que no se dessem do dinheiro do Povo ajudas de custo nem
celeiros a oficiais69, ou que no se retirasse tenas para Igreja dos rendimentos dos contratos de
pesca da baleia, porquanto o que se diminui nas tenas fica faltando para o dito efeito [manuteno
dos fortes] e caindo de novo sobre o Povo toda a falta que h.
eqidade, pedem neste documento:
68
FALCON. Op. cit., p. 449.
ACCIOLI. Op.cit, p.115.
70
Idem. p.115.
69
70
. Referente ainda luta por uma
89
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
... que todos os tributos, fintas, contribuies e pedidos que se lanaram naquele povo para
sustento de guerra daquele presdio (...) se no isentem deles as pessoas privilegiadas ricas e
poderosas, nem por respeitos particulares, porquanto a contribuio h de ser geral e no
particular, por ser comum o dano que houver...71.
O que significava dizer: isenes de uns, maior peso sobre os outros.
Entre outros exemplos disso teramos a insatisfao que eclode em Pernambuco - durante o
domnio holands - contra os impostos necessrios para sustentar as tropas pagas na defesa colonial.
Parecem revelar a capacidade de reconhecer de modo fragmentado algumas limitaes da condio
colonial, que exigia uma eficiente defesa: para a gente da terra, a fiscalidade escorchante derivava
em grande parte do nmero excessivo de oficiais(...)72.
Essa estrutura sobre a qual se praticava a fiscalidade obedecia desta forma a uma tendncia
quase natural de proporcionar contestaes, no apenas por desconhecer qualquer espao para ouvir
a voz dos grupos taxados, mas, ainda, porque estes tinham sempre suas condies econmicas
prejudicadas j que os ricos e privilegiados sempre conseguiam escapar dos impostos exigidos. Em
inmeras situaes confirma-se aquilo que j se supunha acontecer: os novos impostos, ou seu
aumento, geralmente deixavam de fora os grupos dominantes, refratrios ao aumento (e muitas vezes
ao prprio pagamento) das imposies. Graas instrumentos de presso, muitos deles sustentados
pelos privilgios tpicos da sociedade de Antigo Regime, os lanamentos fiscais atingiam com
especial fora o grupo formado por oficiais mecnicos, pequenos comerciantes e os empobrecidos e
excludos.
Por sua vez, a distncia colonial, garantindo o despotismo de autoridades escoltadas no
afastamento e na demora com relao ao centro de poder, agravou nos momentos de tenso a
tendncia imagem da administrao venal e do Rei trado. Ampliava-se, pelos limites estruturais
do sistema colonial, o espao para legitimidade do protesto:
...O perigo interno, que tem os Estados, e nasce dos mesmos vassalos, consiste na desafeio
e dio que concebem contra os dominantes, o qual ordinariamente procede das injrias e
violncias com que so tratados pelos governadores, da
71
Idem. p.116.
Um capito annimo, indignado com os exageros fiscais na capitania e, tanto mais, com as isenes da elite
que resistia a pagar o imposto de 1 cruzado por caixa de acar, como foi estabelecido para todo o Estado do
Brasil atravs de Carta Rgia, diria, bastante irnico: isto havia de ser, pensionarem-se os mimosos da
fortuna MELLO, Evaldo Cabral de Op. cit, pp. 140-141.
72
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
90
iniquidade com que so julgadas as suas causas pelos ministros da justia, e da dificuldade,
trabalho, despeza e demora de que necessitam para recorrer crte, para se queixarem das
sem-razes que padecem, e injustias que lhes fazem, e de lhes ser preciso remirem as
vexaes que lhes fazem, ou conseguirem as suas melhoras a peso de ouro; e tambm nasce
muito principalmente do encargo dos tributos, quando entendem que so exorbitantes, e se lhes
fazem intolerveis, se persuadem que no houve causa justa e inevitvel para se lhes
73
imporem.
a esta concluso que se chega: a lgica era duplamente perversa, pois, alm das
dificuldades materiais, no dispunham de elementos de barganha para buscar resolv-las. A
representatividade poltica dos colonos fora exgua e tortuosa. Desde sempre, toda sorte de
dificuldades se antepunham ao envio de procuradores das cmaras para o reino, a fim de representar
causas de interesse de grupos locais, pedidos de representao s cortes eram invariavelmente
vetados e, a concesso do ttulo de cidados para certas cmaras, nunca deixou de ser duramente
negociada. A luta pela representatividade foi - isso sim - travada pelo correio martimo, no vai-evem atlntico dos paquetes e fragatas.
Somado a tudo isso e, seguramente a origem de todos os males, o mercado colonial,
estruturalmente deprimido graas s presses do exclusivo comercial, com reduzida possibilidade
de acumulao, era alcanado pela cobrana de impostos que se tornavam, neste quadro,
verdadeiramente escorchantes.
De um lado, um povo em miservel estado, vitimado e esgotado pelas fragilidades
estruturais decorrentes do sistema colonial e, de outro, uma monarquia cada vez mais vida, em
busca de luzimento, acabam por provocar uma frmula explosiva...Se a recusa ao pagamento de
impostos num plano mais longnquo impe limites s prprias condies de reproduo do Estado
portugus, essas tenses e revoltas acabam por demonstrar capacidade de oferecer novas concepes
da ordem poltica e social, gestadas em dois ritmos: o primeiro aquele que indispe os grupos
coloniais - com seus mltiplos arranjos ocasionais - com as autoridades responsveis pelo
lanamento dos tributos (quase sempre governadores, provedores e intendentes), respeitando-se, no
entanto, o lugar do Brasil na ordem colonial. O segundo, mais intenso, questiona o domnio
metropolitano e o prprio direito real da cobrana tributria, revelando que a contestao soberania
portuguesa integrou o programa de diversos dos motins:
73
Consulta do Conselho Ultramarino a S.M., no ano de 1732, feita pelo conselheiro Antonio Rodrigues da
Costa. In: Revista do IHGB. Tomo 7, vol 7, 1845. p 477.
91
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
(...) se vo aumentando as perturbaes, e inobedincias naqueles povos cada dia mais, que
se pem em perigo aquele estado de se perder no s externamente com a invaso dos
inimigos exteriores mas internamente com as sedies e tumultos daqueles vassalos (...)74
Assim, a recorrncia e a clareza com que se manifestam nessas rebelies propostas como
justia e equidade fiscal (conceitos modernos a que Adam Smith daria acabamento), recusa a
impostos ilegtimos (desligado daquilo que chamaramos hoje de fato gerador), protesto contra
vexaes de determinados tributos opressivos (em instantes de profunda crise), propostas sobre a
administrao financeira dos recursos pblicos, reclamaes contra impostos para sustentao das
foras militares, acabam por desenhar um programa poltico (decerto que desarticulado) que revela
no apenas a capacidade de elaborao poltica de propostas como reconhecimento de limitaes
estruturais colocadas pelos fundamentos que sustentavam o sistema colonial. A ameaa de
rompimento com a metrpole e recurso vassalagem de um outro Estado nacional pareceu
representar esse avano qualitativo da conscincia da condio colonial. Reconhece-se a existncia
nesses instantes de contestao, de noes bsicas em torno da legitimao de direitos tradicionais,
obrigaes sociais e funes econmicas prprias entre os setores das comunidades, deparando-se
com uma economia moral das populaes coloniais, que as exigncias do mercantilismo
desrespeitam a todo momento75, ameaados pela fiscalidade e seus agentes identificados como
violadores dos privilgios comunitrios. Para Roger Chartier, em sua anlise dos protestos
antifiscais na Europa do sculo XVIII, estas revoltas tem alicerces numa cultura de costumes
profundamente enraizada...a revolta assim justificada por um direito popular76.
Por fim, ousaria chamar a ateno em particular para os motins do Maneta na Bahia de 1711,
pelo seu duplo e inquietante contedo: de um lado o protesto
74
Arquivo Histrico Ultramarino. cdice 253, fl. 65v-66. Parecer consulta do Conselho Ultramarino de 912-1712. Este parecer j prenuncia alguns dos postulados da poltica colonial a respeito das revoltas
coloniais que aparecem cristalizados no famoso parecer de Antonio Rodrigues da Costa de 1732: A dois
gneros de perigos esto sujeitos todos os Estados, uns externos, outros internos: os externos so os da fora e
violncia que podero fazer as outras naes; os internos so os que podero causar os naturais do pas, e os
mesmos vassalos.
Ainda se pode considerar terceira espcie de perigo, qual mais arricada, e nasce dos dois primeiros: que
quando a fora externa se une com a vontade, e fora interna dos mesmos vassalos e naturais.... Consulta do
Conselho Ultramarino a S.M., no ano de 1732, feita pelo conselheiro Antonio Rodrigues da Costa. In: Revista
do IHGB. Tomo 7, vol 7, 1845. pp. 475-482.
75
A respeito da noo de economia moral a inspirao vem naturalmente de E. P. Thompson. La economia
moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. In: Tradicin, revuelta y consciencia de clase estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Grijalbo, 1989, pp. 62-134.
76
CHARTIER, Roger. A Histria Cultural entre Prticas e Representaes. Lisboa: Difel; Brasil: Bertrand,
1990, pp. 199-200.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
92
popular contra o fisco, de outro a solidariedade com os habitantes do Rio de Janeiro. Ora, o que pode
estar por trs disto? Um percurso emblemtico onde de um lado luta-se contra as imposies da
metrpole e, em seguida, dedica-se a auxiliar os moradores da mesma colnia. Revelam talvez
nestas duas diferentes aes uma identidade colonial (vislumbrada na solidariedade com o Rio de
Janeiro) e uma recusa popular ampliao das exigncias metropolitanas (a revolta contra o
imposto). como se a histria da conscincia do viver em colnia ainda tateasse no escuro.
93
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ARTIGO
CARLA MARIA C. ALMEIDA
Mestre em Histria - UFF
O presente texto uma pequena sntese de algumas reflexes que venho desenvolvendo para a
elaborao de minha dissertao de mestrado. Tal dissertao tem como proposta analisar a forma e o
funcionamento das unidades produtivas mineiras entre os anos de 1750 e 1850, perodo considerado
pela historiografia tradicional como de decadncia e estagnao. Elegemos o termo de Mariana
como espao a ser trabalhado devido s especificidades de sua localizao que nos parecem
privilegiadas para a anlise. Mariana nesse perodo tinha parte de seu territrio situado na regio
denominada Metalrgica-Mantiqueira, caracterizada pela predominncia das atividades mineradoras e,
a outra parte, localizada na Zona da Mata, tradicionalmente conhecida como uma regio propcia s
atividades agropastoris.
Nosso objetivo central tentar perceber as alteraes dessas unidades produtivas no tempo,
com vistas a demonstrar que o declnio da minerao no provocou transformaes bruscas ou
profundas na estrutura produtiva estabelecida. O que houve foi uma reestruturao econmica onde as
atividades mercantis de subsistncia passariam a ocupar o lugar de atividade nuclear permanecendo, no
entanto, a mesma lgica de funcionamento verificada no perodo de auge minerador. Dessa forma,
achamos que as noes de decadncia ou estagnao no cabem para definir a economia da regio.
Uma sntese deste texto foi apresentada no VI Encontro Regional de Histria - ANPUH-RJ.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
94
As fontes privilegiadas foram os inventrios post-mortem que nos possibilitaram ter uma viso
do movimento desta sociedade se desenrolando no tempo e, conseqentemente, de suas alteraes e
permanncias.
Embora a historiografia revisionista tenha aberto novos caminhos para a compreenso da
economia mineira dos sculos XVIII e XIX, algumas questes nos parecem ter necessidade urgente de
serem respondidas para que se possa ter uma noo clara do carter e do funcionamento dessa
economia. Formulamos estas questes da seguinte maneira: teriam as atividades agropastoris estado
ausentes da regio de Mariana na poca de auge da minerao? Se no, qual o peso dessas mesmas
atividades no conjunto da economia? Em que tipo de relaes de produo estavam assentadas? Com o
declnio da minerao, a economia da regio poderia ser caracterizada como decadente? Se sim, em
que constituiria tal decadncia? E se no, que tipo de estrutura produtiva sustentou essa economia?
Seria ela muito diferente daquela montada no perodo de auge minerador? Estas so algumas das
indagaes que a dissertao tenta dar conta e que sero neste texto tratadas de forma introdutria.
Considerando que a tentativa de compreender a economia mineira aqui pretendida abarca um
espao de tempo relativamente grande um sculo, metodologicamente tornou-se necessria uma
diviso do mesmo, com vistas a uma melhor apreenso dos seus movimentos, ou das suas
transformaes fundamentais.
Chamou-nos a ateno para a pertinncia de tal procedimento Pierre Vilar que, ao tratar da
produo de bens como um ndice do desenvolvimento econmico na perspectiva do historiador, assim
argumenta:
Dado que, teoricamente, qualquer anlise de desenvolvimento uma anlise a longo prazo,
obalano quantitativo ser o resultado, para qualquer produto e para o conjunto, de vrios ciclos
breves de expanso e de recesso. Mas se se decidiu (por outros motivos) pelo estudo de um
perodo longo, convir talvez dividi-lo em perodos mdios suficientemente homogneos na sua
estrutura para permitir clculos globais quantitativos no desprovidos de significado. Uma
investigao cronolgica deste gnero seria j por si s interessante.1
Inicialmente pensava-se em estabelecer uma periodizao baseada unicamente na evoluo do
tamanho da riqueza. Para isso, construmos uma tabela (tabela I) com o monte-mor mdio de cada ano
estudado.
VILAR, Pierre. Desenvolvimento Econmico e Anlise Histrica. Editorial Presena, 1982, p. 40.
95
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Os valores dos montes mdios em mil-ris (Tabela 1) sugeria uma periodizao que
comportaria um primeiro subperodo de auge econmico (ou reflexo do auge) que iria de 1750 a 1770;
um segundo em que a economia entraria num processo de acomodao evolutiva, 1780 a 1820; e um
ltimo subperodo que presenciaria uma recuperao econmica, 1830 a 1850. Ao se converter os
valores para libra - o que necessrio devido grande instabilidade do mil-ris durante o sculo XIX -,
o movimento da economia se revelou bastante distinto. Analisando os valores em libra, a primeira
impresso que a economia apresentava um crescimento negativo constante, que se aprofundaria
irremediavelmente a partir de 1780, s dando algum sinal de recuperao no ltimo ano em questo. O
grfico I demonstra claramente este movimento. Estaria assim corroborada a to difundida tese da
decadncia.
No entanto, tomando-se outros fatores como indicadores do crescimento econmico, a
impresso de decadncia fica cada vez mais relativizada e, com alguns ajustes, aquela primeira
periodizao pode ser retomada.
Mais uma vez Pierre Vilar quem indica o caminho quando aponta a anlise do nmero dos
homens e da produo dos bens, como fundamentais para a verificao do crescimento de uma
economia2.
VILAR, Pierre. Op. cit.., p. 34.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
96
Evoluo do monte-mor mdio nas U.P. de Mariana
(em mil ris e em libras)
Erro!
Indicad
1750
or no
1760
definido
1770
.
Mil-ris
5.075,045
Libra
1.427,579
Crescimento
100
3.734,742
1.050,560
- 26,4
4.415,222
1.241,975
- 13
1780
2.338,017
657,670
- 53,9
1790
1.553,452
436,976
- 69,4
1800
2.258,324
635,252
- 55,5
1810
2.007,632
599,780
- 58
1820
2.573,165
552,181
- 61,3
1830
4.923,217
467,705
- 67,2
1840
3.731,065
481,925
- 66,2
1850
6.761,293
808,574
- 56,6
Fonte: Inventrios do I e II Oficio - C.S.M.3.
Em uma sociedade pr-estatstica como Minas Gerais dos sculos XVIII e XIX, a avaliao
dessas variveis torna-se mais complicada. No nosso caso resolvemos tomar como ndice de
crescimento da produo o tamanho do rebanho presente nos inventrios, j que as informaes sobre o
volume da produo agrcola so muito desencontradas. Como indicativo do crescimento populacional
tomamos o nmero de pessoas livres por inventrio.
A converso para libra foi feita usando a tabela de flutuaes cambiais do real no sculo XIX elaborada por
Ktia Mattoso. Para o sculo XVIII usamos referncia feita por Mircea Buescu, dizendo que o valor do real ficou
constante durante todo o sculo, razo de 3,555 ris por libra esterlina-ouro. BUESCU, Mircea. 300 anos de
inflao. Rio de Janeiro: APEC, 1973, p. 106. MATTOSO, Ktia M. de Queirs. Ser Escravo no Brasil. 3a ed.
So Paulo: Brasiliense, 1990, p. 254. Para a construo tanto da tabela I quanto do grfico I foram excludos dos
clculos dois inventrios, um de 1790 e outro de 1850, que distoavam sensivelmente de todo o conjunto. No
primeiro, o inventariado Domingos Pires era detentor de uma fortuna de 88:685$076 (oitenta e oito contos,
seiscentos e oitenta e cinco mil e setenta e seis ris). No segundo caso, o Padre Francisco Igncio de Siqueira
Fadim possua uma fortuna de 124:792$102.
97
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850
Tanto a populao quanto o rebanho apresentam, no geral, um crescimento positivo (Tabela
II). Alm disto, os ndices de crescimento do rebanho muito mais elevados que os da populao nos
sugerem que esta produo se destinava cada vez mais ao mercado.
O quadro que se esboa at aqui o de uma economia com os ndices de crescimento da
populao e da produo em ascenso, mas com os rendimentos decrescentes (ver grfico II). Tal
aparente contradio em parte desfeita se observarmos o comportamento dos ativos que compem
a riqueza, particularmente das dvidas ativas.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
250
populao livre
rebanho
m onte-m or
200
150
100
50
0
1750
-50
-100
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
98
99
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
TABELA II
Crescimento da populao livre e do rebanho
Erro
!
Indic
ador
no
defin
ido.
data
1750
livre
Reban
ho
Pop
.
tota
l
mdi
a
60
crescimen
to
tota
l
100
mdia
7,8
crescimen
to
100
101
1760
49
5,4
49
4,9
-2
1770
34
101
85
-20
16
328
6,5
-17
20,7
165
18,3
135
12,6
61
15,2
95
26,7
242
15,4
97
23,3
199
704
10
343
976
6,9
38
368
146
6
6,7
1840
87
587
5,5
1830
165
5,8
1820
14,6
476
5,3
1810
-82
111
1790
1800
1,4
161
6,7
1780
14
34
247
649
7,2
44
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
1850
296
100
4
Fonte: Inventrios do I e II Ofcios - C.S.M.
100
101
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
TABELA III
Evoluo do monte-mor mdio com e sem as dvidas ativas (em libras)
Erro
!
Indic
ador
no
defin
ido.
Monte
com
dvidas
Monte
sem
dvidas
data
monte
medio
cresciment
o%
monte
medio
crescimento%
1750
100
743,304
100
-26,4
783,300
5,4
-13
421,498
-43,3
-53,9
312,780
-57,9
-69,4
289,100
-61,1
-55,5
536,928
-27,8
-58
379,642
-48,9
-61,3
476,978
-35,8
-67,2
391,991
-47,3
-66,2
373,370
-49,8
-43,4
735,097
-1,1
1.427,579
1760
1.050,560
1770
1.241,975
1780
657,670
1790
436,976
1800
635,252
1810
599,780
1820
552,181
1830
467,705
1840
481,925
1850
808,574
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
102
Fonte: Inventrios I e II Ofcios - C.S.M.4.
Ao se analisar a tabela III nota-se que, quando excludas as dvidas ativas do montante da
riqueza de todos os anos em estudo, a queda percentual do monte-mor significativamente menor
(excetuando-se os anos de 1770 e 1780), principalmente a partir de 1790, o que nos leva a argumentar
que a queda do monte-mor mdio em grande parte provocada pela diminuio das dvidas ativas no
conjunto da economia (ver grfico III).
O grfico IV permite visualizar que o percentual de 52,6% que as dvidas ocupam na fase de
1750-1770 cai para somente 22,63% nas dcadas finais do perodo, enquanto que os bens imveis, o
rebanho e principalmente os escravos, passam a ter uma maior importncia na composio da riqueza.
Ou seja, embora a riqueza mdia dessa economia esteja em retrao, a sua capacidade de liquidez
cada vez maior, o que, por si s, j sugere uma situao de dinamismo muito mais que de decadncia.
Alm disso, levando-se em considerao que h um aumento de instrumentos de trabalho
indicadores de uma tentativa de auto-suficincia nos inventrios (Tabela IV), chegamos concluso
que as unidades produtivas em Minas Gerais reagiram crise da produo aurfera buscando uma
independncia cada vez maior do mercado no que diz respeito a sua auto-reproduo, ao mesmo tempo
em que se rearticulavam internamente para fornecer produtos de subsistncia para o mercado inter e
intra provincial. Todos estes dados sugerem que, na economia mineira voltada para a produo de
artigos de subsistncia que se estabeleceu de forma gradativa a partir de 1780 e definitivamente nos
anos da dcada de 1810, a parte do sobre-trabalho apropriada pelo capital mercantil cada vez menor.
Ou seja, a economia exportadora do ouro era muito mais dependente do mercado para se autoreproduzir do que a produo de artigos de subsistncia. Podemos concluir da que as atividades
voltadas para o mercado interno, embora gerando graus de riqueza menores que as exportadoras, tm
muito mais independncia do capital mercantil e, portanto, maior capacidade de resistncia frente s
conjunturas de crise da economia mundial.
As observaes feitas na nota 3 a respeito da construo da tabela I tambm se aplicam aqui.
103
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
montes sem dvidas
montes com dvidas
10
0
1750
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
104
60
50
dvidas ativas
40
escravos
imveis
30
rebanho
20
10
0
1750-1770
1780-1810
1820-1850
TABELA IV
Percentual de U.P. com presena de tear, roda de fiar, tenda de ferreiro e alambique
data
tear %
roda %
tenda
%
alambique
%
1750-1770
10
1780-1810
32
15
1820-1850
33
15
12
19
Fonte: Inventrios dos I e II Ofcios - C.S.M.
Kenneth Maxwell j demonstrou que o governo portugus se mostrava cada vez mais
preocupado com essa tendncia substituio de importaes na colnia e principalmente em Minas
Gerais o que, evidentemente, ia de encontro aos interesses da coroa em relao ao Brasil.
105
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
O governador de Minas, Antnio de Noronha, comunicou em 1775 que muitos
estabelecimentos fabris existiam na capitania, todos em situao de notvel crescimento. Seu
desenvolvimento, observou ele, ameaava fazer os habitantes independentes dos gneros
europeus. Lavradio tambm chamou a ateno para o crescimento das manufaturas brasileiras,
estabelecendo a maior parte dos particulares nas suas prprias fazendas, fabricas e teares com que
se vestiam a si, e sua familia e escravatura, fazendo pannos e estopas, e differentes outras
drogas de linha e algodo, e ainda de l, e como no tinham tempo certo de vir fazer os seus
pagamentos, e j dependiam menos d,aquellos a quem eram devedores...5.
Outro dado importante para se constatar o dinamismo da economia mineira nesse perodo
tradicionalmente considerado como de decadncia a presena cada vez mais evidente de produtos
mineiros no comrcio carioca. Segundo Fragoso, entre 1829 e 1832, mais de 88% das porcadas e 45%
das tropas que entraram no Rio de Janeiro eram provenientes de Minas Gerais6.
Entre os viajantes e contemporneos __ mesmo aqueles que insistem na decadncia da regio
- so muitos os relatos do efervescente comrcio mineiro com outras provncias. Saint-Hilaire fala da
grande fabricao de doces no municpio de So Bartolomeu, que no s eram comercializados em
Vila Rica, como ainda remetidos para o Rio de Janeiro7. Tambm d notcias da movimentao das
tropas que partiam para o Rio carregadas de toucinho e queijo e voltavam trazendo sal8.
John Mawe, que andou pelo Brasil de 1807 a 1811, fez vrias referncias s ligaes
comerciais do Rio com Minas, enfatizando, principalmente, a exportao de acar em lombo de
burros e a importao de sal e ferro9.
Cunha Matos, em sua corografia histrica datada de 1837, afirma que o comrcio mineiro
achava-se em estado muito florescente, embora suspeitasse que a
MAXWELL, Kenneth. A Devassa da Devassa: a Inconfidncia Mineira, Brasil - Portugal, 1750-1808. 3a ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.86.
6
FRAGOSO, Joo Lus Ribeiro. Homens de Grossa Ventura: Acumulao e Hierarquia na Praa Mercantil do
Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992, p.141.
7
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1974, p.83.
8
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a So Paulo, 1822. Belo
Horizonte: Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1974, p. 49.
9
MAWE, John. Viagens ao Interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1978, p. 143.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
106
balana comercial pudesse estar desfavorvel provncia, por ser sabido que seus habitantes eram
devedores praa do Rio de Janeiro e a outras de beira-mar10.
Aires de Casal d mostras da diversificao da economia mineira que exportava, dentre outros
produtos, sola, couros, algodo, tabaco, caf, frutas, acar, queijos, carne de porco, rapaduras, pedra
sabo, pedraria, salitre, marmelada.
Quase tudo conduzido metrpole em bestas, das quais se encontram comboios de cem, e
maior nmero, repartidas em rcuas de sete cada uma, e governada por um homem: levando de
retorno sal, fazendas secas, e molhados.11
Quem mais enfatizou o dinamismo do comrcio mineiro foram os viajantes Johann Baptist von
Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, que chegam a dizer que Vila Rica tinha o comrcio mais
animado do interior do Brasil, principalmente com a capital do imprio mas tambm com outras
provncias.
Entre todas as cidades no interior do Brasil, nenhuma to animada como Vila Rica. Daqui
partem estradas para So Paulo, passando por So Joo dEl-Rei; por Minas Novas, para a Bahia;
por So Romo, Tejuco, Malhada, para Paracatu, Gois e Mato Grosso; porm nenhuma to
movimentada, com o vaivm de tropas, como a estrada que leva ao Rio de Janeiro, sede do
governo, distante setenta lguas. Quase que todas as semanas, ou cada ms do ano, seguem
grandes caravanas, carregadas com os produtos da regio: algodo, couros, marmelada, queijos,
pedras preciosas, barras de ouro, etc. O comrcio com o mais longnquo serto, que vai at Gois
e Mato Grosso, no to extenso, de fato, como o de So Paulo e Bahia; entretanto, expande-se
alm do Rio So Francisco, quase que por toda a capitania, e abastece-a no s com as
mercadorias europias adquiridas no Rio de Janeiro, mas, tambm, com os produtos das
imediaes, como, por exemplo, os aqui fabricados: artigos de ferro, chapus de feltro, loua de
barro, queijo, milho, feijo, marmelada, carne de porco e toicinho; este empregado em vez de
manteiga e banha, e constitui grande artigo de comrcio da provncia.12
Aps estas consideraes optamos por uma periodizao que conjugasse o comportamento de
vrios ndices (como o crescimento demogrfico, crescimento da produo e dos rendimentos), aliados
a fatores histricos conjunturais que influram sensivelmente na conformao da economia, por
exemplo, a transferncia da corte
10
MATOS, Raimundo Jos da Cunha. Corografia Histrica da Provncia de Minas Gerais. Belo Horizonte:
Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1981, v.2, p. 78.
11
CASAL, Manuel Aires de. Corografia Braslica ou Relao Histrico-Geogrfica do Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1976, p. 166.
12
SPIX, Johann Baptist von e MARTIUS, Carl Friedrich P. von. Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Belo Horizonte:
Itatiaia; So Paulo: EDUSP, 1981, v.1, pp. 205-206.
107
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e o conseqente alargamento do mercado para produtos de
subsistncia.
Dessa forma, ficou assim estabelecida a periodizao:
1o subperodo: 1750-1770
2o subperodo: 1780-1810
3o subperodo: 1820-1850
Com a morte de D. Joo V subiu ao trono portugus em 1750 D. Jos I e, com ele, Sebastio
Jos de Carvalho e Melo, futuro Marqus de Pombal. Muitas foram as mudanas polticas e
econmicas levadas frente por Carvalho e Melo, todas visando ao objetivo maior (por muito tempo
sigiloso) de tirar Portugal da condio de colnia da Inglaterra13. No bojo dessas transformaes, em
1750 foi feita uma reformulao no sistema tributrio e fiscal da produo de ouro. Em dezembro
daquele ano entraram em vigor as sugestes feitas pela populao de Minas Gerais em 1734 ao Conde
de Galveias para o recolhimento do quinto. Tais sugestes previam uma contribuio mnima de 100
arrobas de ouro anuais. No caso de no serem atingidas, seria lanada mo da derrama. A derrama
consistia em um imposto local per capita que seria cobrado pelas cmaras municipais para
complementar a quota prevista. Para tanto, em cada cabea de comarca foram criadas Casas de
Fundio que tinham o objetivo de recolher o ouro14.
Chamamos este perodo de auge minerador porque, apesar de a produo do ouro ter atingido
seu ponto mximo entre 1735-173915, no decnio de 1750 a quota de 100 arrobas fora at excedida, na
dcada seguinte a mdia anual cara para 86 arrobas, mas somente entre 1774-1785 que a queda seria
de fato brutal: 68 arrobas de mdia anual16. Segundo Maxwell:
No fim do decnio de 1760 (...) todo o sistema luso-brasileiro comeava a sofrer uma
transformao. Teve incio quase imperceptivelmente nos primeiros anos da dcada e adquiriu
impulso at alcanar repercusses de propores catastrficas. A produo das
13
So referncias fundamentais para a compreenso da da poltica pombalina e das relaes Portugal-InglaterraBrasil neste perodo: FALCON, Francisco J. C. A poca Pombalina. So Paulo: tica, 1982; NOVAIS, Fernando
A. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). So Paulo: HUCITEC, 1983 e
MAXWELL, Kenneth., Op. cit.
14
MAXWELL, Kenneth. Op. cit., p.30.
15
PINTO, Virglio Noya. O Ouro Brasileiro e o Comrcio Anglo-Portugus. So Paulo, 1979. apud. MELLO E
SOUZA, Laura de. Desclassificados do Ouro: a Pobreza Mineira no Sculo XVIII. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
16
MAXWELL, Kenneth. Op. cit., p. 65.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
108
minas brasileiras, que um governador da Bahia, otimista, predissera no incio do sculo XVIII
que seria to constante que ser impossvel esgot-las enquanto o mundo existir, tinha
comeado a declinar. A exausto do ouro aluvional e o fracasso na busca de tcnicas aprimoradas
para enfrentar as crescentes complicaes e dificuldades de explorao, em uma economia to
dependente do ouro brasileiro em setores especficos, tinham de produzir conseqncias de
amplo alcance.17
Sendo assim, apesar de decrescente, a produo aurfera ainda era suficientemente importante
para manter a minerao como atividade principal e conservar a sua estrutura produtiva intacta, pelo
menos at 1770. Acreditamos que s em meados do decnio de 1770 esse declnio comea a provocar
uma rearticulao econmica intencional que poder ser percebida a partir de 1780. De fato, houve at
um crescimento das unidades produtivas com atividades de minerao entre 1760 e 1770 que, de 40%
em 1760, passam a representar 87,5% do total das U.P. no ano de 1770, provavelmente em resposta ao
incentivo governamental de ocupao de novas reas em busca de novos veios aurferos, como j foi
visto no captulo anterior.
Como sugere a citao acima, no contexto mais geral da economia a crise advinda do declnio
da produo aurfera teve um carter muito mais amplo. Ao que tudo indica, as conseqncias deste
processo foram muito mais drsticas para os grupos comerciais (ingleses sobretudo), cujo canal de
troca era inteiramente dependente do ouro em barra, do que para a estrutura produtiva mineira que,
lentamente, se rearticulou internamente. So significativos os dados apresentados por Maxwell
demonstrando que em meados dos anos da dcada de 1760 os rendimentos dos direitos de entradas __
um dos mais sensveis ndices do volume de comrcio entre a principal regio de minerao e o
mundo exterior __ decaem bruscamente, o quinto j vinha decrescendo e, no entanto, as receitas
geradas pelos dzimos se mantinham estveis18. Portanto, excetuando-se o ouro, as demais produes
mineiras seguiam seu ritmo normal, no havendo uma desarticulao econmica geral da capitania
como pretendem alguns. Ao mesmo tempo, a reduo do comrcio portugus com a Inglaterra foi
quase catastrfica, chegando o valor das exportaes inglesas a cair pela metade entre 1760-7019.
Embasada por uma viso metropolitana da colnia, provvel que a tese da decadncia tenha
se originado da confuso entre estes dois processos. Ou seja, estendeu-se para Minas Gerais do sculo
XVIII a profunda crise que se abateu sobre os grupos econmicos dependentes do ouro mineiro para
seu intercmbio comercial.
17
Idem, p. 65.
Idem, pp. 65, 279 e 289.
19
Idem, p. 66.
18
109
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Referindo-se s conseqncias do processo de declnio da produo aurfera sobre a economia
portuguesa, Maxwell argumenta:
O trmino da idade do ouro teve tanto aspectos positivos quanto negativos, pois a recesso
produziu uma alterao no ambiente em Portugal que abriu importantes possibilidades ao
governo do pas. Posta diante da decadncia geral das reexportaes coloniais e do conseqente
declnio da capacidade de importar, mas com a demanda interna sustentada pela exportao de
alguns produtos metropolitanos e coloniais, a substituio de importaes era uma soluo
pragmtica natural. A recesso antecipou e acompanhou o celebrado desenvolvimento
industrial de Pombal.20
Processo semelhante ocorreria na colnia, principalmente em Minas Gerais. A administrao
pombalina fora muito flexvel em relao ao desenvolvimento de atividades paralelas produo
aurfera, o que facilitou o incio de um processo de substituio de importaes. Com a diminuio da
sua capacidade de importao, a capitania tornou-se cada vez mais inclinada auto-suficincia. A
Inconfidncia Mineira foi uma prova clara desse processo. Embora esteja fora do nosso alcance e
objetivos analisar as caractersticas e o significado dessa insurreio, indispensvel considerar que ela
ps em evidncia as contradies latentes entre uma economia regional auto-suficiente e as diretrizes
neomercantilistas do Ministrio dos Domnios Ultramarinos ps-Pombal.
Os anos de 1780 a 1810 podem ser caracterizados como o perodo em que a economia mineira
deixou de ter a minerao como atividade principal e as atividades agropecurias passaram a ser seu
eixo central. O grfico V nos permite visualizar como, nesse momento, as unidades produtivas com
atividades de minerao decaem em relao s atividades agropecurias e no perodo seguinte tm seu
papel ainda mais reduzido no contexto da economia. Entre 1750 e 1770, aquelas representavam 61,9%
das U.P. e no segundo subperodo somente 34,2% (Tabela V). Ainda assim retm, entre 1780-1810,
mais da metade da mo-de-obra escrava (51,8% - ver tabela VI).
Alm disso, houve neste perodo um grande crescimento de alguns tipos de produo
manufatureira (ou, como quer Libby, protoindustriais21), principalmente txteis. Como j foi visto na
tabela IV, o nmero de U.P. com presena de tear sobe de 5% no perodo de 1750-1770 para 32% entre
1780 e 1810 e, com roda de fiar, de 0 para
20
Idem, p.68.
LIBBY, Douglas Cole. Novas consideraes sobre a protoindustrializao mineira dos sculos XVIII e XIX.
Revista do Departamento de Histria. B.H., FAFICH-UFMG, no 9, 1989, pp.149-160.
21
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
110
15%. Isto em um momento de proibio da produo de panos imposta pelo alvar de 5 de janeiro de
1785! S ficavam fora dessa lei os panos grossos para vestir escravos e para ensacar mercadorias22.
Douglas Libby d notcias de um Inventrio de teares de Minas Geraes em 1786 descoberto
recentemente no Arquivo Pblico Mineiro, em que foram arrolados mais de mil teares. Predominava a
produo de panos grosseiros sendo que uma parte desta era comercializada. Embora os estudos sobre
este arrolamento ainda no estivessem concludos, Libby calcula que esses teares empregavam mais de
30.000 fiandeiros23. Pela Lista Nominativa de Catas Altas, constatamos que 34,4% dos chefes de
domiclio deste distrito se dedicavam a algum tipo de atividade ligada indstria txtil (de 352
chefes de domiclio, 74 eram fiandeiras, 13 tecedeiras, 2 rendeiras, 15 costureiras e 17 alfaiates).
Portanto, a indstria txtil era j neste momento bastante significativa no contexto da economia
mineira.
22
23
Idem, p.150; MAXWELL, Kenneth. Op.cit., p.99.
LIBBY, Douglas Cole. Op.cit., p.150.
111
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
60
50
Agricultura
40
pecuria
m inerao
30
agropecuria
agric.-m inerao
agropec.-m inerao
20
10
0
1750-1770
1780-1810
1820-1850
Percentual das U.P. c/ e s/ atividades de minerao *
U.P. c/
minera
o
U.P.
s/
minerao
Subperodos
Abs
Abs
1750-1770
13
61,9
38,1
1780-1810
26
34,2
50
65,8
1820-1850
21
15,0
119
85,0
Fonte: Inventrios do I e II Ofcios - C.S.M.
* U.P. c/ minerao inclui: mineradoras, agrcolas-mineradoras, agropecuaristas-mineradoras e
pecuristas-mineradoras.
U.P. s/ minerao inclui: agrcolas, pecuaristas e agropecuaristas.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
112
Percentual da pop. escrava presente nas U.P. c/ e s/ minerao
Erro!
Indicador
no
definido.
U.P. c/
minera
o
U.P. s/
minerao
Subperodo
s
Abs
Abs
1750-1770
267
75,0
89
25,0
1780-1810
425
51,8
396
48,2
1820-1850
224
16,1
1170
83,9
Fonte: Inventrios do I e II Ofcios - C.S.M.
Libby prope que se pense a noo de flexibilidade das economias escravistas coloniais
desenvolvida por Celso Furtado para compreender o processo de diversificao econmica ocorrido em
Minas24.
Segundo Furtado, em conjunturas internacionais favorveis comercializao dos produtos
coloniais, a produo era ampliada extensiva e ilimitadamente at o ponto onde o permitisse a
disponibilidade de terras e mo-de-obra; j em situaes de diminuio da demanda externa,
corresponderia uma tambm diminuio no ritmo da produo dos produtos da agroexportao
havendo um deslocamento do excesso de mo-de-obra para setores da produo de subsistncia. Esse
processo de retrao daria possibilidade s unidades produtivas de sobreviverem s crises e de
manterem intactas suas estruturas por longos perodos. O ritmo normal de funcionamento seria
retomado logo que uma nova conjuntura favorvel surgisse25. Em Minas Gerais, essa retrao foi
provocada pelo esgotamento do ouro de fcil extrao e no por uma conjuntura desfavorvel
comercializao do metal. Nesse caso, no tendo a regio encontrado um outro produto exportvel
capaz de substituir o ouro, a retrao momentnea se tranformaria em estagnao e decadncia.
Douglas Libby argumenta que essa tendncia secular das economias escravistas de se voltarem
para a produo de artigos de subsistncia nos momentos de crise, visando a preservar as estruturas
coloniais, em Minas surtiria outros efeitos. Para ele, o que houve na regio foi um processo gradual de
adaptao e acomodao que modificou estas mesmas estruturas, tornando a regio um caso original
de economia
24
25
Idem, p.155.
FURTADO, Celso. Op.cit..
113
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
escravista no-exportadora26. Portanto, ao invs de se falar em estagnao, seria melhor pensar em
termos de um processo de acomodao evolutiva27.
Embora concordando com as consideraes de Libby, preferimos entender que, mais do que
uma modificao das estruturas coloniais, o que houve em Minas foi um processo de fortalecimento de
um tipo de estrutura produtiva peculiar j existente desde os primrdios da colonizao. A expresso
acomodao evolutiva nos parece perfeita para se referir ao perodo da economia mineira que vai de
1780 a 1810. O termo ser por ns utilizado para caracterizar uma economia que no est, nem num
processo de crescimento acelerado, nem de decadncia absoluta, mas sim, de rearticulao interna que,
por razes especficas da regio, acabou possibilitando um novo tipo de dinamismo econmico.
A tendncia diversificao econmica presente nas unidades produtivas desde o perodo ureo
da minerao seria, entre 1780 e 1810, definitivamente consolidada. Nesse primeiro momento o
objetivo era se auto-suprirem e comercializarem seus eventuais excedentes nos mercados locais __ que
no eram desprezveis visto que Minas Gerais ainda tinha um grande contingente populacional herdado
da idade do ouro28. Alm disso, em um contexto de receitas decrescentes e da decorrente diminuio
da capacidade de importar, o isolamento da capitania tornava favorvel a comparao dos custos de
qualquer produto local com os importados29. Com a chegada da corte portuguesa em 1808 e a
conseqente criao de uma novo mercado, a produo se dinamizou e passou a ser tambm
endereada comercializao na praa do Rio de Janeiro.
2.3 - 1820-1850 - Economia mercantil de subsistncia30
A tendncia de retraimento das U.P. para o autoconsumo em momentos de crise, proposta por
Furtado e retomada por Libby, em Minas Gerais, acabou acelerando um processo de diversificao
econmica j iniciado no perodo minerador. Impulsionado pela existncia de uma demanda interna
relativamente grande e pelo surgimento de novos mercados, esse processo conduziu a produo no
sentido de uma
26
LIBBY, Douglas Cole. Op.cit., p. 155.
LIBBY, Douglas Cole. Tranformao e Trabalho em uma Economia Escravista. Minas Gerais no Sculo XIX.
So Paulo: Brasiliense, 1988, pp. 14 e 22. O autor usa a idia de economia de acomodao para se referir a MG
em todo o sculo XIX. Achamos que o termo se encaixa melhor a este subperodo, especificamente.
28
LIBBY, Douglas Cole. Novas consideraes sobre a protoindustrializao mineira dos sculos XVIII e XIX.
Revista do Departamento de Histria. B.H., FAFICH-UFMG, no 9, 1989 p.156.
29
MAXWELL, Kenneth. Op.cit., p.112.
30
Mais uma vez tomamos emprestada uma expresso de Douglas Libby para nos referir economia mineira deste
terceiro subperodo. LIBBY, Douglas Cole. Op.cit.
27
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
114
economia mercantil de subsistncia, que tinha na mo-de-obra escrava o seu sustentculo.
A produo de artigos de subsistncia sempre foi uma caracterstica das U.P. mineiras. Mesmo
no primeiro subperodo, quando a extrao de ouro era o eixo central da economia, as U.P. dedicadas
s minerao eram minoria. A tabela V nos mostra que elas nunca ultrapassaram os 10% do total. Na
explorao aurfera eram mais comuns as unidades produtivas que desenvolviam paralelamente algum
tipo de cultivo e criao (23,8% do total de U.P. e 41,6% das mineradoras), muitas vezes associados
produo caseira de fios, panos, telhas, panelas, mveis, etc.
Concordamos com Alcir Lenharo quando diz que a economia regional no viveu um
interregno entre o declnio da minerao e o posterior perodo de reconverso agropecuria,
como quer Gorender. Se aceitamos a concomitncia entre as atividades de subsistncia e a minerao,
preciso considerar que aquelas seriam beneficiadas com a transferncia de recursos provenientes da
crise desta ltima31.
Esta produo to diversificada, inicialmente voltada quase que exclusivamente para o
abastecimentos das prprias U.P e para o mercado local, foi sendo cada vez mais endereada aos
mercados mais distantes. Uma prova deste fato o aumento do nmero de inventrios com presena de
tropas __ principal meio de transportar a produo para longas distncia __ que de 3% no primeiro
subperodo, passou para 17% entre 1780-1810 e alcanou 18% no perodo final em estudo, o que
tambm corrobora as afirmaes de Lenharo a respeito das fazendas mineiras funcionarem como
intermedirias32. Muitas vezes, as fazendas se dedicavam produo, compravam o excedente local,
transportavam e colocavam os produtos venda nos mercados consumidores. Dessa forma,
apropriavam-se de uma grande parte do excedente produzido regionalmente.
Mesmo que o Rio de Janeiro j fosse um mercado significativo para as produes mineiras
antes de 180833, no resta dvida que a transferncia da corte portuguesa para o Rio de Janeiro foi o
principal detonador do desenvolvimento mercantil dessa produo; afinal, junto com a famlia real,
aproximadamente 10.000 pessoas aportaram na capital do imprio34. No s Minas Gerais, mas
tambm outras provncias se viram incentivadas a abastecer esse novo mercado:
31
LENHARO, Alcir. As tropas da moderao. So Paulo: Smbolo, 1979, p. 36.
Idem., p.37.
33
Esta idia defendida por em: FRAGOSO, Joo Lus R. Op. cit., 1992.
34
LAPA, Jos Roberto do Amaral. O interior da estrutura. Comunicao apresentada ao I Congresso Brasileiro
de Histria Econmica. (mimeo), USP, S.P., 1992, p. 7.
32
115
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Com a transmigrao da corte forma-se um mercado consumidor, cujo poder aquisitivo
justificava a montagem de um sistema de abastecimento que cobre considerveis distncias desde
os seus fornecedores que se distribuem por Mato Grosso, Gois e Minas Gerais, de onde desciam
gado em p, porcos galinhas, carneiros, toucinho, queijos, cereais, tecidos grosseiros de algodo,
incluindo ainda So Paulo e Santa Catarina, que mandavam milho, feijo, arroz, trigo, cebola e
farinha de mandioca.35
Alm da formao de um novo mercado consumidor para os produtos mineiros, a vinda da
famlia real provocou uma srie de transformaes que tornaram mais atraente produzir para o mercado
interno. A principal delas foi a construo ou o melhoramento de estradas que ligavam a capital ao
interior do pas. A proibio colonial de abertura de novos caminhos foi posta de lado e, o que j
ocorria de fato foi, ento, oficializado.
(...) o Prncipe Regente deu incio a uma srie de medidas que visavam a dotar a Capital de uma
infra-estrutura mnima de transportes, que permitisse sua articulao com as regies do interior
do pis. Ainda em 1809, uma estrada de 121 lguas foi aberta entre Gois e o Norte, de modo
que as notcias da queda de Caiena pudessem chegar por ela. Diversos projetos permitiram que
Minas voltasse a se ligar Bahia com regularidade. Recursos mais adequados de comunicao
instalaram-se de Minas ao Esprito Santo. Acompanhando o curso do rio Doce, abriu-se uma
estrada com fins de conduo do gado de Minas ao Esprito Santo. Tambm para a regularizao
do abastecimento de carne bovina abriu-se nova ligao entre Minas e Campos dos Goitacazes. A
criao desses projetos isolados ganharam uma diretriz comum com a Carta Rgia de 4 de
dezembro de 1816. Dava ela diversas providncias para a abertura de estradas no interior de
Minas, nas proximidades do Esprito Santo.36
A partir do Mappa dos Generos exportados pelas Recebedorias desta Provncia de Minas
Geraes relativo ao segundo semestre do ano de 1839, encontrado no Relatrio do Presidente de
Provncia de 1840, montamos a tabela VII. Por ela podemos perceber a diversidade da produo
mineira e a rentabilidade dos artigos de subsistncia.
Alm da lucratividade, outro fator que encorajava os produtores a se dedicarem aos produtos de
subsistncia era o fato dessa produo no estar to sujeita s crises do mercado internacional. Mesmo
nos momentos de dificuldades a reproduo dos membros da fazenda estaria garantida. Alm disso,
eventualmente, alguns produtos caracteristicamente de subsistncia, podiam se tornar exportveis. O
presidente da provncia de 1844 alerta para a desvantagem dos produtos coloniais no mercado
35
36
Idem., p. 5.
LENHARO, Alcir. Op.cit., p. 59.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
116
internacional. Falando das disparidades nas trocas dos produtos coloniais com outras naes nas quais
estes estariam na proporo de 1 para mil ou para dez mil, diz o presidente:
Por isso nada pde o governo recomendar nem propr com segurana a respeito desses
chamados generos coloniaes, mas unicamente que tratemos das cousas uteis ao nosso uso, muito
embora se tornem ainda generos de exportao.37
37
Relatrio do Presidente da Provncia - Minas Gerais - 1844.
117
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Gneros
Volume
algodo
rama
em
588 arrobas
56:448
algodo
caroo
em
95
1:368
2.938
Acar
132:210
Azeite
15 barris
bezerros
curtidos
72
2:592
103.251
arrobas
4:646:295
Chapus
87
5:220
Chicote
2.492
7:476
Colchas
332
Caf
couros
veado
de
doce, qualquer
Imposto (mil-ris)
42:242
59 arrobas
de
14
alqueires
farinha
milho
de
408,5
farinha de trigo
12:748,8
1.408
farinha
mandioca
900
8:850
3?4
10 arrobas
9:804
750
Fub
17
alqueires
306
Fumo
53.035
arrobas
3:302:100
Mantas
marmelada
ordinria
pano
de
603
10:854
3.039
arrobas
91:170
493.639 varas
2:369:467,2
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
118
algodo
Plvora
4 arrobas
960
continuao na pgina seguinte
Gneros
queijos
Volume
218.654
sabo
selas ou selins
meias de sola
tabaco
toucinho
Imposto(mil-ris)
1:311:924
8 arrobas
480
84
20:160
5.923
284:304
2 arrobas
80.599,5
Arroz
87,5 alqueires
couros de boi
1903
240
3:868:776
7:875
182:688
feijo
1348 alqueires
80:880
gado cabrum
108 cabeas
6:480
gado cavalar
564 cabeas
790:500
gado muar
126 cabeas
226:800
gado langero
2:9??
215:568
gado vacum
21:0??
12:484:100
galinhas
34:029
326:678,4
18 arrobas
mano...(?)
2 alqueires
milho
791,5
poaya
39
porcos em p
10:249 cabeas
6:912
113:74?
28:080
2:459:760
119
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
SOMA:
33:127:023,8
Fonte: Relatrio de Presidente da Provncia - 1840. SOMA: soma geral que est na tabela original
* gneros sujeitos a 3 por 100
# gneros sujeitos a 6 por 100
? no foi possvel identificar
Os nmeros em negrito no se tem certeza de serem exatos
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
120
ARTIGO
TIRANIA E FLUIDEZ DA ETIQUETA NAS MINAS SETECENTISTAS
IRIS KANTOR*
Escola de Sociologia e Poltica de So Paulo
Por debaixo do brilho roncava uma insatisfao medonha. (...) A festa de todos era o
sempre cozido colonial de msica, teatro e religio. As procisses melodramticas
desciam as abas das cochilhas pisando cho empedrado pela escravaria, mexendo no
movimento ritmado dos seus imperadores e imperatrizes, smbolos, alegorias, bulha de
tios, e fogos de artifcio menos mirficos as vezes que a dramaticidade fsica das
imagens. (...)Passeavam, rezavam, mapiavam, nem se imaginando decadentes ali.
Mrio de Andrade
Este trabalho procura problematizar a adaptao e os conflitos gerados em torno dos cdigos
de etiqueta nas cerimnias pblicas realizadas em Vila Rica ao longo do sculo XVIII.
Incrustada entre os leitos dos rios e as encostas das montanhas, a sociedade do ouro foi
definindo sob a aparente fluidez social uma ordenao mais formal sem conseguir, no entanto,
dissimular a ebulio social. Assim a descreveu Srgio Buarque de Holanda: O que de tudo ressalta
a estrutura movedia que se desmancha em partes, e se recompe continuamente ao sabor de
contingncias imprevisveis1.
Perseguindo a histria do fenmeno da etiqueta na vida colonial encontrei as primeira pistas
no captulo Metais e Pedras Preciosas, publicado na Histria
Mestranda em histria - USP.
HOLANDA, Srgio Buarque de. Histria Geral da Civilizao Brasileira. tomo I, vol. 2, So Paulo: Difel,
pp. 259-310.
1
121
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Geral da Civilizao Brasileira. Ali, so descritos os atropelos de um governador que tomou a
dianteira do bispo na procisso, violando as regras mais comezinhas de precedncia. Essas violaes
ocorriam com freqncia e geraram uma documentao que nos permite explorar a prtica da
representao pblica nas cidades coloniais.
Este trabalho compe-se de trs recortes, que exponho a seguir:
1- Breve caracterizao geral das festas no Antigo Regime, onde procuro pens-las como
acontecimentos constituintes do processo de consolidao dos Estados Monrquicos europeus. Neste
caso destaco as peculiaridades do modelo portugus e colonial.
2- Em um segundo momento, fao algumas consideraes relativas aos padres de
mobilidade social na sociedade mineira que a distinguem de uma estrutura social tpica do Antigo
Regime. A presena de segmentos nativos nos postos pblicos evidenciam certas ambigidades
constitutivas da sociedade escravista, apontando para a reflexo sobre a prtica social das leis e dos
costumes.
3- E, por fim, utilizo alguns documentos que revelam tenses sociais crnicas presentes no
cotidiano e que se exprimiram nas desavenas constantes em torno das regras de etiqueta nas festas
pblicas na Vila Rica setecentista.
***
Na transio do perodo medieval para a poca moderna, as festas pblicas ganharam um
novo significado poltico, passando a ser instrumento de legitimao das monarquias nacionais.
Segundo Burckhardt, a partir do Renascimento a festa pblica perdeu a caracterstica exclusivamente
eclesistica2. As apresentaes dos mistrios e dramas bblicos cederam lugar aos desfiles de figuras
mascaradas e alegorias mitolgicas, compondo um espetculo onde predominava o virtuosismo
cnico. Na Itlia renascentista desenvolveu-se uma verdadeira cincia da produo do evento festivo.
Importantes artistas, como Brunelleschi, Serlio e Leonardo da Vinci, dedicaram-se ao trabalho de
ornamentao das festividades.
BURCKHARDT, Jacob. A Civilizao do Renascimento na Itlia. Braslia: UNB, l991. pp. 245-259.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
122
As festas pblicas na Europa recuperaram antigas tradies romanas dos cortejos e entradas
triunfais de imperadores e generais vitoriosos. Secularizando os motivos, elas contriburam para a
consolidao do processo de centralizao monrquica, pois reiteravam simbolicamente o contrato
poltico implcito entre o rei e as cidades governadas3. Tornaram-se um meio de promover o
reconhecimento da soberania real, ancorando no imaginrio coletivo a associao entre o corpo
fsico e natural do rei e o corpo poltico e social do reino. Essa natureza pedaggica fazia da festa
barroca um evento eminentemente teatral. Cada movimento, composio de vesturio, posio
espacial, fazia parte de um cdigo rgido de representao dos papis sociais. As festas barrocas
davam visibilidade s distines hierrquicas presentes na sociedade de corte, marcando os
distanciamentos entre os diversos segmentos sociais. Elas encenavam a ordem hierrquica do mundo
social como uma ordem natural e universal, faziam com que todo o cosmo participasse do drama
metafsico dos seres humanos. Criavam uma atmosfera de ensueo em que fico e realidade, vida
e sonho se confundiam. Atravs das alegorias e figuraes plsticas apresentavam os mistrios e os
arcanos da sabedoria celeste. Tratava-se de um grande espetculo coletivo onde no havia lugar para
o indivduo, a pessoa era sacrificada ao estado ou classe, a alma conveno, o individual ao
tpico4. Cega s individualidades, a etiqueta antes uma forma de controle e de regulao da
estrutura social.
curioso observar que as festas monrquicas constituram uma experincia cnica indita na
tradio ocidental. Elas propiciaram o estabelecimento da iluso teatral5. Ou seja, as atividades
festivas, muitas vezes, confundiam-se com o teatro. A civilizao barroca teatral, uma poca de
tipos que se estandartizam, no vesturio, nos gestos e at na linguagem6. Mas, ao contrrio da
Commedia dellArte, em que prevalecia a capacidade de improvisao dos personagens, a festa
barroca era conduzida com o mximo de previsibilidade. Como o teatro, as festas possuam um
ritmo de perpetuum mobile, marcado pelo movimento frentico e sucessivo das cenas, um bal
ilusionista como definiu Otto Maria Carpeaux7. Carpeaux descreve a atmosfera teatral da corte:
Cada entrada do rei, cada festa, do coroamento ao enterro, uma representao solene. A corte
um bal ao redor do rei, e os movimentos desse bal so regulados pelas leis da etiqueta espanhola.
Esta etiqueta a muralha impermevel, pela qual o rei est separado de todos os outros homens. O
rei barroco est colocado numa cena que o teatro
REVEL, Jacques. A Inveno da Sociedade. Rio de Janeiro: Difel/Bertrand , l990. p.109
HOLANDA, Srgio Buarque de. Captulos de Literatura Colonial. So Paulo: Brasiliense, l992. p.221.
5
FRANCASTEL, Pierre. A Realidade Figurativa. So Paulo: Perspectiva, pp.216-249.
6
FRANA, Eduardo de Oliveira. Portugal na poca da Restaurao. So Paulo, FFLCH-USP, l95l. pp.3843.
7
CARPEAUX, Otto Maria. O Estado Barroco. Estudos Avanados. 4/10, l991. p.7-36.
4
123
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
mundi, o gran teatro del mundo: o mundo gira em torno dele8. A posio do rei, no centro
da ao dramtica, definia as hierarquias sociais, consagrando o pacto simblico da realeza. A
etiqueta dava os paradigmas da boa convivncia na sociedade estamental, garantindo a ordem. Os
menores gestos, as mesuras, as distncias, o ter ou no chapu na cabea, o sair de frente para o rei,
as palavras, o tom com que elas deviam ser pronunciadas. Enfim a etiqueta barroca distribua
hierarquias
No caso ibrico e, mais especificamente, no portugus, no possvel afirmar que a festa
pblica tenha secularizado os seus motivos. Pelo contrrio, o que se observa a intensificao dos
traos religiosos. A poltica do Padroado Rgio e o projeto da reforma tridentina da Igreja Catlica
transformaram as festas pblicas em eventos de popularizao do catolicismo moderno, meio de
difundir os sacramentos e o culto aos santos. Pode se dizer que nas festas pblicas realizadas sob a
iniciativa real a dimenso religiosa e o aspecto temporal se interpenetravam. Affonso vila9 sugere
que a festa barroca na pennsula ibrica concretizava o ideal de Estado Cristo, fuso dialtica do
temporal e do espiritual, onde a aliana entre o Estado e a Igreja era integrada em um rito piedoso e
formal.
O relato da festa do Triunfo Eucharistico (ocorrida em 1733) fornece um exemplo desse
procedimento ideolgico: diz o autor que a publicao do panegrico confirma a misso histrica
portuguesa, que consistia em dilatar a F entre as gentes barbaras e remotas de todo mundo10.
Nada mais justo que em Vila Rica, em pleno sculo da redeno, fosse levantada a bandeira da
Cristandade Lusitana, transformando suas ruas em um Theatro da Religio.
As festas portuguesas da poca moderna caracterizavam-se por um padro ldico da
experincia religiosa que se exprimia no primado dos sentidos e nas atitudes de exteriorizao da f.
Foram estes os elementos que melhor se aclimataram sociedade colonial, onde, por fora da
colonizao, desaguariam tradies culturais (africanas e indgenas) que reforaram o aspecto ldico
da vivncia religiosa. Taunay observou o desconcertante arranjo entre o paganismo e o catolicismo
escrevendo: tudo isto formava a mais heterognea e estrambtica associao...11.
Idem, ibidem.
VILA, Affonso. Resduos Seiscentistas em Minas, Belo Horizonte, Centro de Estudos Mineiros, l967.
p.14.
10
VILA, Affonso. Op.Cit. p.159.
11
TAUNAY, Affonso. Aspectos da Vida Setecentista Brasileira... In: Annaes do Museu Paulista. Tomo 1,
So Paulo, l922. p..343.
9
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
124
A historiografia sobre Minas enfatiza o aspecto fluido da sociedade nos primeiros tempos de
desbravamento. Nas Minas haveria ainda maiores possibilidades de mobilidade social, do que
resultaria uma formao social onde o valor pecunirio era um critrio modificador da estrutura
social herdada da metrpole. L prevaleciam os critrios discriminadores da pureza de sangue. O
problema da tolerncia com os indivduos de cor nos cargos pblicos foi um foco de ateno entre os
conselheiros ultramarinos. Em 1725, D. Joo V probe os mulatos de serem eleitos vereadores e
juzes ordinrios e ordena que todos os candidatos a cargos deveriam ser brancos e casados com
mulheres brancas12. Um documento compilado por Lima Jnior refere se questo nos seguintes
termos:
Ponderando o Conselho que, achando-se hoje, as vilas da Capitania das Minas Gerais, to
numerosas como se acham, e que sendo uma grande parte das famlias de seus moradores de
limpo nascimento, era justo que somente as pessoas que tivessem essa qualidade fossem
eleitas, para servir de vereadores e andar no governo. (...) porque se a falta de pessoas capazes
fez a princpio necessria a tolerncia de admitir os mulatos ao exerccio daqueles ofcios,
hoje, que tem cessado esta razo, se faz indecoroso que eles sejam ocupados por pessoas em
que haja semelhante defeito13
O historiador Russel Wood tambm destaca que estas proibies no levavam em conta a
escassez crnica de candidatos para os cargos na Cmara e nas ordenanas. A partir da dcada de
1740, a ascenso dos nativos mestios teria se tornado irrefrevel14, e as autoridades metropolitanas
oscilaram entre a represso formal e a indiferena. Segundo Charles Boxer, a legislao que impedia
os mestios de ocuparem cargos pblicos foi intil, pois era a riqueza e no a cor a permanecer
como critrio principal15. Em 1733, o governador de Minas, Gomes Freire de Andrada, recebeu
ordens para fazer um inqurito sigiloso sobre o nmero de negros e mulatos libertos ocupando
postos nas milcias. Uma troca de correspondncia entre o governador e a Coroa discutia as
vantagens e desvantagens da concesso de alforrias16. Em 1759, o mesmo governador permitia que
os cavaleiros mulatos tivessem o direito de usar espada cinta17. Nas recomendaes ao seu irmo,
que viria a substitu-lo no governo, alertava: as pessoas, que servem
12
O problema da ascenso social dos indivduos mestios foi tratado por vrios historiadores, entre eles :
Augusto de Lima Junior, F.Teixeira Salles e Caio C. Boschi. O estudo de Caio C. Boschi, Os Leigos e o
Poder, analisa o processo e revela as formas de controle e neutralizao da fora mestia.
13
LIMA JUNIOR, Augusto de. A capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte, Itatiaia, l978. p. 77.
14
SALLES, Fritz Teixeira. Associaes Religiosas no Ciclo do Ouro, Belo Horizonte, Universidade de Minas
Gerais,l963.pp.36.
15
BOXER, Charles. A Idade do Ouro do Brasil. So Paulo: Cia Nacional, l969. p. l87.
16
MELLO E SOUZA, Laura de. Os Desclassificados do Ouro. Rio de Janeiro, Graal, l982. p.107.
17
BOXER, Charles. Op. cit. p. 187.
125
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
nas Camaras de Minas, so de hierarquia a que os sobe, ou abaixa o seu cabedal18. As crticas mais
contundentes ficaram expressas nas Cartas Chilenas, nas quais Critilo destila todo o seu
preconceito em relao ascenso social dos grupos nativos aos cargos pblicos:
Os postos, Doroteu, aqui se vendem,
E, como as outras drogas que se compram,
Devem daqueles ser, que mais os pagam.19
tambem, Doroteu, contra a polcia
Franquearem-se as portas, a que subam
Aos distintos empregos, as pessoas
Que vem de humildes troncos. Os tendeiros,
Mal se vem capites, so j fidalgos;20
Algumas hipteses quanto insero dos nativos na burocracia local foram levantadas pelo
historiador Fritz Teixeira Salles. Em seus trabalhos avaliou que a conjuntura de apogeu da extrao
do ouro, entre 1720 e 1740, teria propiciado a ascenso de novos grupos sociais e, em particular, dos
elementos mestios. O auge da economia mineradora coincidiu com a multiplicao de irmandades e
ordens terceiras, as quais, por sua vez, promoveram uma estratificao social calcada na
diferenciao tnica. Os pr-requisitos para a admisso nos quadros das associaes religiosas eram
a origem tnica ou a categoria social dos postulantes. Um caso de litgio ocorrido entre negros e
brancos na Irmandade do Rosrio do Alto da Cruz, em 1733, indica o aprofundamento da
segmentao tnica naquele perodo. A Irmandade do Rosrio do Alto da Cruz abrigava at ento
irmos brancos e negros. Depois do conflito verificou-se a retirada dos irmos brancos daquela
associao que passou a ser uma entidade de negros21.
Mapeando as tenses sociais resultantes do processo de estratificao social possvel
perceber as dificuldades de vigncia das leis portuguesas na colnia. Sua aplicao criava
ambigidades tpicas da sociedade escravista e que, no limite, apontam formao de uma sociedade
hbrida de estamentos e classes22.
18
ANDRADA, Gomes Freire de Instruo e Norma..., In: R.A.P.M. ano IV, l899, p.730.
GONZAGA, Tomz Antonio. Cartas Chilenas. Introduo e notas de Afonso Arinos de Melo Franco, Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional, l940. p. 210
20
Op. cit. p. 250
21
SALLES, Fritz Teixeira. Associaes Religiosas noCiclo do Ouro. Belo Horizonte, p. 34.
22
MELLO E SOUZA, Laura de. Op. cit. p. 147. Neste trabalho a historiadora sugere que a especificidade da
formao social escravista estaria no fato dela se apresentar definida nos extremos, rigidamente hierarquizada
na sua poro superior e inferior, mas mais fluida na camada intermediria.
19
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
126
Na literatura produzida pelas academias literrias mineiras aparecem os indcios dessa discusso em
torno dos critrios de estratificao social vigentes. Duas concepes de nobreza surgem
constantemente: a tpica do Antigo Regime, baseada na tradio jurdica portuguesa, que exclua
todos aqueles que no fossem descendentes de portugueses (brancos e catlicos); e uma outra, mais
ampla, ditada pelos requisitos do mrito pessoal, uma nobreza de esprito que no estaria
referenciada na condio de nascimento, mas no talento individual. Alvarenga Peixoto deixou
registrado, em versos, a defesa da meritocracia:
A herdada nobreza
aumenta, mas no d merecimento,
dos heroes a grandeza
deve-se ao brao, deve-se ao talento;
e assim foi que, acalcando seu destino,
deu leis ao mundo o cidado de Arpino23
Compreender o sentido que adquiriu o privilgio hierrquico na sociedade colonial pressupe
reconhecer a herana da tradio ibrica, na qual, segundo Srgio Buarque de Holanda,
identificamos a existncia, complementar e alternada, de um duplo critrio: o do privilgio
hereditrio e o do mrito pessoal. Uma ambivalncia cujo efeito mais perverso foi o desencontro
entre a realidade e a legalidade. Explicando as mazelas de nossa cidadania, o historiador constatou
que, na sociedade brasileira, as hierarquias nunca precisaram ser completamente abolidas para que se
institusse o princpio das competies individuais. Os novos grupos em ascenso jamais precisaram
instituir uma nova escala de valores, mas adotaram o modo de agir e pensar das classes
aristocrticas24.
Conforme a legislao portuguesa, as festas pblicas deveriam seguir um esquema
cerimonial rgido. Em 1727, o governador D. Loureno de Almeida recebia uma carta rgia fixando
o protocolo de precedncia nas cerimnias e funes pblicas. Em funo de contnuos dissabores, a
ordem rgia prescrevia a seguinte ordem nas cerimnias pblicas: os governadores deviam ficar
direita dos ministros polticos e esquerda dos oficiais militares; os oficiais deviam assentar-se
seguindo-se aos tenentes-generais, guardando-se nisto a mesma ordem que sempre se praticou nas
igrejas25.
23
Alvarenga Peixoto Canto Genetilaco. In: Vida e Obra de Alvarenga Peixoto, editado por.Rodrigues
Lapa, Rio de Janeiro, INL/MEC, l960. p. 26.
24
HOLANDA, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, l982.
25
Agradeo ao colega Carlos Versiani a cpia do documento que pertence ao Arquivo Pblico Mineiro,
cdice 7, Ordem rgia de 12/02/1727.
127
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Nas instrues de Gomes Freire de Andrada para o governo da capitania recomendava-se o
cuidado necessrio com as formalidades no tratamento dos eclesisticos: fareis entrar cada um por
sua vez na casa do docel, sendo preferidos e fazendo-os entrar primeiro, que vs entreis os
ecclesiasticos...26; sugeria inclusive que o corpo da Cmara e os cnegos fossem acompanhados at
a escada e a porta que vai da casa dos tenentes generaes para os subalternos27. Nas advertncias
que Critilo faz ao desptico governador, o Fanfarro Minsio, ele o acusa pela degradao dos
costumes durante as cerimnias pblicas:
Em outro tempo, amigo, os homens srios
Na rua no andavam sem florete;
Traziam cabeleira grande e branca,
Nas mos os seus chapus. Agora, amigo,
Os nossos prprios becas teem cabelo,
Os grandes sem florete vo missa,
Com a chibata na mo, chapu fincado,
Na forma em que passeiam os caixeiros.
Ninguem antigamente se sentava
Seno direito e grave, nas cadeiras
Agora as mesmas damas atravessam
As pernas sobre as pernas.(...)
Pois corre, Doroteu, paridade,
Que os costumes se mudam com os tempos.
Se os antigos fidalgos sempre davam
O seu direito lado a qualquer padre,
Acabou-se esta moda: o nosso chefe
Vindica os seus direitos.28
Freqentemente a quebra das regras de etiqueta resultava em conflito jurdico entre as
autoridades locais, as quais requeriam a arbitragem real atravs de peties. A partir de uma
perspectiva conservadora, as Cartas Chilenas procuram alertar quanto necessidade do cuidado com
a aparncia exterior e comportamento dos governantes. Diz Critilo: O gesto, mais o traje nas
pessoas, faz o mesmo que fazem os letreiros29. Em Memrias do distrito diamantino Joaquim
Felcio dos Santos notou que uma das mais aguerridas polmicas do tempo dizia respeito aos perigos
da etiqueta, que deveria ser observada sob pena de incorrer em crime de
26
Instruo e norma que deu o conde de Bobadela a seu irmo..., In: R.A.P.M., IV, p. 729.
Instruo e norma que deu o conde de Bobadela a seu irmo..., Op.Cit. p. 732.
28
GONZAGA, Tomaz Antonio. Cartas Chilenas, p. 205.
29
GONZAGA, Tomaz Antonio. Op.Cit., p. 15.
27
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
128
lesa-civilidade30. O comportamento em pblico deveria servir sinalizao das diferenas de
classes. Tudo concorria para que a exibio visual se confundisse com a posio na estrutura social.
No sem motivo, uma das reivindicaes dos inconfidentes de 1789 era a democratizao do uso de
sedas e cetins31. Nos autos de devassa ficou documentado o desejo de abolir as leis indumentrias:
(...) que os nobres no haviam de vestir seno das fazendas proprias do paiz, e que os de
inferior qualidade vestiriam das que quizessem, e deixava-se-lhes esta liberdade na esperana
de que estes seguiriam o exemplo daquelles...32.
Uma petio dirigida ao Rei, em l774, assinada pelo provedor da Fazenda juntamente com o
ouvidor e o intendente de Vila Rica, registra a acusao de transgresso da lei cerimonial cometida
pelo governador Antonio Carlos Furtado de Mendona, durante a novena de Nossa Sra. da
Conceio, realizada na Igreja de Antonio Dias. Segundo o documento, o governador teria
determinado a mudana do ritual litrgico, obrigando o padre a incensar o seu prprio filho, o que
rompia com a ordem de precedncia tradicional. Os clrigos acusavam o governador de intervir em
assuntos de jurisdio exclusiva da Igreja:
No obstante aquellas Sagradas determinaoens de V. Magestade procurou o sobretido
governador, com os factos expostos dezattender-nos, e aniquilar o decoro que nos he devido, e
isto em hua materia das cerimonias da Igreja, em que elle no tem a menor jurisdico, e em
seno devera intrometter...33.
Os magistrados preocuparam-se em justificar a interrupo das visitas casa do governador,
alegando que o gnio ardente e imoderado do mesmo j teria causado sucessivas dezatenes
pblicas. Receando os perigos a que se viam expostos com a quebra dos costumes, invocavam
inmeras leis e ordens rgias que prescreviam na forma de estilo os procedimentos do cerimonial.
Consideraram uma transgresso formal da lei o fato de o governador ter tomado o lugar da Cmara
diante do plio nas procisses do Corpo de Deus. As disputas de
30
SANTOS, Joaquim Felcio dos. Memrias do Distrito Diamantino. Belo Horizonte: Itatiaia, l976. p. 85.
Em artigo 1789: A Idia Republicana e o Imaginrio das Luzes, a Profa.Dra. Maria Lcia Montes
mostrou a sntese perversa e paradoxal que as concepes polticas iluministas sofreram em Minas na poca
da inconfidncia. O projeto poltico dos inconfidentes no ampliava a cidadania. A ilustrao brasileira
continuava concebendo a ordenao da vida social e poltica de forma a que a diferena - e no a igualdade parecesse um dado da natureza, da a indistino entre liberdade e privilgio (texto apresentado no seminrio
realizado pela Fundao Joo Pinheiro em Belo Horizonte, maio de l992). A nota procura relativizar o impacto
das idias de democratizao do vestario.
32
Autos de Devassa da Inconfidncia Mineira. Rio de Janeiro: Ministrio da Educao/Bibilioteca Nacional,
l937. vol. IV, p.171.
33
Violencia de um governador (1774) R.A.P.M. vol VI, l901, pp.185-188.
31
129
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
precedncia nos cerimoniais pblicos trazem tona as tenses entre as autoridades metropolitanas e
eclesisticas. Nas Cartas Chilenas encontra-se referncia aos maus modos do governador em
relao ao Bispo:
Chega enfim o dia suspirado,
O dia do festejo. Todos correm
Com rostos de alegria ao santo templo,
Celebra o velho Bispo a grande missa,
Porem o sbio chefe no lhe assiste
Debaixo do espaldar, ao lado esquerdo:
Para a tribuna sobe e ali se assenta34
Mesmo no sendo religiosamente cumpridas, as regras de etiqueta eram motivo de
preocupao das autoridades. Em 1820, um requerimento enviado Secretaria dEstado dos
Negocios do Reino notificava que o Juiz de Fora de Vila Rica teria deixado de observar as regras
bsicas de etiqueta, abstendo-se de acompanhar o governador e a Cmara at a sada da capela de
Nossa Sra. do Carmo durante as festividades35.
* * *
Os documentos apresentados neste trabalho fornecem pistas para a investigao do processo
de estratificao social ao longo do sculo. Como fluidez e hierarquia se articulavam na sociedade
mineira setecentista ? Os conflitos em torno das regras de etiqueta nos cerimoniais pblicos revelam
o processo de ascenso social de grupos nativos. Os critrios da cor, da riqueza e da honra
procuravam definir uma estrutura social num meio movedio e em permanente ebulio social.
Reconstruir o universo das regras de etiqueta na sociedade mineira colonial significa
compreender a prtica cotidiana dessa etiqueta tirana, incumbida de marcar distncias sociais,
diferenciar costumes, regulamentar o porte de jias de ouro e prata, controlar o uso dos tecidos e das
rendas bordadas, induzir o escravo a andar a p e descalo e fazer com que o branco, mesmo criado,
nunca carregasse embrulhos na rua, mas se fizesse seguir por um negro de ganho36.
34
GONZAGA, Tomaz Antonio. Op.Cit., p. 203.
R.A.P.M. Sobre honras a que tem direito nas solemnidades publicas o Governador e Capito General. vol
IX, pp. 579-580.
36
BASTIDE, Roger. Estudos Afro-brasileiros Revista do Arquivo Municipal de So Paulo, xcviii, l944.
35
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
130
ARTIGO
HISTRIA URBANA DE MARIANA: PRIMEIROS ESTUDOS
CLUDIA DAMASCENO FONSECA
Mestranda - UFMG
Este artigo resultado de pesquisa em andamento sobre a gnese e a transformao da
paisagem urbana de Mariana, desenvolvida no Programa de Mestrado em Geografia Humana da
Universidade Federal de Minas Gerais.
O objetivo da pesquisa explicar a configurao atual da cidade de Mariana, a razo, o
significado de determinadas formas urbanas verificadas, o porqu da permanncia de alguns
elementos e da descaracterizao ou supresso de outros. As respostas para essas questes devero
ser encontradas atravs da considerao dos dinamismos scio-culturais da cidade, do estudo de sua
evoluo e das etapas de seu desenvolvimento.
Para que se possa reconstituir a histria do espao, das formas urbanas de Mariana,
necessrio recorrer a fontes diversas, sendo que as cartogrficas, assim como outras formas de
representao do espao, so particularmente importantes.
1. CONSIDERAES TERICO-METODOLGICAS
Este tipo de estudo pode ser classificado tanto como Histria Urbana, quanto como
Geografia Histrica Urbana ou Geografia Urbana Retrospectiva, como no caso do clebre ensaio
de Aroldo de Azevedo1. De fato, tendo o espao como o objeto que analisado em relao varivel
tempo, a pesquisa pode se inserir tanto no seio da Histria, quanto da Geografia, uma vez que as
interfaces
AZEVEDO, Aroldo de. Vilas e cidades do Brasil colonial: ensaio de geografia urbana retrospectiva. In:
Anais da Associao Brasileira de Gegrafos. vol. IX, tomo I, pp. 83-168. 1957.
131
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
entre as duas so extensas e precariamente definidas2. Portanto, mais importante que
tentar enquadrar este estudo dentro dessa ou daquela rea do conhecimento, procurar definir
melhor seu objeto e seus mtodos.
A propsito de uma definio de histria urbana, de seu objeto, Maria Stella Bresciani
escreveu:
Nada mais definido e aparentemente mais ambguo em termos conceituais do que a palavra
cidade. A permanncia material no tempo faz com que os aglomerados humanos possam
remontar atravs de seus resduos arqueolgicos at, por que no, s primeiras aglomeraes
de moradias. As noes de abrigo e de defesa conjugam-se na imagem da arte/astcia do
homem vencendo os obstculos para assegurar sua existncia frgil num ambiente
decididamente hostil (...).
A opo pela idia de uma vida urbana diferenciada da vida do campo coloca em destaque a
noo de artifcio, da arte do homem distinguindo-o definitivamente dos outros seres do
mundo animal, e remete para a concepo de arte como transposio de uma idia em uma
obra, como algo intrnseco ao campo da racionalidade e da industriosidade. Esta opo orienta
vrias vertentes de estudos historiogrficos e urbansticos que acompanham a permanncia e a
transformao das cidades atravs dos tempos.
Esses estudos podem focalizar a vida poltica, a corte, as instituies pblicas e seus edifcios,
o mercado e a vida comercial, buscando definir aquilo que chamamos de espao pblico e
lugar de sociabilidade; podem tambm privilegiar as atividades econmicas e suas
configuraes geograficamente sediadas nas cidades, refazendo a rede urbana e a
regionalizao em torno dos centros econmicos em suas trocas com o mundo agrcola.
Podem, ainda, uma vertente adotada sobretudo por urbanistas, recortar as formas urbanas
desde as aglomeraes mais primitivas, orientando-se pelas coordenadas do espao e da
tcnica.(...) Em todos a noo de crescimento evolutivo ou de desenvolvimento constitui o
pressuposto terico que faz com que a(s) cidade(s) seja(m) considerada(s) um fato histrico,
sempre o mesmo, um fenmeno cujas transformaes (materialidade e funo) constituem o
objeto de pesquisa dos estudiosos.3
FERRO, Gaetano. Sociedade Humana e Ambiente no tempo; temas e problemas da Geografia Histrica.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1986.
3
BRESCIANI, Stella. Permanncia e ruptura no estudo de cidades. In: FERNANDES, Ana & GOMES,
Marco Aurlio A. de F. (org.) Cidade e Histria - Anais do Seminrio de Histria Urbana. Salvador, 1992.
p. 11.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
132
Raquel Rolnik tambm procurou definir e delimitar o objeto desses estudos. Para ela, o
ponto fundamental que articula a especificidade da Histria Urbana, o que a distingue da histria
das civilizaes urbanas ou das histrias na cidade, o seu foco sobre a configurao espacial,
sobre as mudanas fsicas verificadas na cidade ao longo do tempo:
Reconhecer esta especificidade pode significar, dentro de uma leitura do processo de
transformao ou da temporalidade, reconhecer um certo papel do espao dentro desse
processo... (...) Quando a varivel espao entra na histria, coloca-se uma questo ao mesmo
tempo terica e metodolgica. Porque o espao, a configurao fsica, esta materialidade uma
varivel histrica e uma varivel terica. Porque o espao pode ser uma fonte, da mesma
forma que um arquivo... (...) ele funciona como uma fonte na medida em que se l, na histria
da organizao do espao da cidade, as formas de organizao do trabalho, as formas de
relao social, etc. (grifos nossos).
A cidade, por excelncia, produz e contm documentos, ordens, inventrios. Isso caracteriza
historicamente o seu processo de formao. A arquitetura urbana tambm cumpre esse papel
de escrita, de texto, que se l da mesma maneira que se l um processo, um relato de um
viajante. O espao , portanto, uma fonte, uma das fontes essenciais ou um tipo de notao
fundamental para quem trabalha com histria urbana.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista terico, em que se trabalha com essa questo do urbano
em transformao e em movimento, existe uma idia para alm de funcional entre os homens e
os grupos sociais e esse espao. A noo que se pode usar para se tentar pontuar essa questo
a noo de territrio, ou de territorialidade.4
Para a autora, esta noo de territrio se contrape de espao abstrato: o territrio o
espao real vivido, ele depende do sujeito para existir. As relaes entre os indivduos configuram-se
espacialmente, e a cidade se constitui dessas relaes, que no so puramente formais:
Para alm delas existe todo o processo de significao, de percepo e de construo dessa
territorialidade. Ento, uma rua, para alm de ser um lugar onde se passa ou se deixa de passar,
uma rua est carregada de histria, est carregada de
ROLNIK, Raquel. Histria urbana: histria na cidade? In. FERNANDES, Ana & GOMES, Marco Aurlio
A. de F. (org.) Cidade e Histria - Anais do Seminrio de Histria Urbana. Salvador, 1992. p. 27.
133
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
memria, est carregada de experincias que o sujeito teve, que seu grupo teve, e que a histria
de seu grupo naquele espao teve.5
Segundo Rolnik, portanto, a arquitetura e o espao urbano, ao mesmo tempo em que se
constituem registros histricos concretos, esto carregados de aspectos subjetivos, de valores, de
memria, de teorias, de ideais.
Mas, estas duas formas correlatas de encarar a cidade, em 1938, j eram desenvolvidas por
Lewis Munford:
A cidade um fato natural, da mesma forma que uma gruta, um ninho, um formigueiro. Mas
ela tambm uma obra de arte consciente que engloba, numa estrutura coletiva, numerosas
formas de arte mais simples e mais individuais. O pensamento toma forma na cidade; e as
formas urbanas, por sua vez, condicionam o pensamento. O espao, assim como o tempo, so
de fato engenhosamente reorganizados dentro da cidade; nas linhas e nos desenhos das
muralhas, na disposio dos planos horizontais e de edifcios verticais, na utilizao ou na
descaracterizao das formas naturais...(...) A cidade um instrumento material de vida
coletiva ao mesmo tempo que um smbolo desta comunidade de objetivos e de acordos,
nascida em circunstncias to favorveis. Ao lado da linguagem, ela talvez a maior obra de
arte do homem.6 (grifos nossos)
Do mesmo modo, nesta pesquisa, procuramos analisar a histria das formas urbanas de
Mariana segundo duas abordagens complementares, baseadas no modo de anlise urbana proposto
por Aldo Rossi.
A) A cidade como Artefato
a forma de uma cidade sempre a forma de uma poca da cidade, e na forma de uma cidade,
numerosas pocas coexistem7
Esta primeira abordagem desenvolvida por Rossi v a cidade como uma varivel histrica,
um fato concreto, como um artefato que se constri ao longo do tempo e que conserva traos de
suas fases anteriores, mesmo se de maneira descontnua.
ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 28.
MUNFORD, Lewis. The Culture of Cities. Apud ROSSI, Aldo. LArchitecture de la Ville. Paris:
LEquerre, 1991. p. 250.
7
ROSSI, Aldo. Op. cit. p. 50
6
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
134
Pela considerao desse espao concreto, dos traos e vestgios que subsistiram de outras
pocas e pela consulta de outras fontes histricas - epigrficas, bibliogrficas, iconogrficas -
possvel reconstruir diversas geografias do passado, descobrir como se deu a construo das
formas urbanas de Mariana atravs do tempo, estabelecendo uma periodizao de sua evoluo.
Este modo de anlise urbana fundado numa pesquisa dos contedos sociais e na observao
cientfica e baseia-se, principalmente, nos trabalhos dos gegrafos-historiadores franceses Marcel
Pote, Pierre Lavedan e Jean Tricard.
A teoria de Pote e de Lavedan, seu seguidor, est construda em torno do fenmeno das
permanncias. Segundo essa teoria, as cidades crescem, modificam-se, mas os motivos originais de
seu aparecimento ficam inscritos na sua construo. Elas conservam seu locus e continuam a se
conformar a orientaes e sentidos determinados por fatos urbanos (elementos formais da cidade traado das vias, edifcios - que persistem no meio de um conjunto em transformao) mais antigos.
A permanncia mais significativa a do plano da cidade, das ruas, que persistem sob diferentes
fachadas. A persistncia de edifcios pblicos e monumentos tambm importante, na medida em
que esses elementos agem como polarizadores e condicionantes de expanses e modificaes na
trama urbana.
O estudo da morfologia urbana, a teoria das permanncias e a considerao dos fatores
geogrficos so etapas em direo ao conhecimento da estrutura, do significado da forma da cidade.
Mas, para Tricard, os estudos urbanos devem partir no da descrio morfolgica, mas dos
contedos sociais. A questo da propriedade da terra urbana fundamental para a compreenso da
gnese e do crescimento da cidade e est diretamente ligada s influncias sociais e histricas. A
formao e evoluo dos traados dos lotes, antes de participarem na determinao das tipologias
arquitetnicas e, conseqentemente, da constituio da paisagem urbana, contam a histria dos
proprietrios da terra, das classes s quais o desenvolvimento da cidade esteve estritamente ligado.
Sabe-se que, no perodo colonial, as instituies Igreja e Estado eram umbilicalmente
ligadas, e suas atribuies at se confundiam:
135
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
(...) o rei muito legitimamente entrava na instituio e organizao do governo eclesistico.
Alm disso, conforme o regime poltico, os bispos, por seu lado, intervinham em matrias
temporais e civis...8
A questo do traado urbano e o aspecto fundirio nos ncleos brasileiros do perodo
colonial so resultado dessa parceria institucional. Entretanto, em Mariana, nos estgios
embrionrios de arraial de Nossa Senhora do Carmo, (assim como em outras aglomeraes de
mineradores), a ao da Igreja, no que diz respeito s regulamentaes urbansticas, foi muito mais
determinante do que a do poder civil. Suas constituies eram bastante rgidas e explcitas, quanto
localizao dos edifcios religiosos, exigindo recuos laterais e frontais, origem dos largos e praas
que estruturavam o espao urbano. Os terrenos junto aos edifcios e capelas eram muitas vezes
aforados aos interessados em habitar prximo a eles, o que significava maiores recursos para a
conservao dos templos e, at mesmo, justificava sua construo naquele local, pois, segundo a
constituio 693 do Arcebispado da Bahia, estes nunca deveriam ser erguidos em lugares ermos,
desabitados.9
Quando da elevao da vila categoria de cidade, essa atuao conjunta pode de fato se
verificar. Na construo da nova estrutura urbana para receber a sede do Bispado, a ao do Estado
se deu mais explcita e objetivamente, enquanto que a Igreja continuava impondo suas condies.
Pela Ordem de 2 de maio de 1746, o rei concedia terras
para se fazerem casas conforme a planta com frente para a rua e quintais no fundo, elegendose stio para praa espaosa, demarcando-se ruas, que fiquem direitas, com bastante largura
sem ateno a convenincias particulares, ou edifcios, que contra esta ordem se acham feitos
no referido stio dos pastos; porque se deve antepor a formosura das ruas, e cordeadas estas, se
demarquem stios, onde se edifiquem os edifcios pblicos...10
Por sua vez, o primeiro bispo de Mariana, Dom Manuel da Cruz, no satisfeito com o
aspecto da cidade, envia carta s autoridades civis, exigindo melhoramentos e ampliaes da
estrutura urbana:
Esta cidade est muito no seu princpio e para as ruas novas que se vo fazendo e que so
muitas tem vindo ordem de S. Maj. para serem bem reguladas; e como aqui
VASCONCELLOS, Diogo. Histria do Bispado de Mariana. Belo Horizonte: Biblioteca Mineira de
Cultura, 1935.
9
MARX, Murillo. Cidade no Brasil: Terra de Quem? So Paulo: Edusp/Nobel, 1991. p. 40.
10
VASCONCELLOS, Diogo. Op. cit., p. 26
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
136
corriam vrias demandas a respeito de guas e de datas de terras vizinhas cidade em que se
querem fazer ruas, mandou S. Maj. nesta Frotta se remetessem as tais demandas para Lisboa,
para l se resolverem; peo a V. Revma. proteja tudo o que for para aumento dessa cidade;
pois nela mostra S. Maj. ter gosto pelas apertadas ordens que tem mandado para este efeito.11
Segundo Waldemar de Moura Santos, o bispo
inspirou, exigiu e obteve a aprovao do plano de toda a parte urbana da cidade, que, segundo
opinio de historiadores de nota, foi discutido e sabiamente orientado pelo dinmico bispo.
B) A cidade como locus da imaginao e da memria coletivas
A Histria o campo de batalha onde os homens tentam penosamente fazer coincidir o
mundo novo com as imagens exaltantes que os incitaram a modificar o mundo antigo12
A segunda abordagem histrica proposta por Rossi tambm leva em conta a estrutura
material da cidade, mas se preocupa fundamentalmente com a viso da cidade como uma sntese de
um conjunto de valores, como o locus da memria e da imaginao coletivas:
Ao mesmo tempo em que os fatos se inscrevem na memria, fatos novos aparecem e se
constituem como formas na cidade. desta maneira concreta que as idias atravessam a
histria da cidade, imprimindo-lhe a sua forma13
Atravs desta abordagem, procuramos determinar as idias, os pensamentos subjacentes s
atividades humanas14 que modificaram ou preservaram elementos e formas de Mariana, em busca
da cidade ideal. Para explicar sua paisagem atual necessrio levar em conta os valores, motivaes
e teorias que estiveram por trs de cada atitude, de um passado remoto ou no presente, que procurou
construir ou descaracterizar seus elementos.
11
SANTOS, Waldemar de Moura. Lendas marianenses. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1967. p. 99.
STAROBINSKI, Jean. Apud. PIMENTEL, Thais Velloso C. A Torre Kubitschek; Trajetria de um Projeto
em 30 Anos de Brasil. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura, 1993.
13
ROSSI, Aldo. Op. cit. p. 171.
14
GUELKE, Leonard. Uma alternativa idealista na Geografia Humana. In: CHRISTOFOLETTI, A.
Perspectivas da Geografia. So Paulo: Difel, 1985. Cap. 9. pp. 195-212.
12
137
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Para Rossi, a cidade, vista como arquitetura, possui dois componentes essenciais: a rea residencial e
os elementos singulares ou primeiros, que so os logradouros pblicos e os edifcios que
funcionam como ns de agregao e polarizao, que participam de forma permanente na evoluo
da cidade. Os elementos singulares podem ou no coincidir com aqueles considerados monumentos,
pois estes so pontos fixos dentro da dinmica urbana, so mais fortes que as leis econmicas,
enquanto que os elementos singulares no o so de forma imediata. Somente alguns deles chegaro a
ter o valor de monumentos, seja devido ao seu valor intrnseco, seja devido a uma situao histrica
particular.
Essa questo, portanto, diz respeito, diretamente, questo da viabilidade da preservao do
patrimnio histrico: um determinado elemento formal da cidade s se torna monumento, e
permanece como tal, se estiver relacionado histria, vida e s aspiraes e necessidades da
comunidade, e fcil perceber como tem sido difcil acomodar satisfatoriamente estilos de vida
modernos15, novas formas de lazer e de habitao nos espaos das cidades histricas.
(...) possvel pensarem-se os processos de transformao a nvel poltico, os processos de
transformao a nvel esttico ou os processos de transformao a nvel econmico numa
perspectiva de histria urbana(...).
Vrios trabalhos adotam essa perspectiva quando mapeiam agentes sociais e polticos e seus
movimentos de produo e transformao. E, na hora de mape-los, referenciam-se s
configuraes, s materializaes ao longo do espao. Ao mesmo tempo em que se faz a
histria do pensamento urbanstico, faz-se tambm a ponte entre uma histria de mentalidades
e as territorialidades formuladas. So territorialidades vividas em territorialidades concretas e
existentes; ao mesmo tempo, tambm so imagens projetivas que se descolam do real e se
apresentam enquanto projeto.16
As intenes e valores, individuais e coletivos, as teorias sobre a cidade e as diferentes
percepes do espao e de suas potencialidades, em cada poca, orientaram as aes, empreendidas
pela populao ou pelas instituies. Estas so informaes essenciais para que se possa apreender o
significado das formas urbanas de Mariana, e tambm podem ser lidas nos documentos escritos,
desenhados e cartografados, executados ao longo do tempo. Mas, segundo Leonard Guelke,
15
A esse respeito, ver FISCHER, Mnica. Mariana: Os Dilemas da Preservao Histrica num Contexto
Social Adverso. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da UFMG, 1993. (Dissertao de
Mestrado em Sociologia Urbana)
16
ROLNIK, Raquel. Op. cit., p. 29.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
138
(...) a paisagem cultural, como um registro da atividade humana sobre a terra, propicia um
guia inestimvel para se compreender os valores das pessoas que o elaboraram. Esse registro
mais valioso do que questionrios ou respostas subjetivas fornecidas, porque ele um registro
de ao, no simplesmente de inteno. Ele espelha as prioridades polticas, econmicas e
sociais das sociedades que o criaram, indo alm da retrica poltica e institucional.17
Em sntese, o que se pretende na pesquisa , por um lado, conhecer a forma pela qual a
cidade de Mariana foi se construindo concretamente, determinar a seqncia da criao de ruas,
bairros, da construo de igrejas e edifcios pblicos. Estas informaes objetivas podem ser
colhidas diretamente de fontes histricas - bibliogrficas, cartogrficas, iconogrficas - e comparadas
realidade atual, permitindo verificar as permanncias e as transformaes de elementos formais da
cidade.
Por outro lado, a anlise desses mesmos documentos nos auxilia a recuperar um aspecto
ainda menos evidente de sua histria urbana: a razo, o porqu dessas determinadas formas. Sabe-se
que, dentro do panorama das aglomeraes coloniais mineiras, Mariana apresenta alguns aspectos
formais bastante peculiares. Somente o fato de ter sido construda segundo um traado regular, j no
sculo XVIII, em oposio trama urbana espontnea do arraial primitivo, torna a cidade
merecedora de um estudo mais aprofundado do que os que foram realizados at o presente. Que
ideais urbansticos de ordem, de higiene, de tradio ou de modernidade guiaram as intervenes
verificadas em Mariana, em cada poca de sua evoluo?
Determinar esses valores subjetivos - l-los nas entrelinhas dos textos, na concepo formal e
funcional de um plano urbanstico, nas cores e nos elementos colocados em destaque nas
representaes cartogrficas e pictricas - ou seja, as percepes, teorias e intenes, de ordem
prtica ou esttica, de quem executou essas representaes, parece ser uma tarefa mais rdua, e
talvez mais questionvel do que a primeira, na medida em que se constitui, em muitos casos, em
uma interpretao pessoal do pesquisador. Mas, para enfrent-la, com embasamento e
argumentaes consistentes, contamos, mais uma vez, com o auxlio da Histria -, das Mentalidades,
das Artes, do Pensamento Urbanstico.
17
GUELKE, Leonard. Op. cit.
139
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
2. FONTES HISTRICAS UTILIZADAS
Existe um nmero razovel de obras que tratam, direta ou indiretamente, de aspectos da
histria urbana de Mariana. A cidade mereceu, tambm, vrios registros cartogrficos, pictricos e
fotogrficos, em pocas diversas.
Isso se deve, evidentemente, posio de destaque que a cidade ocupou, em seus primrdios,
como a principal vila da Capitania e, principalmente, como sede do novo Bispado criado para Minas
Gerais, razo pela qual se deu, em 1745, a elevao da Vila de Nossa Senhora do Carmo categoria
de Cidade de Mariana. Mas o nmero significativo de relatos existentes devido, tambm, ao
esforo de vrios historiadores, muitos deles nascidos em Mariana ou em cidades prximas. Entre
outros, citamos Augusto de Lima Jnior, Waldemar de Moura Santos, Diogo e Salomo de
Vasconcellos. Este ltimo dedicou alguns de seus volumes histria dos templos, ruas e edifcios
pblicos da cidade. A obra do cnego Raimundo Trindade, Instituies de Igrejas no Bispado de
Mariana, tambm de grande utilidade nesta pesquisa, auxiliando a desvendar questes de
localizao e do patrimnio fundirio dos templos erigidos na cidade.
A) Fontes bibliogrficas
O levantamento das fontes histricas bibliogrficas foi realizado no Arquivo Pblico
Mineiro, na Seo Mineiriana da Biblioteca Pblica de Belo Horizonte, na biblioteca da 7a D. R. da
Fundao Nacional Pr-Memria - IPHAN, em Belo Horizonte, no Arquivo Eclesistico da
Arquidiocese de Mariana e no Centro de Documentao do Laboratrio de Pesquisa Histrica do
ICHS (Instituto de Cincias Humanas e Sociais), em Mariana.
Segundo o objetivo e a profundidade de seus contedos, essas fontes podem ser classificadas
da seguinte forma:
-Obras sobre a Histria de Minas Gerais, ou de todo o Bispado de Mariana,
referncias a aspectos formais da cidade;
que fazem
-obras que tratam da histria social e econmica de Mariana, fazendo referncia a seus
aspectos formais;
-obras que tratam especificamente de aspectos formais da cidade;
-obras literrias que citam ou descrevem a paisagem urbana e sentimental da cidade.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
140
A lista acima indicada rene apenas as fontes secundrias. Alm destas, foram levantadas,
tambm, fontes primrias impressas de extrema importncia nesse estudo, e que devero ser
analisadas, como os relatos descritivos e crticos dos viajantes do sculo XIX, as Constituies
Primeiras do Arcebispado da Bahia, que regulamentavam rigidamente a construo de capelas e
igrejas no perodo colonial, principalmente quanto sua localizao e implantao, ou as Posturas
da Cmara da Vila do Carmo (1725/1789).18
Sabemos do amplo leque de informaes valiosas, relativas a construes, embelezamentos e
melhoramentos urbanos, aspectos fundirios e outros, que interessam sobremaneira a esse estudo, e
que podem ser encontradas na enorme quantidade de fontes primrias no impressas existentes no
Arquivo da Cmara Municipal de Mariana19 (que se encontra hoje no ICHS), no Arquivo Pblico
Mineiro e em outras instituies.
Alguns desses documentos so citados nas obras de historiadores acima referidas. Entretanto,
tendo em vista o pequeno tempo disponvel para esta pesquisa, no podemos ter a pretenso de
consultar todas as fontes existentes, que so realmente numerosas. Somente o Arquivo da Cmara de
Mariana compreende aproximadamente 600 cdices ou livros20, que ainda no foram totalmente
organizados e que so de difcil leitura, muitos documentos apresentando avanado estado de
deteriorao. Fica claro, portanto, que esta pesquisa no pretende esgotar o assunto, que dever ser
retomado em estudos posteriores.
B) Fontes Cartogrficas
Segundo Jos Honrio Rodrigues,
com a cartografia do sculo XVIII que se inaugura uma nova fase. Ela deixa de ser obra de
pilotos e descobridores para tornar-se obra cientfica de exploradores. As figuras centrais desta
reforma so os padres Diogo Soares e Domingos Capassi (...) A obra cientfica iniciada pelos
dois sbios jesutas vais ser continuada pelos exploradores e demarcadores de limites, de regra
engenheiros, matemticos, gegrafos e astrnomos.21
18
POLITO, Ronald (org.). Guia e tipologia dos documentos de Mariana. Separata. Laboratrio de Pesquisa
Histrica do Dep. de Histria do ICHS/ UFOP, Mariana, 1989.
19
POLITO, Ronald. Op. cit.
20
POLITO, Ronald. Op. cit., p. 7.
21
RODRIGUES, Jos Honrio. Teoria da Histria do Brasil. Apud. TOLEDO, Benedito Lima de. O Real
Corpo de Engenheiros na Capitania de So Paulo. So Paulo, Joo Fortes Engenharia, 1981. p. 36
141
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
A necessidade de se precisar os limites entre o Brasil e as terras pertencentes Coroa
espanhola fez com que Portugal enviasse colnia, a partir de 1729, expedies de cartgrafos e
engenheiros militares, cujos trabalhos, de grande rigor cientfico para a poca, abriram uma nova
era na cartografia brasileira e serviram, em boa medida, de fundamento para a celebrao do
famoso tratado de Madri, em 1750.22
A ao desses engenheiros militares no se limitou, entretanto, aos levantamentos e s
expedies demarcatrias. Suas atribuies eram bastante diversas, e incluam projetos
arquitetnicos e urbansticos. Um desses profissionais, o Brigadeiro Jos Fernandes Pinto Alpoim,
atuou bastante em Minas Gerais, tendo trabalhado em Ouro Preto, em vrias obras, e tambm no Rio
de Janeiro, onde projetou o Ptio do Carmo, atual praa XV. E, mais importante nesse estudo foi a
execuo por Alpoim da planta nova da cidade de Mariana, encomendada pelo rei em 1745, para que
a sede do novo Bispado tivesse uma aparncia digna do nome da rainha - regular, ordenada, bastante
diferente do arraial decadente, arruinado e castigado pelas inundaes do Ribeiro do Carmo,
segundo relata Diogo de Vasconcellos.23
Caio Boschi cita as referncias de um plano conservado no Arquivo Histrico Ultramarino,
em Lisboa, que talvez se trate daquele primeiro plano executado por Alpoim, a Planta em que se
mostra a obra a fazer para evitar a inundao das ruas da cidade de Mariana pelo rio que ali
corre.24
A busca pelos documentos cartogrficos foi realizada em instituies de Minas e outros
estados: Arquivo Pblico Mineiro, Instituto de Geografia Aplicada -IGA e Arquivo do IPHAN (7a D.
R.), em Belo Horizonte; Arquivo da Casa Setecentista, em Mariana; Mapoteca do Itamaraty e
Arquivo Histrico do Exrcito, Rio de Janeiro.
At o momento, os planos urbanos da cidade que puderam ser localizados e reproduzidos so
os seguintes:
- Plta de Mariana - fim do sc. XVIII, escala aproximada de 1/1500 (Arquivo Histrico do
Exrcito, RJ.):
22
TOLEDO, Benedito Lima de. Op. cit. p. 16
VASCONCELLOS, Diogo de. Op. cit. p. 25
24
BOSCHI, Caio. Fontes primrias para a histria de Minas Gerais em Portugal. Belo Horizonte: Conselho
Estadual de Cultura de Minas Gerais, 1979, p. 49
23
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
142
- Mappa de Mariana - perodo entre 1796-1803, mapa pictrico e arquitetnico, sem escala
(Mapoteca do Itamaraty, RJ.);
- Municpio de Mariana - 1921, escala aproximada de 1/20.000 (lbum Chorographico de
Minas Gerais, IGA, BH);
- Planta Cartogrfica da Cidade de Mariana - 1920, escala aproximada de 1/1500 (Arquivo
da Casa Setecentista, Mariana);
- Municpio de Mariana - 1939, escala 1/100.000 - inserto Mariana e seus distritos, escala
1/20.000 (Arquivo Pblico Mineiro, Belo Horizonte)
- Planta Cadastral de Mariana - 1974, escala de 1/2000, 1/4.000 e 1/10.000 (IPHAN/
Prefeitura Municipal de Mariana/ Fundao Joo Pinheiro);
- Mariana - 1990, escala de 1/5000 (CEMIG- Prefeitura Municipal de Mariana).
A anlise dos planos urbanos da cidade, executados em diferentes pocas, extremamente
importante nesta pesquisa. Ela auxilia, por um lado, a completar e confirmar dados bibliogrficos
referentes ocupao das ruas, construo de edifcios, permitindo executar mapas-sntese que
refletem a realidade das formas urbanas da cidade em cada fase de sua histria. Por outro lado, tratase de documentos que refletem tambm vises subjetivas da cidade, percepes de espao bastante
diferenciadas. Algumas vezes so indicados elementos formais de maneira idealizada, refletindo
uma inteno em adotar certos modelos urbansticos que nem sempre puderam ser concretizados na
cidade. Em alguns casos, portanto, as formas representadas no correspondem realidade objetiva,
mas s imagens projetivas de quem executou o documento.
Um exemplo disso o mapa militar mencionado acima. Nele, as ruas so de uma
ortogonalidade perfeita, algumas quadras de mesmas dimenses e formas, os traados dos lotes so
regulares e simtricos, aspectos que, em sua maioria, no esto de acordo com o que se construiu
verdadeiramente na cidade, talvez, no caso das ruas, por dificuldades tcnicas de realizar medies e
alinhamentos.25
Segundo Nestor Goulart Reis Filho, no fim do sculo XVII e na primeira metade do sculo
XVIII, o governo portugus adotou uma srie de procedimentos
25
SERRA, Geraldo. O Espao Natural e a Forma Urbana. So Paulo: Nobel, 1987. (Coleo Espaos)
143
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
para fundao de vilas e cidades no Brasil, que foram consolidados no perodo Pombalino,
... de modo a constituir uma linha de suporte tcnico para uma slida poltica urbanizadora.
(...) A implantao dessa rede de vilas obedeceu a determinados padres de regularidade, que
permitiam atender a objetivos simultaneamente civis e militares.26
Segundo o autor, nas Cartas de Criao de Vilas que eram elaboradas, prescreviam-se
normas para o traado de ruas, praas, para os traados dos lotes dentro das quadras e mesmo para a
construo dos edifcios:
No exemplo ideal, os edifcios tinham todos a mesma altura, as mesmas dimenses de portas
e janelas e os mesmos tipos de ornamentos, como se fossem partes de um edifcio maior.
Assim, as normas de controle estabelecidas pela administrao pombalina no se limitavam s
regularidades de traado da arquitetura e do sistema virio. Em alguns casos, levavam
formao de conjuntos urbanos, cuja importncia ainda no foi devidamente reconhecida.27
Portanto, da mesma forma que em algumas outras cidades da colnia, os alinhamentos
harmnicos de fachadas em Mariana, dos quais o autor da planta do Itamaraty parece tanto se
orgulhar, devem ter sido um produto das regulamentaes urbansticas portuguesas, da procura por
uma cidade ideal, regular, ordenada.
C) Outras fontes iconogrficas
Alm das cartogrficas, existem outros tipos de representao do espao de Mariana que
constituem, tambm, documentos valiosos, tanto para se conhecer a forma concreta que a cidade
apresentava poca de sua execuo, quanto no que diz respeito s impresses e valores de seus
autores.
No museu de mobilirio da Cria, na rua Direita, existem alguns quadros que mostram
aspectos da paisagem de Mariana. Das trs aquarelas do Padre Viegas, realizadas em 1809, duas
representam a antiga casa e chcara episcopal,
26
REIS FILHO, Nestor Goulart. Notas sobre o Urbanismo Barroco no Brasil. Revista Barroco. Belo
Horizonte, (15), 1990/1992 p. 230
27
REIS FILHO, Nestor Goulart. Op. cit. p. 230.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
144
destacando os bem cuidados jardins de influncia francesa. A terceira, o Prospecto da Cidade de
Mariana, trata-se de uma vista vol doiseau, tomada do nascente, mostrando tambm a chcara
e o Seminrio em primeiro plano, seguidos da massa uniforme do casario, quebrada pelas silhuetas
destacadas das igrejas.
O leo sobre tela de N. Altarilla, pintado em 1947, representa a cidade praticamente do
mesmo ngulo que a aquarela descrita acima. Entretanto, o artista parece ter acreditado ser mais
importante destacar a parte nova da cidade, do outro lado do ribeiro, onde a fbrica, lanando
nuvens de fumaa, parece ser o smbolo do esperado ressurgimento econmico, que principiou nas
primeiras dcadas desse sculo, com a construo do ramal frreo e com a instalao da luz eltrica.
A industrializao da cidade devia representar o orgulho e a esperana dos marianenses de ento,
depois dos mais de cem anos de estagnao econmica que se seguiu ao fim do perodo ureo da
minerao.
No arquivo da Casa Setecentista existe outro documento iconogrfico, de grande interesse
para esta pesquisa: uma litogravura de J. Martins Braga, datada de 1824. Trata-se tambm de uma
viso panormica da cidade, mas desta vez tomada de sua parte nova (poro norte), mostrando
desde Santana at So Gonalo - uma perspectiva semelhante do mapa do Itamaraty. O documento
particularmente importante, pois mostra a ocupao ao longo do ribeiro do Carmo: percebe-se
que, como na maior parte das cidades coloniais, a aglomerao dava as costas para o curso dgua.
As fachadas principais das casas so voltadas para a via pblica, e so os fundos de parcelas que
esto junto ao ribeiro e aos crregos.
Os registros fotogrficos da cidade tambm contm informaes valiosas. No arquivo da
Cria h vrios lbuns que documentam principalmente as festas religiosas ocorridas na cidade, mas
em vrias fotografias pode-se perceber bastante bem alguns aspectos de sua paisagem urbana. Talvez
o documento mais valioso seja uma fotografia area, tirada em 1934, por ocasio da inaugurao do
Seminrio Maior, com o intuito de mostrar seus terrenos, localizados na parte sul da cidade. Sabe-se
tambm da existncia de outros documentos interessantes que esto em colees particulares.
3. CONCLUSO
A pesquisa norteada por uma preocupao com a preservao do patrimnio histrico e
artstico das cidades mineiras.
No nosso modo de entender, para que se possa compreender algumas intervenes urbanas
prejudiciais ao acervo de Mariana, nas fases mais recentes de
145
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
sua histria, fundamental procurar perceber como e porque o espao foi construdo daquela
determinada forma e, por que razes, em nome de que valores e ideais de cidade, ele foi mantido ou
modificado em cada fase de seu desenvolvimento.
Esperamos que, ao findar dessa investigao, as respostas que procuramos fornecer possam
contribuir para a proposio de medidas de preservao mais consistentes e capazes de tornar a
questo do patrimnio relevante para a populao e para os administradores, mais vivel portanto.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
146
ARTIGO
UMA UTOPIA PARA O PASSADO:
a Inconfidncia Mineira nas leituras das
Cartas chilenas (1845-1940)
JOACI PEREIRA FURTADO
Doutorando em Histria - USP
No tempo em que a poltica mineira era uma plancie onde campeavam velhas raposas,
circulava nos covis uma frase to cnica quanto reveladora do pragmatismo com o qual as elites
geralistas se destacaram no jogo do poder. Costumavam dizer que o que importa no o fato, mas a
verso1 - talvez antecipando o que a moderna historiografia reconheceu somente aps superar o
positivismo.
Mas o ditado ajusta-se bem ao caso que examinaremos aqui. Trata-se da histria da
interpretao das Cartas chilenas, poema satrico atribudo a Toms Antnio Gonzaga. Assinadas
com o pseudnimo Critilo, as cartas descrevem os desmandos de Fanfarro Minsio,
governador de Chile, num irnico disfarce associado ao perodo da administrao de dom Lus da
Cunha Pacheco e Meneses, mais tarde conde de Lumiares, que governou a capitania de Minas Gerais
de 1783 a 1788. Saltando a querela da autoria, que se arrastou pelo menos at h 40 anos atrs,
assinalamos que o poema foi impresso gradualmente nos anos de 1826, 1845 e 1863 - atingindo
neste ltimo sua forma mais completa, com 13 cartas mais a Epstola a Critilo, o que se repetiu
em nosso sculo nas edies de 1940, 1942, 1944, 1957, 1972 e 1995.
Os primeiros comentrios sobre o panfleto surgiram em 1845, na edio de sete epstolas
satricas promovida pela revista carioca Minerva brasiliense. Incorporado ao patrimnio da histria
da literatura brasileira ainda no sculo XIX, o poema no passou despercebido a crticos e
historiadores, que constituem a
Segundo Gilberto Dimenstein, a frase de Gustavo Capanema, que teria sido plagiado por Jos Maria
Alckmin: Eu inventei a frase e todos dizem que sua - reclamaria Capanema. Veio a resposta genial [de
Alckmin]: Voc tem mesmo razo. O importante a verso e no os fatos. Cf. DIMENSTEIN, Gilberto. As
armadilhas do poder; bastidores da imprensa. So Paulo, Summus, 1990. p. 53.
147
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
maioria dos intrpretes que este trabalho abordar em seguida, adentrando pelo sculo XX at o ano
de 1940.
Nosso objetivo aqui apresentar de forma bastante abreviada as relaes que tais leitores
estabeleceram entre as Cartas chilenas e a Inconfidncia Mineira. Sintonizados com a sugestiva
sentena da velha guarda da poltica mineira, cabe acrescentar que, de fato, o significado do texto,
sobretudo o literrio, no neutro ou unvoco, no o precede, nem est previamente definido.
Plurvoco, aberto, polissmico, o texto , como potencial de leitura, um pretexto. E a leitura,
enquanto acto, nunca inocente, o que no significa que seja culpada, mas que a verdade do texto
a sua leitura2.
Entre as leituras das Cartas chilenas e a Inconfidncia, durante o perodo explicitado acima,
h algumas janelas que nunca se fecham ao mesmo tempo, permitindo que, por uma ou por outra, o
poema vase para dentro do fato histrico e vice-versa. De modo que se Critilo no um
propagandista da sedio, sempre uma vtima da vingana do governo colonial, cuja ira provocada
pelos ataques a Cunha Meneses se fez sentir na represso conjura.
Porm, mais recorrente e significativa a indigitao de Joaquim Silvrio dos Reis como o
principal responsvel pelo revide s agresses do panfleto. Reconhecendo-se no Silverino da carta
VIII3, que trata das fraudes e violncias fiscais das quais o contratador era um dos maiores
beneficiados, Silvrio teria aproveitado sua denncia para um acerto de contas com Gonzaga - a
quem acusou como lder do movimento. Indisposto com o ex-ouvidor e membro da Junta da Real
Fazenda, Silvrio teria entrevisto a mo do inimigo magistrado nos versos que o difamavam. E se
em termos de autoria o delator errou na mira, como querem Tito Lvio de Castro e Lindolfo Gomes 4,
ele no se teria enganado ao se sentir alvejado por Critilo.
De forma que as Cartas chilenas adentram pela Inconfidncia, saltando a janela da tragdia,
onde se debrua a estigmatizada figura de Silvrio dos Reis, que os leitores em questo apedrejam
com adjetivos que vo de infame a
BARTHES, Roland & COMPAGNON, Antoine. Leitura. In: ENCICLOPDIA Einaudi. Trad. Teresa
Coelho. Lisboa, Imprensa Nacional, 1987. v. 11, p. 200.
3
GONZAGA, Toms Antnio. Cartas chilenas, em que o poeta Critilo conta a Doroteu os factos de Fanfarro
Minsio, governador de Chile. In: ___. Poesias - Cartas chilenas. Rio de Janeiro, INL, 1957. p. 263-4.
4
CASTRO, Tito Lvio de. As Cartas chilenas. In: ___. Questes e problemas. So Paulo, Empresa de
Propaganda Literria Luso-brasileira, 1913. p. 43. GOMES, Lindolfo. A autoria das Cartas chilenas. Juiz de
Fora, Typographia Brasil, 1932. p. 18.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
148
torpssimo, passando pela previsvel analogia com Judas5. Como que numa decorrncia natural de
seu carter j bastante depreciado, ao qual agora se soma a ira cega da vingana, o denunciante da
conspirata constitui-se num libi sedutor para se explicar a incriminao de Gonzaga no levante
abortado. Ativista ou apenas complacente com a trama conspiratria, satirista disfarado ou somente
cantor de Marlia, Gonzaga pagaria caro o dio que despertara em Silvrio pela suspeita de ser o
autor do pasquim que o vergastava6.
Quando falamos em janela da tragdia referimo-nos ao apelo dramtico que o episdio da
conjurao mineira encerra. As reunies secretas na calada da noite - Atrs de portas fechadas /
luz de velas acesas (Ceclia Meireles) -, a invocao da elstica idia de liberdade - essa palavra /
que o sonho humano alimenta: / que no h ningum que explique / e ningum que no entenda!
(Ceclia Meireles) -, as esperanas depositadas no pas esboado por alguns conjurados, o desejo
frustrado de emancipao, a traio que decreta o infortnio de todos, a fantasmagrica figura do
embuado, as prises e o conturbado processo das devassas, a estranha morte de Cludio Manuel da
Costa, o gesto vicarial de Tiradentes, o jogo teatral das sentenas, a brutal e espetacular execuo do
alferes, o sofrimento do degredo, a morte de Alvarenga Peixoto exilado de sua Brbara Heliodora, o
fim do idlio de Gonzaga/Dirceu e Maria Joaquina/Marlia - tudo isso lapida uma das lentes atravs
das quais as Cartas chilenas so percebidas no cenrio da Inconfidncia, como se elas
inexoravelmente integrassem o drama que passa pela perfdia de Silvrio, at chegar ao 21 de abril.
Em outros termos, se para esses intrpretes da stira esta no explica a conjura, no menos verdade
que a conspirao oferece referenciais para que se compreenda as chibatadas de Critilo, contra as
quais, atravs da represso ao conluio, reagiriam os governantes coloniais - como acreditam Tefilo
Braga e Camilo Castelo Branco7 -, Joaquim Silvrio dos Reis - conforme Tito Lvio de Castro,
Afonso Arinos e Alberto Faria - ou o prprio Cunha Meneses - que, segundo Lindolfo Gomes, teria
caluniado Cludio e Gonzaga em Lisboa e advertido o visconde de Barbacena8.
CASTRO, T. L. de. Op. cit., p. 42-3. FARIA, Alberto. Cryptonimos das Cartas chilenas. In: ___.
Accendalhas; litteratura e folk-lore. Rio de Janeiro, Leite Ribeiro & Maurillo, 1920. p. 16.
6
CASTRO, T. L. de. Op. cit., pp. 42-4. FARIA, A. Op. cit., p. 16. Idem. Tropologia das Cartas chilenas.
In: Op. cit., p. 177. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Introduo. In: GONZAGA, T. A. Cartas chilenas;
precedidas de uma epstola atribuda a Cludio Manuel da Costa. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1940.
pp. 79-81.
7
BRAGA, Tefilo. A arcadia lusitana. Porto, Chardron, 1899. p. 610. Idem. Historia da litteratura
portugueza; Filinto Elysio e os dissidentes da Arcadia. Porto, Lello & Ir., 1901. p. 540. BRANCO, Camilo
Castelo. Curso de litteratura portugueza (1876). In: FERREIRA, Jos Maria dAndrade. Curso de litteratura
portugueza. Lisboa, Mattos Moreira, 1875. pp. 248-9.
8
GOMES, L. Op. cit., pp. 29-31.
149
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Outro ponto de passagem entre a leitura do panfleto e o movimento conspiratrio, que no
entanto no veda necessariamente o anterior, a idia de que as Cartas chilenas e o governo de
Fanfarro Minsio estariam entre as causas da tentativa de independncia em Minas. Perdendo
aquele papel um tanto passivo de denncia e indignao castigadas, o poema assume agora feies
mais agressivas, de incitao revolta, de defesa de interesses j brasileiros, de testemunho da
explorao e opresso reinis, de justificativa da conjura. Aqui a perspectiva se inverte: a
Inconfidncia que invade o libelo, como conseqncia dos fatos que relata ou dos propsitos do
poeta.
Joaquim Norberto de Sousa Silva, por exemplo, na sua Histria da conjurao mineira,
insere a redao do pasquim na pauta dos concilibulos9, embora numa obra anterior tenha negado
qualquer sintoma de anticolonialismo em Critilo10. Nas demais leituras, Cunha Meneses surge como
o responsvel pela planejada rebelio que Barbacena reprimiu. O governo de Minsio ganha cores
sombrias, carregadas da tirania e do padecimento que as cartas documentam ao mesmo tempo que
atacam. A Critilo atribudo um esprito herico, ciente de sua brasilidade humilhada pela
prepotncia metropolitana. Seu poema, que Joo Pedro da Veiga Miranda muito singularmente
chama de o Evangelho para a libertao da Colonia11, seria pea preciosa da historia da liberdade
brasileira, segundo Lus Francisco da Veiga, porque registraria
os factos praticados por um governador modelo, que provocou uma memoravel, mas
abortada revoluo, prodromo muito significativo do movimento liberal que 33 annos mais
tarde nos outorgou a independencia [...].12
E ainda que no se atribua a Cunha Meneses a culpa pela reao dos colonos, seu governo e sua
figura no escapam ao autoritarismo e antipatia que as Cartas chilenas lhes atribuem, conforme
verificamos em Artur Mota e Haroldo Paranhos13.
SILVA, Joaquim Noberto de Sousa. Histria da conjurao mineira. Rio de Janeiro, INL, 1948. t. 1, p. 70.
Idem. Noticia sobre I. J. de Alvarenga Peixoto e suas obras. In: PEIXOTO, Incio Jos de Alvarenga. Obras
poticas de... Rio de Janeiro, Garnier, 1865. p. 104.
11
MIRANDA, Joo Pedro da Veiga. O pamphletario d`O primeiro reinado`; memoria historica
commemorativa do centenario do nascimento de Luiz Francisco da Veiga. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
1936. p. 15.
12
VEIGA, Lus Francisco da. Epilogo. In: GONZAGA, T. A. Cartas chilenas; (treze) em que o poeta Critillo
conta a Dorotho os factos de Fanfarrao Minezio governador de Chile. Rio de Janeiro, Eduardo & Henrique
Laemmert, 1863. pp. 215-6. (Grifo no original).
13
MOTA, Artur. Historia da litteratura brasileira. So Paulo, Nacional, 1930. v. 2, pp. 334-6. PARANHOS,
Haroldo. Historia do romantismo no Brasil. So Paulo, Cultura Brasileira, 1937. v. 1, pp. 203-10.
10
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
150
Na verdade, para a quase totalidade desses intrpretes do panfleto, o governador no era
apenas politicamente insuportvel - embora no fosse uma exceo entre os administradores da
colnia, de acordo com alguns leitores14. Tratava-se tambm de uma pessoa repulsiva. A tal ponto
que a opo pela autonomia seria realmente inevitvel15. Numa permanente parfrase das Cartas
chilenas, seus intrpretes no nos deixam outra escolha a no ser o repdio a Cunha Meneses.
Assim, uma avalanche de palavras e expresses depreciativas inunda as referncias a Fanfarro
Minsio: cercado por uma corte de intrigantes, bajuladores e ladravazes, ele sempre um
dspota, um monstro infame cujos abusos e vcios prestaram tema stira, opressor e
imoral, de uma dureza brutal, doido, infamssimo, antiptico, vaidoso, ridculo,
leviano, burlesco, inepto, orgulhoso, figura balofa, desprezvel, ignorante, bruto
fidalgo, energmeno, nefasto, desregrado, violento, prevaricador, louco, venal.
Portanto, mesmo que a conjurao no esteja no horizonte de Critilo, em seus leitores ela
onipresente - seja pela intrincada rede de inimizades que desaguaria na conspirata, seja pelo
contedo contestatrio da stira ou pelo ambiente opressivo que retrata, seja por tudo isso ao mesmo
tempo. Nem Jos Verssimo, para quem o pasquim jamais deixa perceber o menor sentimento de
desgosto da metrpole e do regime colonial16 - embora o crtico literrio creia na vindita17 -,
permanece imune a alguma forma de associao entre o panfleto e a fracassada rebelio mineira.
14
ROMERO, Slvio. Histria da literatura brasileira. 6. ed. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1960. t. 2, p. 436.
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Historia geral do Brasil; antes da sua separao e independncia de
Portugal. 3. ed. So Paulo, Melhoramentos, s/d. v. 4., p. 425. FRANCO, Caio de Melo. O inconfidente
Claudio Manoel da Costa; O parnazo obsequioso e as Cartas chilenas. Rio de Janeiro, Schmidt, 1931. p.
20.
15
VEIGA, L. F. da. Op. cit., p. 16. MIRANDA, J. P. da V. Op. cit., pp. 121-36. VEIGA, Jos Pedro Xavier da.
As Cartas chilenas (estudo bibliographico). Revista do Archivo Publico Mineiro, Ouro Preto, 2(2):403-24,
abr.-jun. 1897. ROMERO, S. Op. cit., p. 433. PERI, Eduardo. A litteratura brazileira nos tempos
coloniaes... Buenos Aires, Eduardo Peri, 1885. p. 215. VARNHAGEN, F. A. de. Biographia de brasileiros
distinctos ou de individuos illustres que serviram no Brasil, &c. Ignacio Jos de Alvarenga Peixoto. Revista
trimensal de historia e geographia, Rio de Janeiro, 13:515, 1850. SILVA, Inocncio Francisco da.
Diccionario bibliographico portuguez. Lisboa, Imprensa Nacional, 1858. v. 19, p. 260. MACEDO, Srgio D.
T. de. As Cartas chilenas - Inconfidencia Mineira - Thomaz Gonzaga. In: ___. A literatura no Brasil
colonial. Rio de Janeiro, Braslia Editora, s/d. p. 93. CASTRO, T. L. de. Op. cit., p. 34. FRANCO, C. de M.
Op. cit., pp. 171, 235.
16
VERSSIMO, Jos. Histria da literatura brasileira; de Bento Teixeira (1601) a Machado de Assis (1908).
3. ed. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1954. p. 135.
17
Ibidem, p. 137.
151
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
De um modo ou de outro, todos so tributrios do mito da Inconfidncia forjado ao longo do sculo
XIX18. ele que se interpe entre o poema e esses leitores, constituindo-se numa espcie de trilho
fora do qual torna-se difcil circular pela obra, irrecorrivelmente condenando as Cartas chilenas a
serem lidas no mbito daquilo que se erigiu como o momento da fundao da nacionalidade
brasileira. Em outras palavras, aqui nos deparamos com a ditadura hermenutica do contexto sobre o
texto - aquela que cassa obra a liberdade de expresso em nome da crtica literria ou do
conhecimento histrico. Isto posto, no de admirar que se vislumbre em Critilo uma utopia da qual
certamente ele estava longe de compartilhar.
18
CARVALHO, Jos Murilo de. Tiradentes: um heri para a Repblica. In: A formao das almas; o
imaginrio da Repblica no Brasil. So Paulo, Companhia das Letras, 1990. pp. 55-74.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
152
ARTIGO
OS ANARQUISTAS E A QUESTO DA MORAL
(BRASIL - 189O/1930)
JARDEL DIAS DE CAVALCANTI
Bacharel em Histria - UFOP
1 - INTRODUO
O ncleo anarquista encerra a concepo de um modus vivendi que se estende a uma ampla
rea de relaes no redutveis ao campo poltico. Os anarquistas, tanto no mbito da produo como
fora da esfera do trabalho (na organizao familiar, nas formas de lazer, nas relaes pessoais, nas
prticas condenveis como alcoolismo, a prostituio, o carnaval e o futebol), procuram instituir um
comportamento coletivo e uma moral social pela qual se unem sorte de seus semelhantes.
O que podemos ver que os anarquistas tentaram propor ou impor aos seus militantes um
padro moral que tendia a orientar a ao do grupo para a realizao dos seus fins e ideais. Tal
padro ordena-se em torno de um conjunto de regras que governa (ou pretende governar) o
comportamento de cada militante.
E em via imprensa que os anarquistas fazem divulgar sua preocupao com o
comportamento dos operrios, divulgando sua concepo sobre determinados temas como o amor
livre, a emancipao feminina, a recriminao s prticas como o futebol, os bailes, o alcoolismo e a
prostituio.
Constatamos que o discurso libertrio veiculado na imprensa marcado por uma certa
moralizao que se traduz na defesa dos padres familiares de modelo sexual burgus (castidade prconjugal, fidelidade, exaltao da maternidade) e na censura s formas de lazer e vcios (o carnaval,
o baile, o lcool e o fumo), sendo estes ltimos vistos como prticas imorais, sinais de degenerao,
que visam enfraquecer e entorpecer a classe operria, desviando-a do cumprimento de sua funo
histrica e revolucionria.
153
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Dentro desse propsito (educao, organizao e moralizao do operariado) os anarquistas
propuseram, desde o fim do sculo passado at meados dos anos trinta deste, formas de instruo, de
relaes afetivas e de lazer para a classe operria, na tentativa de regular toda a sua conduta e fundar
a sua moral social.
Cumpre notar, porm, que essa preocupao dos anarquistas em fundar uma nova moral, em
oposio burguesa (que estaria, segundo os libertrios, assentada em uma prtica repressiva e
autoritria), encontra-se permeada de contradies na medida em que esta tentativa de moralizao
da classe operria em muito se assemelha ao discurso moral burgus que se pretende combater. o
que poder se verificar nos tpicos que se seguem.
2 - AS PRTICAS CONDENVEIS
2.1 - O baile e o carnaval
Os anarquistas usualmente promoviam grandes encontros voltados especificamente para a
divulgao de suas idias. Com a inteno de atingir um nmero cada vez maior de trabalhadores e
traz-los para a causa da revoluo, esses grandes encontros envolviam, alm de discursos
doutrinrios e palestras libertrias, recreaes de carter mais ldico (futebol e bailes aps as
conferncias).
Porm, a partir do Segundo Congresso Operrio (1908) comea-se a interditar os bailes e os
jogos nos encontros promovidos pelos anarquistas. Condenao, esta, feita no s em nome da moral
como tambm do utilitarismo: (...) o baile s serve para manter os sentidos excitados, no
ginstico, nem higinico, nem moral. (...)1
A preocupao dos anarquistas com as festas expressa o direcionamento que se quer dar
vida dos operrios. O lazer s tem sentido para os libertrios quando serve para fins educacionais ou
morais da classe operria. o que se pode ver no artigo Festa dos Trabalhadores publicado no
jornal O Panificador: (...) Entendo que essas festas devem ser sempre educativas e morais, advindo
da um grande EXEMPLO de instruo para os depravados e anti morais. (...)2
Os anarquistas, ao condenarem como prtica imoral pelas tentaes que desperta a
aproximao de corpos diferentes, acabam por aceitar a moral burguesa,
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
154
que condena a dana diante da ameaa que representa o contato fsico dos jovens. bastante
ilustrativo o artigo que A Terra Livre publica em fevereiro de 1907, que condena nos bailes esse
recpro roamento, em que o impulso sexual visto como impuro (como na doutrina crist) e o
desejo da e pela mulher relacionado ao fantasma da prostituio:
(...) Quando comea o baile assiste-se cena mais repugnante deste mundo, capaz de nausear
as prprias meretrizes. A orquestra entoa as primeiras notas (...) e todos aqueles espasmados
mancebos correm como em busca da mais bem feita, para satisfazerem a nsia e a apertar nos
braos, de lhes revelar todo o seu desejo de posse, pois daquele amplexo, daquele enlance
libidinoso, daquele recproco roamento, daquelas ccegas, no pode resultar seno a excitao
do sentindo de ambos. Ento ele al est o homem, no para conhecer e conquitar a alma, uma
companheira, mas para gozar a fmea, corromp-la e abandon-la prostituio. (...).3
Tambm o carnaval condenado de forma veemente pela imprensa anarquista. A imagem
que ela faz do carnaval a do lugar da degradao do indivduo, da imoralidade, da perda da
dignidade, do momento do abandono da famlia e seus valores, do desgaste das energias e do salrio
em atividades nocivas e inteis, que promoveriam o embrutecimento do operrio.
com forte apelo moral que os artigos condenavam o carnaval como festas da prostituio e
da orgia, em que correm perigo tanto as jovens virgens como as mulheres casadas. O que se deseja,
com todo esse apelo, que os operrios criem um dia um carnaval com a devida assepsia moral, sem
prticas viciosas, com respeito aos valores da famlia, sem a corrupo dos costumes.
(...) o que nos faz combater o carnaval, em ser o mesmo atualmente uma festa em que
predomina somente a prostituio. Festa essa que sem a devida educao moral, os indivduos
a transformaram de uma festa popular em festrios da prostituio. (...)
Faremos o carnaval sim, com a moral devida, com o respeito mtuo, de uns para com os
outros, respeitando mulheres alheias, e jovens virgens.(...)4
H aqui um discurso marcadamente puritano, que v o carnaval como o lugar da perdio,
onde a corrupo e o vcio triunfam sobre a moral que se espera como padro de comportamento das
pessoas durante o carnaval.
A Terra Livre. 05/fev./1907.
O Panificador. set./1921.
3
A Terra Livre. 23/fev./1907.
4
A Voz do Povo. 17/fev./1920.
2
155
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Os libertrios acabam, dessa maneira, refletindo na sua crtica o mesmo contedo moral das
instituies dominantes, que viam os hbitos operrios no escasso tempo de lazer como vcios5.
2.2 - O Alcoolismo
Tambm o lcool foi insistentemente combatido pelos libertrios e o imenso nmero de
artigos reprimindo o seu uso, publicados na sua imprensa, o comprova. Para atacar com veemncia o
vcio, conferncias interminveis so realizadas, livros so lanados e divulgados pela imprensa
operria e at o teatro social usado como veculo de combate ao lcool.
Muitas vezes, esse ataque que os anarquistas desfecham contra o alcoolismo acaba por se
encontrar com o discurso burgus, que recrimina o uso do lcool por debilitar fsica e moralmente o
operrio, que , afinal, responsvel pelo enriquecimento da nao e que se perderia, desta forma,
como fora produtiva, pois, o alcoolismo foi, , e ser, o grande mal destruidor das energias capazes
de impulsionarem o progresso do pas.6
Ao criar o estigma do alcolatra como criminoso, a imprensa libertria assume a mesma
viso que a classe burguesa tem do problema, isto , a do operrio alcoolizado como um criminoso
em potencial.
(...) com frequncia 66,74 vezes por cento o alcoolismo tem contas com o cdigo penal (...)
pode-se at dizer que todo alcolatra est em potencial criminalidade: um irresponsvel
nocivo, de quem a famlia e a sociedade deve precaver-se. (...)
Se em lugar de as passar (as poucas horas de descanso) na taverna ou em outros antros de
vcios, se as passsseis nas associaes discutindo e trocando idias uns com os outros sobre os
assuntos que vos interessam mais de perto. (...).7
Os anarquistas, assim, reafirmam os valores burgueses do aconchego do lar que o
trabalhador troca pela taverna, pelos antros de vcios e marginalidade.
DECCA, Maria Auxiliadora de. Cotidiano dos trabalhadores na repblica - So Paulo - 1889/1940. So Paulo:
Brasiliense,1990.(Tudo Histria) p.57.
6
RODRIGUES, Edgard. O anarquismo na escola, no teatro e na poesia. Rio de Janeiro: Achiam, 1992. p. 219.
7
A Voz do Trabalhador. 19/jan./1933.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
156
2.3 - O Futebol
Tanto como os vcios e outros jogos, tambm o futebol no escapou crtica dos anarquistas.
Para eles, o futebol era uma prtica que degrada e embrutece os operrios, roubando-lhes as energias
e o tempo que deveriam ser empregados na militncia poltica.
Atacando o futebol como esporte parasita, posto que as formas de evaso do cotidiano e a
atividade ldica de nada servem para os anarquistas, eles tentam criar uma noo de divertimento
instrumental e moralmente sadio:
(...) um jogo para parasitas e ociosos que precisam exercitar os msculos em um trabalho
intil, desprezando ao mesmo tempo o trabalho til e os que o fazem.(...).8
Mas o gosto pelo futebol crescia entre os trabalhadores independente, dos sindicatos, que o
chamavam esporte burgus, apontando-o como o pio capaz de minar a unio e a organizao
da classe operria. Em alguns momentos houve uma aceitao do futebol, na medida em que a sua
difuso se subordinasse eficcia da pregao libertria. Caso contrrio, acusavam os trabalhadores
de se desinteressarem da organizao sindical, de se sujeitarem aos elementos culturais burgueses, de
se sujeitarem ordem burguesa.
Os anarquistas, diferentemente dos comunistas (que propunham a criao de uma federao
de futebol organizada pelos sindicatos), mantiveram, ao longo dos anos, a sua ferrenha oposio ao
futebol, vendo-o sempre como aliado do capitalismo, por desviar a ateno dos operrios de suas
lutas sindicais.
No seria o futebol que os anarquistas apoiariam, j que sempre que apoiavam atividades
recreativas s o faziam visando a um fim educativo ou a uma maior integrao da classe operria. As
crticas s atividades recreativas eram uma constante na imprensa libertria, que tendia a identificar
tais prticas com o abandono e a despreocupao dos operrios com a luta social.
2.4 - A Prostituio
Outro problema que preocupa os libertrios e que tambm se torna uma constante nas suas
denncias veiculadas pela imprensa a prostituio.
O Trabalhador Chapeleiro. 01/jan./1909.
157
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Para os anarquistas, a existncia da prostituio colabora, no sistema capitalista, para que se
mantenha a famlia burguesa (forma no oficial de prostituio pois que fundada em um contrato
comercial). Devido ao fato de as jovens burguesas no poderem participar da iniciao sexual dos
jovens, pois elas devem manter-se ntegras para o contrato de casamento (muitas vezes o pai quem
escolhe o homem a quem a filha deve se entregar e no ela prpria), devido ainda ao fato das
mulheres casadas sofrerem uma srie de restries sexuais, o burgus vai buscar satisfao de seus
instintos nas jovens de classe social inferior.
Mas, ao atacar o problema da prostituio, os anarquistas muitas vezes acabam fazendo a
defesa de uma moralidade familiar que se assemelha que funda a famlia burguesa:
(...) nas hospedarias espalhadas pela cidade que centenas de vtimas vo entregar o corpo
devassido desregrada dos que fogem ao primeiro dos deveres do homem que constituir
famlia. (...).9
E esta viso que muitas vezes acaba por marcar o discurso veiculado pela imprensa
anarquista: a preocupao com a moral familiar com o comportamento dos seus militantes, que
refletem o medo de que os operrios abandonem a causa revolucionria por influncias das prticas
viciosas, como o caso da prostituio.
3 - A EMANCIPAO FEMININA
Outro tema freqente na imprensa anarquista a anlise da condio da mulher na sociedade.
Combatendo o mito da mulher-passiva, alguns anarquistas se levantaram propondo a emancipao
da mulher dos papis que lhe so atribudos socialmente, apresentando, assim, uma outra figura
feminina, simbolizada pela combatividade e independncia.
O que a imprensa anarquista contesta a condio da mulher como serva do homem, vendoa, antes, como um ser humano que deveria desenvolver-se livremente, tendo o homem no como
senhor mas como seu companheiro.
Para os libertrios, a educao da mulher o instrumento que a transforma num ser dcil e
sem direitos, objeto de libidinagem, pronto para satisfazer a vaidade do homem, isto sendo possvel
devido ao pacto entre a famlia (com seu carter formador) e a sociedade interessada em perpetuar a
sua submisso.
A Tribuna do Povo. 18/mar./1909.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
158
O que se pretende a partir dessa crtica situao da mulher incentivar o desenvolvimento e
aproveitamento das suas aptides, adormecidas em funo da sua situao de oprimida pela
sociedade machista. Mas para isso preciso soerguer o vu do passado, ou seja, tornar visvel que
a histria das mulheres tem sido a histria da dominao que estas tm sofrido atravs dos tempos.
E, nesse contexto, preciso deixar bem clara uma coisa: suas potencialidades s esto adormecidas
em funo da opresso que sobre elas tem exercido a sociedade.
O que os anarquistas, preocupados com a libertao feminina, querem tambm demonstrar
que a condio de dominao da mulher no decorre unicamente das relaes econmicas, posto que
se verifica tambm dentro de outras esferas. Por isso, a luta das mulheres deve passar pelo
questionamento das relaes cotidianas e no s das relaes de trabalho.
A militante anarquista Maria Lacerda de Moura10, radical defensora da causa feminista, no
poupa crticas nem aos anarquistas, que se opem prtica libertria feminina:
(...) So libertrios e sua famlia legal burguesssima; (...) e os homens mais liberais so os
mesmos trogloditas quando as suas mulheres resolvem por em prtica as suas teorias
libertrias. (...).11
Essa crtica tem sua razo de ser, j que aparecem, na prpria imprensa anarquista, crticas
desses libertao feminina do jugo do lar. Em franca oposio ao discurso libertrio feminino, o
jornal A Razo publica um artigo que se manifesta contrrio ao uso de mo de obra feminina e no
qual define o lugar da mulher como sendo a esfera privada do lar, reafirmando assim o papel do
homem como o nica capaz de ser provedor.
A imagem feminina veiculada por alguns jornais anarquistas na imprensa operria, como
anotou Margareth Rago no seu livro Do Cabar ao Lar, a de que elas so romnticas, sensveis,
frgeis, ingnuas, ao contrrio do homem, dotado de razo, smbolo da fora e da coragem, princpio
objetivo da humanidade, ativo e poderoso. Da o fato dos operrios, inclusive os anarquistas, se
atriburem o direito sobre as mulheres, vistas como no combatentes devido sua natureza
feminina.
10
Referncia obrigatria para se conhecer a vida e o pensamento de Maria Lacerda de Moura o livro: Outra
Face do Feminismo: Maria Lacerda de Moura. So Paulo: tica, 1984.
11
Moura, Maria Lacerda de. Amai ... e no vos multipliqueis. Rio de Janeiro: Civ. Brasileiera, 1932. p. 48.
159
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Dessa forma, uma parte dos anarquistas acabam definindo o lugar da mulher na sociedade: a
esfera sagrada e privada do lar. Estabelecendo-se, assim, na relao poltica, exatamente o mesmo
que acontece no espao domstico: a subordinao da mulher ao homem, ou seja, o pai, o marido, o
lder deve ser obedecido e respeitado pelas mulheres - j que essas so incapazes de assumir a
direo de suas prprias vidas individuais.
Para concluir esse tpico, o que fica evidente nos jornais anarquistas, no que diz respeito
emancipao feminina, que enquanto alguns anarquistas criticam o modelo burgus e masculino de
dominao sobre as mulheres, outros libertrios fazem o contrrio, reafirmando a diferenciao dos
papis, apelando para a natureza da mulher para justificar sua posio subalterna, tentando
legitimar a assimetria sexual, contribuindo para que se perpetue a dominao social de que a mulher
tem sido vtima desde idos tempos.
4 - O AMOR LIVRE
Outra preocupao presente na imprensa libertria, nas conferncias e nos livros publicados
por autores anarquistas, a questo do amor livre. Elabora-se a uma nova moral afetivo-sexual para
os militantes que tentar determinar a forma de relao entre os sexos.
O que os anarquistas valorizam na unio do homem com a mulher o sentimento de amor
livre de qualquer interesse, a unio afetiva em oposio unio social efetiva no casamento civil:
(...) Amor livre a plena liberdade de se amar e no a forma hipcrita do casamento em que o
homem e a mulher ligados indissoluvelmente pelo casamento civil ou religioso so obrigados
pelo preconceito a se suportarem com enjo.(...).12
Ao afirmar o amor livre, o que os anarquistas pretendem criticar o casamento tradicional,
pois este determina uma situao no s de dominao pelo homem mas de total anulao do amor
que esse tipo de relao acaba por determinar. o que se pode ver no excerto abaixo, em que se
critica a hipocrisia a que o sentimento est sujeito nas relaes matrimoniais burguesas:
(...) O matrimnio serve apenas para abreviar a relao do amor, tornar odiosa a unio. No lar,
a mulher a escrava, o homem o senhor; este tem o direito de
12
A Voz do Trabalhador. 01/ fev./1902.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
160
mandar, aquela o direito de ... obedecer. Como pode existir amor entre uma escrava e um
senhor? (...) Por isso se diz: o casamento a morte do amor.(...).13
E pensando assim que os anarquistas defendem o divrcio, pois para eles somente vlida
a unio conjugal que se estabelece livremente, independente dos interesses econmicos ou de
obrigaes sociais.
Na sociedade idealizada pelos anarquistas, as pessoas se aproximariam por amizade e
respeito, e a famlia no se fundaria (como na sociedade capitalista) em relaes de interesse. A base
da famlia seria o amor e no a relao mercantil. Portanto, se por acaso as relaes se alterarem
tornando-se insuportveis, dissolve-se a famlia e a comunidade ampararia seus filhos.
A anarquista Maria Lacerda vai, porm, mais longe. Ela ultrapassa o simples ataque ao
casamento burgus. Ela defende o desaparecimento de uma unio monogmica propondo o que ela
chama de amor plural, o amor camaradagem, avanando muito em relao sua poca. Para ela,
impossvel o amor entre duas pessoas que se oprimem, que vivem uma relao de dependncia e de
posse. O amor possesivo e exclusivista tem que ceder o lugar ao amor plural - este libertar o
homem e a mulher, acabar com a explorao feminina, com as figuras humilhantes criadas pela
representao burguesa de mulher como solteirona ou prostituta.
dentro deste esprito que os libertrios defendem o direito ao prazer, tanto para os
homens como para as mulheres. Sendo assim, a virgindade vista como ridcula para o homem e
humilhante para a mulher.
Assim sendo, podemos constatar que os anarquistas foram os primeiros, no Brasil, a clamar
pela liberdade sexual. Entretanto, alguns problemas se apresentam na persecuo dos seus ideais.
Boris Fausto aponta que as crticas que os anarquistas fazem violao das normas sexuais de
continncia por parte dos padres feita em nome da famlia. Segundo o mesmo autor a insistncia
na temtica das relaes sexuais proibidas ou perversas no outra coisa seno a projeo dos
impulsos de um grupo marcadamente puritano.14
O mesmo carter puritano se d quando se discute a explorao do trabalho da mulher, pois o
que vemos a um apelo ao problema da moral sexual. O discurso libertrio, nesse sentido, tem uma
atitude paternalista que visa proteger
13
14
O Amigo do Povo. 02/ago./1902.
FAUSTO, Boris. Trabalho Urbano e conflito social (18090/1930). So Paulo: Difel, 1983. p. 86.
161
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
o sexo-frgil fsica e moralmente dos Don Juans das fbricas. Critica-se o trabalho feminino tambm
por medo da independncia que levar as mulheres aos vcios em detrimento do papel domstico que
elas teriam que cumprir:
(...) As raparigas das fbricas adquirem depressa o sentimento de independncia. Prontas para
sacudir o jugo impostos pelos pais abandonam as casas e em pouco tempo se iniciam nos
vcios de suas companheiras.(...).15
(...) A tendncia do sistema fabril foi sobretudo de rebaixar o carter da mulher, cujo ofcio
de cumprir os deveres domsticos. (...).16
Outro exemplo da preocupao puritana com a famlia pode ser visto no 8o Mandamento da
Lei do Operrio em que o lar aparece como devendo ser preservado de uma possvel desonestidade
(interesse sexual?) dos companheiros:
(...) 8o Quando entrar num lar de um companheiro deve curvar o pensamento com reverncia
aos ps da honestidade. (...).17
Aqui tambm, no caso das contradies que marcam o discurso anarquista, no se pode
generalizar, j que a veiculao do discurso libertrio est restrito a um pequeno grupo que compe a
sua imprensa, no sendo assim esta a posio de toda militncia. Cumpre ressaltar tambm o difcil
trabalho que reconstituir a histria desses militantes, j que o que ficou como documento da classe
operria so os registros escritos pelos dirigentes ou por sua elite intelectual.
5 - CONCLUSO
Constatamos, ento, que o discurso moral anarquista marcado pela contradio. Ao mesmo
tempo em que tenta negar a ordem vigente, tal discurso acaba por estabelecer um padro moral
puritano que reafirma os valores da ordem condenada.
Uma parte da historiografia j tentou encontrar as razes que marcam essa contradio.
ngela de Castro Gomes, no seu livro A Inveno do Trabalhismo, no captulo referente aos
anarquistas, tenta responder a esse problema da mesma forma que Margareth Rago no seu livro Do
Cabar ao Lar. As duas historiadoras referidas acreditam que a imagem moralista veiculada na
imprensa libertria
15
A Peble. 01/set./1934.
O Grfico. 16/fev./1919.
17
Idem. 01/jul./1917.
16
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
162
criada com o intuito de os anarquistas construrem uma imagem positiva de si mesmos - imagem
esta que se oporia imagem veiculada pela classe dominante.
Essa anlise parece insuficiente. Primeiro, no se pode concordar com a historiadora ngela
de Castro, segundo a qual, o interesse dos anarquistas em fundar jornais est relacionado com a
preocupao em se veicular uma imagem positiva de si prprios. Isso parece um equvoco quando
sabemos que os jornais libertrios tinham como principal preocupao a veiculao da doutrina
anarquista, a denncia (sempre acirrada, diga-se de passagem) da explorao capitalista dos
trabalhadores, o ataque aos aparelhos ideolgicos do Estado como a famlia, a escola burguesa, a
igreja e a imprensa, tanto quanto tentavam organizar a classe operria divulgando o resultados de
greves ou incentivando as mesmas, etc.
O que se pode notar que a preocupao moral dos anarquistas era fortemente marcada pela
vigilncia do operariado; e o que se queria com isso no era propriamente criar uma contraimagem, como queria tambm a historiadora Margareth Rago, mas fazer com que as energias e o
tempo dos trabalhadores fossem usados, no no lazer e em vcios degradantes, mas na persecuo
de seu ideal de transformao social.
No se quer com isso negar que os operrios sempre tenham sido vistos como extremamente
perigosos, que seus hbitos eram considerados vcios e suas recreaes consideradas improdutiva.
Esse , deveras, um fato concreto quando temos em mente as perseguies de que foram vtimas os
lderes operrios no momento de suas aes sindicais, ou a expatriao de que tambm foram
vtimas no s lderes como muitos operrios pelo fato de serem ligados ideologia libertria.
Mas esses fatos por si s no explicam o comportamento puritano dos libertrios, de quem se
poderia esperar um comportamento menos regrado, j que no eram defensores da ordem burguesa
que tanto fizeram por destruir.
163
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
ARTIGO
O SOVIETE DE 1905
IVAN ANTNIO DE ALMEIDA
Depto. de Histria - UFOP
A Revoluo Russa de 1905 um momento privilegiado da histria. Pela primeira vez se
esboa, de forma ntida, um poder popular, embrio de uma sociedade anti-capitalista. Essa rica
experincia de auto-organizao foi praticamente esquecida quando a Revoluo de 1917 foi aceita,
pela quase unanimidade dos pensadores, como o modelo de uma revoluo socialista1. A Comuna de
Paris e a Revoluo de 1905 pareciam ter sido meros ensaios de uma revoluo vitoriosa. A
Revoluo de 1917 passou a ser o paradigma da revoluo socialista.
Hoje, embora me parea evidente o carter capitalista da Revoluo de Outubro2, h uma
grande resistncia nos meios intelectuais em aceitar essa constatao. Tambm vive-se na esquerda
um entusiasmo em relao democracia liberal burguesa. Retomar essas experincias
revolucionrias, hoje sob uma nova tica, significa a possibilidade de se voltar a discutir a superao
da ordem capitalista, necessidade particularmente sentida em pases como o nosso, onde o
capitalismo no tem conseguido resolver os problemas bsicos da populao.
A democracia liberal no Brasil, alm de no dar sinais de ultrapassar as portas das fbricas,
est desacreditada para a maior parte da populao. Embora no haja nenhuma campanha organizada
que denuncie o carter limitado dessa democracia, uma parte significativa da populao tem
manifestado a sua crtica. Nas pesquisas de opinio, o item polticos o setor mais rejeitado. As
eleies tm apresentado ndices de abstencionismo, voto nulo e voto em branco que variam de um
quarto at um tero dos eleitores. Para a quase totalidade da populao, o
Estou usando o termo socialista como sinnimo de anti-capitalista.
Veja-se especialmente o cap.18, em: BERNARDO, Joo. Para uma Teoria do Modo de Produo
Comunista. Porto: Edies Afrontamento,1975.
2
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
164
exerccio da democracia no tem representado uma melhoria nas suas condies materiais, pelo
contrrio, tem significado um empobrecimento rpido e trgico.
Refletir sobre a experincia russa de 1905 uma oportunidade instigante para discutir
alternativas dupla e contraditria situao em que nos encontramos. De um lado, as foras de
esquerda do loas democracia liberal como uma nova panacia - e se beneficiam com ela, medida
em que os integrantes dos partidos dessa esquerda se integram ao Estado, atravs de funes
administrativas e da representao poltica - ao mesmo tempo em que esta forma de democracia est
desacreditada junto populao.
A velha e atrasada Rssia, onde todas as mudanas eram lentas e incompletas, sofreu, no
final do sculo XIX, um processo de rpido crescimento industrial, acompanhado de uma
surpreendente efervescncia cultural. A industrializao russa foi patrocinada pelo Estado que criou
uma infra-estrutura, como as estradas de ferro, e investiu maciamente na produo de ferro e ao e
na indstria mecnica. O Estado comprou tecnologia, principalmente alem, e estimulou os
investimentos estrangeiros.
Embora o senso de 1897 indique que apenas 13% da populao morava nas cidades, o
processo de urbanizao era rpido e era alta a concentrao operria nas principais cidades. Entre
1895 e 1897, enquanto a populao rural crescia 12,7%, a populao urbana cresceu 33,8%3. So
Petesburgo tinha 820.000 trabalhadores empregados ativamente. Destes, 433.000 (53%) eram
operrios e serventes4.
Com o crescimento industrial, a distncia entre a sociedade civil, com suas novas classes
sociais (operariado e burguesia - embora esta fosse constituda em parte pelos gestores das empresas
estatais) e a velha monarquia absoluta, ampliou-se cada vez mais. Salvo o restrito grupo palaciano,
era geral o desejo de mudanas. As liberdades da democracia liberal interessavam a praticamente
toda a sociedade, destituda de qualquer direito de expresso ou organizao.
A partir de 1904 intensificaram-se as manifestaes de insatisfao, principalmente em So
Petesburgo e Moscou. No meio operrio a situao era de permanente tenso. O numeroso
operariado vivia na misria; ms condies de trabalho, baixos salrios, multas, ausncia de penso
por acidentes de trabalho ou aposentadoria, jornadas de 12 horas dirias, seis dias por semana. A
organizao
3
4
TROTSKY, Leon. A Revoluo de 1905. So Paulo: Global Editora, s/d.,p. 55.
Idem, p. 257.
165
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
sindical era proibida. Em 1904 o governo toma a iniciativa de patrocinar a criao de organizaes
que canalizassem as insatisfaes dos operrios para reivindicaes meramente econmicas,
procurando afast-los da luta poltica. Para a tarefa, so escolhidos dois agentes da polcia secreta. O
que fora destacado para Moscou foi logo desmascarado. O outro, sacerdote e capelo de uma das
prises de So Petesburgo, padre Gapone, vai desempenhar um papel que no estava previsto.
No final do ano de 1904, a organizao do padre Gapone, Associao Operria de Fbricas e
Usinas, contava com onze sees operrias, onde os trabalhadores se reuniam para discutir os seus
problemas, ouvir alguma palestra ou ler jornais. Nessas sees era proibida a entrada de militantes
de partidos polticos5.
No dia 3 de janeiro de 1905, uma segunda feira, os 12.000 operrios da fbrica Putilov, uma
das maiores de So Petesburgo, iniciaram uma greve que, rapidamente, se estendeu pela cidade. Os
operrios da fbrica, ligados ao padre Gapone, atravs dos crculos operrios, tinham redigido uma
petio direo da fbrica com reivindicaes econmicas. No s no foram atendidos, como
quatro operrios foram despedidos. A greve que se iniciou foi em solidariedade aos demitidos. A
indignao entre os operrios da capital foi enorme. Gapone, procurando salvaguardar seu prestgio
e sua funo, simulou uma indignao superior de todos e estimulou os operrios da fbrica
Putilov a reagir vigorosamente6. Era a primeira greve operria importante da Rssia. Rapidamente a
indignao espalhou-se atravs das sees operrias e a greve se estendeu por outras fbricas, at
se tornar uma greve geral dos trabalhadores de So Petesburgo. Nas assemblias operrias de
fbricas, nas ruas e nas sees operrias, discutia-se o que fazer. Era necessrio ir alm da
paralisao. Foi quando surgiu a idia de se redigir uma petio ao tzar. Gapone ficou encarregado
de entreg-la pessoalmente, apoiado por uma grande e pacfica manifestao. A idia uniu, inspirou
e entusiasmou; ela deu um sentido, um objetivo preciso ao movimento dos operrios7. Gapone foi
encarregado de redigir a petio. Foi nessas circunstncias que os partidos polticos e militantes
operrios se aproximaram de Gapone. O documento, no incio extremamente servil, foi se
transformando num documento
O primeiro grupo social-democrata foi o Emancipao do Trabalho, fundado em 1883.Em 1898 foi fundado
o Partido Social Democrata Operrio Russo. No seu segundo congresso, em 1903, nascer a frao
menchevique (minoria) e a frao bolchevique (maioria). No incio do sculo foi fundado o Partido Socialista
Revolucionrio, que desempenhar um papel importante na Revoluo de 1917. Tambm haviam alguns
grupos anarquistas, principalmente em So Petesburgo e Moscou. Ainda que tivessem pouca influncia, dada
a situao de clandestinidade em que esses grupos atuavam, era intenso o debate sobre a natureza da formao
social russa. A primeira traduo de O Capital foi para o russo. Marx tambm manteve uma intensa
correspondncia com os revolucionrios russos.
6
VOLIN. A Revoluo desconhecida. So Paulo: Global Editora, 1980, p. 62.
7
Idem, p. 63.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
166
onde foram contempladas as principais reivindicaes operrias em todos os nveis. A situao era
paradoxal. O documento pedia simplesmente ao tzar que abdicasse dos seus poderes absolutos, e
fazia reivindicaes econmicas que permaneceriam na pauta das reivindicaes operrias por
muitas dcadas.
As liberdades democrticas reivindicadas compreendiam: a liberdade de palavra, de
imprensa, de associao, de religio, inclusive a separao entre Igreja e Estado, alm da
inviolabilidade da pessoa; igualdade de todos perante a lei, sem excees e anistia; reforma agrria
e imposto de renda direto e progressivo.
Em relao s questes que envolviam capital e trabalho, solicitava-se que o trabalho fosse
protegido por lei; reduo da jornada de trabalho para 8 horas dirias (seis dias por semana) e
limitao das horas extras; direito de greve, liberdade de luta entre trabalho e capital e legislao
previdenciria, lei de seguro e penses.
A denncia do arbtrio nas relaes com as chefias, que as ordens no nos sejam dadas em
meio a injrias, e a necessidade da melhoria das condies de trabalho dentro das fbricas, uma
renovao das instalaes das oficinas, questes que, para ns, no Brasil, ainda permanecem na
ordem do dia, tambm so reivindicadas8.
A negociao direta, fixao dos salrios em comum acordo e a arbitragem nos casos de
mal-entendidos, tambm exigida9.
Sob a arcaica forma de petio ao tzar, o documento elencava um conjunto de
reivindicaes que vo marcar a pauta do movimento operrio neste sculo. Meses depois os
operrios da Rssia sero responsveis pela criao da organizao operria que ser a primeira
manifestao madura de um novo modo de produo que, at hoje, se gesta no planeta.
O dia para a entrega da petio foi marcada para um domingo, dia 9 de janeiro (velho
calendrio), menos de uma semana depois de iniciada a greve na fbrica Putilov. A mobilizao foi
feita atravs das sees operrias. Dia e noite fazia-se a leitura da petio, Logo que o recinto
estava repleto, fechava-se a porta e a petio era apresentada: os operrios assinavam uma folha
especial e evacuavam a sala, que se enchia imediatamente de nova multido que aguardava
Ver as reivindicaes operrias em ALMEIDA. Ivan Antonio de. Construindo a identidade operria - a
histria da Comisso de Fbrica da ASAMA. So Paulo, dissert. de mestrado, PUC/SP, 1992.
9
Todas as citaes foram retiradas da ntegra da petio publicada por VOLIN, Op. Cit., pp. 64-69.
167
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
pacientemente sua vez na rua, e a cerimnia recomeava. Isso continuava assim em todas as sees
at meia-noite ou mais10. A leitura do documento terminava com um juramento coletivo onde era
enunciada uma maldio, que se tornou proftica, se por acaso o tzar, ao invs de nos acolher,
opuser contra ns os fuzis e os sabres, ento, meus irmos, que a desgraa caia sobre a sua cabea!
Nesse caso, no teremos mais tzar! Nesse caso ento, que seja maldito para sempre, ele e toda a sua
famlia!11.
Finalmente, chegou o dia. De todos os lados da cidade, desde o amanhecer, uma imensa e
silenciosa multido, composta principalmente de operrios (muitos com suas famlias)
movimentavam-se em direo ao Palcio de Inverno onde deveria estar o tzar, a marcha foi
pacfica, sem canes, cartazes ou discursos. As pessoas vestiam suas roupas de domingo. Em
algumas partes da cidade levavam cones e estandartes eclesisticos12. Por toda parte encontraram
barreiras formadas por tropas. A polcia atirou na multido. Mesmo assim, a multido aflua sem
cessar em direo praa, ocupando e engarrafando as ruas prximas13. No final da tarde os mortos
e feridos, homens, mulheres e crianas, somavam milhares. Nunca se soube o nmero14. Durante a
noite os cadveres foram transportados por trens e enterrados em valas comuns nos bosques
prximos capital. Quanto ao tzar, sequer se encontrava na capital.
Ao que parece, tratou-se de um plano dos setores palacianos mais conservadores para dar
uma lio nos operrios, j que durante a preparao do ato no houve nenhuma interveno da
polcia, apenas uma tmida proclamao do juiz de So Petesburgo, proibindo a realizao da
manifestao15. O resultado, no entanto, foi o inverso do que se pretendia. A lenda do tzar, - a massa
camponesa, durante sculos, representava o tzar como o paizinho, autntico representante de Deus
na terra - desfez-se sob os golpes de sabre e a metralha dos fuzis.
Durante o massacre os operrios ainda tentaram se defender, mesmo desarmados, levantando
barricadas em vrios pontos da cidade. Mais uma lio aprendida. As reivindicaes operrias s
seriam atendidas pela fora das armas. Essa a grande diferena entre a ditadura e a democracia
liberal burguesa. Enquanto a primeira no oferece opes aos trabalhadores, a no ser impor-se pela
10
VOLIN, Op.cit., p. 71.
VOLIN, Op. Cit., pp. 71-72.
12
TROTSKY, Op. Cit., p. 89.
13
VOLIN, Op. Cit., p. 73.
14
Segundo a lista entregue pelos reprteres ao ministro do interior no dia 13 de janeiro eram
aproximadamente 4.600 os mortos e feridos. Nmero aproximado s baixas da guerra russo-japonesa (19041905) na Manchria.
15
Durante a reunio do Conselho de Ministros o massacre no foi discutido, por no estar na pauta.
11
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
168
fora das armas, a democracia liberal oferece canais de expresso e participao para amplos setores
da sociedade, isolando os trabalhadores e criando a iluso de participao, iluso renovada a cada
eleio. A lio de 1905 foi repetida muitas vezes depois. Hoje parece ser consensual aos diversos
setores das classes dominantes que a melhor forma de dominao aquela que oferece a iluso da
participao aos dominados. necessrio recordar que na Rssia de 1905 nem os sindicatos eram
permitidos. essa circunstncia que vai forar os operrios russos a criarem uma forma direta de
expresso.
Na segunda feira, 10 de janeiro, ningum trabalhou em So Petesburgo. Nos dois meses
seguintes, greves surdas e espontneas pipocaram nas principais cidades da Rssia. Foi nesses meses
de janeiro-fevereiro que nasceu o primeiro soviete (conselho) de representantes operrios, organismo
permanente de representao e poder operrio16. Seu nascimento foi praticamente acidental. Poderia
ter sido de outra forma, j que se tratava de uma necessidade histrica.
Quem nos descreve a histria da sua origem uma testemunha ocular, Volin, j citado por
ns diversas vezes. Volin era um jovem professor de 22 anos que dava aula para operrios. Foi
atravs dessa atividade que conheceu Gapone e participou da leitura da petio numa das sees
operrias s vsperas do 9 de janeiro. Uma semana depois do massacre foi procurado por uma
advogado, Jorge Nossar, que o conhecera numa das leituras da petio e soubera da sua proximidade
como os operrios. Como Nossar era bem relacionado em certos meios burgueses de oposio, que
queriam solidarizar-se com os operrios em greve, resolveu procurar Volin para, atravs dele,
organizar a distribuio de fundos coletados. O interesse em Volin era porque este no pertencia a
nenhum partido e tinha contato direto com os operrios.
Depois de um certo tempo, a greve foi cessando, assim como os donativos. Os operrios que
se reuniam na casa de Volin discutiram a necessidade de continuar o contato com as fbricas, manter
uma forma de organizao. Foi a que surgiu a idia de se formar um Conselho de Representantes
Operrios (Soviete). Volin foi convidado a presid-lo. No aceitou. Achava que uma organizao
operria deveria ser presidida por operrios, os amigos, no entanto, no se sentiram
suficientemente fortes para poder dispensar um guia . Ofereceram, ento, o posto de presidente do
Soviete a Nossar. Este, como narra Volin, no
16
Essa a diferena entre o soviete e o comit de greve (ou as comisses de negociao) que tinham sempre
um carter transitrio, at acabar a greve ou se conclurem as negociaes.
169
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
tendo os mesmos escrpulos que eu, aceitou17. A indicao de Nossar representava a persistncia
do velho nessa nova forma de organizao.
De fevereiro a outubro o soviete ampliou sua legitimidade, incorporando novos
representantes de fbricas e chegou a editar um jornal, o Isvestia (As notcias). Perseguido, o soviete
teve que interromper quase totalmente suas reunies, s retomadas durante o movimento
revolucionrio de outubro.
Por volta de setembro comearam a ocorrer reunies populares nas universidades,
principalmente em So Petesburgo e Kiev. Em 1905 existiam na Rssia umas trinta universidades e
escolas superiores para ambos os sexos. Os estatutos dessas escolas eram resultado das reformas de
Alexandre II (1855-1881) e garantiam s universidades uma autonomia bastante significativa. Os
tzares Alexadre III e Nicolau II tentaram reduzir essa autonomia, mas desistiram diante da resistncia
dos estudantes e professores.
Uma greve de tipgrafos, por reivindicaes especficas da categoria, desencadeou um
movimento que resultaria numa greve geral poltica em toda a Rssia. No dia 7 de outubro inicia-se
a greve dos ferrovirios. No dia 9 a greve j se estendia por toda a Rssia, com as palavras de ordem:
jornada de 8 horas, anistia, liberdades civis e assemblia constituinte. No dia 17 a greve era geral.
Nessa situao foi possvel ao soviete sair da clandestinidade e assumir o papel de coordenador do
movimento. No dia 13 o soviete reuniu-se no Instituto Tecnolgico de So Petesburgo com cerca de
30 a 40 participantes e tirou a palavra de ordem greve geral. Sua representatividade foi se
consolidando, medida que as fbricas em greve foram mandando seus delegados. No dia seguinte
j eram cem os delegados operrios. Havia tambm representantes dos partidos revolucionrios.
Segundo Trotsky, que passou a fazer parte do soviete, este mais parecia um conselho de
guerra que um parlamento, a mnima tendncia para a retrica era firmemente refreada pelo
presidente, com a severa aprovao dos assistentes18.
No dia 17 de outubro, ao mesmo tempo em que o governo fechava e ocupava todas as escolas
superiores de So Petesburgo, o tzar proclamava um manifesto constitucional. O manifesto
contemplava a maior parte das reivindicaes polticas dos grevistas. A greve comea a declinar. O
soviete decreta o encerramento do movimento no dia 21 de outubro. Encerrada a greve, fizeram-se
manifestaes em frente s prises pela anistia. No dia 22, o governo publica o
17
18
VOLIN, Op. Cit., p. .93.
TROTSKY, Op. Cit., p.123.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
170
decreto de anistia. A reao dos setores ultra-conservadores do governo e da sociedade foi a
organizao de pogrons que, segundo Trotsky, teriam vitimado de trs mil e quinhentos a quatro mil
judeus e militantes operrios e deixado mais de dez mil feridos e mutilados, em mais de 100
cidades19.
Em So Petesburgo no ocorreu nenhum pogrom. Os operrios evitaram a violncia se
armando de todo o tipo de recursos, todas as usinas e oficinas que tinham algum tipo de acesso ao
ferro e ao ao comearam, por iniciativa prpria, a fabricar armas brancas. Com vrios milhares de
martelos forjaram-se punhais, picaretas, chicote de arame e clavas de ferro20. As tipografias em
greve s imprimiam o jornal do soviete e os jornais social-democratas. Os trabalhadores se
recusaram a imprimir qualquer folheto que visasse a estimular os pogrons.
Nos dias 26 e 27 de outubro, estoura uma revolta de marinheiros no porto de Kronstadt,
sufocada pelo governo no dia 28. O soviete reage e declara uma nova greve geral poltica
acompanhada de comcios de protesto. O governo cede, no julgando os revoltosos de Kronstadt
atravs de cortes marciais, como havia ameaado. No dia 7 de novembro o soviete encerra a greve
geral. O soviete procurava evitar um confronto direto com o governo, por reconhecer que no
dispunha de fora militar para venc-lo.
Durante a greve de outubro os operrios desencadearam, independente da orientao do
soviete, a luta pela reduo da jornada de trabalho para 8 horas dirias. O mtodos era o da ao
direta. Cumpridas as 8 horas, era detonado o apito que encerrava a jornada de trabalho. Finda a
greve os operrios tinham conquistado a reduo da jornada para 9 horas de trabalho em todas as
usinas do Estado e em diversas empresas privadas. A luta pelas 8 horas ganhou popularidade no
meio operrio.
Nesses ltimos meses do ano tambm foi registrada uma intensa agitao no campo. No ms
de agosto foi realizado em Moscou o primeiro Congresso de Camponeses. O segundo Congresso que
se realizou na mesma cidade no dia 6 de novembro e aprovou um programa que inclua a
transferncia de toda a terra propriedade comunal, queles que a trabalham21.
19
Idem, p. 146.
Idem, p.148.
21
Idem, p. 201.
20
171
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
De 11 a 16 de novembro foi sufocado um novo levante de marinheiros, em Sebastopol, no
mar Negro. Os marinheiros sublevados exigiam a convocao de uma assemblia constituinte.
No dia 14 de novembro foram detidos em Moscou os funcionrios da Unio Camponesa,
formada no segundo Congresso Campons. No dia 26 preso Nossar, presidente do soviete de So
Petesburgo, que continua a atuar na clandestinidade, atravs do seu comit executivo, que fora eleito
por voto secreto, por 302 deputados operrios. Trotsky seu novo presidente.
Em dezembro continua a represso. O soviete decreta nova greve geral no dia 7. Trinta e trs
cidades respondem ao apelo (contra trinta e nove em outubro). No terceiro dia de greve em Moscou
comeam a surgir grupos armados que se chocam com a polcia e as foras armadas durante nove
dias. O nmero aproximado de vtimas do Levante de Moscou de mil mortos e o mesmo nmero
de feridos.
Segundo Trotsky, entre o Domingo Sangrento e a convocatria da primeira Duma de
Estado em 27 de abril de 1906, o governo tzarista foi responsvel pela morte de mais de 14.000
pessoas, execuo de 1.000, 20.000 feridos e priso ou desterro de mais de 70.000 pessoas. O autor
(e participante ativo dos acontecimentos) conclui que o preo no foi excessivo, levando em conta
que o que estava em jogo era a prpria existncia do tzarismo23.
22
A Revoluo Russa de 1905 preparou a Revoluo de 1917. O mito do tzar estava
comprometido. O domnio ideolgico tinha se quebrado. O governo, ao no fazer nenhuma
concesso significativa e reprimir com violncia a insatisfao, criou um distanciamento fatal em
relao sociedade civil. As foras em conflito estavam esboadas. Restava, praticamente, resolver
um problema militar. A auto-organizao dos operrios criou novos mtodos de luta e formas de
organizao que sero incorporados aos programas dos partidos revolucionrios, particularmente dos
bolcheviques. Em toda social-democracia a experincia russa de 1905 vai ser objeto de intenso
debate24.
Para encerrar, mais duas observaes. A organizao operria que se criou em
janeiro/fevereiro de 1905 no representava ainda uma forma desenvolvida.
22
Esse Parlamento era apenas consultivo e no teve maior significado que o de atender presso da
comunidade financeira internacional que exigia estabilidade poltica.
23
TROTSKY, Op. cit. p. 253.
24
Para Rosa Luxemburgo, por exemplo, a greve geral de massas de 1905 prefigura a forma que tendero a
assumir as lutas operrias em todo o continente.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
172
Como vimos, os operrios ainda no se sentiam suficientemente auto-confiantes para indicar a
presidncia do seu soviete a um operrio (indicando o advogado Nossar e o militante poltico
Trotsky). A forma de democracia direta tambm preservava caractersticas da representao
burguesa. Os deputados operrios, uma vez eleitos, falavam em nome dos seus eleitores, ou seja,
preservava-se a delegao de poderes. No era uma democracia direta plena. Essa caracterstica
facilitou, mais tarde, em 1917, o aparelhamento dos sovietes pelo partido bolchevique25.
Em 1917, entre fevereiro e outubro, aparece a contradio entre os sovietes formados por
deputados que tinham poderes delegados (e recebiam inclusive um salrio, nos moldes dos
parlamentos capitalistas) e os sovietes, onde havia o exerccio da democracia direta, como os
Comits de Fbrica ou os sovietes de bairro. Essas organizaes de base estavam sempre frente do
Soviete de Deputados Operrios, como no caso da reduo da jornada para 8 horas. Em 1917 (tal
como em 1905), os Comits de Fbrica faziam aplicar as 8 horas, mesmo antes do acordo entre o
Soviete e os patres. Nesse sentido eles se chocavam com o patronato, com o governo e com a
indiferena do Soviete e de seus partidos26. Essa contradio se tornou mais explcita quando os
comits de fbrica se organizaram de forma horizontal, formando o Soviete das Comisses de
Fbrica, a extenso horizontal da ao dos Comits de Fbrica causou um conflito com os
sindicatos. Sua extenso vertical, por sua vez, suscitou uma rivalidade de poderes entre os sovietes
dos conselhos de fbrica e o soviete dos deputados. Assim, os sovietes dos Comits se transformou
em um verdadeiro contrapoder operrio que organizava sua prpria defesa, apoiado nos bairros27.
Durante a revoluo de 1917 essa contradio foi resolvida de forma negativa. Os
bolcheviques, uma vez com a mquina do Estado nas mos, eliminaram toda forma de autoorganizao operria, fosse ela direta ou indireta. Ficou, no entanto, a experincia da contradio
que, a meu ver, permanece extremamente atual, a contradio entre a representao direta dos
trabalhadores e as diversas formas de representao delegada, que vai dos sindicatos aos partidos.
A segunda questo, com a qual pretendo encerrar este texto, mostrar que a posio dos
bolcheviques em relao aos sovietes j era clara em 1905. Era explcita a contradio entre os
trabalhadores auto-organizados atravs dos sovietes e os partidos polticos (aqui simplesmente
representados pelo partido bolchevique).
25
O controle do partido bolchevique sobre os sovietes foi o principal motivo do levante dos marinheiros de
Kronstadt, sufocado por Trotsky. Veja-se KOLL, Frits e OBERLANDER, Erswin.KRONSTADT, Documentos
de la revolucion mundial. no 2, Zero, Madrid, 1971.
26
FERRO, Marc. Dos Soviets Democracia. CECA/CEDAC, 1987, p. 19.
27
Idem, p. 22.
173
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
A questo Partido ou Soviete, j colocada por militantes polticos em 1905, permanece
atual. Trotsky, na obra A Revoluo de 1905, faz clara distino entre partido e soviete. Em relao
aos partidos, esclarece que tratava-se de organizaes dentro do proletariado e seu objetivo
imediato era ter influncia sobre as massas, enquanto que o Soviete foi, desde o incio, a
organizao do proletariado e seu objetivo era a luta pelo poder revolucionrio (grifos no
original)28. Lenin, no artigo Nossas tarefas e o Soviete de Deputados Operrios, faz referncia ao
camarada Radin que coloca o problema do seguinte modo: Soviete de Deputados Operrios ou
Partido?29. Nesse artigo, Lenin no entrar no mrito da questo. Mas ao se referir relao entre
soviete e partido, dir claramente que os bolcheviques so os nicos representantes do proletariado
consciente, portadores do pensamento marxista, a nica concepo do mundo verdadeiramente
conseqente e proletria30, e que seu apoio aos sovietes somente ttico pois,
sem a unio do proletariado e dos camponeses, sem a aliana combativa de socialdemocratas revolucionrios, impossvel o xito total da grande revoluo russa. Ser uma
aliana provisria com fins prticos e imediatos bem definidos; e para defender os interesses
fundamentais, os interesses vitais do proletariado socialista, para defender seus objetivos
finais sempre estar o Partido Operrio Social Democrata da Rssia, partido independente e
ideologicamente firme nos princpios.31
O aparente sucesso da Revoluo Russa de 1917 como uma revoluo socialista, encobriu
essa discusso. Dentro do pas, os grupos que, de alguma maneira, questionavam a estatizao dos
meios de produo e a ditadura do partido bolchevique, foram sendo paulatinamente eliminados.
Mesmo os grupos que faziam essa discusso dentro do partido, acreditando, portanto, que a
contradio entre organizao operria e partido no era total, foram perseguidos e exterminados32.
Hoje, refletir sobre essas questes condio necessria para a crtica da democracia liberal e
do ex-socialismo real.
28
TROTSKY, Leon. A Revoluo de 1905. So Paulo: Global, s/d, p. 255.
LENIN Nossas tarefas e o Soviete de Deputados Operrios in 1905 - Jornadas Revolucionrias.
Contagem/MG, Editora Histria, 1980, p. 79.
30
Idem, p. 89.
31
Idem, p. 82, grifos meus.
32
Veja-se, sobre o perodo, a coletnea de documentos organizada por Oscar ANWAILER, Democracia de
Trabalhadores o Dictadura de Partido, Documentos de la revolucion mundial, no 1, Zero, Madrid, 1971.
29
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
174
ARTIGO
CULTURA POPULAR E IMAGINRIO POPULAR NO SEGUNDO GOVERNO VARGAS
(1951-1954)
LUIZ VITOR TAVARES DE AZEVEDO
CULTURA POLTICA E POPULISMO
Talvez a caracterstica mais marcante da histria seja a de possuir, como Jano, uma dupla
face, que lhe permite olhar simultaneamente para vrias direes e temporalidades, mirando o
passado e projetando o futuro. O passado visto no s como o j sucedido, mas tambm como o que
ainda permanece, as tradies, a estrutura mental, a longa durao, marcas e resduos de uma
experincia que se mescla com fatores que se processam no devir histrico com toda a sua dinmica.
Crenas, normas, atitudes so sobrevivncias que marcam registros de experincias
vivenciadas por sujeitos histricos que atuam em sociedades e constituem uma cultura poltica1. Este
campo vasto remete tambm ao que se entende por mentalidade: conjunto vago de imagens e
certezas no conscientizadas ao qual se referem todos os membros de um mesmo grupo2. Este
permanente dilogo com o passado proporciona experincia histrica uma articulao com o
presente e a projeo para o futuro, possibilitando a tridimensionalidade do tempo histrico.
Muito prxima da abordagem de Laclau quanto ao princpio articulatrio classista presente
no populismo3, Fernando Mires considera que tambm em relao s revolues na Amrica Latina,
a dimenso classista se expressa atravs de mltiplas mediaes (religiosas, populares, regionais,
culturais, nacionais, etc.), hasta el punto de que lo particular de una clase deja de ser
inmediatamente divisable. Da mesma forma que no caso do populismo, la unidad de los ms
BOBBIO, Norberto. Dicionrio de Poltica. Braslia: UnB, 1986, pp. 306-308.
DUBY, Georges. A Histria Continua. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/UFRJ, 1993, p. 91.
3
LACLAU, Ernesto. Poltica e Ideologia na Teoria Marxista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
2
175
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
diversos movimientos y rebeliones tena lugar al producirse una ruptura en el interior de los bloques
de dominacin tracicionales, dando lugar personificao de lderes em busca da recuperao de
uma ordem antiga4.
Fernando Mires retoma a acepo copernicana original do termo revoluo (movimento
circular dos corpos celestes) para afirmar que la utopia de los grandes procesos tiene su lugar de
residencia en un pasado a veces muy remoto ... las utopias que cada revolucin genera no son la
simple copia del pasado, sino un resultado de la conjugacin de los tres tiempos de la historia, o lo
que es igual, las revoluciones latinoamericanas correspondem a una realidad tridimensional5.
No caso da experincia populista, a tridimensionalidade do tempo histrico se d na forma
de um apelo ao imaginrio popular em articulao com o discurso classista potencialmente negador
do status quo e cujo clmax e colapso se expressariam na inviabilidade de manter a situao de
equilibrio instvel entre interesses antagnicos.
preciso reconhecer que a mitificao e as vrias formas de mistificao do poder so uma
face do pacto populista, mas que por si s no esgotam sua configurao histrica. O compromisso
populista pressupe uma tentativa de acomodao de interesses entre fraes de classes dominantes
em articulao com setores populares atravs da canalizao de demandas sociais (melhorias nas
condies de vida), econmicas (aumentos salariais, extenso na capacidade de consumo)6 e tambm
ideolgicas (identificao com valores e tradies populares prprios de uma cultura e que
funcionam como um sistema de referncia nvel do imaginrio coletivo).
Numa situao de compromisso populista, sempre haver necessidade de algum tipo de
negociao, o Estado no monoltico e demaggico in totum, ele precisa dialogar e ser respaldado
pelo povo, classes, grupos, partidos. Da mesma forma, os setores populares no se encontram
totalmente impossibilitados de avanar politicamente no sentido de garantir os seus direitos e
garantir o cumprimento das conquistas obtidas. Ou seja, a questo popular no populismo no um
caso de manipulao ideolgica absoluta, de demagogia pura e simples ou uma resposta irracional
com ausncia de conscincia poltica.
MIRES, Fernando. La Rebelin Permante, las revoluciones sociales en Amrica Latina. Mxico: Siglo XXI,
1988, pp. 442 e 446.
5
Idem, ibidem, pp. 10.e 448.
6
WEFFORT, Francisco. O Populismo na Poltica Brasileira. 2 - ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p.75.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
176
REFUNDAO DO MARCO HISTRICO
Tomando como base artigos da revista Cultura Poltica, Angela de Castro Gomes situa a
viso oficial do Estado Novo que considera o redescobrimento do Brasil a partir da instalao do
regime de 1937, consagrado como o verdadeiro momento da fundao do Estado Nacional. Na
periodizao proposta pelos articulistas patrocinados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda,
o Imprio era referncia de nossas tradies centralizadoras sem, no entanto, se constituir em modelo
poltico a ser recuperado no devir histrico. J a experincia liberal da Repblica Velha com seus
vcios oligrquicos, era vista como responsvel pela descontinuidade no processo de integrao da
nacionalidade. Em contrapartida, 1930 seria o marco divisor, apesar do retrocesso do perodo que se
estendeu at 1937, quando concesses como a Constituio de 1934 teriam neutralizado os efeitos
impactantes da nossa Revoluo de Outubro. Portanto, 1937 marcaria o novo incio, o resgate de
1930. Remetendo a Hannah Arendt, conclui a autora: justamente nessas brechas do tempo
histrico, presentes nas lendas de fundao, que emergem com mais fora os verdadeiros dirigentes
polticos7.
Tendo como referncia Marshall Sahlins, este estudo situa ainda a dupla lgica que presidiu a
trajetria de incorporao da classe trabalhadora no cenrio poltico do ps-1930: uma lgica
material (interesses nos benefcios da legislao trabalhista que explicam a adeso dos
trabalhadores) e uma lgica simblica com nfase na reciprocidade em sua relao com o poder
central, e onde a palavra do Estado designa a posio desses atores sociais. Diferentemente da
Repblica Velha quando a palavra estava com o operariado e a lgica prevalecente era a da
solidariedade, o percurso de incorporao da classe trabalhadora no ps-1930 e principalmente no
ps-1942, levou inveno da ideologia do trabalhismo como a outorga pelo Estado do
reconhecimento de direitos sociais passando pela montagem do sindicalismo corporativista
articulado com a criao do PTB.
No Brasil o pacto entre o Estado e a classe trabalhadora extrapola o clculo utilitrio de
custos e benefcios. O trabalhismo tomou do discurso das lideranas operrias durante a Primeira
Repblica elementos de identificao, incluindo valores e tradies, e deu-lhes novo significado8.
Durante o segundo governo Vargas (1951-1954), a imagem poltica tinha como eixo
fundamental as tentativas em formar um governo apartidrio, de consenso e policlassista na
conduo da poltica econmica. Buscando se posicionar
7
8
GOMES, Angela de Castro. A Inveno do Trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ/Vrtice, 1988, p.213.
GOMES, Angela C., Op. cit., pp. 23-31.
177
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
num ponto equidistante em relao aos partidos (tentativa que fragilizou a constituio de uma base
partidria prpria de sustentao poltica),Vargas visava conduzir uma poltica trabalhista que
reinvidicava para o Estado a integrao de todos, alm de propor a otimizao de certas condies
bsicas de infra-estrutura que garantissem a execuo de um plano de desenvolvimento econmico
nacional9.
Este jogo de ambigidades foi marcado tambm pela diviso de sua equipe de governo entre
uma Assessoria Econmica formada por tcnicos de vis nacional-desenvolvimentista e um
ministrio mais representativo dos setores conservadores. A prpria corporao militar se encontrava
dividida entre um setor nacionalista e a ala majoritria desfavorvel politizao no ambiente da
caserna. H que se somar as dificuldades, no contexto da Guerra Fria, das novas correlaes da
poltica externa. O conflito na Coria no propiciou ao governo Vargas uma nova estratgia de
barganha nos moldes daquela implementada durante a II Guerra Mundial. O governo teve
dificuldades tambm em negociar a ajuda oficial dos EUA, na medida em que apartir de 1953 o
governo republicano de Eisenhower passa a direcionar com prioridade os investimentos privados nas
econmias perifricas. Para Vargas isso significou uma frustrao, o governo esperava
compensaes pela participao do Brasil no ltimo confronto mundial, para assim viabilizar o
Programa de Reaparelhamento Econmico voltado para os pontos de estrangulamento como
transporte e energia10.
A vitria de Vargas nas eleies de outubro de 1950 pode ser interpretada, dentro do
imaginrio poltico, como um outro momento de refundao do marco histrico iniciado em
outubro de 1930 associado consolidao final do Estado republicano e aprofundamento do
processo de desenvolvimento industrial, o qual atinge um dos pontos mximos em 03 de outubro de
1953 com a Lei 2004 que criou a Petrobrs. O retorno de Getlio, uma espcie de segundo
advento, foi entendido como uma aspirao popular buscando retomar as conquistas trabalhistas e
desenvolvimentistas bruscamente interrompidas pela traio de outubro de 1945 quando da sua
deposio por militares chefiados por Dutra e Gis Monteiro. O momento 1937 fica neutralizado
devido ao seu forte contedo autoritrio, embora as realizaes econmicas e sociais do Estado
Novo sejam reconhecidas como avanos na reafirmao da nacionalidade.
DARAJO, Maria Celina S.. O Segundo Governo Vargas, 1951-1954. Rio de Janeiro: Zahar, 1982,
pp.117-118; IANNI, Otvio. Estado e Planejamento Econmico no Brasil (1930-1970). 2a ed., Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1977, pp.109-138.
10
LESSA, Carlos e FIORI, Jos Lus. Relendo a Poltica Econmica: as Falcias do Nacionalismo Popular
do Segundo Vargas. 2a ed., Rio de Janeiro: UFRJ-Instituto de Econmia Industrial, 1983.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
178
Segundo Mircea Eliade, a idia de uma renovao constante do tempo um componente
bsico da estrutura mtica presente em toda parte, mesmo que laicizada, degradada ou camuflada.
Por meios mltiplos, mais homologveis, o homem moderno esfora-se, tambm ele, por sair da
sua histria e viver um ritmo temporal qualitativamente diferente. Ora, ao faz-lo, reencontra, sem se
dar conta disso, o comportamento mtico. Ao lado do princpio da repetio, encontra-se outra
caracterstica do mito: a criao de modelos exemplares para toda uma sociedade, ou seja, a
elaborao de uma personagem histrica como um arqutipo11.
Vargas parece unir bem estas duas conotaes bsicas do comportamento mtico: sua
presena como lder nacional marcante e paradigmtica e ao mesmo tempo lana a esperana de
um mundo que se renova, regenerado, criado de novo - tomando como base um tempo primordial e
iniciador da chamada era getuliana. A Revoluo de Outubro de 1930 seria esse tempo
primordial, referncia bsica marcada por uma revoluo pelas armas inauguradora de uma nova
etapa histrica. A vitria de Getlio nas eleies de outubro de 1950 a revoluo pelo voto, a
revoluo branca12, prova de reafirmao do lder e do desejo em resgatar o percurso histrico
varguista.
Tomando como base a considerao de que nenhuma prtica social seja redutvel unicamente
aos seus elementos fsicos e materiais, pode-se constatar tambm que os mitos se renovam porque as
situaes que eles simbolizam de alguma forma se repetem. Valorizando a dimenso simblica,
Sahlins apresenta uma crtica antropolgica idia do primado da razo prtica e do interesse
utilitrio. A lgica simblica implica que a cultura elabora esquemas de significncia capazes de
constituir, eles mesmos, elementos de utilidade prtica13.
Para Mircea Eliade, viver a aventura pessoal como reiterao de uma saga mtica equivale a
escamotear o presente. Essa angstia perante o tempo histrico, acompanhada pelo desejo obscuro
de participar num tempo glorioso, primordial, total, denuncia-se, entre os modernos, por uma
tentativa por vezes desesperada para quebrar a homogeneidade do Tempo, para sair do presente e
reintegrar-se num tempo qualitativamente diferente daquele que cria, ao decorrer, a sua prpria
histria 14.
11
ELIADE, Mircea. Mitos, Sonhos e Mistrios. Lisboa: Edies 70, 1989, p. 23. Ver tambm O Mito do
Eterno Retorno. Lisboa: Edies 70, 1993.
12
Arquivo Getlio Vargas, GV 54.02.20/1 (FGV-CPDOC).
13
SAHLINS, Marshall. Cultura e Razo Prtica. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
14
ELIADE,M., Op. cit., p. 23.
179
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
TEMPORALIDADE E IMAGINRIO POPULAR
Com o objetivo de explorar aspectos da sacralizao do corpo que trabalha enquanto
manifestao da engrenagem do poder nos anos 30 e 40, Alcir Lenharo busca desvendar os aparatos
litrgico-religiosos que consagraram a poltica como exerccio de dominao. O imaginrio cristo
projeta a figura de Vargas numa trindade de imagens una e indivisvel: Getlio ora corresponde
imagem de Pai, que vela e protege pelos filhos, imagem que recebe seu acabamento principal na
figura do grande legislador social; ora identifica-se mais com a imagem do Filho, lder que intervm
na estria, predestinadamente, o Messias que veio para mudar seu fluxo e afastar outros
intermedirios; ora corresponde figura do Esprito a iluminar os caminhos dos seus subordinados
para uma nova ordem, amparada por outras luzes. At mesmo a grandeza futura da ptria parece
assemelhar-se ao tempo da escatologia, em que a bem aventurana finalmente alcanada15.
Em muitos aspectos do imaginrio popular, a caracterizao ritualstica da liderana poltica
marcada tambm pela presena de elementos mticos e religiosos atravs do dimensionamento em
trs temporalidades bsicas16.
No primeiro momento est o tempo da espera e do apelo, aquele de expectao de um lder
ou um salvador que traduz um conjunto de esperanas, nostalgias e sonhos. Nas eleies de 1945 a
sentena Ele disse: vote em Dutra foi o sinal para o apoio das bases getulistas ao candidato do
PSD; j durante a campanha presidencial de 1950, os folhetos difundiram largamente o slogan Ele
Voltar!, com a presena de elementos associativos com a tradio crist da volta do messias para a
salvao nacional e a continuao da obra iniciada nos anos trinta.
Getlio: to grande quanto a nossa Ptria.
Ele disse: Trabalhadores do Brasil! O vosso sofrimento uma coroa de espinhos cravada em
meu corao.
Princesa Izabel libertou os escravos em 1888, Getlio Vargas libertar o povo brasileiro em
1950.17
No aspecto discursivo h aqui a indicao precisa dos lugares do destinador (Getlio)
comparado ao que h de mais grandioso (a Ptria) e o
15
LENHARO, Alcir . Sacralizao da Poltica. 2a ed., So Paulo: Papirus, 1986, pp. 194-195.
GIRARDET, Raul. Mitos e Mitologias Polticas. So Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 72.
17
Arquivo Getlio Vargas, GV 50.08/09.00/53 camp. eleit. (FGV-CPDOC).
16
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
180
destinatrio e pblico-alvo por excelncia (Trabalhadores do Brasil), cuja libertao ora colocada
no mesmo plano da libertao dos escravos, ora comparada narrativa martirolgica crist (coroa
de espinhos). Parafraseando o Credo Cristo, foram tambm divulgados panfletos com a Orao do
Getulista, de forte contedo apelativo:
Creio em Getlio Vargas, todo poderoso, criador das leis trabalhistas. Creio no Rio Grande
do Sul e no seu filho, nosso patrono, o qual foi concebido pela Revoluo de 30. Nasceu de
uma Santa Me, investiu sobre o poder de Washington Luiz, foi condecorado com o emblema
da Repblica, desceu ao Rio no terceiro dia, homenageou os mortos, subiu ao Catete e est
assentado em So Borja donde h de vir julgar o general Dutra e seus ministros. Creio no seu
retorno ao Palcio do Catete, na comunho dos pensamentos e na sucesso do presidente Dutra
por toda a vida. Amm. Viva Getlio Vargas!18
Na documentao referente campanha presidencial de 1950 aparecem outros panegricos de
exaltao cvico-religiosa, mas tambm encontram-se homenagens populares na forma de versos
jocosos:
Adivinhe Quem Quiser
O nome dele eu no digo
Voc tem que adivinhar
De quem trabalha amigo
E nele que vou votar.
gordinho, pequenino
Com um sorriso de abafar!
Deus lhe deu lindo destino
E nele que vou votar.
Seu nome comea com g
Oh! Ge-Ge! Vem nos salvar
O Povo s quer voc
E s em voc quer votar.
Do povo no corao
Seu nome gravado est
Do Brasil redeno...
Quem ele?! Quem ser!?19
18
19
Idem.
Idem.
181
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Entre as vrias razes do porque ser getulista ou do porque Getlio voltar aparecem
justificativas de fundo histrico associadas s vrias realizaes durante o primeiro governo, de
cunho desenvolvimentista e nacionalista: descoberta do petrleo no Brasil, incio da construo da
Companhia Siderrgica Nacional, instalao da Companhia Vale do Rio Doce e da Fbrica Nacional
de Motores, construo de estradas de rodagem como a Rio-Bahia, eletrificao da Estrada de Ferro
Central do Brasil, amparo lavoura e criao do Departamento de Obras contra a Seca. Alm disso
tudo, a mitificao colocava Getlio governando ao lado dos trabalhadores, doando uma
legislao trabalhista das mais perfeitas do Universo, com direito a frias remuneradas e
estabilidade no emprego (antes os trabalhadores eram escravos). Na questo poltica, a ditadura de
1937 explicada em virtude da situao internacional, mas com o fim da guerra, Getlio poderia
governar democraticamente.
Todas essas realizaes, fruto do significado de outubro de 1930, so vistas como uma
obra de criao ou de fundao de um Brasil nacional, mas haviam sido abruptamente interrompidas
pela deposio de outubro de 1945, a mais tenebrosa noite nacional ... onde os restos mortais da
velha repblica ressurgiram como a Phenix, envoltos em pedaos de carne descomposta (sic) e
uniram-se nos que saram do ostracismo social e econmico transformando-se em falsos salvadores,
compenetrados de polticos evidentes, graas compaixo e complacncia de Getlio Vargas20. Em
seguida traio, Getlio retira-se para o Getsmani no seu auto-exlio em Itu, como forma de
preparar a rearticulao poltica de novo quadro que surge em 1945. O tom de chamamento para a
sua volta ao poder, destaca a total pertinncia do percurso poltico de Vargas e o que tambm
importante, sem provocar rupturas radicais:
Getlio, onde ests que no respondes? Venha acalmar os nossos desejos e as nossas
saudades...No queremos regimes importados de alm-mares, queremos as tuas leis e teu
amparo, as tuas idias so nossas, somos todos CRISTOS e DEMOCRATAS.21
A utilizao no discurso e na imagtica poltica de elementos religiosos pertencentes ao
imaginrio popular um fator importante na tentativa de unir tradio e modernidade, j que ao
mesmo tempo em que resguarda os limites de avano poltico, mantm o apoio em bases ideolgicas
seguras. Por outro lado, a eficcia do discurso populista fica condicionada competncia na
conciliao entre o popular e o projeto nacional que se almeja e que de alguma forma rompe
com
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
182
determinadas formas de dominao vigentes. Isto fica claro no Padre Nosso Getulista, tambm
divulgado na campanha eleitoral de 1950:
Protetor nosso que estais em So Borja, honrado seja o vosso nome; venha a ns a vossa
proteo, seja feita a vossa vontade, assim no Sul como no Norte; os direitos nossos de cada
dia nos dai hoje; e perdoai-nos as nossas imprudncias, assim como ns perdoamos aos nossos
persiguidores, e no nos deixeis cair no comunismo, mas livrai-nos do capitalismo. Amm.
Para Marilena Chau, cultura popular significa um conjunto disperso de prticas,
representaes e formas de conscincia que possuem lgica prpria (o jogo interno do conformismo,
do inconformismo e da resistncia), distinguindo-se da cultura dominante exatamente por essa lgica
de prticas, representaes e formas de conscincia22. Ao se constituir num sistema de
representao, a cultura popular traduz as vrias referncias mticas e histricas que estabelecem um
encadeamento capaz de situar os indivduos dentro de uma trajetria com passado mergulhado em
um tempo perdido.
Ao estabelecer a perspectiva de tempo tridimensional, onde o dilogo entre uma experincia
mtico-histrica (associao entre simbologias religiosas e significados do primeiro governo Vargas)
e um projeto poltico que se pretende desenvolvimentista tendo em vista a modernidade e o futuro o populismo mostra todas as suas virtualidades em conciliar tempos e estabelecer compromissos
entre setores sociais diferenciados.
Em 1950 a temporalidade dominante a expectao que marca a volta de Getlio e onde j
aparece a idia do sacrifcio do Messias, tema fundamental no contexto da tradio judaico-crist.
o prprio Vargas que assim enuncia no rascunho de um Manifesto ao Povo Brasileiro, desse
mesmo ano:
Se o meu sacrifcio for um bem para o Brasil e para seu povo, levai-me convosco ... J estou
prximo ao fim, e no me arreceio dos riscos que possam trazer as eventualidades duma luta.
Seria at um fim digno duma longa existncia. apenas por vs que hesito. o vosso
sacrifcio que desejo evitar23.
Aqui j entramos na segunda temporalidade, a da presena de um lder salvfico, momento
em que o curso da histria est prestes a se relizar, mas aquele
20
Idem.
Idem.
22
CHAU, Marilena. Conformismo e Resistncia, Aspectos da Cultura Popular no Brasil. 4a ed., So Paulo:
Brasiliense, 1989, p. 25.
23
Arquivo Getlio Vargas, GV 50.04.19/3 (FGV-CPDOC).
21
183
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
tambm em que a parte da manipulao voluntria recai com maior peso no processo de elaborao
mtica24. Durante esse tempo da presena, que tambm tempo das provaes, o posicionamento
de Getlio como lder que deve se sacrificar recorrente, seguindo a tradio dos heris
civilizadores como Prometeu, que se vem penalizados por foras superiores que no permitem a
revelao ou a doao do progresso aos mortais. Tambm no caso especfico da tradio judaicocrist, a provao e o sacrifcio vicrio so aspectos centrais da doutrina redentora encarnada na
figura de um Cristo que deve padecer em nome de todos como forma de resgate. Parece que esse
sentido de apelo a uma identidade redentora est amplamente difundida no imaginrio popular, como
pode testemunhar esta carta a Getlio:
... peo em nome de todos os meus e das mulheres mineiras ardentes admiradoras apresente
candidato para o bem do Brazil e dos pobres, que s eu sei que esto sofrendo, volte a
governar, vivo na esperana de seu grande sacrifcio, e Deus e a Virgem Maria proteja, tenho
f estou resando, volte mais uns annos, todos os mineiros ainda no tiramos seu retrato da
parede ...25
A simbologia do retrato pode ser interpretada como um reforo da presena no tempo e no
espao em contraposio fluidez dos eventos cotidianos. O retrato na parede a presena
constante, podendo adquirir o sentido de um verdadeiro cone ao qual se atribuem valores mticos e
religiosos. Durante o Estado Novo, o DIP recomendava que nas reparties pblicas o retrato de
Vargas tivesse seu lugar de honra, no caso dos gabinetes oficiais a norma era compulsria. No
carnaval de 1951, a marchinha de Haroldo Lobo e Marino Pinto, Retrato do Velho, gravada por
Francisco Alves, exaltava a volta de Getlio sugerindo a reinstalao dos retratos nas paredes: Bota
no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar26.
Tambm na documentao referente Agncia Nacional, durante o segundo governo Vargas,
foram encontradas vrias cartas provenientes em grande parte do interior, muitas de Minas Gerais,
com pedidos de retratos e fotografias de Getlio, inclusive solicitando sua permanncia por mais
quinze anos no poder:
Ub, 14 de fevereiro de 1951
Exmo. Snr. Dr. Getlio Vargas
24
GIRARDET, R., Op. cit., p. 72.
Arquivo Getlio Vargas, GV 50.01.10 misc. (FGV-CPDOC) (grifos nossos).
26
SEVERIANO, Jairo. Getlio Vargas e a Msica Popular. Rio de Janeiro: FGV, 1983, pp. 52-53.
25
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
184
Saudaes respeitosas
Primeiramente meus respeitosos cumprimentos. O fim desta para enviar-lhe o meu abrao e
meus sinceros parabens pela volta de V. Excia, pois ha cinco anos esperava ancioso a sua
volta! Desejava ir-me pessoalmente mas no me foi possivel pois sou operrio e as minhas
frias no saram a tempo, mas eu no podia deixar de enviar-lhe esta missiva com o meu
corao cheio de alegria pela volta de V. Excia. Peo-lhe desculpar-me pelos erros pois quem
lhe escreve um simples operrio mas que muito o admira e implora a Deus para que V. Excia
governe mais quinze anos. Meu respeitvel abrao ao senhor e Dna. Darcy.
Despede o grande admirador de V. Excia. Manoel Sebastio; meu endereo Companhia
Telefonica Brazileira
Ub Minas E.F.C.
Dr. peo-lhe desculpar-me estava me esquecendo desejo muito possuir um retrato de
V. Excia e de sua Dssma esposa. Desde j agradeo, O mesmo27
A Agncia Nacional de Informaes vinculada ao Ministrio da Justia foi instituda em
1945 para substituir o famigerado DIP criado em 1939 e subordinado Presidncia da Repblica.
Em 1946 foi finalmente consolidada como Agncia Nacional, encarregada da divulgao dos atos
emanados do governo federal mas sem as caractersticas de censura e propaganda ostensiva da
congnere estadonovista. Afinal de contas viva-se um perodo de ampliao do mercado poltico e
afirmao do sistema pluripartidrio, desfavorvel ao funcionamento de uma agncia fomentadora
de uma imagem absoluta do poder executivo.
Essas vrias cartas com pedidos de retratos e fotografias de Getlio geralmente eram
atendidas pela Agncia Nacional, como forma de compensar a situao de desarmamento
publicitrio vivida nesse governo. O outro meio de divulgao mais explcita dos atos
governamentais era basicamente o jornal ltima Hora e, em menor escala, O Radical. Em
contraposio se colocava toda a grande imprensa: os Dirios Associados de Assis Chateubriand
com O Jornal e a pioneira TV Tupi, o grupo Roberto Marinho com O Globo e Rdio Globo,
alm do Correio da Manh, O Estado de So Paulo, Dirio de Notcias, Dirio Carioca.
27
Processo no 530. Agncia Nacional, Srie Correspondncia Geral. Arquivo Nacional. Lata 200, 1951. Para
uma anlise da cultura poltica durante o perodo 1930-1945, ver FERREIRA, Jorge Luiz, A Cultura Poltica
dos Trabalhadores no Primeiro Governo Vargas. Estudos Histricos. Rio de Janeiro: FGV, 3(6):180195,1990.
185
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
A prevalecncia de uma imagem negativa do governo (corrupo e avano sindicalista) reflete uma
situao de crise poltica conjuntural fruto da intensificao e polarizao do debate poltico e da
desorganizao das bases institucinais de apoio. O governo tenta responder a esse quadro utilizando
uma imagtica compatvel com as novas regras do cenrio poltico definidas na Constituio de
1946, mas mantendo os vnculos com a simbologia paternalista montada durante o primeiro governo.
Em meio crise poltica que se agua durante o ano de 1953, no faltaram manifestaes de
apoio a Getlio comparando-o com o Cristo (que) tambm recebeu muitas pedradas inconscientes e
inconsequentes28 e que teve finalmente o seu momento de Calvrio com a passagem para o terceiro
tempo, o da lembrana: aquele em que a figura do Salvador, lanada de novo no passado, vai
modificar-se ao capricho dos jogos ambguos da memria, de mecanismos seletivos, de seus
rechaos e de suas amplificaes29.
Alado ao tempo da glorificao, Getlio finaliza seu trajeto com um ato dramtico, de forte
apelo emocional, conseguindo desarticular toda a coligao oposicionista. Na viso de Oswaldo
Aranha, ao exigir de Vargas o sacrifcio altrustico, os Pilatos podero lavar as mos, mas jamais
as conscincias30. Em discurso no Senado em 1974, durante a passagem do vigsimo aniversrio da
morte de Vargas, o ento senador Gustavo Capanema confere ao suicdio um sentido definitivo de
misso historica superior:
No lhe restava, como soluo para ele honrosa, seno o que ele no queria: a porta estreita
da sua imolao. Ele aceitou o holocausto, de alma tranquila e de corao manso, como
Scrates tinha aceitado beber a cicuta31.
MITO E SIMBOLOGIA POLTICA
Talvez por ironia da histria, o segundo governo Vargas comea com a cristianizao do
candidato do PSD (partido majoritrio) nas eleies presidenciais de 1950 e termina com a autoimolao daquele que havia sido sufragado nas urnas.
O dimensionamento do populismo no prescinde do arcabouo de uma cultura poltica dentro
de um contexto dialgico entre lderes e setores sociais,
28
Arquivo Getlio Vargas, GV 53.10.07/1 (FGV-CPDOC).
GIRARDET, R. , Op. cit., p. 72.
30
Arquivo Getlio Vargas, GV 54.08.00/4 (FGV-CPDOC).
31
Arquivo Getlio Vargas, GV 74.09.05 (FGV-CPDOC).
29
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
186
principalmente as camadas populares, incluindo presses bem variadas. A eficcia desse tipo de
pacto poltico medida pelo seu grau de envolvimento com o universo de valores e o sistema de
representaes, capazes de associar os atores polticos a smbolos e imagens mticas de alta
pertinncia histrico-ideolgica.
O segundo governo Vargas, marcado pelo contedo de revivalismo mtico (o segundo
advento), acionou na prpria dinmica do drama mtico a tragicidade da cena final (o sacrifcio
vicrio), oblao que se consuma no prprio holocausto32. Se Getlio morreu como ato de
imolao, a sua trajetria, ou a sua culpa, foi ter assumido o carter civilizador de um Prometeu
punido pelo seu ato herico de viabilizar o processo de consolidao do desenvolvimento industrial
em bases nacionais.
Nesse caso, a comparao entre Vargas e a figura mtica de Prometeu no gratuita. Com o
objetivo de compor uma das fachadas da nova sede do Ministrio da Educao e Sade no Rio de
Janeiro, inaugurada em 1945, o ministro Gustavo Capanema encomendou a J. Lipchitz uma
escultura em bronze do heri mitolgico dominando o abutre. Com estilo modernista, o prdio
conhecido hoje como Palcio Capanema, tem o trao original de Le Corbusier, projeto arquitetnico
de Lcio Costa, Oscar Niemeyer e Afonso Reidy, alm dos azuleijos de Portinari. Dando
prosseguimento ao processo de centralizao poltica inaugurado em 1930, Capanema buscava unir
tradio (memria) e materialidade (modernizao) como forma de promover o sentimento de
indentificao de Vargas como lder nacional e mesmo como um autntico heri civilizador33.
No mito de Prometeu, o tit ousou desafiar a supremacia de Zeus distribuindo aos mortais o
fogo como smbolo de todos os bens culturais da humanidade. Como castigo foi acorrentado nos
rochedos escarpados da Ctia onde diariamente um abutre viria comer o seu fgado. Na pea teatral
atribuda a squilo, Prometeu Acorrentado, a tragicidade carrega um forte componente de virtude
sacrificial. Graas ao demiurgo, os homens teriam se benefciado de tudo que constitui o progresso.
Unir mito e histria parece ser um procedimento de muita eficcia poltica e smblica na
constituio do tecido social. Na medida em que a escultura de Lipchitz apresenta um Prometeu
dominando o abutre e no apenas sofrendo martrio, presente est a representao da resistncia
em meio adversidade.
32
SILVA, Hlio. 1954:Um Tiro no Corao. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1978, p. 31.
TEIXEIRA, Osvaldo. Getlio Vargas e a Arte no Brasil, a Influncia Direta dos Chefes de Estado na
Formao Artstica das Ptrias. S.l., DIP, 1940.
33
187
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Segundo Albin Lesky, na continuao da trilogia de squilo, Prometeu no s se libertaria do
rochedo como tambm teria se reconciliado com Zeus, pressupondo assim uma nova forma moral34 e
mesmo, de acordo com Vernant, um ato de f na cidade, na democracia, deste novo equilbrio
poltico entre as categorias sociais antagonistas35.
Em 12/02/52, menos de dez anos aps a inaugurao da obra de Lipchitz, Gustavo
Capanema, ento lder do governo Vargas na Cmara Federal, desafiado pelo deputado udenista
Aliomar Baleeiro a justificar aquela escultura. Capanema no discurso defende a idia de que sempre
haver o Prometeu e o abutre, este timo significando o esprito de destruio e desesperana, a
negao terrivelmente nietzscheana. Em oposio Prometeu simboliza a construo, o raciocnio, o
idealismo e a esperana - personagem representada aqui por Getlio Vargas que finalmente ir
dominar o abutre36. Na Carta-Testamento atribuda a Vargas, esta aluso rapinagem fica bem clara:
Se as aves de rapina querem o sangue de algum, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu
ofereo em holocausto a minha vida.
Vargas ento representa o tit que doa o fogo (progresso) e luta contra o abutre (foras
retrgradas e interesses externos), preso no rochedo da nao e aos desgnios fatalistas que o
colocam como um mrtir que se sacrifica por uma causa que o transcende porque vinculada a um
imaginrio coletivo que aceita a idia do sacrifcio vicrio (tradio judaico-crist) como via de
mitificao e identificao histrica.
Este tipo de referncia, presente na forma de arqutipo, e no necessariamente como modelo
emprico, remete a um sistema de representao poltica passvel de interpretaes diferenciadas.
Comparando a vida poltica com o teatro, Pierre Bourdieu enfatiza a relao simblica entre
significante e significado, entre representantes fornecendo uma representao e agentes, aes e
situaes representadas. Atuando como uma forma de capital simblico, o capital poltico crdito
firmado na crena e no reconhecimento ou, mais precisamente, nas inmeras operaes de crdito
pelas quais os agentes conferem a uma pessoa - ou a um objeto - os prprios poderes que eles lhes
reconhecem37.
34
LESKY, Albin. A Tragdia Grega. 2a ed., So Paulo: Perspectiva, pp. 110-117.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos. So Paulo: Difel/Edusp, 1973, p. 215.
36
Anais da Cmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1952, vol.IV, pp.
344-354.
37
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simblico. Lisboa: Difel, 1989, pp. 175, 187 e 188. (grifos do autor).
35
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
188
O palco da crise de 1954 est relacionado com as incongruncias da poltica de
compromissos e que tambm se refletiu no insucesso da composio partidria tentada pelo governo.
As presses do setor operrio nas greves de 1953 em So Paulo afastaram do governo parte dos
setores industriais e comerciais38. A viso que a elite tinha do populismo deixa transparecer sua
preocupao com a presena das massas urbanas no cenrio poltico e a ressurgncia do movimento
sindical. A revista Anhembi, dirigida por Paulo Duarte, no seu primeiro nmero, publicado em
1950, assim descreve a volta de Vargas:
No dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro, era meio milho de miserveis, analfabetos,
mendingos famintos e andrajosos, espritos recalcados e justamente ressentidos, indivduos
tornados pelo abandono homem boais, maus e vingativos, em grande parte, mas portadores de
um titulo eleitoral, que desceram dos morros embalados pela cantiga da demagogia berrada de
janelas e automveis, para votar na nica esperana que lhes restava: naquele que se proclama
pai dos pobres, o messias-charlato que prometia a liquidao imediata das classes
exploradoras ... custa das misrias desta imensa favela que o sr. Getlio Vargas poder fazer
do Brasil39.
O quadro poltico em 1954 estaria, assim, traduzindo o afastamento de interesses
dominantes, paralelamente falta de uma base trabalhista de apoio capaz de sustentar o governo.
Ou seja, a crise o resultado das prprias contradies do populismo na dupla face de sua ideologia:
a desenvolvimentista, voltada a incentivar a acumulao de capital dentro dos marcos de uma
sociedade capitalista, e a trabalhista, procurando inserir os trabalhadores dentro desta sociedade em
construo40. O governo teria falhado na sua proposta de viabilizar a acumulao com apelos
distributivistas na busca de legitimidade e sustentao poltica.
Nesse momento, a convivncia entre o contedo personalista da liderana populista no
governo, com as prticas polticas pluralistas do sistema partidrio no Congresso, no conseguiu
superar os impasses da conjuntura. Nessa tentativa de compatibilizao, Vargas reconhece novos
parceiros polticos, busca atra-los para um governo conciliador, mas sua imagem tradicional de
lder carismtico impede uma melhor adequao no novo contexto do mercado poltico. A grande
imprensa no o perdoa pelos anos de censura estadonovista, os udenistas divergem das suas
38
MOISS, Jos lvaro. Greve de Massa e Crise Poltica. So Paulo: Plis, 1978; BOITO JR., Armando. O
Populismo em Crise. (1953-1955). Campinas: UNICAMP, Dissertao de Mestrado, 1976.
39
Revista Anhembi. So Paulo, 1950, vol.1, no 1, p.129.
40
FONSECA, Pedro Csar D. Vargas: o Capitalismo em Construo. So Paulo: Brasiliense, 1989, p. 456.
(grifos do autor).
189
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
prticas estatizantes e nacionalistas, o PSD nunca abandonou suas posies conservadoras e o
PTB, dividido entre pragmticos e doutrinrios, se v mal representado no governo.
Praticamente o nico sustentculo de Getlio era a prpria imagem do lder nacional, apesar de todo
o desgaste com a campanha da oposio. Na medida em que o discurso oposicionista enfocou toda a
ao na figura do presidente e nas diversas modalidades polticas nas quais se expressava o prestgio
de Vargas - getulismo, trabalhismo, nacionalismo - ele acabou por dar consistncia ao mito que
queria destruir, e com isso tambm evitou que a situao de crise extrapolasse para o campo
institucional41.
Pelo que se depreende do jornal ltima Hora, o apoio popular como reao onda
oposicionista no veio como esperado. Foram feitas vrias tentativas para agregar foras populares e
demonstrar o esteio trabalhista do governo: em junho de 1954 foi criada a coluna diria
Problemas e Reivindicaes, depois transformada em Coluna do Trabalhador; foi constitudo
um Escritrio Trabalhista na prpria redao do jornal, onde advogados se prontificavam a
orientar o trabalhador em assuntos de seu interesse. De qualquer forma, no se repetiu a eficcia da
atuao do ministro Alexandre Marcondes Filho nas suas palestras ao p do rdio durante o perodo
de 1942-1945, quando a questo da mobilizao de apoios sociais tornou-se uma necessidade
inadivel ante a prpria transformao do regime42.
No conseguindo romper as correntes do rochedo escarpado, parece que para Getlio s tinha
restado a entronizao pela via do martrio, apelo popular de grande reconhecimento no plano do
imaginrio coletivo. Na anlise da edificao hagiogrfica, Michel de Certeau considera que este
tipo de relato dramtico marcado pelo tempo das provaes (combates solitrios) e pelo tempo de
glorificaes (milagres pblicos) marca a passagem do privado ao pblico. Como na tragdia grega,
conhece-se o resultado desde o incio, com a diferena de que l onde a lei do destino grego supunha
a queda do heri, a glorificao de Deus pede o triunfo do santo43.
CONCLUSO
Na perspectiva da cultura popular o reino da necessidade caminha junto com a perspectiva da
esperana renovada, o materialismo animista no leva ao desencantamento do mundo44. Qualquer
ensejo de reencantamento em meio ao
41
DARAJO, Maria Celina S., Op. cit., p. 35.
GOMES, Angela C. , Op. cit., p. 277.
43
CERTEAU, Michel de. A Escrita da Histria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1982, p.273.
44
BOSI, Alfredo. Dialtica da Colonizao. So Paulo: Companhia das Letras, 1992, pp. 324-326.
42
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
190
quadro de carncia material viceja uma identificao positiva com entidades anmicas, foras
sobrenaturais, crenas e devoes baseadas no arcabouo do sistema de representao. Para os
setores populares vencerem as dificuldades do mundo material e da prpria natureza, a f em
poderes simblicos tanto pode se corporificar em reis, que com um toque curam escrfulas45, quanto
em lderes populistas doadores de leis trabalhistas. No faltaram comparaes entre a manh do 24
de agosto de 1954 e a noite de So Bartolomeu quando, no mesmo dia, em 1572, ocorreu o
massacre dos huguenotes: dias aziagos, ms de desgostos, experincias traumticas.
Ao sacrifcio de um lder carismtico espera-se como resposta sua ascenso ao panteo dos
mrtires e a devoo a sua memria. O comportamento popular, atendendo a ambos os apelos,
respondeu em comoo nacional, levando ao paroxismo a sacralizao de sua imagem. Segundo
Luiz Eduardo Soares, a morte foi, para ele (Getlio), artifcio da virtude. Acuado, atingido em sua
honra e em seu poder, acusado de trair o interesse comum e o bem pblico para beneficiar o projeto
egosta, individual, encontrava-se, em agosto de 1954, politicamente morto e, paradoxalmente,
desindividualizado - tornara-se mais um. Parecia condenado a descer do Palcio do Catete para
fundir-se, virtualmente annimo, s multides solitrias. Antecipou-se ao golpe, golpeando-se a si
mesmo, atingindo seu prprio corpo. Logrou, pelo suicdio, reviver politicamente e sobreviver aos
seus adversrios. Voltou a individualizar-se, distinguindo-se como objeto da comoo nacional e
ator do novo processo que desencadeou, enquanto agente produtor de fatos significativos e
protagonista central de seus desdobramentos, mesmo in absentia46.
Acionado o paradigma cultural do sacrifcio cristo, o passamento de Vargas estabelece
simblicamente o significado de justia ao preo mais alto, nico caminho na busca da redeno.
Quando Pierre Nora considera que a morte de De Gaulle foi um acontecimento que diz
providencialmente mais do que toda a sua vida havia expressado, porque para o autor, o
acontecimento testemunha menos pelo que traduz do que pelo que revela, menos pelo que do que
pelo que provoca. Sua significao absorvida na sua ressonncia; ele no seno um eco, um
espelho da sociedade, uma abertura47. Por analogia, a morte de Getlio revela com mais intensidade
os significados de todas as realizaes da era Vargas, o coroamento, com espinhos, de uma misso
consagradora.
45
BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos. So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SOARES, Luiz Eduardo. Os Dois Corpos do Presidente e outros ensaios. Rio de Janeiro: Relume-Dumar,
1993, p. 153.
47
NORA, Pierre. O Retorno do Fato. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. Histria: NovosProblemas.
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, pp. 188-189.
46
191
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
bom ressaltar que o movimento da sociedade tambm est refletido na memria histrica,
que no deve ser vista apenas como a urdidura do poder, resultado da ao exclusiva de
protagonistas e elites dominates. O mito tambm construdo a partir de uma relao ou interao
com a sociedade. Ao atuar no campo das permanncias, a cultura poltica e as tradies populares
perpassam o tempo, invadem o presente e no temem o futuro - seu lugar est no imaginrio.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
192
COMUNICAO
Organizaciones obreras, clase obrera y vida cotidiana de los obreros: nuevos
conceptos en la historiografia de los movimientos obreros en Europa. *
HENRIKE FESEFELDT
Bielefeld - Alemanha
I. En los ltimos veinte aos, la histria del movimiento obrero ha sido uno de los temas que ms
publicaciones ha suscitado por parte de la historiografa europea. Esto se debe sobre todo al
desarrollo y la difusin del enfoque historiogrfico de la Histria social, un enfoque que se dedica
fundamentalmente al anlisis de los grupos sociales en las sociedades industriales a partir del siglo
XIX. En los aos sesenta y setenta la investigacin sobre la formacin de la clase obrera y sobre las
estructuras econmicas y sociales que formaron la base de este proceso ha sido objeto de trabajo para
muchos historiadores. Sin embargo, en los aos ochenta ha surgido una corriente criticando la
Histria social del movimiento obrero. Esta corriente denuncia que la Histria social tiende a
describir la formacin de la clase obrera y de sus organizaciones polticas y sindicales como una
sucesin de xitos en el camino hacia el progresso, y que muestra una dependencia terica con las
teoras de la modernizacin. Los crticos insisten en los costes sociales de la formacin de la
sociedad moderna y exigen la investigacin de la vida cotidiana de los obreros como punto de
partida para comprender las experiencias y las formas de su accin.
En mi conferencia voy a hablar sobre las tendencias tericas y metodolgicas ms recientes
en la historiografa del movimiento obrero, centrndome en la discusin de dos corrientes: la
Histria social y la Histria de la vida cotidiana. Me voy a referir a las innovaciones de la
historiografa europea en general, aunque pondr un cierto nfasis en lo que se est haciendo en
Alemania,
LPH: Revista de Histria no se responsabiliza pela reviso ortogrfica de trabalhos em lngua estrangeira.
193
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
en parte porque en este pas la discusin sobre la teora y los mtodos se ha producido con mayor
insistencia, dejando muy claras las lneas del debate. Antes de empezar tengo que hacer dos
observaciones. En primer lugar, cuando hablo de Histria social, no me refiero a una subdisciplina
al lado de la histria econmica o la histria poltica, sino a un modelo interpretativo de la
histria, que integra el anlisis de las diferentes esferas de la realidad social. Para mayor claridad: se
trata ms de histria de la sociedad en su conjunto que de histria social de las partes que la
componen. En segundo lugar, la historiografa europea sobre los movimientos obreros se centra
preferentemente en el siglo XIX y principios del siglo XX, analizando la formacin y la organizacin
del movimiento obrero europeo. Tal vez no todos los elementos del debate sean vlidos para el
anlisis del movimiento obrero latinoamericano, que se ha desarrollado dentro de contextos
econmicos y sociales en parte diferentes. La formacin del movimiento obrero europeo se ha
efectuado dentro del contexto de la formacin de la sociedad de clases en el capitalismo industrial,
un contexto que no es del todo comparable a la formacin de los movimientos obreros ensociedades
integradas en estructuras de dependencia econmica dentro de la economa mundial e inmersas hoy
en da en una crisis industrial. Sin enbargo, espero que la discusin de teoras, mtodos y conceptos
historiogrficos pueda aportar algunas ideas y sugerencias para el proyecto de investigar la histria
de la CUT y fomentar el conocimiento sobre los orgenes y el desarrollo del movimiento obrero en
Brasil.
II. En prcticamente todos los pases europeos la historiografia de los movimientos obreros
solamente ha experimentado una difusin ms amplia despus de la Segunda Guerra Mundial. En los
aos anteriores, la historia del movimiento obrero haba sido escrita en su mayor parte por miembros
del movimiento obrero mismo, mientras que el mundo acadmico mostraba un desinters
prcticamente absoluto por el tema. Parece, que en cuanto se consideraba al movimiento obrero un
enemigo de la sociedad capitalista, el esfuerzo por fomentar el estudio de su histria era nulo, ya que
el objetivo de la burguesa consista en evitar la emancipacin poltica de la clase obrera. Solamente
despus de la Segunda Guerra Mundial, cuando la construccin de los Estados de Bienestar tendi a
minimizar el conflicto entre capital y trabajo, y sobre todo con la inclusin de algunos partidos
socialistas en la responsabilidad del gobierno, la historia del movimiento obrero se estendi fuera de
los medios obreros propriamente dichos.
El peso de la produccin historiogrfica en un primer momento se centr en trabajos sobre
los partidos, sindicatos y asociaciones obreras, es decir en La
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
194
historia de las organizaciones obreras. Se desciban sus orgenes, su lucha para mejorar la situacin
de los trabajadores y para conquistar cuotas de poder poltico, analizando sus programas, sus
estrategias electorales y las posiciones polticas que iban adoptando a lo largo de su historia. En el
contexto de las revueltas estudiantiles de los aos sesenta tambin se pudo percibir un inters
renovado por los debates ideolgicos de los partidos obreros sobre los conceptos de la revolucin,
del reformismo y del revisionismo y tambin por el anlisis de las luchas entre las diferentes
fracciones ideolgicas dentro de los partidos obreros. Si para algunos historiadores se trataba de
describir y legitimizar las razones por las cuales el movimiento obrero haba elegido la va reformista
para cambiar las estructuras de desigualdad social, para otro grupo se trataba de buscar y reivindicar
la tradicin revolucionaria y de lucha de clases del movimiento obrero europeo.
De todas formas, los enfoques conceptuales y metodolgicos seguan siendo los de la historia
poltica, investigando la evolucin de las organizaciones polticas, su participacin en los debates
polticos de la poca, sus lderes, sus programas y sus ideologas.
III. Este tipo de historiografa representa hoy en da solamente un aspecto lateral de la investigacin
sobre el tema. Esto es debido a las inovaciones conceptuales y metodolgicas que ha supuesto la
introduccin de la Histria social a partir de los aos setenta. El supuesto bsico de esta corriente
historiogrfica consiste en el postulado de no interpretar el acontecimiento poltico como una esfera
autnoma, sino como el resultado de una determinada combinacin de estructuras econmicas y
sociales. Esta idea ha supuesto un cambio fundamental del paradigma historiogrfico, ya que se ha
empezado a investigar las estructuras econmicas y sociales como causa fundamental del cambio
social. La investigacin se centra en las estructuras econmicas y en los grupos sociales sustituyendo
la histria poltica tradicional. El campo preferido de la Histria social ha sido el anlisis de los
grandes procesos de transformacin social relacionados con la industrializacin y con la articulacin
de la sociedad de clases, con la formacin de la burguesa y de la clase obrera y con el surgimiento
de los conflictos entre ellos. Mediante la aplicacin de modelos tericos y dejando atrs una
historiografa meramente descriptiva, se intenta explicar la interdependencia entre las estructuras
econmicas, las estructuras de desigualdad social y las articulaciones polticas y culturales de los
diferentes grupos sociales.
195
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Con la introducin de la Histria social, la histria del movimiento obrero ha dejado de
investigar las organizaciones obreras para dedicarse a los obreros como grupo social. El objetivo
central es averiguar los factores econmicos y sociales que han causado la formacin de la clase
obrera como capa social claramente diferenciada de la clase burguesa, de la pequea burguesa, del
artesanado y de otros grupos sociales. Este proceso se ha entendido como un proceso de formacin y
de descomposicin continua, en el cual ha habido grupos que se integraban en la clase obrera y otros
que dejaban de pertenecer a aquella. Se intenta aislar los factores econmicos y sociales que
diferenciaban a los obreros de otros grupos, y los factores que causaban entre los obreros su
creciente homogeneidad y subsiguiente capacidad de organizarse en defensa de sus intereses
econmicos y polticos. Estas corrientes han surgido en todos los pases europeos; en Francia haban
sido desarrollados por la escuela vinculada a la revista Annales, y en Inglaterra haban sido
estimuladas por el estudio de E.P.Thompson sobre The making of the English Working Class,
publicado en 1963. Este libro describi la formacin de la clase obrera sobre la base de varios grupos
sociales, como eran los artesanos amenazados por el proceso de proletarizacin, grupos
pertenecientes a la heterodoxia protestante y luchadores por los derechos del hombre, la libertad de
asociacin y de prensa, grupos que mediante su movilizacin de protesta social iban formando una
clase social. Sin embargo, en este enfoque de Thompson, los factores que han causado la cohesin
entre los obreros son los elementos culturales y la experiencia de la protesta; la falta de una
integracin de los factores econmicos ha sido uno de los motivos de la crtica de los puntos de vista
de Thompson.
Una de las caractersticas de la Histria Social es su insistencia en desarrollar enfoques
tericos para analizar los procesos del cambio social. En gran medida influenciada por las ciencias
sociales, sobre todo por la Sociologia y por las Ciencias polticas, se ha definido una Ciencia Social
Histrica, orientada hacia los mtodos del anlisis sociolgico de grupos y clases sociales. Sobre la
base terica de anlisis marxista de las sociedades capitalistas se ha construido un modelo de
formacin de clases, ampliado por las teoras del socilogo alemn Max Weber. La ventaja de los
conceptas marxistas es el hecho de que relaciona y explica los cambios econmicos y sociales
promovidos por la industrializacin y la introduccin del capitalismo. Pero su debilidad es la doble
funcin del concepto de clase en Marx. Por un lado se trata de un concepto objetivo para el anlisis
de grupos econmicos y sociales. Por otro lado es un concepto subjetivo, de autodefinicin de la
clase obrera que implica expectativas teleolgicas sobre el desarrollo econmico, social y poltico de
las sociedades industriales. Este hecho merma su valor como categora analtica, porque implica un
determinismo histrico: la clase obrera en formacin tiene que actuar segn algunas pautas
definidas, y si no lo hace, es debido a su llamada falsa consciencia.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
196
El concepto de clase de Max Weber permite un anlisis ms detallado de las clases sociales
en el proceso de su formacin e interaccin. La categora central del concepto marxista para definir
la pertenencia a una clase es la posesin o la privacin de los medios de produccin. En la teora
weberiana, la pertenencia a una clase depende de la posicin del individuo en el mercado de trabajo
y de bienes de consumo, una posicin que determina sus intereses. As, por ejemplo, hay que
distinguir al obrero con una cualificacin artesanal y con medios de subsistencia adicionales - por
ejemplo un trozo de tierra - del obrero no-cualificado asalariado. Con este concepto se pueden
distinguir las diferencias de intereses dentro del grupo obrero mismo, en dependencia de su
definicin profesional, su origen regional y su ocupacin en sectores industriales y artesanales
diferentes. La cuestin central es saber cmo se produjo una cierta identidad de intereses entre las
diferentes capas obreras que llevaban a formas de organizacin conjunta. Tambim hay que tener en
cuenta la influencia de lealtades paralelas, como las religiosas, tnicas, generacionales y las de sexo.
Mediante esta categora es posible analizar la estructura de los diversos grupos, que a lo largo del
proceso de formacin de clase ha proporcionado su base social, pero tambin es un medio para
entender la descomposicin de las clases sociales en desarrollo de las sociedades industriales.
Preguntar por los procesos de formacin de clase es preguntar por las condiciones que
determinaban la capacidad de los obreros de organizarse y defender sus intereses, en vez de describir
sus formas de organizacin. Los historiadores sociales intentan definir los factores que han hecho de
un grupo social altamente heterogneo, como son los obreros, una unidad ms o menos homognea,
que ha sido capaz de construir una organizacin para defenderse. Analizando la introduccin de la
economa capitalista se puede ver, dnde confluan los intereses econmicos de diferentes sectores
obreros frente a los intereses del patrono. A la vez, la condicin de tabajador asalariado llevaba a la
formacin de lazos sociales entre los obreros, que eran debidos a su condicin obrera. La
construccin de barrios obreros dentro del proceso de urbanizacin, la marginacin social que se
expresaba mediante el impacto de ciertas enfermidades tpicamente obreras, el crecimiento de lazos
familiares entre grupos obreros de formacin y cualificacin diferente, produjo una serie de
experiencias comunes. Es de suponer que la acumulacin de estos factores sociales aument la
probabilidad de que el obrero se diese cuenta de que comparta su condicin social con otros obreros
asalariados. Es decir, no solamente la condicin dependente del trabajador asalariado, sino tambim
su percepcin del entorno social pudo ser la causa para la accin colectiva. Solamente cuando estos
criterios econmicos y sociales diferencian a los obreros claramente de la burguesa y de otros
grupos sociales es legtimo hablar de una clase obrera. El paso terico de este modelo de ms difcil
comprobacin emprica es el de la toma de consciencia del obrero, ya que para verificar sta hacen
197
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
falta fuentes de los obreros mismos, hablando de su percepcin de la situacin social. Debido a que
estas fuentes son muy escasas, los historiadores han recurrido al mtodo de la prueba indirecta.
Estas propuestas conceptuales exigen un proyecto de investigacin altamente complejo. Las
cuestiones se centram en una diversidad infinita de aspectos, tanto en la vida dentro del trabajo como
en la vida fuera del trabajo. Para conoecer la estructura interna del estrato obrero hay que analizar
factores como la procedencia, la formacin profesional, la estabilidad en el empleo, las formas de
subsistencia, la evolucin de los ingresos y del mercado del trabajo, el tamao de los talleres y de las
fbricas, las posibilidades de ascenso profesional y la movilidad de los obreros. Estas informaciones
se consiguen en gran medida a travs de fuentes estadsticas, como los registros urbanos, las
estadsticas industriales, los censos de problacin y de migracin y los anuarios estadsticos. As es
posible conocer la situacin en el mercado de trabajo de los grupos obreros de formacin y de
sectores industriales diferentes y la mejora o el deterioro de su posibilidad de defender su nivel de
vida y su estatus dentro de un sistema de desigualdad social. Fuera de la vida del trabajo se analizan
elementos como la localizacin de la vivienda obrera dentro del espacio urbano, formas especficas
de vivir, la estructura de los matrimonios y el aumento del conubio (matrimonios dentro del mismo
grupo social), la estructura familiar segn el numero de hijos, su formacin escolar y profesional y
las estructuras de la sociabilidad. Con la cuantificacin de los datos se puede demostrar, en qu
medida los obreros estaban confrontados con condiciones de vida cada vez ms semejantes. Sin
embargo, la prueba de que se iba formando una conciencia de clase es la parte ms dificil, ya que
solamente en pocos casos hay fuentes biogrficas de los obreros mismos que hablen sobre la
percepcin de su situacin social. Normalmente el investigador intenta lograr una densidad mxima
de datos sobre los cambios en las estructuras sociales y los combina con los testimonios obreros
accesibles. Otro mtodo es el recurso a fuentes adicionales, como puede ser la prensa burguesa,
haciendo una lectura crtica y teniendo en cuenta su percepcin especficamente burguesa de la clase
obrera. Luego se analiza la movilizacin sindical o poltica de los obreros, tomando los conflictos
sociales y laborales como una prueba de que haba una cierta coherencia y la capacidad para la
accin colectiva entre los trabajadores. Los orgenes y las causas de estos conflictos normalmente
dan informaciones sobre los intereses concretos de la movilizacin obrera y su percepcin de la
situacinn social. Es decir, la investigacin del conflicto social sirve como pieza de unin entre la
historia de los obreros y la historia del movimiento obrero. Relacionando los resultados sobre la
siuacin econmica concreta de los obreros, sus intereses especficos segn industrias, se pueden
analizar sus formas de accin, sus objetivos en las luchas, y tambin las opciones polticas
emprendidas. Con esto, la discusin de los
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
198
programas polticos y de las fracciones ideolgicas dentro del movimiento obrero tienen solamente
un lugar secundario, siempre enfocada hacia las estructuras socioeconmicas que los motivan.
La complejidad de este tipo de anlisis ha tenido la consecuencia, que en medida creciente se
estn llevando a cabo estudios regionales y locales. Otro enfoque se concentra en el anlisis del
desarrollo de grupos profesionales, de obreros de determinadas industrias o del trabajo en empresas
especiales. Existe una cantidad de estudios comparativos entre dos o ms ciudades o regiones y entre
grupos profesionales diferentes. Sin embargo, el enfoque preferido ha sido el del estudio local, ya
que dentro de este marco se puede observar la interrelacin de los grupos sociales, su cambio
estructural y la forma del conflicto social y poltico. As por ejemplo se ha podido investigar, en qu
medida haba una relacin entre las organizaciones de los trabajadores urbanos preindustriales y las
primeras organizaciones genuinas del movimiento obrero. Se ha visto que en las primeras etapas
predominaba un tipo de obrero cualificado, con tradiciones organizativas preindustriales y una
cualificacin profesional que le proporcionaba una posicin de negociacin frente al maestro y le
habilitaba para la defensa de sus intereses. Pero tambin la defensa del estatus social era un motivo
importante para la movilizacin de los obreros cualificados que han sido un grupo clave para la
construcin de las primeras organizaciones obreras. Solamente a finales del siglo XIX las grandes
masas de obreros de fbrica sin cualificar ganaban un peso mayor con la formacin de grandes
sindicatos de masa. Tambin se poda comprobar que en ciertas regiones ha habido una influencia de
lealtades religiosas o tnicas sobre el proceso de formacin de clase. En cambio, se ha llegado
tambin a una valoracin ms positiva del sindicalismo catlico, vindolo como un compromisso
entre las lealtades de clase y religin de los obreros.
Dentro de la historia social se han estabelecido unos campos de investigacin especiales. Uno
de ellos es el anlisis del conflicto social que trata la relacin entre determinadas estructuras de
desigualdad social y el conflicto colectivo. Abarca sobre todo formas del conflicto preindustrial con
niveles de organizacin bajas, como por ejemplo las protestas y las revueltas populares contra el
precio de las subsistencias y el aumento de los impuestos. En cambio, la investigacin de la huelga
discute el desarrollo del conflicto industrial, con formas ms racionalizadas y niveles de
organizacin ms altos y pregunta por su importancia como punto de partida de la organizacin
sindical. Un tema de discusin actual es la cuestin si el conflicto industrial tiene como
consecuencia necesaria la formacin de organizaciones sindicales y patronales, el establecimiento de
canales de negociacin colectiva para su resolucin y la creacin de un equilibrio entre los intereses
del capital y del obrero mediante la construccin de el
199
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
sistema del convenio colectivo dentro de la legislacin del estado de Bienestar. Hoy en da parece
claro, que el conflicto industrial depende en primer lugar de la coyuntura econmica y se caracteriza
por fases de una conflictividad industrial alta es perodos de depresin econmica. As, el
estabelecimiento del Estado de Bienestar es ms bien un proceso discontinuo, que se lleva a cabo
entre fases de una conflictividad reducida y fases ms discutidas.
Otra materia de investigacin que se ha establecido sobre todo en la historiografa
angloamericana se denomina Industrial Relations y analiza las estructuras y relaciones sociales que
crea el proceso da la producin industrial. Se centra en las relaciones entre obreros e industriales,
entre sus asociaciones respectivas, la actuacin del estado y las posibilidades de ejercer influencia
sobre l. Tambin se analiza el desarrollo del conflicto industrial, orientado a la actuacin del estado,
tanto respecto a su poltica econmica y legislativa, condicionando as el marco para las reformas de
produccin, como respecto a su actitud frente a las organizaciones de intereses patronales y obreras.
Pero este enfoque no trata explcitamente el proceso de la formacin de clases en sus dimensiones
sociales y econmicas; el proceso del cambio de las estructuras sociales en la sociedad industrial
solamente forma una cuestin lateral dentro de este enfoque.
La inovacin ms importante de la Historia Social ha sido el basarse en modelos tericos que
han dejado atrs una historiografa descriptiva y narrativa. Hoy en da prevalecen los enfoques
analticos que intentan explicar las relaciones e influencias recprocas entre factores econmicos,
sociales, culturales y polticos en la formacin de la sociedad moderna, tratando a aclarar el rol y la
importancia especfica que ha tenido la clase obrera y su organizacin dentro de este proceso en
relacin con otros grupos sociales. Sin enbargo, hay que reconocer, que casi todos los estudios han
tenido como marco de interpretacin implcito el desarrollo de las sociedades industriales modernas.
Analizando la emancipacin econmica y poltica de la clase obrera, su integracin y su creciente
participacin en la articulacin de su voluntad poltica, junto a la democratizacin de los sistemas
polticos y la organizacin y nivelacin de los conflictos de clase por medidas de previsin social.
Este ha sido el proceso identificado como bsico en los ltimos dos siglos. Es decir, la interpretacin
de la historia del movimiento obrero ha enfocado un desarrollo de la sociedad dirigido hacia la
construcin del Estado de Bienestar, interpretado como proceso modernizador hacia el progreso
social.
IV. Precisamente esta lnea de interpretacin ha sido una de las causas para el desenvolvimiento de
una corriente crtica de la Historia Social del movimiento
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
200
obrero a partir de los aos ochenta, una tendencia que ha conducido al desarrollo de nuevos
conceptos y mtodos. Despus de la euforia de las teoras de la modernizacin de los aos sesenta y
setenta, baseadas sobre el ciclo de expansin industrial y los conceptos del desarrollo mundial, a
partir de los aos ochenta se ha empezado a insistir sobre los aspectos negativos y los costes del
desarrollo. Por un lado es evidente, que el crecimiento industrial de las sociedades europeas
solamente ha sido posible a costa de las reservas humanas e econmicas del Tercer Mundo, y
tambin en el Primer Mundo se han visto las caras feas de la modernizacin, como el aislamiento del
individuo, el predominio de la tecnologa, el consumo de massas, etc.
La historiografa del movimiento obrero ha sido el centro de las crticas. Se le ha inculpado
de perderse en modelos tericos, que no tendran nada que ver con la existencia real de los obreros,
de basarse demasiado en mtodos cuantificativos, detrs de los cuales sera imposible percibir la
situacin de opresin y pobreza del trabajador. Otro reproche es que conforme a su concepcin del
progreso social, han sido investigados solamente los grupos obreros que haban sido capaces de
defender sus intereses a lo largo de la industrializacin y que haban logrado conseguir una
representacin econmica y poltica. En cambio, los grupos marginalizados, como los obreros sin
cualificar, los vagabundos, las mujeres y los parados, pero tambin los grupos que en la
industrializacin haban sido alienados de sus costumbres populares, de identidades tnicas o
regionales, de formas de comunicacin tradicionales y de estructuras de comunidad intactas, haban
sido silenciados para poder presentar la transformacin de la sociedad como xito y progreso social.
Con el intento de rescatar del olvido la historia de los perdedores y las vctimas del progreso
industrial, se ha empezado a desarrollar nuevos conceptos y un cambio del paradigma historiogrfico
que se conoce como Historia de la vida cotidiana. La reivindicacin central de esta tendencia es
reconocer que la vida del individuo no ha sido determinada exclusivamente por los grandes cambios
de la industrializacin, sino en primer lugar por el acontecer cotidiano, la rutina del trabajo, la vida
familiar, la comunidad vecinal, la lucha por la subsistencia diaria, las fiestas, la sociabilidad y las
costumbres y valores tradicionales. Solamente entendiendo la estructura de las formas de vida diaria,
as se dice, se puede llegar a entender las posibilidades que tena el individuo para reaccionar en lo
cotidiano frente al cambio de su entorno tradicional. Los historiadores de la vida cotidiana quieren
verificar esta pretensin modificando la interpretacin del rol del individuo dentro del proceso
histrico, dejando de tratarlo como objeto del proceso histrico, dependiente de las estructuras
econmicas y sociales, sino como sujeto, como centro y creador de la historia.
201
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
Esto nos lleva a la investigacin de las dimensiones de la vida cotidiana en perspectiva
histrica, tratando las estructuras socioeconmicas, las instituciones y organizaciones obreras ms
bien como aspecto lateral. El centro del debate lo constituyen la vida cotidiana obrera, la cultura
obrera y las mentalidades obreras, abarcando materias como las formas de comunicacin en el
puesto de trabajo, pero sobre todo la vida fuera del trabajo, como las costumbres de nutricin y de
consumo, la vivienda obrera, hbitos de ocio, fiestas, sociabilidad, relaciones vecinales, la vida
familiar, la relacin entre hombre y mujer, la sexualidad y los conflictos de las generaciones. Dentro
de la vida diaria, los historiadores intentan percibir estructuras informales de solidariedad y seales
de protesta disimulada en contra de los efectos de la racionalizacin del mundo. Hay una tendencia
muy clara hacia la microhistoria; la mayora de los estudios se centra en el anlisis de las fuentes
biogrficas accesibles y de memorias de obreros, muchas veces en forma de estudios ejemplares de
unos individuos, con toda la individualidad que supone este material. Adems se han hecho estudios
sobre comunidades vecinales, la vida en pueblos pequeos; es decir, se iba reforzando la tendencia
hacia la parcelacin del trabajo histrico.
Los resultados de esta lnea de investigacin han sido ambivalentes, pero en parte
interesantes. El intento de entender fenmenos sociales como una forma de protesta individual
contra la racionalizacin del mundo de trabajo industrial ha producido una nueva interpretacin por
ejemplo del consumo de alcohol en el trabajo: no solamente como indicador de la marginalizacin
social, sino como una forma indirecta del sabotaje al trabajo. Lo mismo pasa con el fenmeno del
cambio frecuente del puesto de trabajo por los obreros, que no se interpreta como consecuencia de
las fluctuaciones del mercado de trabajo, sino como protesta contra las condiciones laborales. La
indisciplina de los trabajadores en el trabajo y su resistencia a someterse a un horario de trabajo fijo
puede haber sido un intento de mantener los ritmos tradicionales del trabajo, bloqueando los intentos
de los fabricantes de someter a los trabajadores a una disciplina del trabajo en la fbrica. En cambio,
desde la perspectiva de la Historia de la vida cotidiana, las organizaciones obreras aparecan en una
luz ambivalente, fuertemente identificados con los grupos sociales capaces de defender sus intereses,
distancindose de los obreros no cualificados, de los trabajadores eventuales y del llamado Lumpenproletariat, que en su opinin no eran capaces a la accin colectiva, marginando de esta forma
grandes partes de la clase obrera. Tambin es visible que las organizaciones obreras tendan a
rechazar tradiciones populares preindustriales, propugnando una idea del progreso social dentro de la
sociedad industrial, a veces en contra de la voluntad de los obreros mismos. Es decir, el movimiento
obrero mismo ha tenido una actitud disciplinadora, adiestrando a los obreros para los modos de
comportamiento de la sociedad industrial. Ejemplos sobre conflictos entre
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
202
los lderes obreros y la base social de las organizaciones igual no son la tnica predominante dentro
del movimiento obrero, pero nos dan informaciones sobre los valores reinantes entre la cpula
dirigente. En resumen, la investigacin de la vida cotidiana tiene la ventaja de demonstrar, que los
modos de actuacin de los obreros no siempre han surgido de clculos racionales, buscando la
manera ms adecuada de representar sus intereses, sino que ha habido reacciones, que incluso
contradecan este fin; una advertencia a la Historia social de no infravalorar el factor de las
emociones humanas.
Uno de los xitos ms claros del mtodo ha sido la promocin de la Historia Oral,
investigando las formas de la vida diaria y la percepcin del proceso histrico por los
contemporneos. Este mtodo tambin ha sido una solucin del problema de que muchas de las
cuestiones discutidas por la historia de la vida cotidiana carecan de una base documental amplia.
Otra ventaja de la Historia de la vida cotidiana es el valor didctico de este tipo de trabajo. El gran
inters que existe en exposiciones y literatura sobre este tema se explica, porque el expectador puede
comparar sus propias experiencias con las de generaciones pasadas, cosa que parece ser ms facil
con aspectos de la vida cotidiana que con aspectos de la historia poltica. La Historia Social en
cambio trata materias muy abstractas, con lo cual es difcil ilustrar estructuras sociales. Es decir,
temas de la historia de la vida cotidiana pueden servir para salir de las discusiones acadmicas y
estimular el inters de la poblacin para descubrir sus races histricas.
Sin enbargo, este concepto historiografco tambin tiene una serie de desventajas que han
impedido su establecimiento como disciplina independiente. Su defecto ms grave es la falta de
valor analtico de la categoria vida cotidiana. Adems es imposible hacer una definicin de una
vida cotidiana que no dependa tamben de las estructuras socioeconmicas, porque por lo menos el
trabajo y su organizacin, movimientos demogrficos y depedencias econmicas son el resultado de
las estructuras, no de la accin del individuo en su vida cotidiana. Es imposible aislar la vida diaria
de los contextos ms grandes y hacer una interpretacin autnoma. En relacin con esta cuestin hay
que insistir en que la falta de enfoque terico del concepto resulta ser uno de sus debilidades ms
destacadas. La investigacin de la vida diaria siempre va a tener una forma descriptiva, ya que relata
la vida y los sentimentos de uno o de varios individuos, y su ampliacin solamente puede tener una
forma aditiva, sin ganar fondo explicativo. Adems se da el problema de la representatividad, porque
se dan una infinidad de experiencias obreras individuales, y adems el concepto no proporciona
criterios para hacer una selecin de los aspectos importantes y para relacionarlos con otras cuestiones
de la poca. Lo que est claro, es que la Historia de la vida cotidiana no sirve para explicar los
grandes procesos de trasformacin
203
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
social, que no tienen races en acontecimientos cotidianos, como son la industrializacin, la
racionalizacin tecnolgica, el surgir de la poltica de massas y la burocratizacin. Incluso si se
admite que con este concepto se han descubierto aspectos nuevos de la vida obrero, queda un defecto
fundamental. El enfoque prioritario en la historia de la vida cotidiana es el choque entre el mundo
tradicional, preindustrial y el mundo moderno y racionalizado. Esta perspectiva tiende a infravalorar
en una medida inaceptable las lneas de conflicto que han sido mucho ms importantes a lo largo de
los ltimos dos siglos: el conflicto de intereses en el mundo capitalista y las luchas entre los grupos
de inters. Adems hay que tener en cuenta que uno de los procesos ms importantes de este perodo
ha sido la formacin y la emancipacin de la clase obrera, y que este proceso de emancipacin
tambin ha sido el de la emancipacin poltica. Es decir, no se puede dejar aparte la investigacin de
la esfera poltica a travs de la actuacin de organizaciones polticas, para entender la historia del
movimiento obrero.
Para resumir, se puede decir que el debate ha tenido frutos positivos. Aunque los
historiadores de la vida cotidiana no han podido defender todo el concepto, han provocado una
ampliacin definitiva de los temas que han sido integrados en la Historia Social, reconociendo que
la investigacin de la cultura obrera, de valores y mentalidades, de la vida cotidiana tienen un peso
distinguido sobre las pautas de actuacin de los obreros. Estos temas han sido incluidos en la
investigacin, aunque hay que diferenciar varias reas. Primero, se puede investigar la cultura del
movimiento obrero, refirindose a las organizaciones y asociaciones culturales del movimiento
obrero, como pueden ser grupos musicales, de teatro, asociaciones deportivas, asociaciones de
instruccin y formacin profesional, crculos literarios y de recreo. Se puede preguntar, en qu
medida este tipo de asociacionismo ha servido para integrar al trabajador dentro del movimiento
obrero, dndole una posibilidad de identificarse con l. Otra cueston es, si este tipo de
asociacionismo ha ido adaptando caractersticas de la cultura burguesa o pequeoburguesa, o si ha
servido como contra-cultura, para distanciarse de los valores culturales de la burguesa. Sin embargo,
la cultura del movimiento obrero solamente abarca los obreros organizados, mientras que la
investigacin de la cultura obrera es un campo mucho ms amplio.
Al mismo tiempo se puede percibir una ampliacin del concepto de cultura, dejando atrs la
definicin acuada por la burguesa, refirindose a la literatura, el arte y la msica. Bajo el trmino
de cultura hoy en da se entieden prcticamente todas las dimensiones de la vida diaria: los hbitos
de comer y de consumo, las formas de hablar, canciones, formas de sociabilidad y de las fiestas, las
formas de vivienda, formas de vida juveniles, la sexualidad, formas de ocio, deporte, educacin y
religin. Para no perderse en la jungla de las articulaciones
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
204
culturales es necesario definir lo que puede ser la cultura obrera, para poder formular cuestiones
claras sobre la materia. Para una investigacin concreta de manifestaciones culturales se propone
aquellas que no pertenecen a la esfera de la economa, de la estructura social y de la poltica, y que
pueden ser analizadas en relacin con estas estructuras, manifestaciones que no son sometidas a
modificaciones bruscas y por lo tanto se transmiten entre las generaciones, y que son propios a una
determinada clase social. Dentro de esta definicin cabe la cultura festiva de los mineros alemanes y
la historia de las canciones obreras. La funcin del concepto de la cultura dentro de la Historia Social
tiene dos vertientes:
Primero, se puede preguntar, si aparte de factores econmicos y sociales haba tradiciones
culturales que ayudaban a estrechar los lazos entre los diferentes grupos de la clase obrera en
formacin, o si en cambio a la transmisin de tradiciones y valores de estatus preindustriales poda
evitar la incorporacin de determinados grupos en la clase obrera.
Segundo, el concepto de cultura puede ser un medio para investigar cmo funcionaba el
proceso de conscienciacin del obrero. Puede que en las manifestaciones culturales se descubran las
primeras reacciones respecto a la percepcin obrera de las estructuras socioeconmicas, antes de las
articulaciones polticas. En este sentido, la cultura sera un enlace entre la historia de los obreros y
del movimiento obrero.
V. Para hacer un resumen de la situacin actual de la historiografa sobre el movimiento obrero se
pueden resaltar las observaciones siguientes:
1. En las ltimas dos dcadas la historiografa ha visto una expansin tremenda. Ha incluido cada
vez ms temas y materias de investigacin, en parte como reaccin a la discusin del tema de la vida
cotidiana, que ahora est perfectamente integrado en la Historia Social. Muchos aspectos de la
historia social de la clase obrera entretanto casi han adquirido el estatus de disciplinas
independientes, como la historia demogrfica, la historia de la tecnologa, la historia de la movilidad
social, la sociologa industrial, la historia de la nutricin y del consumo, la historia de la vivienda, la
historia de la socializacin y de la educacin, la historia de la enfermedad.
2. Esta variedad creciente ha aumentado nuestro conocimiento sobre los obreros de una forma
extraordinaria. Sin embargo, tambin se puede notar una tendencia a la dispersin de la
investigacin, la cara negativa de la dedicacin a estudios locales y
205
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
sectoriales. La microhistoria es capaz de proporcionar informacin muy detallada y densa sobre las
condiciones de vida y las formas de accin de los obreros, pero tiene la desvantaja, que el
investigador ya no puede controlar la cantidad de las publicaciones y resultados de investigacin.
Adems, cada estudio local o sectorial resalta unas explicaciones particulares y especficas sobre el
proceso de formacin del movimiento obrero en una ciudad o en un sector industrial, con lo cual la
imagen de esta clase social cada vez es ms heterognea y ms difusa. Con todos los esfuerzos de
resaltar la variedad de la clase obrera y de obneter una imagen diferenciada, ha de ser posible de
definir sus caractersticas bsicas, para entender las formas de la emancipacin econmica y poltica
de la clase obrera.
3. Tambin hay que advertir que no hay que sobrevalorar el peso de las estructuras como causas del
cambio social. La tendencia de recurrir exclusivamente a las estructuras econmicas y sociales a
veces hace olvidar, que tambin hay una esfera poltica, que se forma en dependencia de las
estructuras, pero que puede tener un peso especfico dentro del proceso historico. Las estructuras
pueden explicar mucho, pero no todo. Total, la emancipacin de la clase obrera ha sido tambin un
proceso poltico, y este siempre hay que ser el enfoque ltimo. Lo que hay que hacer en la
historiografa del movimiento obrero es una sntesis que logre un equilibrio entre el anlisis de las
estructuras socioeconmicas, los factores y acontecimientos polticos y los elementos culturales.
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
206
RESENHA
BIZIRE, J.-M. & SOL, J. Dictionnaire des Biographies. La France Moderne. Paris: Armand
Colin, 1993. 262 p. vol. 3.
MARCOS ANTNIO LOPES
Mestrando em Histria - USP
Concebido num esprito de praticidade acadmica, e convenincia editorial, o trabalho de
Jean-Maurice Bizire e Jacques Sol tem como objetivo precpuo preencher o vazio bibliogrfico
existente em torno de obras condensadas que reunam o tradicional catlogo das grandes
individualidades. Como se referem os autores foi observando, ano aps ano, os estudantes que se
engajavam nos estudos superiores sem possuir os elementos de uma cultura histrica de base,
experimentar as piores dificuldades para adquirir um nvel de conhecimentos satisfatrios, que a
idia desta coleo de dicionrios se imps; sem cair na exposio estril de datas e eventos,
tampouco na alta especializao das biografias especficas ou mesmo na aridez das antigas e grossas
enciclopdias, o Dicionrio desses dois professores da Universit de Grenoble um convite sedutor
histria cultural da Frana na Idade Clssica e poca da Ilustrao.
Produzida dentro de um amplo projeto, programado para seis tomos, que cobre a histria da
civilizao desde a Antigidade ao sculo XX, o nmero 3 bem equilibrado tanto na linguagem
quanto no volume do texto. Os autores oferecem o essencial sobre cada personalidade, abordada com
o esforo, alis bem sucedido, de inseri-la em seu contexto cultural. No caso especfico dos grandes
escritores e dos autores menores so desenvolvidas pequenas snteses de suas obras, maneira de um
quem quem na Frana Moderna. A boa impresso que se tem que as biografias apresentadas
pertenceram a um contexto especfico, a uma poca marcada por traos que a individualizam em
relao a outras, constituindo-se na histria de homens que viveram e atuaram em seu prprio
tempo. Em outras palavras, cada verbete sintomtico de uma histria viva e pulsante, fugindo
completamente ao esquema meramente cronolgico dos dicionrios tradicionais. Alm disso, a obra
rene elementos que pertencem a vrias esferas da atividade humana. No domnio da histria
cultural, por exemplo, possvel se deparar com um Duque de Saint-Simon, figura de enorme
expresso na sociedade de corte de
207
LPH: REVISTA DE HISTRIA. N5, 1995
fins do sculo XVII, mas praticamente desconhecida pelos manuais da Histria Moderna. Nota-se,
contudo, pelo menos uma grande ausncia: a do moralista Jean de La Bruyre, uma das maiores
prolas da literatura francesa, autor de Les caractres ou les moeurs de ce sicle, uma ampla coleo
de retratos da vida de corte que, explorando preferencialmente os ngulos grotescos dos costumes da
corte de Lus XIV, revela aspectos importantes do ethos desse meio social.
Certamente que o texto peca bastante por um certo virtuosismo de sntese, que em alguns
casos chega ao ponto de uma brevidade quase telegrfica. Entretanto, oferece farto material para a
aquisio de uma vasta cultura e para a formao de um quadro histrico habitado por homens de
carne e osso, se afastando de um vcio historiogrfico ainda muito celebrado pelos manuais de
Histria Moderna, o das amplas anlises estruturais, que percorrem trs sculos inteiros de histria,
mas deixando nas sombras contextos histricos especficos e realidades regionais importantes. Dessa
forma, o Dicionrio de Bizire e Sol constitui-se numa espcie de corretivo contra certas tiranias
da longue dure.
Вам также может понравиться
- Kátia Gerab Baggio - A Outra América - Tese de Doutorado - USP - Defesa Em1999Документ226 страницKátia Gerab Baggio - A Outra América - Tese de Doutorado - USP - Defesa Em1999kátia_baggio50% (2)
- Rebeldes PrimitivosДокумент290 страницRebeldes PrimitivosLetícia SallorenzoОценок пока нет
- Jardins HolandesesДокумент14 страницJardins HolandesesThiago Afonso100% (2)
- DISSERTAÇAO ARIEL (Publicação) CorreçõesДокумент137 страницDISSERTAÇAO ARIEL (Publicação) CorreçõesAriel Tavares PereiraОценок пока нет
- O Diario de John Wesley O Pai John WesleyДокумент459 страницO Diario de John Wesley O Pai John Wesleyd92b80% (5)
- O pecado original da república: Debates, personagens e eventos para compreender o BrasilОт EverandO pecado original da república: Debates, personagens e eventos para compreender o BrasilОценок пока нет
- Victor Turner - Planos de Classificação RitualДокумент58 страницVictor Turner - Planos de Classificação RitualSilvia GomesОценок пока нет
- Reflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxОт EverandReflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxОценок пока нет
- (A) RÉMOND, René - Por Que A História PolíticaДокумент2 страницы(A) RÉMOND, René - Por Que A História Políticasandrinco4640Оценок пока нет
- BESSELAAR, José Van Den, - Introdução Aos Estudos HistóricosДокумент732 страницыBESSELAAR, José Van Den, - Introdução Aos Estudos HistóricosMaria Cristina100% (6)
- Encantaria e JuremaДокумент6 страницEncantaria e JuremaMauricio Cruz100% (1)
- A História Da Águia e A GalinhaДокумент2 страницыA História Da Águia e A GalinhaanaliviabvОценок пока нет
- Dissertação CPDOC Christianne Theodoro de Jesus - LEITURAДокумент122 страницыDissertação CPDOC Christianne Theodoro de Jesus - LEITURAMirellaRibeiroОценок пока нет
- Um Diálogo Com o Além-Mar: Entrevista Com o Professor Nuno Gonçalo MonteiroДокумент3 страницыUm Diálogo Com o Além-Mar: Entrevista Com o Professor Nuno Gonçalo MonteirotemporalidadesОценок пока нет
- Adeus A Um Gigante - Revista de História - Entrevista Com Ciro Flamarion CardosoДокумент8 страницAdeus A Um Gigante - Revista de História - Entrevista Com Ciro Flamarion CardosoIsaac WhitecoffeeОценок пока нет
- Jose Miguel Nanni SoaresДокумент289 страницJose Miguel Nanni SoaresRaymond LullyОценок пока нет
- Monografia Douglas - Completa PDFДокумент99 страницMonografia Douglas - Completa PDFDouglas CoutinhoОценок пока нет
- O tempo do Poeira: História e memórias do jornal e do movimento estudantil da UEL nos anos 1970От EverandO tempo do Poeira: História e memórias do jornal e do movimento estudantil da UEL nos anos 1970Оценок пока нет
- A história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoОт EverandA história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoОценок пока нет
- Bento Prado Na ContramaoДокумент18 страницBento Prado Na ContramaoCarlosFernandesОценок пока нет
- 09 História Oral ThomsonДокумент10 страниц09 História Oral ThomsonSheila SilvaОценок пока нет
- Artigo - em Andamento História Das MentalidadesДокумент12 страницArtigo - em Andamento História Das Mentalidadessaulo FerreiraОценок пока нет
- FALCON - A Identidade Do HistoriadorДокумент26 страницFALCON - A Identidade Do HistoriadorAryana CostaОценок пока нет
- Berenice Cavalcante A Revolucao Francesa e A Modernidade PDFДокумент88 страницBerenice Cavalcante A Revolucao Francesa e A Modernidade PDFTiagoОценок пока нет
- A Contribuição de EP ThomsonДокумент14 страницA Contribuição de EP ThomsonFernando Bartholomay FilhoОценок пока нет
- 9-Terceira Geração Dos AnnalesДокумент6 страниц9-Terceira Geração Dos Annalesleandro.squallОценок пока нет
- Catalogo de LivrosДокумент144 страницыCatalogo de LivrosVital SilvaОценок пока нет
- Espelhos para a ditadura: o golpe de 1964 no Brasil como notícia internacional na imprensa ArgentinaОт EverandEspelhos para a ditadura: o golpe de 1964 no Brasil como notícia internacional na imprensa ArgentinaОценок пока нет
- "Ensino e Pesquisa em História": Entrevista Com Maria Yedda Linhares (Revista Arrabaldes, No 1, Maio/agosto 1988)Документ7 страниц"Ensino e Pesquisa em História": Entrevista Com Maria Yedda Linhares (Revista Arrabaldes, No 1, Maio/agosto 1988)Castro RicardoОценок пока нет
- Ação Direta: Uma Etnografia - PrefácioДокумент12 страницAção Direta: Uma Etnografia - PrefácioEduardo AndradeОценок пока нет
- História CulturalДокумент58 страницHistória CulturalDilza PortoОценок пока нет
- HISTORIOGRAFIA - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosДокумент4 страницыHISTORIOGRAFIA - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosCristiane AquinoОценок пока нет
- Febvre3 1 PBДокумент19 страницFebvre3 1 PBAmílcar CarpioОценок пока нет
- 2010 AnaLeticiaAdamiBatistaДокумент419 страниц2010 AnaLeticiaAdamiBatistaalexandrebetОценок пока нет
- Dimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaОт EverandDimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaОценок пока нет
- Lucien Febvre No Caminho Mentalidades.Документ19 страницLucien Febvre No Caminho Mentalidades.Marcos PauloОценок пока нет
- Retornar À História - FoucaultДокумент7 страницRetornar À História - FoucaultCláudia AlvesОценок пока нет
- STONE Lawrence O Ressurgimento Da Narrativa PDFДокумент26 страницSTONE Lawrence O Ressurgimento Da Narrativa PDFRogério Ivano100% (2)
- LPH - Revista de História - V.20Документ353 страницыLPH - Revista de História - V.20MarcioSuarezОценок пока нет
- A Colonização como Guerra: Conquista e Razão de Estado na América Portuguesa (1640-1808)От EverandA Colonização como Guerra: Conquista e Razão de Estado na América Portuguesa (1640-1808)Оценок пока нет
- Brasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoОт EverandBrasil: Terra da Contrarrevolução – Revolução Brasileira e Classes Dominantes no Pensamento Político e SociológicoОценок пока нет
- Mimesis v19 n1 1998Документ154 страницыMimesis v19 n1 1998Fabio Fernanda NetoОценок пока нет
- Jorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Документ244 страницыJorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Anne Nobre0% (1)
- A Situação Atual Na AL, Horacio GonzalesДокумент22 страницыA Situação Atual Na AL, Horacio GonzalesJavier LifschitzОценок пока нет
- Immanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoДокумент15 страницImmanuel Wallerstein - Trajetória Intelectual e Política - Margem Esquerda Entrevista - Blog Da BoitempoMauricioОценок пока нет
- A Queda Do Aventureiro - Aventura, Cordialidade e Os Novos Tempos em Raízes Do BrasilДокумент268 страницA Queda Do Aventureiro - Aventura, Cordialidade e Os Novos Tempos em Raízes Do BrasilJoao Filho PinheiroОценок пока нет
- GOFF, Jacques Le Confiança No Século 21Документ16 страницGOFF, Jacques Le Confiança No Século 21Mauro Baladi100% (1)
- Priscila Gomes CorreaДокумент11 страницPriscila Gomes CorreaMille LessaОценок пока нет
- O Conceito de Experiência Histórica em Edward ThompsonДокумент11 страницO Conceito de Experiência Histórica em Edward Thompsonsaraurrea0718Оценок пока нет
- Escola Dos Annales e o Conhecimento HistóricoДокумент5 страницEscola Dos Annales e o Conhecimento HistóricoSabrina RodriguesОценок пока нет
- Antonio Paulo Benatte - História e Antropologia No Campo Da Nova HistóriaДокумент25 страницAntonio Paulo Benatte - História e Antropologia No Campo Da Nova HistóriaJosé BrasilОценок пока нет
- Adelino - Pela Educação e Pelo Trabalho E Outros Escritos (Intro)Документ22 страницыAdelino - Pela Educação e Pelo Trabalho E Outros Escritos (Intro)Profe ViníciusОценок пока нет
- TEXTO 10 - STONE, L. O Ressurgimento Da Narrativa PDFДокумент23 страницыTEXTO 10 - STONE, L. O Ressurgimento Da Narrativa PDFMurilo GarciasОценок пока нет
- Historia Do Cotidiano 07.07.11Документ252 страницыHistoria Do Cotidiano 07.07.11manuel mandebОценок пока нет
- Ebook - O Golpe de 64Документ394 страницыEbook - O Golpe de 64Nodge Holanda100% (1)
- José de Souza MartinsДокумент7 страницJosé de Souza MartinsAlexandre Araujo BispoОценок пока нет
- Memorial Juarez GuimarãesДокумент17 страницMemorial Juarez GuimarãesAndré DrumondОценок пока нет
- Adauto Novaes - Intelectuais em Tempos de IncertezaДокумент8 страницAdauto Novaes - Intelectuais em Tempos de IncertezaAuana DinizОценок пока нет
- História e ProsopografiaДокумент10 страницHistória e Prosopografiabianca2502Оценок пока нет
- Fernando CatrogaДокумент19 страницFernando CatrogaMariana Mata PassosОценок пока нет
- Lindes Teóricas Da Teoria Da ResidualidadeДокумент10 страницLindes Teóricas Da Teoria Da ResidualidadeTitoBL100% (3)
- 1 PBДокумент14 страниц1 PBPedro PuntoniОценок пока нет
- Resenha - o Que É Afinal Estudos CulturaisДокумент7 страницResenha - o Que É Afinal Estudos CulturaisAna Paula Santos100% (3)
- BAHIA, Claudio L. M. Identidade, Lugar e Paisagem Cultural PDFДокумент13 страницBAHIA, Claudio L. M. Identidade, Lugar e Paisagem Cultural PDFMaria CristinaОценок пока нет
- Descendentes de Manoel Gonçalves Correia - Pafn10 - Generated by Personal Ancestral FileДокумент8 страницDescendentes de Manoel Gonçalves Correia - Pafn10 - Generated by Personal Ancestral FileMaria CristinaОценок пока нет
- Descendentes de Manoel Gonçalves Correia - Pafn10 - Generated by Personal Ancestral FileДокумент8 страницDescendentes de Manoel Gonçalves Correia - Pafn10 - Generated by Personal Ancestral FileMaria CristinaОценок пока нет
- Diogo Fonseca BorsoiДокумент7 страницDiogo Fonseca BorsoiMaria CristinaОценок пока нет
- Visitas Pastorais de Dom Frei Jose Da Santissima Trindade 1821-1825Документ432 страницыVisitas Pastorais de Dom Frei Jose Da Santissima Trindade 1821-1825Joberto Miranda Rodrigues100% (2)
- Cultura - Material EinaudiДокумент43 страницыCultura - Material EinaudiBernardo Arribada50% (2)
- Ficha Cadastral FuncionariosДокумент3 страницыFicha Cadastral FuncionariosMaria CristinaОценок пока нет
- Diocese Da CampanhaДокумент2 страницыDiocese Da CampanhaMaria CristinaОценок пока нет
- CADERNO-Gestao Do Patrimonio IntervencoesPALOPДокумент100 страницCADERNO-Gestao Do Patrimonio IntervencoesPALOPDavid DomingosОценок пока нет
- D&D - Dragon Quest - Livro de RegrasДокумент34 страницыD&D - Dragon Quest - Livro de RegrasDiogo MeloОценок пока нет
- Re Vista 2012Документ38 страницRe Vista 2012Marcelo Correa Dos SantosОценок пока нет
- Frei Luís de Sousa Cena Viii e Ix Ato IIIДокумент10 страницFrei Luís de Sousa Cena Viii e Ix Ato IIIJoana0% (1)
- ColorimetriaДокумент34 страницыColorimetriaFlavia Fernandes0% (1)
- Tiago Irmão de CristoДокумент11 страницTiago Irmão de CristoRondinelle Almeida Oliveira100% (2)
- Como Ser Usado Por Deus - Neemias 1.1-11Документ6 страницComo Ser Usado Por Deus - Neemias 1.1-11Felipe Bernardino100% (1)
- Corrida Das Letras 4Документ2 страницыCorrida Das Letras 4Ana AS PereiraОценок пока нет
- Atividade de PluralДокумент1 страницаAtividade de PluralNeca Cotta50% (2)
- PrefácioДокумент30 страницPrefácioLeandro MendonçaОценок пока нет
- #2 Pretty Lost Dolls - Ker Dukey e K. Webst PDFДокумент224 страницы#2 Pretty Lost Dolls - Ker Dukey e K. Webst PDFsamuelОценок пока нет
- Texto - O FogoДокумент3 страницыTexto - O FogoAnabela SilvaОценок пока нет
- Apostila Exegese Biblica At2Документ14 страницApostila Exegese Biblica At2Delvacyr CostaОценок пока нет
- O Romantismo Na InglaterraДокумент3 страницыO Romantismo Na Inglaterrahuascar160% (1)
- Coloração BG 2018 AejdДокумент1 страницаColoração BG 2018 AejdEdna dos SantosОценок пока нет
- Criando Uma Fé Relevante para o Mundo - Yago MartinsДокумент44 страницыCriando Uma Fé Relevante para o Mundo - Yago MartinsGabriel Gorski100% (1)
- Fotografia, Escultura, Intervenção PDFДокумент5 страницFotografia, Escultura, Intervenção PDFfbarrocasОценок пока нет
- 26 - Os EvangelhosДокумент41 страница26 - Os EvangelhosFagner BrandãoОценок пока нет
- A Construção Estética Da Realidade - Vagabundos e Pícaros Na Idade Moderna - Roger ChartierДокумент19 страницA Construção Estética Da Realidade - Vagabundos e Pícaros Na Idade Moderna - Roger ChartierLucas CabralОценок пока нет
- As 6 Funções Da Linguagem - DetalhadoДокумент4 страницыAs 6 Funções Da Linguagem - DetalhadoDanielleОценок пока нет
- Princípios Da Interpretação BíblicaДокумент4 страницыPrincípios Da Interpretação BíblicaOnofre CandidoОценок пока нет
- Revista Rock Meeting N 12Документ34 страницыRevista Rock Meeting N 12Revista Rock MeetingОценок пока нет
- Teste Completo o Dragão 5BДокумент6 страницTeste Completo o Dragão 5BSandy PereiraОценок пока нет
- Farsa de Inês Pereira Resumo 10 AnoДокумент3 страницыFarsa de Inês Pereira Resumo 10 AnoRodrigo Gonçalves60% (5)
- Lexmark S300 - Guia Do UsuárioДокумент144 страницыLexmark S300 - Guia Do Usuáriojoribas0% (1)
- Texto Poético - Teste de Avaliação (Blog7 09-10)Документ2 страницыTexto Poético - Teste de Avaliação (Blog7 09-10)Duarte Amaral78% (9)