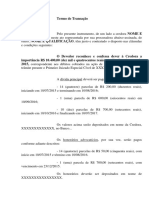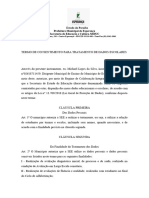Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Subindo A Serra, Descendo A História: Memória e Identidade Cultural Na Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo-Pb (1930-2010)
Загружено:
Maxwell Barbosa MedeiroaОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Subindo A Serra, Descendo A História: Memória e Identidade Cultural Na Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo-Pb (1930-2010)
Загружено:
Maxwell Barbosa MedeiroaАвторское право:
Доступные форматы
11
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
UNIDADE ACADMICA DE HISTRIA E GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA
SUBINDO A SERRA, DESCENDO A HISTRIA:
MEMRIA E IDENTIDADE CULTURAL NA COMUNIDADE REMANESCENTE
DE QUILOMBO GRILO-PB (1930-2010)
ELANE CRISTINA DO AMARAL
CAMPINA GRANDE-PB
2011
12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE HUMANIDADES
UNIDADE ACADMICA DE HISTRIA E GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA
SUBINDO A SERRA, DESCENDO A HISTRIA:
MEMRIA E IDENTIDADE CULTURAL NA COMUNIDADE REMANESCENTE
DE QUILOMBO GRILO-PB (1930-2010)
ELANE CRISTINA DO AMARAL
Orientadora: Profa. Dra. Rosilene Dias Montenegro
Dissertao apresentada ao Programa de
Ps-Graduao
em
Histria
da
Universidade Federal de Campina
Grande, junto Linha de pesquisa:
Cultura, Poder e Identidades, como parte
dos requisitos para obteno do ttulo de
Mestre em Histria.
Campina Grande PB
2011
13
ELANE CRISTINA DO AMARAL
SUBINDO A SERRA, DESCENDO A HISTRIA:
MEMRIA E IDENTIDADE CULTURAL NA COMUNIDADE REMANESCENTE
DE QUILOMBO GRILO-PB (1930-2010)
Aprovada em ____/____/____.
BANCA EXAMINADORA
_________________________________________________
Prof. Dra. Rosilene Dias Montenegro (UFCG)
Orientadora
_________________________________________________
Prof. Dra. Juciene Ricarte Apolinrio (UFCG)
Examinador Interno
____________________________________________________
Prof. Dr. Patrcia Cristina de Arago Arajo (UEPB)
Examinador Externo
_________________________________________________
Prof. Dra. Mrcia Rejane Rangel Batista (UFCG)
Examinador Externo (Suplente)
_________________________________________________
Prof. Dra. Elizabeth Christina de Andrade Lima (UFCG)
Examinador Interno (Suplente)
14
A meu pai, homem quase iletrado, mas de
sabedoria to ampla, me incentivou a amar as
letras na vida. A ele tudo que sou, muita
saudade e ainda, dor. A ele minha lealdade e
todo meu amor.
15
AGRADECIMENTOS
Quando nos propomos a agradecer, nosso corao se enche de emoo, e deste modo
que agradeo em primeiro lugar a Deus. Por Ele ter me dado fora quando eu me encontrava
to frgil, por Ele ter acalentado meu corao de um modo que nem eu mesma consigo
compreender, mas sei que isso so os mistrios de Deus na minha vida. Reconheo que
inteligncia e experincia dependem do meu esforo, do meu empenho para transpor os
empecilhos nos caminhos. Mas a sabedoria, tantas vezes alcanada nestes caminhos
percorridos, esta eu sei que divina, doada por Deus a mim, fruto da minha confiana em
Deus, fruto da sua fidelidade para comigo. As falhas cometidas nestes caminhos so de minha
inteira responsabilidade, por isso me comprometo melhorar. Os acertos e todo xito obtidos
so para a honra e glria de Deus.
E Deus, em seu infinito amor, me presenteou com anjos em forma de gente. neste
sentido que me disponho a agradecer a minha me Ana Maria, por toda dedicao, amor e
incentivo direcionados a mim. Quantas pedras ela tirou do meu caminho para que eu pudesse
passar, e eu venci mais uma etapa da minha vida. E sendo ela minha inspirao, sei que ainda
vencerei outras tantas vezes.
Reservo meu carinho e reconhecimento tambm, a minha av Antnia. Suas oraes
fazem toda a diferena em minha vida. E ainda a tio Ricardo e tio Elias pela disponibilidade.
Meus irmos tambm so bno de Deus em minha vida. Edilane, por j ter passado
por esta caminhada ( doutoranda), com sua experincia pde me aconselhar e me orientar
muitas vezes, vindo a contribuir valorosamente em meu trabalho, no s ela como seu esposo
Manoel Heleno, obrigada pelo carinho e ateno dispensados a mim neste momento to
importante da minha vida. Minha irm Ester, tambm contribuiu neste momento crucial da
minha vida, quantos empecilhos ela e meu cunhado Paulinho tiraram do meu caminho, para
que minha passagem fosse possvel, quantos gestos pequenos, singelos reservados a mim, que
fizeram tamanha diferena nesta minha trajetria. Meu corao mais uma vez se enche de
emoo e de reconhecimento, pois sei que, sem o incentivo, o carinho, o amor de meu irmo
Elias tudo teria sido muito mais difcil em minha vida. Hoje sei que ele foi providncia de
Deus, todas as virtudes herdadas de meu pai, a viso de que a educao o caminho para nos
fazer crescer, a coragem, a bondade so aspectos que procuro praticar em minha vida. As
linhas aqui escritas se tornariam infinitas se fosse para agradecer tudo o que ele tem feito por
mim e todo amor e gratido que sinto por ele.
16
Agradeo a minha co-orientadora Juciene por ter me incentivado e orientado, mesmo
antes de ter ingressado no mestrado. Sendo eu filha da UEPB, vejo na mesma um exemplo de
intelectualidade e humildade, tenho muito orgulho do xito por ela alcanado. Sem dvida
uma inspirao que o SENHOR colocou em meu caminho.
Igual satisfao remeto a minha orientadora Rosilene, pelo carinho e por toda a
compreenso que teve para comigo no percorrer desta caminhada.
Meus agradecimentos ainda, a professora Patrcia, pelas sugestes e por toda
contribuio que trouxe para meu trabalho.
Mas o que seria de mim sem a minha irm Karla? Irm, pois cham-la de amiga, de
cunhada reduzir a importncia que ela tem em minha vida, e, neste trabalho, em especfico.
Sua presena nas minhas longas caminhadas at o Grilo, amenizou os empecilhos
encontrados. Tudo se tornou supervel pelo simples fato da sua companhia neste trajeto.
Ademais, permita-me Deus que um dia eu consiga retribuir tudo o que ela tem suprido em
minha vida.
Se existem amigos que em dias nublados, tempestivos, trazem o sol para nossas vidas,
assim Janielly para mim. Falar das contribuies dela neste trabalho difcil, pois, em
diversos momentos, suas intervenes foram de extrema relevncia. Nossas brigas tericas
s nos tm feito crescer ainda mais intelectualmente. Em palavras, impossvel de agradecerlhe.
Igual reconhecimento reservo a Luis, compartilhamos juntos ansiedades, dvidas e
alegrias durante estes dois anos. Nossa amizade foi alicerada num momento muito delicado
de nossas vidas e por isso mesmo sabemos que sempre poderemos contar um com o outro em
qualquer momento que seja.
No esqueo tambm de meus queridos professores que tanto contriburam nesta
minha caminhada a Osmar, Gervcio, Iranilson e Regina, obrigada por tudo.
A Ps-Graduao me proporcionou amigos que para sempre marcaro a minha vida.
Assim, meus agradecimentos a Deuzimar, Marcos, Leonardo, Ossian, Elton, Amanda,
Michele e Silvana.
Estendo ainda meu agradecimento ao nosso secretrio Arnaldo, pela pacincia,
ateno e carinho que sempre tem nos tratado, sua dedicao, foi muito importante nesta etapa
de nossas vidas.
17
Tudo tem o seu tempo determinado, e
h tempo para todo o propsito debaixo
do cu: H tempo de nascer e tempo de
morrer, tempo de plantar e tempo de
arrancar o que se plantou.
(Salmo 3: v.1 e 2)
18
RESUMO
Neste trabalho construmos a histria da comunidade Grilo, no qual buscamos valorizar as
histrias de homens e mulheres negras, suas lutas, seus conflitos, seu cotidiano. Procuramos
dar nfase s memrias e prticas culturais que, de algum modo, permaneceram ligadas ao
passado escravista e contriburam na construo da sua identidade tnica. Neste sentido, no
primeiro caminho, tecemos uma discusso no tocante temtica da escravido, sobre o termo
quilombo e seus desdobramentos at os dias atuais, alm disso, apresentamos a comunidade
Grilo ao leitor, descrevemos o lugar e sua gente. No segundo caminho, analisamos as
memrias sobre dois ex-escravos que percorreram a comunidade e, atravs desses relatos,
tratamos sobre o cotidiano desses ex-escravos, refletimos que esta memria coletiva contribui
nas identidades da comunidade. No terceiro caminho, destacamos o labirinto e a cermica,
refletimos a importncia dessas prticas culturais como um fator que reforou os laos de
sociabilidades e colaborou na construo das suas identidades. Em nosso quarto e ltimo
caminho reservamos a reflexo s festas de cirandas na comunidade. Assim, no trabalho,
buscamos pensar como as memrias ligadas ao passado escravista e as prticas culturais da
comunidade colaboraram na constituio da sua identidade tnica.
Palavras-chave: Memria, Prticas Culturais, Remanescentes de Quilombo.
19
ABSTRACT
We construct the history of Grilo community in which we seek to value the stories of black
men and women, their struggles, their everyday lives. We to emphasize the memories and
cultural practices that, any way, were attached to the past of slavery and helped in the
construction of their ethnic identity. In this sense, the first way, we weave a thread regarding
the issue of slavery, over the term maroons and its aftermath until the present day, moreover,
present the reader with the Grilo community, describe the place and its people. In the second
way, we analyzed the memories of two former slaves who toured the community and, through
these reports, discussed on the daily lives of these former slaves, reflect this collective
memory that helps in the identities of the community. In the third part, we highlight the
labyrinth and pottery, reflect the importance of these cultural practices as a factor that refort
the ties of sociability and collaborated on construction of their identities. In our fourth and last
road reserve to reflect the festivities of preschools in the community. So, at work, we think
how the memories connected to the slave past and the cultural practices of the community
collaborated
in
the
formation
of
their
Keywords: Memory, Cultural Practices, remnants of Quilombo.
ethnic
identity.
20
LISTA DE ILUSTRAES
1.
MAPAS
PARABA: DESTACANDO O MUNICPIO RIACHO DO
BACAMARTE
p.57
1.
FOTOS
CAMINHO QUE D ACESSO A PARTE ALTA (DE CIMA) DO GRILO
p.59
2.
VISO DA PARTE BAIXA DO GRILO.
p.59
3.
ESCOLA MANOEL CNDIDO TENRIO
p.68
4.
DONA JOSEFA EM SUA RESIDNCIA.
p.74
5.
LABIRINTO EM SUA ETAPA FINAL, DEPOIS DA LAVAGEM COM
GOMA.
P.90
6.
DONA LOURDES E SUAS PEAS DE BARRO.
p.100
7.
CIRANDA REALIZADA NA COMUNIDADE GRILO.
p.107
8.
QUINTAL DE DONA DRA
p.111
9.
CIRANDA REALIZADA NO QUINTAL DE DONA DRA.
p.111
10. SEU DED EM FRENTE SUA RESIDNCIA NO GRILO.
p.118
21
LISTAS DE SIGLAS
E.C.A.: Elane Cristina do Amaral (Pesquisadora)
M.L.T.C.: Maria de Lourdes Tenrio Candido (dona Lourdes)
M.J.C.: Maria Josefa Da Conceio (dona Josefa/dona Ica)
A.C.C. : Amanda Carla Cabral
L.C.T.S.: Leonilda Coelho Tenrio dos Santos (Paquinha)
M.P.S.: Maria Pereira dos Santos
J.F.S.: Jos Florncio da Silva (seu Ded)
M.D.C.T.: Maria das Dores Coelho Tenrio (dona Dra)
T.M.C.: Teresa Matias Custdio
E.F.F.: Edna Feitosa Farias
22
SUMRIO
INTRODUO .......................................................................................................................13
1 CAMINHO:
CAD O GRILO? TA L NO ALTO .................................................................................... 33
1.1 DESBRAVANDO A HISTORIOGRAFIA SOBRE A ESCRAVIDO ......................... 33
1.2 CONHECENDO O TERMO QUILOMBO ..................................................................... 42
1.3 ADENTRANDO NA HISTRIA DOS QUILOMBOS .................................................. 48
1.4 CHEGAMOS POIS, NO GRILO ..................................................................................... 56
2 CAMINHO:
NAS TRILHAS DO GRILO: O ENCONTRO COM AS MEMRIAS DE EX-ESCRAVOS
.................................................................................................................................................. 62
2.1 ENVEREDANDO NAS REFLEXES SOBRE MEMRIA .......................................... 62
2.2 SEGUINDO A TRILHA: AS MMRIAS SOBRE DOIS EX-ESCRAVOS ................ 67
3 CAMINHO:
TECENDO O LABIRINTO, PREPARANDO O BARRO: MEMRIAS DE UM FAZER,
ONTEM E HOJE .................................................................................................................... 85
3.1 ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL ...................................................................... 85
3.2 MEMRIAS SOBRE O LABIRINTO ............................................................................. 87
3.3 MEMRIAS SOBRE A PRTICA DA CERMICA .................................................... 96
4 CAMINHO:
A FESTA VAI COMEAR: DO LUAR AO SOL RAIAR, VAMOS CIRANDAR ............104
4.1 ALM DO TRABALHO, O LAZER ..............................................................................104
4.2 SOBRE A CIRANDA NA PARABA ............................................................................105
4.3 AS CIRANDAS NO GRILO: PARA ALEGRAR E RECORDAR ................................107
23
CONSIDERAES FINAIS ................................................................................................ 123
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................................. 127
ANEXOS
24
INTRODUO
Assim, como no desenrolar da vida, estamos sempre fazendo escolhas, observando
qual o melhor caminho para seguir e muitas vezes passamos por dificuldades para podermos
chegar ao lugar desejado. De modo semelhante, neste trabalho tambm vencemos empecilhos,
fizemos escolhas e chegamos ao lugar desejado _ que neste momento se encontra nas mos do
leitor. Desta forma, convidamos o caro leitor a conhecer os passos seguidos e refletir os
caminhos percorridos nesta pesquisa.
Este trabalho tratar do cotidiano de pessoas que trabalham, lutam, mas sempre
agenciam a vitria em suas vidas. Neste sentido, a pesquisa buscou analisar uma comunidade
negra, comunidade reconhecida como remanescentes de quilombo na cidade do Riacho do
Bacamarte - PB. O objetivo geral da pesquisa na comunidade Grilo foi o de refletir as
memrias de velhos e de velhas, que colaboraram na construo das identidades enquanto
remanescentes de quilombo. Ainda no mbito desta pesquisa, analisamos tambm as prticas
culturais desta comunidade.
Foram pelos vieses das muitas cores que configuram a comunidade Grilo, suas
diversas prticas culturais, as variadas identidades de seus habitantes, e a partir das memrias
individuais e coletivas que construmos este trabalho. Com tinta de memrias riqussimas e
com o pincel da humildade e pacincia, foi possvel compor esta obra. Salientando que,
muitas vezes, o pincel precisou ser trocado e, por vrias vezes, foi preciso comear tudo de
novo, no sentido de se ter que voltar s casas dos depoentes para serem esclarecidas falas ou
questes que no ficaram muito claras. Mas nas linhas pelas quais caminharemos juntos, o
leitor perceber que todo o esforo valeu a pena.
Todavia, algumas perguntas podero incomodar o estimado leitor: Afinal quais os
motivos que instigaram o interesse por tal temtica? Qual a justificativa pessoal e acadmica
impulsionou este trabalho? Antes, mesmo de serem respondidas, mais especificamente estas
perguntas, ressalta-se o seguinte:
O trabalho do historiador, alm de um trabalho de cunho cientfico, ele deve ser
gerado como uma grande responsabilidade social. Neste mbito, interessante pensar qual
ser o benefcio que ele trar, no s para a comunidade acadmica mas, para a sociedade
como um todo. Assim, escrever a histria da comunidade extremamente importante, tendo
em vista que essas memrias documentadas, problematizadas, ficaro registradas para que as
25
geraes futuras tenham acesso histria dos seus antepassados e poder contribuir para que
tal fato acontea, para ns enquanto historiadora muito gratificante.
Alm disso, o interesse pelo tema se d tambm por esta comunidade ser situada no
municpio de nossa vivncia, Riacho do Bacamarte, por se tratar, de certa forma, de estarmos
fazendo a histria da nossa gente, uma gente que nunca teve voz nem vez; se trata ento de
refletir a historicidade desse povo. Se, por um lado ganharemos crescimento intelectual por
outro nos realizaremos como pessoa.
Ademais, a nossa pesquisa se torna importantssima medida que se constata que no
se h quase nada produzido academicamente sobre a comunidade. Neste sentido, a nossa
proposta interessante do ponto de vista da problemtica. Se o caro leitor se dispuser a
averiguar o que estamos afirmando ver que a escassez de trabalhos que tratem sobre a
comunidade incontestvel.
Assim, samos na frente em prol desse desafio. Buscamos, com muito esforo, cumprir
os objetivos da nossa pesquisa e o leitor ver mais adiante que conseguimos cumprir nossa
tarefa, mas isso no quer dizer que nosso trabalho no seja passivo de novas problemticas,
deixamos brechas por onde outros pesquisadores podero caminhar, outros caminhos, que
mediante nossas escolhas, no nos interessamos em percorrer. Ao fazermos nossas escolhas,
fizemos nossos recortes e, a partir da, traamos nossos objetivos.
DA TEMPORALIDADE
Quanto ao nosso recorte temporal, por nossa pesquisa se fundamentar e ter como fonte
principal os relatos orais, trabalhamos com a noo de espao-temporal, baseada numa mdia
parcial da idade de nossos narradores, vivenciados na comunidade Grilo. Sendo assim, este
trabalho engloba aproximadamente os ltimos 80 anos (1930-2010), tendo em vista que
nossos relatores em sua maioria so idosos, durante as entrevistas foi bastante comum eles se
reportarem fase de sua infncia ou adolescncia.
No entanto, nosso recorte espao-temporal no se restringe comunidade Grilo, tendo
em vista que as narraes de nossos depoentes dizem respeito a seus antepassados e abrangem
outros espaos como a migrao ao Rio de Janeiro para trabalhar e nas cidades prximas
como Ing, Serra Redonda e outros espaos para alm da comunidade como Serra Rajada.
26
Neste sentido, nosso foco temporal o tempo presente, embora busquemos sempre
esta relao entre passado e presente.
Todavia, trabalhar com um recorte temporal, voltado para a histria do presente no
uma atuao fcil, exige do historiador uma srie de responsabilidades tericas e
metodolgicas e grande conhecimento sobre tal escolha.
A histria do tempo presente se reintegrou ao campo cientifico, mediante a influncia
dos historiadores da rea poltica e da pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Neste
sentido, esses dois aspectos tiveram grande importncia para a conquista de um lugar no
campo da pesquisa para a histria do presente. No entanto, ainda nos anos 70, o domnio da
histria do presente era muito novo, ou muito pouco cristalizado no plano editorial1
Com a histria do tempo presente, o historiador ampliou suas problemticas, ele
comeou a perceber que a histria no somente o passado, ela tambm presente. Assim, o
historiador no mais negligencia os acontecimentos que ele prprio pode presenciar.
A crtica posta muitas vezes para a histria do presente diz respeito ao distanciamento
que o historiador deve manter com os fatos, com os depoentes, da surge a crtica tambm que
o historiador deve escapar da subjetividade, porm, como nos coloca Philippe Ttart, Mas
no est todo historiador intimamente presente na histria que compe?2
Assim, o que podemos refletir que o historiador do tempo presente, como qualquer
outro historiador, no pode ter a ingenuidade de querer fazer uma histria objetiva ou neutra,
no momento em que a afetividade com o tema tambm latente na pesquisa, no trabalho.
Neste sentido, o historiador do tempo presente deve fazer a crtica interna ao documento,
procurando no deixar que a paixo pelo tema interfira diretamente em sua pesquisa, seu
cuidado deve ser o de no cair numa reconstruo pessoal da histria. Da a importncia de
sabermos onde estamos pisando, em se tratando da histria do presente, campo muito frtil
para a pesquisa histrica, mas, por ser novo, requer muito empreendimento do historiador que
a escolhe.
DA LINHA DE PESQUISA
CHUVENAU, Agnes. TTART, Philippe. (orgs.). Questes para a histria do presente. Trad. Ilka
Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 1999. p. 10.
2
TTART, Philippe. Pequena histria dos historiadores. Trad. Maria de Leonor Loureir. Bauru:
EDUSC, 2000. p. 135.
27
E, em falar em campo frtil, neste setor que se enquadra a linha II Cultura, Poder e
Identidade, do Programa de Ps-Graduao em Histria da Universidade Federal de Campina
Grande na qual a nossa pesquisa foi acolhida. O estudo da cultura, das relaes de poder e das
identidades tem sido bastante recorrente na rea das cincias humanas. A Histria tem se
debruado nas anlises dessas temticas, tambm o percurso com esses temas faz com que a
Histria lance mo de recursos com problemticas inusitadas, aprofundamentos tericos,
inclusive bebendo em fontes de disciplinas alheias e metodologias enriquecedoras no
cotidiano da pesquisa.
Assim, a pesquisa aqui colocada sobre a comunidade Grilo no municpio do Riacho
do Bacamarte, caminha por entre essas trs temticas: cultura, poder e identidade. Ao
analisarmos as memrias que identificam a comunidade como remanescentes de quilombo,
buscamos perceber no s as prticas culturais comunitrias, mas tambm a importncia que
estas prticas tm na construo das suas identidades, pois embora algumas se vislumbrem no
presente, elas tambm se relacionam com o passado da escravido. E justamente no seu
cotidiano de luta, de estratgias e astcias que podemos perceber suas relaes com o poder.
A temtica da identidade tem sido na atualidade muito abordada no meio da produo
acadmica, muitas so as teorias e autores que trabalham com tal tema, isso nos possibilita
poder escolher como pensar e refletir sobre tal assunto. Neste sentido, nota-se que existe uma
grande polissemia conceitual acerca da identidade no que tange s cincias sociais.
Algumas vertentes associam a idia de identidade cultural a uma determinada idia de
cultura. Assim, alguns autores integram a cultura como uma segunda natureza, como se ela
fosse uma herana da qual no podemos escapar, nesses termos compreendem a identidade
como algo dado que define o individuo, nessa viso a vinculao com as origens que
fundamenta toda identidade cultural, este pensamento leva a uma naturalizao da vinculao
cultural, a identidade seria preexistente aos indivduos, as pessoas no teriam outra
possibilidade a no ser aderir a ela. Vista dessa forma, a identidade estaria ligada a uma
condio gentica.3
Ainda pensando junto a Denys Cuche, sobre as vertentes de identidade cultural,
percebemos que na viso culturalista a nfase no colocada sobre a herana biolgica, mas
na herana cultural, assim o individuo seria obrigado a se enquadrar e absorver os modelos
culturais que lhes so impostos. Logo, a identidade tambm seria preexistente ao indivduo.
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2. ed. Bauru:
EDUSC. 2000, p. 178.
28
Os pesquisadores procuram ver a uma lista de atributos culturais que o individuo deve ter
para se definir a essncia do grupo.4
J nas teorias de identidade cultural, chamadas de primordialistas, a identidade etnocultural que a primordialista, mediante esta, a vinculao a um grupo tnico a primeira e a
mais importante das vinculaes sociais. Nesta seria um tipo de identidade automtica j que
ela estaria definida pelo seu comeo, pela sua origem.5
Deste modo, tanto na viso culturalista como na abordagem primordialista o individuo
se encontra preso a determinado atributo, suas escolhas so desconsideradas. De modo geral,
essas duas concepes de identidade se unem por conceberem uma idia objetiva sobre a
identidade cultural, se o individuo no corresponder a esses critrios, ele fica proibido de
aderir a um grupo etno-cultural; neste mbito, ele no teria uma identidade autntica,
verdadeira, essencial.
neste sentido, que a abordagem subjetivista vai criticar e se contrapor s definies
traadas pela viso objetivista, anteriormente aqui discutidas. Segundo a abordagem subjetiva,
a identidade no pode ser definida por uma dimenso atribuitiva, pensar assim perceber a
identidade como esttica, ela seria ento quase imutvel. Para os subjetivistas, a identidade
etno-cultural parte de um sentimento de identificao com determinada coletividade.
No entanto, o perigo presente na viso subjetiva que esta corrente observa a
identidade apenas como uma questo de escolha do indivduo, assim ela tem um carter
bastante efmero. Ao enfatizar o carter efmero da identidade como se a mesma fosse peas
de roupas que trocamos todos os dias, que hoje talvez no venhamos a usar, mas amanh
poderemos voltar a usar, fica de lado aquela viso que nos mostra que as identidades so
relativamente estveis, apesar de no serem fixas, elas podem ser, no mnimo, duradouras. Ao
que tange a comunidade Grilo, por exemplo, o apego com a terra faz parte das identidades
deles e essa uma identidade, para uma grande maioria, bastante duradoura.
Para no carmos nessas pretenses fechadas de uma viso de identidade objetiva ou
subjetiva, Denys Coche nos coloca uma concepo relacional e situacional da identidade. A
identidade construda mediante a relao de oposio com outro grupo, ela existe sempre em
relao a outra.6
Esta concepo permite ultrapassar a abordagem objetiva e subjetiva, e percebe a
identidade cultural dentro das relaes sociais estabelecidas com outros grupos. Nesta
4
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2. ed. Bauru:
EDUSC. 2000, p. 179.
5
Idem, p. 179-180.
6
Idem, p. 182-183.
29
perspectiva, o importante no a vinculao etno-cultural, mas as trocas sociais dentro dos
grupos, a sua situao relacional.
As reflexes de Denys Cuche foram acolhidas, com muito entusiasmo em nossa
pesquisa, tendo em vista que, entre outras consideraes feitas pelo autor, no mbito da
construo relacional da identidade que nos apropriamos para pensar os remanescentes de
quilombo na comunidade Grilo.
No que se refere discusso de identidade cultural, bebemos tambm na fonte de
Adam Kuper. Um dos pontos interessantes, abordados por ele, diz respeito ao culto exagerado
diversidade que temos presenciado nos dias atuais no mbito da produo cientfica. Ele nos
adverte para que queiramos enxergar s as diferenas, como defende o multiculturalismo, mas
importante perceber e refletir o que determinado grupo tambm tem em comum.7 Isto
porque: [...] o que temos em comum que produz as diferenas entre ns, o que, por sua vez,
depende dos nossos inter-relacionamentos. [...]8
Outra contribuio bastante importante levantada por Adam Kupper que, mesmo
dialogando com os antroplogos e sendo esse dilogo muito proveitoso para os cientistas das
cincias sociais no geral, importante pensar sobre a nfase exagerada que alguns desses
antroplogos do ao fator cultural. [...] Esses antroplogos fracassam quando excedem a si
mesmos e partem do princpio de que a cultura governa, e de que outros fatores podem ser
excludos do estudo de processos culturais e do comportamento social.9
Ora refletir sobre um grupo, sobre uma determinada comunidade exige do pesquisador
um olhar micro mais detalhado, porm tambm um olhar mais amplo que inclua o social, o
poltico, o econmico, o religioso. Isto porque ns temos identidades mltiplas, deste modo,
no podemos dar importncia avaliativa apenas a uma, esquecendo as demais.
Fredrik Barth, tambm contribuiu com nosso trabalho, este compartilha da idia que
embora existam as diferenas dentro dos grupos tnicos, por outro lado existem as
delimitaes que do ao grupo certa unidade continua.
Barth um dos principais autores que defendem que a identidade tnica se define na
relao com os outros, existe ento uma demarcao entre os membros do grupo e os nomembros. A prpria noo de grupo tnico e de fronteira, elaborada por Barth, reflete esta
concepo relacional.
KUPER, Adam. Cultura: a viso dos antroplogos. Traduo Mirtes Frange de Oliveira Pinheiros.
Bauru: EDUSC, 2002. p. 306-307.
8
Idem, p. 307.
9
Idem, p. 310.
30
[...] Para que a noo de grupo tnico tenha um sentido, preciso que os atores
possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema social ao qual acham que
pertencem e para alm dos quais eles identificam outros atores implicados em um
outro sistema social. [...] Estabelecer sua distintividade significa, para um grupo
tnico, definir um principio de fechamento e erigir e manter uma fronteira entre ele e
os outros a partir de um nmero limitado de traos culturais. 10
No entanto, o interessante percebermos que estas fronteiras, erigidas pelos grupos
tnicos, podem ao longo do tempo manter-se, transformar-se ou desaparecer, elas tambm
podem se tornar mais rgidas ou por outro lado mais flexveis. Assim, alguns conceitos como
o de fronteira e identidade tnica, pensados por Barth, foram bastante produtivos e nos
auxiliaram ricamente em nosso trabalho.
Deste modo, nosso debate terico acerca da identidade, se deu basicamente atravs do
dilogo com esses trs autores Barth, Cuche e Kuper.
Neste sentido, as discusses em que nos debruamos sobre a temtica da identidade
casaram perfeitamente com a proposta que a linha Cultura Poder e Identidade nos ofereceu, e
foi nesse mbito que ela pde abarcar nossa pesquisa, dando-lhe oportunidade para o
enriquecimento e contribuio no que se refere pesquisa acadmica.
DA HISTORIOGRAFIA SOBRE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO
NA PARABA
Desde o incio, salientamos que talvez por ter sido reconhecida recentemente como
uma comunidade remanescente de quilombos, visvel uma enorme escassez de produo
acadmica sobre a comunidade, as produes encontradas so pequenos textos jornalsticos
ou artigos sem muito aprofundamento.
J no campo da historiografia paraibana que tratou sobre comunidades remanescentes
de quilombo propomos aqui refletir pelo menos duas pesquisas, inseridas na linha da
sociologia. A primeira o de Elizabeth Christina de Andrade Lima11 e a segunda de Jos
10
BARTH, apud POUTIGNAT Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido
de grupos tnicos e suas fronteiras de Fredrick Barth. Trad. Elcio Fernandes. So Paulo: UNESP, 1998. p. 152153.
11
LIMA, Elizabeth Christina de Andrade. Os negros de Pedra Dgua: Um estudo de identidade tnicaHistoria, Parentesco e Territorialidade numa Comunidade Rural. Campina Grande, 1992. Dissertao de
Mestrado em Sociologia (Sociologia Rural), Universidade Federal da Paraba.
31
Vandilo dos Santos12, ambos os trabalhos foram defendidos para o Mestrado de Sociologia
Rural em Campina Grande.
O trabalho realizado por Lima procurou analisar as relaes tnicas na comunidade de
Pedra D`gua. Estudando o cotidiano, ela pesquisou os laos de solidariedade, o contato com
o branco e a formao da identidade tnica. Descobriu que a comunidade era descendente de
um ancestral em comum, seu Manuel Paulo Grande. Deste modo, os negros com parentesco
com este ancestral so herdeiros das terras por ele deixadas, no podendo vender estas a
pessoas que no sejam da comunidade, estas regras marcam o acesso a terra.
Portanto, a relao com a terra, as normas ali estabelecidas com a mesma, e o mito de
origem na pessoa de seu Manuel Paulo Grande caracterizam o perfil da comunidade segundo
a autora. Alm disso, notou-se que os laos matrimoniais eram mantidos mediante a
endogamia, existindo toda uma no aceitao caso algum negro almejasse se relacionar
matrimonialmente com um branco.
Entretanto, em sua anlise, a autora percebe que mudanas ocorrem, a prioridade da
terra para a agricultura cede lugar para a construo de moradias, passa-se a aceitar a unio
com outros cnjuges fora do grupo. Todavia, os laos de solidariedade e reciprocidade e a
defesa da territorialidade desses negros e sua organizao social so os principais mecanismos
na fronteira intertnica, que marcam sua identidade e diferena com os grupos vizinhos.
De modo geral, podemos afirmar que este trabalho de Lima uma fonte no que diz
respeito s relaes sociais em uma comunidade negra. O qual nos inspirou em nossa pesquisa
da comunidade Grilo.
Outra contribuio que podemos enxergar tambm o trabalho desenvolvido por
Santos, na comunidade de Talhado, no municpio de Santa Luzia. Ele analisa o cotidiano da
comunidade, explorando valores, costumes e prticas tradicionais que foram se modificando
ao longo dos tempos. Ele percebe a construo da identidade dentro de um contexto de
conflitos sociais entre os negros de Talhado e os moradores de Santa Luzia.
No tocante singularidade desse estudo, est o fato de existir outra comunidade
prxima e de certa forma rival dos Negros do Talhado que so os negros da Pitombeira. Na
festa do rosrio, realizada pelos Pitombeiros eles se unem aos moradores da cidade, enquanto
os negros do Talhado, mantm-se resistentes em participar de tal festa.
12
SANTOS, Jos Vanildo dos. Negros do Talhado: Estudo sobre a identidade tnica de uma
comunidade rural. Campina Grande, 1998. Dissertao de Mestrado em Sociologia (Sociologia Rural),
Universidade Federal da Paraba.
32
Ao pesquisar a prtica da cermica que os negros do Talhado produzem, a
preocupao do autor no se volta apenas para as questes de anlise material, mas tambm
volta-se para o fator simblico, tentando ver a o significado de tal prtica para os negros do
Talhado. O foco principal do autor foi perceber que a migrao dos negros para a cidade no
fez com que os mesmos tivessem a perda da sua identidade tradicional. Assim, ele percebe,
por exemplo, que a prtica da cermica serve como marca definidora na construo da
identidade do negro em Talhado.
Deste modo, este trabalho tambm nos ajuda a pensar a comunidade Grilo, medida
em que tambm nos envolvemos na curiosidade das prticas culturais, exercidas pelos
grilenses.
DO APORTE TERICO
Pensar as nossas escolhas tericas refletir, no s sobre as teorias que nos
identificamos, enquanto historiadores(as), mas tambm dialogar com aquelas que melhor
atendem as inquietaes de nossos objetos de pesquisa. Foi por essa razo que escolhemos
dialogar principalmente com a Nova Histria Cultural. De acordo com Pesavento:
Por vezes, se utiliza a expresso Nova Histria Cultural, a lembrar que antes teria
havido uma velha, antiga ou tradicional Histria Cultural. [...] Tambm foram
deixadas para trs concepes que opunham a cultura erudita cultura popular, esta
ingenuamente concebida como reduto do autntico. [...] 13
Desta forma, entre muitos dos historiadores que trabalham o cultural, com a produo
de sentido que o homem constri sobre o mundo a sua volta, vale salientar que mesmo assim,
os historiadores da Histria Cultural no podem ser jogados dentro de um saquinho com tal
nomeao como se todos pensassem iguais, pelo contrrio, mesmo tendo na Histria Cultural
uma orientao para suas pesquisas, todos eles tm as suas prprias especificidades tericas e
metodolgicas na sua prtica cotidiana enquanto historiadores.
13
p. 14.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histria & Histria Cultural. 2. ed. Belo Horizonte: Autntica, 2005.
33
Neste sentido, um desses autores que dar sustentabilidade a nossa pesquisa, no que se
refere ao contedo terico e conceitual, ser Michel de Certeau, pensador francs que, em vez
de enxergar s passividade nos consumidores, acreditou na criatividade das pessoas
ordinrias.
Deste autor, lanamos mo do conceito de estratgia na qual: [...] Ela postula um
lugar capaz de ser circunscrito como um prprio [...]14 j a ttica [...] um clculo que no
pode contar com um prprio [...] A ttica s tem por lugar o do outro[...]15, e ele ainda nos
coloca: Em suma, a ttica a arte do fraco. [...]16
Para alm desses conceitos, ainda apropriamos de Michel de Certeau o conceito de
lugar no qual [...] A impera a lei do prprio [...] Implica uma indicao de estabilidade.17 J
o espao [...] Diversamente do lugar, no tem portanto nem a univocidade nem a estabilidade
de um prprio [...] Em suma, o espao um lugar praticado18. E ainda nos debruamos sobre
as artes de cozinhar.
19
Estes conceitos deram vida a nossa pesquisa, dando-nos sustentao
terica em nossas anlises e nos mostraram o quanto pode ser produtivo o casamento entre
teoria e prtica.
E ao observamos que a Histria Cultural comunga muito com a interdisciplinaridade,
pudemos perceber tambm que este tem sido um caminho escolhido por muitos historiadores.
Assim, medida que dialogamos com outros campos, tivemos sempre o cuidado de deixar
claro o lugar do qual estamos falando, enquanto historiador(a). Foi neste campo de ao que
se deu nosso encontro com a antropologia.
Mas, se hoje possvel, e mais, se bastante enriquecedor, a unio ente Histria e
Antropologia ou Antropologia e Histria, o que sabemos que no foi sempre assim. Em seu
livro Nova luz sobre a antropologia20, Geertz nos coloca alguns pontos do que teria sido no
incio essa briga de rua entre historiadores e antroplogos. Nestas brigas, se colocava que
os antroplogos eram indiferentes mudana ou hostis a ela, enquanto os historiadores
consistiam em apenas contar histrias admonitrias21, neste sentido que a rivalidade se dava
no plano das acusaes.
14
CERTEAU, Michel de, A Inveno do Cotidiano 1: Artes de fazer. 12. ed.. Trad. Ephraim Ferreira
Alves. Petrpolis: Vozes, 1994. p. 46.
15
Idem, p. 46.
16
Idem, p. 101.
17
Idem, p. 201.
18
Idem, p. 202.
19
CERTEAU, Michel de.; GIARD, Luce. e MAYOL, Pierre. A Inveno do Cotidiano 2: Morar,
cozinhar. Trad. Ephraim F. Alves e Lcia Endlich Orth. 7. ed. Petrpolis: Vozes, 2008.
20
GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Trad. Vera Ribeiro, Reviso tcnica: Maria
Claudia Pereira Coelho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
21
Idem, p. 111.
34
Outra coisa a que a briga pode se referir so o Grande e o Pequeno. O pendor dos
historiadores para os grandes movimentos do pensamento e da ao [...] e o dos
antroplogos para o estudo de pequenas comunidades bem delimitadas [...] levam os
historiadores a acusarem os antroplogos de gostarem de minudncias, de se
atolarem nos detalhes do obscuro e do sem importncia, e levam os antroplogos a
acusarem os historiadores de esquematismo, de perderem o contato com os dados
imediatos e as complexidades, de no terem sensibilidade[...] para a vida real.22
Hoje, no entanto, essas particularidades foram e tm sido cada vez mais superadas. Os
historiadores lanaram mo de temas em comunidades pequenas, se debruando sobre os
detalhes enquanto os antroplogos tm buscado temas de maiores ampliaes.
Estas discusses se deram tambm no campo das documentaes, das fontes. Os
antroplogos queixavam-se que os historiadores eram dependentes dos documentos escritos,
priorizando assim os relatos da elite, j os historiadores colocavam que a confiana dos
antroplogos nos testemunhos orais, os prendiam s tradies inventadas, e eram apegados a
fragilidade da memria. Na atualidade, o que se percebe ambos valorizarem os relatos orais
por entender que a oralidade valoriza a historia daqueles que no tiveram acesso escrita e
no puderam escrever sua histria ou deixar suas memrias registradas, mas sem se esquecer
que a documentao escrita valorizada, podendo-se fazer uso das duas em conjunto o que
leva a enriquecer ainda mais a pesquisa.
Apesar das aparentes rivalidades entre antroplogos e historiadores, o que tem
aproximado estes dois campos o interesse que eles tm de compreender o Outro. Neste
sentido, de acorde com Geertz:
[...] Na verdade, nem mesmo o ns, o self que busca essa compreenso do
Outro, exatamente a mesma coisa aqui, e isso que explica, a meu ver, o
interesse de historiadores e antroplogos pelo trabalho uns dos outros, bem como os
receios que surgem quando esse interesse levado adiante. 23
Dessa forma, o que se percebe uma migrao de um para a rea do outro, isso tem
contribudo para o crescimento de ambas as disciplinas, aumentaram-se o nmero de trabalhos
e tambm o nmero de perguntas, o crescimento e enriquecimento de ambos no se deu
apenas no plano quantitativo, mas sobretudo no sentido qualitativo.
22
GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Trad. Vera Ribeiro, Reviso tcnica: Maria
Claudia Pereira Coelho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 200. p. 112.
23
Idem, p. 113.
35
Deste modo, em sua obra O Saber Local, chamou nossa ateno, em especial, o
captulo Do ponto de vista dos nativos: A natureza do entendimento antropolgico. Neste
livro ele vai refletir aquela idia que, por muito tempo, vigorou na academia: [...] O mito do
pesquisador de campo semicamaleo, que se adapta perfeitamente ao ambiente extico que o
rodeia, um milagre em empatia, tato, pacincia e cosmopolitismo [...].24
Assim, ele vai criticar essa possvel empatia, para ele no se trata de se identificar com
algum e assim poder compreend-la, trata-se de se observar os detalhes e atravs das
descries, traduzir o objeto pesquisado. Buscar perceber como os indivduos entendem e
percebem o mundo a sua volta.
Deste modo, se antes a antropologia pensava que para se compreender o outro se
deveria colocar no lugar desse outro, Geertz lana uma nova proposta, pois para ele, assim
como um texto, a realidade tambm pode ser lida, os smbolos devem ser interpretados.
Outra obra desse autor, que nos traz muitas contribuies no que se refere ao mbito
cultural, A Interpretao das Culturas. Ele analisa conceitos, metodologias e teorias no
que tange s pesquisas realizadas sobre cultura. Assim, Geertz nos coloca o seu ponto de vista
conceitual sobre cultura:
O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam
demonstrar, essencialmente semitico. Acreditando, como Max Weber, que o
homem um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo
a cultura como sendo essas teias e a sua anlise; portanto, no como uma cincia
experimental em busca de leis, mas como cincia interpretativa, procura do
significado.25
Seu conceito de cultura se d pelo dilogo com a semitica, analisando uma rede de
smbolos, buscando compreender seus significados, em uma determinada comunidade que ele
consegue interpretar tais objetos. Assim, um dos interesses do pesquisador que trabalha com
instncia cultural seria indagar sobre o que est sendo transmitido em determinada cultura e
qual a importncia dessa transmisso. O autor ainda nos coloca que;
[...] Segundo a opinio dos livros textos, praticar a etnografia estabelecer relaes,
selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos,
24
GEERTZ, Clifford. O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Trad. Vera Mello
Joscelyne. 11.ed. Petrpolis: Vozes, 2009. p. 85.
25
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC. 2008, p. 4.
36
manter um dirio, e assim por diante. Mas no so essas coisas, as tcnicas e os
processos determinados, que definem o empreendimento. O que define o tipo de
esforo intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma descrio densa,
tomando essa noo de Gibert Ryle. 26
Dessa forma o conceito de descrio densa vai ser a menina dos seus olhos em suas
pesquisas. A cultura para ele algo inteligvel que pode ser interpretado e descrito dentro de
uma norma inteligvel e com densidade. Essa descrio densa vai preocupar-se com a
construo de tornar possveis descries minuciosas.
DAS FONTES E METODOLOGIA
Nos dias atuais, abrem-se leques de opes metodolgicas que visam auxiliar os
historiadores em seu ofcio, e foi neste campo de ao que nasceu a Historia Oral, embora
possamos salientar que a Histria Oral no pertena a um nico campo especfico, pois,
atravs da interdisciplinaridade, ela passeia por vrios campos do saber cientfico, seu uso no
enfrenta fronteiras.
Porm, j no mbito conceitual, bastante difcil definir a Histria Oral, pois a prpria
dinmica dessa prtica e tambm por ser recente, fazem com que os conceitos sobre esta
sejam provisrios, e diversos autores variam sobre seu ponto de vista. Para Meihy, Histria
oral um recurso moderno usado para a elaborao de documentos, arquivamento e estudo
referentes experincia social de pessoas e de grupos. Ela sempre uma histria do tempo
presente e tambm reconhecida como histria viva.27
Assim, a Histria Oral busca atender a um objetivo utilitrio, ela um recurso
importante na elaborao de documentos e arquivamentos. Por isso ela de ordem prtica e
imediata, os acontecimentos so digeridos ainda mornos ou at muito quentes, mas so as
propostas de nossas pesquisas que podero fornecer a temperatura do material colhido em
nossas entrevistas. Ainda no mbito conceitual, Alberti nos afirma que:
26
27
p.13.
Idem, p. 4.
MEIHY, Jos Carlos Sebe Bom. Manual de histria oral. 4.ed. So Paulo: Edies Loyola. 2002,
37
Sendo um mtodo de pesquisa, a histria oral no um fim em si mesma, e sim um
meio de conhecimento. Seu emprego s se justifica no contexto de uma investigao
cientfica, o que se pressupe sua articulao com um projeto de pesquisa
previamente definido. Assim, antes mesmo de se pensar em histria oral, preciso
haver questes, perguntas, que justifiquem o desenvolvimento de uma
investigao.28
A autora citada observa sobre a importncia de um projeto de pesquisa, dos
questionamentos que o mtodo da histria oral requer para que uma pesquisa seja definida
como adepta de tal mtodo. Foi munida de questes pensadas junto ao nosso projeto de
pesquisa, que nos direcionamos comunidade Grilo para a realizao de nossa pesquisa.
Antes de nos direcionarmos ao depoente, procurvamos saber o papel que tal indivduo tinha
na comunidade e a partir desse conhecimento prvio elaborvamos o roteiro de questes para
a entrevista.
A partir dos propsitos da pesquisa, do tema que pretendamos investigar, foi possvel
ento pensarmos em qual tipo de entrevista iramos utilizar, se seriam Entrevistas Temticas
ou Entrevistas de Histria de Vida e, mediante esta escolha, preparvamos nosso roteiro.
Fizemos de nosso roteiro um aliado em nossa pesquisa. Podamos nos orientar e no o usar
como uma camisa de fora que tivssemos que nos prender, exatamente como planejamos
item por item.
As entrevistas temticas so aquelas que versam prioritariamente sobre a
participao do entrevistado no tema escolhido, enquanto as de histria de vida tm
como centro de interesse o prprio indivduo na histria, incluindo sua trajetria
desde a infncia at o momento em que fala, passando pelos diversos
acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou. 29
De modo geral, podemos afirmar que as entrevistas de histrias de vida contm em si
diversas histrias temticas, da o fato de elas serem mais extensas e exigirem mais tempo e
aprofundamento do pesquisador, j a entrevista temtica mais especfica e pode ser tambm
mais curta. Mas a escolha entre uma ou outra vai sempre estar relacionada com o projeto. Em
nossa pesquisa na Comunidade Grilo, optamos pelos dois modelos, sendo que usamos a
entrevista de histria de vida com os depoentes mais idosos, os quais so fundamentais para
uma parte do projeto que trata fundamentalmente das memrias sobre ex-escravos, e, com
28
29
ALBERTI, Verena. Manual de historia oral. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. p. 29.
Idem, p. 37-38.
38
outros, escolhemos entrevistas temticas referentes, principalmente s prticas culturais na
comunidade.
No tocante importncia da Histria Oral, Franois ainda nos coloca que:
[...] A histria oral seria inovadora primeiramente por seus objetos, pois d ateno
especial aos dominados, aos silenciados e aos excludos da histria (mulheres,
proletrios, marginais etc.), histria do cotidiano e da vida privada (numa tica que
o oposto da tradio francesa da histria da vida cotidiana), histria local e
enraizada. Em segundo lugar, seria inovadora por suas abordagens, que do
preferncia a uma histria vista de baixo.30
Desta forma, Histria Oral vai valorizar aqueles que por muito tempo foram
marginalizados da escrita da Histria, muitos dos quais, inclusive, no tiveram como deixar
nenhum documento escrito simplesmente porque no tiveram acesso educao formal, no
aprenderam a escrever nem a ler, alcanaram a dois grandes problemas, no deixaram
documentos escritos e muito menos tiveram a oportunidade de contar sua prpria histria
redigida por suas mos. neste contexto que se encontram alguns de nossos depoentes na
pesquisa no Grilo. A Histria escrita, fundamentada na Histria Oral como metodologia
uma histria viva, que pulsa, ri, e, s vezes, chora, uma histria de homens e mulheres que
ainda respiram os acontecimentos que presenciaram em suas vidas.
Sabemos que, durante muito tempo, a Histria Oral esteve margem do que se
entende por mtodo histrico, os registros de memrias colhidas e transcritas no eram
considerados com valores documentais, a herana deixada pelo positivismo ainda muito
forte em nosso meio. No entanto, nas ltimas dcadas, ela passou a ser o mtodo predileto de
alguns pesquisadores das cincias sociais. De acordo com Rousso: [...]. Quando se adere a
essa constatao e se admite que a Histria do Tempo Presente passou da margem ao centro
em aproximadamente vinte anos, [...]31. E, a partir, deste campo de ao, podemos ento
perceber o lugar que a Histria Oral tem assumido nos dias atuais no campo acadmico.
Assim, em se tratando de um trabalho, baseado fundamentalmente na metodologia da
histria oral, as nossas principais fontes foram nossos informantes, depoentes, narradores ou,
para melhor definir, foram nossos colaboradores.
30
FRANOIS. Etienne. A fecundidade da histria oral. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. AMADO,
Janaina. Usos & Abusos da histria oral. 8.ed. Rio de janeiro: Editora FGV, 2006. p. 4.
31
ROUSSO, Henry. A Histria do Tempo Presente. In: PORTO JR, Gilson. Histria do Tempo
Presente. Bauru: EDUSC, 2007, p. 278.
39
Mas, para alm dos informantes (fontes indispensveis para a histria oral), tambm
analisamos a cultura material e imaterial presente na comunidade. Neste sentido, refletimos
sobre a produo do labirinto, da loua e da ciranda como prticas que marcam a identidade
cultural na comunidade Grilo.
A cultura material foi, por muito tempo, renegada pelas cincias sociais, recentemente
ela tem sido visitada por diversas reas do conhecimento das cincias sociais. Antroplogos,
etnlogos e historiadores tm se voltado cada vez mais para a pesquisa da cultura material.
Entretanto, esse novo campo bem mais visitado pela arqueologia. E, embora a
histria no a tenha ignorado, seu interesse pela mesma foi durante muito tempo bastante
limitado.32 Geralmente, ela aparece nas pginas em que os historiadores se debruam sobre o
cotidiano.
[...] Mas tudo comeou a mudar com a escola dos Annales: ela atribuiu amplamente
o domnio do historiador, em particular introduzindo nele a cultura material. Com
Marc Bloc, temos a descoberta da paisagem rural [...] Lucien Febvre, embora tenha
sido, antes de mais nada, um historiador das mentalidades, [...] seu interesse pela
etnologia e a geografia fez que levasse em conta a cultura material. 33
E, para alm de Marc Bloch e Lucien Febvre, Fernand Braudel tambm vai se destacar
no que se refere cultura material, com sua obra Civilizao material e capitalismo. Nesta
obra, o tema da alimentao vai ganhar nfase, enquanto os da habitao e do vesturio
ocupam um lugar menor.
Foi exposto que os arquelogos so os principais adeptos no estudo da cultura
material, mas o que os estudiosos procuram enfatizar que a arqueologia tem deixado
renegado o outro lado da moeda, que so os smbolos e as representaes, ou seja, a cultura
imaterial ou os desdobramentos da cultura material. Todavia, uma das maiores contribuies
que a histria da cultura material nos trouxe foi o interesse de reintroduzir o homem na
histria atravs da vivncia material.34 E foram estes homens e mulheres ordinrios que nossa
pesquisa buscou priorizar.
32
PESEZ, Jean-Marie. Histria da Cultura material. In: LE GOFF, Jacques. A histria. Trad. Eduardo
Brando. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 181.
33
PESEZ, Jean-Marie. Histria da Cultura material. In: LE GOFF, Jacques. A histria. Trad. Eduardo
Brando. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 183.
34
Idem, p. 210.
40
Ainda no tocante s fontes, lanamos mo da anlise das fotografias, como outro meio
de enriquecer nossa pesquisa. Foi necessrio nos atentarmos para algumas particularidades no
manuseio com esta fonte em especfico. De acordo com Peter Burke: essencial haver uma
crtica da fonte. Como o crtico de arte John Ruskin (1819-1900) inteligentemente observou, a
evidncia de fotografias de grande utilidade se voc souber interrog-las.35
Deste modo, pensar a fotografia como fonte perceb-la como um documento que
resultado de um olhar intencionado, recortado pelo fotgrafo. A inteno do retratista, no
momento de fazer a foto, deve ser problematizada pelo historiador. Ainda de acordo com
Oliveira:
[...] Assim, diferentes pinturas, gravuras, enfim figuraes produzidas em um
perodo anterior, as imagens produzidas tecnologicamente so tomadas como
expresso da verdade, documentos objetivos, exigindo, da parte dos historiadores,
um maior esforo para sua interpretao dentro dos diferentes contextos histricos. 36
Dessa forma, por ser compreendida como uma expresso que traz consigo a verdade,
aumenta a a responsabilidade do historiador em interpretar as fotografias e perceber o
contexto histrico em que a mesma est inserida.
Podemos afirmar ento que a metodologia da histria oral, a cultura material e
imaterial e ainda as fotografias foram ferramentas fundamentais para percorrermos os
caminhos escolhidos e construrmos nosso trabalho.
SOBRE A HISTRIA DESSA PESQUISA
O desejo de adentrar a comunidade Grilo, enquanto historiadora/pesquisadora,
comeou a acompanhar-me j em 2007, poca em que estava finalizando o curso de
licenciatura em Histria pela UEPB. No entanto, alguns problemas acabaram retardando esse
35
BURKE, Peter. Testemunha Ocular: histria e imagem. Traduo Vera Maria Xavier dos Santos.
Bauru: EDUSC, 2004. p. 30.
36
OLIVEIRA, Mirtes C. Marins de. Sobre as (im)possibilidades da fotografia como fonte primria em
Histria da Educao. In: PORTO JR, Gilson. Histria do Tempo Presente. Bauru: EDUSC, 2007. p. 214.
41
desejo e acabara focando em uma anlise literria na construo da monografia 37. Ento, em
2008, j sendo, no primeiro semestre do ano letivo, aluna especial pela UFCG, comeara a dar
os primeiros passos para apresentar-me comunidade Grilo. Tudo parecia ser muito difcil,
mas tambm instigante. Eram os primeiros passos, mas os questionamentos j me
acompanhavam.
No segundo semestre do ano letivo de 2008, ainda na UFCG, ingressando em uma
nova disciplina como aluna especial, Gnero, Etnia e Identidade na Ps- Modernidade
oferecida pela professora Juciene Ricarte Apolinrio, se deu o incio da elaborao do projeto
de pesquisa para adentrar como aluna regular no mestrado em Histria da UFCG.
Em 14 de Julho de 2008, meu pai faleceu. Expressar em palavras o que esta perda
representou em minha vida, impossvel. Tudo se tornou mais difcil.
Outras dificuldades apareceram durante a pesquisa. Existia toda uma resistncia dos
depoentes com a pesquisadora, dificuldade esta que foi vencida com vrias idas ao Grilo e
com conversas, sem a presena do gravador. No entanto, a companhia de Paquinha38 nestas
casas foi aos poucos facilitando a aproximao com os residentes do Grilo.
O falecimento de dona Dora tambm me afetou muito, tanto do ponto de vista afetivo,
como da perda para a pesquisa, pois tinha na mesma, muitas expectativas, sendo ela uma das
principais colaboradoras. Assim, conversei algumas vezes, mas s tive a oportunidade de
gravar uma de nossas conversas.
Alm desses problemas, descobri em 2010, que estava sendo acometida por uma
doena sem cura, chamada fibromialgia, causada por stress e problemas emocionais, a mesma
leva depresso, excessos de ansiedade, cansaos contnuos e dores crnicas por todo corpo.
Assim, caso fosse detalhar as dificuldades e os tantos problemas que foram superados
nos caminhos da pesquisa, muitas laudas ainda seriam necessrias. O mais importante frisar
que nada disso me fez perder a dedicao e o amor pela pesquisa no Grilo, e, no decorrer da
leitura deste trabalho, o leitor reconhecer que todo esforo valeu a pena.
OS QUATROS CAMINHOS DA PESQUISA
37
AMARAL, Elane Cristina do. Caminhos de pedras e as pedras no caminho: A trajetria autoral de
Rachel de Queiroz. Campina Grande, 2007. Monografia de concluso do curso de Licenciatura em Historia,
Universidade Estadual da Paraba.
38
Paquinha a lder da comunidade, esta sempre reivindicando melhores condies de vida para seu povo. Mora
no Grilo desde que nasceu. Ela foi nossa guia durante esta pesquisa, no sentido de nos indicar as casas dos
depoentes e de nos apresentar aos mesmos.
42
Em nosso primeiro caminho, Cad o Grilo? Ta l no alto, fizemos uma discusso
historiogrfica sobre a temtica da escravido e, a partir da obra Casa Grande & Senzala, de
Gilberto Freire pensamos sobre algumas vises que esta fonte passa do negro no contexto da
escravido. A partir dessa obra questionamos, a suposta relao de harmonia entre senhores e
escravos, e a viso que coloca o escravo como apenas uma mercadoria, um objeto. Neste
dilogo, chamamos alguns autores como Emilia Viotti, Joo Jos Reis, Ktia de Queirs de
Mattoso, os quais percebem o escravo como um ser ativo, de resistncia frente escravido.
Discutimos sobre alguns conceitos em torno do termo quilombo; lanamos mo das
contribuies de Kabengele Munanga, Flavio dos Santos Gomes, Jos Maurcio Arruti.
Analisamos o termo no mbito do perodo colonial como tambm seus desdobramentos nos
dias atuais. Discutimos algumas leis que antecederam a abolio e uma vez esta realizada,
refletimos sobre a suposta liberdade que o negro recebeu, mas na qual a sua cidadania foi-lhe
negada. Aps estas discusses historiogrficas, buscamos apresentar ao leitor a comunidade
Grilo, relatamos um pouco de seu lugar e da sua gente.
Adentramos o segundo caminho, Nas trilhas do Grilo: O encontro com as
memrias de ex-escravos, com a discusso terica e conceitual sobre memria. A partir da,
ingressamos na reflexo dos relatos dos nossos depoentes os quais foram testemunhas das
histrias contadas por dois ex-escravos que viveram na comunidade. Deste modo, trata-se de
uma oralidade (as duas depoentes da comunidade que conheceram esses dois escravos) que
narra sobre outra oralidade (os ex-escravos que contavam sua vida do tempo do cativeiro para
nossas depoentes). Em seguida, passamos a refletir um pouco sobre o cotidiano desses exescravos, buscando enxergar suas astucias, realizadas no seu cotidiano. Adiante, percebemos
que essas memrias, em comum, narradas pelas depoentes, contribuem na sua identidade,
enquanto remanescentes de quilombo.
J no terceiro caminho, Tecendo o labirinto, preparando o barro: Memrias de um
fazer, ontem e hoje, buscamos pensar sobre o artesanato na comunidade, especificamente no
que se refere prtica do labirinto, da cermica, realizada pelas mulheres da comunidade.
Procuramos refletir no s o aspecto material do artesanato, mas tambm seu sentido
imaterial. Assim, colocando em foco nossas depoentes, num primeiro momento, analisamos o
labirinto, seus modos de fazer, sua relevncia financeira e sua importncia nos laos sociais
dessas mulheres, percebendo nessa prtica um elemento que contribui na construo das suas
identidades tnica. Num segundo momento, pensamos sobre a prtica da cermica,
procuramos tambm perceber nesta prtica, alm do seu valor material, seu significado
enquanto um saber partilhado que estreita os laos de sociabilidades.
43
No ltimo caminho, A festa vai comear: Do luar ao sol raiar, vamos cirandar,
reservamos para refletir sobre as festas das cirandas na comunidade. Inicialmente, fizemos
uma discusso sobre lazer, baseado nos estudos de Magnani39. Discutimos sobre o surgimento
da ciranda na Paraba e a influncia do coco de roda sobre esta. Em seguida, analisamos as
cirandas dentro do espao da comunidade. Colocamos em cena, mais vezes nossos
colaboradores, vimos as festas de ciranda ontem e hoje e as saudades das cirandas de
antigamente. Pensamos sobre as letras cantadas e percebemos sua relao com o cotidiano de
uma comunidade negra. Alm disso, constatamos a ciranda tambm como uma festa que se
institui como fronteira entre os grilenses e os outros, contribuindo assim nas suas identidades.
39
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor. Festa no pedao: Cultura popular e lazer na cidade. 3. ed. So
Paulo: Hucitec/UNESP, 2003.
44
1 CAMINHO: CAD O GRILO? T L NO ALTO
1.1 DESBRAVANDO A HISTORIOGRAFIA SOBRE A ESCRAVIDO
A luta e a histria do povo negro em geral, tm sido (re)visitadas por vrios autores
dentro da historiografia brasileira. O caminho dessa temtica tem se configurado em grandes
interrogaes, estas so empecilhos que nesta caminhada incentivam os historiadores a buscar
cada vez mais a suprir e a vencer os obstculos encontrados nesses caminhos.
O tema da escravido negra no Brasil tem desencadeado vrios debates no ambiente
acadmico, alguns desses debates geraram algumas polmicas. neste sentido, que se
inserem as discusses sobre o carter da escravido na historiografia brasileira. Teria sido ela
harmoniosa ou conflituosa?
Nos anos de 1940 a viso colocada por Gilberto Freyre na obra Casa Grande &
Senzala incentivou os debates sobre o tema. Nela, Freyre discute algumas caractersticas no
contexto da sociedade aucareira no nordeste do Brasil colonial. Sua narrativa se constri
buscando enfatizar a relao harmoniosa entre senhores e escravos, e se refere ao perodo da
escravido brasileira. De acordo com Freyre:
O escravocrata terrvel que s faltou transportar da frica para a Amrica, em
navios imundos, que de longe se adivinhavam pela inhaca, a populao inteira de
negros, foi por outro lado o colonizador europeu que melhor confraternizou com as
raas chamadas inferiores. O menos cruel nas relaes com os escravos. 40
A historiografia dos anos de 1960 j comea a demonstrar que nem de longe, a relao
entre senhores e escravos no Brasil escravista foi de confraternizao e que nem tampouco os
donos de escravos foram os menos cruis. a partir dessa dcada, que se destacam alguns
autores da chamada Escola de So Paulo, os quais vo rever muito do que foi produzido sobre
a escravido, a destaca-se Emlia Viotti da Costa, a qual nos mostra a que ponto chegavam os
escravos, revoltados pelo tratamento recebido por seus senhores.
40
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 51. ed. So Paulo: Global, 2010. p. 265.
45
Por vingana, por dinheiro, a mando de algum, como protesto contra as injustias e
castigos, por desvario e loucura, alguns negros assassinavam senhores, feitores ou
administradores, e apresentavam-se espontaneamente polcia. As notcias de
crimes brbaros ocorridos no interior das fazendas sucedem-se durante todo o
perodo com freqncia espantosa. As maiores vtimas eram os feitores: prepostos
dos senhores, requintavam-se s vezes no executar punies e castigos. 41
Emilia Viotti tece consideraes aos atos de extrema revolta que os escravos lanaram
mo quando eram castigados e violentados. Alm disso, muitas vezes eles tinham seus
acordos cotidianos infringidos pelos senhores, como parentes vendidos e castigos muito
severos. Justamente por estes senhores no serem menos cruis, como afirmou Freyre, que os
negros chegavam a assassinar seus donos e feitores.
Durante toda a obra de Casa Grande & Senzala, Freyre busca mostrar uma
cordialidade, entre negros e brancos, uma relao afetiva muito prxima, da ele narrar a
preferncia do homem branco pelas negras, a amizade entre sinhazinhas e mucamas, as amas
de leite sendo consideradas como um membro da famlia, os filhos legtimos crescendo em
harmonia com os ilegtimos. Os atritos, os conflitos, tantas vezes infinitos so
desconsiderados. Assim, por esta tica, a escravido foi espinhos, mas que no conseguiu
ofuscar a beleza das rosas entenda-se neste sentido, a relao colaborativa citada por Freyre,
entre senhores e escravos. Apolinrio nos coloca:
Ao tratar das relaes escravistas, Freyre ressalta a existncia de uma relao idlica
entre senhores e escravos. Para ele, a miscigenao racial era o segredo do ethos
brasileiros. O discurso freyriano, direta ou indiretamente, contribuiu para a formao
do mito da democracia racial no Brasil.42
Dessa forma, o mito da democracia racial no Brasil, citada acima pela autora, tem at
hoje gerado conseqncias bastante danosas para os afrodescendentes em nosso pas,
praticamos no Brasil um racismo de membros ativos que andam apressados quando percebem
um negro em uma esquina esquisita, que lana a primeira pedra quando um negro suspeito
por algum delito, mas nosso racismo sem rosto. Quando questionados afirmamos que no
temos racismo, acreditamos na igualdade em todos os sentidos e respeitamos nossos
semelhantes.
41
COSTA, Emlia Viotti da. Da senzala colnia. 4. ed. So Paulo: UNESP, 1998. p. 365-366.
APOLINRIO, Juciene Ricarte. Escravido Negra no Tocantins Colonial: Vivncias escravistas em
Arraias (1739-1800). 2. ed. Goinia: Kelps, 2007. p. 29.
42
46
E foi por este caminho de relao harmoniosa entre senhores e escravos, que outros
mitos seguiram na historiografia brasileira, como o da coisificao do escravo. De acordo com
este pensamento, o escravo era visto juridicamente como uma coisa, sujeito ao poder de
outrem, e esta condio jurdica de coisa se estendia a sua condio social. Para esta vertente,
os negros seriam incapazes de produzirem valores prprios que orientassem sua conduta
social. como se os escravos vivessem passivamente as regras sociais impostas pelos seus
senhores, pela teoria do escravo-coisa, o negro era percebido como um animal, um ser
irracional que, quando se rebelava, estaria apenas agindo por extinto.
Ao tecer algumas crticas a autores que compartilharam dessa teoria, Sidney Chalhoub
em sua obra Vises da Liberdade procura demonstrar como os negros agiam de acordo com as
lgicas prprias, particulares e originais, eles no foram apenas simples reflexos sociais. Ele
enfatiza que: [...] no subsiste qualquer motivo para que os historiadores continuem a
conduzir seus debates a respeito da escravido, tendo como balizamento essencial a teoria do
escravo-coisa.43
Mas nos anos de 1980 que a historiografia sobre a escravido passa a trilhar outros
caminhos, agora sob a luz da histria social e cultural. Neste caminho, se destaca o historiador
Joo Jos Reis, Flavio dos Santos Gomes, Ktia de Queirs Mattoso. A partir da contribuio
desses autores, entre outros, a escravido vista pela lente da resistncia e ocorrendo pelas
mais diferentes formas. O escravo no visto como vtima do sistema escravista, coisificado,
suas mnimas articulaes em prol da liberdade passam a ser problematizadas pelos
historiadores, mas, ainda assim, interessante no nos enveredarmos por caminhos extremos,
pois corremos o risco de carmos em precipcio, segundo Reis e Silva:
Os escravos no foram vtimas nem heris o tempo todo, se situando na sua maioria
e a maior parte do tempo numa zona de indefinio entre um e outro [...] Tais
negociaes, por outro lado, nada tiveram a ver com a vigncia de relaes
harmoniosas, para alguns autores at idlicas, entre escravo e senhor. S sugerimos
que, ao lado da sempre presente violncia, havia um espao social que se tecia tanto
de barganhas quanto de conflitos.44
43
CHALHOUB, Sidney. Vises da Liberdade: Uma histria das ltimas dcadas da escravido na corte.
So Paulo: Companhia das letras, 1990. p. 42.
44
REIS, Joo Jos; SILVA, Eduardo. Negociao e Conflito: a resistncia negra no Brasil escravista.
So Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 7.
47
Desse modo, importante salientar que, enquanto pesquisadores dessa temtica, no
podemos nos fechar, ora vendo o negro como uma coisa dentro do sistema escravista, ora o
vendo como um heri. Assim, Silva e Reis vm nos lembrar que no podemos enveredar por
essas dicotomias entre escravos rebeldes e submissos. Construir esteritipos em relao s
vivncias dos negros no perodo da escravido negar-se a refletir as diversas formas de
resistncias realizadas por eles, aprision-los de novo a nomenclaturas que mais uma vez
nos impedem de vermos esses indivduos como sujeitos agenciadores.
O que no podemos deixar de considerar que, dentro do processo de escravido,
ocorreram pluralidades de astcias pensadas e praticadas pelos negros em favor da sua
liberdade, e se estas por um lado, no se realizaram diretamente em prol da sua definitiva
liberdade, por outro lado foram almejadas em favor de um melhor viver e no s de um
sobreviver.
Assim, as barganhas, as astcias, os conflitos desencadeados pelos escravos vm
reforar o que outrora debatemos, e o que enfatizam Silva e Reis, que estas relaes no
foram harmoniosas nem muito menos idlicas, se existiu alguma relao desse tipo, ela foi do
campo da exceo e deve ser estudada como um caso parte, sendo problematizado como
uma particularidade.
Foi por desconfiar dessa confraternizao entre negros e brancos, que os pesquisadores
da histria social e cultural, a partir da dcada de 1980, buscaram refletir as mil maneiras, de
uma resistncia, que nem sempre foi possvel se perceber primeira vista, s mesmo pela
lente questionadora dos historiadores, mediante suas fontes e com o surgimento de outros
paradigmas tericos, essa empreitada tornou-se realizvel. Porm, pensar sobre a escravido
no Brasil refletir tambm sobre resistncia, conforme Costa:
Insurreies, crimes, fugas, suicdios, trabalhos mal ou lentamente cumpridos, a
obstinao em resistir a ordens dadas eram os meios de que dispunha o escravo para
manifestar-se contra a situao em que era mantido e que s uma mudana radical,
fora de seu alcance, poderia dissipar.45
Dentro do contexto da resistncia negra frente escravido, a resignao de no
aceitar as condies sub-humanas em que se encontrava quase a totalidade da populao
escrava no Brasil, os negros buscaram, da forma que podiam, ir contra as ordens dadas pelos
seus senhores, a resistncia era o modo que tinham de se voltar contra uma sociedade que, no
45
COSTA, Emlia Viotti da. Da senzala colnia. 4. ed. So Paulo: UNESP, 1998. p. 367.
48
geral renegava sua humanidade. Assim, como coloca Emlia Viotti acima, se a mudana
radical que era a abolio estava fora do seu alcance, a resistncia era o caminho que podiam
praticar em prol de tal sonho. Sobre estas formas de resistncias, Silva ainda nos coloca:
Por toda a parte, e no sem polmicas, abre-se um leque de questes que vo das
formas explcitas de resistncia fsica (fugas, quilombos e revoltas), passando pela
chamada resistncia do dia-a-dia__ roubos, sarcasmos, sabotagens, assassinatos,
suicdios, abortos __, at aspectos menos visveis, porm profundos, de uma ampla
resistncia sociocultural.46
Portanto, entendemos que no mbito da historiografia atual, embora as diversas formas
de resistncia seja tema corrente, nota-se que a mesma no se esgota, tendo em vista que
novos olhares sobre os documentos tm sidos realizados; alm disso, as novas abordagens
historiogrficas tm mostrado que a resistncia escravido foi muito mais ampla.
Nosso interesse aqui se volta para as formas explcitas de resistncia fsica citadas por
Silva, que foram os quilombos formados por negros fugidos no perodo colonial. E se, por um
lado, insistimos que ocorreram diversas formas de resistncia, por outro lado, logo podemos
afirmar que a forma que mais despertou o interesse de controle, perseguio e preocupao
por parte do governo foi exatamente em relao formao de quilombos ou mocambos.
A fuga em direo formao de um quilombo, ou procura de determinado
quilombo, essa sim era alvo prioritrio de extino para o governo luso-brasileiro no perodo
colonial. Neste sentido, Silva nos fala de dois tipos de fugas, as fugas-reivindicatrias e as
fugas-rompimento.47
A primeira no pretendia um rompimento radical, era uma forma de o escravo chamar
a ateno do senhor para algo que ele estava reivindicando como melhores condies de
trabalho, abusos ou desacordos realizados pelo senhor. J a segunda, esta sim, muitas vezes
gerada por revoltas, rancores alimentados por muito tempo, buscavam o rompimento
definitivo com o sistema escravista, os negros fugiam em prol da sua liberdade, no intuito de
nunca mais voltar para as mos dos que se diziam seus donos. De acordo com Mattoso:
46
SILVA, Eduardo. Fugas, revoltas e quilombos: os limites da negociao. In: REIS, Joo Jos; SILVA,
Eduardo. Negociao e Conflito: a resistncia negra no Brasil escravista. So Paulo: Companhia Das Letras,
2009. p. 62.
47
Idem, p. 63-70.
49
Juntamente com o suicdio e o assassinato, a fuga , na verdade, a expresso violenta
da revolta interior do escravo inadaptado. O escravo em fuga no escapa somente
de seu senhor ou da labuta, elide os problemas de sua vida cotidiana, foge de um
meio de vida, da falta de enraizamento no grupo dos escravos e no conjunto da
sociedade.48
Assim, a fuga em definitivo, possibilitava ao fugitivo uma expectativa de vida melhor
do que a que ele tinha, ela seria um renascer para o homem, que uma vez tendo sido
dessocializado, ia em busca do seu eu roubado, da sua personalidade africana suprimida pela
escravido.
No Brasil, as primeiras notcias que temos sobre as comunidades de escravos fugidos
datam por volta do sculo XVI,49 principalmente nos territrios no Recncavo da Bahia e na
Capitania de Pernambuco. Os primeiros documentos sobre Palmares datam de 1585, a partir
da, os quilombos se multiplicaram por toda a colnia.
O incio da escravido no Brasil remonta o contexto da expanso martima quando
Portugal, em busca do novo mundo, encontrou o Brasil, no descobrindo nenhuma imensa
riqueza, a priori, o pau-brasil seria explorado, mas foi com a explorao da cana de acar,
com a minerao e depois com o caf que foram geradas grandes riquezas.
Sabemos que os primeiros negros chegados aqui logo no incio da colonizao
seguiam os padres de Portugal, assim, no geral, realizavam os servios domsticos e
trabalhavam nas oficinas de artesanato. No entanto, o aumento pela mo-de-obra negra
aconteceria com o trfico negreiro e pela necessidade desses negros na plantao da cana-deacar. Todavia o perodo compreendido entre 1530 e 1550 foi quando realmente se
implantou uma indstria aucareira no Brasil.50
No de nosso interesse aqui dar conta de todo o contexto sobre o perodo de
surgimento da explorao aucareira no Brasil colonial nem da escravido em si, pois tambm
sabemos que o escravo desempenhou varias funes no cotidiano, participou ativamente de
vrias atividades alm da agricultura. interessante no alimentarmos certos esteritipos
construdos sobre a capacidade do negro em determinadas tarefas, pois o negro tambm teve
sua inteligncia renegada, deste modo, o que no podemos deixar de frisar que o negro era
inteligente como qualquer outro ser humano. Acontecia que os cdigos sociais da sociedade
48
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p.153.
49
Ver GOMES, Flvio dos Santos. Quilombos: sonhando com a terra, construindo a cidadania. In:
PINSKY, Jaime. (org.) Histria da Cidadania. So Paulo: Contexto, 2003. p. 450.
50
LIBBY, Douglas Cole. PAIVA, Eduardo Frana. A escravido no Brasil: relaes sociais, acordos e
conflitos. 2. ed. So Paulo: Moderna, 2005. p. 16.
50
em que estava inserido no permitiam o seu desenvolvimento, principalmente no que tange ao
universo intelectual. De acordo com Libby e Paiva:
Ao longo de todo o perodo escravista, era possvel encontrar escravos e escravas
desempenhando inmeras atividades: sapateiros, barbeiros, alfaiates, ferreiros,
padeiros, carpinteiros, marceneiros, escultores, msicos, pintores, seleiros,
paneleiros, latoeiros, boticrios, carregadores, estivadores, pescadores, barqueiros,
marinheiros (inclusive no trfico negreiro), soldados, capites-do-mato, caixeiros,
escrives de cartrio(!), enfermeiros(as), chapeleiros(as), vendedores(as) de todo
tipo, cozinheiro(as), doceiras, amas-de-leite e prostitutas, entre uma infinidade de
outras ocupaes.51
Assim, os trabalhos exercidos pelos negros no meio rural ou urbano foram amplos e,
embora sua fora de trabalho fosse utilizada no trabalho, considerado bruto, braal, uma
minoria conseguiu tambm adentrar no campo intelectual, principalmente aqueles que
conseguiam ser alforriados.
Mas o que fazemos questo de ressaltar que para a empreitada da implantao da
cana-de-acar, a mo de obra negra foi majoritria, neste sentido, a implantao da
escravido para o empreendimento foi o recurso requerido. Neste mbito, o escravo assumiu o
valor de mercadoria, de peas como eram denominados. No geral, eram bastante caras e,
sendo propriedades de seu senhor, deveriam viver mediante as regras estipuladas por seu
dono, o que nem sempre acontecia.
Sendo o escravo uma propriedade de seu dono, existia toda uma rede de cdigos
morais e legais que prescreviam as funes e os comportamentos que o escravo deveria
manter em relao ao senhor e com a sociedade vigente, por isso os laos unilaterais que os
escravos tinham em relao ao seu dono geravam conflitos e s vezes negociaes. Ao
escravo ficava negada qualquer personalidade jurdica ou pblica e o seu direito de ir e vir
deveriam ser autorizados pelo seu senhor. Assim, segundo Mattoso, uma srie de qualidades
era exigida ao escravo.
Humildade, obedincia, fidelidade: sobre esse trip vai ser encenada a vida desses
homens, mercadorias muito particulares pois, apesar de tudo, os compradoresproprietrios terminam sempre por se aperceberem de que os escravos tambm so
51
LIBBY, Douglas Cole. PAIVA, Eduardo Frana. A escravido no Brasil: relaes sociais, acordos e
conflitos. 2. ed. So Paulo: Moderna, 2005. p. 39.
51
homens e uma certa intimidade se pode estabelecer com eles, se so fiis,
obedientes, humildes.52
Deste modo, era considerado como um bom escravo aquele que atendesse ao trabalho
servil com humildade, sendo obediente e fiel, apesar das condies sub-humanas que muitos
viviam, era esse o procedimento que se esperava deles.
Muitos historiadores tenderam a dividir os escravos entre submissos e heris, mas teria
sido mesmo a submisso uma forma de aceitar a escravido? Ora o que no podemos perder
de vista que a aparente humildade e obedincia praticada pelo escravo era tambm uma
forma de resistncia, j que, muitas vezes, agindo assim, ele podia colocar determinadas
situaes a seu favor e agenciar muito sutilmente acordos e negociaes com o seu senhor.
A submisso podia desencadear uma srie de astcias planejadas pelo escravo, muito
discretamente, longe dos olhares questionadores do senhor, deste modo no se tratava de uma
simples acomodao com a ordem vigente, pelo contrrio, muitos souberam lanar mo dessa
aparente passividade em prol de certa convivncia ou at conivncias. Para Libby e Payva:
Certamente, o escravo que se acomodava precisava ser realista e calculista para
reforar uma ampliao das concesses senhoriais. Para alcanar seus objetivos, era
necessrio ser esperto, escondendo suas intenes e seus mtodos, mesmo que os
gestos subservientes, afetuosos e simpticos reforassem o paternalismo senhorial.
Assim, deixamos de lado um sujeito passivo e submisso, para identificar no escravo
um agente histrico que se adaptava realidade, contribuindo, de maneira
escancarada e/ ou sutil, para transform-la. 53
E pensar o negro no perodo colonial como sujeito histrico refletir sobre suas
engenharias, astcias e espertezas dentro de um mundo que buscava vigi-lo e limit-lo, uma
vez fugindo s regras ele era punido, assim a camuflagem dcil, religiosa, submissa eram
armas que ele buscava para se proteger e fugir de tal cadeia que era a escravido.
O que se percebe que as prticas de resistncias do escravo, no seu cotidiano, foram
muito complexas, fugindo dessa dicotomia entre heris e submissos, o escravo resistia da
forma que podia, e nem sempre como queriam. Neste sentido, Mattoso, enfatiza que:
52
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p. 102.
53
LIBBY, Douglas Cole. PAIVA, Eduardo Frana. A escravido no Brasil: relaes sociais, acordos e
conflitos. 2. ed. So Paulo: Moderna, 2005. p. 55.
52
[...] Ento, o escravo adapta-se verdadeiramente a seu meio, como a aranha, a
tartaruga ou o camaleo, atravs da astcia, arma eficaz dos fracos e dos oprimidos,
que possibilita ao escravo fingir-se obediente, fiel e humilde ante seus senhores,
fraternal e digno junto aos companheiros de servido. 54
Assim, mais uma vez podemos ressaltar que para alm dos escravos que foram
rebeldes ou submissos, heris ou acomodados, ativos ou passivos, existiram brechas das quais
eles souberam utilizar.
No entanto, quando as astcias no eram mais possveis de serem pensadas, quando a
violncia e os desacordos dos senhores eram extrapolados, nesse instante tambm uma das
sadas encontradas pelo escravo era literalmente fugir.
Neste sentido, desde o momento em que se implantou a escravido no Brasil, fixaramse com ela tambm as fugas agenciadas pelos escravos. Fugir no para chamar ateno em
prol de alguma negociao, fugir em definitivo dos braos da escravido e ir se aconchegar
com a liberdade. Liberdade como promessa de felicidade. Liberdade sofrida e s vezes
temporria, mas, ainda assim, sonhada de ser encontrada durante os dias vividos no cativeiro.
Mas, de modo geral, por quais razes, mais especificamente, os escravos fugiam? De acordo
com Karasch:
Os escravos fugiam para os quilombos por muitas razes. Embora no tenhamos o
testemunho dos quilombolas, as autoridades coloniais responsveis por resolver o
problema das constantes fugas de africanos e ndios escravizados geralmente
acusavam os senhores de os maltratarem. Na dcada de 1750, vrios funcionrios da
coroa acusaram os proprietrios de no aliment-los nem vesti-los adequadamente e
de sujeit-los a brbaros castigos.55
A partir desse panorama acima, exposto pela autora, podemos ter uma idia do porqu
das fugas, pois, mesmo mantendo uma situao de superioridade discrepante em relao ao
escravo, o senhor deveria arcar com certas obrigaes; quando estas no eram respeitadas a
fuga poderia ser a nica opo. E qual seria um dos sinnimos da liberdade para o escravo
que sabia que nunca iria alcanar a alforria? Uma das palavras seria quilombo.
54
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense.
2003, p. 167.
55
KARASCH, Mary. Os quilombos de ouro na capitania de Gois. In: REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio
dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 245.
53
A noo de liberdade do escravo nem sempre esteve atrelada abolio da escravido,
a fuga definitiva para os quilombos era uma dessas formas de viver a liberdade, de usufruir da
liberdade. Os quilombos foram um dos caminhos procurados pelo escravo como vlvula de
escape no mbito da escravido que vivenciava. Essa fuga podia ocorrer individualmente ou
em pequenos e grandes grupos, dependendo das condies em que se encontrava o escravo,
da sua organizao e da unio do grupo em que se encontrava inserido.
1.2 CONHECENDO O TERMO QUILOMBO
Ao refletirmos sobre a resistncia negra no tocante ao quilombo em si, abre-se um
leque de muitas possibilidades de interpretao sobre o termo. Neste sentido, faz-se
necessrio adentrarmos em alguns caminhos que nos proporcionam a historiografia
contempornea. Desse modo, no nos cabe aqui, limitarmos o nosso olhar frente a uma s
direo. Mas, a que significado mais especfico se refere a palavra quilombo? Qual seria a
origem do seu significado? Para Munanga:
O quilombo seguramente uma palavra originaria dos focos de lngua bantu
(Kilombo, aportuguesado: Quilombo)[...] uma histria de conflitos pelo poder, de
ciso dos grupos, de migraes em busca de novos territrios e de alianas polticas
entre grupos alheios.56
Notemos que, para este autor, o termo quilombo, de origem bantu, assume vrios
significados, seu sentido no se restringe a fatores sociais e culturais, mas engloba tambm
contedo poltico. Desse modo, quilombo est para alm de ser apenas um lugar de negros
que fugiram do sistema opressor da escravido.
O termo quilombo, durante todo o perodo escravista no Brasil, por diversos motivos,
incomodou muito grande parte da sociedade branca, principalmente a partir do sculo XVIII,
pois com a revoluo do Haiti por volta de 1790, a populao temia que os quilombos
pudessem originar uma rebelio na tomada de poder pelos negros. Gomes tambm nos tece
alguns detalhes sobre o termo quilombo.
56
MUNANGA, Kabengele. Origem e histrico do quilombo na frica. Revista da USP, n.28,
dezembro/fevereiro. 1995/1996. p. 4.
54
A palavra quilombo/mocambo para a maioria das lnguas bantu da frica Central e
Centro-Ocidental quer dizer acampamento. Em regies africanas centro-ocidentais
nos sculos XVII e XVIII, a palavra kilombo significava tambm o ritual de
iniciao da sociedade militar dos guerreiros dos povos-imbangalas (tambm
conhecido pelos jagas) [...]. Embora no existam pesquisas sistemticas nessa
direo, sugere-se a existncia de uma cultura escrava e a recriao de alguns
significados desse ritual africano (kilombo) entre os cativos no Brasil, no sentido de
que, ao fugir para quilombos, escravos reorganizavam-se numa comunidade de
africanos originados de regies diversas e tambm de crioulos [...] 57
Se o termo quilombo, em alguns lugares da frica, significava acampamento e em
outros se voltava para a iniciao de jovens guerreiros, possvel que uma vez, aquilombados
aqui no Brasil, os negros tambm trouxessem muito da cultura africana nos quilombos por
eles aqui formados.
Assim, nestes quilombos aqui construdos, homens e mulheres desenvolveram
estruturas originais de parentesco, relaes especficas no que se refere ao cultivo da terra e
puderam tambm manifestar seus cultos sagrados.
possvel tambm que o termo quilombo tenha sido utilizado com outros significados
de vivncias pelos escravos aqui existentes. Embora os escravos no pudessem deixar por
escrito o que realmente o quilombo significava para eles, j que estes, em sua grande maioria,
no sabiam ler e sempre recorriam a algum que os representasse, ou falasse por eles, a
historiografia tem nos mostrado que muitos, mesmo sendo capturados, reincidiam nas fugas,
outros viviam nos quilombos de formas bastante variadas, isto nos mostra que as vivncias
nos quilombos se deram em sentidos mltiplos.
E quando falamos que foi variado o cotidiano nos diferentes quilombos, temos a
inteno de chamar a ateno de nosso leitor para que este no se feche com determinada
viso sobre estes tais quilombos, pois, quando nos armamos para enxergar os fatos histricos
por lentes que tendem a esteriotipar o que enxergamos, deixamos de lado o que h de muito
rico na histria, que so as suas descontinuidades, as discrepncias, as brechas que nos
mostram outros modos de ser e de viver dessas personagens histricas. Reis nos coloca que:
57
GOMES, Flvio dos Santos. Quilombos: sonhando com a terra, construindo a cidadania. In: PINSKY,
Jaime. (org.) Histria da Cidadania. So Paulo: Contexto, 2003. p. 449.
55
[...] Embora os especialistas sobre o assunto j tenham chamado a ateno para o
engano, predomina uma viso do quilombo que o coloca isolado no alto da serra,
formado por centenas de escravos fugidos que se uniam para reconstruir uma vida
africana em liberdade, ou seja, prevalece uma concepo palmarina do quilombo
enquanto sociedade alternativa.58
Deste modo, se por um lado a historiografia tem nos mostrado que diversos quilombos
surgiram em lugares de difcil acesso, longe do alcance do olhar curioso e tenebroso da
sociedade, por outro, muitas pesquisas foram realizadas nos mostrando exatamente o
contrrio, que vrios quilombos se desenvolveram prximos a ncleos urbanos, inclusive,
diversas vezes, os quilombolas mantinham relaes comerciais com as cidades prximas. De
acordo com Munanga:
Havia uma variedade considervel na localizao e na economia interna dos
quilombos. Embora Palmares estivesse localizado em um local distante e de difcil
acesso, muitos quilombos existiam na proximidade de vilas e cidades ou de centros
agrcolas ou de minerao.59
Assim, os quilombos, alm daqueles que se configuraram em locais de difcil acesso,
muitos foram estabelecidos onde melhor pudessem atender s necessidades dos quilombolas;
neste caso, surgiram quilombos at prximos das vilas e de lugares onde se realizava a
minerao.
Embora tenhamos colocado sobre o quanto os quilombos eram temidos e perseguidos
at 1888, o conceito ou a denominao jurdica, na poca do Brasil escravista, nos mostra
muito bem isso, mas no s isso. Munanga enfatiza:
De acordo com Clvis Moura em 1740, o Conselho Ultramarino, rgo colonial
responsvel pelo controle central patrimonial, considerava quilombo toda habitao
de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que no tenham
ranchos levantados nem se achem piles neles. 60
58
REIS, Joo Jos. Escravos e coiteiros no quilombo do oitizeiro Bahia, 1806. In: REIS, Joo Jos.
GOMES, Flvio dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 332.
59
MUNANGA, Kabengele.; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. So Paulo: Global, 2006.
p. 20.
60
Idem, p. 70.
56
Nesses termos, o caro leitor pode observar que os quilombos representavam uma
ameaa to forte ao sistema escravista que, apenas o nmero reduzido de cinco ou mais
negros fugidos, j era denominado como quilombo, isto em si quebra com a imagem que o
leitor podia imaginar da poca, de ser considerado quilombo apenas nmeros extensos de
negros fugidos. E Mattoso nos coloca mais: [...] A proviso real de 6 de maro de 1741
considera quilombo todo grupo escondido de mais de 5 escravos fugidos, mas no sculo XIX
leis provinciais ordenam aes punitivas contra quilombos de 2 e 3 escravos. 61
Deste modo, dois ou trs escravos fugidos, de acordo com as leis provinciais, podiam
ser considerados quilombos, isto prova o quanto o governo preocupava-se com os quilombos,
os pequenos grupos poderiam incentivar outros a se revoltar, e mesmo estes pequenos grupos
poderiam gerenciar rebelies o que era ainda mais temido pela populao da poca. Alm
disso, a historiografia tem nos mostrado que, depois do quilombo de Palmares, as leis e as
perseguies se tornaram mais rgidas contra esse tipo de resistncia.
Todavia, importante destacarmos que no devemos insistir nesse conceito de
quilombo que vigorou e ainda chega aos dias atuais, em que o significado de quilombo se
restringe a um refgio de negros escravos fugitivos. Pensar assim reduzir as vivncias e a
complexidade que se deu em torno dos quilombos no Brasil.
Os quilombos no Brasil foram estruturados para enfrentar a ordem escravista vigente,
neles se desenvolveu toda uma estrutura poltica, social e religiosa aos modos da me frica.
Segundo Munanga:
[...] Sendo assim, os quilombos brasileiros podem ser considerados como uma
inspirao africana, reconstruda pelos escravizados para se opor uma estrutura
escravocrata, pela implantao de uma outra forma de vida, de uma outra estrutura
poltica na qual se encontraram todos os tipos de oprimidos.62
especialmente este detalhe que no podemos perder de vista, os quilombos no Brasil
foram a implantao de outra forma de vida, de outra forma de poltica, de convvio social,
enfim, eles mantiveram uma organizao singular, porm, baseada ou espelhada nos
quilombos originados da frica. O quilombo, em certa medida, era uma forma de reencontro
61
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p. 159.
62
MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. So Paulo: Global, 2006.
p. 71.
57
com a terra natal, com os costumes, tradies, ritos e com as diversas formas de ser e viver da
frica.
E por este caminho que se segue o conceito atual de quilombo, o qual foi revisado e
ampliado pela historiografia, baseado em vrias pesquisas que buscaram refletir como se
organizavam tais comunidades, percebendo ento que estes se configuraram para alm de um
lugar de refgio, de fuga. lgico que a escassez de documentos tem dificultado o trabalho
dos pesquisadores da rea, tendo em vista que muitos destes quilombos foram destrudos, mas
a empreitada, apesar de rdua, , ao mesmo tempo, estimulante e bastante desafiadora. De
acordo com Munanga:
Neste sentido, quilombo no significa refgio de escravos fugidos. Tratava-se de
uma reunio fraterna e livre, com laos e solidariedade e convivncia resultante do
esforo dos negros escravizados de resgatar sua liberdade e dignidade por meio da
fuga do cativeiro e da organizao de uma sociedade livre. 63
Quando falamos no sentido atual do termo quilombo, faz-se necessrio elencarmos
ainda algumas consideraes importantssimas. Neste sentido, a discusso sobre o termo
quilombo ganha fora nos anos 1970 e 1980, chegando ao pice no ano do centenrio da
abolio em 1988. Neste ano, especificamente com o artigo 68 da Constituio Federal, o
termo quilombo passa a ser acompanhado por outro, o de remanescente. Neste sentido,
Munanga acrescenta que:
Art.216 Inciso V, 5 - Ficam tombados os documentos e os stios detentores de
reminiscncias histricas dos antigos quilombos.
Disposies Transitrias Art. 68. Aos remanescentes das comunidades de
quilombos que estejam ocupando suas terras reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhe os ttulos especficos. 64
Assim, esta nomeao de remanescentes de comunidades de quilombos classifica,
estando no termo quilombo uma categoria histrica e o termo remanescente para uma
categoria estatal. De modo geral, a palavra remanescente vem expressar certa idia de
63
MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. So Paulo: Global, 2006.
p. 72.
64
Idem, p. 75.
58
contemporaneidade dos quilombos, o termo aplicado para atualizar ou aproximar as
comunidades existentes, com os quilombos antigos. Neste sentido, o historiador e antroplogo
Arruti, ainda nos coloca outras especificidades sobre o termo remanescentes:
[...] No artigo 68, o termo remanescentes tambm surge para resolver a difcil
relao de continuidade e descontinuidade com o passado histrico, em que a
descendncia no parece ser um lao suficiente. De forma semelhante dos grupos
indgenas, o emprego do termo implica a expectativa de encontrar, nas comunidades
atuais, formas atualizadas dos antigos quilombos, [...] 65
Dessa forma, existe a inteno de se introduzir o termo remanescente no artigo 68,
com o objetivo de encontrar relao entre as prticas, os costumes, o cotidiano desses
remanescentes com seu passado histrico, enquanto descendentes de quilombos. Objetiva-se
de certa forma uma correspondncia entre seu presente e seu passado.
Mas a questo crucial que o artigo coloca em xeque sobre as terras, fica firme que
estejam ocupando suas terras. Assim, a luta pelo reconhecimento como comunidade
remanescente de quilombo envolve engajamento poltico da comunidade para, junto ao
Estado, conseguir o reconhecimento, assim envolve sobretudo o confronto latifundirio. Deste
modo, a luta pelo reconhecimento na maioria das vezes, pode estar atrelada luta pela terra.
J em 1994, com o seminrio realizado pela FCP (Fundao Cultura Palmares), a
definio ou a lei em si deixa de ser defendida exclusivamente pelos tcnicos dos rgos
oficiais para se tornar tambm assunto de debate acadmico. Neste seminrio, Gloria Moura,
uma das responsveis pela formulao da lei, elabora uma nova noo de quilombos
contemporneos. De acordo com Arruti, ela define as comunidades a que se refere o artigo, do
seguinte modo:
Comunidades negras rurais que agrupam descendentes de escravos [que] vivem da
cultura de subsistncia e onde as manifestaes culturais tm vnculo com o passado
ancestral. Esse vnculo com o passado foi reificado, foi escolhido pelos habitantes
como forma de manter a identidade.66
65
ARRUTI, Jos Maurcio. Mocambo: antropologia e histria do processo de formao quilombola.
Bauru: EDUSC, 2006. p. 81.
66
Idem, p. 84.
59
Neste sentido, a identidade definida, escolhida e defendida pelos prprios habitantes
que se reconhecem como remanescentes de quilombo. Essa atualizao no conceito de
quilombo contemporneo foi aceita tambm pelo presidente do FCP na poca, Joel Rufino, o
qual tratou de dar carter oficial a tal concepo.
Assim, podemos, sem dvida, afirmar que as discusses sobre o conceito de
comunidades remanescentes de quilombo, ainda tm muito por refletir, essa discusso no se
encontra esgotada, pelo contrrio. Mas, para alm da ampliao do conceito, o que fica certo
que o Estado tem tentado encontrar uma maneira para se pagar uma dvida histrica que ele
tem com os afros descendentes no Brasil, da por que tanta polmica em torno da terra. Do seu
lugar de antroplogo, Munanga ainda nos coloca que:
Mas os antroplogos alertam: essa utilizao ampla do conceito de quilombo e de
remanescente de quilombo merece ser discutida com cuidado pois pode causar uma
certa mistura e confuso conceitual que pretende dar conta da diversidade de formas
de acesso terra e das formas de existir das comunidades negras do campo.
preciso ento tomar cuidado pois um conceito muito amplo de quilombo, usado
poltica e juridicamente, corre o risco de ser generalizado de uma realidade que
historicamente diversa e particular.67
A partir do artigo 68, o termo quilombo passa a se referir s comunidades negras rurais
e s terras que aquelas ocupam. A partir de 1988 estas comunidades emergem como
remanescentes, o termo ento de remanescentes de quilombo se amplia, ele surge para
atualizar. O problema que se coloca que nem sempre o conceito d conta da luta que gira em
torno, da forma como essas comunidades ocuparam essas terras. No geral, as comunidades
rurais tm sua prpria realidade, suas particularidades, e essa diversidade no pode ser
desconsiderada.
1.3 ADENTRANDO NA HISTRIA DOS QUILOMBOS
E por falar em diversidade, em singularidade, mais uma vez queremos chamar a
ateno do querido leitor para outras observaes, detalhes importantes que quebram aquelas
67
p. 75.
MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. So Paulo: Global, 2006.
60
idias fixadas sobre os quilombos, e que s depois da dcada de 1970, com outros paradigmas
e novas pesquisas, muito do que se colocou sobre os quilombos tem sido repensado pelos
historiadores e pelos profissionais da rea de humanas no geral.
neste sentido, caminhando com a nova historiografia que podemos refletir os vrios
tipos de quilombos que foram astuciosamente inventados e reinventados pelos escravos no
Brasil. Conforme, Gomes:
[...] Co-existiam assim formas diversas de quilombos: aqueles que procuravam
constituir comunidades independentes com atividades camponesas integradas
economia local; o aquilombamento caracterizado pelo protesto reivindicatrio dos
escravos para com seus senhores e os pequenos grupos de quilombolas que se
dedicavam a razias e assaltos de fazendas prximas. [...] Havia os quilombos que
mantinham suas comunidades e conseguiam reproduzir-se num mesmo local, apesar
das constantes expedies reescravizadoras. [...] Existiam tambm grupos
quilombolas mais itinerantes, que migravam constantemente e possuam vrios
acampamentos provisrios para facilitar trocas mercantis.68
Assim, os diversos modos de aquilombamento que o escravo buscou como forma de
protesto, ampliaram muito o significado de quilombo, na realidade o aquilombamento era
vivenciado de acordo com a necessidade e as disponibilidades que o escravo tinha em mo
para vivenci-lo. Deste modo, os modelos de quilombos tambm foram particulares, seu
sucesso dependeu muito de sua organizao, ora se aliar ao branco ora estar na linha de
combate com o mesmo para defender sua liberdade.
Mas quem eram os habitantes dos quilombos? Poderamos responder: os escravos
fugidos. Todavia, mais uma vez, isto no deve ser pensado como uma regra. Os habitantes nos
quilombos, por vezes se mostraram bem heterogneos. Citando como exemplo o quilombo de
Palmares, de acordo com Reis e Gomes, eles nos colocam que:
[...] Talvez a perseguio as minorias tnicas, como judeus, mouros e outros, alm
do combate s bruxas, herticos, ladres e criminosos possa explicar o fato de que
ao menos alguns brancos tivessem decidido viver em Palmares e, aparentemente,
tivessem sido aceitos pela comunidade rebelde.69
68
GOMES, Flvio dos Santos. Quilombos: sonhando com a terra, construindo a cidadania. In: PINSKY,
Jaime. (org.) Histria da Cidadania. So Paulo: Contexto, 2003. p. 460.
69
REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio dos Santos. Introduo. In: REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio dos
Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 31.
61
Citando o exemplo de Palmares, podemos ter uma idia do quanto eram heterogneas
as populaes nos quilombos, claro que este foi um dos maiores quilombos em termos
populacionais existentes no Brasil, mas a historiografia tem nos mostrado que outros
seguimentos da sociedade faziam parte dos quilombos, principalmente o componente
indgena, embora por diversas vezes estes tambm fossem utilizados na caa dos escravos.
Reis ainda enfatiza:
[...] Para ali tambm convergiam outros tipos de trnsfugas, como soldados
desertores, os perseguidos pela justia secular e eclesistica, ou simples
aventureiros, vendedores, alm de ndios pressionados pelo avano europeu. Mas
predominavam os africanos e seus descendentes. 70
Embora predominassem nos quilombos, africanos e seus descendentes, o ambiente era
um refgio para aqueles que se sentiam tambm de alguma forma, perseguidos pela sociedade
vigente. Podemos ento pensar o quilombo, como um lugar de relaes sociais mltiplas, no
qual um olhar mais apressado no d conta dos laos sociais mpares que ali existiram.
Apesar de existirem laos de solidariedade bastante fortes nos quilombos, existiam
tambm os delatores, assim o ndio e/ou negro amigo de hoje podia ser o inimigo de amanh.
Esses traidores, muitas vezes, tinham um amigo em comum, que por sinal era um dos maiores
inimigos dos escravos: O capito-do-mato.
Figura emblemtica da poca do Brasil escravista, pois, muitas vezes, um capito-domato podia ser um ex-escravo que em busca de altas recompensas se aventurava pelos mais
diversos cantos do Brasil para encontrar negros fugidos. Pouco ainda se sabe sobre a origem e
funcionamento dos capites-do-mato, mas de acordo com as pesquisas realizadas pela
historiadora Lara:
[...] O termo capito-do-mato j aparece em diversos documentos coloniais desde
meados do sculo XVII, bem como a prtica de pagar seus servios por tarefa, isto
, por negro fugido apreendido e entregue ao senhor. Contudo, o cargo, o
provimento regular dos postos e a fixao das quantias pagas foram se estabelecendo
70
REIS, Joo Jos. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. IN: Revista USP. So Paulo (28):
Dezembro/Fevereiro 95/96. p. 16.
62
aos poucos, sendo sistematicamente normatizados apenas a partir das primeiras
dcadas do sculo XVIII.71
Dessa forma, a institucionalizao da profisso de capito-do-mato foi um dos modos
encontrados pelo governo e pela sociedade afetada com as fugas-rompimento. No entanto,
esse cuidado com a procura de profissionais que capturassem escravos fugidos, aumentou
principalmente aps a destruio do quilombo de Palmares. A partir desse episdio se
generalizou o medo de uma rebelio escrava no Brasil, a vigilncia sobre os escravos
aumentou como uma forma de se prevenir de tais aes. Creio que Palmares conseguiu fazer
o medo senhorial, referente s fugas escravas, chegar a seu ponto mximo e tambm marcou o
auge dos grandes exrcitos de aniquilao.72
Neste sentido, com o medo instalado na sociedade e sendo o escravo um bem de custo
muito caro, os proprietrios lanavam mo dos capites-do-mato, como tambm de outros
empreendimentos para tal causa como o auxlio das milcias para recuperao das peas,
como eram designados os escravos.
Porm, uma vez capturados, o desfecho para tais escravos eram os mais variados
possveis e dependia muito de ser o escravo reincidente ou no, mas no geral o que
predominava era a barbrie com que os senhores castigavam seus escravos capturados, pois
para alm das prticas singulares, realizadas individualmente, existia um cdigo de penas
usual na sociedade escravista no Brasil. Segundo Karasch:
[...] Um escravo que fugia pela primeira vez era exibido nas ruas do arraial ou vilas
antes de ser levado a um juiz que o sentenciaria a ser aoitado publicamente pelas
ruas. Depois de marcado, a ferro em brasa, com um F sobre as espduas e jogado
na cadeia por um prazo prefixado. Na segunda tentativa, tinha a orelha cortada e,
na terceira, era morto.73
Bem, era esta, na verdade, uma das formas legalizadas pela justia da poca, mas a
essas formas de castigos e condenao coexistiam vrias outras, pelas quais fica bem claro
71
LARA, Silvia Hunold. Do singular ao plural: Palmares, capites-do-mato e o governo dos escravos In:
REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
p. 85.
72
Idem, p. 87.
73
KARASCH, Mary. Os quilombos do ouro na capitania de Gois. IN: REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio
dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 257.
63
que as relaes entre senhor e escravo no foi nem de longe uma relao benevolente ou
paternalista. Reis nos coloca que:
[...] Em Minas Gerais, durante a primeira metade do sculo XVIII, autoridades
locais e os prprios governadores, atormentados com a proliferao dos mocambos,
conceberam punies brbaras contra os quilombolas, como corta-lhes uma das
pernas ou o tendo de Aquiles. [...] A lei tambm previa o corte de um brao do
quilombola que cometesse delito capital [].74
Verifica-se ento que existia todo um cdigo de punies com os escravos fugitivos, a
lei era severa, a postura contra esses escravos que tentavam fugir, dando-lhes castigos cruis
visava tambm deix-los como exemplo para outros escravos, mostrando o que lhes
aconteceria se tentassem o mesmo. E eles tentaram. Bastava uma oportunidade surgir, para
que os mesmos a aproveitassem, s vezes, eram esperados meses, anos, para que tal momento
chegasse.
neste sentido que podemos afirmar que, em grande parte, a histria dos escravos no
Brasil tem sido escrita com sangue, suor e lgrimas, embora a historiografia tenha nos
revelado as astcias pensadas por eles para terem seus momentos de alegrias.
E, se nem tudo foi sofrimento, mas com certeza esses momentos de contentamento na
escravido foram sem dvida, muito raros. Os castigos eram apenas uma das estratgias
pensadas para conter os revoltosos. Existiam os mais brandos e os mais severos, de acordo
com o delito praticado, podendo chegar at a pena de morte como j foi colocado acima.
Conforme Mattoso:
[...] O castigo mais suave que um senhor pode infligir a um escravo o de prend-lo,
em geral acorrentado. Mas cada fazenda possui suas gargantilhas, golilhas, mscaras
de ferro e seus troncos que prendem pescoo e artelhos e at imobilizam durante
dias e dias o escravo condenado. O tronco e o chicote so os castigos preferidos dos
senhores. [...] Mas o chicote no perde a condio de instrumento preferido da
represso e seu uso somente abolido em 1886.75
74
REIS, Joo Jos. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. In: Revista USP. So Paulo (28):
Dezembro/Fevereiro 95/96. p. 20.
75
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p. 156.
64
O castigo fsico era uma das principais armas usadas pelos senhores para reprimir seus
escravos revoltosos, assim, o uso do chicote era um dos castigos mais comuns. Entretanto,
no s os castigos fsicos existiam, proibies de manifestaes sagradas para os escravos,
venda de familiares, enfim, existiam outras formas com as quais os senhores acabavam por
castigar emocionalmente e sentimentalmente seus escravos.
No geral, os pesquisadores tm colocado que quanto mais eram punidos mais se
revoltavam os escravos, a violncia praticada pelos senhores e at mesmo os castigos j
sofridos, no faziam com que muitos tivessem vontade se desistir da luta pela sua liberdade.
No s a luta individual foi comum, mas as diversas insurreies76 organizadas pelos
escravos, mostraram que mais do que se revoltar, eles buscaram caminhos para sair da
escravido. O que na maioria das vezes fez com que o objetivo no fosse alcanado foram os
prprios conflitos internos entre as diversas etnias. Para Mattoso:
[...] Temos a uma das chaves do insucesso de todos esses movimentos de revolta:
ao grupo de escravos faltam a coeso e a unidade em sua luta contra o poder. No
consegue esquecer suas disputas internas, nem as oposies multifacticas entre
crioulos e africanos, mestios e negros, forros, negros e mulatos livres. 77
Assim, com revoltas individuais ou coletivas, com conflitos e divergncias, o que
predominou entres estes homens foi o ideal pela liberdade. Deste modo, o caminho at o13 de
maio de 1888 foi bastante espinhoso. Muito longo, mas no cansativo.
Refletindo sobre as diferentes leis que surgiram durante o perodo da escravido em
benefcio da libertao dos escravos, ou favor de certa melhoria nas condies de vida do
escravo, podemos afirmar que a maioria eram apenas medidas paliativas, mas que na prtica
muito pouco mudou a realidade do escravo no Brasil. Muitas dessas leis apenas alimentaram o
sonho da liberdade, sonho este que se tornou muitas vezes pura iluso.
Mediante as presses internacionais, principalmente da Inglaterra, em 1831 foi
aprovada a lei que proibia o trfico de escravos no Brasil. No entanto, sua aplicabilidade no
era efetivada e a lei foi simplesmente ignorada. Com a presso da Inglaterra, uma nova lei foi
elaborada, visando penas mais severas para os contrabandistas que a infligissem. Foi neste
contexto que surgiu a Lei Eusbio de Queiroz. De acordo com Costa:
76
Ver por exemplo a revolta dos mals de 1835 ocorrida na Bahia. In: REIS, Joo Jos; SILVA, Eduardo.
Negociao e Conflito: a resistncia negra no Brasil escravista. So Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 99122.
77
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Traduo: James Amado. So Paulo:
Brasiliense, 2003. p. 38.
65
[...] A lei foi aprovada em 1850. Segundo a nova lei, a importao de escravos foi
considerada ato de pirataria e como tal deveria ser punida. As embarcaes
envolvidas no comrcio ilcito seriam vendidas com toda carga encontrada a bordo,
sendo seu produto entregue aos apresadores, deduzido um quarto para o
denunciante. Os escravos apreendidos seriam reexportados, por conta do governo,
para os portos de origem ou qualquer outro porto fora do Imprio. Enquanto isso no
fosse feito, eles deveriam ser empregados em trabalhos pblicos, ficando sob a tutela
do governo.78
Essa lei no passou a funcionar de uma hora para outra, os avanos contra o
contrabando de escravos foram correndo aos poucos, no entanto, s anos depois de sua
efetivao e com a vigilncia constante do governo foi que o trfico negreiro desapareceu em
definitivo.
Outra lei tambm fez parte do cotidiano do escravo no Brasil escravista. Depois de
tantas famlias separadas, de assassinatos e revoltas terem acontecido, s em 1869 a lei vai
proibir a separao da famlia escrava. Neste sentido, Castro nos coloca que: A prtica de
respeitar os grupos familiares nas partilhas e vendas de cativos pode ser registrada com
alguma freqncia, mesmo antes que se transformasse em imposio legal, em 1869.79
Vejamos que essa foi uma lei que finalmente respeitou os laos familiares, mas isso j
prximo abolio de 1888, ou seja, ocorreu muita presso tambm para que a mesma fosse
colocada em prol das famlias cativas.
A Lei do Ventre Livre de 1871 deveria ter um maior impacto em favor da libertao
dos cativos, no entanto, ela se mostrou arbitrria em alguns aspectos. De acordo com Mattoso:
A lei de 28 de setembro de 1871, n. 2040, chamada lei do ventre livre, promulgada pela
princesa imperial Isabel, regente do Imprio na ausncia de seu pai, D. Pedro II, concede
liberdade s crianas nascidas no pas, de me escrava.80
Na prtica, essa lei pouco favorecia a criana liberta. A mesma estipulava que a
criana deveria ficar sob os cuidados da me e do seu senhor at a criana completar 8 anos
de idade. Quando completava esta idade, poderiam acontecer duas situaes com essa criana,
o antigo proprietrio poderia receber uma indenizao de 600.000 (seiscentos) ris ou utilizar
os servios do menor at ele completar 21 anos. Caso o senhor fosse indenizado, criana
ficava na responsabilidade do estado, trabalhando para o estado tambm at os 21 anos.
78
COSTA, Emlia Viotti da. A abolio.8 Ed.. So Paulo: Editora UNESP, 2008. p.29.
CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laos de famlia e direitos no final da escravido. In: Histria da vida
privada no Brasil 2: Imprio. Coordenador-geral da coleo: Fernando A. Novais; Organizador do volume:
Luiz Felipe Alencastro. So Paulo: Companhia das letras, 2006. p. 345.
80
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p. 176.
79
66
Geralmente o senhor escolhia ficar com o menor. uma nova forma de escravido, pois a lei
no determina o nmero de horas de trabalho, o regime sanitrio ou alimentao a serem
dados ao jovem escravo livre, que fica inteiramente a merc do senhor.81
Assim, essa liberdade de nada valeria para este individuo, pois o mesmo continuaria
sendo explorado e mesmo quando ia para uma instituio, ficava separado da famlia, passava
ento a sofrer os preconceitos de uma sociedade onde o indivduo negro tinha pouco valor
como ser humano. Porm, mais irnico ainda foi a lei de 1885, conhecida como a Lei do
Sexagenrio. Mattoso ainda coloca:
A lei de 28 de setembro de 1885, a lei dos sexagenrios, que emancipa todos os
adultos de mais de 60 anos, tambm determina que o escravo liberto deve indenizar
seu senhor e, se incapaz de faz-lo em dinheiro, fica convencionado que os escravos
entre 60 e 62 anos trabalharo mais 3 anos, e os demais at os 65 anos.82
Assim, o que a historiografia nos coloca que a prpria lei impunha uma srie de
dificuldades para que o escravo idoso conseguisse sua liberdade, ele deveria trabalhar ainda
mais, para consegui-la, alm disso, j idoso, o lugar que poderia realmente conseguir naquela
sociedade era o da indigncia.
Poucas eram as leis que realmente beneficiavam os escravos, como vimos at agora,
no geral o escravo no tinha a lei do seu lado, ela s beneficiava os brancos, da tambm o
porqu de tantas revoltas e por inmeras vezes os negros recorriam aos brancos para que estes
os representassem perante um juiz. No geral, o que os senhores pretendiam era estender ao
mximo a condio do negro como escravo, pois isso era garantir a mo-de-obra aos
senhores.
Ainda de acordo com o panorama mostrado acima, dois anos antes da abolio, em
1886, vamos ter a lei que proibia os aoites. Deste modo, percebe-se que a abolio no se
deu de uma hora para outra, uma srie de medidas fizeram com que ela se concretizasse; o
que podemos refletir que a elite que tinha seu poder sustentado pelo trabalho escravo tentou
de tudo para que a abolio acontecesse o mais tarde possvel, e foi o que aconteceu, tendo em
vista que fomos o ltimo pas da Amrica a abolir a escravido.
E mesmo com a abolio da escravido em 13 de maio de 1888, o sonho da liberdade,
muitas vezes, tornou-se pesadelo. De modo geral, podemos afirmar que a abolio foi apenas
81
Idem, p.177.
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Trad. James Amado. So Paulo: Brasiliense,
2003. p. 179.
82
67
o comeo da emancipao do negro o qual continua sua luta at os dias atuais, luta pelo
direito a terra, pela livre prtica de sua religio, dos seus costumes, luta principalmente contra
o preconceito que vivencia no pas que ajudou a construir, no qual a sua historicidade foi
renegada e por muito tempo ele foi contemplado como um ser a-histrico.
Deste modo, dever nosso tambm nos comprometer com tais lutas, travadas no
cotidiano do negro, e em especial aqui, no tocante a nossa pesquisa, nas lutas agenciadas
pelos remanescentes de quilombo. Para muitos, a liberdade ainda um sonho. Para Costa:
Depois da abolio os libertos foram esquecidos. Com a exceo de algumas vozes,
ningum parecia pensar que era sua responsabilidade contribuir de alguma maneira
para facilitar a transio do escravo para o cidado. [...] A maioria tinha estado mais
preocupada em libertar os brancos do fardo da escravido do que estender aos
negros os direitos da cidadania.83
Dessa forma, a luta pelo direito cidadania continua, uma vez que com a assinatura da
Lei urea pela princesa Isabel, os negros foram jogados a sua prpria sorte. Todavia, essa
realidade tem sido modificada pela implantao das polticas pblicas que visam
reintegrao do negro sociedade. No entanto, a luta continuar, e sabemos que o caminho
longo e espinhoso, cabe-nos lanar mo dos instrumentos indispensveis para enfrentarmos as
adversidades de tal caminho. O princpio da igualdade social seria um deles.Mas, para alm
dos instrumentos legais em prol da luta dos afrosdescendentes no Brasil, podemos nos engajar
na luta pela valorizao, pela historicidade e preservao de suas memrias, por tanto tempo
desvalorizada. Memrias de sofrimento, de preconceito, de alegrias, de festas. Memrias de
remanescentes de quilombo. Sigamos enfrente.
1.4 CHEGAMOS POIS, NO GRILO
Nosso interesse, a partir de agora, se volta para apresentar a comunidade remanescente
de quilombo Grilo ao estimado leitor. A princpio dispomos para o leitor um mapa, atravs do
qual podemos observar a localizao da comunidade remanescente de quilombo Grilo frente
ao espao territorial da Paraba.
83
COSTA, Emlia Viotti da. A abolio. 8.ed. So Paulo: UNESP, 2008. p. 137.
68
MAPA 1 - PARABA: DESTACANDO O MUNICPIO RIACHO DO BACAMARTE
Destacando a localizao
da Comunidade Grilo no
Municpio de Riacho do
Bacamarte
Fonte: Elaborao prpria.
69
Deste modo, convido o leitor a passar pela BR 230 em direo a Joo pessoa, usando o
contorno como se fosse em direo a Riacho do Bacamarte/Campina Grande e entrando na
estrada estadual em direo ao distrito de Serra Rajada. Saindo da rodovia estadual que vai
em direo cidade de Serra Redonda entremos em Serra Rajada, e uma vez tendo adentrado
nesta localidade, preciso procurar um local para estacionar o automvel, pois o mesmo s
vai at a metade do caminho.
Subindo a serra, numa caminhada exaustiva, nosso corpo vai se esquecendo do
cansao e se envolvendo pela bela vista da paisagem ao nosso redor. Ao chegarmos ao topo
da serra, podemos enxergar de muito longe a cidade do Ing, mais frente, estamos j no
incio de solo de remanescentes de quilombo. Faz-se necessrio enfatizar ao leitor que,
durante todo esse nosso trajeto, chegando aos pontos mais altos que percorremos, destes
podemos enxergar as casas dos habitantes que residem no Grilo de baixo. E exatamente do
topo da serra que temos a imagem acima colocada.
Pertencendo cidade do Riacho do Bacamarte localizada no Agreste paraibano, a
comunidade remanescente de quilombo Grilo de encantar a qualquer um, simplesmente pela
sua localizao. A partir do alto da serra, chegamos pequena parte plana e depois
literalmente temos que subir pelas imensas pedras as quais nos proporcionam outras paisagens
magnficas. Mais uma vez, nosso caminho toma outro rumo, agora o de descer. Seguindo
por uma grota e um caminho estreito onde ambos os lados so cercados por lajedos, a partir
desse ponto mais frente encontramos um pequeno grupo de casas.
No geral, o que percebemos so os caminhos de acesso geralmente bem difceis de
serem percorridos, com ladeiras, lajedos e bastante acidentados. Assim, a descrio mais fiel
que podemos fazer do caminho que leva comunidade Grilo, realmente aquela pelo vis
que nos oferece a historiografia que trata sobre os quilombos, mostrando que os negros
fugidos escolhiam lugares de difcil acesso para morar, embora isso no seja uma regra, tendo
em vista que muitos quilombos se formaram prximos a cidades.84
Quanto origem do nome da comunidade, embora saibamos, segundo os relatos dos
moradores, que este recente, no temos como precisar sua data. Mas sobre o porqu deste
nome, existem vrias verses, segundo os relatos o nome se deu por conta de um poo de
gua que existia na comunidade o qual nunca secava, mesmo em tempo de seca e era rodeado
84
Na Cidade Maravilha, formada por volta de 1835 a noroeste de Manaus, na regio drenada pelo rio
Trombetas, negros e cafuzos parecem ter concertado algum modo de convivncia pacfica com a sociedade
circundante e praticam abertamente o comrcio de intermediao entre as aldeias indgenas e os regates. In:
REIS, Joo Jos; SILVA, Eduardo. Negociao e Conflito: a resistncia negra no Brasil escravista. So Paulo:
Companhia das Letras, 2009. p. 69.
70
por grilos cantadores, cantar este, que se ouvia de longe. Outros ainda contam que o nome
teria se originado por conta das mulheres que iam em grupos lavar roupa nesse poo, da
tagarelavam tanto quanto os grilos. De modo geral, o que podemos concluir que o nome est
relacionado ao poo e seus grilos ao redor.
Mas, para alm do dbio, ou mltiplo significado que possa ter a palavra Grilo, a
comunidade tem suas especificidades e singularidades que rompem com alguns esteritipos
que possivelmente possam se construir acerca das comunidades remanescentes de quilombo.
certo que ainda existem algumas casas de taipas e barro, mas estas no so em
grande quantidade, afirmam os moradores que assim eram antigamente. As casas, apesar de
muito simples, em sua maioria, so feitas de tijolos e telhas. Aparelhos de som, televiso e
celulares so comuns na regio, ainda percebemos que, por se tratar de um lugar de difcil
acesso, tambm muito comum na comunidade o uso de motos para auxiliar na locomoo
dos moradores.
Ainda percebemos que, embora exista um conjunto de casas prximas umas das
outras, tanto na parte de cima do Grilo como na parte baixa, isso tambm no regular na
comunidade, pois o que se percebe so casas bem distantes umas das outras, separadas por
caminhos longos e de difcil acesso.
71
Foto n 1- Caminho que d acesso a parte alta (de cima) do
Grilo. Fonte-: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
Foto n 2 - Viso da parte baixa do Grilo. Fonte: Fotografo:
AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
72
Na foto n 1, podemos perceber um dos caminhos, uma extensa subida que nos leva
at a parte alta do Grilo. J na foto n 2, tem-se a viso parcial da parte baixa da comunidade.
E se o atencioso leitor me permite frisar, vejamos que nem s de casas construda esta
comunidade. A pequena capela, doao do terreno feita por uma antiga moradora, (dona Dora,
j falecida), fica situada perto de algumas casas da comunidade. J a escola, a qual tida
como uma das maiores conquistas, pois as crianas no precisam mais se deslocar para to
longe em prol de sua educao fundamental, um dos bens maiores conseguidos por eles. A
Associao outra conquista, se encontra ainda em processo de regularizao, esta tambm
foi concluda com recursos da prpria comunidade e de alguns voluntrios. Tem-se tambm
uma pequena bodega, e ainda um boteco, ponto de encontro para as pessoas beberem aos
domingos, pois mercadinho s descendo para Serra Rajada. Soma-se a tudo isso um templo
evanglico da Igreja Assemblia de Deus, logo no incio da comunidade, o que vem dar uma
cor diferenciada no panorama descrito at agora.
A gente dessa localidade faz com que o indivduo que a visite, se encante com a
simplicidade, humildade, fora e alegria com que seus moradores vivem a vida. A grande
maioria dos habitantes da comunidade composta por negros e negras, mas os indivduos
brancos tambm fazem parte desse povoado, embora em minoria. Esta incluso de brancos
tem sido marcada tambm pelos casamentos inter-tnicos realizados na comunidade, o que h
certo tempo no era aceito entre os negros.
Falar da gente dessa comunidade pensar em um povo batalhador, forte, que no se
abala com as lutas enfrentadas no cotidiano. Alguns tmidos, outros mais simpticos, mas
todos muito solidrios. Algumas resistncias quanto a depoimentos dos colaboradores foram
vencidas ao longo da pesquisa, muitos moradores passaram a ser nossos amigos. E se o caro
leitor no pode v-los, garanto, pelo menos, enxerg-los, durante a construo do nosso texto.
As mulheres, algumas com leno amarrado no cabelo ou com frisos, as meninas de trere ou
no, os homens de chapu e todos(as) com memrias singulares para nos contar. Quanto s
crianas, ao passarmos nos caminhos, estas muitas vezes, nos acompanham at o ponto em
que vamos realizar a pesquisa, curiosas e atentas, esto sempre a sorrir e a conversar quando
so questionadas.
Essa gente de casas humildes e roupas simples tem corao nobre. Gente que levanta
da cadeira para danar quando nos fala de uma determinada festa de ciranda, gente que
quando relembra o sofrimento vivido se emociona e enche os olhos dgua, gente que se
enfurece e enrubesce quando narra o preconceito superado. Gente que, quando passamos nos
caminhos dos roados, nos cumprimentam com o suor no rosto e o sorriso nos lbios, gente
73
que valoriza a terra que cultiva, na qual nasceu e onde se encontram seus familiares. Os laos
afetivos, abraando essa terra, so muitos. E dessa gente que constituda a comunidade
Grilo, no distrito de Serra Rajada em Riacho do Bacamarte. Vamos juntos visit-los, saber de
suas histrias, de suas artes, de suas festas e de suas saudades.
74
2 CAMINHO: NAS TRILHAS DO GRILO: O ENCONTRO COM AS MEMRIAS
DE EX-ESCRAVOS
2.1 ENVEREDANDO NAS REFLEXES SOBRE MEMRIA
Deste momento em diante, estaremos constantemente recorrendo s memrias
pesquisadas na comunidade Grilo. Desde j salientamos que a memria um dos carros-chefe
da nossa pesquisa, a menina dos nossos olhos. Entretanto, faz-se necessrio colocarmos que,
mesmo sendo fonte essencial de nossa pesquisa, ela foi por diversas vezes problematizada e
repensada medida que no a tomamos como uma verdade absoluta dos fatos.
Dessa forma, podemos afirmar que os caminhos esto sempre a nossa espera, mas
adentrar por um faz parte das nossas escolhas. Escolher algo exige de nossa parte grande
empenho e muita responsabilidade. neste contexto que se inserem as nossas escolhas a
reflexo sobre memria tendo em vista que existe uma vasta literatura sobre tal temtica.
Pensar os laos de sociabilidade, as identidades, as prticas culturais no que se refere a
uma comunidade remanescente de quilombo, perceber que o cultural e o social andam lado
a lado, e que neste contexto se verificam tanto as prticas culturais que fazem com que a
comunidade se mantenha uma identidade coletiva, como tambm existem os conflitos as
tenses, as diferenas que contribuem na construo dessa identidade. Assim, o trabalho com
a memria foi um caminho, escolhido por ns, para refletir sobre tal comunidade.
Trabalhar com memrias requer muito cuidado e amadurecimento terico do
historiador, trata-se de uma escolha difcil e bastante delicada, o caminho pode ser
escorregadio e cheio de armadilhas.
Neste sentido, um dos objetivos especficos de nossa pesquisa refletir as memrias
de velhos e velhas da comunidade Grilo, que informam a comunidade como remanescentes de
quilombo. Desta forma, analisaremos os relatos sobre dois ex-escravos que viveram na
comunidade. E, ao contrrio do que muitos possam pensar, essa no uma tarefa fcil, pois,
devido s experincias de humilhaes e sofrimento que muitos desses indivduos j
vivenciaram, ou ouviram de seus antepassados, falar sobre alguns fatos pode reabrir feridas
que o tempo cicatrizou. Por isso nosso interesse aqui no somente o de refletir as memrias
que falam de um passado triste, sofrido, mas tambm aquelas que nos falam de momentos de
75
alegrias, pois dos momentos tristes muitas vezes o que se procura apenas esquec-los.
Assim:
O esquecimento est sempre ao lado, sempre pronto para saltar quando uma pessoa
quiser lembrar. Por isso, para ser duradoura, uma memria precisa lutar diariamente
com o esquecimento. E para ser bem sucedido nisso preciso conhecer o
esquecimento e registra-lo minuciosamente em todas as suas manifestaes
85
atestadas.
Muitas vezes, esquecer torna-se uma estratgia por parte dos indivduos, os quais
arquitetam esse esquecimento para no sofrer ainda mais, o buscar esquecer neste caso, tornase o no querer sofrer duas vezes. Ocorre que no s as lembranas do perodo da escravido
trazem sofrimento, como tambm o passado mais recente ps-abolio pode ser to doloroso,
na medida em que o preconceito que essas pessoas sofreram ou sofrem na sociedade atual
comea pela sua descendncia africana.
O que acontece que as memrias indesejadas que causam sofrimento, os indivduos
buscam esquecer, de modo que as geraes mais recentes vo perdendo as experincias
vividas pelos seus avs, bisavs e isto pode ser uma enorme perda para os remanescentes de
quilombos.
A memria tem sido, cada vez mais, objeto de pesquisa para os historiadores:
Assegurando a continuidade temporal, a memria fragmentada e pluralizada, se aproxima da
histria pela sua ambio e veracidade86. Deste modo, ao pretender melhor apreenso do
passado e presente, o historiador lana mo da anlise das memrias, memria e histria no
so mais separadas e a ambio por uma veracidade dos fatos, permeiam estes dois campos,
que por isso se aproximam e caminham lado a lado. Essa aproximao d-se a partir do
momento em que ambos os campos passam a valorizar o lado subjetivo dos indivduos, as
suas experincias vividas.
A memria pode ser problematizada pelo historiador como uma leitura realizada do
passado, de fatos que aconteceram, da porque a possibilidade de uma verdade ou uma
aproximao com a verdade fazer com que histria e memria se reencontrem.
85
WEINRICH, Harald. Auschwitz e o esquecimento impossvel. In: _____. Lete: Arte e critica do
esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001. p. 257.
86
SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememorao/comemorao: s utilizaes sociais da memria. In:
Revista Brasileira de Histria. So Paulo: ANPUH/Humanistas publicaes. vol.22. n 44. 2002. p. 426.
76
Mas a dificuldade do historiador em trabalhar com a memria no est apenas no
esquecimento intencionado, estrategicamente utilizado pelos indivduos, os silncios sobre
determinados fatos que causam algum tipo de inconvenincia, tambm podem acontecer. E
no raro, o silncio pode falar mais que as prprias palavras.
Esses tipos de silncios tambm so comuns em comunidades remanescentes de
quilombo, pois, para algumas comunidades negras desses locais, a religio de origem afro
ainda um tabu. Historicamente este povo teve sua religio, sua relao com o sagrado
demonizada, negativizada, no de se estranhar que, quando questionados sobre tal assunto,
eles silenciem. Isto comum na comunidade Grilo, a qual nos propomos pesquisar, e embora
silenciem, a religio afro inegvel dentro da comunidade. Outra grande dificuldade que os
mesmos tm de se colocar sobre os preconceitos que j sofreram, enquanto uns poucos
fazem questo de contar a discriminao sofrida, outros baixam a cabea e preferem se calar e
cabe ao historiador que lida com a memria, no refletir s com o oral, com o que dito, mas
tambm analisar os gestos, pois estes podem nos dizer muito.
Ora, ao lanarmos mo da memria, no podemos deixar de analis-la mediante a
ligao dos fatos histricos ocorridos, e jamais podemos nos esquecer da ambio que,
enquanto historiadores, temos em nos aproximar da verdade, no como uma verdade absoluta,
mas a verdade como uma possibilidade. Ao refletirmos as memrias, devemos tambm
problematiz-las, pensar o mbito da construo, assim:
A memria, no sentido bsico do termo, a presena do passado. [...]. A memria,
para prolongar essa definio lapidar, reconstruo psquica e intelectual que
acarreta de fato uma representao seletiva do passado, um passado que nunca
aquele do individuo somente, mas de um indivduo inseridos num contexto familiar,
87
social, nacional.
Neste sentido, ao refletirmos o passado atravs da memria de determinado indivduo,
devemos observar que estamos analisando o passado de um grupo e no de um s indivduo,
assim, devemos nos atentar para todo um contexto social, cultural, poltico, enfim, tudo em
torno do fato. Devemos nos atentar que a percepo de determinado fato, como por exemplo,
a abolio da escravido no Brasil em 1888, tomado de modo singular pelos negros.
Todavia, para que cheguemos a um carter de memria coletiva, preciso [...] que apresente
87
ROUSSO, Henry. A memria no mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO,
Janaina (orgs.). Usos e abusos da histria oral. 8. ed. Rio de Janeiro: FVG, 2006. p. 94.
77
um carter recorrente e repetitivo que diga respeito a um grupo significativo e que tenha
aceitao nesse grupo ou fora dele [...].88
Neste sentido, podemos falar em memria coletiva a partir do momento em que a
lembrana do passado seja comum, e de forma tal que sirva como elemento de identidade para
a comunidade.
Sendo considerado como uma referncia para os estudiosos que tratam com a
memria, Maurice Halbwachs em sua obra, Memria Coletiva, vai nos colocar que a memria
sempre um produto social, deste modo a sociedade influi no modo como os indivduos
percebem os fatos ao seu redor, no seu cotidiano. Assim, nossas lembranas, de algum modo,
sempre estaro ligadas a outra(s) pessoa(s). De acordo com este autor:
[...] Para que a nossa memria se aproveite da memria dos outros, no basta que
estes nos apresentem seus testemunhos: tambm preciso que ela no tenha deixado
de concordar com as memrias deles e que existam muitos pontos de contato entre
uma e outras para que a lembrana que nos fazem recordar venha a ser reconstruda
sobre uma base comum. No basta reconstruir pedao a pedao a imagem de um
acontecimento passado para obter uma lembrana. preciso que esta reconstruo
funcione a partir de dados ou de noes comuns que estejam em nosso esprito e
tambm no dos outros, por que elas esto sempre passando destes para aquele e
vice-versa, o que ser possvel somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo
89
parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo.
Estas noes comuns, que o autor se refere, muitas vezes as encontramos em nossa
pesquisa na comunidade Grilo, e por dividirem o mesmo espao social, por viverem h um
determinado tempo em um mesmo grupo que a memria coletiva propiciada a acontecer. ,
neste sentido, que os depoentes narram as festas como as cirandas, a prtica da cermica, do
labirinto. por viverem experincias em comum que podemos perceber a memria coletiva
entre os mesmos.
Mas interessante percebermos que, dentro de uma coletividade, e no mbito de um
determinado acontecimento, os indivduos selecionam partes individuais desse acontecimento.
Desta maneira, podemos compreender que: A memria , portanto, em relao histria, um
88
ROUSSO, Henry. A memria no mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO,
Janaina (orgs.). Usos e abusos da histria oral. 8. ed. Rio de Janeiro: FVG, 2006. p. 95.
89
HALBWACHS, Maurice. A memria Coletiva. Trad. Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro, 2006. p.
39.
78
modo de seleo no passado, uma construo intelectual e no fluxo exterior ao
pensamento.90
importante tambm colocarmos, que no s o historiador seleciona com suas
problemticas aquilo que ele quer saber do seu depoente, como tambm as respostas dadas
por estes, de igual modo, tambm so selecionadas.
a partir das colocaes at aqui pensadas sobre a memria, que partiremos a
desbravar um campo especfico de memrias na comunidade Grilo. Neste sentido, este campo
se refere s memrias dos mais idosos ou, como diria Ecla Bosi, trataremos sobre algumas
memrias de velhos e velhas da comunidade, que de algum modo falam do passado sobre a
escravido:
Bem outra seria a situao do velho, do homem que j viveu sua vida. Ao lembrar o
passado ele no est descansado, por um instante, das lides cotidianas, no est
entregando fugitivamente s delcias do sonho: ele est se ocupando consciente e
91
atentamente do prprio passado, da substncia mesma da vida.
O velho, de modo geral, pensa mais no passado do que os jovens que se encontram
centrados no presente e no futuro. O passado parte integrante da sua vida porque nele est a
sua histria, suas tristezas e alegrias vivenciadas. Ele est sempre comparando presente e
passado, pois, pela experincia de vida, pelo tempo vivido, muito bem capaz de praticar tal
comparao, alm disso, eles tm o poder de tornarem presentes aqueles que se ausentaram 92.
Assim, na velhice, acaba sendo conferido ao velho uma funo: a de lembrar.93 No entanto,
como j colocamos, ele pode escolher por tentar esquecer, ou simplesmente se silenciar.
Quando no o respeitamos e ignoramos sua voz, o matamos um pouco, sem se dar conta disto.
Assim, muitas vezes chegamos a renegar seu saber, pois como nos afirma Ecla Bosi:
Ele nos aborrece com o excesso de experincia que quer aconselhar, providenciar,
prever. Se protestamos contra seu conselho, pode calar-se talvez querer acertar o
passo com os mais jovens [...] A sociedade perde com isso. Se a criana ainda no
ocupou nela seu lugar, sempre uma fora em expanso. O velho algum que se
90
DOSSE, Franois. Uma historia social da memria. In: A histria. Trad.Maria Helena Ortiz Assuno.
Bauru: EDUSC, 2003. p. 289.
91
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de velhos. 15. ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 60.
92
Idem, p. 74.
93
Idem, p. 63.
79
retrai de seu lugar social e este acolhimento uma perda e um empobrecimento para
todos. Ento, a velhice desgostada, ao retrair suas mos cheias de dons, torna-se uma
94
ferida no grupo.
Valorizar as experincias dos velhos deve ser uma responsabilidade de todo cidado.
Os pequenos ensinamentos, as dicas, os conselhos, as histrias, ou seja, as artes de dizer e as
artes de fazer cotidianas que foram to comuns em sua vida, devem ser ouvidas e guardadas
em seus pormenores pelos mais jovens. E no caminhar da pesquisa a qual nos propomos, esse
olhar detalhado por tudo que eles e elas nos informaram, foi levado muito em considerao,
sendo um exerccio constante em nosso trabalho.
2.2 SEGUINDO A TRILHA: AS MMRIAS SOBRE DOIS EX-ESCRAVOS
a partir desse panorama que podemos perceber que a ligao entre historia e
memria tornou-se muito forte nas discusses historiogrficas. O territrio das memrias tem
sido mais um caminho que o historiador tem buscado desbravar na construo do
conhecimento histrico.
Assim, ao comearmos a refletir sobre as memrias que informam sobre o passado de
resistncia, de escravido, de remanescentes de quilombo, queremos apresentar ao leitor uma
convidada muito especial, trata-se de dona Dra; conversamos muito com a mesma. Foi a
nossa primeira depoente, mas, por imaturidade na pesquisa, s gravamos uma dessas
conversas, ento quis Deus lev-la to cedo, mas em poucas conversas ela colaborou muito
em nossa pesquisa. Atravs dos dilogos compartilhados com ela, pudemos nos aprofundar
em certos pontos da pesquisa com outros depoentes, muitas vezes citados por ela.
Dona Dra desenvolveu uma srie de funes sociais dentro da comunidade Grilo. Era
uma rezadeira muito requisitada e muitos na comunidade tm uma histria de cura a contar.
Ela guardava uma caixinha com lenos brancos e cada um tinha uma funo diferente, tais
lenos eram colocados nas pessoas rezadas, dependendo das doenas que elas tinham. Nessa
94
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de velhos. 15. ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 83.
80
caixinha, ela tambm escondia outros utenslios usados pela mesma durante as rezas e depois
guardados com o maior zelo.95
Vivendo em lugar de difcil acesso, de pessoas com poucas posses e bastante
humildes, dona Dra exercia outra funo de grande importncia para o grupo, ela foi, durante
muito tempo, a parteira da comunidade. Por conta dessa funo, existe hoje uma grande
quantidade de afilhados que vieram ao mundo graas ao seu auxlio. Assim, ter sido parteira,
talvez tenha sido a principal funo de dona Dra na comunidade. Alm disso, ela foi a
responsvel pela doao do terreno onde foi construda a capela, mas seu orgulho mesmo foi
o da construo da escolinha, em pocas de eleies, um determinado candidato perguntou o
que ela queria para a comunidade e ela no hesitou em pedir a escola.
Foto n 3- Escola Manoel Cndido Tenrio. Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
Assim, a escola construda sobre os imensos lajedos, como podemos ver na imagem
acima, foi uma conquista muito importante para dona Dra e para toda a localidade, pois, a
partir dessa obra, os netos de dona Dra, principalmente as crianas, no precisaram mais se
deslocar para longe, no intuito de estudar.
Alm de todos esses papis, desempenhados por ela, um era de incalculvel valor:
dona Dra era uma espcie de guardi das histrias e das tradies sobre seu povo. Senhora
simptica, acolhedora e muito acessvel, ela sempre nos recebia com grande satisfao na sua
casa. Tinha sempre uma gua gelada, ou um caf, um beiju, um milho verde cozido para
oferecer aos visitantes que vinham de to longe. Negra de altura mediana, com os cabelos
95
Estas foram informaes que Dona Dra nos colocou, quando conversamos informalmente sem a
utilizao de um gravador.
81
crespos e brancos sempre mostra, ajeitando-os com a mo, sempre dizia que no tinha
motivo para escond-los, pois o que ela tinha era cabelo de negro mesmo. Quando
chegvamos a sua residncia nos convidava para entrar, mas algumas vezes escolhemos ficar
ali mesmo, sentadas na calada fria, sentindo o frescor do vento e desfrutando daquela
paisagem que pareciam ser belezas que s existem no Grilo.
Mas o que chamou mesmo nossa ateno em relao dona Dra foi o dom bastante
especial: sabia narrar de uma forma que chegvamos a enxergar o que ela contava. Sobre o
talento que os velhos tm de narrar, Bosi afirma que; Seu talento de narrar lhe vem da
experincia; sua lio, ele extraiu da prpria dor, sua dignidade a de cont-la at o fim, sem
medo.96
Atravs de seu talento de narrar fomos espectadores ativos durante seus relatos,
perguntvamos, ramos, nos emocionvamos com a sua fala. Em uma de nossas conversas,
conhecemos Bernada ou Bernadina, como era mais comum cham-la. Bernadina foi escrava e
sendo libertada aps a Lei urea, ganhou o mundo a degustar, nem sempre doce, o gosto da
liberdade. Por motivos que ainda desconhecemos, ela foi buscar abrigo no lugar onde hoje a
comunidade Grilo. Um dia, com o gravador ao lado, devidamente ligado, perguntamos dona
Dra:
- E.C.A.: A senhora j ouviu falar de Bernadina?
- M.D.C.T.: J, eu que falei dela
[...]
- E.C.A.: Ela era cozinheira?
- M.D.C.T.: Era, Eu era cunzinheira ai fazia hum, gemendo assim, de velha sabe
- E.C.A.: caducando j
- M.D.C.T.: . Ai, cozinhava como Bernadina? Era moa o milho, botava de
molho, o milho dibulhado, botava de molho, aquela taxona assim, pisar milho de
molho no pilo? Era, era ela, duas nega, duas nega pra pisar, mixula, voc no sabe
o que no n?
- E.C.A.: No
- M.D.C.T.: Uma fica na bera do pilo, do pilo em p, e ota fica do outro lado, ai
uma bate a ota bate at, pou, pou, pou, pou. (ela faz o gesto batendo uma mo
fechada na outra aberta) Ela disse que era assim, quando pisava aquilo ali tanto
assim de milho (faz o gesto para demonstrar o tanto do cho at certa altura), pisava
bem pisado, ela tomava conta, penerava numa peneira, tirava a palha do milho com
gua pra fazer o xerm e massa tava pro outro lado, eles faziam aqueles taxo assim
de angu [...]97
96
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de velhos. 15. ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 91.
97
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
82
Diante da histria, narrada por dona Dra, que a ex-escrava Bernadina lhe contou,
podemos pensar um pouco sobre o cotidiano dos escravos com referncia ao meio rural e a
sua vida domstica, especialmente, no tocante ao papel feminino em tal cenrio. Neste grupo,
dentre as funes que Bernadina desempenhou, ela tinha uma funo importante, que era a de
ser cozinheira, ela era a responsvel particular pela alimentao dos negros, tarefa que
requeria determinada prtica no cotidiano das negras, durante o perodo da escravido no
Brasil, pois era dentro de um padro de precariedade que tais alimentaes quase sempre eram
realizadas. Assim:
[...] Aceitar como dignas de interesse, de anlise e de registro aquelas prticas
ordinrias consideradas insignificantes. Aprender a olhar esses modos de fazer,
fugidios e modestos, que muitas vezes so o nico lugar de inventividade possvel
do sujeito: invenes precrias sem nada capaz de consolid-las, sem lngua que
possa articul-las, sem reconhecimento para enaltec-las; biscates sujeitos ao peso
98
dos constrangimentos econmicos, inscritos na rede de determinaes concretas.
Deste modo, quando Bernadina contava me de dona Dra, do seu trabalho onde
fora escrava, de como o angu era preparado, podemos perceber nas memrias de Bernadina os
modos de fazer uma alimentao. O improviso e a criatividade eram agenciados com astcias
mltiplas nesse cotidiano. Nesse modo de fazer, existia tambm toda uma ritualizao, o
debulhar o milho, colocar o molho, moer e peneirar para depois fazer o angu.
Alm disso, com os gestos realizados por Bernadina e a outra escrava, cada uma de
um lado do pilo em uma determinada seqncia temporal, podemos perceber o modo de
preparar a alimentao. A aparecem cdigos, ritos e costumes, que poderiam ou no ser
seguidos pelas prximas geraes, de modo a facilitar o cotidiano, na prtica desse trabalho,
todavia o ritual a inegvel.
Cada hbito alimentar compe um minsculo cruzamento de histrias. No invisvel
cotidiano, sob o sistema silencioso e repetitivo das tarefas cotidianas feitas como
que por hbito, o esprito alheio, numa srie de operaes executadas
maquinalmente cujo encadeamento segue um esboo tradicional dissimulado sob
mscara da evidncia primeira, empilha-se de fato uma montagem sutil de gestos, de
ritos e de cdigos, de ritmos e de opes, de hbitos herdados e de costumes
99
repetidos.
98
CERTEAU, Michel de. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A Inveno do Cotidiano 2: Morar, cozinhar.
Trad. Ephraim F. Alves e Lcia Endlich Orth. 7.ed. Petrpolis: Vozes, 2008. p. 217.
99
Idem, p. 234.
83
Neste sentido, estes gestos marcam um fazer, as escolhas, uma tradio do cotidiano
em se preparar a alimentao. Por serem a fora de trabalho indispensvel no meio rural e nas
grandes propriedades, os negros deveriam estar bem alimentados, mas isto geralmente
significava quantidade de comida e nem sempre qualidade ou variedade, neste contexto que
se realizavam as formas de preparar a alimentao pelas negras. Assim: Em cada cozinha
regional, se houve inveno de um modo de fazer particular, cujo significado ou cujas
razes foram depois esquecidos, isso via de regra foi para responder a uma necessidade ou a
uma lei local.100
Quantos desses modos de fazer as refeies foram criados pelas negras do perodo da
escravido e quantos ns copiamos, reproduzimos, adaptamos em nosso cotidiano, sem
pararmos para refletir sobre as mos que primeiramente os inventou, gesto por gesto, etapa
por etapa.
A feijoada, o cuscuz, o angu, o uso da pimenta, entre tantas outras comidas que fazem
hoje parte de nossas escolhas cotidianas em nossas refeies, foram invenes e adaptaes
dos africanos. No esquecendo que, para alm de uma necessidade fisiolgica, as refeies
realizadas pelos negros e negras podiam ter um sentido cerimonial, sagrado ou festivo.
E ainda, dando continuao ao relato de Bernadina, tentando reproduzir a fala de
Bernadina, como a mesma havia falado, dona Dra ainda acrescenta sobre a situao em que
Bernadina vivenciou, quando ainda era escrava e trabalhava fazendo as refeies dos negros:
[...] eu sofri muito, meio mundo de gente devia tudo trabalhar, cortar mato, limpar
mato - e ela cozinhando angu pra aquele mundo de gente, eles comiam angu com
101
rapadura.
Nesta pequena fala de Bernadina, reproduzida por dona Dra, mais uma vez nos
mostra um pouco do cotidiano do negro no mbito rural. Cortar o mato, limpar, eram algumas
das funes dos que trabalhavam no campo.
Outro ponto que podemos pensar que geralmente, como nesse caso da propriedade
onde Bernadina trabalhava, as refeies dos escravos eram feitas longe da cozinha do grande
proprietrio, assim, percebe-se que essas relaes sociais estavam bem definidas dentro do
100
CERTEAU, Michel de. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A Inveno do Cotidiano 2: Morar, cozinhar.
Trad. Ephraim F. Alves e Lcia Endlich Orth. 7.ed. Petrpolis: Vozes, 2008. p. 242.
101
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
84
sistema escravista. Ainda ao questionarmos um pouco sobre a vida de Bernadina, aps a
liberdade, dona Dra nos coloca:
- M.D.C.T.: Eu sofri muito, a minha sorte e de todo mundo foi a princesa Isabel, ai
fazia hum (risos) Ai eu ficava assim
- E.C.A.: Ai depois que ela foi liberta ela, ela no tinha onde morar?
- M.D.C.T.: No, ela ficou assim pelo meio do mundo pedindo esmola.
- E.C.A.: Eu acho que ela saiu da casa que ela tava e foi ganhar o meio do mundo n
- M.D.C.T.: Devia ser n, da senzala. Era longe, quem sabe l onde , eu no sei
onde no, eu sei, que no era por aqui no, que por aqui no tem escravo, por que
o meu av no contava de escravido daqui, por aqui, era longe.102
Ao pensarmos esta memria de dona Dra, podemos perceber em primeiro lugar que
muitos negros sabiam exatamente quem lhes deu a liberdade, isso nos permite refletir que eles
no ficaram to alheios ao processo da abolio como a antiga historiografia havia colocado.
O trecho acima citado tambm nos leva a pensar na situao a que muitos negros logo aps a
abolio foram entregues.
O que aconteceu com Bernadina? No sabemos ao certo de onde ela veio, a qual
senhor pertenceu, mas sabemos que seu destino, mesmo depois de velha, foi o de peregrinar
pelo mundo a pedir esmola. E quantos negros, aps a abolio no foram entregues prpria
sorte, mesmo estando em idade avanada ou em idade adulta? Sobre esta situao do negro
aps a abolio, Costa nos coloca que:
Gregrio Bezerra conta em suas memrias a histria de um negro que era feitor em
uma fazenda do Nordeste, onde Bezerra trabalhou ainda menino (na primeira dcada
do sculo XX). Ele tinha sido escravo e continuava pior que escravo, escreveu
Bezerra: E tinha saudades da escravido, porque, segundo ele, naquela poca comia
carne, farinha e feijo vontade e agora mal comia um prato de xerm com gua e
103
sal
No relato deste ex-escravo, percebemos como a sociedade recebeu os libertos da
escravido no Brasil, as mnimas condies de vida e sobrevivncia no lhes foram
garantidas, a liberdade no lhe foi entregue junto com a cidadania, a explorao do trabalho
para ganhar o po continua at os dias atuais e o preconceito pelo qual so tratados, tem nos
102
103
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
COSTA, Emlia Viotti da. A abolio.8. ed. So Paulo: UNESP, 2008. p.131
85
mostrado que, ao que se refere democracia, direitos iguais, cidadania e o exerccio de uma
verdadeira liberdade o treze de maio de 1888 pode ser considerado um mito.
justamente por no terem recebido um lugar como cidados na sociedade brasileira,
que o negro precisou, durante e depois da escravido, reinventar seu cotidiano de vrias
formas, as astcias tornaram-se o remdio para amenizar as dores do seu pesar, da falta de
trabalho, do no acesso educao, sade, ao lazer. Neste sentido, Certeau nos afirma que:
[...] Ao contrrio, pelo fato do seu no-lugar, a ttica depende do tempo, vigiando
para captar no vo possibilidades de ganho. O que ela ganha, no guarda. Tem
que constantemente que jogar com os acontecimento para os transformar em
ocasies. Sem cessar, o fraco deve tirar partido de foras que lhes so
104
estranhas.
Deste modo, muitos escravos e ex-escravos buscaram inventar seu cotidiano de modo
a tirar proveito das situaes, das ocasies mais inusitadas, sua antidisciplina remodelou os
espaos a eles reservados, as estratgias pensadas pelos senhores proprietrios foram
repensadas por parte das astcias, empregadas por eles no seu cotidiano, os quais aparentando
fracos mostraram sua fora e sua coragem. Assim, se o senhor aumentava as horas de
trabalho, explorando ainda mais o escravo, este por sua vez passava a labutar vagarosamente
trazendo prejuzos ao seu senhor.
E por falar em fora, coragem, astcia permita-me o leitor lhe apresentar mais uma
depoente, dona Josefa. Negra dos olhos miudinhos azuis-esverdeados, 88 anos de idade, de
aparncia se mostra muito mais jovem. Pequena na altura, mas grande no corao, nos recebe
sempre com um sorriso acolhedor. Com leno preso na cabea, de saia, camisa de algodo e
com um chinelo a arrastar, quase sempre nesses trajes que ela vem nos receber, simples no
modo de se trajar, mas traz consigo uma riqueza de experincia de vida que faz qualquer
historiador, adepto da Histria Oral, nos invejar, por to rica depoente.
104
CERTEAU, Michel de, A Inveno do Cotidiano 1: Artes de fazer. 12. ed. Trad. Ephraim Ferreira
Alves. Petrpolis: Vozes, 1994. p. 46-47.
86
Foto n 4- Dona Josefa em sua residncia.
Fonte: Fotogrfo: AMARAL, Kcia Karla S. C., 2010.
A sua trajetria uma lio de vida queles que tm medo de enfrentar os obstculos
do seu cotidiano. Ainda muito jovem, ficou viva com um filho para criar. O marido com
apenas trinta anos de idade trabalhava como pedreiro de um prdio no Rio de Janeiro e ao
romper-se o andaime em que trabalhava, caiu de muitos andares. Dona Josefa viajou com um
cunhado para o Rio de Janeiro para saber se recebia algum dinheiro pelos servios prestados
por seu marido, mas, por no ser casada no civil, era apenas na igreja, ela no teve direito a
nada. A partir da, passou a trabalhar como domstica. Morou em So Paulo, em Santa
Catarina e no Rio de Janeiro. Porm, assim que conseguiu sua aposentadoria, voltou para sua
terra, para junto do seu povo como ela mesma diz. Agora que o leitor j conhece um pouco de
dona Josefa, entremos pois, em sua casa, e ouamos seus relatos sobre Bernadina:
- E.C.A.: Quando ela era escrava ela trabalhava em qu?
- M.J.C.: Em qu?
- E.C.A.: Bernadina. No tempo do cativeiro ela trabalhava em que quando ela era
escrava?
- M.J.C.: Ela trabalhava na inchada, na inchada no Cuits l no roado grande ali
como quem vai pro Mororo [...] ela vivia uma vida muito triste era, no tinha nada
na vida no, aplantava umas macaxeiras [...] no tinha nada pra se comer naquele
105
tempo no.
105
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
87
Aqui nos deparamos com outra funo que Bernadina exercia no lugar em que vivia,
ela tambm trabalhava na agricultura e plantava macaxeira. A lembrana de dona Josefa sobre
em que Bernadina trabalhava, no nega a de dona Dra, mas adiciona, possvel que, alm de
cozinheira, ela tambm trabalhasse no campo, j que a mo-de-obra escrava podia ser
explorada de vrias formas, assim o proprietrio desejasse.
A soluo parecia clara e nica: utilizar o escravo. Este ia para onde seu senhor
quisesse, ocupava-se das atividades que lhe fossem atribudas, morava onde o
senhor mandasse, comia o que ele lhe desse, e o que era mais importante: oferecia
uma continuidade, uma permanncia, que no era de esperar de um trabalhador livre,
que a qualquer momento poderia abandonar a fazenda e deixar uma safra para
106
colher.
Deste modo, podemos perceber que o escravo era mo-de-obra flexvel para seu
proprietrio, caberia ao escravo se adaptar aos trabalhos encarregados pelo seu senhor. No
entanto, tambm no podemos esquecer que, quando tirados de funes que j estavam
acostumados a desempenhar, os escravos faziam suas reivindicaes, e lanavam mo de suas
astcias, agindo com certa moleza no trabalho novo, at voltarem ao antigo. Neste sentido, o
que queremos ressaltar aqui que os escravos podiam ser encarregados de vrias tarefas
diferentes, no s no meio rural como tambm no meio urbano.
O que ainda podemos refletir entre as memrias de dona Dra e dona Josefa que
ambas se recordam de um passado em comum: a presena e as histrias contadas por
Bernadina na comunidade Grilo. Estas lembranas em comum de ambas as narradoras
enfatizam aquilo que Maurice Halbwaches chamou de base comum ou noes em
comum107, sem as quais no poderamos pensar ou falar em uma memria coletiva dentro da
pesquisada comunidade Grilo.
No entanto, para que esta memria coletiva exista em um grupo, no necessrio que
as recordaes sejam exatamente iguais. Assim, as lembranas sobre Bernadina pode ser uma
para dona Dra e outra para dona Josefa, isso vai depender das imagens, das recordaes que
ambas selecionaram para guardar sobre tal fato. E que imagens dona Josefa guardou da
Bernadina que conheceu? Buscando os retalhos de nossas conversas, podemos arriscar e
construir em remendas, um pouco dos traos e perfil de Bernadina.
106
107
39.
COSTA, Emlia Viotti da. Da senzala colnia. 4. ed. So Paulo: UNESP, 1998. p. 71.
HALBWACHS, Maurice. A memria Coletiva. Trad. Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro, 2006. p.
88
- M.J.C.: A nega no passava nessa porta, eu tinha medo dela de morrer, minha
nossa senhora, sei l, minha fia era uma negona que no passava nessa porta, do
tempo do cativeiro ela, e ela contava aquelas coisas, [...] chegava na casa de me, ela
gostava de ir l pra casa de mais,[...], ela tinha um tuco, tuco, ela tinha um hbito fei
108
minha fia que s voc vendo.
A lembrana que dona Josefa guardou de Bernadina diz respeito principalmente a uma
negra bastante alta e que j no conseguia pronunciar as palavras direito, talvez pela idade
avanada, por conta da velhice, pois no sabemos ao certo a idade de Bernadina, mas pelas
entrevistas realizadas tanto com dona Dra quanto com dona Josefa, chamava ateno
tambm naquela poca o fato que Bernadina j tinha 100 anos. Deste modo, ela foi muitas
vezes alvo de brincadeiras e zombarias, por parte dos mais jovens. Sobre a sua provvel idade
dona Dra afirmou o seguinte:
- M.D.C.T.: Mas minha fia, naquela poca ela j era to velha
- E.C.A.: No eu fico bestinha, ela tinha 100 anos j?
- M.D.C.T.: Oxen, ou mais?! Eu j to com 81 ano, eu j to com 81 ano e eu era
assim uma garota de uns dez anos na poca que eu conheci ela, ento ela era muito
109
antiga no . Ela foi escrava.
Mas no era apenas pelos hbitos estranhos de falar ou de interromper a fala, que
marcaram a imagem construda sobre Bernadina para dona Josefa, o modo de se vestir
tambm ficou em sua memria. Assim, ela nos conta:
- M.J.C.: Ela contava, por que eu sofri minha fia, eu sofri, ela contava muita coisa,
muita coisa mesmo da vida dela, do tempo do cativeiro, de ter dia de no ter o que
botar no fogo pra comer, ela disse que tinha tempo da roupa dela ser um saco de
estopa, sabe o que estopa?
- A.C.C.: Sei
- M.J.C.: Apoi, ela costurava assim, furava o saco assim, e vestia e amarrava uma
110
tira,uma tira por aqui
Ora, neste instante de sua descrio, podemos perceber que em seus trajes, por no ter
condies financeiras e j no ter condies de trabalhar, Bernadina busca no improviso em
108
109
110
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
Entrevista realizada em equipe com Amanda Carla Cabral em 28 de setembro de 2008.
89
seu cotidiano, algo que lhe sirva como roupa, nada muito costurado ou bem planejado. Mas,
para alm dos trajes, dona Josefa nos coloca o seguinte:
- E.C.A.: Dona Dra disse a mim que, eu acho que era dona Bernadina que andava
com um faco...
- M.J.C.: Bernadina era ela mermo
- E.C.A.: Ela andava com um faco por qu, hein?
- M.J.C.: Porque era a arma dela n, alguma coisa que acontecesse por lado dela ela
cortava no faco, era quase como uma cangacera, ela era quase como uma
111
cangacera.
Assim, no s os trajes de Bernadina eram inventados a partir de sacos de estopas, mas
o faco, objeto de uso cotidiano para aqueles que trabalham na zona rural, torna-se ento sua
arma, caso algum venha afront-la, Certeau nos ajuda a refletir sobre esse cotidiano de
Bernadina, enxergando nesse panorama um cotidiano, apesar de todos os problemas, sendo
vivido com muita criatividade, assim [...] Essas prticas colocam em jogo um ratio
popular, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, [...]. 112
deste modo, que esses atores do cotidiano, vo realizando as suas pequenas artes,
dando seus pulos com improvisos e criatividade para no cair em abismo. E quantos escravos
e ex-escravos, e quantos afro-descendentes no tiveram e ainda tm que se valer das
operaes astuciosas para viverem seu cotidiano. Quantos fizeram de seus instrumentos de
trabalhos armas contra seus senhores em determinadas revoltas, outros fizeram de paus e
pedras, armas para sua defesa, para demonstrar a sua revolta.
de nosso interesse, enquanto historiador(a), vasculharmos os fatos para encontramos
essas mil e uma maneiras de viver o cotidiano, que homens e mulheres negras buscaram em
prol de dias melhores. De modo geral, verifica-se que eles e elas foram agentes de seu
cotidiano de maneiras mltiplas, at o silncio, o baixar a cabea, muitas vezes, podiam ser
pensados como uma astcia, em prol de um objetivo maior que pretendiam para sarem da
situao em que se encontravam.
Outro ponto que nos chama ateno nos relatos de dona Josefa, que, de acordo com
seu testemunho, a ex-escrava Bernadina no se encontrava assim to s no que se refere aos
laos familiares. Em nossa conversa perguntei-lhe;
111
Entrevista realizada em 23 de fevereiro de 2010.
CERTEAU, Michel de, A Inveno do Cotidiano 1: Artes de fazer. 12. ed. Trad. Ephraim Ferreira
Alves. Petrpolis: Vozes, 1994. p. 42.
112
90
- E.C.A.: Como era o nome do irmo de Bernadina que a senhora disse?
- M.J.C.: Era, era, como foi meu Deus eu no disse o nome ainda agora dele.
- E.C.A.: Ele era bem velho igual a ela nera, o irmo dela?
- M.J.C.: Era
- E.C.A.: Ai no tempo de cativo ele trabalhava em que? Trabalhava na roa como
ela?
- M.J.C.: Ele?
- E.C.A.: Sim, ele fazia o que quando ele era cativo?
- M.J.C.: Trabalhava na roa no tinha patro, trabalhava de inchada (risos) eles
sofreram minha fia, a veia parecia uma tonta coitada [...] ficou louca meia
abestalhada de tanto que trabalhou pra esse povo no cativeiro. Era Gardino o nome
113
dele, era Bernada e Gardino os dois irmos.
Mediante os relatos de dona Josefa, ficamos sabendo que Bernadina j no se
encontrava s na vida, a caminhar pelas matas na regio, hoje compreendida como Cuits,
Serra Rajada e Ing. Mas, desse irmo, sabemos muito pouco. Consta que ele participava
menos das conversas na casa da me de dona Josefa e ia pouco l tambm, mas era to velho
quanto Bernadina.
- E.C.A.: Deve ter sofrido muito viu...
- M.J.C.: Cala a boca, cala boca, pelo amor de Deus. S Deus sabe o quanto ela
sofreu nesse mundo. Ela tinha um irmo tambm, esse irmo dela eu vi pouca vez,
chamava Gardino
- E.C.A.: Como?
- M.J.C.: Gardino, ela tinha um irmo
- E.C.A.: Ai esse irmo veio parar por aqui tambm
- M.J.C.: Parou por aqui
- E.C.A.: L pelo Cuits tambm
- M.J.C.: L pro Cuits tambm, l por onde ela tava, ele tambm no tinha nada s
114
tinha ela, andava caando coisas ai pela vida.
Gardino era to velho quanto Bernadina, e ao que consta sua vida era to sofredora
quanto a da irm, mas sobre ele sabemos muito pouco. E, vivendo em ms condies de vida,
restou-lhe a caa para poder sobreviver junto a sua irm.
Assim, depois de uma vida de trabalho no campo e vivendo e tendo vivido quase a
vida toda na escravido, na velhice, um gosto amargo de liberdade eles experimentaram,
gosto de liberdade vivida em condies miserveis de vida, a pedir esmolas e a se vestir com
113
114
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
91
qualquer trapo que pudesse ser encontrado, a viver atrs de algo que lhes pudesse servir como
uma refeio. Mas quem sabe, ainda assim, para eles, se tratasse de liberdade, mas talvez no,
a liberdade que haviam sonhado. Nos anos que se seguiram abolio, os sonhos de
liberdade dos libertos converteram-se muitas vezes em pesadelo em virtude das condies
adversas que tiveram de enfrentar.115
Deste modo, no cabe ao historiador fechar-se apenas no tema da escravido ou da
abolio em si, mas nos aprofundarmos no assunto e nos interessarmos a refletir o lugar que o
negro emancipado assumiu na sociedade da poca, s assim, podemos compreender melhor as
especificidades que cercam o afro descendente em nossa atual sociedade. Por tudo isso, outras
inquietaes nos abraam. De onde veio Bernadina e Gardino? Qual foi o seu possvel
desfecho enquanto sobreviventes da escravido? Embora nosso trabalho no tenha como meta
trazer tona respostas prontas e acabadas, vamos s reflexes, e aqui mais uma vez
recorremos calorosa dona Josefa.
- M.J.C.: Ningum sabe de onde ela veio n. Agora ningum sabe de onde ela veio,
onde era a famlia dela, ela disse isso a me, mas eu no entendi no, ela veio por
esse mundo, eu sei l andando por a a fora, at que chegou a no Cuits e arranjou
alguma coisinha ai. Ela ficou ajudando fazendo as coisas n, eles dava as coisas pra
ela, mas ela era cativa, era cativa, dava roupa pra ela vestir, ela chegava l em casa e
dizia ta vendo o que me deram, ela dizia o nome da pessoa que deu dizia aquela
116
criatura de Jesus deu um vestidinho pra mim.
Embora a origem de Bernadina no seja um interesse primordial de nossa pesquisa,
no podemos deixar de frisar que, por outro lado, questionar essa origem pensar tambm em
outras problemticas interessantes, como por exemplo, sabermos quem foi seu proprietrio.
No entanto, mesmo sem sabermos de onde ela veio ou quem era seu dono, uma inquietao
nos toca, pois segundo dona Dra:
- E.C.A.: Ela foi escrava mesmo?
- M.D.C.T.: ela foi escrava, ento ela andava assim, pelas casas, pedindo as coisas,
sabe como n? J tava velha, no podia trabalhar mais, e o povo dava[...]
- E.C.A.: Ficou algum parentesco, alguma pessoa que famlia dela aqui
- M.D.C.T.: Tinha Man Graciliano velho, era famia dela, no era escravo, era
primo parece, parece que ela era tia de Man Graciliano velho. Ai ela conversava
115
116
COSTA, Emlia Viotti da. A abolio. 8. ed. So Paulo: UNESP, 2008. p. 138.
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
92
mais me, me perguntando a ela como era o escravo, ela contava Eu era
117
cunzinheira.
Assim, no seria apenas por se tratar de um lugar onde s havia negros, que Bernadina
e Gardino escolheram parar na regio onde hoje o Grilo. A existncia de parentes seus no
Grilo pode ter colaborado para que pudessem vir a conhecer aquelas terras. A esse respeito,
dona Josefa ainda nos colocou que:
- M.J.C.: Os moradores daqui?
- A.C.C.: As primeiras pessoas que comearam a morar aqui, como foi que
comeou, se as primeiras casas foram aqui embaixo ou l em cima?
- M.J.C.: Primeiro foi ali em cima com meu av, meu bisav, todo mundo era por l,
acula, naqueles buracos, por dentro daquelas grotas de pedras (risos) E o meu av da
parte de me morava ali pelas aquelas pedreiras de l e o meu av da parte do meu
pai morava em cima daquela cerinha ali, meu av era Manoel Graciliano dos Santos
118
e Candido Tenrio.
Desta forma, podemos pensar que provavelmente o fato de haver laos familiares de
Bernadina e Gardino onde hoje a comunidade Grilo, essas memrias dizem respeito a exescravos que estiveram intimamente ligados comunidade, tendo em vista que havia
parentesco seu l.
Ora, sabemos que a sociedade ps-abolio no se preparou para receber os negros
libertos, pelo contrrio, sua fora de trabalho foi rapidamente substituda pela mo-de-obra
estrangeira. Neste sentido, to importante analisarmos no s os antigos quilombos que se
espalharam pelo Brasil, mas tambm as comunidades negras que hoje lutam por seu lugar,
pelo processo de regularizao de seu territrio e o tombamento como comunidades
remanescentes de quilombo.
Dentro de um processo longo e complexo, os afrodescendentes tiveram a sua
cidadania negada, no tiveram acesso educao, foram integrados nas formas de trabalhos
consideradas subalternas, e alm disso, tiveram sua relao com o sagrado demonizada;
estamos citando apenas algumas das limitaes que a sociedade lhes imps. Portanto, para
onde muitos desses ex-escravos se dirigiram? Uma das respostas seria para localidades cada
vez mais distantes das zonas urbanas onde a discriminao e a falta de respeito com sua
117
118
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
Entrevista realizada em 28 de setembro de 2008.
93
trajetria ainda estavam ou ainda se encontram muito presentes. Continuar inserido numa
sociedade como esta seria de certa forma estar revivendo um novo tipo de escravido ou
outros tipos de escravido.
Foi neste contexto que muitos escolheram o territrio para habitar e continuar com
suas tradies e seus costumes, os quais muitas vezes entram em decadncia por conta das
geraes mais jovens no quererem continuar a praticar os costumes de seus antepassados. De
acordo com Certeau:
[...] Um lugar a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas
relaes de coexistncia. A se acha portanto excluda a possibilidade, para duas
coisas, de ocuparem o mesmo lugar. A impera a lei do prprio [...] Um lugar
portanto uma configurao instantnea de posies. Implica uma indicao de
119
estabilidade.
Deste modo, para Certeau um lugar fechado em si, determinado por um prprio, ele
estvel porque no vai variar, sempre ir corresponder a mesma coisa e desempenhar a
mesma funo. O lugar est para o imvel, para o morto que no pode mais praticar nenhuma
ao. O lugar est para o fixo, para aquilo que foi determinado ser. J o espao para Certeau
se configura dentro de uma outra relao, de uma outra perspectiva:
[...] O espao um cruzamento de mveis. de certo modo animado pelo conjunto
dos movimentos que a se desdobram. Espao o efeito produzido pelas operaes
que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade
polivalente de programas conflituais ou de proximidade contratuais. [...]
Diversamente do lugar, no tem portanto nem a univocidade nem a estabilidade de
120
um prprio. [...] Em suma, o espao um lugar praticado.
Podemos ento pensar de acordo com o exposto por Certeau, que o espao praticado,
colorido pela arte do cotidiano, exercido pela ao dos sujeitos histricos. Por no ser fechado
em um prprio, o espao conseqncia das aes exercidas pelos seus usurios, desta forma,
so os usos, as prticas cotidianas pelos sujeitos que vo proporcionar com que o espao
funcione mediante as necessidades dos pedestres.
119
CERTEAU, Michel de, A Inveno do Cotidiano 1: Artes de fazer. 12.ed.. Trad. Ephraim Ferreira
Alves. Petrpolis: Vozes, 1994. p. 201.
120
Idem, p. 202
94
neste contexto que o lugar Grilo se transforma em espao, no momento em que o
grupo ali presente lutou pelo reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo,
as prticas culturais, os costumes, as memrias de lutas e resistncias dessa comunidade
fazem dela um espao praticado.
Assim, ao chegarem onde hoje denominada a regio Grilo, os ex-escravos,
Bernadina e Gardino, na caa, nas trilhas escolhidas, na acolhida pelos moradores, fizeram de
suas maneiras, tambm dali, um espao praticado. Espao de trabalho, de conversas onde
poderiam ser entendidos, de costumes iguais ou prximos aos seus, espao onde aquele povo
ali existente, poderiam tambm tornar-se seu povo pelos laos de solidariedade e de afinidade.
O espao praticado ganha luz, cor, vida nas engenharias astuciosas de seus atores, os
caminhos, as trilhas, os esconderijos, a sempre so possveis de acontecer. O imprevisto
sempre pode ser contornado mediante as habilidades de seus moradores. Neste espao, os
passos nunca se encontram desorientados, pois se sabe muito bem, onde quer se chegar, para
onde se quer ir.
Mas, ao que parece, para alm do espao Grilo, Bernadina e seu irmo buscaram outro
espao. Terra de negro claro. Ali eles sabiam que os parentescos, ou laos sociais tambm
no seriam to diferentes e distantes dos seus. E aqui queremos tambm apresentar ao leitor
mais uma de nossas colaboradoras. Referimo-nos dona Lourdes Tenrio Cndido, de 65
anos, negra alta, sempre com os cabelos presos em um leno, muito simptica e acolhedora,
ela a filha mais velha de dona Dra, uma das mulheres que trabalham com barro na
produo da loua no Grilo, tarefa que realiza com muita alegria. Por muito tempo, ainda foi
labirinteira, alm disso, seguiu os passos da me e tambm rezadeira. Acostumada sempre a
ouvir as histrias que dona Dra contava e nos contava sobre Bernadina, ao recordar os
relatos da me, nos coloca que:
- M.L.T.C.: Ela contava que sofria muito, apanhava, judiava, eles fugiram por esse
mundo, fugiram da casa dos senhores, ela e esse irmo dela agora a famlia dela
disse que ela no sabe, ficou calada segundo morreu n, ela veio simbora, tomou
rumo n, me disse que ela tomou rumo de morar n, e morreu ai, morreu ali,
Bernadina morreu ali em Pedra d`gua.
- E.C.A.: Ela andava por aqui e foi morrer em Pedra d`gua.
- M.L.T.C.: Foi em Pedra D`gua, l fizeram uma casinha, fizeram um ranchinho e
ficou morando l mais o irmo, j tavam velhos ela e ele ficaram l at morrer 121
121
Entrevista realizada em 24 de abril de 2010.
95
Assim, depois de muito lutar na vida, trabalhando, sobrevivendo e vivendo antes e
depois da escravido, esse um dos possveis desfechos que dona Lourdes nos coloca da
trajetria de Bernadina e seu irmo Gradino. Mas aqui, a Histria no se fecha porque ela
nunca tem fim, a estas verses podero juntar-se outras, isto o que enriquece a Histria e a
torna instigante.
Mas o que vale ressaltarmos aqui que essas memrias sobre ex-escravos fazem parte
da memria da comunidade Grilo, quem no conheceu Bernadina e Gardino, o que no foi o
caso de dona Dra e dona Josefa, podem ter ouvido de seus familiares relatos sobre gente de
sua cor que passou por tais atrocidades na vida, como foi o caso de dona Lourdes que ouviu
de sua me.
Neste sentido, essas memrias reforam as identidades na comunidade, tendo em vista
a sua ntima ligao com o passado escravista. Estas memrias, alm de servirem como
sustentao no que se referem as suas identidades, enquanto remanescentes de quilombo,
tambm uma oportunidade para as geraes mais recentes conhecerem a histria de seu
povo.
As lembranas grupais se apiam umas nas outras formando um sistema que
subsiste enquanto puder sobreviver a memria grupal. Se por acaso esquecemos, no
basta que os outros testemunhem o que vivemos. preciso estar sempre
confrontando, comunicando e recebendo impresses para que nossas lembranas
122
ganhem consistncia.
atravs dessas memrias contadas nas beiras das caladas, no fim de uma tarde de
trabalho, ou durante a noite no descansar do jantar, ou mais ainda, durante as visitas dos
pesquisadores comunidade que estes testemunhos vo passando para as geraes mais
recentes. Os idosos que contam esses relatos se identificam com seus antepassados, os mais
jovens passam a se identificar com os acontecimentos narrados tambm e passa tambm a ter
acesso ao passado dos seus parentes mais prximos.
Assim, vemos nos relatos de dona Dra, dona Josefa e dona Lourdes, marcas de uma
memria na qual a luta, o sofrimento, o cotidiano dos ex-escravos esto presentes. As
trajetrias de seus antepassados esto em suas memrias sem que elas percebam que so
espcies de guardis da histria de seu povo. Cuche nos coloca que:
122
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de velhos. 15. ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 414.
96
[...], para Barth, os membros de um grupo no so vistos como definitivamente
determinados por sua vinculao etno-cultural, pois eles so os prprios atores que
atribuem uma significao a esta vinculao, em funo da situao relacional em
123
que eles se encontram. (CUCHE: 2002, p. 183)
Assim, no simplesmente pelo fato de fazerem parte de uma comunidade negra e de
terem parentesco com os afrodescendentes, que os tornam detentores de uma identidade como
remanescentes de quilombo. Mas so essas memrias que eles tm em comum, que nos
informam sobre esse passado escravista, contribuem para a construo da sua identidade
como remanescentes de quilombo.
Deste modo, podemos tambm afirmar que sua identidade construda a partir do(s)
outro(s), no mbito relacional, pois os que no compartilham das suas memrias, suas
experincias colaboram no sentido de manter as suas fronteiras. So por meio destas
diferenas e do reconhecimento dessas diferenas que a identidade como remanescentes de
quilombo construda.
Todavia, continuo a convidar o leitor a continuar a caminhar conosco por essas linhas
e a conhecer mais a histria desse povo, que tambm nosso povo. Ainda voltaremos a
conversar com essas narradoras que aqui conhecemos. Vamos danar com as cirandas
cantadas por dona Dra, labutar o labirinto com dona Josefa e ainda vamos ver de perto a
loua de barro produzida por dona Lourdes. Continuemos, pois, a desbravar os caminhos
dessas memrias.
123
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2. ed. Bauru:
EDUSC, 2002. p. 183.
97
3 CAMINHO: TECENDO O LABIRINTO, PREPARANDO O BARRO: MEMRIAS
DE UM FAZER, ONTEM E HOJE.
3.1 ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL
No caminho que agora buscaremos trilhar, convido-o(a) caro(a) leitor(a) a conhecer o
artesanato existente na comunidade Grilo, especificamente no que se refere produo do
labirinto e da cermica.
Ao pensarmos sobre estas prticas, necessrio refletirmos tambm sobre a
importncia da cultura material e imaterial para a Histria, enquanto disciplina interessada no
cotidiano dos homens.
Embora a cultura material no tenha sido renegada pelo historiador, o estudo da
mesma foi por muito tempo limitado para este campo disciplinar. Assim, o interesse
aprofundado pela cultura material se deu primeiramente pela arqueologia. De acordo com
Pesez:
Vindos de outros horizontes, os arquelogos, no incio, levaram para a definio do
novo domnio preocupaes particulares. Interrogaram-se muito sobre as relaes
entre a cultura material e arte, no sem sentir alguma dificuldade em esvaziar esta da
sua problemtica. Tendo definido a cultura material como a cincia dos artefatos
(objetos fabricados), eles se perguntaram que espao reservar para os objetos de arte
e os realia (objeto de culto) que, por sua formao, estavam acostumados a levar em
considerao primeiro.124
A arqueologia definiu a cultura material como sendo uma cincia dos artefatos, dos
objetos fabricados pelos homens, ao longo da sua trajetria na terra, assim, a mesma
preocupou-se pela anlise desses objetos no mbito do cotidiano humano. Ainda segundo
Pesez:
Claro, no h uma adequao total entre cultura material e arqueologia. Um vaso
no apenas uma tcnica e uma funo utilitria. Ele tambm corresponde por sua
124
PESEZ, Jean-Marie. Histria da cultura material. In: LE GOFF, Jacques. A Histria Nova. Trad.
Eduardo Brando. 2.ed. So Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 202.
98
forma, eventualmente por sua decorao _ a escolhas que no so mais de ordem
infra-estrutural: ademais, ele pode ter uma significao social e pode ser testemunha
de um sistema de relaes econmicas. No h qualquer razo para que a anlise da
arqueologia recuse esses desdobramentos. No entanto, um fato que revelando
vestgios concretos, a arqueologia fica mais vontade no domnio material. [...] Fora
da cultura material, a parte da interpretao aumenta e, com ela, a relatividade dos
resultados.125
Assim, embora a arqueologia no tenha se recusado em analisar os significados, as
representaes , perceber esses desdobramentos da cultura material, dos objetos, seu domnio
ficou mesmo no campo da questo puramente material.
Desta forma, mesmo a cultura material sendo valorizada pelo historiador, o aspecto
imaterial da cultura passa tambm a receber bastante ateno dos mesmos. Foi neste campo de
ao que o prprio conceito de patrimnio cultural foi ampliado, colocando-se em foco a
cultura imaterial. Neste sentido, Sant`Anna afirma que:
A prtica ocidental de preservao, fundada na conservao do objeto e na sua
autenticidade, bem como sua codificao legal, baseada, em ltima anlise, na
limitao do direito de propriedade, simplesmente no do conta dessa nova noo
de patrimnio cultural que, crescentemente, foi ganhando consistncia a partir dos
anos 1970, foi por meio da incorporao de seus aspectos imateriais ou
processuais.126
Superou-se a questo de s o monumento em si ser considerado patrimnio, a partir
dos anos 1970 a imaterialidade no mbito cultural passou a ser estudada, a relao dos
homens com a cultura, os modos de agir, de pensar e de fazer passam a ganhar espao.
Entretanto, ainda ao que diz respeito ao patrimnio imaterial, Fonseca enfatiza:
Quando se fala em patrimnio imaterial ou intangvel, no se est referindo
propriamente a meras abstraes, em contraposio a bens matrias, mesmo porque,
para que haja qualquer tipo de comunicao, imprescindvel um suporte fsico
(SAUSSURE, 1969). Todo signo (e no apenas os bens culturais) tem dimenso
125
PESEZ, Jean-Marie. Histria da cultura material. In: LE GOFF, Jacques. A Histria Nova. Trad.
Eduardo Brando. 2.ed. So Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 204.
126
SANTANNA, Mrcia. A face imaterial do patrimnio cultural: os novos instrumentos de
reconhecimento e valorizao. IN: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e patrimnio:
ensaios contemporneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 49.
99
material (o canal fsico de comunicao) e simblica (o sentido, ou melhor, os
sentidos), como duas faces de uma moeda.127
Desta forma, ao nos reportarmos ao cotidiano na comunidade Grilo, referindo-se s
prticas de seu artesanato, no tocante ao labirinto e a cermica, no se trata de apenas refletir
sobre uma cultura material, mas material e imaterial, assim segundo Sant'Anna:
[...], mais relevante do que conservar um objeto como testemunho de um processo
histrico e cultural passado, preservar e transmitir o saber que o produz,
permitindo a vivncia da tradio no presente. De acordo com essa concepo, as
pessoas que detm o conhecimento, preservam e transmitem as tradies, tornandose mais importantes do que as coisas que as corporificam. 128
Neste sentido, mais do que o saber material com os modos de fazer, com as tradies
passadas a vrias geraes, que estamos interessados em refletir na comunidade negra Grilo
em especial ao seu artesanato.
3.2 MEMRIAS SOBRE O LABIRINTO
Sendo considerada uma prtica no campo artesanal, o labirinto, mais do que isso,
uma das prticas que contribuem na formao da identidade da comunidade remanescente do
quilombo Grilo. Prtica esta que mostra os laos de sociabilidades tecidos entre as mulheres
da comunidade.
Podemos perceber tambm que o labirinto uma prtica bastante peculiar a algumas
comunidades, ou seja, esta prtica mais rara nas comunidades, tendo em vista que tanto as
cirandas, o coco de roda, e prtica da cermica so mais comuns em comunidades negras em
geral, claro, no sendo uma regra, pois as identidades de uma comunidade negra so mltiplas
internamente e externamente, se compararmos umas com as outras.
127
FONSECA, Maria Ceclia Londres. Para alm da pedra e cal: por uma concepo ampla de patrimnio
cultural. In: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e patrimnio: ensaios contemporneos. Rio
de Janeiro: DP&A, 2003, p. 65.
128
SANTANNA, Mrcia. A face imaterial do patrimnio cultural: os novos instrumentos de
reconhecimento e valorizao. In: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e patrimnio: ensaios
contemporneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 49.
100
Assim, foi na inteno de adentrarmos ainda mais no cotidiano da comunidade que
procuramos nos interar sobre as memrias, as tradies e saberes que algumas mulheres,
residentes no Grilo, guardam sobre a prtica do labirinto.
Deste modo, oportuno apresentarmos ao querido leitor(a) mais uma contribuinte da
nossa pesquisa, Maria Pereira dos Santos, de 60 anos, mais conhecida como Maria. Ela tida
como uma das mulheres experientes na produo de labirinto na comunidade Grilo. Ela nos
coloca:
- M.P.S.: Fao labirinto desde idade de dez anos
- E.C.A.: mesmo? Quem te ensinou?
- M.P.S.: Quem me ensinou foi minha me
- E.C.A.: E quem ensinou a tua me?
- M.P.S.: Quem ensinou a minha me foi a me dela
[...]
- E.C.A. : E as tuas meninas, todas sabem fazer labirinto?
- M.P.S.: Sabe no. Todas no. S quem sabe ela (aponta para a filha que est
sentada na cadeira fazendo labirinto) e a mais velha. A mais velha a chefe, segunda
eu, ela tem o meu sangue, ela enchedeira, de tudo ela sabe fazer no labirinto 129
A princpio, o que podemos informar sobre a prtica do labirinto que o mesmo uma
prtica passada de gerao a gerao. No caso de Maria, por exemplo, ele alcanou pelo
menos quatro geraes, verificamos tambm essa constante em outras entrevistas, como no
relato feito por dona Teresinha, a qual mora em Serra Rajada e uma espcie de lder da
associao de labirinto.130 De tal local, a mesma afirma;
- E.F.F.: Com quantos anos a senhora comeou a fazer labirinto?
- T.M.C.: Oito anos.
- E.F.F.: Com quem a senhora aprendeu a fazer?
- T.M.C.: Com minha me.
- E.F.F.: Geralmente o aprendizado de labirinto passado de me para filha, como a
senhora acabou de responder.
- T.M.C.: . No caso aqui j a quarta gerao.131
Podemos refletir que tanto no relato de Maria como no de dona Teresinha o labirinto
tem sido uma prtica passada de gerao a gerao, outro detalhe que chama nossa ateno
129
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
A Associao de labirinto foi criada por dona Teresa Matias Custodio, a sede no municpio de Serra
Rajada, lugar este que prximo a comunidade Grilo.
131
Entrevista realizada por Edna Feitosa Farias 09 de novembro de 2010.
130
101
que ambas comearam muito cedo a produzir o labirinto, eram ainda crianas, Maria com dez
anos e dona Teresinha com oito anos. De acordo com Geertz:
[...] Uma boa interpretao de qualquer coisa _ um poema, uma pessoa, uma estria,
um ritual, uma instituio, uma sociedade _ leva-nos ao cerne do que tentamos
interpretar. Quando isso no ocorre e nos conduz, ao contrrio, a outra coisa _ a uma
admirao da sua prpria elegncia, da inteligncia do seu autor ou das belezas da
ordem euclidiana _, isso pode ter encantos intrnsecos, mas algo muito diferente do
que a tarefa que temos _ exige descobrir o que significa toda a trama [...].132
Deste modo, para alm de uma prtica artesanal, o labirinto significa um saber
passado de me para filha, entregar este conhecimento a uma filha saber que este no vai
morrer e seguir adiante. um orgulho para a me saber que a filha tem o dom. neste
sentido que Maria nos afirma:
- E.C.A.: Maria as tuas meninas tudinho sabe fazer labirinto?
- M.P.S.: Sabe no. Todas no. S quem sabe ela e a mais velha. A mais velha a
chefe, segunda eu, ela tem o meu sangue, ela enchedeira, de tudo ela sabe fazer no
labirinto133
Ter o sangue como Maria se refere, e ter herdado o dom da me e ao ter herdado o
dom, isto significa que este conhecimento poder passar para outras mulheres da famlia.
Ainda, de acordo com os relatos pesquisados, para uma pea de labirinto chegar ao seu
resultado final, a mesma passa por diversas etapas, algumas destas etapas so mais
complicadas que outras, de modo que, apenas algumas mulheres sabem realizar todas as
etapas com perfeio, enquanto existem aquelas que se destacam em uma ou ainda aquelas
que realizam apenas algumas das etapas.
132
133
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro:LTC. 2008. p.13
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
102
Foto n 5- Labirinto em sua etapa final, depois da lavagem com goma.
Fonte:Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C., 2010.
Deste modo, depois de todas as etapas concludas, a pea de labirinto colocada na
goma, depois lavada e posta para secar, como nos mostra a foto anterior. Sendo ento, uma
arte de um grau de difcil aprendizado, principalmente em se tratando da totalidade de suas
etapas, interessante mais uma vez destacar que ainda cedo algumas crianas como Maria e
Teresinha comeam a ingressar nesse tipo de artesanato. Sobre as fases de se produzir uma
pea de labirinto Maria nos coloca:
- E.C.A.: Quantas etapas so, como , me explica a que eu no sei? Por que no so
vrias coisas no ?
- M.P.S.: vrias coisas, a vem, vem (se levanta e pega uns labirintos que esto
sendo feitos)
- E.C.A.: Me explica a
- M.P.S.: Vem o tecido, depois do tecido vem o desfiado, depois do desfiado vem o
tecimento que o enchimento, depois do enchimento vem o tocimento que tocer
os paus, depois de tocer os paus vem o perfil que para cobrir os pelinhos do
enchimento, a depois que faz esse perfil e cobre os pelinhos a vem, a gente lava,
deixa de molho por vrios dias pra tirar alguma mancha, alguma sujeirinha que fica,
depois ns temos uma pessoa que vai botar na goma, vai botar numa grade, amarrar
assim com um cordo, esticar, esticadinho pra ele ficar em forma de voc d pra
vender, n?134
134
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
103
A partir de uma vida quase inteira dedicada ao labirinto, Maria nos falou do
procedimento para a produo de uma pea de labirinto. Sua narrao demonstra toda uma
experincia com este tipo de artesanato. J dona Teresinha, de modo mais objetivo, tambm
relata sobre estas fases na confeco do labirinto:
- E.F.F.: A senhora poderia explicar pra gente quais so as etapas pra se deixar uma
pea pronta?
- T.M.C.: Primeiro comea pelo tecido, a comea pelo risco. A risca, depois desfia,
depois enche, depois torce, e a ltima o perfilo.
- E.F.F.: Qual a etapa mais difcil?
- T.M.C.: Encher, porque tem que desenhar as rosas, os desenhos [...]. Quem no
tem uma boa memria vai tirar mostra, mas a gente que j sabe tira da mente mesmo
o desenho.135
Constatam-se pelo menos cinco etapas na produo bsica de uma pea de labirinto,
no entanto, cada narradora apresentou sua fala de acordo com suas vivncias. Neste campo de
ao, Bosi nos coloca que: A narrao uma forma artesanal de comunicao. Ela no visa a
transmitir o em si do acontecido, ela o tece at atingir uma forma boa. Investe sobre o
objeto e o transforma.136 Da o porqu de ambas as depoentes contarem as etapas do labirinto
a seu modo.
interessante enfatizar que no s a pea em si do labirinto, produto final das artess,
assume um valor de tradio, de costume, de experincia passada para as geraes futuras, o
importante a tambm so os modos de fazer, o que tem valor no o objeto, inmeras vezes
rapidamente perecvel ou consumvel; importa saber produzi-lo137 justamente esse saber
partilhado que vem nos informar sobre as identidades na comunidade Grilo. Saber esse, que
passa de me para filha, de mulher para mulher, que contribui para fortalecer os laos de
sociabilidades entre as mesmas.
O labirinto tambm interfere positivamente na vida das famlias do Grilo, no sentido
de contribuir como um complemento financeiro para estas famlias.
135
Entrevista realizada por Edna Feitosa Farias no dia 09 de novembro de 2010.
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. 3.ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 88.
137
SANTANNA, Mrcia. A face imaterial do patrimnio cultural: os novos instrumentos de
reconhecimento e valorizao. In: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e patrimnio: ensaios
contemporneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 50.
136
104
- E.C.A.: Maria me responde uma coisa, antigamente quando no tinha energia,
porque hoje tem energia no Grilo, tudo mais fcil, mas antigamente vocs faziam
como?
- M.P.S.: Era candeeiro, botava gs, botava pavi de pano e de noite trabalhava. Eu
mesmo trabalhei muito quando eu cheguei aqui nessa faixa dessa terra, no tinha luz
no nessa casa no, e minha cunhada ali trabalhava era a profissional do labirinto,
ela trabalhava de noite.
- E.C.A.: Quem tua cunhada?
- M.P.S.: Ela morreu, j faleceu. A ela trabalhava de noite e a gente pegava os
labirinto do povo, que logo aqui foi o lugar mais que foi aprovado de labirinto foi
aqui em Serra Rajada, a tinha muita encomenda demais pra sair pra fora e a gente
trabalhava muito, a gente sabia fazer o enchimento, a gente era cheia, cheia, a gente
trabalhava dia e noite sem parar. Agora naquela poca labirinto era desse tantim
assim, (faz o jesto com os dedos informando que era pouco dinheiro) hoje no, hoje
j d at mais (...) t dando mais um troquim.
- E.C.A.: Mais lucro no ?
- M.P.S.: de primeiro era muito fraco demais. Mas agora no, agora d mais um
dinheirim, mais um trocadim.138
Dentro de um processo de continuidades e descontinuidades, hoje o labirinto ganhou
status e reconhecido como um artesanato bastante valioso; isso contribuiu para o aumento
dos preos das peas. Assim, embora a comunidade grilense seja basicamente de agricultores,
e no passado ainda era mais, o labirinto tambm funciona com um meio de ajuda financeira,
pois aumenta a renda familiar.
Mas se hoje o labirinto contribui no oramento financeiro da famlia, antes no era
diferente, sendo que as dificuldades em se trabalhar as peas eram at maiores. Dona Josefa
de 88 anos, nos fala do seu cotidiano, quando ainda era jovem e trabalhava com o labirinto:
- E.C.A.: Dona Josefa a senhora disse a mim que j fez muito labirinto no foi?
- M.J.C.: Foi fiz muito labirinto, primeiro dividia aqui mesmo nessa terra daqui o
sivio da gente era de dia na inchada e de noite no labirinto com candeeiro de gs
assentado em cima da...da..., agente botava era tipo um, no era na mo no era no,
no dado, botava aquela aquele candeeiro assim no meio das pernas, vendo a hora
queimar n?
- E.C.A.: Perigoso no era?
- M.J.C.: agente cansava no de trabalhar, de dia na inchada e de noite no labirinto
[...]
- M.J.C.: [...] j trabalhei muito em labirinto, por isso que ainda hoje eu to com
minha vista meio cheio de cateriza, do tempo que passei com candeeiro de gs
ligado, aquela fumaa em vez de quando cobrindo, por isso eu sofro da vista s vivo
me tratando em Campina minha fia
E.C.A.: E
M.J.C.: [...] de tanto fumaa de querosene que eu levei nos zoi, eu no sei como
ainda eu to enxergando uma coisinha aqui (risos) 139
138
139
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
Entrevista realizada em 23 de fevereiro de 2010.
105
Assim como Maria, era sobre a luz do candeeiro que dona Josefa trabalhava suas
peas de labirinto, mesmo correndo o perigo de algum acidente, era apenas durante as noites
que se tinha tempo disponvel para trabalhar no labirinto. Nas duras horas de trabalho, a luz
do candeeiro deixou sequelas em dona Josefa. A mesma afirma ter problema na vista,
(catarata) por conta do trabalho realizado durante as noites com o labirinto.
Desfecho semelhante por conta do trabalho com o labirinto teve dona Lourdes que
durante muito tempo trabalhou com o labirinto e se mostra prejudicada com a sade da sua
vista.
- E.C.A.: O dona Lourdes e a senhora chegou a fazer labirinto tambm?
- M.L.T.C.: Fao labirinto, s no posso fazer agora por que a minha vista ta ruim
- E.C.A.: A senhora tambm fazia por encomenda
- M.L.T.C.: Fazia. [...] Eu trabalhava na inxada de dia e quando era de noite eu fazia
labirinto, desde solteira eu fazia labirinto, trabalhava de dia e de noite fazia labirinto
- E.C.A.: Como ? Usa o que no labirinto?
- M.L.T.C.: Usa uma trave, hoje o povo usa um bastidor n, voc nunca viu fazendo
no. Maria Pereira faz ali ainda, Maria Pereira, faz aquela menina de Cleonice, as
Matia, elas torce, elas enche
- E.C.A.: A senhora fazia o qu?
- M.L.T.C.: Em? No labirinto? Eu trucia, trufilava, enchia.
- E.C.A.: Fazia tudo?
- M.L.T.C.: fazia
- E.C.A.: A senhora aprendeu todas as etapas no foi?
- M.L.T.C.: Foi, todas as etapas, agora eu no fao mais no 140
Aqui, mais uma vez o cotidiano das mulheres nesta comunidade tem algo em comum,
pois as tarefas extras para alm da agricultura eram realizadas durante a noite sob a luz do
candeeiro. E dona Lourdes ainda faz parte do grupo das mulheres que conseguia desenvolver
todas as etapas do labirinto.
Ainda sobre o labirinto, outro ponto que aqui devemos analisar o surgimento da
associao das artess de labirinto no municpio de Serra Rajada. Os benefcios aumentaram
abrangendo muitas casas das artess nesta localidade, mas, de certa forma, isso tambm
acabou por repercutir no trabalho das artess do Grilo, pois, embora estas no participem
diretamente como associadas, as mesmas desenvolvem trabalhos para a associao. Segundo
dona Teresinha:
- T.M.C: A gente trouxe de benefcio um poo artesiano, pela associao que foi na
poca, no t lembrada o nome, pelo Projeto Cooperar, foi feito um poo
140
Entrevista realizada em 27 de abril de 2010.
106
artesiano. Depois, h cinco anos atrs, seis anos, a gente teve o benefcio do
abastecimento dgua com a caixa dgua e gua pra quarenta casas, s que a caixa
ficou um pouco baixa e no tava indo pras outras casas. Hoje so 17 a 18 casas com
abastecimento dgua. Foi o maior beneficio at hoje. Depois disso, teve um
benefcio que ligaram pra mim do SENDAC pra me inscrever a associao no
Humberto Maracan, o prmio Humberto Maracan que Ministrio da Cultura, a
eu inscrevi e com quinze dias eu recebi o resultado que tinha ganhado R$10 mil.
Com esses dez mil reais eu podia ter feito o qu? Ter feito uma viagem com as
artess, ter dividido o prmio pras artess. Mas como a gente no tinha onde botar,
armrios, os produtos do labirinto pronto, a eu fiz esse lugarzinho aqui pra a
associao. Foi tambm o maior prmio pra mim que eu ganhei porque onde a
gente se rene, onde bota as coisas, que era tudo na minha casa. O mais importante
de todos foi a gua e esse aqui, n? Tambm. 141
Assim, com o surgimento da associao, o trabalho das artess passou a ter mais
visibilidade tanto em Serra Rajada como no Grilo, elas passaram a ser reconhecidas dentro e
fora da regio. Dona Teresinha, por exemplo, conta como foi o convite que ela recebeu para ir
apresentar seu trabalho em Paris na Frana:
- E.F.F.: Explique como aconteceu o convite para ir para Paris.
- T.C.M.: Surgiu de uma feira que eu fui, em So Paulo, com ... no, no foi a feira,
foi uma oficina de designer que teve com um designer de So Paulo, Ronaldo Fraga,
em Alagoa Nova, e l, atravs do trabalho, da histria que eu conto, e, de todo, todo
o processo da associao. A ele no falou nada pra mim, quando eu cheguei em
casa no outro dia, eu recebi o telefone que quem ia pra Paris era eu. Eu nem queria
ir, mas Sandra Moura que arquiteta da Paraba, a maior, eu acho, conhecida da
Paraba, ela a presidenta do artesanato paraibano, e ela, numa reunio com
Ronaldo Fraga e Marielza, que a gestora de artesanato, decidiu que queria que
fosse pra Paris, fosse aqui, Serra Rajada, e eu no tava nem querendo ir, mas,
incentivaram e eu fui. A quando l faziam pergunta como eu tava me sentindo, eu
disse, eu sinto uma emoo muito grande no por eu estar em Paris, por eu estar
apresentando a Paraba e o trabalho de uma comunidade de Serra Rajada, a minha
emoo maior foi essa.
- E.F.F.: Explique como essa feira pra gente.
- T.M.C.: L uma feira de moda, no foi feira boa de vender porque uma feira de
moda, um pavilho, pra voc ter uma idia, era, parece que, se no me engano,
quato andar, s de moda, de moda praia, moda vesturio, e o labirinto, ele foi
aplicado nas roupas que a gente foi pelo Talentos do Brasil, que o Ministrio da
Agricultura que nos apoia, e a gente foi pelo Talentos. E levei as peas grandes, mas
o que foi mostrado l mesmo s foi a moda, moda vesturio. 142
Depois de dona Teresinha ter viajado a Paris para divulgar o trabalho com o labirinto,
tanto as artess de Serra Rajada como as do Grilo ganharam mais visibilidade tambm dos
rgos estatais.
141
142
Entrevista realizada por Edna Feitosa Farias no dia 09 de novembro de 2010.
Entrevista realizada por Edna Feitosa Farias no dia 09 de novembro de 2010.
107
Vale salientar ainda que o status ganho pelo labirinto, depois de todo esse
reconhecimento, e com o territrio Grilo sendo reconhecido como remanescente de quilombo,
isto foi apropriado pelas grilenses de forma astuciosa. De acordo com Certeau : [...] Essas
prticas colocam em jogo um ratio popular, uma maneira de pensar investida numa maneira
de agir, uma arte de combinar indissocivel de uma arte de utilizar.143 Neste campo de ao,
Maria nos coloca:
- M.P.S.: A tem que ter essas pessoas adequada, agora tem a enchedeira. Eu sei
fazer de tudo, mas eu mais trabalho com o enchimento. No trabalho mais porque eu
no tenho tempo, mas eu no deixo de fazer no, que eu pago as minha menina faz,
a eu pego porque elas tem mais tempo do que eu, mando elas fazer, a eu pago
outra pessoa pra prefilar, outra pessoa pra torcer e eu gosto (...) porque tem gente
que se agrada de labirinto e aqui na comunidade do Grilo depois que passou pra ser
quilombola sempre aparece pessoas de fora, turistas que vem do estrangeiro.144
As peas que antes eram vendidas a pessoas prximas da localidade do Grilo, hoje so
vendidas s pessoas que vm pesquisar a comunidade e at a estrangeiros. As artess
souberam bem se utilizar desse momento de valorizao de seu artesanato, no s com o
surgimento da associao, mas principalmente como moradoras de um territrio reconhecido
como remanescentes de quilombo.
Ao pensarmos o labirinto como uma prtica de manifestao cultural da comunidade
Grilo, de acordo com Geertz: [...] O que devemos indagar qual a sua importncia: o que
est sendo transmitido com a sua ocorrncia e atravs da sua agncia [...]145
A importncia do labirinto no que tange ao trabalho feminino, se d como um veculo
que fortalece os laos de sociabilidades entre as mulheres que o fazem, alm disso, este saber
tambm importante pelo fato de ser passado s geraes seguintes como uma herana, cujo
conhecimento traz benefcios e contentamento quelas que o aprendem.
Podemos perceber que a identidade das artess sobre especificamente atividade com
o labirinto, vem demarcar uma das identidades prpria das mulheres do Grilo, segundo
Cuche:
143
CERTEAU, Michel de. A inveno do cotidiano: 1. Artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira Alves.
Petrpolis: Vozes, 1994. p. 42.
144
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
145
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 08.
108
A questo da identidade remete, em um primeiro momento questo mais
abrangente da identidade social, da qual ela um dos componentes. [...] A
identidade social ao mesmo tempo incluso e excluso: ela identifica o grupo [...] e
o distingue dos outros grupos [...] Nesta perspectiva, a identidade cultural aparece
como uma modalidade de categorizao da distino ns/eles, baseada na diferena
cultural.146
A atividade de artes ao que se refere ao labirinto um elemento que serve para
distinguir as mulheres do Grilo de outros grupos, esta diferena cultural percebida nas
grilenses, quando os visitantes chegam comunidade e as mulheres apresentam seu artesanato
como sendo uma prtica prpria da sua cultura, da sua gente.
3.3 MEMRIAS SOBRE A PRTICA DA CERMICA
O caminho que seguiremos agora, embora o destino ainda seja o conhecimento sobre o
artesanato na comunidade Grilo, analisar a prtica da cermica (ou produo com o barro ou
loua) como uma das prticas que tambm contribuem para a construo das identidades na
comunidade Grilo.
Mais uma vez, convidamos dona Josefa, para junto com o leitor, refletirmos sobre suas
memrias, no que diz respeito aos utenslios produzidos por ela, a partir do barro, isto no
tempo em que era jovem e a produo da cermica era uma fonte de renda para ela, pois de
acordo com Bosi: Hoje, a funo da memria o conhecimento do passado que se organiza,
ordena o tempo, localiza cronologicamente.147. Assim, nosso inicial interesse na anlise dos
relatos de dona Josefa, conhecer um passado que no vivemos e refletir sobre qual era a
importncia da produo das louas de barro nesse passado. Se hoje, dona Josefa tem 88 anos,
e no tempo a que se reporta ainda no era casada, o passado que a mesma nos relatara gira em
torno das dcadas de 1930 e 1940 do sculo XX. Deste modo, ela nos coloca:
- M.J.C.: olha eu morava ali naquele alto ali em cima, tinha a minha v, a minha v
era loceira
- E.C.A.: A senhora aprendeu com ela foi?
- M.J.C.: Prendi com ela, h minha fia depois que eu fiquei moa, aaaa fixe Maria!
Aquilo pra mim era uma maravilha, eu sempre pegava em dinheiro (risos) ningum
146
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2.ed. Bauru:
EDUSC, 2002. p. 176-177.
147
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. 3.ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 89.
109
aqui pegava em dinheiro, mas eu oxe! No faltava tosto na minha mo no.
Aquelas panelas de barro, aqueles pratim, aqueles potim, aquelas quartinha, aquelas
coisas pra vender, eu parecia que vivia no cu , pai no tinha pra me d, dava
graas a Deus um dinheiro pra comprar um feijozin e farinha, a farinha no a
farinha ele lucrava , plantava roa... e um pedacinho de pano pra fazer um
vestidinho, sem cacinha sem nada, que naquele tempo ningum nem falava em
danado de calcinha sabia nem que bicho era esse, andava tudo com priquito na mo
(risos muitos de ambas as partes) quem sabia que bicho era esse em? Fazia um
vestidim bem ralim, por aqui,( mostra o tamanho at o joelho) fazia ..., botava ...,
nem nada no tinha minha fia, nem nada no tinha. (baixa a cabea um pouco
tristonha, pela recordao que fizera dos tempos difceis que vivera)
- E.C.A.: A senhora vendia essas louas...
- M.J.C.: A o povo vinha dessas roas de Cuit, desse mei de mundo, vinha
comprar, no tinha uma vasilha nem nada de loua de, de outra qualidade, a loua
era tudo de barro minha fia, prato de barro, panela de barro, tigela de barro, chalera
de barro, pote de barro, o diabo tudo de barro, tudo de barro 148
Nesta fala de dona Josefa, assim como o labirinto, a loua era um conhecimento
passado para as futuras geraes, mas, mesmo assim, isso era mais comum, mais forte no
labirinto. No caso dela, este saber lhe foi passado atravs da sua av. E era tambm atravs do
trabalho com o barro que ela conseguia algum dinheiro para se vestir, j que o trabalho de seu
pai era para sustentar e suprir as necessidades bsicas de toda a famlia, assim, no sobrava
dinheiro para o pai de dona Josefa dar-lhe para comprar seus objetos pessoais.
interessante tambm observar que nesse cotidiano humilde e de muita precariedade,
as louas de barro vo ser uma alternativa no que diz respeito aos utenslios que as donas de
casa precisavam usar nos seus afazeres domsticos junto famlia. Deste modo, dona Josefa
ainda nos acrescenta que:
- E.C.A.: A senhora ainda faz isso?
- M.J.C.: Se eu fosse fazer
- E.C.A.: Sim a senhora saberia fazer ainda
- M.J.C.: Se perde no fia
- E.C.A.: Se esquece no ne
- M.J.C.: No se esquece no
- M.J.C.: Agora minha fia pra fazer aqueles pratos de barro, aqueles prato era pra
comer dentro, tudo pra comer t pensando que ningum por aqui via um prato de
loca, , no, era tudo de barro, oxe aquelas mulhezinha com aqueles meninos tudo
por aqui assim (mostra mais ou menos a altura) os meninos ficavam doido quando
chegava na bera do fogo, e dizia: _ai me compra pra eu, ai me compra pra eu um
pratim, era aquela festa, a oxen cada c que saa com um prato na mo, ai eu gritava
cuidado em se no tu no vai chegar em casa com ele no(risos), se tu levar um
trupico ai tu vai soltar longe as bandas, e elas vinha comprar, eu vendi muita loua
mesmo, muita loua, eu fiz muito, aprendi com a minha v 149
148
149
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
110
Ao questionarmos se dona Josefa ainda saberia fazer a loua de barro, ela nos
responde que sim, este um saber que no se perde e ainda nos coloca que ningum na
comunidade tinha outro tipo de loua a no ser feita de barro. At as crianas se alegravam na
hora da realizao do fazer a loua de barro e pediam as suas mes por tais objetos. Ao
analisarmos essas lembranas de dona Josefa, nos reportamos s reflexes realizadas pelo
socilogo Maurice Halbwachs, o qual nos afirma que:
[...] De bom grado, diramos que cada memria individual um ponto de vista sobre
a memria coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e
que esse mesmo lugar muda segundo as relaes que mantenho com outros
ambientes. No de surpreender que nem todos tiram partido do instrumento
comum. Quando tentamos explicar essa diversidade, sempre voltamos a uma
combinao de influncias que so todas de natureza social.150
Podemos afirmar que, mesmo dona Josefa nos colocando a sua memria individual,
suas lembranas sempre recorrem a outras pessoas, a lugares. Sua memria est sempre se
relacionando com o meio a sua volta, a sociedade em que vive. Ou seja, no era s ela que
no tinha dinheiro. Ao lembrar disso, ela afirma que ningum tambm tinha. No era apenas
ela que usava as louas de barro, eram todas as pessoas a sua volta ou pessoas tambm
humildes que vinham de longe comprar, como as pessoas do Cuits.
Assim, as suas lembranas so construdas a partir do grupo que pertencia, ou dos
grupos que pertencia, as suas relaes sociais tambm entram em cena quando ela narra suas
memrias individuais.
- E.C.A.: Dona Josefa como era o nome da sua me?
- M.J.C.: Minha me? Era Josefa
- E.C.A.: Era Josefa tambm o nome da sua me?
- M.J.C.: Era Josefa
- E.C.A.: Ela aprendeu com sua v tambm a loua?
- M.J.C.: Me? No.
- M.J.C.: A cabea dela ela disse que no dava
- E.C.A.: E foi?
- M.J.C.: Foi minha fia
- E.C.A.: A senhora aprendeu e ela no aprendeu?
- M.J.C.: Foi, foi ela disse que no dava, ela no sabia nada minha fia, ela s fazia
vir com aqueles bolo de barro, n, a a gente butava assim no cho botava uma peda,
acaba enfiava o martelo pra quebrar aquele barro isso a ela fazia, n, eu aprendi a
150
69.
HALBWACHS, Maurice. A Memria Coletiva. Trad. Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro, 2006. p.
111
levantar cada uma forma dessa altura aqui (ela demonstra mais ou menos o
comprimento), cinco lata dgua, seis lata dgua, eu trabalhei viu, eu no sei como eu
to aqui ainda (risos) minha nossa senhora do cu eu trabalhei muito na minha
vida. Eu fui a primeira filha de pai, comecei a criar os fi de me, ela teve doze 151
A prtica do barro que a me de dona Josefa no conseguiu desenvolver, mas que ela
atravs da av aprendeu, diz respeito a um passado de muito trabalho, no qual, alm do
roado, do trabalho com o barro e o labirinto noite, ela como filha mais velha ainda tinha a
responsabilidade de ajudar a me na criao dos irmos.
- M.J.C.:[...] Eu s sei minha filha que eu trabalhei foi muito no barro, no labirinto,
na inchada, como chefe de roado
- E.C.A.: E era? Como era ser chefe de roado?
- M.J.C.: Ser chefe de roado era tomar conta dos pequenos pra levar pro roado pra
trabalhar, meu pai alugava as terras os cinco dia da semana, me em casa pra criar os
fi pequeno que tinha, e fazer o servio que tinha 152
Alm de tudo isso, dona Josefa, no apenas trabalhava no roado, mas era chefe do
roado, ela, junto com os irmos, ia trabalhar nas terras alugadas pelo seu pai, e da
comandava as funes dos irmos no trabalho com a agricultura.
Ainda sobre a produo com o barro, ela nos coloca um pouco do fazer, de como se
transforma o barro em louas para se utilizar no dia-a-dia.
- M.J.C.: Foi, pia o paior de barro, pisava aquele barro botava l no p da parede, de
noite ia dormir dez hora da noite abrindo aquelas panelas, aquelas coisas n, quando
acabar vigiava um pano grande em cima, molhava o pano, e cobria por cima,
deixava l que era pra manh trabalhar de novo153
Neste relato, feito por dona Josefa, podemos vislumbrar os modos de fazer de uma
prtica artesanal, que acompanhou e acompanha vrias geraes de seu povo. Prtica esta que,
para alm de seu prprio uso, era realizada com o intuito de gerar alguma renda para ela e sua
famlia.
151
152
153
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
Entrevista realizada em 03 de fevereiro de 2010.
Entrevista realizada em 23 de fevereiro de 2010.
112
A prtica da cermica tambm faz parte da vida de uma outra colaboradora nossa,
trata-se de dona Lourdes, at os dias atuais, ela muito procurada por suas panelas de barro,
principalmente pelas pessoas que visitam a comunidade e desejam levar alguma lembrana de
l. Assim, como dona Josefa, ela nos coloca como se prepara o barro para depois ento poder
confeccionar a loua.
- E.C.A.: Como que a senhora faz, a senhora poderia explicar?
- M.L.T.C.: A gente bate o barro, bota de molho, depois pisa, depois de pisar cata as
pedras, depois de catar as pedras vai trabalhar, n, vai fazer, vai fazer, n, tigela,
pote, prato (risos)
- E.C.A.: A senhora vende onde?
- M.L.T.C.: Eu vendo em casa, vendo na casa do povo, o povo do sitio cozinha mais
em lenha n, que pra economizar gs que gs ta caro, no ta?
- E.C.A.: A senhora vende mais aqui na comunidade, ?
- M.L.T.C.: , vendo mais na comunidade e fora tambm, s vezes quando pade
Luis chega aqui s vezes o povo de fora, de fora tambm compra, [...], eles compra
a leva, eles acha interessante a leva pra l154
Assim, mais do que o modo de se fazer a loua de barro, nesta narrao de dona
Lourdes ns podemos constatar que a utilizao das peas de barro ainda so bem comuns na
comunidade, pois embora exista o fogo a gs nas casas, o fogo a lenha ainda bem
requisitado na comunidade por conta da questo econmica.
Foto n 6- Dona Lourdes e suas peas de barro.
Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
154
Entrevista realizada em 27 de abril de 2010.
113
Interessante colocarmos que, assim como nos mostra a imagem anterior, dona Lourdes
procura sempre manter em um quarto da sua casa peas de barro j prontas, deste modo, se
algum visitante ou algum da comunidade precisar comprar ela j as tem prontas.
importante salientar que dona Lourdes uma das guardis dos modos de fazer no
que se refere ao trabalho com o barro, tendo em vista que esta prtica constante no seu
cotidiano. Mas sua irm Leonilda, mais conhecida como Paquinha, tambm ntima dessa
prtica. Paquinha, uma espcie de lder da comunidade, est sempre frente das
reivindicaes para sua gente. A prpria associao dos remanescentes de quilombo,
construda dentro da comunidade, foi feita com recursos dos moradores, assim, tanto os tijolos
como as telhas foram feitos por Paquinha e seus ajudantes. Desta forma, ela nos coloca sobre
sua experincia na prtica com o barro:
- E.C.A.: Paquinha, por falar em barro, tu trabalha o barro tambm?
- L.C.T.S.: Trabalho, eu fao loua de barro.
- E.C.A.: Como , tu pode explicar como que funciona.
- L.C.T.S.: A gente pega o barro, arranca, arranca o barro, bota num canto, cobre
com uma vazia pra num ficar seco... faz coisas boa, vai abrindo, vai abrindo, vai
abrindo, fica redondo, voc vai... voc faz uma curva, voc faz um balde com uma
corda, n, voc vai puxando, voc vai puxando com a mo, fica da altura que voc
quer.
- E.C.A.: Dona Dra sabia fazer tambm?
- L.C.T.S.: Loua tambm, fazia loua tambm... fazia boneca de barro, tudo, tudo
ela fazia.155
No relato de Paquinha, podemos tambm perceber as etapas por ela realizadas na
produo da loua, ela, sua irm mais velha Lourdes e sua me Dra so portadoras de um
costume, que por dcadas acompanha as geraes de sua famlia de seu povo. De acordo com
Geertz:
[...] E, em cada um dos casos, tentei chegar a esta noo to profundamente ntima,
no imaginando ser uma outra pessoa _ um campons no arrozal ou um sheik tribal
_ para depois descobrir o que este pensaria, mas sim procurando, e depois
analisando, as formas simblicas _ palavras, imagens, instituies, comportamentos
_ em cujos termos as pessoas realmente se representam para si mesmas e para os
outros, em cada um desses lugares.156
155
Entrevista realizada em 27 de abril de 2010.
GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Trad.Vera Mello
Joscelyne. 11. ed. Petrpolis:Vozes, 2009. p. 89-90.
156
114
Neste sentido, para pensar a prtica da cermica, realizada por dona Josefa, Lourdes,
Paquinha e dona Dra no precisamos nos tornar um remanescente de quilombo, ou se
colocar no lugar delas, mas sim compreender que esta prtica funciona como um fator
integrador dentro da comunidade, algo que fortalece os laos de sociabilidades entre seus
membros, na medida em que esta uma tradio que diz respeito ao grupo em si.
interessante ainda frisar, que a produo com o barro tambm uma forma de
apresentar o artesanato da comunidade aos visitantes do Grilo. Neste sentido, ao
conversarmos com Maria sobre a venda do labirinto, ela acaba colocando a importncia da
produo do barro tambm na comunidade, e nos afirma:
- E.C.A: Vocs vendem pra quem Maria?
- M.P.S.: A gente vende pra algum at mesmo da Paraba que compra, as
professoras da universidade que vm fazer pesquisa chega aqui v acha bonito
compra, vm as pessoas da Itlia fazer visita, tirar foto, fazer pergunta a gente daqui
como foi que foi criado o Grilo como foi tambm que a gente formou isso aqui, tirar
foto das panela de barro de Lourdes e disso aqui, do artesanato.157
Deste modo, ao chegar algum visitante ou pesquisador na comunidade, a prtica da
cermica se institui como uma prtica que serve para reforar o reconhecimento da
comunidade como remanescente de quilombo, para mostrar a cultura presente na comunidade.
No entanto, de acordo com Barth:
Desta perspectiva, o ponto central da pesquisa torna-se fronteira tnica que define o
grupo e no a matria cultural que ela abrange. As fronteiras s quais devemos
consagrar nossa ateno so, claro, as fronteiras sociais, se bem que elas possam
ter contrapartidas territoriais. Se um grupo conserva sua identidade quanto os
membros interagem com outros, isso implica critrios para determinar a pertena e
meios para tornar manifestas a pertena e a excluso. 158
O que bastante significativo para que reflitamos que, embora as prticas do
labirinto e da produo do barro demonstrem a identidade cultural da comunidade e estreitem
os laos de sociabilidades entre eles, nas fronteiras que eles mantm com outros grupos, no
157
Entrevista realizada em 16 de outubro de 2010.
POUTIGNAT Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido de grupos
tnicos e suas fronteiras de Fredrick Barth. Trad. Elcio Fernandes. So Paulo:UNESP, 1998. p. 195.
158
115
caso com os moradores de Serra Rajada, com os visitantes e pesquisadores, que suas
diferenas so colocadas, e a partir dessas diferenas que eles constroem suas identidades
tnicas.
Assim, a identidade tnica da comunidade, enquanto remanescentes de quilombo foi
construda a partir da diferena, sabendo que aquela construda no por causa das
diferenas, mas pela conscincia que estas diferenas existem.
Ainda importante frisarmos que a pesquisa aqui realizada, na comunidade Grilo, com
referncia as suas prticas culturais, no foi focada no intuito de se dar um ponto final, pois de
acordo com Geertz: [...] A anlise cultural intrinsecamente incompleta e, o que pior,
quanto mais profunda, menos completa.159 Dessa forma, poderamos colocar que
percorremos algumas indagaes e buscamos nos aprofundar nas questes elaboradas, ao que
tange a prtica do labirinto e da cermica, mas isto no quer dizer que aqui as
problematizaes se encerrem. Outros curiosos podero continuar aprofundando esta anlise.
Todavia, escalaremos mais algumas pginas, e recordaremos no caminho a seguir, sobre as
festas de cirandas. Entremos na roda.
159
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. p. 20.
116
4 CAMINHO: A FESTA VAI COMEAR: DO LUAR AO SOL RAIAR, VAMOS
CIRANDAR
4.1 ALM DO TRABALHO, O LAZER
Durante muito tempo, muitos pesquisadores, inclusive os historiadores preocuparamse com o cotidiano dos trabalhadores, porm enfatizando sempre o campo do trabalho, o
quanto eram explorados, as condies inadequadas do ambiente em que eram submetidos, a
sua baixa remunerao e as longas horas de trabalhos que eram obrigados. Isto bem visvel
geralmente na historiografia que trata especificamente da vida dos operrios em determinado
espao e tempo. Todavia, essa excluso da anlise do tempo livre dos trabalhadores no geral
foi renegada pelos pesquisadores, havia um determinado preconceito em se analisar o lazer. A
poltica e a economia, por exemplo, eram temas considerados mais importantes. De acordo
com Magnani:
A situao, hoje outra. A questo do tempo livre assumiu lugar privilegiado na
atual agenda: o volume, alcance e sofisticao das inmeras formas por meio das
quais se utiliza aquela parcela de tempo liberado das obrigaes socialmente
determinadas fazem do lazer tema de reflexo sobre o prprio significado da
sociedade contempornea, sobre as possibilidades que abre e os impasses que
acirra.160
Com o olhar da Nova Histria Cultural, voltado para temas cada vez mais diversos, o
lazer tambm ganha seu lugar de destaque no campo da histria em nossa contemporaneidade.
O que os indivduos fazem de seu tempo livre junto com seus amigos, com seus familiares? E
mais, por que escolhem determinado tipo de lazer? Qual o sentido de pertencimento com a
forma de lazer escolhida? So algumas das inquietudes dos pesquisadores que buscam se
debruar sobre a temtica do lazer.
Assim, esta pesquisa tambm adentrou nos caminhos que nos levam at o lazer,
vivenciado pela comunidade Grilo, analisando este cenrio dentro de um processo de
continuidades e descontinuidades, pois pensar o papel da ciranda na comunidade hoje
160
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor. Festa no Pedao: Cultura popular e lazer na cidade. 3.ed. So
Paulo:Hucitec/UNESP, 2003. p. 11.
117
perceber seu significado, vivenciado pelas geraes antigas e sua prtica ainda nos dias de
hoje, onde tambm outros tipos de diverso, praticados fora da comunidade, fazem parte do
cotidiano dos grilenses, principalmente dos mais jovens.
A comunidade remanescente de quilombo Grilo, composta na sua grande maioria
por agricultores ou/e artesos, junte-se a este panorama outra parcela que se desloca para a
capital Joo Pessoa e cidades vizinhas tambm para trabalharem. Deste modo, o tempo
dispensado ao lazer geralmente nos finais de semana, nas frias e nas datas comemorativas,
embora esses momentos de lazer possam variar. Conforme Magnani:
O tempo de lazer, entretanto, chamado de tempo livre justamente porque nessas
horas _ apesar das limitaes impostas pela pobreza _ o trabalhador escolhe. Entre o
futebol da vrzea, o circo, a festa de aniversrio ou a excurso a Aparecida do Norte,
h campo para deciso. Como em todas as escolhas, esta tambm opera com
alternativas limitadas, mas, aqui, o importante que se deve eleger o mais
agradvel. Fica difcil aceitar as explicaes simplificadas que enfatizam a
manipulao das camadas populares pelos grupos dominantes quando percebemos
que os momentos de lazer se inscrevem neste espao de opo onde legtimo
buscar o entretenimento.161
O lazer, portanto, sendo fruto da escolha dos trabalhadores, reflete suas vontades, seus
desejos em como aproveitar seu tempo livre, depois de um dia ou uma semana de trabalho.
neste campo de ao que se inserem as cirandas realizadas no Grilo.
Porm, mais do que uma brincadeira, como a comunidade costuma se referir ciranda,
a mesma assume lugar de pertencimento para estes indivduos, ela faz parte das suas escolhas,
assim ela torna-se significativa para eles. E foi pensando na ciranda como um lazer que os
laos de sociabilidades tornam-se visveis, que convidamos o estimado leitor a conhecer um
pouco desta festa na comunidade Grilo.
4.2 SOBRE A CIRANDA NA PARABA
A modalidade da Ciranda de Adultos no Nordeste (Pernambuco e Paraba)
caracterizada pela dana de roda ou em fila. Seu surgimento se deu primeiramente em
161
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor. Festa no Pedao: Cultura popular e lazer na cidade. 3.ed. So
Paulo:Hucitec/UNESP, 2003. p. 15.
118
Pernambuco em torno dos anos de 1950, posteriormente passando Paraba. Quanto a sua
origem Pimentel:
Conclui, assim, que de roda de adultos em Portugal, passou a Ciranda ao Brasil
como roda infantil. Lembra, ainda, Lus da Cmara Cascudo em favor da origem
portuguesa: Se a roda girar de mos dadas a origem no africana, nem amerndia.
da Europa.162
A Ciranda chega aqui atravs da contribuio portuguesa, mas aos poucos tambm vai
sendo influenciada por outras culturas. Mas, se tratando de Pernambuco e especificamente da
Paraba, interessante ressaltar que antes da ciranda o que predominava nessas comunidades
era o coco de roda. Este sim trazia consigo muito da cultura afrodescendente, colocando muita
sensualidade na coreografia da dana. neste sentido, que se nota a forte presena das
umbigadas, as quais so to caractersticas do coco de roda
O Coco de Roda, em virtude mesmo de sua origem entre os negros de Palmares,
conserva uma sensualidade muito evidente, a partir da umbigada, enquanto a
Ciranda de Adultos marcada pela ingenuidade dos movimentos e dos cantos,
sempre de temas amorosos, mas a nvel potico.163
Embora o Coco de Roda e a Ciranda de Adulto tenham suas particularidades, a
primeira acabou influenciando a segunda e com o surgimento da Ciranda de Adulto entre as
dcadas de 1950 e 1960 a tendncia foi do Coco de Roda ir cada vez mais desaparecendo,
assumindo seu lugar a Ciranda de Adultos.
Mas, como so os passos realizados durante a dana da Ciranda ou a coreografia
apresentada na mesma? A dana da Ciranda de Adultos, [...] dana de roda de mos dadas
que avana para o centro e recua, [...]. Cada componente segura a mo daquele que se
encontra na sua frente atrs de si.164 Os instrumentos que embalam esta festa so compostos
geralmente de dois zabumbas e um ganz, os quais so colocados no meio da roda onde
tambm se encontra o solista.
162
PIMENTEL, Altimar de Alencar. Ciranda de Adultos. FIC: Augusto dos Anjos. Joo Pessoa, 2005. p.
22.
163
164
Idem, p.33
Idem, p.18
119
interessante frisar que no s o solista ou mestre cirandeiro so essenciais neste
cenrio, mas tambm os tocadores, pois os mesmos devem ter habilidades com tais
instrumentos. importante ainda colocar que geralmente o prprio cirandeiro assume
simultaneamente o papel de solista e tocador.
4.3 AS CIRANDAS NO GRILO: PARA ALEGRAR E RECORDAR
Pensar sobre as Cirandas na comunidade Grilo refletir tambm sobre suas festas,
assim sendo, os momentos em que mais eram realizadas as Cirandas eram durante o ms de
janeiro, nos dias do ms de maio, no So Joo, final de ano, quando se queimava cara e nos
casamentos.
Hoje as Cirandas tornaram-se raras na comunidade e embora eventualmente possam
ser realizadas nas datas anteriormente citadas, atualmente elas so realizadas em momentos
mais especficos, como no dia 20 de novembro ou quando a comunidade recebe visita de
caravanas de outras comunidades. Uma das dificuldades na realizao da ciranda na
comunidade que o nico mestre cirandeiro existente na comunidade se encontra sem seus
instrumentos para tocar a ciranda. Porm, vale salientar, que quando a comunidade recebe
visitantes (Caravanas, como mostra a foto a baixo), estes geralmente trazem os instrumentos.
Neste sentido, a ciranda passa a ser fruto do encontro com outras comunidades.
Foto n 7- Ciranda realizada na Comunidade Grilo.
Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C., 2010.
120
O que podemos refletir hoje na comunidade que, apesar da ciranda contribuir para
fortalecer os laos de sociabilidades entre os grilenses, hoje ela poucas vezes realizada para
o prprio entretenimento da comunidade, antes sua prtica era mais constante. Para Miranda:
Uma das principais caractersticas da festa a sociabilidade. no espao das
comemoraes que as relaes sociais se entrelaam e se aguam. O ambiente
festivo, de alegria e descontrao, leva os participantes a terem tal comportamento.
Nesse espao, tambm se encontra o sentido da religiosidade e da solidariedade e,
ainda, as demarcaes de especificidades e diferenas entre os indivduos e os
grupos.165
neste campo de ao que se inserem as antigas festas no Grilo, momentos de alegrias
e descontrao que contagiavam a todos que quisessem participar da brincadeira da Ciranda
de Adultos. Momentos estes que inclusive no s reuniam os moradores da comunidade, mas
que tambm atraam pessoas das localidades vizinhas. So esses momentos de contentamento
durante as festas com Cirandas que dona Josefa nos coloca:
- M.J.C.: [...] era a noite todinha minha fia, ave Maria, a minha fia todo dia era com
alegria to grande parecia que tava no cu (risos), parecia que tava todo mundo no
cu minha fia, a noite todinha aquele bumba batendo e eles catando e danando, no
sei onde eles arruma tanta coisa pra fazer, pra dizer, a noite toda, era bonito mas
nunca mais eu vi nem falar166
Nesta fala de dona Josefa, podemos destacar que ao narrar as cirandas que vivenciou,
ela revive momentos de alegria quando, por exemplo, compara estes momentos com o cu. A
lembrana do bumba batendo tambm marcante. Alm disso, ela chega a se admirar com
as noites de cirandas, quando diz no sei onde eles arruma tanta coisa pra fazer, pra dizer, a
noite toda, ela est se referindo s variadas msicas de ciranda, cantadas durante toda a noite,
e as diversas histrias que as letras dessas msicas continham. Ela ainda nos coloca:
- M.J.C.: O povo botava pra brincar tudo de mo, de roda, a minha nossa senhora, a
sainha chegava a fazer assim (faz o gesto levantando a saia) chegava arrudiar,
menina de Deus era bonito, era bonito viu, pra gente aqui que no tinha o que fazer
da vida, era uma coisa muito bonita e pro So Joo a quando pensa que no o sol
165
MIRANDA, Carmlia Aparecida Silva. Vestgios Recuperados: experincia da comunidade negra
rural de Tijuau BA. So Paulo: Annablume, 2009. p. 107.
166
Entrevista realizada com dona Maria Josefa da Conceio em 03 de fevereiro de 2010.
121
vinha saindo, no dava nem f do final do tempo, era aqui na casa do meu av ali em
cima, era na casa de pai, acul naquele alto dali , era na casa do meu bisav naquele
alto de l, meus ti tudo, minhas irm, esse povo todo do Cuit, o povo se arrastava
todo pra l, era assim de gente ( faz gesto de muito com os dedos) no tinha outra
diverso minha fia...167
Na narrao anterior feita por dona Josefa, ela nos descreve um pouco de como se
danava a Ciranda, o povo botava pra brincar tudo de mo, de roda, a vestimenta tambm
colocada em nfase, quando ela se refere as saias que chegavam a arrudiar, se referindo s
saias rodadas, e de um modo geral ela nos d uma imagem da festa que ela participava:
- E.C.A.: A senhora tinha quantos anos quando a senhora danava ciranda aqui?
- M.J.C.: Eu tava com quinze (risos), eita danado dessa finura assim, eu era bem
novinha, dessa finura aqui , a cinturinha era isso aqui ( faz o gesto com as duas
mos juntas como um crculo), tinha um vestidim bem apertadim por aqui, o cabelo
arrepiava tudo, quando arrepiava fazia tudo de trochinha, de cocozinho, a minha fia
avuava no meio, avuava no bando e o bumbo batia, quando no era sofona era
bumbo, gemia nesse mundo de Jesus, vinha gente at de Serra Redonda
Atravs da fala de dona Josefa, somos chamados a perceber, no s a vestimenta
anteriormente citada, como tambm os modelos feitos para o cabelo na hora da dana, assim a
trochinha ou o cocozinho era o que se fazia para prender os cabelos quando estes se
arrepiavam. Deste modo, com os cabelos presos, ficavam mais a vontade para danar a
ciranda.
Ainda, de acordo com o relato de dona Josefa, podemos perceber alguns dos
instrumentos utilizados durante as festas de ciranda, na comunidade, como por exemplo o
bumbo, porm, tambm no era raro o uso da sanfona durante as realizaes destas festas.
Sobre o cirandeiro da sua poca e sobre o ambiente da festa ela nos expe:
- E.C.A.: Quem era o tocador aqui?
- M.J.C.: Era meu primo Sebastio
- E.C.A.: Ele tocava e cantava
- M.J.C.: tocava e cantava, ele e meus irmos, meus e meus subrin j tudo homem
no , era [...], mas tambm quando amanhecia o dia (risos) voc via o terrero todo
ciscado (risos) parecia que tinha passado (risos) de saltar e danar, pular e pinotar,
a vida naquele tempo era muito boa agora no, agora eles cantam eles bebem, era na
poera at a poera cobrir. Os zoi ficava cheio de poeira tinha nego que lavava o rosto
167
Entrevista realizada com dona Maria Josefa da Conceio em 03 de fevereiro de 2010.
122
trs quatro vez, no tempo da seca da sequido no tudo pulando, saltando naquela
poerada, lavava o rosto quatro cinco vezes (risos) 168
Na poca de dona Josefa, o cirandeiro era seu primo, desempenhava a funo de
tocador e cantor. A famlia e o povo citados tambm marcaram a recordao de um tempo em
que os parentes se reuniam e as festas iam at o amanhecer e nem mesmo a escassez de gua
era motivo para a festa no acontecer, lavava-se o rosto e voltava-se para a festa. Conforme
Halbwachs:
No primeiro plano da memria de um grupo se destacam as lembranas dos eventos
e das experincias que dizem respeito maioria de seus membros e que resultam de
sua prpria vida ou de suas relaes com os grupos mais prximos, os que estiveram
mais freqentemente em contato com ele. 169
Deste modo, comum durante os relatos de dona Josefa, ela ficar sempre se
recordando de parentes, amigos, de pessoas ou grupos mais prximos. Estes nomes fazem
parte da sua memria e da histria que narra, e algumas vezes, muitos dos nomes citados so
daquelas estimadas pessoas, que como ela costuma afirmar, j se foram. Neste campo de
ao, a memria de dona Josefa construda a partir dos grupos com que ela se relacionava.
Mas, ainda na fala de dona Josefa podemos refletir sobre o ambiente em que se davam
as festas na comunidade, ou as comemoraes. Assim, o que se percebe que as realizaes
das festas aconteciam no ambiente do prprio terreiro, geralmente em frente as casas. Assim,
de tanto saltar, danar, pular e pinotar, o terreiro ficava todo ciscado.
168
Entrevista realizada com dona Maria Josefa da Conceio em 03 de fevereiro de 2010.
HALBWACHS, Maurice. A Memria Coletiva. Traduo de Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro.
2006. p.51
169
123
Foto n 8- Quintal de dona Dra .
Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
Foto n 9- Ciranda realizada no quintal de dona Dra.
Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C. , 2010.
E aqui mais uma vez convidamos Michel de Certeau para refletirmos a importncia do
ambiente para estas comunidades, pois:
[...] Um lugar portanto uma configurao instantnea de posies. Implica uma
indicao de estabilidade. [...] Espao o efeito produzido pelas operaes que o
orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade
polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais.170
Pensando o ambiente na comunidade, de acordo com Certeau, se o terreiro um lugar
que indica estabilidade, ambiente onde acontecem os trabalhos do cotidiano, ele torna-se
espao, medida em que se configura como um espao onde se realizam as festas da
comunidade, ele passa ento a assumir outra funo para os grilenses, alm daquela que j
de costume. E dona Josefa ainda coloca sobre os locais das cirandas:
- A.C.C.: E como que aconteciam estas festas?
- M.J.C.: Se fosse na casa de algum, era a noite todinha, comeava logo cedo,
aquelas vizinhana todinha que tivesse por fora vinha, aqueles ti, aqueles neto, sabe
que vinha tudo pra c, aquele So Joo era muita festa 171
170
CERTEAU, Michel de. A Inveno do Cotidiano: 1. artes de fazer. Traduo de Ephraim Ferreira
Alves. Petrpolis: Vozes, 1994. p. 201-202.
171
Entrevista cedida por Amanda Carla Cabral, realizada no dia 28 de setembro de 2008.
124
Assim, importante perceber que as festas podiam ser em frente casa de qualquer
pessoa da comunidade, assim a mesma requisitasse, embora muitas vezes ocorresse em frente
casa de dona Dra. Com o quintal amplo, plano e bem no centro da comunidade, o quintal
de dona Dra tornou-se vrias vezes um cenrio praticado, nos festejos da comunidade Grilo.
interessante ressaltar que as prticas culturais numa comunidade remanescente de
quilombo esto fortemente ligadas ao seu meio natural, ao seu habitat, o ambiente em que
vivem faz parte das suas memrias, das suas lembranas, assim o seu cotidiano se relaciona
com esse ambiente, existe toda uma harmonia deles para com a natureza a sua volta.
Conforme Duarte:
Assim, quando os historiadores se voltam para o tema da natureza da forma
especfica como tm feito, evidenciam como vivem em um lugar social e no no
mundo da lua. Apresentam-se como homens em dilogo com seu tempo e,
principalmente, como pesquisadores de um saber no apenas vlido, mas essencial
para compreendermos nosso presente e atuarmos na construo de nosso futuro. 172
Dessa forma, os historiadores tm se aproximado dessas reflexes entre Histria e
Natureza, justamente por entender que perceber a relao do homem com a natureza refletir
tambm sobre os seus laos sociais. No caso da comunidade Grilo, a relao dos seus
habitantes com o lugar muito forte, a terra d o sustento, das plantas surgem remdios. E
nesta mesma em terra que acontecem as festas, as cerimnias religiosas, os nascimentos.
Dona Dra tambm, ao nos contar sobre as cirandas que participara, acabava por tocar
tambm no ambiente mais comum em que estas cirandas se realizavam, ento ela afirma:
Mas era tanta gente a nesse meu quintal.173
Dona Dra tambm nos conta sobre as cirandas que vivenciou ainda jovem:
- M.D.C.T.: Logo, logo no no existia isso no sabe, agora eu vim pra qui, j era
me de famlia, ento esse Ded que mora ali ele cirandeiro, ele vive doente, no
quer, vive nesse trabalho, ele no quer no [...]
- E.C.A.: Foi Paquinha disse
- M.D.C.T.: A, ele mai a cunhada dele comade Tereza, hoje ela mora no Rio de
Janeiro [...]
- M.D.C.T.: A ele, ela comadre Teresa cantava ciranda, cantava no bombo ne, a
algum continuava a cantiga. Agora antigamente, na cidade do Ing quando o meu
172
DUARTE, Regina Horta. Histria & Natureza: Histria & Reflexes. Belo Horizonte: Autntica,
2005. p. 32.
173
Entrevista realiza em 18 de setembro de 2008.
125
av, tinha um tio que se chamava Justo [...] A o meu av tinha um tio que se
chamava Justiniano e cantava coco, coco de roda, a ia cantar, cantar coco na casa de
meu av, era l embaixo no Imboca perto da porteira [...] a ele falava assim, ele
cantava aqueles coco a eu [...] Ento meu av chamava esse Justiniano pra cantar
coco l na casa dele, coco de roda ia tanta gente da rua pra v esse coco, a ele
cantava, cantava, o pau rolou, ele cantava O pau rolou caiu, no meio da mata
ningum viu. E eu ficava, eu era pequena ficava assim olhando assim ( bota a mo
no queixo como se tivesse admirada) olhando achava bonito ele era um nego alto,
chega era meio isolado assim, ai ele fazia rolou, rolou, rolou caiu, no meio da mata
ningum viu (Risos Enquanto canta ela se levanta e dana tipo sapateando) Eu
achava to bonito ele fazer aquilo 174
Neste depoimento de dona Dra, outro cirandeiro ganha nfase, seu Ded, o qual ainda
reside na comunidade, solista e tocador. Assim como Sebastio primo, de dona Josefa, seu
Ded tambm desempenhava as duas funes. Entretanto, no seu papel de solista, ele dividia
esse lugar com sua comadre Tereza. Enquanto eles dois cantavam o solo, o resto da
comunidade cantava o refro. De acordo com Stearns: [...] um gnero s pode ser
compreendido se comparado com outro.175 interessante refletimos que, apesar de ser mais
comum os cirandeiros realizarem as festas de cirandas, estas identidades nem sempre so
fixas, tendo em vista que dona Teresa surge a, para burlar esta imagem estipulada. A mesma,
ento, se introduz num cenrio que geralmente reservado para os homens.
Nas lembranas de dona Dra, ainda residem as letras das cantigas que ouvia, quando
cita uma parte da msica que o tio do seu av cantava: O pau rolou ningum caiu, no meio
da mata ningum viu. Neste pequeno trecho da msica, podemos perceber a referncia ao
lugar comum em que as comunidades negras geralmente residiam que era na mata, assim
tendo as confuses, ningum ou pelo menos poucos podiam presenciar. De acordo com
Miranda:
No perodo escravista, o espao da liberdade que se criava com a dana no terreiro
representava o momento privilegiado para a comunicao interna da comunidade
cativa, veiculando-se todo tipo de mensagens, articulaes, crticas e reivindicaes
por meio da crnica social cantada.176
174
Entrevista realiza em 18 de setembro de 2008.
STEARNS, Peter N. Histria das relaes de gnero. Traduo de Mirna Pinsky. So Paulo:
Contexto. 2007. p.16.
176
MIRANDA, Carmlia Aparecida Silva. Vestgios Recuperados: experincia da comunidade negra
rural de Tijuau BA. So Paulo: Annablume, 2009. p. 118.
175
126
Neste sentido, as letras das cantigas tanto das cirandas como do coco de roda trazem
em si todo um significado, j que estas refletem o cotidiano dessas comunidades negras, estas
msicas se tornavam para estes indivduos, um veculo pelo qual as suas crticas poderiam ser
ouvidas, mesmo que no fossem atendidas. Dona Dra ainda acrescenta:
- M.D.C.T.: A eu dizia oxi, mas quando ele saa no outro dia, eu conversava com
meu av, toda vida eu fui safadona, procurar as coisas pra saber n, a eu dizia o
Tat meu tio Justo parece um doido sapateando a no terrero, era gente assim que
tava olhando l, meu tio Justo cantando rolou, rolou, caiu no meio da mata ningum
viu, conversa desmantelada essa tat? (risos) _Tome jeito minha fia, tome jeito,
isso brincadeira, isso brincadeira, divertimento minha fia 177
Dona Dra, ao questionar o modo de danar do tio Justo e ao indagar o que dizia a
letra da msica, seu av procurou enfatizar que aquilo era apenas brincadeira e divertimento,
prticas comuns no cotidiano do seu povo. Neste campo de ao, no importa quo
dramticas e intrigantes fossem as histrias contidas nas letras das msicas, o seu intuito alm
de um meio de denncia social, era tambm de divertir. Quando ainda pergunto a dona Dra
sobre o tocador da sua poca, ela afirma:
- M.D.C.T.: Ded
- E.C.A.: Ele era o puxador tambm, tem um puxador n? Ele era puxador?
- M.D.C.T.: , era ele, ele cantava assim, ele comeava, quando pensava que no,
aquela feitura de gente, tudo arrudiava assim de mulher, ele batia Tum, Tum no
bumbo a cantava, tinha, tinha uma pessoa era comade Tereza assim, ficava por
perto dele, ele batendo a cantava, e os zoto tudo pegado um no brao do outro, a
ele cantava _ Cirandeira voc a maior, me d a caixa de p que o teu namorado
deu Ela respondia: _Olha senhor no queira me envergonhar sou dona desse lugar
ciranda quem tem sou eu A ele comeava, (risos), ele batia o povo tudo danando,
danando e arrudiando178
Fica-nos claro mais uma vez que as letras das cirandas no so alheatrias, elas tm
toda uma relao com os que a cantam, com os que vivem na comunidade e partilham das
letras dessas msicas. interessante ainda perceber que essas letras esto na memria de dona
Dra, percebemos durante as entrevistas que as recordaes so muito significativas para ela,
tendo em vista que no raramente ela se emocionava, ou ainda demonstrava suas emoes
177
178
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
127
cantando, danando, rindo, sua narrao, muitas vezes, nos faz desejar ter estado naquela
festa. Segundo Bosi:
Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que no conhecemos
pode chegar-nos pela memria dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem
ser compreendidos por quem no os viveu e at humanizar o presente. A conversa
evocativa de um velho sempre uma experincia profunda: repassada de nostalgia,
revolta, resignao pelo desfiguramento das paisagens caras, pela desapario de
entes amados, semelhante a uma obra de arte.179
Deste modo, se um mundo que no conhecemos chega at ns atravs dos relatos dos
velhos, no caso das cirandas, as mesmas nos chegam atravs de dona Dra, ou como foi
outrora, mediante a narrao de dona Josefa. Passamos, ento, a compreender um passado do
qual no participamos. As experincias narradas acabam tambm por nos atingir intimamente.
interessante ainda analisarmos a letra da msica da ciranda, narrada por dona Dra,
pois a mesma tambm pode nos informar sobre o cotidiano que abrange uma comunidade
negra.
- M.D.C.T.: A ele cantava Cirandeira voc a maior, me d a caixa de p que o
teu namorado deu Ela respondia: _ Olha senhor no queira me envergonhar sou
dona desse lugar ciranda quem tem sou eu A ele comeava, (risos), ele batia o
povo tudo danando, danando e arrudiando.180
Na letra dessa msica de ciranda, podemos perceber os jogos de seduo que
aconteciam entre os casais, ele pede a caixa de p porque foi o namorado dela que deu, uma
forma de afront-la e cortej-la ao mesmo tempo. Ela, por sua vez, deixa claro que ele no
deve querer envergonh-la, pois ela a dona daquele lugar. Sobre as letras das canes de
cirandas, Pimentel afirma:
Ao leitor, ou ouvinte das composies mais atento no havero de passar
despercebidos alguns aspectos mais marcantes dessas composies, no entanto,
desejamos chamar ateno para determinadas construes poticas bastante
179
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. 3.ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 82.
180
Entrevista realizada em 18 de sembro de 2008.
128
definidoras da psicologia de seus autores, integrados todos no meio em que vivem
ou viviam.181
Assim, de modo geral, percebe-se que essas letras, de alguma forma, esto ligadas ao
cotidiano dessas comunidades negras, elas dizem muito a respeito das suas experincias, de
seus parentes e seus antepassados.
Ainda ao recordar seu passado, dona Dra nos conta sobre o coco de roda, tambm
praticado na comunidade, embora que, com a chegada da ciranda, este tenha ficado um pouco
de lado, porm no raro, acontecia ciranda e coco ao mesmo tempo nas festas da comunidade.
Dona Dra ainda nos acrescenta:
- E.C.A.: O coco diferencia o que da ciranda? Eu no entendo no.
- M.D.C.T.: Com o bombo, catando aquelas cantigas n, essa a ciranda, que Dede
trabalhava ai era a ciranda, agora coco ele tambm sabe fazer coco
- E.C.A.: Como coco qual a diferena?
- M.D.C.T.: Coco de roda, porque coco tem ganz n, tem flauta, tem bombo, tem
tudo. Ai canta aquelas cantigas e vai. O coco tem umbigada um no outro (risos)
- E.C.A.: E a ciranda mais a roda n? O coco mais solto. A senhora tava
danando naquela hora aqui ciranda ou coco?
- M.D.C.T.: Ciranda, h hoje aqui, coco.182
Aos risos, dona Dra se recorda do coco que tantas vezes danou com muita alegria, e
nos fala tambm rindo e um pouco envergonhada das umbigadas to comuns, realizadas
durante a dana do coco, dana esta que traz muito da sensualidade das danas dos afrodescendentes. A pesquisadora e professora Miranda, ao explicar sobre a origem do samba e
mais especificamente sobre o samba de lata, fruto de sua pesquisa em uma comunidade negra
de Tijuau na Bahia, nos fala tambm sobre as umbigadas, e coloca:
Quando da realizao do samba de terreiro, os escravos formavam um crculo no
qual saltavam e bamboleavam o corpo com um saracoteio dos quadris. No centro
desse crculo, encontrava-se um(a) que, ao querer ser substitudo(a), convidava outro
elemento do crculo a exibir-se no centro, dando-lhe a chamada umbigada(contato
dos dois ventres, umbigo contra umbigo).183
181
PIMENTEL, Altimar de Alencar. Ciranda de Adultos. FIC: Augusto dos Anjos. Joo Pessoa, 2005.
p. 43.
182
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
MIRANDA, Carmlia Aparecida Silva. Vestgios Recuperados: experincia da comunidade negra
rural de Tijuau BA. So Paulo: Annablume, 2009. p. 117.
183
129
Assim, quando dona Dra afirma que o coco tem umbigada um no outro,
justamente o contato dos dois ventres, umbigo contra umbigo que a professora Miranda se
referiu. Por ser uma dana bastante sensual, percebemos que existe certa resistncia em as
pessoas falar sem embarao sobre o assunto. E dona Dra ainda nos coloca mais uma msica
no mbito do coco, mas que tambm era danada durante as cirandas, sempre nesta linha
tnue entre coco e ciranda, ciranda e coco.
- E.C.A.: Dona Dra qualquer pessoa podia puxar ou s era ele, tinha que ter uma
pessoa certa assim?
- M.D.C.T.: S era ele mesmo
- E.C.A.: S era ele
- M.D.C.T.:
- E.C.A.: Interessante n s uma pessoa que
- M.D.C.T.: Ai depois ele cantava outras musicas, modinhas piaba sai, piaba va,
piaba de coco coisa boa (risos)184
Ora, se dissemos que as letras de cirandas e do coco de roda esto relacionadas ao
cotidiano dessas comunidades negras, ento aqui mais uma vez podemos enfatizar a
importncia que a piaba assume no mbito da alimentao dessas pessoas normalmente de
condies bem humildes, justamente o dia-a-dia que se encontra presente nas letras dessas
cantigas.
Porm, em se tratando de cantigas de cirandas, permita-me o caro leitor apresentar-lhe
o nico mestre cirandeiro que existe na comunidade remanescente de quilombo Grilo, o
senhor Jos Florncio da Silva, conhecido como seu Ded.
184
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
130
Foto n 10- Seu Ded em frente sua residncia no Grilo.
Fonte: Fotografo: AMARAL, Kcia Karla S. C., 2010.
Como podemos observar na imagem acima, pequenino e bastante simples, e tambm
muito simptico e hospitaleiro, seu Ded gentilmente compartilha conosco algumas cantigas
por ele cantadas nas cirandas na comunidade Grilo.
- E.C.A.: Canta a um pedacinho
- J.F.S.: Esqueo no t tudo na memria.
- E.C.A.: Cante um pedacinho pra mim
- J.F.S.: Quando a gente chega logo na casa, a gente canta logo assim, eu chego e
canto logo n: Dona da casa, licena vou lhe pedir, pra no terrero eu armar meu
assapro, para pegar o canrio do imprio e a moa no faz mistrio vai morrer do
corao.185
Nesta cantiga, cantada por seu Ded, podemos refletir que existia todo um ritual, ou
um costume para se comear a ciranda, por exemplo, era uma forma de comear a brincadeira
da ciranda, pedindo licena dona da casa onde iria se realizar a festa. Outras cirandas
cantadas por seu Ded retratam histrias de amor: cirandeira quando for te levo, pra
estrada nova, pra linha de ferro, fiz a viagem no tempo da sapatina, mame tenho dinheiro
pra gastar com a menina186.
185
186
Entrevista realizada em 13 de fevereiro de 2010.
Trecho de uma musica de ciranda cantada por seu Ded na entrevista, em 13 de fevereiro de 2010.
131
Assim, muitas dessas cantigas relatavam o cotidiano das paixes correspondidas ou
no. O levar a cirandeira poderia ser, por exemplo, o sinal de um casamento ou de um rapto
por amor.
Porm interessante tambm perceber que, se existia uma cantiga pedindo licena
para comear a ciranda, existia tambm aquela que demonstrava sua finalizao. Neste campo
de ao seu Ded nos coloca: Adeus meu povo que j vou embora, chegou a hora de eu me
arretirar, adeus meu povo que eu j vou partir, adeus meu Piau at quando eu voltar.
Sobre os autores dessas letras de cirandas Pimentel afirma:
Homens simples, de pouca escolaridade, embora muito criativos, expressam em seus
cantos a vida comum da gente onde vivem e interpretam e para quem dirigem suas
composies. Impressiona, por isso mesmo, as imagens suscitadas na descrio dos
fatos mais corriqueiros de suas vidas ou naqueles cantos dirigidos mulher, objeto
do seu amor. No um amor carnal, de apelo sexual, mas um bem-querer que sublima
os desejos ou os revela nas entrelinhas, com certo pudor, ingenuamente. 187
Deste modo, cantador e comunidade fortalecem seus laos de sociabilidades, no
mbito de canes que dizem respeito a um cotidiano familiar a ambas as partes.
Mas, pensar as cirandas no Grilo refletir tambm sobre as relaes de gnero durante
estas festas, o que era permitido ou no a mulheres e homens fazerem. Sobre esta questo
dona Josefa nos coloca:
- A.C.C.: E as cirandas daqui
- M.J.C.: Vixe Maria!!!! [...] Era da boca da noite at o dia amanhecer. Era do
mundo pegar fogo(risos)
- A.C.C.: E o que que isso do mundo pegar fogo?
- M.J.C.: No tinha poeira no mas saa poeira do cho (risos)
- A.C.C.: Era quente todo o forro, a ciranda
- M.J.C.: Era l por cima dessas serras, nego s faltava morrer espedaado por cima
das pedas, bebiam uma cachacinha (risos)
- A.C.C.: A senhora gostava de beber uma cachacinha tambm
- M.J.C.: No, no.
- A.C.C.: Risos. Por qu?
- M.J.C.: Han, beber uma cachacinha, no minha fia naquele tempo mulher no
bebia no
- A.C.C.: S os homens?
- M.J.C.: S os homens.188
187
PIMENTEL, Altimar de Alencar. Ciranda de Adultos. FIC: Augusto dos Anjos. Joo Pessoa, 2005. p.
43-45.
188
.Entrevista cedida por Amanda Carla Cabral, realizada no dia 28 de setembro de 2008.
132
De acordo com o relato de dona Josefa, a cachaa era permitida apenas para os
homens, os quais s faltava morrer espedaados por cima das pedras, ou seja, depois do
consumo durante as festas, muitos ficavam embriagados, chegando a se machucarem por
entre os lajedos na volta para a casa. Porm, ainda neste mbito do que era permitido ou no,
ela nos coloca:
- A.C.C.: Seu marido era branco ou negro?
- M.J.C.: Nada, era negro. Era negro
- A.C.C.: Era negro tambm
- M.J.C.: Era negro tambm. No e negro no casava com branco no, era tudo negro,
hoje em dia no tem isso mais no
- A.C.C.: Seu pai dizia alguma coisa em relao a isso de negro no poder casar com
branco?
- M.J.C.: Meu pai, meu pai dizia que cada um, cada um procurasse seu lugar, meu
pai dizia assim
- A.C.C.: A senhora concorda com isso?
- M.J.C.: Bom, naquele tempo era, mas hoje no, hoje mudou189
Percebe-se tambm que os casamentos s se davam entre negros, os casamentos entre
brancos e negros, embora pudessem existir, eram raros e nada benquistos pela prpria
comunidade negra, isto porque, como afirmava o pai de dona Josefa, cada um procurasse seu
lugar, lugar este que era o de se casar com gente da sua mesma cor. E dona Josefa compara
este pensamento de antes e constata que hoje mudou. De acordo com Bosi: Cresce a
nitidez e o nmero das imagens de outrora, e esta faculdade de relembrar exige um esprito
desperto, a capacidade de no confundir a vida atual com a que passou, de reconhecer as
lembranas e op-las s imagens de agora.190
Assim, podemos averiguar que em diferentes passagens dos depoimentos de Dona
Josefa, essa comparao do ontem e do hoje, do passado e do presente, esto sempre
marcadas em suas falas, muitas vezes, lembrar de como eram as coisas antigamente implica
em perceber as diferenas das mesmas na atualidade. As cirandas, os casamentos ou as
relaes entre as pessoas sofreram mudanas durante os anos, e no so mais os mesmos.
Dessa forma, trilhando o caminho da saudade, quando narram as festas de cirandas,
que dona Josefa e dona Dra percorrem, ao contribuir com suas lembranas em nossa
pesquisa. Uma saudade que traz consigo, muitos momentos de alegrias.
189
Entrevista cedida por Amanda Carla Cabral, realizada no dia 28 de setembro de 2008.
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. 3.ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 81.
190
133
- A.C.C.: A senhora tem saudade desse tempo?
- M.J.C.: Eu tenho saudade desse tempo
- A.C.C.: A senhora gostaria que ainda existisse aquelas cirandas por aqui?
- M.J.C.: Hum?
- A.C.C.: A senhora gostaria que ainda existisse aquelas cirandas por aqui?
- M.J.C.: Mas pra qu?
- A.C.C.: Nem pra senhora assistir? Ah j sei senhora no queria que tivesse porque
a senhora ficaria agoniada doidinha pra danar
- M.J.C.: No, no (risos) Eu no saio de casa pra canto nenhum (risos), eu fico s
- A.C.C.: S na vontade
- M.J.C.: Na saudade daqueles tempos191
A saudade desses tempos para dona Dra bastante forte. Ao recordar estas festas, ela
est de certa forma, voltando ao passado, ou revivendo em pensamento o que lhe sucedera
nesse passado. Dona Dra ainda vai mais alm, entregue nostalgia desse tempo que vivera,
ao nos afirmar:
- M.D.C.T.: E as mulheres tudo danando e arrudiando, danando e arrudiando, vixe
Maria, era muita gente que dava, depois acabou, tudo no mundo se acaba n?192
E muito emocionada, de cabea baixa, um pouco perdida em seus pensamentos e com
os olhos lagrimejando que dona Dra constata que tudo no mundo se acaba, inclusive os bons
tempos das cirandas que vivera na comunidade, tempos aqueles nos quais muitos dos seus
queridos familiares ainda estavam vivos. Assim, Bosi coloca: Por que chora o narrador em
certos momentos da histria de sua vida? Esses momentos no so, com certeza, aqueles de
que esperaramos lgrimas e nos desconcertam.193
A mistura de alegria e tristeza na qual dona Dra se encontra mergulhada faz com que
a mesma se emocione e inicie a chorar, lgrimas tmidas no canto dos olhos que rapidamente
so enxugadas pelas mos e impedidas de descer. Estes momentos tambm so emocionantes
para o historiador que lana mo da histria oral como metodologia de pesquisa.
Assim, o que podemos refletir sobre as festas de cirandas no Grilo, que estas se
encontram em um quadro de continuidades medida que ainda so realizadas em ocasies
raras e no mbito das descontinuidades tambm, j que a sua prtica foi mais forte no passado
191
Entrevista cedida por Amanda Carla Cabral, realizada no dia 28 de setembro de 2008.
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2008.
193
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de Velhos. 3.ed. So Paulo: Companhia das Letras,
2009. p. 86.
192
134
do que nos dias atuais. No passado ou no presente, as festas das cirandas um elemento que
contribui na formao das identidades da comunidade Grilo. De acordo com Cuche:
A identidade uma construo que se elabora em uma relao que ope um grupo
aos outros grupos com os quais est em contato. [...] Tambm para definir a
identidade de um grupo, o importante no inventariar seus traos culturais
distintivos, mas localizar aqueles que so utilizados pelos membros do grupo para
afirmar e manter uma distino cultural. 194
Neste sentido, se a identidade se constitui em uma condio relacional a outros grupos,
a ciranda uma prtica que contribui para a distino da identidade da comunidade Grilo, j
que, mesmo a comunidade sendo receptiva a outros grupos participarem das suas festas de
cirandas, esta continua sendo uma manifestao cultural prpria da comunidade; no mbito
dessa fronteira que se estabelece sua distino em relao a outros grupos.
194
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2.ed. Bauru:
EDUSC. 2002. p. 182
135
CONSIDERAES FINAIS
Depois de um longo caminho percorrido, com dias de sol e de chuva, chegamos at
aqui. Mas isto no quer dizer que atingimos o ponto final, apenas abordamos um determinado
ponto desejado. Seguimos um arco-ris, pois a caminhada infinita. Relembremos agora, os
passos, o ponto que conseguimos abranger com esta andana.
A princpio, podemos expor que esta dissertao reflete toda uma trajetria da nossa
pesquisa na comunidade remanescente de quilombo Grilo no municpio do Riacho do
Bacamarte-PB. Nossa proposta geral foi a de refletir as memrias de nossos colaboradores e
as prticas culturais que os mesmos exercem em seu cotidiano, buscando avaliar como estas
memrias e estas prticas culturais colaboram no mbito da sua identidade tnica enquanto
uma comunidade reconhecida como remanescentes de quilombo.
Para inicialmente adentrarmos no campo da nossa problemtica, fez-se necessrio
recorrer a um aparato terico que pudesse dialogar com a proposta da nossa pesquisa. Neste
sentido, visamos a nos abastecer teoricamente sobre a temtica da escravido e sobre o tema
dos remanescentes de quilombo mais especificamente. Caminhamos por estas direes a
partir de algumas escolhas tericas.
Deste modo, em nosso primeiro caminho, discorremos sobre o tema da escravido, a
partir da obra Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre, procuramos questionar a suposta
relao harmoniosa, idlica, entre senhores e escravos. Para discutirmos esta suposta relao,
nos apropriamos de autores Como Joo Jos Reis, Emlia Viotti, Ktia de Keiroz Matosso,
Flvio dos Santos Gomes, que nos colocaram mediante as suas pesquisas, documentando, que
os escravos resistiram, das mais diversas formas, escravido. Assassinatos, abortos,
suicdios, trabalhos lentamente cumpridos e as fugas foram apenas algumas das formas que os
escravos agenciaram contra o estatuto da escravido. Assim, no mbito desta discusso
historiogrfica, pudemos constatar que a viso da escravido harmoniosa, do escravo-coisa ou
totalmente passivo, foram amplamente contestadas pela historiografia.
Ainda, no primeiro caminho, pensamos sobre a origem do significado do termo
quilombo. Segundo Kabengele Munanga tem sua origem entre os povos bantu. De acordo
com Flvio dos Santos Gomes, quilombo quer dizer acampamento e para os povos das regies
centro-ocidentais significava o ritual de iniciao militar, assim, muitos desses fatores foram
recriados aqui no Brasil. Ao pensarmos o termo nos dias atuais, principalmente no tocante ao
artigo 68 da Constituio Federal, o termo quilombo vem acompanhado de remanescente,
136
portanto quilombo seria uma categoria, histrica enquanto remanescente uma categoria
estatal. O termo remanescente foi usado com o intuito de se encontrar, nas comunidades
atuais, formas atualizadas dos quilombos de antigamente. Para a ampliao do artigo 68, foi
importante a colaborao de Gloria Moura, questes como a descendncia, a cultura de
subsistncia, as manifestaes culturais e o vnculo com o passado ganharam nfase, mas
interessante ressaltar que este vnculo com o passado, ou seja, a identidade passa a ser
reivindicada pelos habitantes.
Tambm neste primeiro caminho, analisamos como se organizavam os quilombos,
refletimos que eles podiam se localizar prximo ou longe das cidades. Seus habitantes no
eram s negros, mas eram includos a grupos bem heterogneos. Pensamos ainda sobre as
leis que, gradualmente, foram surgindo, at chegar abolio definitiva da escravido, em 13
de maio de 1888. Percebemos que, mesmo com a abolio, a cidadania foi negada ao negro.
Por ltimo, neste primeiro caminho, apresentamos a comunidade Grilo ao leitor, discutimos
sobre sua localizao, e o mais importante, sobre seu povo.
Em nosso segundo caminho, comeamos tecendo algumas reflexes sobre a relao
entre memria e histria, discutimos que ambas se dialogam por terem por ambio uma
aproximao com a verdade. E, atravs das contribuies de Maurice Halbwachs, nos
apoiamos nos seus conceitos de memria coletiva e memria individual. Ao escolhermos
principalmente os idosos da comunidade como fonte para pesquisar suas memrias, nos
apoiamos tambm em Ecla Bosi que trata das reflexes acerca das memrias de velhos.
Mediante essas leituras, focamos nosso segundo caminho nas memrias dos idosos,
sobre os dois ex-escravos Bernadina e Gardino que percorreram a comunidade Grilo. Das
leituras realizadas com Michel de Certeau, procuramos analisar, atravs dosnos relatos sobre
esses ex-escravos, o seu cotidiano antes e depois da abolio. Deste modo, verificamos o
cotidiano de Bernadina no meio rural, sua funo enquanto cozinheira nos levou a pensar
sobre os modos de se preparar a alimentao dos escravos, percebemos as astcias realizadas
para sobreviver em um ambiente de extrema pobreza, no s dela como o do irmo. O
objetivo aqui alcanado foi o de pensar as memrias desses ex-escravos como uma
contribuio na construo da identidade enquanto remanescentes de quilombo e perceber as
fronteiras a erguidas mediante aqueles que no compartilham dessas memrias.
Em nosso terceiro caminho, buscamos pensar sobre o artesanato praticado na
comunidade. Inicialmente fizemos a discusso sobre cultura material e imaterial, levando em
considerao que o prprio conceito de patrimnio cultural foi ampliado, buscando valorizar o
fator imaterial das culturas. Neste campo de ao, nosso olhar para o artesanato na
137
comunidade Grilo, visou no s ao artesanato em si, enquanto uma cultura material, mas nos
debruamos principalmente nos modos de fazer, e procuramos compreender o significado e a
importncia que o mesmo tem para as mulheres que o produzem. Assim, nos atentamos para o
fato de que o labirinto uma prtica passada de gerao a gerao, e apenas algumas
mulheres sabem desenvolver todas as etapas para chegar a uma pea em seu estagio final. A
produo do labirinto importante para as mulheres, alm do ponto de vista financeiro, sua
importncia acontece ao fortalecer os laos de sociabilidades entre as mesmas. Ademais, a
identidade de artes vem demarcar uma das identidades das mulheres do Grilo. Elas
estabelecem sua diferena cultural em relao a outros grupos na medida em que apresentam
seu trabalho como sendo um trabalho realizado por remanescentes de quilombo.
Em um segundo momento, ainda no terceiro caminho, refletimos sobre a cermica,
percebemos que essa prtica busca auxiliar a vida cotidiana das pessoas que no tm
condies de comprar outro tipo de loua e usam fogo a lenha, assim como o labirinto,
mesmo sendo um auxlio financeiro para a famlia, a prtica da cermica tambm contribui
para reforar a identidade cultural dos grilenses. uma tradio que acompanha esta gente
por geraes.
Pensamos que, embora tanto o labirinto como a cermica contribuam na construo da
identidade cultural da comunidade e mesmo que ambas as prticas estreitem os laos de
sociabilidades na comunidade, nas fronteiras que os grilenses mantm com outros grupos e a
partir das diferenas a institudas que eles constroem sua identidade tnica.
J em nosso quarto e ltimo caminho, enveredamos para um campo oposto ao do
trabalho. Pensamos sobre o lazer na comunidade, especificamente sobre as festas de cirandas.
Inicialmente, lanamos nossa ateno sobre como eram estas festas no passado, que duravam
a noite toda, analisamos as letras das msicas de cirandas, cantadas pelos nossos
colaboradores, inclusive as de seu Ded, nico cirandeiro da comunidade e meditamos sobre a
relao dessas letras com o cotidiano da comunidade. Refletimos que estes festejos foram e
so momentos de sociabilidades entre o grupo. Muitas vezes estas festas so narradas pelos
mais idosos com saudosismo. Percebemos tambm que a ciranda contribui na construo da
identidade tnica da comunidade, por meio do relacionamento com outros grupos, os quais
vm participar ou assistir as cirandas. A comunidade estabelece sua distino no contato e na
fronteira construda com esses grupos, tendo em vista que esta diferena erguida no instante
em que eles percebem que a ciranda uma manifestao tpica da comunidade Grilo, as
pessoas que, por exemplo, vm da zona urbana, no tm este tipo de dana l.
138
Assim, de modo geral, podemos afirmar que nossa pesquisa traz algumas
contribuies no campo da Histria e na temtica que se refere aos remanescentes de
quilombo da comunidade Grilo em Riacho do Bacamarte-PB. Contribumos no sentido de
perceber que as memrias de um grupo dizem muito mais do que apenas retratam seu
passado. Elas nos informam sobre seu cotidiano e suas relaes de sociabilidades, seus
costumes. Deste modo, no tocante ao Grilo, ao nos aprofundarmos nas anlises de suas
prticas culturais como o labirinto, a cermica e a ciranda, e nas suas memrias que informam
sobre o passado escravista, percebemos que o fato de eles desenvolverem uma mesma cultura
no determinante para a sua identidade tnica, pois isto apenas seria uma condio primaria
na formao das suas identidades. O que nossa pesquisa traz como contribuio justamente
perceber que suas memrias, relacionadas ao passado escravista, suas prticas culturais, a sua
organizao social, mantida na fronteira com outros grupos, contribuem na construo da sua
identidade tnica.
No deixamos aqui um ponto final sobre as memrias e prticas culturais que
identificam a comunidade Grilo como remanescentes de quilombo. Escolhemos nosso
caminho, no entanto, existem outros caminhos, sadas e entradas para se chegar
compreenso do cotidiano dos grilenses, enquanto remanescentes de quilombo. No
institumos verdades, mas realizamos reflexes, verses. Resta agora, ao estimado leitor, que
at aqui conosco caminhou, acatar ou contestar nossas colocaes. xito na caminhada.
139
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALBERTI, Verena. Manual de historia oral. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
AMARAL, Elane Cristina do. Caminhos de pedras e as pedras no caminho: A trajetria
autoral de Rachel de Queiroz. Campina Grande, 2007. Monografia de concluso do curso de
Licenciatura em Historia, Universidade Estadual da Paraba.
APOLINRIO, Juciene Ricarte. Escravido Negra no Tocantins Colonial: Vivncias
escravistas em Arraias (1739-1800). 2. ed. Goinia: Kelps, 2007.
ARRUTI, Jos Maurcio. Mocambo: antropologia e histria do processo de formao
quilombola. Bauru: EDUSC, 2006.
BOSI, Ecla. Memria e Sociedade: Lembranas de velhos. 15. ed. So Paulo: Companhia
das Letras, 2009.
BARTH, Fredrik. Grupos tnicos e suas Fronteiras. In POUTIGNAT Philippe; STREIFFFENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido de grupos tnicos e suas fronteiras de
Fredrick Barth. Trad. Elcio Fernandes. So Paulo:UNESP, 1998.
BURKE, Peter. Testemunha Ocular: histria e imagem. Traduo Vera Maria Xavier dos
Santos. Bauru: EDUSC, 2004.
CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laos de famlia e direitos no final da escravido. In: Histria
da vida privada no Brasil 2: Imprio. Coordenador-geral da coleo: Fernando A. Novais;
Organizador do volume: Luiz Felipe Alencastro. So Paulo: Companhia das letras, 2006.
CERTEAU, Michel de, A Inveno do Cotidiano 1: Artes de fazer. 12. ed.. Trad. Ephraim
Ferreira Alves. Petrpolis: Vozes, 1994.
CERTEAU, Michel de. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A Inveno do Cotidiano 2: Morar,
cozinhar. Trad. Ephraim F. Alves e Lcia Endlich Orth. 7.ed. Petrpolis: Vozes, 2008.
CHALHOUB, Sidney. Vises da Liberdade: Uma histria das ltimas dcadas da escravido
na corte. So Paulo: Companhia das letras, 1990.
140
CHUVENAU, Agnes. TTART, Philippe. (orgs.). Questes para a histria do presente.
Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 1999.
COSTA, Emlia Viotti da. A abolio. 8. ed. So Paulo: UNESP, 2008.
_____. Da senzala colnia. 4. ed. So Paulo: UNESP, 1998.
CUCHE, Denys. A noo de cultura nas cincias sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 2. ed.
Bauru: EDUSC, 2000.
DOSSE, Franois. Uma historia social da memria. In: A histria. Trad.Maria Helena Ortiz
Assuno. Bauru: EDUSC, 2003.
DUARTE, Regina Horta. Histria & Natureza: Histria & Reflexes. Belo Horizonte:
Autntica, 2005.
FONSECA, Maria Ceclia Londres. Para alm da pedra e cal: por uma concepo ampla de
patrimnio cultural. In: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e
patrimnio: ensaios contemporneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
FRANOIS. Etienne. A fecundidade da histria oral. In: FERREIRA, Marieta de Moraes.
AMADO, Janaina. Usos & Abusos da histria oral. 8.ed. Rio de janeiro: Editora FGV,
2006.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 51. ed. So Paulo: Global, 2010.
GEERTZ, Clifford. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
_____. Nova luz sobre a antropologia. Trad. Vera Ribeiro, Reviso tcnica: Maria Claudia
Pereira Coelho. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
GOMES, Flvio dos Santos. Quilombos: sonhando com a terra, construindo a cidadania. In:
PINSKY, Jaime. (org.) Histria da Cidadania. So Paulo: Contexto, 2003.
HALBWACHS, Maurice. A memria Coletiva. Trad. Beatriz Sidou. So Paulo: Centauro,
2006.
141
KARASCH, Mary. Os quilombos de ouro na capitania de Gois. In: REIS, Joo Jos.
GOMES, Flvio dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
KUPER, Adam. Cultura: a viso dos antroplogos. Traduo Mirtes Frange de Oliveira
Pinheiros. Bauru: EDUSC, 2002.
LARA, Silvia Hunold. Do singular ao plural: Palmares, capites-do-mato e o governo dos
escravos In: REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
LIBBY, Douglas Cole. PAIVA, Eduardo Frana. A escravido no Brasil: relaes sociais,
acordos e conflitos. 2. ed. So Paulo: Moderna, 2005.
LIMA, Elizabeth Christina de Andrade. Os negros de Pedra Dgua: Um estudo de
identidade tnica- Historia, Parentesco e Territorialidade numa Comunidade Rural. Campina
Grande, 1992. Dissertao de Mestrado em Sociologia (Sociologia Rural), Universidade
Federal da Paraiba.
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor. Festa no pedao: Cultura popular e lazer na cidade. 3.
ed. So Paulo: Hucitec/UNESP, 2003.
MATTOSO, Ktia de Queirs. Ser Escravo no Brasil. Traduo: James Amado. So Paulo:
Brasiliense, 2003.
MEIHY, Jos Carlos Sebe Bom. Manual de histria oral. 4.ed. So Paulo: Edies Loyola,
2002.
MIRANDA, Carmlia Aparecida Silva. Vestgios Recuperados: experincia da comunidade
negra rural de Tijuau BA. So Paulo: Annablume, 2009.
MUNANGA, Kabengele, GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje. So Paulo:
Global, 2006.
_____. Origem e histrico do quilombo na frica. Revista da USP, n.28,
dezembro/fevereiro. 1995/1996.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Histria & Histria Cultural. 2. ed. Belo Horizonte:
Autntica, 2005.
142
PESEZ, Jean-Marie. Histria da Cultura material. In: LE GOFF, Jacques. A histria. Trad.
Eduardo Brando. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1993.
PIMENTEL, Altimar de Alencar. Ciranda de Adultos. FIC: Augusto dos Anjos. Joo
Pessoa, 2005.
POUTIGNAT Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido de
grupos tnicos e suas fronteiras de Fredrick Barth. Trad. Elcio Fernandes. So Paulo:UNESP,
1998.
REIS, Joo Jos e SILVA, Eduardo. Negociao e Conflito: a resistncia negra no Brasil
escravista. So Paulo: Companhia das Letras, 2009.
REIS, Joo Jos. GOMES, Flvio dos Santos. Introduo. In: REIS, Joo Jos. GOMES,
Flvio dos Santos. Liberdade por um fio. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
REIS, Joo Jos. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. In: Revista USP. So Paulo (28):
Dezembro/Fevereiro 95/96.
ROUSSO, Henry. A memria no mais o que era. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e
AMADO, Janaina (orgs.). Usos e abusos da histria oral. 8. ed. Rio de Janeiro:FVG, 2006.
_____. A Histria do Tempo Presente. In: PORTO JR, Gilson. Histria do Tempo Presente.
Bauru, So Paulo: EDUSC, 2007.
SANTANNA, Mrcia. A face imaterial do patrimnio cultural: os novos instrumentos de
reconhecimento e valorizao. In: ABREU, Regina; e CHAGAS, Mario. (orgs.) Memria e
patrimnio: ensaios contemporneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
SANTOS, Jos Vanildo dos. Negros do Talhado: Estudo sobre a identidade tnica de uma
comunidade rural. Campina Grande, 1998. Dissertao de Mestrado em Sociologia
(Sociologia Rural), Universidade Federal da Paraiba.
SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememorao/comemorao: s utilizaes sociais da
memria. In: Revista Brasileira de Histria. So Paulo: ANPUH/Humanistas publicaes.
vol.22. n 44. 2002.
STEARNS, Peter N. Histria das relaes de gnero. Traduo de Mirna Pinsky. So Paulo:
Contexto, 2007.
143
TTART, Philippe. Pequena histria dos historiadores. Trad. Maria de Leonor Loureir.
Bauru: EDUSC, 2000.
WEINRICH, Harald. Auschwitz e o esquecimento impossvel. In: _____. Lete: Arte e critica
do esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira. 2001
144
ANEXO 1
145
QUADROS
Quadro 1 - Perfil parcial da populao da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo- PB
Perfil \ Total por Sexo
Mulheres
Homens
Total
Adultos( partir dos 30
anos)
72
53
125
Jovens (Entre 18 29
anos)
36
33
69
Adolescentes (Entre 13
17 anos)
19
15
34
Crianas (Entre 00 12
anos)
38
55
93
Total da populao
321
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
Quadro 2 Perfil Familiar da populao da Comunidade Remanescente de Quilombo GriloPB
Perfil
Total
Total de casados
55
Faixa etria entre 20 e 28 anos
11
Casados
Faixa etria entre 30 e 60 anos
44
Total de separados
Faixa etria entre 30 e 50 anos
Total de Viuvos
Faixa etria entre 60 e 87 anos
13
Total de famlias
76
Mdia de filhos por famlia
01 a 05 filhos
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
146
Quadro 3 Nivel escolar das Familias da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo- PB
vel de escolaridade
Pais
Filhos
Analfabetos
34
14
Pr-analfabetos*
20
Fundamental incompleto
35
Fundamental 1 a 4 srie
(Cursando)
116
Fundamental - 5 a 9 srie
(Cursando)
10
Ensino Mdio 1 a 3 srie
(Cursando)
* Que sabem assinar o nome.
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
Quadro 4 Nivel de renda familiar da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo- PB
Nivel de Renda
Familias
1 salrio mnimo
28 (aposentado/agricultura)
2 salrios minimos
08 (aposentado/penso)
Outras rendas
44 familas
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
Quadro 5 Famlias que recebem auxlio de programas do governo na Comunidade
Remanescente de Quilombo Grilo- PB
Tipo de programa
Nmero de Familias
Bolsa familia
46
Po e Leite
16
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
147
Quadro 6 Tipos de Profisses por sexo da Comunidade Remanescente de Quilombo GriloPB
Tipos de profissoes
Homem
Mulher
Agricultor
43
Cortador de cana (Temporario)
Funcionrio pblico
Vigilante
Biscaterio
13
Domestica
50
Labirinteira
Pensionista/aposentada
27
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
Quadro 7 Nmero de Famlias por Religio da Comunidade Remanescente de Quilombo
Grilo- PB
Tipo de Religio
Nmero de Familias
Catlica
69
Evanglica
11
Fonte: Quadro elaborado com base nos dados contidos em: LIMA, Adilson Costa de. Levantamento socioeconmico da Comunidade Remanescente de Quilombo Grilo. Paraba, Agosto, 2006. (Mimeo)
148
ANEXO 2
149
LETRAS DAS MSICAS DE CIRANDAS
Dona da casa, licena vou lhe pedir
Pra no terreiro eu armar meu assapro
Para pegar o canrio do imprio
E a moa no faz mistrio
Vai morrer do corao
Achei bonito a usina moer
E o carro pra l e pra c
Quem corre cansa meu benzinho no de ferro
Eu vou fazer balano no cabelo dela
cirandeira quando for te levo
Pra estrada nova, pra linha de ferro
Fiz a viagem no tempo da sapatina
mame tenho dinheiro
Pra gastar com a menina
piaba salta
Piaba voa
Piaba de coco
coisa boa
Meu amor rindo
E o machado ferreiro quebrou
Inda ontem eu consertando
J levei pro lavrador
Adeus meu povo que j vou embora
Chegou a hora de eu me arretirar
Adeus meu povo que j vou partir
Adeus meu Piau at quando eu voltar
150
ANEXO 3
151
TABELA 1. RELAO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO ESTADO DA
PARABA
ORDEM
DATA DE
PUBLICAO NO
DIARIO OFICIAL DA
UNIO
COMUNIDADE
MUNICPIO
04/06/04
Serra Talhado
Santa Luzia
25/05/05
Mato
Gurinhm
25/05/05
Engenho Bonfim
Areia
25/05/05
Pedra D'gua
Ing
08/06/05
Caina dos Grilos
Alagoa Grande
08/06/05
Pitombeira
Vrzea
12/07/05
Comunidade Urbana de Serra Talhado
Santa Luzia
19/08/05
Mitua
Conde
20/01/06
Vinhas
Cajazeiras
10
12/05/06
Grilo
Riacho do Bacamarte
11
12/05/06
Ipiranga
Conde
12
07/06/06
Comunidde Negra de Me D'gua
Coremas
13
07/06/06
Comunidade Negra de Santa Tereza
Coremas
14
07/06/06
Comunidade Negra de Barreiras
Coremas
15
07/06/06
Comunidade negra Contendas
So Bento
16
07/06/06
Umburaninhas
Cajazeirinhas
17
28/07/06
Comunidade Negra de Gurugi
Conde
18
28/07/06
Comunidade Negra do Stio Matias
Serra Redonda
19
28/07/06
Comunidade Negra Paratibe
Joo Pessoa
20
28/07/06
Comunidade Negra Rural Lagoa Rasa
Catol do Rocha
21
13/12/06
Curralinho/Jatob
Catol do Rocha
22
13/12/06
So Pedro dos Miguis
Catol do Rocha
23
02/03/07
Sitio Livramento
So Jos de Princesa
24
10/04/08
Comunidade de Cruz da Menina
Dona Ins
25
04/08/08
Domingos Ferreiras
Tavares
26
09/12/08
Sussurama
Livramento
27
09/12/08
Aria de Vero
Livramento
28
09/12/08
Vila Teimosa
Livramento
29
05/05/09
Serra Feia
Cacimbas
30
14/10/09
Stio Vaca Morta
Diamant
195
Fonte: MACENA, 2010, p. 61-62.
195
MACENA, Hugo Leonardo dos Santos. Acesso as polticas pblicas pelas comunidades quilombolas na
paraiba: uma anlise das comunidades do Paratibe, Mitua e Pedra D'gua. Joo Pessoa: UFPB. 2010.
(Monografia de Concluso do Curso Bacharelado em Geografia).
152
ANEXO 4
153
MAPA 1 -DISTRIBUIO ESPACIAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO
ESTADO DA PARABA
ATUALIZADA AT OUT. 2009
Вам также может понравиться
- Do Rio de Janeiro A IstambulДокумент334 страницыDo Rio de Janeiro A IstambulMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- História e Tecnologia - Diálogos em Pesquisa e EnsinoДокумент155 страницHistória e Tecnologia - Diálogos em Pesquisa e EnsinoMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- De Cunhã A Mameluca A Mulher Tupinambá e o Nascimento Do BrasilДокумент402 страницыDe Cunhã A Mameluca A Mulher Tupinambá e o Nascimento Do BrasilMaxwell Barbosa Medeiroa100% (2)
- Análise Crítica para A Disciplina de Estrutura e Funcionamento de I e II Graus.Документ8 страницAnálise Crítica para A Disciplina de Estrutura e Funcionamento de I e II Graus.Maxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Gestão, Financiamento e Direito À Educação. Análise Da Constituição Federal e Da LDBДокумент4 страницыGestão, Financiamento e Direito À Educação. Análise Da Constituição Federal e Da LDBMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Construção e Caracterização de Sensores SPR: Influência Da Camada Metálica e Do Substrato DielétricoДокумент156 страницConstrução e Caracterização de Sensores SPR: Influência Da Camada Metálica e Do Substrato DielétricoMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Um Localizador de Faltas de Alta Impedância A Partir de Dados Reais Utilizando Inteligência ArtificialДокумент152 страницыUm Localizador de Faltas de Alta Impedância A Partir de Dados Reais Utilizando Inteligência ArtificialMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Abordagem para Redução de Complexidade de RNA Usando Reconfiguração DinâmicaДокумент184 страницыAbordagem para Redução de Complexidade de RNA Usando Reconfiguração DinâmicaMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Concordância de Chave Secreta Aplicada A Controle de Acesso Utilizando Biometria Da Íris e Sistemas RFIDДокумент196 страницConcordância de Chave Secreta Aplicada A Controle de Acesso Utilizando Biometria Da Íris e Sistemas RFIDMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Controladores Eletrônicos PWM Integrados para Compensadores Harmônicos EstáticosДокумент320 страницControladores Eletrônicos PWM Integrados para Compensadores Harmônicos EstáticosMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Tese Ana Maria DietrichДокумент301 страницаTese Ana Maria Dietrichswastika88Оценок пока нет
- Elementos Verdes: Os Integralistas Investigados Pelo DOPS - SPДокумент308 страницElementos Verdes: Os Integralistas Investigados Pelo DOPS - SPMaxwell Barbosa Medeiroa0% (1)
- Anais TRT UFPE-RecifeДокумент401 страницаAnais TRT UFPE-RecifeMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Análise de Sensibilidade Do Método Dos Vetores de Energia Dos Centroides Das Sub-Bandas Espectrais Aplicado Ao Monitoramento de Isoladores PoliméricosДокумент79 страницAnálise de Sensibilidade Do Método Dos Vetores de Energia Dos Centroides Das Sub-Bandas Espectrais Aplicado Ao Monitoramento de Isoladores PoliméricosMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Influência de Transformadores de Potencial Capacitivos e Filtros Anti-Aliasing Sobre Métodos de Localização de Faltas Baseados Na Teoria de Ondas ViajantesДокумент74 страницыInfluência de Transformadores de Potencial Capacitivos e Filtros Anti-Aliasing Sobre Métodos de Localização de Faltas Baseados Na Teoria de Ondas ViajantesMaxwell Barbosa MedeiroaОценок пока нет
- Caw 0911Документ1 страницаCaw 0911pedrooliveira.orgОценок пока нет
- Guia de Beneficios Garantia EstendidaДокумент7 страницGuia de Beneficios Garantia EstendidaeltonofОценок пока нет
- 1valéria 15ABR23 - Contrato de Prestação de Serviço de BelezaДокумент4 страницы1valéria 15ABR23 - Contrato de Prestação de Serviço de BelezaSARAHОценок пока нет
- Npen001991-2 2017Документ153 страницыNpen001991-2 2017Artur Jorge GasparОценок пока нет
- 2 - PXCDC - 2023 - 04 - 27 - Petição - Citação - Oficial - LA ESTRUTURAДокумент2 страницы2 - PXCDC - 2023 - 04 - 27 - Petição - Citação - Oficial - LA ESTRUTURAEllenОценок пока нет
- Edital 04 Resultado Preliminar Discursivas A e B Com Anexo Aleap119Документ17 страницEdital 04 Resultado Preliminar Discursivas A e B Com Anexo Aleap119BatmanОценок пока нет
- Parecer Conjur 005990.2022Документ14 страницParecer Conjur 005990.2022alemg_rjОценок пока нет
- 38 41 PBДокумент53 страницы38 41 PBAlice FreireОценок пока нет
- Medicina Legal Conteudo PCMG Escrivao InvestigadorДокумент3 страницыMedicina Legal Conteudo PCMG Escrivao Investigadorvictor robertoОценок пока нет
- História Do CearáДокумент73 страницыHistória Do CearáDeyvisson EmannuelОценок пока нет
- Direitos Humanos e Diversidade Cultural - Redação PerfeitaДокумент2 страницыDireitos Humanos e Diversidade Cultural - Redação PerfeitaJOSINETE DUARTEОценок пока нет
- Termo de Transação ModeloДокумент2 страницыTermo de Transação ModeloSabrina TorezaniОценок пока нет
- Diario Oficial 2023-06-22 CompletoДокумент139 страницDiario Oficial 2023-06-22 CompletoMarco AurélioОценок пока нет
- Como É Calculado o VMD TRÂNSITOДокумент2 страницыComo É Calculado o VMD TRÂNSITOmaria clarsОценок пока нет
- Hegemonia CulturalДокумент37 страницHegemonia Culturalrobson santosОценок пока нет
- 500 Questões - Português (Gabarito)Документ472 страницы500 Questões - Português (Gabarito)Bruno de Oliveira100% (1)
- Rafaelfc23, 10 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM OS DOCUMENTOSДокумент11 страницRafaelfc23, 10 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM OS DOCUMENTOSCarol VasconcelosОценок пока нет
- Doe 5078 26032018Документ130 страницDoe 5078 26032018John BlessedОценок пока нет
- 360 - Povos Originários 7Документ269 страниц360 - Povos Originários 7Fátima Regina AlmeidaОценок пока нет
- A Colonização Do Norte Mato GrossoДокумент2 страницыA Colonização Do Norte Mato GrossoGabriel AlmeidaОценок пока нет
- Comissário 135902 José Maurício - Licenças de Uso e Porte de Arma Da Classe C e D e A Atividade Venatória. Uma Perspetiva TransversalДокумент44 страницыComissário 135902 José Maurício - Licenças de Uso e Porte de Arma Da Classe C e D e A Atividade Venatória. Uma Perspetiva TransversalJosecarlos SousaОценок пока нет
- Memória Descritiva Festival Peça Palavra 17 Abril 2024Документ1 страницаMemória Descritiva Festival Peça Palavra 17 Abril 2024Delano ValentimОценок пока нет
- Exercicios Fisica EletrodДокумент8 страницExercicios Fisica EletrodGabrieli LangerОценок пока нет
- Minuta de Termo de Autorização para Uso de Dados - EsperançaДокумент4 страницыMinuta de Termo de Autorização para Uso de Dados - EsperançaLeonardo DinizОценок пока нет
- Dissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Документ323 страницыDissertacao Versao Integral Rodrigo Garcia Vilardi 5861744Inacio Manuel Winny NhatsaveОценок пока нет
- Pontuação Candidatos Pmpa2021 CN Aprovação Rev01Документ891 страницаPontuação Candidatos Pmpa2021 CN Aprovação Rev01Fernando TavaresОценок пока нет
- Redesim - Consulta Pública CNPJДокумент1 страницаRedesim - Consulta Pública CNPJRafael RuebОценок пока нет
- Ética e SexualidadeДокумент24 страницыÉtica e SexualidadeskardafeОценок пока нет
- Supercommerce Mao - 577-70771142Документ1 страницаSupercommerce Mao - 577-70771142Jonatas Silva dos SantosОценок пока нет
- PlágioДокумент46 страницPlágioDayane RosasОценок пока нет