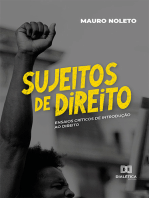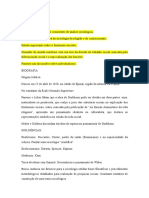Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Direito e Vida Social - Rabenhorst
Загружено:
Patrícia Urquiza LundgrenАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Direito e Vida Social - Rabenhorst
Загружено:
Patrícia Urquiza LundgrenАвторское право:
Доступные форматы
20
Direito e vida social
Eduardo R. Rabenhorst*
RESUMO. O artigo busca examinar o direito enquanto
realidade social. Assume a universalidade do jurídico como
prática social específica, desvinculada do Estado e comum às
diversas formas de sociedade. Analisa o conceito de norma e
a função do direito como elemento de estruturação da vida
social.
Palavras-chave: Conceito de norma. Teoria social. Realidade
social.
1 – Introdução
Como bem observou o antropólogo francês Pierre Legendre (1993), a
palavra "direito", no âmbito da cultura ocidental, faz referência não só a uma certa
"arquitetura de conceitos", mas também a uma representação particular do "elo
social" que não parece valer para todas as culturas. Na verdade, como cada
tradição cultural concebe a constituição e a regulamentação da vida social de uma
forma diferente, não parece haver um meio de encontrarmos um conceito
universal do direito válido para todas as formações sociais humanas.
Tal constatação não significa que entre as múltiplas representações que as
diferentes civilizações fazem do direito não possa existir um certo "ar de família"
que permita aproximá-las. De fato, o direito, não se pode negar, é uma das
instituições mais básicas da natureza social do homem e onde quer que exista um
vínculo social existirá também algum tipo de "direito" (o que parece comprovar a
veracidade do clássico brocardo latino, "ubi societas, ibi jus").
Dessa forma, pode-se dizer que o se o direito é, por um lado, sempre
contingente na sua efetuação histórica e cultural, por outro lado, ele é
absolutamente indispensável enquanto construção social propriamente dita.
Cabe a uma disciplina relativamente recente, a chamada antropologia
jurídica, a difícil missão de identificar os elementos comuns às diversas concepções
do direito. Neste sentido, apesar de não existir um verdadeiro consenso em torno
da identificação de tais "universais jurídicos", há uma tendência de se considerar
que nas mais variadas culturas humanas o direito apresentaria três traços
essenciais comuns (Vide, por exemplo, VERDIER, 1985):
1) A referência a um passado ancestral ou mito de origem que funciona
como "lei" fundamental ;
*
Dr. pela Université de Strasbourg III – França. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal da Paraíba.
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
21
2) A referência a um determinado sistema de valores (práticas rituais e
interditos);
3) A atuação como mecanismo de mediação nos casos de conflitos.
A percepção de traços comuns entre as diversas representações culturais do
direito não deve ser vista como a comprovação da existência de um suposto
"direito natural". Com efeito, ainda que o direito seja o resultado do próprio
processo natural de evolução do homem, as instituições jurídicas são, acima de
tudo, produções humanas e não algo que se encontraria plasmado na própria
natureza. O que há de natural no direito é, basicamente, a disposição específica da
nossa espécie de fabricá-lo.
O direito, portanto, não é algo que se encontra inscrito na natureza, nem
qualquer coisa de inteiramente independente dela; ele é, acima de tudo, uma
resposta humana a certos desafios impostos pela própria natureza, notadamente o
desafio da sobrevivência.
O direito é uma realidade social e não um produto espontâneo da natureza.
Logo, quando os autores empregam a expressão “direito natural” eles não estão
querendo dizer que o direito seja um fato natural como o são as plantas e os
animais. Eles estão querendo enfatizar apenas que o direito não pode ser reduzido
à mera convenção social ou ao arbítrio dos homens, pois, se tal fosse o caso,
qualquer manifestação do direito (mesmo a mais tirânica e injusta) seria
absolutamente legítima.
Quando se diz que o direito é uma realidade social, está se afirmando que a
vida humana está submersa no direito. Claro, não se trata de negar o papel que as
outras ordens normativas tais como a religião, a moral e os usos sociais, por
exemplo, desempenham na constituição e organização da nossa vida social. Ao
contrário, é necessário reconhecer que o “direito” nada mais é do que uma prática
social específica que se dissociou paulatinamente (mas não por completo) destas
práticas sociais ainda mais fundamentais.
Na verdade, o ponto de partida para se compreender o direito é a idéia de
que os seres humanos são sociais. A primeira vista isto parece ser óbvio. Contudo,
não se deve entender por “social” o simples fato de que o homem vive de maneira
gregária. Ainda que muitas outras espécies animais vivam em grupo, nem todas
elas têm aquilo que pode rigorosamente ser chamado de “vida social significativa”.
Ter uma vida social significativa não é simplesmente viver em grupo. Os
seres humanos não são “animais sociais” apenas pelo fato de dependerem dos
comportamentos regulares dos seus semelhantes para sobrevivência. Os seres
humanos são sociais porque seus atributos essenciais dependem claramente da
existência de uma vida coletiva.
Como já dissemos, a vida social não é um privilégio exclusivo do gênero
humano. Inúmeros trabalhos recentes no campo da etologia (estudo do
comportamento animal) revelam que outras espécies ⎯ principalmente aquelas
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
22
mais próximas na escala evolutiva, como os bonobos e os chimpanzés, por
exemplo, ⎯ possuem uma organização social muito significativa e manifestam
comportamentos protoculturais bastante curiosos. De uma forma geral, toda
comparação entre a vida humana e a vida animal é altamente especulativa. Porém,
parece plausível afirmar que as sociedades dos primatas avançados se estruturam
com base na capacidade desses mamíferos singulares manterem interações
complexas.
Entretanto, mesmo reconhecendo a riqueza da vida gregária destas espécies,
não se pode negar o fato de que a existência social humana é muito mais complexa.
E tal complexidade advém, como não poderia deixar de ser, da própria capacidade
humana de “simbolizar”, ou seja, a aptidão de significar ou exprimir
simbolicamente. A propósito, dizia Ernest Cassirer, o homem é, acima de tudo, um
animal simbólico. Se os homens e os animais compartilham de uma mesma
capacidade de perceber sinais (entendidos como meros estímulos que evocam
experiências pretéritas através de um nexo natural ou convencional), apenas os
primeiros instituem e interpretam símbolos, concebidos como elementos de
representação por semelhança ou convenção.
2 - A idéia de norma
A chave para a compreensão da vida social humana encontra-se no conceito
de norma, termo dotado de certa ambigüidade. De fato, do ponto de vista da
sociologia, a norma remete não apenas à idéia de um modelo de comportamento
que é observado pelos indivíduos, mas também à idéia de um padrão que deve ser
seguido. Neste sentido, as normas são ao mesmo tempo constitutivas (elas definem
o que é “normal” dentro de uma vida social) e reguladoras, pois fixam as ações que
devem ser observadas.
Um dos primeiros autores a analisar detalhadamente esta característica
intrínseca à vida social foi Émile Durkheim. Em As regras do método sociológico,
Durkheim sustentou que a regularidade constatada na vida social dependeria da
existência de normas que não só constituiriam os modos coletivos de agir e de
conceber o mundo, mas exerceriam também uma coerção externa sobre os
indivíduos. Dessa forma, para o sociólogo francês, as duas principais
características das normas sociais seriam a exterioridade (o fato de que elas são
recebidas pelos indivíduos através da educação e independem das consciências
particulares) e a coercibilidade (o fato de que elas se impõem através de sanções
diversas).
Esta coerção, evidentemente, não é exercida apenas de forma objetiva ou
externa. Na verdade, as normas são interiorizadas pelos indivíduos através dos
processos de socialização que se iniciam na infância e prosseguem durante toda a
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
23
vida de um indivíduo. Por meio da socialização a comunidade transmite valores,
dogmas, ritos, costumes, leis, estilos artísticos, convenções de polidez, etc.
Outro importante sociólogo que examinou o significado das normas foi Max
Weber. Ao contrário de Durkheim, Weber focalizou sua análise das normas não no
elemento de padronização da vida social, mas na própria ação dos indivíduos.
Para Weber, as ações sociais são moldadas e realizadas numa relação de
reciprocidade, ou seja, os indivíduos orientam suas condutas pelas condutas
alheias (interação). Agindo assim, eles influenciam uns aos outros e tornam suas
ações coerentes em relação aos valores coletivos. Tais valores são mantidos pela
própria comunicação interativa, isto é, eles são sustentados pela aprovação ou
desaprovação mútua.
Uma perspectiva diferenciada das ações sociais pode ser encontrada na obra
de Karl Marx (1818). Para Marx, as regras que estruturam a vida social nascem
primitivamente das condições de organização social da produção. Dessa forma, as
sociedades se caracterizam pelo modo de produção que adotam, isto é, pela
maneira como elas estruturam as forças produtivas (matéria prima e tecnologias
existentes) e as relações de produção (as relações entre as categorias e classes
sociais envolvidas na produção).
Daí a ênfase conferida pela sociologia marxista ao caráter conflituoso da
vida social humana. Para Marx, com efeito, as formas de comportamento adotadas
por uma determinada estrutura social não são neutras, mas elas decorrem de uma
intensa e complexa luta social entre aqueles que detém as forças produtivas (amos
no modo de produção escravista, senhores no modo de produção feudal,
burgueses no modo de produção capitalista) e aqueles que dispõem apenas da
força de seu trabalho (escravos, servos e proletários).
Ainda que insuficiente em muitos aspectos, a sociologia marxista contribuiu,
contudo, para a desmistificação de uma suposta neutralidade das normas sociais
ao mostrar que as mesmas encontram-se intimamente vinculadas ao poder,
entendido como a própria capacidade que o grupo tem de exercer um
constrangimento para obter dos indivíduos aquilo que deseja. Esse último aspecto
será fundamental para determinadas análises contemporâneas da vida social tais
como aquelas propostas por Michel Foucault e Pierre Bourdieu, a título de
exemplo.
3 – Da norma ao direito
Conforme afirmamos anteriormente, uma questão que se apresenta à teoria
do direito, notadamente à antropologia jurídica, é determinar se a normatividade
inerente à vida social humana pode ser considerada como uma manifestação
rudimentar do direito ou se, ao contrário, é necessário restringir o uso do termo
“direito” para as sociedades que historicamente produziram um poder político
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
24
concentrado, exercido através de normas escritas. Em outras palavras, trata-se de
saber, se o jurídico é um fenômeno universal ou um fenômeno circunscrito às
sociedades organizadas em torno do par Escrita/Estado.
O problema é importante na medida em que ele explicita dois preconceitos
comumente veiculados pela teoria do direito: o eurocentrismo e o evolucionismo.
O eurocentrismo pode ser definido como a tendência de se considerar os
modelos culturais europeus como universais. No caso específico do fenômeno
jurídico, o preconceito consiste em pensar a existência do direito unicamente a
partir dos parâmetros europeus. De acordo com essa perspectiva, ainda que todas
as culturas humanas sejam constituídas por regras, padrões e valores, nem todas
conhecem o direito, pois nelas a organização social não se faz em torno do par
Escrita/Estado.
O evolucionismo, por seu turno, consiste não em negar a possibilidade de
existência do direito em outras culturas, mas em atribuir uma superioridade ao
modelo ocidental, considerado mais racional e “civilizado”, frente aos modelos
tradicionais julgados irracionais ou “primitivos”.
Ora, a antropologia contemporânea não compartilha mais destes dois
preconceitos teóricos. Do ponto de vista social existe mudança, não
necessariamente continuidade, o que desmonta o argumento evolucionista. As
culturas não são superiores ou inferiores; elas são simplesmente diferentes. Logo, a
forma ocidental de se conceber o direito não é a única nem a melhor. Estamos
diante apenas de um paradigma específico de organização da vida social.
Certo, a análise das sociedades humanas mais tradicionais que conhecemos,
formadas por bandos de caçadores/coletores como os pigmeus, por exemplo,
pode, a primeira vista, sugerir a inexistência do direito. Afinal, nessas sociedades
acéfalas o exercício do poder é completamente difuso, inexistindo quaisquer
instâncias centralizadas de comando e de administração da justiça. Nelas,
inclusive, a própria divisão social não se faz presente, salvo no que diz respeito às
responsabilidades especificamente atribuídas aos mais idosos, aos chefes de família
e aos sacerdotes. Contudo, são exatamente esses indivíduos que assumem a função
jurídica na medida em que são chamados a atuar nos casos de conflito (aliás, bem
raros em função da própria homogeneidade do grupo e de sua completa adesão à
costumes imemoriais).
O mesmo parece ocorrer nas chamadas sociedades de chefia. Nessa forma de
organização da vida social (mais complexa do que a dos bandos coletores-
caçadores, mas nem por isso mais “evoluída”), o poder político, ainda que difuso, é
exercido de forma específica por uma liderança que reúne ao mesmo tempo as
características de chefe político e de autoridade religiosa. Nas sociedades indígenas
brasileiras, por exemplo, o chefe é respeitado e legitimado principalmente por sua
generosidade. Por essa razão, seu poder é limitado baseando-se menos na coerção
e mais na persuasão. O chefe, nesse prisma, não é o que possui mais direitos ou
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
25
privilégios, mas o que tem mais deveres ou obrigações frente à sua comunidade. Ele
não é aquele que detém, mas aquele que distribui socialmente o poder. Em última
análise, como bem mostrou Pierre Clastres, o chefe indígena é, paradoxalmente (ao
menos para nós ocidentais) não aquele que exerce o poder, mas aquele sobre o qual
o poder social é exercido.
As sociedades indígenas, ainda que marcadas pela oralidade normativa
(inexistência de regras escritas) e ausência de poder concentrado, realizam um
controle social intenso, através de medidas inibidoras ou punitivas (o ostracismo,
por exemplo) visando manter a própria integridade do grupo. Por essa razão,
mesmo autores profundamente vinculados ao modelo evolucionista, como o jurista
brasileiro Clóvis Bevilaqua, por exemplo, foram forçados a reconhecer a existência
de um direito indígena.
Afinal, o direito é ou não um fenômeno universal?
Louis Assier-Andrieu, em seu interessante livro sobre o direito nas
sociedades humanas, fez um ótimo resumo desta controvérsia em torno da
universalidade do jurídico. De um lado, observa o sociólogo francês, temos uma
perspectiva mais tradicional segundo a qual aquilo que chamamos direito seria
talvez apenas “a história de sucesso de um episódio greco-romano oportunamente revisado
pela canonística medieval”. Por outro lado, temos o olhar mais abrangente dos
etnólogos que percebem a existência de relações jurídicas em todas as épocas e
lugares e que, por tal razão, concebem o direito a partir de um prisma
transcultural.
A segunda tendência é hoje majoritária. Para a grande maioria dos
antropólogos o direito estaria presente, ainda que sem nome próprio, em todas as
culturas humanas cumprindo basicamente as mesmas funções, principalmente as
de modelo orientador de condutas, de técnica de controle social, de instrumento
integrador da vida gregária, de sistema de resolução de conflitos de interesse, de
instância organizadora do poder, dentre outras.
De acordo com esta visão, todas as culturas conhecem o direito ainda que
não atribuam uma nota distintiva que permita diferenciá-lo com clareza das outras
instâncias que se incumbem das mesmas funções (a religião, a moral, os usos
sociais). No caso específico da cultura ocidental, o traço característico do direito
seria o próprio vínculo que ele manteria com um poder político institucionalizado
que monopolizaria a produção e a aplicação de normas escritas.
Assim, pode-se dizer do direito aquilo que comumente se diz da arte. Se
entendermos a “arte” em sentido muito lato, concluiremos que estamos diante de
um fenômeno universal presente em todas as épocas e em todas as culturas. Em
contrapartida, se atribuirmos a expressão “arte” um sentido mais restrito de
produção que visa proporcionar uma fruição estética, concluiremos pela
impossibilidade de se identificar, em muitas sociedades tradicionais, as
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
26
características com as quais nós ocidentais configuramos o universo das
manifestações artísticas.
Neste sentido, parece ter razão Alexandre Kojeve quando afirma que o
direito caracteriza-se não pela presença do Estado, mas pela intervenção
desinteressada de um terceiro mediador que, dependendo do tipo de sociedade
com a qual nos defrontamos (tradicionais ou modernas), pode ou não ter uma
função judiciária específica.
Como bem sublinham os antropólogos Laburthe-Toira e Jean-Pierre
Warnier, a regulação dos conflitos e tensões internas nas culturas tradicionais é
geralmente confiada aos sacerdotes ou adivinhos que elaboram um diagnóstico do
problema, identificam as partes envolvidas no conflito e propõem uma solução
(rituais religiosos de cura, punição ou reparação). Com freqüência, esses
aplicadores do direito apelam para forças imanentes (oráculos) ou transcendentes
(mortos, espíritos ou os próprios deuses), estabelecendo um vínculo entre o direito
e a magia. Não é de se estranhar, portanto, que um dos étimos do termo
“hermenêutica” seja precisamente hermeius, termo que no grego arcaico designava
os famosos adivinhos do oráculo de Delfos. Da mesma forma, é interessante
lembrar que a própria palavra romana jus, utilizada para designar o direito, não
deriva de jubeo (mandar) ou jungo (unir, vincular), como se costuma pensar, mas
ela provém de jurare, termo derivado do sânscrito que se refere à formula sagrada
utilizada pelos augures na invocação das divindades quando da firmação de um
compromisso.
A justiça oracular desempenha, portanto, um papel fundamental nas
culturas ágrafas. Na verdade, a consulta aos oráculos funciona como preâmbulo
para as investigações futuras ou como meio de pressão para que o culpado
confesse. No mais, muitas vezes, os próprios mortos são interrogados e
encarregados de apontar os culpados de um crime. Logo, ao contrário do que
muitos imaginam a justiça oracular não pode ser vista como algo irracional ou
desprovido de razão. Na verdade, as provas mágicas, também chamadas
“ordálicas”, podem não ser racionais no sentido “científico” do termo, mas elas são
racionais no sentido “social”, pois solucionam o litígio e ao mesmo tempo em que
preservam a harmonia do grupo. A oralidade jurídica, portanto, não significa a
inexistência do direito, mas ela aponta para uma outra forma de percepção do
jurídico, segundo a qual a aplicação do direito, ainda que subordinada a certos
preceitos, não obedece a princípios rígidos escritos.
4 – A especificidade do direito
Considerado unicamente como elemento de estruturação da vida social o
direito não parece apresentar uma especificidade com relação às outras instâncias
que desempenham a mesma tarefa, notadamente a religião, a moral e os usos
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
27
sociais. Com efeito, nas sociedades tradicionais a normatividade social é
indiferenciada, conjugando elementos religiosos, morais e políticos. Aliás, na
própria Grécia antiga o direito também aparece inicialmente vinculado à religião,
como bem testemunham os poemas de Homero e de Hesíodo. Através dos
oráculos, Zeus inspira os homens para que eles tomem decisões justas.
Diferentemente dos babilônicos, os antigos gregos não se preocuparam em formar
uma classe especializada de juristas nem conceberam o ensino do direito como
técnica especial. O trabalho especificamente jurídico era feito pelo logógrafo, o
redator de discursos forenses que fazia pedidos, defesas.
Entre os romanos a situação durante muito tempo tampouco foi diferente.
No período arcaico (da fundação de Roma até o segundo século antes de Cristo), o
direito era praticado pelos pontífices, um misto de sacerdotes-funcionários e
peritos legais, encarregados de usar fórmulas legais e de interpreta-las (privilégio
mantido mesmo com a promulgação da Lei das XII Tábuas). Só no apogeu do
período republicano é que o direito romano tornou-se mais secular estabelecendo
uma distinção entre o ius (direito) e o fas (o ilícito moral e religioso).
Muitas sociedades contemporâneas continuam pensando o direito numa
correlação estreita com outras ordens normativas, principalmente a moral e a
religião. É o caso, em particular, do direito islâmico. Tendo como fontes principais
o Alcorão e a Sunna (conjunto de fatos e dizeres do Profeta Maomé), o direito
islâmico vive uma tensão entre a lei religiosa (charia), composta por imperativos
morais e divinos, e a lei civil que regula outros aspectos da vida cotidiana.
É preciso reconhecer, portanto, que a especificidade do direito frente às
outras ordens normativas é um produto histórico-cultural. Foi a cultura ocidental
que, num determinado momento de sua transformação histórica, atribuiu ao
direito um caráter secular divorciando-o da religião, da moral e dos usos sociais.
Esta importante transformação foi particularmente analisada por Max
Weber. Para o sociólogo alemão, o traço marcante da moderna cultura ocidental é
sua racionalização, ou seja, o fato de que nela o pensamento religioso foi
paulatinamente cedendo lugar para uma visão racional, intelectualizada e secular
de mundo, que provocou um processo de diferenciação das várias esferas de valor
(ciência, arte, moral e direito), antes unificadas pela religião. Em outras palavras, a
racionalização representa uma dessacralização ou desencantamento (Entzauberung)
do mundo, isto é, a depuração de seus elementos metafísico-religiosos.
5 - Referências
ASSIER-ANDRIEU, Louis. O direito nas sociedades humanas. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
28
CASSIRER, Ernest. Filosofia de las formas simbólicas. México: Fondo de Cultura
Económica, 1998.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
DURKHEIM, Émile. La division du travail social. Paris: PUF, 1986.
LABURTHE-TOIRA e WARNIER, Jean-Pierre. Etnologia - antropologia. Petrópolis:
Vozes, 1997.
ROULAND, Norbert. Antropologie juridique. Paris: PUF, 1988.
ROULAND, Norbert. Introduction historique au droit. Paris: PUF, 1998.
ROULAND, Norbert; PIERRÉ-CAPS, Stéphane; POUMARÉDE, Jacques. Direito das
minorias e dos povos autóctones. Brasília: Unb, 2004.
VERDIER, Raymond. Une esquisse antropologique des droits de tradition orale
d´Afrique Noire. Revue de synthèse, n. 118-119, p. 301- 311, avril-sept. 1985.
WEBER, Max. Sociologie du droit. Paris: Grosclaude, 1986.
Prim@ Facie – ano 3, n. 4, jan./jun. 2004
Вам также может понравиться
- Avaliação Final Doutrinas Políticas SocialismoДокумент8 страницAvaliação Final Doutrinas Políticas SocialismoJoão Carvalho67% (3)
- BASTOS, Vânia. para Entender A Economia Capitalista.Документ4 страницыBASTOS, Vânia. para Entender A Economia Capitalista.Professores Egina Carli e Eduardo Carneiro100% (4)
- ARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial PDFДокумент96 страницARRUDA, José Jobson de Andrade. A Revolução Industrial PDFRamon Bezerra86% (7)
- O Valor Da Vida e Sua Positivação Antes e Depois Da Declaração Universal Dos Direitos HumanosДокумент20 страницO Valor Da Vida e Sua Positivação Antes e Depois Da Declaração Universal Dos Direitos HumanossilviomonteОценок пока нет
- Familias e Serviço Social PDFДокумент11 страницFamilias e Serviço Social PDFWALTER30Оценок пока нет
- Caracterizar A Racionalização Da Assistência Social 2Документ4 страницыCaracterizar A Racionalização Da Assistência Social 2Elisângela Serra LimaОценок пока нет
- Durkheim, Weber e Marx (Resumo)Документ4 страницыDurkheim, Weber e Marx (Resumo)Rafael Marques100% (1)
- A Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisОт EverandA Questão Alimentar e o Desenvolvimento dos Territórios: Diálogos a Partir da Experiência do Território Vertentes em Minas GeraisОценок пока нет
- Mulher Participa Políticas de Gênero Na Cidade São PauloДокумент37 страницMulher Participa Políticas de Gênero Na Cidade São PauloFernando Cesar Santos FigueiredoОценок пока нет
- Chinellato (Artigo de 1998) - O Nascituro No CC e No Direito Constituendo Do BrasilДокумент10 страницChinellato (Artigo de 1998) - O Nascituro No CC e No Direito Constituendo Do BrasilJairo OliveiraОценок пока нет
- Anel de GigesДокумент2 страницыAnel de GigesJoão AntonioОценок пока нет
- O Aconselhamento Gentico em Procriao Medicamente Assistida Perspectiva Da BioticaДокумент193 страницыO Aconselhamento Gentico em Procriao Medicamente Assistida Perspectiva Da BioticadeividОценок пока нет
- História Do AbortoДокумент3 страницыHistória Do AbortoTayrineReisОценок пока нет
- Comportamentos Alimentares - RevistaДокумент21 страницаComportamentos Alimentares - RevistaArmanda PereiraОценок пока нет
- Bioética Social e Mistanásia: a efetividade de direitos fundamentais e evitabilidade de mortes antecipadasОт EverandBioética Social e Mistanásia: a efetividade de direitos fundamentais e evitabilidade de mortes antecipadasОценок пока нет
- Apostila de Gestão PúblicaДокумент132 страницыApostila de Gestão PúblicaAndréОценок пока нет
- Ebook Livre de Dores Dr. Gabriel Azzini2Документ12 страницEbook Livre de Dores Dr. Gabriel Azzini2softalegreteОценок пока нет
- A Dialogicidade Extensionista a Partir das Relações Multi, Inter e/ou Transdisciplinares e Interprofissionais: o Caso do Projeto Universitário CidadãoОт EverandA Dialogicidade Extensionista a Partir das Relações Multi, Inter e/ou Transdisciplinares e Interprofissionais: o Caso do Projeto Universitário CidadãoОценок пока нет
- 234318Документ21 страница234318Tatiane CostaОценок пока нет
- A Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraДокумент21 страницаA Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraDaniel DemarqueОценок пока нет
- Transexualidade, Travestilidade e Direito A Saude PDFДокумент188 страницTransexualidade, Travestilidade e Direito A Saude PDFShirlei RibeiroОценок пока нет
- Marina TCC TransgênerosДокумент53 страницыMarina TCC TransgênerosJanice SimoesОценок пока нет
- Serviço Social e alienação parental: contribuições para a prática profissionalОт EverandServiço Social e alienação parental: contribuições para a prática profissionalОценок пока нет
- Nina Teichholz - Gordura Sem Medo PDFДокумент698 страницNina Teichholz - Gordura Sem Medo PDFPriscillaCarvalhoОценок пока нет
- A Concepção Criminológica de DurkheimДокумент33 страницыA Concepção Criminológica de DurkheimGuilherme FernandoОценок пока нет
- NFPSS 2 PDFДокумент354 страницыNFPSS 2 PDFthiagocastro85Оценок пока нет
- Pré-Projeto MestradoДокумент11 страницPré-Projeto MestradoRaphael MestresОценок пока нет
- Direito do Consumidor Celíaco: hipervulnerabilidade, dever do Estado e Responsabilidade Social da EmpresaОт EverandDireito do Consumidor Celíaco: hipervulnerabilidade, dever do Estado e Responsabilidade Social da EmpresaОценок пока нет
- Democracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesОт EverandDemocracia em Tempos Difíceis: Inderdisciplinaridade, Política e SubjetividadesОценок пока нет
- AbortoДокумент37 страницAbortoLucas UbackОценок пока нет
- Fichamento DurkheimДокумент8 страницFichamento DurkheimEliakim LucenaОценок пока нет
- Democracia - Separação de Poderes Eficácia e Efetividade Do Direito À Saúde No Judiciário BrasileiroДокумент91 страницаDemocracia - Separação de Poderes Eficácia e Efetividade Do Direito À Saúde No Judiciário BrasileiroDemocracia e JustiçaОценок пока нет
- Artigo. Rabenhorst - O Que São DHДокумент9 страницArtigo. Rabenhorst - O Que São DHchico323Оценок пока нет
- Os Pontos Fundamentais Da Doutrina JuspositivistaДокумент2 страницыOs Pontos Fundamentais Da Doutrina JuspositivistaThiago CruzОценок пока нет
- Direitos Sexuais de LGBT No Brasil PDFДокумент152 страницыDireitos Sexuais de LGBT No Brasil PDFlidyaraujosouzaОценок пока нет
- 4 - A Protecao Constitucional Do Meio AmbienteДокумент22 страницы4 - A Protecao Constitucional Do Meio Ambientejose antonio de thomaziОценок пока нет
- Sac 40Документ144 страницыSac 40Patricia Mel Barbosa MelkaОценок пока нет
- Constitucionalismo Contemporaneo e Suas Formas ContemporneasДокумент370 страницConstitucionalismo Contemporaneo e Suas Formas ContemporneasLuís Antonio ZanottaОценок пока нет
- Dissertacao Felipe BorbaДокумент121 страницаDissertacao Felipe BorbaCarlosGomesAPОценок пока нет
- PAChA MAMA Os Direitos DA NAturezA e o Novo ConstituCionAlisMoДокумент24 страницыPAChA MAMA Os Direitos DA NAturezA e o Novo ConstituCionAlisMoDaniogОценок пока нет
- Acesso À Justiça: Aspectos Constitucionais E SociaisОт EverandAcesso À Justiça: Aspectos Constitucionais E SociaisОценок пока нет
- Resenha Do Filme "Milk: A Voz Da Igualdade"Документ3 страницыResenha Do Filme "Milk: A Voz Da Igualdade"Ciro CamposОценок пока нет
- Travestis Ranssexuais TransgenerosДокумент14 страницTravestis Ranssexuais TransgenerosLeonardo CordeiroОценок пока нет
- TeseДокумент190 страницTeseJosé BritoОценок пока нет
- Saúde indígena em tempos de pandemia: movimentos indígenas e ações governamentais no BrasilОт EverandSaúde indígena em tempos de pandemia: movimentos indígenas e ações governamentais no BrasilОценок пока нет
- CEE Fiocruz - Saude e DesenvolvimentoДокумент252 страницыCEE Fiocruz - Saude e DesenvolvimentoCid OlivalОценок пока нет
- (Ebook) Saúde Gênero e Direitos HumanosДокумент181 страница(Ebook) Saúde Gênero e Direitos HumanosAlessandro QueirozОценок пока нет
- Fichamento - Faoro, Raymundo - Os Donos Do PoderДокумент4 страницыFichamento - Faoro, Raymundo - Os Donos Do PoderRamine Tomaz NeloОценок пока нет
- 02 - AVRITZER. Leonardo. O Novo Constitucionalismo Latino-AmericanoДокумент27 страниц02 - AVRITZER. Leonardo. O Novo Constitucionalismo Latino-AmericanoJoão Carlos Fabião100% (1)
- As Medidas Protetivas e A Violência Doméstica Contra A MulherДокумент36 страницAs Medidas Protetivas e A Violência Doméstica Contra A MulherJanaína BandeiraОценок пока нет
- O Direito À Moradia Como Um Direito Humano, Mecanismos de Efetivação Da Função Social Da Propriedade No Município de Palmas-TocantinsДокумент118 страницO Direito À Moradia Como Um Direito Humano, Mecanismos de Efetivação Da Função Social Da Propriedade No Município de Palmas-TocantinsAriana BazzanoОценок пока нет
- Ponderação Consensual por Arbitragem nas Colisões de Princípios na Jurisprudência de Alexy: Teorias Matemáticas e Jusfilosóficas para Evitar o Inferno EternoОт EverandPonderação Consensual por Arbitragem nas Colisões de Princípios na Jurisprudência de Alexy: Teorias Matemáticas e Jusfilosóficas para Evitar o Inferno EternoОценок пока нет
- 5 Empoderamento Ana AliceДокумент9 страниц5 Empoderamento Ana AliceLarissa BrunaОценок пока нет
- TCC - Fraude A ExecuçãoДокумент207 страницTCC - Fraude A ExecuçãoKirk OliveiraОценок пока нет
- Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdadeОт EverandLei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdadeОценок пока нет
- Hermenêutica Constitucional - ResumoДокумент7 страницHermenêutica Constitucional - ResumoOdlanier Ribeiro de CarvalhoОценок пока нет
- Dissertação - Justiça Restaurativa Enquanto Elemento de Ressocialização HumanizadoraДокумент101 страницаDissertação - Justiça Restaurativa Enquanto Elemento de Ressocialização HumanizadoraRaquel RibeiroОценок пока нет
- Serviço Social Na Área de InternaçãoДокумент65 страницServiço Social Na Área de InternaçãoRúbia Gritlet MolinaОценок пока нет
- Familia e Relações de GeneroДокумент5 страницFamilia e Relações de GeneroLujan JúniorОценок пока нет
- Resenha Hanna ArendtДокумент7 страницResenha Hanna ArendtFilipe CunhaОценок пока нет
- Tese TiagoДокумент378 страницTese TiagoLuis ManetaОценок пока нет
- Idosos InstitucionalizadosДокумент8 страницIdosos InstitucionalizadosGrado Rascum100% (1)
- Apostila de História Do Direito FinalДокумент46 страницApostila de História Do Direito FinalMarcosBarretoОценок пока нет
- Módulo 2 - Controle Externo Da QualidadeДокумент46 страницMódulo 2 - Controle Externo Da Qualidademateus_laguardiaОценок пока нет
- Módulo 1 - Biossegurança e Manutenção de Equipamentos em Laboratório de Microbiologia ClínicaДокумент48 страницMódulo 1 - Biossegurança e Manutenção de Equipamentos em Laboratório de Microbiologia ClínicaKiany SirleyОценок пока нет
- Atlas de Micologia - Gilson TavaresДокумент25 страницAtlas de Micologia - Gilson TavaresPatrícia Urquiza LundgrenОценок пока нет
- Avaliacao Qualidade Cana Felix ConsecanaДокумент21 страницаAvaliacao Qualidade Cana Felix ConsecanaPatrícia Urquiza LundgrenОценок пока нет
- Artigo Sobre Limpeza Na IndustriaДокумент5 страницArtigo Sobre Limpeza Na IndustriaPatrícia Urquiza LundgrenОценок пока нет
- Palestra EPI SMSДокумент31 страницаPalestra EPI SMSpc1957Оценок пока нет
- Klebsiella Pneumoniae Produtora de CarbapenemaseДокумент3 страницыKlebsiella Pneumoniae Produtora de Carbapenemasenetinho2000Оценок пока нет
- KRIEDTEДокумент8 страницKRIEDTEJunior SilvaОценок пока нет
- Feira de São CristovãoДокумент233 страницыFeira de São CristovãomyramarcelОценок пока нет
- HARNECKER, Marta - URIBE, Gabriela. Cadernos de Educação Popular, VOL1Документ59 страницHARNECKER, Marta - URIBE, Gabriela. Cadernos de Educação Popular, VOL1CalidusОценок пока нет
- Artigo - Principais Pressupostos Do MarxismoДокумент16 страницArtigo - Principais Pressupostos Do MarxismoWillian Fontes100% (1)
- Direito e Vida Social - RabenhorstДокумент9 страницDireito e Vida Social - RabenhorstPatrícia Urquiza LundgrenОценок пока нет
- Texto 1 - Síntese Histórica Sobre A Origem Das CidadesДокумент1 страницаTexto 1 - Síntese Histórica Sobre A Origem Das CidadesLuciano Sousa SantosОценок пока нет
- Artigo - Ruy Moreira - A Geografia Serve para Desvendar Mascaras SociaisДокумент25 страницArtigo - Ruy Moreira - A Geografia Serve para Desvendar Mascaras SociaisrodrigobonomeОценок пока нет
- Documento - BukhárinДокумент14 страницDocumento - BukhárinHildo Cezar Freire MontysumaОценок пока нет
- 1 Principais Conceitos e Temas Da EconomiaДокумент20 страниц1 Principais Conceitos e Temas Da Economialabelacasa ferragistaОценок пока нет
- Sequência Didática 1Документ3 страницыSequência Didática 1Arthur CaetanoОценок пока нет
- DA TOTALIDADE AO LUGAR Milton SantosДокумент8 страницDA TOTALIDADE AO LUGAR Milton SantosFelipe AveiroОценок пока нет
- Sociologia Crítica - Pedrinho Guarechi PDFДокумент17 страницSociologia Crítica - Pedrinho Guarechi PDFOni-sanОценок пока нет
- Fichamento Da Obra A Historia Do PensameДокумент34 страницыFichamento Da Obra A Historia Do PensameTuira RibeiroОценок пока нет
- Classes e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightДокумент32 страницыClasses e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightJéssica Soares100% (1)
- Território, Trabalho e Poder - Raffestin PDFДокумент23 страницыTerritório, Trabalho e Poder - Raffestin PDFPaula AzevedoОценок пока нет
- AULA 5 Adoecimento No Mundo Do TrabalhoДокумент24 страницыAULA 5 Adoecimento No Mundo Do TrabalhoGessyca SantosОценок пока нет
- EconomiaДокумент22 страницыEconomiaMagnus Dangelis Batista Moura100% (1)
- SARTORI. Marx e o Direito Do TrabalhoДокумент16 страницSARTORI. Marx e o Direito Do TrabalhoJúlia CostaОценок пока нет
- Ideologia No Livro Didático de História - Um Diálogo InicialДокумент21 страницаIdeologia No Livro Didático de História - Um Diálogo InicialRafael OuriquesОценок пока нет
- GeneseДокумент30 страницGenesealexandrezambelliОценок пока нет
- Maquinaria e Trabalho Vivo - Karl MarxДокумент10 страницMaquinaria e Trabalho Vivo - Karl MarxDavid CorrêaОценок пока нет
- Formações Econômicas Pré-CapitalistasДокумент6 страницFormações Econômicas Pré-CapitalistasYASMIN COSTA ALVESОценок пока нет
- A Constituição EconomicaДокумент8 страницA Constituição EconomicaHamilton70% (10)
- Vida Urbana e RuralДокумент23 страницыVida Urbana e RuralJessica MarquesОценок пока нет
- Mário Maestri - O Escravo No Rio Grande Do Sul - A Charqueada e A Gênese Do Escravismo Gaúcho (1984, Educs) - Libgen - LiДокумент205 страницMário Maestri - O Escravo No Rio Grande Do Sul - A Charqueada e A Gênese Do Escravismo Gaúcho (1984, Educs) - Libgen - LiManoel Salvador Neto100% (1)
- Excelente - Os Classicos Analise Critico-ComparativaДокумент118 страницExcelente - Os Classicos Analise Critico-Comparativaigor100% (1)