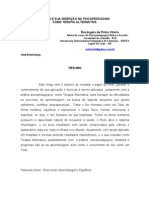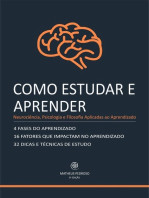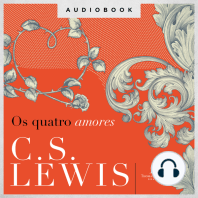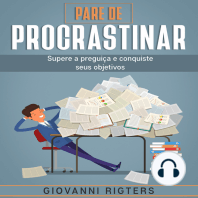Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
O Higienismo Contra o Trabalho de Qualidade
Загружено:
Paulo VicenteАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
O Higienismo Contra o Trabalho de Qualidade
Загружено:
Paulo VicenteАвторское право:
Доступные форматы
O HIGIENISMO CONTRA O TRABALHO DE QUALIDADE?
Yves Clot
RESUMO
O ensaio parte da constatação de que a gestão dos chamados riscos psicossociais tornou-se um
verdadeiro business ao associar o estresse, o sofrimento, o assédio moral e as LER/DORT. O
autor se apoia em um exemplo de análise do trabalho oferecido pela Ergonomia para embasar
sua reflexão a respeito das relações complexas entre saúde e trabalho. Ao propor uma crítica
às medidas do estresse e dos riscos psicossociais, ele conclui que tais medidas são de cunho
higienista e não contribuem para aumentar a lucidez dos dirigentes das empresas, já que não
são voltadas para a qualidade do trabalho. Ademais, elas refletem uma preocupação maior em
cuidar das pessoas, quando é do trabalho que se precisa cuidar.
1 O TRABALHO REAL
A gestão dos chamados “riscos psicossociais” tornou-se um verdadeiro business ao associar o
estresse, o sofrimento e a violência no trabalho, o assédio moral e, às vezes, até mesmo as
LER/DORT.
Para melhor trabalhar essa questão, iremos pedir emprestado, de um ergonomista francês, um
exemplo de análise do trabalho. J. Duraffourg relata que uma de suas intervenções em meio
profissional o conduziu a analisar a atividade de metalúrgicos de uma grande multinacional
francesa. Esses trabalhadores se queixam de uma situação arriscada e seu empregador lhes
acusa, no entanto, de ser produzida por eles mesmos. Eles se submetem diretamente, ao
contrário da prescrição, ao calor de mais de 200 graus de fornos produzindo carboneto de
cálcio. Os riscos para sua saúde são confirmados. A direção da empresa não admite essa
atividade dos trabalhadores, pois investiu em máquinas que lhes permitem se manter à
distância. Segundo ela, os trabalhadores não devem ficar “na boca do forno”, pois as
máquinas adotadas funcionam muito bem. No entanto, os trabalhadores no final da fundição
continuam revolver manualmente o material fundido. A partir daí, nota Duraffourg, existe
Professor titular da cadeira de Psicologia do Trabalho do CNAM/França
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
115
apenas um passo para se pensar que eles resistem à mudança, que não sabem se adaptar, em
suma, que “devem gostar disso” (Duraffourg, 2004, p.87).
No entanto, as conclusões da expertise realizada pelo ergonomista ressaltam um dado novo:
as consequências sobre o trabalho de problemas relativos à qualidade da matéria prima,
conduzindo a um mau funcionamento dos fornos. Estes são alimentados pelo coque de
petróleo mais barato, mas que “corre menos bem” do que o coque metalúrgico, segundo a
expressão dos operadores. A medíocre qualidade da cal aumenta o tempo de fundição e o
número de intervenções para retirar, mais frequentemente, a escória dos fornos. Enfim, a
presença simultânea de finos da cal e finos de coque perturba o funcionamento dos fornos e
aumenta o risco de explosão. Em resumo, o forno funciona mal, “isso corre mal” e, sobretudo,
dizem os metalúrgicos: “fabricamos maus lingotes”. Para esses trabalhadores, com ou sem
razão, é insuportável. E “para que isso corra corretamente”, eles ficam “na boca do forno”,
com as barras de ferro para esvaziá-lo bem, fazer cair a escória, retornar o carbureto na
lingoteira. Em suma, fazer seu trabalho, apesar do coque ruim que suja os fornos, e da
exposição ao calor radiante.
O diretor não quer ouvir nada a respeito do diagnóstico ergonômico em torno dos efeitos do
tipo de coque utilizado na atividade dos operários. E isto pelo fato de que a decisão de colocar
o coque de má qualidade nos fornos não lhe pertence e ultrapassa seu nível de ação possível.
Para ele, é o comportamento dos operadores que está em questão. É este comportamento que
precisa ser modificado para preservar seu “bem-estar”.
2 SAÚDE E SAÚDE
Esse exemplo é um protótipo das questões que quero levantar. Ele marca a complexidade das
questões de saúde no trabalho, não apenas na indústria. Podemos até mesmo pensar que essa
complexidade aumenta na medida em que nos distanciamos da indústria e vamos em direção
aos serviços. Pois, com efeito, os critérios do “trabalho bem feito” são ainda mais
complicados quando o objeto do trabalho é a atividade de sujeitos, clientes ou usuários, e não
apenas a matéria física (Ferreras, 2007). Mas, em suma, pode-se pensar que, no trabalho
contemporâneo, para poder “se encontrar” naquilo que se faz, muito frequentemente, é
necessário colocar a saúde em risco. Reconhecer-se naquilo que se faz torna-se um risco a ser
tomado, mesmo se o risco em questão engaja, em cada situação, o corpo e o espírito de modo
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
116
diferente. Mas devo me fazer entender: não julgo aqui a pertinência da conduta desses
trabalhadores e não estou certo de que sua saúde esteja mais protegida ao fazerem o que
fazem. Está claro que eles não se poupam. Seu desejo de produzir, apesar de tudo, os lingotes
“dentro das regras da arte” prejudica sua saúde. Mas, paradoxalmente, ele a protege também.
Pois, é colocando seus pulmões em risco que seu trabalho continua defensável aos seus
próprios olhos. Mas, finalmente, eles correm o risco de viver ao preço da sua saúde.
Certamente, este não é um comportamento “razoável” daquele que tenta se poupar. É mesmo
bastante excessivo se expor dessa forma ao perigo. Mas esta exposição é visivelmente vital
para eles. Seria o caso de ver aí o efeito de uma “inconsciência”, de um adestramento que
fracassou ou de uma resistência perigosa à anulação de si que revela um apetite pela vida
mesmo que a morte esteja à espreita? Proteger sua saúde seria sinônimo de enfraquecer sua
vitalidade? Estar “na boca do forno” tem, sem dúvida, aqui, o estatuto de um protesto vital
contra os dilemas diante dos quais foram colocados esses trabalhadores. É contra sua vontade
que eles compensam a má qualidade do coque utilizado no forno. E a direção acredita que
pode abafar, sob a fachada de um “bem-estar” prescrito, esse conflito sobre o “fazer bem
feito”. Para os metalúrgicos em questão, a qualidade dos lingotes, que não é nada mais do que
aquela dos seus gestos de ofício, vale assumir o risco de viver, mesmo perigosamente. Pode-
se discutir isso, certamente. Mas seguramente não podemos fazer isso, transformando o
conflito em torno do “fazer bem feito” em um adestramento sanitário.
O higienismo contemporâneo é de início, essa transformação. Aqueles que trabalham são cada
vez mais conduzidos a arruinarem sua saúde para conservá-la. E isto em nome de certa ideia a
respeito do trabalho. As empresas obedecem muito facilmente a uma tentação: requalificar as
situações de trabalho “frágeis” ou “vulneráveis” – saturadas do tipo de dilema organizacional
que acabamos de evocar – em fragilidade ou em vulnerabilidade pessoal. Essa tentação de
“reformar” os comportamentos em vez de transformar as situações conduz ao desejo de
“reparar” os trabalhadores para “pasteurizar” o real, purgá-lo dos seus conflitos. A gestão
atual dos riscos psicossociais é particularmente significativa desta tentação higienista. Ela
eleva ao seu extremo um mecanismo clássico da gestão dos riscos profissionais, o mecanismo
de tradução de um problema social de trabalho em uma linguagem do risco sanitário
(Jorlando, 2010). De forma bem particular, ela classifica como “sujeitos fracos” aqueles que
insistem em agir da melhor forma, apesar de tudo, em situações degradadas, para preservar a
ideia de que fazem um trabalho bem feito. Assim, por exemplo, se utilizamos os índices em
vigor em certos planos de ação contra os riscos psicossociais, para interpretar a atitude dos
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
117
nossos metalúrgicos, estes poderiam ser descritos como perigosamente afetados por “uma
busca obsessiva pela perfeição” (Clot, 2010). É o seu funcionamento psicológico que os faz
correr riscos, pois teimam em se sentir responsáveis por uma “super qualidade” que ninguém
está exigindo deles. Para seu próprio bem, deveriam desistir disso. Esta “conduta arriscada” é,
então, reduzida a uma “patologia da vontade” (Paretti-Wattle & Moatti, p. 98).
Se concordarmos com esse raciocínio, o melhor que podemos propor à massa de
trabalhadores que está em tal situação é cuidar da sua vulnerabilidade (Thomas, 2010). É
necessário socorrer sua vontade, ajudando-os a “endireitar” seu comportamento, quando, na
realidade, estão tentando é assumir e endireitar as situações de trabalho que se tornaram
vulneráveis pelas tiranias comerciais do curto prazo. Essa inversão permite certa
tranquilidade. É um pouco como se fossem abertos nas empresas, em termos de saúde mental
no trabalho, “corredores humanitários” sobre o campo das “guerras econômicas”. Com efeito,
é essa a função dos planos de ação contra os riscos psicossociais, consistindo em acrescentar à
gestão dos riscos os riscos da gestão e estendendo ainda o domínio da gestão à engenharia
psicológica. Nesse sentido, é o estresse dos assalariados que precisa ser tratado, quando, na
verdade, é o trabalho que está doente e aqueles que o realizam se encontram impedidos de
cuidar dele.
3 MODELO TOXICOLÓGICO E RISCOS PSICOSSOCIAIS: UM CONSENSO?
Quando sabemos, portanto, o que se passa no trabalho real, compartilhamos facilmente a
irritação de certos ergonomistas. Assim, conforme Daniellou (2009, p. 40),
fala-se muito, nos tempos atuais, dos riscos psicossociais, como se se tratasse de uma
nuvem tóxica planando acima da empresa ou de alguns dos seus componentes, e que
atinge certos assalariados, mas, em primeiro lugar, evidentemente, aqueles cujas
características pessoais os fragilizam. Segundo esse modelo, a atmosfera está um
pouco podre e os mais sensíveis terão problemas. As medidas que se extraem daí
refletem o modelo: pode-se coletar amostras da atmosfera (medir o meio psicossocial).
Pode-se fazer dosagens entre os assalariados (para avaliar o risco que correm). Pode-se
colocar em prática um sistema de sinalização mútua (alertar quando um colega começa
a ficar mal ou é percebido como frágil). Pode-se tentar desintoxicar aqueles que já
foram atingidos, por exemplo, oferecendo-lhes um apoio psicológico financiado pela
empresa, como se coloca em câmara hiperbárica as vítimas do monóxido de carbono.
Por todos esses meios, busca-se evitar que a nuvem faça muitas vítimas, sobretudo,
aquelas cuja fragilidade intrínseca poderia levá-las a tentar o suicídio, cujos efeitos são
deletérios para a organização e sua imagem.
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
118
Quando se parte de uma análise clínica paciente das situações de trabalho, como foi feito
acima, constata-se rapidamente que duas abordagens estão presentes. Uma primeira
abordagem geral do problema pela “exposição” dos assalariados a um “risco” indefinido e
uma segunda – também geral – que se apega a outra exposição: a exposição da qualidade do
trabalho a um conflito de critérios presente no próprio trabalho. Nesta segunda perspectiva, o
“psicossocial” não pode ser visto como um risco. Ao contrário, ele se torna objeto de uma
“atividade deliberada”, fonte de vitalidade social e organizacional. É um recurso a ser
desenvolvido e o risco psicossocial maior é, então, neste ponto de vista, a negação social do
conflito sobre o trabalho de qualidade. Levar em conta essa questão está ao alcance daqueles
“parceiros sociais” que estão decididos a não trapacear com a realidade. No entanto, esses
problemas são mal tratados no contexto legal das relações profissionais à moda francesa. Eles
impõem que se encontrem novas formas de negociação, em torno de outros objetos, que não
sejam o estresse ou os riscos psicossociais. Nessa perspectiva, o mundo dos dirigentes deverá
se deslocar, pois a gestão por objetivos não será suficiente. Da mesma forma, nessa
perspectiva, o mundo dos assalariados e as organizações sindicais serão atropelados nas suas
tradições (Ferrera, 2007). Mas nada é pior para todos do que esse modelo “toxicológico” do
psicossocial como risco. Aqui, ainda, pode-se compartilhar a opinião de Daniellou (2009, p.
41):
esse modelo está em vias de se tornar consensual em vários lugares: diante dos dramas
que já ocorreram, as organizações sindicais estão aliviadas pelo fato de que alguma
coisa tenha sido colocada em prática pelas direções, com o aval de especialistas
externos. Não é raro encontrar, nos boletins sindicais, desenvolvimentos inteligentes
sobre a medida do estresse, que retomam, com toda sua boa fé, os mesmos termos que
aparecem nas apresentações da direção das empresas.
É preciso, evidentemente, compreender: não é o princípio do acordo entre “parceiros sociais”
que merece ser questionado. Ao contrário, este faz parte da vida normal dos meios
profissionais. O que é discutível é o próprio objeto da negociação, pelo risco de se polarizar
sobre um “estresse” indefinido e impreciso, encobrindo conflitos que continuarão a envenenar
o trabalho real sob a superfície de um consenso psicossocial.
4 A MEDIDA DO ESTRESSE: UMA SOLUÇÃO?
Esse consenso de superfície edificou-se na França sobre o que se apresenta como bom senso e
que, no entanto, trai uma espécie de falsa ingenuidade social e científica. Esta última se
encontra em alta dose na demanda precipitada do Estado francês e na resposta oferecida
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
119
recentemente por meio do relatório (Nasse-Légeron, 2008). De início, a ideia é a de que a
França está em atraso e que os países europeus já propuseram um caminho para a solução. Os
franceses não disporiam de um consenso, nem sob o plano social, nem científico, do qual se
beneficiam os outros países. Assim, uma vez que “não há qualquer consenso em torno da
identificação das causas dos riscos psicossociais, sobre sua medida e sua ocorrência, e, em
consequência disso, sobre o sentido das ações que poderiam ser adotadas para preveni-los,
curar ou reparar”, o relatório “recomenda que se inicie pela observação e medida” (pp. 5 e
17). A observação é, aliás, imediatamente, reduzida à medida, “de modo que ela seja o menos
contestável possível e, pela sua neutralidade, possa servir de apoio ao reconhecimento por
todos os atores interessados sobre a natureza, a extensão e a intensidade dos riscos evocados”
(p. 5). Em suma, os relatores preconizam que sejam considerados os padrões internacionais de
medida para aproximar a França de um “indicador global” (p. 22) em torno do qual se possa,
em seguida, negociar.
É a medida do estresse que está no centro desse relatório, assim como certa ideia em torno dos
vínculos entre risco, exposição, perigo e danos, ideia clássica que toma emprestado da Health
Safety Excutive da Grã Bretanha: “o risco se define como a probabilidade que uma exposição
ao perigo provoque dano e as estratégias de prevenção devem ser feitas de forma que a
exposição esteja claramente acima do nível onde aparecerão os danos” (p.8). O indicador
global teria, portanto, a função de calcular o nível de exposição que permita prognosticar os
danos que podem ocorrer a fim de se decidir a respeito da ação. Esta abordagem sintética
assimila, na verdade, o risco psicossocial a um risco radioativo ou a um risco tóxico e culmina
em uma avaliação especializada sobre os limiares de intensidade e de danos, sendo tudo isso
garantido pela “neutralidade” da medida. Percebe-se rapidamente as objeções que lhe podem
ser dirigidas.
A primeira é antiga e já considerada clássica na análise do trabalho, mas não é menos
consistente. Corroborada pelo exemplo que escolhemos para iniciar este artigo, ela foi
formulada por A. Laville em uma discussão com a epidemiologia:
A epidemiologia é fraca na identificação dos riscos e na gestão desses riscos pelos
operadores. Ela mantém a noção de exposição, deixando supor que os operadores são
passivos em um ambiente que contém riscos. Ela é frequentemente orientada em
direção da explicitação de um fator de risco, específico, e não de um conjunto
combinado e interativo de riscos não específicos, e isto em parte por razões
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
120
metodológicas (o tamanho da amostra cresce ao mesmo tempo que o número de
variáveis). A epidemiologia constrói seus métodos sobre hipóteses a priori das
relações risco-saúde (Laville, 1998, p. 154).
A. Laville não invalidava, no entanto, o alcance dos dados quantitativos que favoreceriam o
diálogo social ou mesmo o dos operadores entre si. Depois dele, outros souberam mostrar
todo o interesse desses dados (Volkoff, 2005). Mas ele mostrava que o diálogo na empresa
corria o risco – este bem real – de se encontrar “formatado” por uma expertise científica
focalizada a priori sobre riscos específicos imputados a trabalhadores presumivelmente
“passivos”. Ele lhe opunha uma “análise clínica da atividade” que tenta localizar onde estão
os riscos e não os define aprioristicamente, sendo tais riscos não específicos e sempre
dependentes do contexto.
Pode-se pensar, evidentemente, que é necessário sair do contexto; que ao reter uma entrada
pela qualidade do trabalho, não se opõe mais a priori o geral ao contextualizado, o específico
ao não específico, que se pode evitar, também, de certa forma, a oposição entre risco
psicossocial e o recurso psicossocial. Mas isto só é possível se retivermos a ideia de Laville: é
a atividade real dos operadores que decide isso e não o expert sozinho, protegido pelo
consenso artificial da medida. Pois, se cultivamos essa ilusão, o consenso em questão é, ao
mesmo tempo, um consenso muito perigoso em torno da suposta passividade dos operadores.
E é preciso admitir que se trata, inicialmente, do contrário da neutralidade e, em seguida, dos
resultados de muitas décadas de pesquisa em análise do trabalho (Clot, 1999; 2008; Maggi,
2003).
Com efeito, nossas disciplinas não cessaram de estabelecer que a vida real no trabalho
consiste precisamente em transformar as exigências percebidas em provações vividas para
serem superadas, às vezes, pagando-se um alto preço, mas, frequentemente, revelando a si
mesmo aquilo que sequer suspeitava ser capaz de realizar. Os questionários sobre estresse não
apresentam muitas questões sobre essa experiência vivida que é, no entanto, uma prova
tangível de saúde. É que os pesquisadores buscam de início os danos sofridos – e, portanto, a
doença-, o que já é uma escolha. Mas queremos acreditar que isso seja também uma prova da
sua seriedade; eles sabem, talvez, que é mais fácil para os que respondem ao questionário
reclamar do que é feito a eles ou evocar o que seria necessário mudar do que se darem conta
do que eles próprios fazem.
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
121
A segunda objeção que se impõe rompe com um consenso artificial presente na própria
definição de estresse. Segundo a agência europeia para a segurança e a saúde no trabalho de
Bilbao – e é esta a definição adotada por todos os parceiros sociais no acordo interprofissional
de 2008 –, o estresse profissional acontece “quando ocorre um desequilíbrio entre a percepção
que uma pessoa tem a respeito das exigências que lhes são impostas pelo seu meio e seus
próprios recursos para enfrentá-las”. O estresse é visto, assim, como um distúrbio de
adaptação que ocorre quando a exigência profissional torna impossível a adaptação do
indivíduo ao seu meio. O estresse resulta de um desequilíbrio entre os recursos da pessoa e as
demandas do meio. Esta definição retoma aquela, já considerada clássica, de Lazarus e
Folkman (1984): “o estresse psicológico no trabalho é uma resposta do indivíduo diante das
exigências de uma situação para a qual ele pode não dispor dos recursos necessários para
enfrentar. Consequentemente, o estresse não é função do nível absoluto das exigências, mas
da distância percebida entre as exigências da organização e sua própria capacidade para
enfrentá-las. O estresse, assim definido, é, portanto, de início, uma “percepção” ou uma
“dúvida” do operador que não reconhece em si os recursos pessoais para enfrentar as
exigências da organização”.
Essa definição convencionada do estresse é bastante discutível. De início, por transpor o
conceito de estresse do seu campo biológico inicial para o campo psicológico; mas, além
disso, com muita frequência, como já o demonstramos Clot (2010), é o oposto que ocorre. É
a organização prescrita do trabalho que carece de recursos para enfrentar as exigências dos
operadores que insistem em fazer um trabalho de qualidade. Os metalúrgicos que convocamos
acima estão longe de serem “pequenos demais” para ela. É ela que os mantém cerceados.
Aliás, de forma acertada ou não, eles não têm qualquer dúvida disso. E é da “distância
percebida” por eles entre o que seria necessário fazer e o que se espera que façam que se
produzem os “desequilíbrios” prejudiciais, tanto para sua saúde quanto para a qualidade do
trabalho. Quando esses “desequilíbrios” não podem mais ser compensados pelo uso do
“diapasão” coletivo de uma atividade deliberada entre eles e com a Direção, a empresa,
mesmo indiretamente, lhe amputa as possibilidades. Ao reduzir o raio potencial de sua
atividade, fechando-lhes em uma única possibilidade, ela lhes diminui, degradando seu poder
de agir sobre as situações e sobre eles mesmos (Clot, 2008). Pode-se ver também esse tipo de
situação com um “distúrbio de adaptação”, mas trata-se, sobretudo, da adaptação da
organização às exigências do trabalho em si, como revelam os riscos assumidos pelos
metalúrgicos.
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
122
5 O TRABALHO IMPEDIDO
Evidentemente, este modo de expor o problema não é exclusivo do modo anterior. Muitos
trabalhadores duvidam da sua capacidade e ocorre mesmo que essa dúvida tenha fundamento,
o que justifica, aliás, os investimentos feitos ou que serão feitos em formação profissional.
Mas é preciso não confundir tudo. Quando o trabalho imposto atinge o próprio sentido da
atividade profissional, esta pode se tornar dramaticamente insignificante para os operadores.
Então, ocorre uma espécie de ruptura entre as preocupações reais dos trabalhadores – uma
certa ideia a respeito do trabalho e deles mesmos no trabalho – e as ocupações imediatas que
lhes viram as costas. O próprio sentido da ação em curso se perde quando desaparece no
trabalho a relação entre os objetivos que devem ser alcançados, os resultados que é preciso
atingir e o que conta verdadeiramente para si e para os colegas de trabalho na situação. Aquilo
que conta verdadeiramente – e, às vezes, de maneira vital – projeta outros objetivos possíveis
de qualidade diferentes da qualidade esperada pelos objetivos prescritos. Portanto, a perda do
sentido da atividade a desvitaliza, a desafeta, tornando psicologicamente artificial a
continuidade do trabalho. Nesse sentido, somos ativos, mas sem nos sentir ativos. Mesmo a
performance realizada pode perder sua função psicológica se não nos vemos nela. A
finalidade do trabalho exigido se torna, então, psicologicamente estranha para a atividade dos
sujeitos cujo objeto está em outro lugar. As ações realizadas rivalizam na sua atividade com
aquelas que deveriam ser e, sobretudo, poderiam ser. A realidade psicológica desses conflitos
no objeto mesmo do trabalho é a fonte de poderosos afetos que encontram cada vez menos um
destino favorável, sob o risco – vimos isto – de impulsionar aqueles que trabalham a colocar
em risco a própria saúde.
De modo geral, nesse conflito de objetivos presentes em numerosos meios profissionais
contemporâneos, se esconde um paradoxo que toca diretamente as questões da saúde mental:
os objetivos alcançados, desinvestidos, perdem seu sentido e aqueles que desejamos alcançar
e que ficam de lado, privados de sua realização social, são desacreditados aos olhos de muitos
trabalhadores como se fossem quimeras. É a própria imaginação que se torna para eles um
obstáculo a ser vencido para se trabalhar “normalmente”. Muitos dramas humanos no trabalho
encontram aí sua origem ou sua matéria quando a situação se instala e proíbe pensar, com
razão ou não, que alguma mudança seria possível. Quando a confrontação sobre a qualidade
do trabalho se tornou impraticável, atividade excessiva e sentimento de insignificância
formam, então, uma mistura “psicossocial” explosiva. É uma espécie de ativismo vazio que a
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
123
menor injustiça gerencial pode transformar em inflamação mórbida. Mas esta última é apenas
a gota d’água que faz entornar o pote de uma vida profissional contrariada. Pois a passividade
nada mais é do que uma atividade recolhida, um desenvolvimento impedido ou encarcerado,
ruinoso para a saúde e a eficácia do trabalho.
6 CUIDAR DO TRABALHO, SAIR DA NEGAÇÃO
O mínimo que se poderia, então, esperar dos experts é que levassem a sério a lucidez que se
esconde por trás da passividade eventual dos assalariados. O mínimo que se poderia esperar é
que eles não tornassem ainda mais pesadas as constatações há muito tempo ruminadas pelos
operadores por meio de medidas de exposição aos riscos que confirmam que o perigo é bem
real e abrem sobre uma compaixão fictícia. Poderão objetar que o discernimento está longe de
ser alcançado para justificar a generalização dos questionários utilizados hoje em dia. Mas
pode-se responder que muitos dos instrumentos de medida do estresse ou dos riscos
psicossociais utilizados não permitem aumentar essa lucidez nos dirigentes aos quais eles são,
na realidade, destinados. Pois eles não são feitos para aclarar o problema do trabalho bem
feito na empresa, do seu objeto, dos seus produtos ou dos critérios da performance, mas, de
preferência, para aumentar a vigilância sobre o “bem estar” dos assalariados. Existe, no
princípio dessa instrumentalização galopante, uma preocupação em cuidar das pessoas lá onde
é do trabalho que se precisa cuidar, em todos os sentidos do termo (Fernandez, 2009). O
princípio disso é mesmo o de uma desagregação do “bem fazer” e do “bem estar” que não só
sofre um pouco de exceção, enquanto que a sua relação é que é decisiva. É todo o problema
do higienismo contemporâneo que não é nada mais do que uma negação do conflito sobre a
qualidade do trabalho.
BIBLIOGRAFIA
Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail. 6ème édition 2008. Traduction italienne.
Paris : PUF.
Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir, Paris : PUF.
Clot, Y. (2010) Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris : La
Découverte.
Daniellou, F. (2009). L’ergonome et les débats sur la performance de l’entreprise, Bulletin de
la SELF, pp.154.
Duraffourg, J. & Vuillon, B. (2004). Alain Wisner et les tâches du présent. La bataille du
travail réel. Toulouse : Octarès.
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
124
Fernandez, G. (2009). Soigner le travail. Toulouse : Erès.
Ferreras, I. (2007). Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société de services.
Paris : Editions des Presses de Sciences Po.
Jorland, G. (2010). Une société à soigner. Hygiène et salubrité publiques en France au
XIXème siècle. Paris : Gallimard.
Laville, A. (1998). Les silences de l’ergonomie vis-à-vis de la santé. Actes du colloque
Recherche et Ergonomie, Toulouse, Février.
Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York : Springer
Maggi, B. (2003). De l’agir organisationnel. Un point de vue sur le travail, le bien être,
l’apprentissage. Toulouse : Octarès.
Nasse, P. & Légeron, P. (2008). Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des
risques psychosociaux, Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité.
Peretti-Watel, P. & Moatti, J. P. (2009). Le principe de prévention. Le culte de la santé et ses
dérives. Paris : Seuil.
Thomas, H. (2010). Les vulnérables. La démocratie contre les pauvres. Bellecombe : Editions
du Croquant.
Volkoff, S. (2005). Des comptes à rendre : usage des approches quantitatives en santé au
travail pour l’ergonomie, In S. Volkoff (sous la direction de), L’ergonomie et les chiffres de la
santé au travail. Toulouse : Octarès.
HIG, Belo Horizonte, vol. 1, n. 1, art. 6, 114-124, novembro, 2017 www.unihorizontes.br/fnh/hig
Вам также может понравиться
- Modulo02 PDFДокумент20 страницModulo02 PDFAlexandre CastroОценок пока нет
- Agenda de ATENDIMENTOДокумент1 страницаAgenda de ATENDIMENTOPaulo VicenteОценок пока нет
- Plano Negocios 2016Документ92 страницыPlano Negocios 2016RenanPascual100% (1)
- Ficha Controle de EstoquesДокумент2 страницыFicha Controle de EstoquesPaulo VicenteОценок пока нет
- Modulo 04Документ10 страницModulo 04alli14Оценок пока нет
- Matriz Financeira para Seu NegocioДокумент1 страницаMatriz Financeira para Seu NegocioPaulo VicenteОценок пока нет
- Gestao Do PatrimonioДокумент10 страницGestao Do PatrimonioPaulo VicenteОценок пока нет
- Controle Financeiro Da CasaДокумент2 страницыControle Financeiro Da CasaPaulo VicenteОценок пока нет
- Modulo 01Документ20 страницModulo 01Silvia Cristian\Оценок пока нет
- Tarot Pratico 1Документ19 страницTarot Pratico 1Cristiana Moura100% (3)
- Iniciacao Cientifica Modelo PraticoДокумент14 страницIniciacao Cientifica Modelo PraticoPaulo VicenteОценок пока нет
- Como Excluir Numeração de Páginas Antes Da IntroduçaoДокумент8 страницComo Excluir Numeração de Páginas Antes Da IntroduçaoErica da SilvaОценок пока нет
- Gestão de MarketingДокумент70 страницGestão de MarketingDavid Krupnicki Pinheiro100% (1)
- CABALA NiltonДокумент50 страницCABALA Niltonreis makanudoОценок пока нет
- 00 - Modelo Projeto Extensao - CópiaДокумент7 страниц00 - Modelo Projeto Extensao - CópiaPaulo VicenteОценок пока нет
- Extensao-Roteiro Projeto ExtensaoДокумент11 страницExtensao-Roteiro Projeto ExtensaoPaulo VicenteОценок пока нет
- Manual Normas Tecnicas - Junia Lessa - Cap 1Документ32 страницыManual Normas Tecnicas - Junia Lessa - Cap 1Paulo Vicente0% (1)
- Como ReferenciarДокумент1 страницаComo ReferenciarPaulo VicenteОценок пока нет
- Modelo de Apresentação TCC (2) - EM BRANCOДокумент10 страницModelo de Apresentação TCC (2) - EM BRANCOPaulo VicenteОценок пока нет
- MODELO DE Pré ProjetoДокумент14 страницMODELO DE Pré ProjetoPaulo VicenteОценок пока нет
- 00 - Modelo Projeto Extensao - CópiaДокумент7 страниц00 - Modelo Projeto Extensao - CópiaPaulo VicenteОценок пока нет
- Coletania de Dinamicas - 2Документ166 страницColetania de Dinamicas - 2elifarias100% (3)
- Como Excluir Numeração de Páginas Antes Da IntroduçaoДокумент8 страницComo Excluir Numeração de Páginas Antes Da IntroduçaoErica da SilvaОценок пока нет
- Extensao-Roteiro Projeto Extensao FACTO PDFДокумент2 страницыExtensao-Roteiro Projeto Extensao FACTO PDFzerkalo74Оценок пока нет
- Como ReferenciarДокумент1 страницаComo ReferenciarPaulo VicenteОценок пока нет
- Dinamica Do NaufragoДокумент2 страницыDinamica Do NaufragoPaulo VicenteОценок пока нет
- Como Fazer Citaçoes de Forma FacilДокумент3 страницыComo Fazer Citaçoes de Forma FacilPaulo VicenteОценок пока нет
- Regras para Dinamicas ReformuladoДокумент14 страницRegras para Dinamicas ReformuladoPaulo VicenteОценок пока нет
- ABNT NBR 6027 SumárioДокумент2 страницыABNT NBR 6027 SumárioJosé Antonio Meira da Rocha100% (2)
- ABNT NBR 10520 Citações em DocumentosДокумент7 страницABNT NBR 10520 Citações em DocumentosJosé Antonio Meira da Rocha83% (6)
- Apresentação - Gestao de TIДокумент8 страницApresentação - Gestao de TIPauloОценок пока нет
- Edital 1 2023 EpufabcДокумент18 страницEdital 1 2023 EpufabcCamille ChagasОценок пока нет
- Lista de Inscritos Aperfeicoamento 2022Документ7 страницLista de Inscritos Aperfeicoamento 2022Charles DonatoОценок пока нет
- Artigo - PsicopedagogiaДокумент19 страницArtigo - PsicopedagogiakarizapvОценок пока нет
- Linha Do Tempo FerroviáriaДокумент3 страницыLinha Do Tempo FerroviáriaScribdTranslationsОценок пока нет
- 7 PrebosteejuizДокумент5 страниц7 PrebosteejuizFrancisco LimaОценок пока нет
- lÓGICA DE ALGORITMOS COM C++Документ51 страницаlÓGICA DE ALGORITMOS COM C++Daniele Lopes de SouzaОценок пока нет
- Sigilo Bancário + Seg Cibernética - QuestõesДокумент6 страницSigilo Bancário + Seg Cibernética - Questõessamuel souzaОценок пока нет
- Tabela Periódica Dos Transtornos EmocionaisДокумент158 страницTabela Periódica Dos Transtornos EmocionaisHudson Costa100% (3)
- Catalogo Acos SandvikДокумент24 страницыCatalogo Acos SandvikGabriel MesquitaОценок пока нет
- Necessaire Meia LuaДокумент4 страницыNecessaire Meia LuaFernanda Paz BritoОценок пока нет
- A Comunicação Oral Na Sala de Aula PDFДокумент128 страницA Comunicação Oral Na Sala de Aula PDFBruno Filipe PiresОценок пока нет
- Livro Gestão de Projetos - Conhecendo Os Grupos de ProcessoДокумент76 страницLivro Gestão de Projetos - Conhecendo Os Grupos de ProcessoSilvio AntonioОценок пока нет
- Exerccios Anlise Combinatria PДокумент3 страницыExerccios Anlise Combinatria PSebastian CoddОценок пока нет
- Relatório IV - Relação Carga e Massa Do ElétronДокумент14 страницRelatório IV - Relação Carga e Massa Do ElétronThaisa Uzan100% (1)
- A Biodisponibilidade de Nutrientes Nos AlimentosДокумент6 страницA Biodisponibilidade de Nutrientes Nos AlimentosKelyane PortelaОценок пока нет
- NR-6 - EpiДокумент3 страницыNR-6 - EpiAngelica SilvaОценок пока нет
- Catalogo Ermeto (2003)Документ358 страницCatalogo Ermeto (2003)fogacsmu67% (3)
- Exemplo Laudo de Adubacao Milho GrãoДокумент2 страницыExemplo Laudo de Adubacao Milho GrãoLauane SantosОценок пока нет
- Aula 02 - Redação para ConcursosДокумент77 страницAula 02 - Redação para ConcursosDjanilson LopesОценок пока нет
- TEXTO PARA REFLEXÃO Bons Pais Corrigem Erros Pais Brilhantes Ensinam A PensarДокумент3 страницыTEXTO PARA REFLEXÃO Bons Pais Corrigem Erros Pais Brilhantes Ensinam A PensarAparecida De Fatima Gomes MacaubasОценок пока нет
- Check List - NR 12 - Maquinas e EquipamentosДокумент2 страницыCheck List - NR 12 - Maquinas e EquipamentosVanessa DuarteОценок пока нет
- Lista 1 - Unidade 3Документ2 страницыLista 1 - Unidade 3e vamos de premiumОценок пока нет
- Exploração Do Movimento Retilíneo Uniforme PDFДокумент3 страницыExploração Do Movimento Retilíneo Uniforme PDFAlexandre PereiraОценок пока нет
- Declaração Consentimento - RGPDДокумент1 страницаDeclaração Consentimento - RGPDJoana RochaОценок пока нет
- SALMO 150 Pr. ELISEU MARTINSДокумент3 страницыSALMO 150 Pr. ELISEU MARTINSEliseu Martins100% (1)
- AE PERFIL EMPREENDEDOR Material Apoio Professor ElizeuДокумент27 страницAE PERFIL EMPREENDEDOR Material Apoio Professor ElizeuPoliana FerreiraОценок пока нет
- Traco Micro Faixa Iii CSR - São LuisДокумент7 страницTraco Micro Faixa Iii CSR - São LuisEuzirChagasОценок пока нет
- Diferenças Entre Paradigma Interpretativo e Positivista 2Документ2 страницыDiferenças Entre Paradigma Interpretativo e Positivista 2Angelica CesarioОценок пока нет
- Paul Hindemith - Treinamento Elementar para Musicos PDFДокумент241 страницаPaul Hindemith - Treinamento Elementar para Musicos PDFFer Volpin100% (6)
- Deu a louca nos signos: Um guia divertido do zodíaco por AstroloucamenteОт EverandDeu a louca nos signos: Um guia divertido do zodíaco por AstroloucamenteРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Comunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasОт EverandComunicação eficaz no trabalho: Como lidar com comunicação ineficaz e políticas corporativasРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (2)
- Fogo no parquinho: Namoro à luz da Palavra de DeusОт EverandFogo no parquinho: Namoro à luz da Palavra de DeusРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (9)
- Propósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIОт EverandPropósito: Encontre paz, sentido e felicidade no seu dia a dia com a filosofia japonesa do IKIGAIРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (4)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoОт EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (53)
- As 5 linguagens do amor - 3ª edição: Como expressar um compromisso de amor a seu cônjugeОт EverandAs 5 linguagens do amor - 3ª edição: Como expressar um compromisso de amor a seu cônjugeРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (220)
- Hábitos de felicidade: Cinco coisas que você pode fazer em sua vida cotidiana para construir uma felicidade duradouraОт EverandHábitos de felicidade: Cinco coisas que você pode fazer em sua vida cotidiana para construir uma felicidade duradouraРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (10)
- Eu te amo, mas não te quero mais: Histórias de fins e recomeçosОт EverandEu te amo, mas não te quero mais: Histórias de fins e recomeçosРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (6)
- Descolonizando afetos: Experimentações sobre outras formas de amarОт EverandDescolonizando afetos: Experimentações sobre outras formas de amarРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (5)
- Desbloqueie o poder da sua mente: Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vidaОт EverandDesbloqueie o poder da sua mente: Programe o seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme a sua vidaРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (226)
- Os Códigos do Mindset da Prosperidade: destrave os bloqueios em sua mente e cresça em todos os aspectos de sua vidaОт EverandOs Códigos do Mindset da Prosperidade: destrave os bloqueios em sua mente e cresça em todos os aspectos de sua vidaОценок пока нет
- Pare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosОт EverandPare de Procrastinar: Supere a preguiça e conquiste seus objetivosРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (58)
- São Cipriano - O Livro Da Capa De AçoОт EverandSão Cipriano - O Livro Da Capa De AçoРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (3)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoОт Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (49)
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoОт EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (3)
- Psicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoОт EverandPsicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoРейтинг: 4 из 5 звезд4/5 (92)
- O Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoОт EverandO Poder da Mente: A chave para o desenvolvimento das potencialidades do ser humanoРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (72)
- Treinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisОт EverandTreinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (169)
- Crianças desafiadoras: Aprenda como identificar, tratar e contribuir de maneira positiva com crianças que têm Transtorno Opositivo-DesafiadorОт EverandCrianças desafiadoras: Aprenda como identificar, tratar e contribuir de maneira positiva com crianças que têm Transtorno Opositivo-DesafiadorОценок пока нет