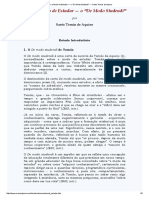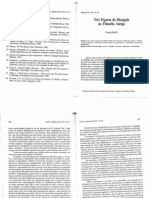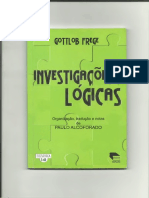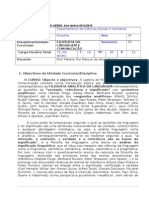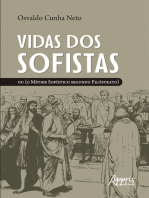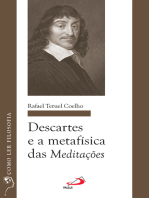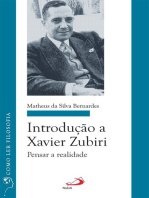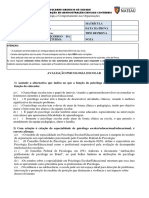Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Read Repensando A Logica PDF
Загружено:
Bárbara OliveiraОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Read Repensando A Logica PDF
Загружено:
Bárbara OliveiraАвторское право:
Доступные форматы
REPENSANDO A LÓGICA
Uma introdução à filosofia da lógica
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 1 06/06/14 12:25
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Reitor Jaime Arturo Ramírez
Vice-Reitora Sandra Regina Goulart Almeida
EDITORA UFMG
Diretor Wander Melo Miranda
Vice-Diretor Roberto Alexandre do Carmo Said
CONSELHO EDITORIAL
Wander Melo Miranda (presidente)
Ana Maria Caetano de Faria
Danielle Cardoso de Menezes
Flavio de Lemos Carsalade
Heloisa Maria Murgel Starling
Márcio Gomes Soares
Maria Helena Damasceno e Silva Megale
Roberto Alexandre do Carmo Said
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 2 06/06/14 12:25
Stephen Read
REPENSANDO A LÓGICA
Uma introdução à filosofia da lógica
Abílio Rodrigues Filho
Tradução
André Porto
Revisão técnica
Belo Horizonte
Editora UFMG
2014
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 3 06/06/14 12:25
© Stephen Read 1995
© 2014, Editora UFMG
Este livro ou parte dele não pode ser reproduzido por qualquer meio sem autorização
escrita do Editor.
_________________________________________________________________________
R284t.Pr Read, Stephen.
Repensando a lógica: uma introdução à filosofia da lógica /
Stephen Read ; tradução de Abílio Rodrigues Filho. – Belo Horizonte :
Editora UFMG, 2014.
335 p.: il. – (Humanitas)
Tradução de: Thinking About Logic: An Introduction to the
Philosophy of Logic.
Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-423-0044-4
1.Lógica – Filosofia. I. Rodrigues Filho, Abílio. II. Série.
III. Título.
CDD: 160
CDU: 16
_________________________________________________________________________
Elaborada pela DITTI – Setor de Tratamento da Informação
Biblioteca Universitária da UFMG
Diretora da Coleção Heloisa Maria Murgel Starling
Coordenação Editorial Michel Gannam
Assistência Editorial Eliane Sousa e Euclídia Macedo
direitos autorais Maria Margareth de Lima e Renato Fernandes
Coordenação de Textos Maria do Carmo Leite Ribeiro
Preparação de Textos Camila Figueiredo
Revisão de Provas Alexandre Vasconcelos de Melo, Beatriz Trindade e
Daniela França
PROJETO GRÁFICO Cássio Ribeiro, a partir de Glória Campos – Mangá
COORDENAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO Cássio Ribeiro
Formatação E MONTAGEM DE CAPA Gustavo Crepaldi
IMAGEM DA capa Other World, M.C. Escher
PRODUção GRáFICA Warren Marilac
EDITORA UFMG
Av. Antônio Carlos, 6.627 - CAD II | Bloco III
Campus Pampulha | Belo Horizonte/MG | CEP 31.270-901
Tel.: +55 31 3409-4650 Fax: + 55 31 3409-4768
www.editoraufmg.com.br editora@ufmg.br
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 4 06/06/14 12:25
Para Eleanor e Megan
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 5 06/06/14 12:25
Agradecimentos
Em primeiro lugar, devo reconhecer uma dívida para com os meus
colegas do Departamento de Lógica e Metafísica da Universidade de
St. Andrews pelo apoio ao meu pedido de licença de pesquisa no pri-
meiro semestre de 1992, quando a maior parte deste livro foi escrita.
Em segundo lugar, com satisfação expresso meus agradecimentos a
minha turma de Pós-graduação em Filosofia da Lógica do segundo
semestre de 1993, que muito me ajudou a pensar sobre esses temas
e a melhorar o modo pelo qual eles foram por mim tratados. Agra-
decimentos especiais vão para Christina Altseimer, Darragh Byrne,
Adrian Crofton, Michele Friend, Lars Gundersen, Anja Schwager e
Allan Taggart.
Agradeço também a Paul Castell, Peter Clark, Roy Dyckhoff, Andre
Fuhrmann, Bob Hale, Geoff Keene, Neil Leslie, David Miller, Mark
Sainsbury, Dalbir Singh, John Skorupski e Crispin Wright, pelos
comentários individuais sobre várias partes do livro.
Gostaria também de reconhecer e agradecer a ajuda de Anne Cameron
pela digitação do manuscrito, e expressar o meu apreço a Catherine
Clarke e Simon Mason da Oxford University Press, a primeira por ter
me incentivando a realizar o projeto, o segundo por acompanhá-lo
nas suas fases posteriores.
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 6 06/06/14 12:25
Sumário
Apresentação 9
1. VERDADE, PURA E SIMPLES
A linguagem e o mundo 15
A teoria da verdade como correspondência 17
Reducionismo 27
Teorias da verdade 31
Teorias da verdade minimalistas 39
Resumo e sugestões para leituras 46
2. O poder da lógica
Consequência lógica 51
A concepção clássica 53
Compacidade 61
Conteúdo e forma 69
Relevância 75
Resumo e sugestões para leituras 83
3. O poder de um se
Teorias de condicionais 87
A tese conversacionalista 91
Probabilidade condicional 100
A abordagem por semelhança 110
Resumo e sugestões para leituras 122
4. O olhar incrédulo
Mundos possíveis 127
Platonismo modal 130
Atualismo 138
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 7 06/06/14 12:25
O necessário e o a priori 143
Resumo e sugestões para leituras 152
5. A barba de Platão
Sobre o que há e o que não há 157
Descrições 160
Lógica livre 169
Sobrevalorações 176
Resumo e sugestões para leituras 184
6. Bem, então serei enforcado!
Os paradoxos semânticos 191
A hierarquia da verdade 196
Contradições verdadeiras 204
Fechamento semântico 210
Resumo e sugestões para leituras 216
7. Homens carecas para sempre
O paradoxo sorites 223
Vagueza 226
Análise do sorites 232
Lógica difusa 241
Tolerância 249
Resumo e sugestões para leituras 254
8. Que reta é essa afinal?
O desafio construtivista 259
O infinito 262
Intuicionismo 272
O argumento lógico 282
O argumento linguístico 291
Resumo e sugestões para leituras 297
REFERÊNCIAS 305
GLOSSÁRIO 315
ÍNDICE 321
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 8 06/06/14 12:25
Apresentação
Este livro é uma introdução à filosofia da lógica. Frequen-
temente vemos demarcada uma área da filosofia denominada
filosofia da lógica e da linguagem. E de fato há íntimas cone-
xões entre temas da lógica e de análise da linguagem. Mas esses
temas são também bastante distintos. Na filosofia da lingua-
gem o foco é nas noções de significado e referência, naquilo
que denominamos conexões semânticas entre a linguagem e
o mundo.
Por contraste, o tópico central da filosofia da lógica é o da
inferência, isto é, da consequência lógica, ou do que se segue
corretamente a partir de quê. Quais conclusões podem ser
inferidas legitimamente de quais conjuntos de premissas? Uma
resposta a essa questão lança mão da noção de preservação da
verdade: argumentos válidos são aqueles nos quais a verdade
é preservada, argumentos nos quais a verdade das premissas
garante a verdade da conclusão. Uma vez que a verdade, com
razão, pode ser considerada o terceiro elemento de uma tríade
de noções intimamente relacionadas que inclui significado,
referência e verdade, a conexão com a filosofia da linguagem
é imediatamente assegurada.
No entanto, a verdade se apresenta de dois modos. Significado
e referência são essencialmente noções linguísticas, dependentes
da maneira que determinada língua, ou o usuário de determinada
língua, escolhe para expressar uma ideia. Perguntar pelo
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 9 06/06/14 12:25
significado, a quem ou a que uma expressão se refere, envolve um
esclarecimento linguístico. Diferentemente, a verdade distingue-
-se e se separa da linguagem e direciona nossa atenção para o
mundo. Verdade requer que o que é dito esteja de acordo com
a realidade, segundo a famosa frase, que as coisas sejam como
é dito que elas são.
Talvez seja artificial fazer essa separação entre como as coisas
são, as questões da verdade e da inferência, de um lado, e o que
é dito delas, linguagem, significado e referência, de outro. De
fato, o tema a ser discutido no capítulo final deste livro é que
a concepção do mundo como uma realidade distinta e inde-
pendente, e talvez para sempre além de nosso conhecimento e
compreensão, é simplesmente incoerente. Mas muito do que é
dito na filosofia da lógica parte do pressuposto realista segundo
o qual a verdade delimita como as coisas são, independentemente
de nossa capacidade de identificá-las, e assim vamos supor em
boa parte deste livro.
Existem muitos livros de filosofia da linguagem, com várias
excelentes introduções. Há um número bem menor de livros
de filosofia da lógica. Uma razão é uma atitude amplamente
difundida em relação à lógica, mas lamentável, de uma reverência
e veneração acríticas. Isso é baseado em uma crença equivocada
de que, uma vez que a lógica lida com necessidades, com a
maneira que as coisas devem ser, com aquilo que se segue inde-
pendentemente do que possa acontecer, assim, seus princípios
básicos não podem ser questionados, e as noções de consequência,
verdade lógica e inferência correta não podem ser filosoficamente
examinadas e discutidas. O ensino de lógica em departamentos
de filosofia pelo mundo afora exibe essa esquizofrenia, na qual
a abordagem dogmática da lógica convive desconfortavelmente
com a postura permanentemente crítica que é encorajada e
exigida na filosofia.
Essa reverência à lógica é profundamente equivocada. Que um
princípio, caso verdadeiro, seja necessariamente verdadeiro, não
é garantia alguma contra o erro. As consequências advindas das
10
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 10 06/06/14 12:25
alegações de alguém de fato são consequências de tais afirmações,
independentemente de nós reconhecermos isso ou não. Mas os
princípios que nós formulamos, e por meio dos quais nós tenta-
mos demarcar tais consequências, podem ser tão equivocados
quanto a mais contingente e incerta afirmação empírica. Os
lógicos não têm nenhum acesso privilegiado aos fundamentos
de seu ofício, que fosse de algum modo negado aos praticantes
mais modestos da ciência, história ou psicologia.
Será com essas questões sobre a verdade e a inferência correta
que iremos nos ocupar neste livro. E veremos que os paradoxos
serão centrais para o tratamento dessas questões. Os paradoxos
são o encantamento dos filósofos, seu fetiche. Eles os fascinam,
assim como a luz fascina a mariposa. Mas, ao mesmo tempo,
eles não podem ser tolerados, e todo o esforço possível deve ser
empregado para removê-los. O filósofo é o feiticeiro cuja tarefa
é nos salvar e nos livrar do demônio maligno.
Paradoxos podem surgir em muitos lugares, mas aqui vamos
nos concentrar em dois em particular, um grupo caracterizado
por questões semânticas, e outro por uma imprecisão inerente
a certos conceitos. Em ambos os casos o quebra-cabeças surge
porque pressupostos simples e naturais, que parecem ser claros
e razoáveis, levam rapidamente a contradições, confusões e difi-
culdades. Há algo de terrível e fascinante em sua transparência,
há um certo prazer em examinar sua variedade e rica diversidade
de exemplos.
Mas seu real valor filosófico reside na depuração dos pres-
supostos infundados e não criticados que os produziram. Eles
exigem soluções, e em tais soluções nós aprendemos mais acerca
da natureza da verdade, da natureza da consequência lógica e
da natureza da realidade do que qualquer exame amplo dos
princípios fundamentais pode nos fornecer. Somente quando
aqueles princípios, aparentemente inocentes, são desafiados pelos
paradoxos e caem sob um olhar atento, acabamos percebendo
o que deles realmente se segue, percebemos as dificuldades que
eles escondem.
11
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 11 06/06/14 12:25
Começamos, portanto, pelo cerne da filosofia da lógica, com
o conceito de verdade, examinando os princípios básicos, aparen-
temente convincentes, acerca do modo pelo qual a linguagem se
adéqua ao mundo. Mas eu evito fazer um inventário das posições
defendidas pelos bons e grandes da filosofia. Isso seria muito
desinteressante e talvez realmente pouco instrutivo. Antes, tento
tecer uma narrativa, mostrar como surgem concepções naturais,
como elas podem ser articuladas e de que modo elas podem
fracassar. Eu espero que os próprios quebra-cabeças aticem a
imaginação dos leitores e que estes se aventurem a prosseguir em
leituras mais detalhadas, que são indicadas nos resumos de cada
capítulo. A ideia é pintar um quadro contínuo de uma rede de
ideias, tratadas individualmente e em suas relações recíprocas,
de maneira independente dos detalhes históricos ou técnicos.
Esta narrativa crítica e filosófica vai de pensamentos naturais
acerca da verdade e da inferência até quebra-cabeças acerca
da linguagem, do mundo e da relação entre os dois. Falamos
naturalmente sobre como as coisas devem ser caso certos
pressupostos sejam verdadeiros. Assim, considerações sobre
consequência lógica nos levam naturalmente ao exame do que
os lógicos chamam de condicionais – enunciados do tipo “se…
então”. Condicionais falam sobre possibilidades, e mundos
possíveis parecem dar substância a esse tipo de discurso. Mas
como as coisas de fato são, e como elas poderiam ser, são ques-
tões ontológicas – questões acerca do que há – que produzem
verdadeiros quebra-cabeças. Poderia eu lhe prometer um cavalo
sem prometer qualquer cavalo específico? Posso procurar por
unicórnios mesmo se não existe unicórnio algum – ou mesmo
falar significativamente acerca do que não existe?
Há muitas maneiras técnicas e formais de lidar com esses
problemas, que são indicadas ao leitor nos guias de leituras
adicionais. Mas frequentemente o que está no cerne dessas tecni-
calidades são pressupostos e insights filosóficos que podem ser
explicados e avaliados, sem necessidade de um grande aparato
técnico. Na medida em que o livro prossegue, espero que o leitor
12
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 12 06/06/14 12:25
compreenda as razões, e até mesmo tenha uma ideia geral dos
detalhes, por detrás dessas técnicas formais. Nenhuma delas,
no entanto, é pressuposta, e o fio condutor serão as motivações
filosóficas, os pressupostos e as consequências dessas ideias
centrais. Há muitos detalhes técnicos esotéricos em lógica. Mas
o foco aqui recairá sobre as questões da lógica que dão origem
a problemas filosóficos acessíveis e estimulantes.
Como já disse, a tendência do ensino de filosofia (exceto
quando a lógica é simplesmente suprimida) é elaborar cursos
introdutórios de lógica dogmáticos e formais. Discussões das
questões levantadas neste livro são, na maioria das vezes, reser-
vadas a estudos posteriores. Espero ter sido bem-sucedido aqui
em tornar essas questões acessíveis ao iniciante. É dessa forma
que desejo me opor à pedagogia predominante. Ao professor
de lógica, eu digo: trabalhe essas questões com os estudantes
simultaneamente ao curso formal, de modo que o estudante
possa perceber por que o desenvolvimento da lógica foi como
foi, e de que modo esse desenvolvimento é resultante de deci-
sões que deveriam ser contestadas e questionadas – ainda que
nossas respostas no final se conformem com aquelas decisões. Ao
estudante, eu digo: aqui estão questões filosóficas importantes.
Se você as considera estimulantes, o próximo passo é seguir em
frente num estudo formal da lógica, para destrinchar o que foi
dito aqui, e adquirir as ferramentas para uma análise formal da
consequência lógica. Mas aprenda a separar o que seu professor
de lógica realmente afirma do que é apenas uma pitada de sal, a
separar o que é lógica do que é interpretação filosófica. Com a
ajuda deste livro, e a assistência dos lógicos que o precederam,
você deve repensar e retrabalhar sua própria lógica, de modo
que ela tenha a sua aprovação e a sua marca.
13
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 13 06/06/14 12:25
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 14 06/06/14 12:25
1
Verdade, pura e simples
A linguagem e o mundo
O que é a verdade? Essa questão pode ser vista como um dos
mais típicos problemas filosóficos. Usamos o conceito frequen-
temente e sem maiores questionamentos – perguntamos “Isso
é verdade?”, anunciamos “Isso é verdade!”, juramos contar a
verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Por vezes, a
verdade é fugidia – achamos difícil encontrar o que é realmente a
verdade por trás das aparências, ela pode estar deliberadamente
escondida ou obscura ou estar simplesmente além de nossas
capacidades de investigação. Políticos podem tentar esconder
a verdade, cientistas têm como finalidade descobrir a verdade
por detrás dos fenômenos, historiadores se debruçam sobre
remanescentes históricos e manuscritos para estabelecer o que
foi verdade acerca de Júlio César ou de Napoleão.
Em todos esses exemplos de busca pela verdade, no entanto,
o que não é questionado é a natureza da verdade propriamente
dita. A verdade pode nos escapar, mas não temos dúvida acerca
do que nós queremos saber. Mas, quando nos deparamos com
a questão “o que é a verdade?”, nossa mente fica sem ação – o
que quer dizer essa questão? Temos o sentimento de que sabe-
mos a resposta, ainda que não sejamos capazes de colocá-la em
palavras. Acontece a mesma coisa com muitos outros problemas
filosóficos: o que é o tempo? O que é o conhecimento? O que é a
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 15 06/06/14 12:25
mente? Normalmente não temos dificuldade alguma em aplicar
conceitos como tempo, conhecimento, mente – podemos olhar
o relógio para ver as horas, sabemos quando o próximo trem
irá partir, temos em mente que temos de recuperar nossa mala
depois da viagem. Mas, quando somos desafiados a explicar
o que é o tempo propriamente dito, ou o conhecimento, ou a
mente, ou a verdade, vacilamos. Como disse Agostinho acerca
do tempo, “eu sei muito bem o que é, desde que ninguém me
pergunte. Mas se me perguntam e eu tento explicar, me descon-
certo” (Confissões, 11.14).
É preciso resistir à tentação de correr para o dicionário. Há
termos técnicos, mesmo em filosofia, em que o dicionário é
necessário. Palavras como “isóbaro”, “arcano”, “dualismo”
podem ser explicadas com sucesso ao iniciante. Mas os problemas
típicos da filosofia são diferentes. Sabemos perfeitamente bem o
que é a verdade, o conhecimento, o tempo – até um determinado
ponto. Mas como explicar isso?
Se podemos usar um conceito, por que nos preocuparmos
em realmente compreendê-lo completamente? Além da tarefa
em si mesma, pois há uma satisfação em superar tal desafio,
há outra motivação. Muito embora na maioria das vezes nós
não tenhamos dificuldade alguma em usar tais conceitos, há
situações em que os problemas surgem. Considere o tempo: um
escritor de ficção científica pode relatar um caso de uma viagem
no tempo na qual um herói viaja para um futuro ou passado
distante. Perguntamos-nos: isso é realmente possível? Precisamos
então pensar mais profundamente acerca da própria natureza
do tempo. Considere o conhecimento: o cético pode nos desa-
fiar – Chuang Tzu sonhou que era uma borboleta, e não sabia,
ao acordar, se era um homem que sonhou ser uma borboleta,
ou uma borboleta que sonhou que ser um homem. Mas se toda
a vida é um sonho, nada podemos conhecer, pois sonhos são
ilusões. O que acontece nos sonhos não é real. Mas o que é real?
O que é verdade? O que é o conhecimento?
16
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 16 06/06/14 12:25
Há muitos quebra-cabeças sobre a verdade. Veremos o
famoso paradoxo do mentiroso (você acreditaria em mim se
eu lhe dissesse que sempre minto?) num capítulo mais adiante.
Outro, e talvez o mais provocador de todos, é a afirmação cética
ou relativista de que não há algo como uma verdade absoluta –
toda verdade é relativa àquele que a julga. A água parece quente
para mim, fria para você, mas não há uma questão de fato sobre
se ela está realmente quente ou fria. A mesa parece sólida, mas
o físico nos diz que ela é, em sua maior parte, espaço vazio –
há alguma questão de fato sobre isso? Talvez não exista uma
verdade absoluta, mas sim apenas o que é verdadeiro para mim,
verdadeiro para você, e assim por diante.
Como Platão nos mostrou, no diálogo Teeteto (170e-171c),
o relativismo global é autorrefutante. Ele é vulnerável à objeção
ad hominem de que, segundo seus próprios princípios, ao rejeitá-
-lo, eu torno essa recusa correta. O relativista tem de conceder
que para mim o relativismo é falso, e eu, falando como um não
relativista, digo que o relativismo é falso. Verdade não é relativa,
mas absoluta. Cada um de nós tem suas percepções, extrai juízos
nelas baseados, vê o mundo segundo sua própria perspectiva.
Mas o mundo é distinto de todos esses diferentes pontos de vista.
A verdade é objetiva. O mundo é um mundo de fatos que tornam
nossos juízos objetivamente verdadeiros ou falsos. Pelo menos,
isso é um ideal que nossos juízos procuram espelhar.
A teoria da verdade como
correspondência
Esse é o aspecto crucial do conceito de verdade. A verdade
corresponde ao que é real, aos fatos. Quando nos é exigido
encontrarmos a verdade, devemos estabelecer o que é o caso,
os fatos. Com efeito, essa ideia é encarnada em uma teoria
amplamente difundida, a teoria da verdade como correspon-
dência. De acordo com essa teoria, verdade é um conceito
relacional, assim como ser tio (ou tia) consiste em uma relação
17
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 17 06/06/14 12:25
de correspondência com um fato. (Alguém se torna tio quando
tem um sobrinho ou uma sobrinha.) Um pensamento ou uma
proposição é verdadeiro(a) nesses casos e somente nesses casos
em que efetivamente há o fato correspondente. (Um homem é
um tio nos casos – e somente naqueles – em que há um sobrinho
ou sobrinha que lhe corresponda.)
A resposta a uma questão imediatamente produz outras
questões. Aqui somos levados às seguintes questões ulteriores:
o que é um fato? O que é a relação de correspondência? Por
mais que essas questões sejam urgentes, há outra ainda mais – o
que é isso que dizemos ser verdadeiro ou falso? Dissemos aqui
“um pensamento ou uma proposição” – mas são pensamentos,
proposições, sentenças (cadeias de símbolos), crenças, ou o quê,
que devemos dizer que correspondem aos fatos, quando esses
são verdadeiros?
É claro que podem ser vários desses (“portadores de
verdade”), e outros mais. Por exemplo, se são as proposições
que são verdadeiras (ou falsas) e as coisas nas quais acreditamos
também forem proposições, então, de modo derivado, crenças
são verdadeiras quando forem crenças em proposições verda-
deiras, e falsas quando forem crenças em proposições falsas. O
mesmo vale para pensamentos, se o objeto de um pensamento
for uma proposição. Mas o que é exatamente uma proposição
– especificamente, ela seria o mesmo que uma sentença?
Com certeza, a palavra “proposição” por vezes é usada no
sentido de uma sentença declarativa, uma sentença na qual algo
é declarado (diferentemente, por exemplo, de uma pergunta
ou de um comando). Mas não podem ser as sentenças que são
verdadeiras ou falsas, ou pelo menos, não apenas elas. Sentenças
podem ser proferidas por falantes diferentes, em tempos distintos,
ou em lugares distintos, e são, desse modo, por vezes verdadei-
ras, e por vezes falsas. Por exemplo, quem quer que dissesse
“Kennedy é presidente” antes de novembro de 1963 teria falado
a verdade, mas se alguém proferisse a mesma sentença depois
disso, teria dito uma falsidade. Quando Kennedy disse “Sou um
18
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 18 06/06/14 12:25
americano”, ele estava sem dúvida falando a verdade, mas se
Khruschev tivesse dito a mesma sentença, isso teria sido falso.
Não resolveria nada dizer que sentenças, como outros objetos, de
tempos em tempos podem mudar do verdadeiro para o falso, e de
volta para o verdadeiro – Kennedy foi em um momento senador,
em outro, presidente; logo não poderia a sentença “Kennedy é
presidente” ser a um tempo verdadeira e em outro, falsa? No
entanto, Kennedy e Khruschev poderiam ter proferido “Eu sou
um americano” simultaneamente, um dizendo a verdade, o outro,
uma falsidade. Antes de dizer que a sentença é verdadeira para
um deles e falsa para o outro, ou que a verdade é relativa – pois
essa alternativa falha ao não levar em conta que o que era falso
de Khruschev o era para todos nós –, devemos focar naquilo
que há de diferente no que é dito por cada um deles, num caso
uma verdade, e no outro, uma falsidade. Kennedy disse que
ele, Kennedy, era americano, e isso era verdade. Khruschev, se
tivesse proferido aquelas palavras, teria dito que ele, Khruschev,
era americano, o que teria sido falso. Filósofos usam o termo
“proposição” para identificar exatamente as diferentes coisas
que Kennedy e Khruschev teriam dito. Uma mesma sentença
pode ser usada para expressar duas proposições distintas, para
dizer duas coisas diferentes. Inversamente, sentenças distintas
podem ser usadas para dizer uma mesma coisa. Por exemplo,
“está chovendo” e “it is raining”, ou “Kennedy é presidente”,
dita em 1963, e “Kennedy é presidente em 1963”, proferida
depois daquela data.
Quando uma sentença declarativa é proferida, em circuns-
tâncias normais, uma proposição é expressada – algo foi dito.
Algumas vezes isso não acontece – algumas sentenças, apesar
de gramaticalmente bem formadas, falham em exprimir uma
proposição, tais como “três é feliz”, ou a famosa “ideias verdes
sem cor dormem furiosamente”. Outras sentenças, apesar de
perfeitamente significativas, podem ser proferidas em circuns-
tâncias que as deixam completamente sem sentido, por exemplo,
“o presidente da Inglaterra voou para Genebra”, que não diz
19
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 19 06/06/14 12:25
coisa alguma uma vez que não há um presidente da Inglaterra.
Foram os filósofos que introduziram a ideia de proposição. A
função de uma proposição é constituir um objeto a partir da
ideia daquilo que foi dito ou expresso pelo proferimento de um
certo tipo de sentença, a saber, uma sentença no modo indicativo,
com sentido, e cujo aparato referencial não falhe. Desse modo,
uma proposição pode se tornar o objeto de um pensamento e de
uma crença, um fator comum entre diferentes pessoas e idiomas
distintos.
Outros filósofos recusam esse processo de abstração, que
produz um objeto abstrato, a proposição, correspondendo a
diferentes sentenças. Mas essa objeção é equivocada. Mesmo se
lidarmos com sentenças, estaremos abstraindo dos vários profe-
rimentos diferentes, mas similares, que os falantes produzem
do que chamamos de mesma sentença-tipo. Na terminologia
criada pelo lógico americano C. S. Peirce no final do século 19,
os eventos físicos de sonorização ou escrita de uma sentença são
1
chamados espécimes distintos de uma mesma sentença-tipo. A
mesma distinção entre tipos e espécimes pode ser feita no caso
de palavras, ações, sonhos e assim por diante. Peirce dizia que o
tipo “não existe”; certamente o tipo não é uma entidade concreta,
como um espécime. Mas existem palavras-tipo, sentenças-tipo,
e existem proposições comuns a todos os proferimentos (sejam
da mesma sentença-tipo ou não) que dizem a mesma coisa.
Certamente precisamos esclarecer a relação de equivalência (dizer
o mesmo que) sobre a qual abstraímos. Mas essa tarefa também
é necessária mesmo para as sentenças-tipo, ao articular o que é
comum a diferentes proferimentos (por, digamos, um carioca,
um paraibano e um mineiro) da mesma sentença. A familiari-
dade nos faz desconsiderar as dificuldades teóricas; elas não são
maiores no caso de proposições.
Proposições, ao receberem um dos dois valores de verdade,
como são chamados o verdadeiro e o falso, evitam relativizar
a verdade ao lugar, ao falante e ao tempo. Outra possibilidade
seria considerar que a sentença-espécime é o portador de verdade,
20
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 20 06/06/14 12:25
sendo então a sentença-tipo e a proposição correspondentes
verdadeiras em um sentido derivado, quando todas as sentenças-
-espécime têm o mesmo valor. Mas isso ignora uma importante
característica unificadora que a noção de proposição traz à tona,
a saber, que todas as sentenças-espécime têm o mesmo valor
justamente porque expressam a mesma proposição. É claro que
podemos não ser capazes de dizer se uma dada proposição é
verdadeira ou falsa, por exemplo, “Oswaldo matou Kennedy”
ou “todo número par maior que dois é igual à soma de dois
primos”. Não obstante, em cada um desses casos, uma proposi-
ção foi claramente expressada, algo que pode ser avaliado como
sendo verdadeiro ou falso.
Iremos, portanto, considerar que proposições são os portado-
res-de-verdade. Mas precisamos retornar agora a outras questões:
o que é isso que dá à proposição o valor de verdade que ela tem?
O que são fatos e o que é a relação de correspondência entre
proposições verdadeiras e fatos?
O que irei descrever é um paradigma para a teoria da
correspondência. Quando estiver claro o que é uma tal teoria,
suas variantes poderão ser consideradas, e poderemos pergun-
tar também em que medida elas expressam a ideia central de
verdade como correspondência. Mas iremos começar pela
teoria da correspondência em sua forma mais simples, limpa e
pura. A teoria da correspondência é uma teoria realista em dois
aspectos – ontológico e epistemológico, isto é, tanto em suas
implicações existenciais como em suas consequências para o
conhecimento. Segundo essa visão, o mundo é constituído por
fatos, fatos que existem independentemente de sabermos ou não
da sua existência.
Ontologia é o estudo de tipos de coisas que existem. Não é
um estudo empírico, científico, algum tipo de história natural. É
um estudo teórico ou conceitual, uma consideração sobre quais
são as implicações sobre o que deve haver no contexto de um
tratamento sistemático de nossa experiência. Um filósofo poderia
afirmar que existem mentes, assim como corpos, para explicar a
21
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 21 06/06/14 12:25
ação e a percepção humanas – seria um filósofo dualista. Outro
poderia negar a existência separada de mentes e fornecer uma
explicação da ação e da percepção como operações complexas
apenas da matéria física. Um terceiro poderia negar a existên-
cia da própria matéria, sugerindo que podemos dar conta da
nossa experiência sem ela, simplesmente como experiências das
mentes. Essas duas últimas teorias são monistas, pois afirmam
a existência de apenas um tipo de coisa, no primeiro caso, uma
teoria fisicalista, no segundo, idealista. Trata-se de uma questão
ontológica, a saber, que tipos de coisas existem.
A teoria da verdade como correspondência afirma que deve
existir mais do que isso – seja mente e/ou matéria. Além de mentes
e/ou corpos individuais, devem existir fatos, fatos acerca dessas
mentes e/ou corpos. Além das mentes e corpos, deve haver fatos
acerca deles. É a existência de fatos que torna verdadeiras as
proposições verdadeiras. Essa é uma alegação ontológica realista.
Além disso, ela é epistemologicamente realista. Os fatos que
tornam verdadeiras as proposições verdadeiras existem inde-
pendentemente de nossa capacidade de descobri-los. Alguns nós
descobrimos – sabemos que Kennedy foi presidente. Outros,
sabemos que não são fatos – Kennedy não teve um segundo
mandato. Um fato existiu, ele ter sido presidente, o outro não, ele
ter tido um segundo mandato. Sabemos um fato, e a inexistência
do outro. Mas outros fatos, ainda não descobrimos – e com
efeito, talvez nós nunca iremos descobrir. A comissão Warren
confirmou que Oswald matou Kennedy sozinho. Talvez ele tenha
feito isso, mas jamais saberemos com certeza. Entretanto, de
acordo com a teoria da correspondência, deve existir um fato
decisivo: ou foi um fato que Oswald matou Kennedy, ou não. A
proposição que Oswald matou Kennedy é verdadeira se existiu
um tal fato; falsa, se não existiu. Não podemos estar completa-
mente certos do que tenha sido o caso, mas ou bem existiu um tal
fato ou bem não existiu. Logo, ou a proposição é verdadeira ou
é falsa. Isto é, uma proposição ser verdadeira ou falsa, de acordo
com a teoria da correspondência, depende da existência do fato
22
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 22 06/06/14 12:25
correspondente, da existência de um certo tipo de objeto. Mas,
ou esse fato existe ou não existe. Assim, ou a proposição é
verdadeira ou ela é falsa. A ordem de explicação é a seguinte:
é natural pensar que ou um objeto existe, ou não – é isso que a
referência a um fato correspondente fornece à teoria da corres-
pondência. Desse modo, conectando a condição de verdade de
uma proposição a um objeto correspondente – o fato –, somos
naturalmente levados à bivalência – ou a proposição é verda-
deira (pois existe um fato correspondente) ou é falsa (pois não
existe tal objeto). Logo, toda proposição ou é verdadeira ou
é falsa, independentemente de nossa capacidade de descobrir
seu valor de verdade. Sua verdade depende simplesmente da
questão se existe um tal objeto, o fato correspondente. Dessa
forma, a teoria da verdade como correspondência nos leva a
um realismo epistemológico.
O realismo epistemológico da teoria da correspondência,
portanto, consiste em seu compromisso com o princípio conhe-
cido como lei da bivalência: toda proposição é verdadeira ou
falsa. Toda proposição – isto é, o que é expresso por uma
sentença significativa, proferida nas circunstâncias apropriadas
– ou bem tem um fato correspondente, o que a torna verdadeira,
ou bem não tem um tal fato correspondente, e é então falsa. Ao
tornar a verdade uma questão da existência de um certo tipo de
objeto, a teoria se compromete com a possibilidade de que propo-
sições sejam verdadeiras ou falsas, mas que talvez não tenhamos
como determinar quais são verdadeiras e quais são falsas. O
acaso poderia ter deixado claro que Oswald matou Kennedy,
mas as circunstâncias tornaram isso obscuro. Entretanto, ou
bem ele matou, ou bem ele não matou Kennedy – a proposição
é ou verdadeira ou falsa. (Vamos deixar de lado as objeções a
esse aspecto do realismo sobre a verdade para o Capítulo 8.)
Então são fatos que tornam proposições verdadeiras ou
falsas – mas em que consiste essa relação? Como um fato pode
tornar verdadeira uma proposição? Em que consiste a relação
de correspondência entre proposições e fatos?
23
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 23 06/06/14 12:25
A relação de correspondência é o calcanhar de aquiles da
teoria da correspondência. Ou a relação é tornada substancial
e interessante, e nesse caso parece implausível que ela ocorra,
ou a relação é tornada trivial e automática, e nesse caso a teoria
como que se evapora no ar. G. E. Moore, um dos principais
proponentes da teoria, candidamente apresentava as dificuldades
enfrentadas por ele:
a dificuldade [é] definir essa relação [que cada crença verdadeira
tem com um e apenas um fato]. Bem, admito que não posso defini-la,
no sentido de analisá-la completamente… Mas… daí não se segue que
não possamos saber perfeitamente bem o que é essa relação (Some Main
Problems of Philosophy, p. 267, grifo do autor).
O sinal de alarme deveria soar aqui. Se é tão óbvio que a relação
deve ocorrer, mas ainda assim é impossível decrevê-la, talvez
ela tenha sido inventada pela imaginação do filósofo. Vamos
comparar dois tratamentos da relação de correspondência, a fim
de tornar mais claro o dilema que se nos apresenta: em primeiro
lugar, o tratamento de proposições e fatos de Bertrand Russell,
no qual essa distinção ameaça desaparecer; em segundo lugar,
o tratamento de Wittgenstein, cujo realismo imoderado beira o
inaceitável.
Wittgenstein chegou em Cambridge para estudar com Russell
em 1911. As ideias de ambos se desenvolveram em paralelo,
mas a partir de 1913 eles não se encontraram, e durante a
Grande Guerra mal trocaram correspondências. De início, o
realismo de Russell foi sempre temperado pela epistemologia; o
de Wittgenstein, não – para ele, era a estrutura analítica correta
que importava, independentemente do quanto fosse psicologi-
camente implausível.
Em cada caso, a ideia era exibir a perfeita congruência entre
a estrutura linguística e a estrutura do mundo. Isso era parte do
método metafísico que visava compreender a natureza da reali-
dade por meio do exame do modo essencial pelo qual a realidade
24
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 24 06/06/14 12:25
era descrita. Até onde nos interessa aqui, a estrutura das propo-
sições revelaria a estrutura do fato correspondente. Para ambos,
a ideia era a de que proposições complexas deveriam ser anali-
sadas em – e desse modo reduzidas a – proposições elementares
ou atômicas. Mas então, como são essas proposições atômicas?
Para Russell, elas consistiam em um ou mais particulares e um
universal, por exemplo, a proposição expressada pela sentença
“Kennedy é presidente” contém dois objetos: Kennedy, uma
pessoa particular, e “ser presidente”, isto é, o atributo comum a
todas as coisas que são presidentes (Einsenhower, Reagan etc.).
A proposição deve ser distinguida da sentença, pois, por exem-
plo, “Kennedy é presidente” e “JFK é presidente” expressam a
mesma proposição, assim o que é comum a todas as sentenças
que expressam a mesma proposição é a referência aos mesmos
particulares. Dessa forma, dizia Russell, os próprios particulares
devem estar presentes na proposição, e o mesmo universal é a
eles atribuído.
Se a proposição consiste dos próprios particulares e univer-
sais, o que então é o fato? Para Russell, ele era algo distinto da
proposição. Para início de conversa, há proposições falsas, mas
não há “fatos falsos”. Fatos são como as coisas efetivamente são.
Assim, a cada fato correspondem várias proposições, aquela que
ele torna verdadeira e todas as que ele torna falsas. Mas, aqui,
podemos ficar incomodados com o problema de como exata-
mente distinguir fato de proposição. Não há problema algum
em conectá-los – a proposição contém os mesmos objetos que
constituem o fato, o que explica a relação de correspondência.
Mas o preço dessa explicação é corroer a distinção linguagem/
mundo.
A concepção de proposição de Wittgenstein era diferente –
para ele, isso era muito menos substancial. Vamos começar com
seu tratamento dos fatos. Fatos são fatos acerca de objetos; logo,
o que caracteriza a realidade, como as coisas efetivamente são,
é quais fatos existem. Os objetos devem ser comuns a todas as
possibilidades. Vamos chamar essas possibilidades de estados de
25
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 25 06/06/14 12:25
coisas, modos pelos quais os objetos, os mesmos em todos os
mundos possíveis, são arranjados. O mundo real consiste daque-
les estados de coisas que existem, isto é, os fatos. Proposições
elementares adquirem significado pela associação com – por
corresponder a – estados de coisas particulares. A parte visível
(ou audível) de uma proposição é uma sentença, uma sequência
de signos. Esses signos se tornam símbolos por um ato arbitrário
de correlacioná-los com objetos. Fatos acerca desses símbolos
logram assim, por convenção, asserir certos estados de coisas
sobre os objetos envolvidos. Assim, no cerne da teoria da verdade
como correspondência de Wittgenstein está uma teoria figura-
tiva do significado. Proposições elementares são fatos acerca de
nomes e, desse modo, são figurações (ou asserções) sobre estados
de coisas atômicos, isto é, certas combinações de objetos. Em
geral, proposições (por meio da conexão básica entre proposições
elementares e fatos atômicos) são figurações de supostos fatos,
ou estados de coisas.
A ideia, portanto, é usar a teoria do significado como uma
ponte sobre a lacuna entre a linguagem e o mundo, e correla-
cionar cada proposição com o estado de coisas correspondente,
sendo que essa correlação constitui o significado, ou sentido, da
proposição. As proposições verdadeiras são então simplesmente
aquelas proposições que são figurações de estados de coisas
que efetivamente existem, isto é, fatos. Proposições verdadeiras
correspondem aos fatos.
A teoria figurativa de Wittgenstein é sem dúvida alguma a
mais estruturada e articulada dentre todas as versões da teoria
da correspondência – ou, pelo menos, antecipando discussões
posteriores, dentre as versões nas quais proposições verdadeiras
correspondam diretamente a fatos. Contudo, há dúvidas que
podem ser levantadas sobre ela. Vamos nos concentrar em três.
Em primeiro lugar, como já foi mencionado, a teoria da
correspondência é uma teoria realista. Esse é um aspecto ao qual
vamos retornar somente no final do livro. No capítulo final, a
objeção será a de que esse tipo de realismo é incoerente porque
26
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 26 06/06/14 12:25
seu tratamento da verdade é incompatível com condições plau-
síveis impostas pela teoria do significado. Vimos que a aceitação
do realismo da teoria da correspondência nos compromete com
a lei da bivalência e, por conseguinte, a aceitar que podem existir
proposições acerca das quais nós não podemos, em princípio,
dizer se são verdadeiras ou falsas. Na terminologia usual, essas
são proposições de verificação-transcendente – sua verdade (ou
falsidade) transcende nossa capacidade de verificação. A questão
que precisaremos enfrentar mais tarde neste livro é como tais
proposições podem ser compreendidas. Pois uma proposição é
o que é expressado por uma sentença significativa (proferida
em condições apropriadas), e o que é significativo é o que pode
ser compreendido. A objeção que será apresentada é a seguinte:
fornecer um tratamento do significado e da compreensão que
inclua as proposições de verificação-transcendente. O realismo
ainda não respondeu a essa objeção.
Essa objeção pode esperar. No restante deste capítulo quero
desenvolver a segunda e terceira dúvidas e elaborar a partir delas
tratamentos alternativos da verdade.
Reducionismo
A segunda dúvida diz respeito ao reducionismo central ao
tratamento de Wittgenstein. Aqui há um contraste bem demar-
cado com a teoria de Russell. Era perfeitamente claro para Russell
que seria absurdamente extravagante supor, por exemplo, que
além dos fatos correspondentes a duas proposições verdadeiras,
digamos, “Kennedy é presidente” e “Oswald matou Kennedy”,
haveria um terceiro fato, algum tipo de fato conjuntivo, que
tornaria verdadeiro o enunciado conjuntivo “Kennedy é presi-
dente e Oswald matou Kennedy”. Se já sabemos dos dois fatos
separados, nenhuma informação adicional é fornecida pela sua
conjunção. “Já sabíamos” seria a pronta resposta. Não há um
fato extra por detrás da conjunção “A e B” de duas proposições
verdadeiras A e B, além dos fatos separados que tornam A e
27
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 27 06/06/14 12:25
B verdadeiras. Similarmente com disjunções, se uma de duas
proposições A e B é verdadeira, então a proposição disjuntiva “A
ou B” é verdadeira. Mas o que torna “A ou B” verdadeira não é
algum outro estranho fato disjuntivo, mas sim o mesmo fato que
torna um dos disjuntos (as proposições constitutivas da proposi-
ção disjuntiva) verdadeiro. Pensar de outra forma, para Russell,
seria transgredir a navalha de Occam, um aclamado princípio
metodológico em metafísica que, se não puder ser atribuído ao
próprio Guilherme de Occam (ou Ockam, um famoso pensador
do século 14), remonta pelo menos ao seu tempo. O princípio
diz: não postule mais tipos de coisas em uma explicação do que
for absolutamente necessário. No nosso caso, podemos explicar,
dentro da teoria da correspondência, por que uma proposição
conjuntiva é verdadeira sem postular um terceiro fato adicional
aos dois fatos separados que tornam os conjuntos (as proposições
constitutivas da proposição conjuntiva) verdadeiros.
Além disso, há outra consideração que nos impede de admi-
tir fatos conjuntivos e disjuntivos. Suponha que houvesse fatos
conjuntivos e considere duas proposições verdadeiras A e B.
Então, além dos dois fatos separados que tornem A e B verda-
deiras, teria de haver um terceiro fato para tornar a conjunção
de A e B, “A e B”, verdadeira. Mas então poderíamos perguntar
acerca da relação entre os primeiros dois fatos e o terceiro. De
que modo os dois primeiros forçam a existência do terceiro?
Deve haver um outro fato que os relaciona? Trilhar esse caminho
seria cair em um regresso vicioso: para explicar a relação entre
os primeiros dois fatos e o terceiro, apelaríamos a um quarto
fato relacionando-os; para explicar a relação entre esses quatro
fatos, precisaríamos apelar a um quinto, e assim por diante.
A explicação nunca seria completada. A máxima central do
atomismo é que os fatos são autônomos: nenhum fato deveria
depender de qualquer outro. Não deveria haver relação interna
alguma – relações lógicas, como implicação – entre existentes
distintos. O “fato conjuntivo” seria implicado pelos dois fatos
correspondentes aos seus componentes e, portanto, não poderia
ser uma entidade separada.
28
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 28 06/06/14 12:25
O melhor caminho seria afirmar que o quarto fato é desne-
cessário, pois o terceiro fato seria simplesmente a “conjunção”
dos dois primeiros. Talvez por “conjunção” queremos dizer aqui
que o terceiro fato tem os dois primeiros como partes (isso é
uma metáfora, por isso a palavra aparece entre aspas, pois uma
conjunção é na verdade um objeto linguístico, mas a noção de
conjunção aqui parece ter passado do lado da linguagem para o
lado do mundo, na relação de correspondência entre linguagem
e mundo). Mas agora nós vemos que o terceiro fato é desneces-
sário também. Nós não precisamos construir uma estrutura dos
fatos em correlação com a estrutura das proposições. Podemos
simplesmente explicar a verdade da conjunção “A e B” como um
resultado da verdade de A e de B, isto é, reduzi-la à verdade de
cada conjunto. Assim, nenhuma explicação adicional é necessária
além da explicação da verdade das proposições A e B, ou seja,
que cada uma corresponde a um fato.
O sonho dos atomistas lógicos, Russell e Wittgenstein, era o
de que a verdade de cada proposição pudesse ser reduzida desse
modo à verdade de proposições atômicas ou elementares. A
correspondência entre proposições verdadeiras e fatos (ou entre
proposições e estados de coisas, existentes ou não) funcionava
em dois estágios: primeiro, a verdade das proposições complexas
era reduzida à verdade das proposições elementares; depois, a
correspondência entre proposições elementares e estados de
coisas era traçada do modo que descrevemos. Foi a constatação
de que a redução ao nível atômico não funcionaria que levou
Wittgenstein a abandonar o atomismo lógico (e a teoria da
correspondência e o realismo).
Russell foi o primeiro a aceitar que a redução de todas as
proposições a proposições atômicas não poderia ser realizada.
Os casos problemáticos para ele eram as proposições negativas,
como “Oswald não matou Kennedy”, proposições gerais como
“Alguém matou Kennedy” ou “Ninguém matou Eisenhower”,
e proposições de crença, ou proposições que expressam atitu-
des epistêmicas, como “Ruby acreditava que Oswald matou
29
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 29 06/06/14 12:25
Kennedy” e “Oswald sabia que Kennedy estava em Dallas”.
Considere as do primeiro tipo, proposições negativas. Uma redu-
ção óbvia seria explicar a verdade de uma proposição negativa
como “Ruby não matou Kennedy” como resultado da verdade
de outra proposição incompatível com “Ruby matou Kennedy”.
Suponha que Oswald realmente matou Kennedy. Então esse
fato tornaria “Oswald matou Kennedy” verdadeira e, supondo
que estamos falando de um único assassino, essa proposição
é incompatível com “Ruby matou Kennedy”. Logo, “Ruby
matou Kennedy” seria falsa, e “Ruby não matou Kennedy”
seria verdadeira.
A objeção de Russell a essa explicação é a de que nela há a
ameaça de um regresso vicioso. Vamos escrever “não-A” para a
proposição negativa “Ruby não matou Kennedy”. A forma da
explicação é de que “não-A” é verdadeira se existir uma propo-
sição verdadeira B, incompatível com A. Mas “B é incompatível
com A” é uma proposição negativa. Para explicar sua verdade
nós precisaríamos de uma terceira proposição C incompatível
com “B é compatível com A” e assim por diante, de modo que a
verdade de “não-A” nunca receberia uma explicação completa.
Essa é uma objeção estranha. Pois o mesmo argumento
poderia ser utilizado com a mesma força no que diz respeito
a conjunções. Lembre-se que nosso tratamento da verdade de
“A e B” foi que tal proposição é verdadeira se A é verdadeira e
B é verdadeira. Aqui, a condição de verdade “A é verdadeira e
B é verdadeira” é ela própria uma conjunção. Similarmente, a
condição de verdade para uma proposição disjuntiva será uma
disjunção. Se é válida a objeção de que a condição de verdade
de uma proposição negativa não deve ser uma proposição nega-
tiva, então as condições de verdade de proposições conjuntivas
e disjuntivas não deveriam ser, respectivamente, conjunções
e disjunções. Se devem existir fatos negativos para explicar a
verdade de proposições negativas, então devem existir fatos
conjuntivos e disjuntivos para explicar a verdade de proposições
conjuntivas e disjuntivas.
30
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 30 06/06/14 12:25
Com efeito, parece que estamos a um passo de nos envolver em
um dilema. Apelar a fatos negativos e conjuntivos para explicar
a verdade de proposições desses tipos não será bem-sucedido
como uma explicação plena, pois nós iremos então precisar de
um tratamento da relação entre tais fatos e os fatos ou a ausência
de fatos que correspondem aos seus componentes. Por outro
lado, apelar a condições de verdade que reduzam a verdade de
tais proposições à verdade de suas proposições componentes
não será bem-sucedido como uma explicação plena até que nós
tenhamos um tratamento do que torna verdadeira a proposição
de mesmo tipo que expressa suas condições de verdade.
Será útil aqui retornar um passo, deixando para trás os
detalhes confusos da teoria da correspondência e tentar pensar
de modo mais geral acerca do nosso objetivo de fornecer um
tratamento filosófico da natureza da verdade. É nesse ponto que
aparecerá a terceira dúvida sobre a teoria da correspondência.
Teorias da verdade
Nossa questão original era: qual é a diferença entre propo-
sições verdadeiras e falsas? Fomos levados, pela ideia de que
para saber se uma proposição é verdadeira deveríamos olhar
para os fatos, a propor uma teoria geral segundo a qual
proposições verdadeiras correspondem a fatos, enquanto que
as falsas, não. Mas talvez uma metáfora nos tenha fascinado
e enganado. Com efeito, parece agora que um erro filosófico
muito comum foi cometido.
Considere a proposição “A baleia é um mamífero”. Claramente,
em um certo sentido, nós estamos falando acerca de baleias –
toda baleia é um mamífero. Mas por que a sentença está no
singular? De qual baleia nós estamos falando? De nenhuma
em particular. Entretanto, é tentador construir a proposição
como se referindo a algum arquétipo. Lembre-se das histórias
de Rudyard Kipling sobre como o camelo adquiriu sua corcova
e o elefante sua tromba. Nessas histórias, um elefante particular
31
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 31 06/06/14 12:25
representa a totalidade da espécie. Assim, nos surprendemos
falando como se existisse, além de cada baleia particular, uma
baleia genérica cujas propriedades são aquelas essenciais a todas
as baleias, uma baleia que representasse a natureza das baleias.
Poderíamos dizer que isso é a espécie baleia. A rigor, a espécie
está espalhada por milênios pelos oceanos do mundo. Portanto,
a espécie baleia não é em si mesma, literalmente, uma baleia.
Mas falar que o cavalo é um quadrúpede, que o dinossauro
dodó está extinto, que o rato é um animal noturno, nos leva
naturalmente, por uma figura de linguagem, a entender essas
sentenças como a predicação de uma propriedade a algum
indivíduo genérico.
Gylbert Ryle, na sua resenha do livro de Carnap Meaning and
Necessity, chamou de Princípio “Fido”-Fido a um erro similar
em teoria do significado. Posto que o nome “Fido” adquire seu
significado por meio da referência a um indivíduo singular, Fido,
e o mesmo ocorre a um grande número de palavras, é tentador
supor que outras palavras funcionem da mesma forma. Russell
caiu nessa armadilha em seu tratamento dos universais: nós já
mencionamos seu tratamento das proposições atômicas como
sendo constituídas por um grupo de indivíduos e um universal.
Considere a sentença “Fido é um cachorro”. “Fido” se refere a
um indivíduo. A que palavra “cachorro” se refere? Com certeza,
a muitos indivíduos – todos os cachorros. Mas segundo a teoria
“Fido”-Fido, a palavra “cachorro” deveria adquirir seu signifi-
cado por estar correlacionada a uma única coisa – a propriedade
de “ser um cachorro”, ou o universal cachorro. Fido é um parti-
cular; a propriedade de ser um cachorro é um universal, comum
a muitas coisas, e pode ser predicada a todos os cachorros. As
proposições de Russell foram por ele concebidas como sendo o
significado das sentenças. Portanto, segundo Russell, elas devem
conter essas entidades genéricas, os universais.
Não temos garantias de que esse passo seja correto; mas uma
tentação similar nos aguarda no caso dos fatos. Se proposições
verdadeiras são aquelas que se adequam aos fatos, então não
32
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 32 06/06/14 12:25
existiriam fatos específicos correspondendo, um para um, a
cada proposição verdadeira? A palavra “fato” em uma sentença
como “É um fato que Kennedy foi assassinado” é vista como
adquirindo seu significado por meio da referência a um fato,
algum correlato real da proposição “Kennedy foi assassinado”.
Talvez a teoria da verdade como correspondência também caia
no mesmo erro do Princípio “Fido”-Fido.
Vamos considerar, de modo geral, o que estamos fazendo
quando dizemos que uma proposição é verdadeira, e o que esta-
mos perguntando quando nos deparamos com a pergunta sobre
o que é a verdade. Essas são questões semânticas, questões que
têm a ver com a relação entre a linguagem e o mundo. Em geral, a
semântica é concebida de modo a abarcar pelo menos três aspec-
tos: verdade, significado e referência. Referência, está claro, é a
relação entre uma palavra ou frase e algum objeto no mundo.
Um caso paradigmático de referência, por exemplo, é o uso de
uma frase demonstrativa como “aquele pepino” ou um nome
próprio como “Kennedy”. Uma tal frase é usada para se referir
a um pepino específico, ou uma pessoa específica. Já pensar,
como fazem alguns filósofos, que outros tipos de palavras se
referem a outros tipos de coisas é mais duvidoso. Mencionamos
que Russell, por exemplo, acreditava que predicados, verbos e
adjetivos se referem a universais, de modo que “é presidente”
se refere à propriedade de ser presidente, e “corre” àquilo que
é comum a todas as coisas que correm. Outros filósofos negam
que a noção de referência tenha qualquer aplicação a essas
partes do discurso.
É mais difícil fazer comentários gerais acerca da noção de
significado. Russell e outros simplesmente identificavam signi-
ficado com referência, de modo que o significado de “aquele
pepino” é idêntico àquilo que é referido pela expressão, a saber,
o pepino. Daí se segue que, para Russell, o significado de uma
sentença é a proposição expressada por ela, a qual consiste
dos objetos referidos, os particulares e o universal. Mas em
geral a maioria das teorias semânticas distinguem significado
33
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 33 06/06/14 12:25
e referência. Algumas, apesar de distinguirem significado e
referência, continuam a pensar no significado como um objeto
correlacionado à sentença, seja um objeto mental, uma ideia na
mente, ou algum objeto abstrato, algo imaterial e não físico,
ainda que distinto da mente individual e da consciência. É
algo que nós podemos pensar sobre, e desse modo tem alguma
existência objetiva e independente do mental. Outros filósofos
negam que o significado seja qualquer forma de correlação de
uma sentença com um objeto. É, antes, uma propriedade da
sentença – que a sentença é significativa.
Em terceiro lugar, há a noção semântica de verdade, nova-
mente, uma propriedade de uma expressão, dessa vez uma
sentença em sua relação com o mundo. Alguns filósofos entendem
essa relação segundo o modelo da referência, de modo que (para
Gottlob Frege) sentenças verdadeiras se referem ao Verdadeiro,
falsas se referem ao Falso. Esses objetos, o Verdadeiro e o Falso,
são os valores de verdade. Russell, mesmo sem aceitar o esquema
tão simplificado de Frege, foi seduzido pela ideia de que a relação
de correspondência era uma relação de referência. Mas, sendo
assim, para Russell proposições verdadeiras se referiam a fatos:
a proposição que Kennedy era presidente se referiria ao fato
de que Kennedy era presidente. Mas nesse caso, o que seria a
referência de proposições falsas? Não convencido pela sugestão
de que suas referências seriam estados de coisas não existentes,
Russell abandonou a referência como modelo e tentou fornecer
um outro tratamento da relação de correspondência.
Vimos alguns dos problemas envolvidos na tentativa de
elaborar uma teoria da verdade como correspondência. Nossa
tarefa agora é estabelecer um quadro conceitual para a elabora-
ção de uma teoria semântica, em particular, para a elaboração
de uma teoria da verdade. Lembre-se do problema que tínha-
mos: a condição de verdade de uma proposição negativa da
forma “não-A” é, ela própria, negativa – “não-A” é verdadeira
se A não é verdadeira; e para um enunciado conjuntivo da forma
“A e B”, a condição de verdade é uma conjunção – “A e B” é
34
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 34 06/06/14 12:25
verdadeira se A é verdadeira e B é verdadeira. Há um regresso
vicioso ou mesmo uma circularidade aqui? Será que já estamos
pressupondo o que tentamos explicar – estamos pressupondo
uma compreensão de proposições negativas ao fornecer uma
explicação de proposições negativas, e o mesmo para conjunções,
disjunções, e assim por diante? Precisamos lançar mão de fatos
negativos, fatos conjuntivos etc. para tratar a verdade de proposi-
ções negativas e conjuntivas? Quando dizemos, por exemplo, que
“não-A” é verdadeira se e somente se A não for verdadeira, isso
é uma explicação adequada ou precisamos substituir a “condição
de verdade” “A não é verdadeira” por alguma referência a um
fato negativo, como “é um fato que não-A”?
Será útil aqui lançar mão de uma distinção, introduzida por
Alfred Tarski, entre linguagem-objeto e metalinguagem. Veremos
mais adiante que a teoria de Tarski não é uma teoria da corres-
pondência. Mas além de uma teoria da verdade, Tarski elaborou
uma teoria de teorias da verdade. Claramente, ao elaborar uma
teoria semântica, nós precisamos de uma linguagem na qual
essa teoria será expressada, uma linguagem que pode ou não ser
diferente da linguagem cuja semântica queremos descrever. Esta
última, o objeto da nossa teoria, Tarski chamou de linguagem-
-objeto; a primeira, a linguagem na qual a teoria é enunciada,
ele chamou de metalinguagem. Por exemplo, a linguagem-objeto
pode ser o polonês, enquanto que a metalinguagem é o alemão,
ou a linguagem-objeto pode ser o francês e a metalinguagem,
o inglês. Poderíamos até mesmo tentar elaborar a semântica da
linguagem-objeto na própria linguagem-objeto, de modo que
ambas fossem, digamos, o inglês. Entretanto, a mesma linguagem
está realizando tarefas distintas. Esse é o modo como procedemos
até aqui neste capítulo.
Tarski enxergou um problema insuperável nesse último
caminho, que surge da existência de paradoxos semânticos,
que trataremos no Capítulo 6. O que ele recomendou foi que
pelo menos dividíssemos a linguagem em partes: pegue todas as
proposições que não contêm conceitos semânticos e considere
35
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 35 06/06/14 12:25
essa a linguagem-objeto básica. Aumente então a linguagem
incluindo conceitos semânticos que se aplicam ao nível básico,
o da linguagem-objeto, mas não ao seu próprio nível. Essa é a
primeira metalinguagem, ou o primeiro metanível. Se quisermos
elaborar uma teoria semântica para esse nível, que contém os
conceitos semânticos do nível básico, precisamos passar para
uma metametalinguagem, que contenha os conceitos semânticos
para o primeiro nível, mas não para si mesma, e assim por diante.
Assim, qualquer linguagem é dividida em níveis, uma hierarquia
de linguagem e metalinguagem.
Iremos examinar, no Capítulo 6, se essa regimentação é neces-
sária ou mesmo exequível. Mas neste momento ela fornece uma
resposta ao nosso presente problema. Ao elaborar qualquer teoria
nós precisamos de uma linguagem para tal teoria e precisamos
pressupor que ela é compreendida e coerente. As negações e
conjunções da metalinguagem nos são dadas, não estamos elabo-
rando a semântica da metalinguagem. Nós usamos os recursos
da metalinguagem para elaborar as condições de verdade das
proposições da linguagem-objeto.
É um exercício útil estabelecer que recursos precisamos ter na
metalinguagem para podermos fazer isso. Para começar, preci-
samos ser capazes de nos referir às proposições da linguagem-
-objeto. Por exemplo, se vamos dizer “‘Kennedy é presidente’
é verdadeira se e somente se…”, temos de ser capazes de nos
referir à proposição da linguagem-objeto “Kennedy é presi-
dente”. Também queremos poder dizer “‘não-A’ é verdadeira
se e somente se…”; logo, precisamos de meios para nos referir
aos vários tipos de proposições da linguagem-objeto, “não-A”,
“A e B” etc. Em geral, o que precisamos é de um modo de nos
referir às expressões da linguagem-objeto, pois nós especificamos
as proposições da linguagem-objeto (as proposições abstratas
expressadas por várias sentenças particulares) indiretamente
via referência a sentenças e expressões da linguagem-objeto. Um
modo muito comum de fazer isso, que nós estamos usando aqui,
é formar nomes com aspas. Apresentamos a própria expressão,
entre aspas, como um nome da expressão. Se, por exemplo,
36
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 36 06/06/14 12:25
estivéssemos usando o português como metalinguagem para
descrever a semântica do inglês, nós apresentaríamos a expressão
inglesa, entre aspas, como um nome em português da expressão
em inglês: por exemplo, “‘The snow is white’ é verdadeira se…”.
Outros modos de nomear expressões são possíveis, mas nomes
com aspas são muito convenientes e facilmente decodificados.
Poderíamos nos referir às palavras por meio das suas posições
em um certo dicionário, por exemplo “a proposição expressada
pela primeira palavra da p. 331 do vol. Si-St do Oxford English
Dictionary, seguida pela terceira palavra da p. 499 do vol. I-K,
seguida pela décima-sexta da p. 70 do vol. Wh-X”. Ou poderí-
amos formar nomes associando cada letra a um número ímpar,
e cada sentença ao produto de uma cadeia de números primos
elevados à potência associada às suas letras constitutivas (Kurt
Gödel introduziu esse método de atribuir nomes a expressões em
um famoso artigo de lógica de 1931, que é hoje frequentemente
denominado “numeração de Gödel”). Em um tal esquema,
a menor sentença da Bíblia recebe um número de Gödel da
ordem de 10332. Esses dois métodos não são tão fáceis de usar
e, particularmente, de decifrar, como o método dos nomes com
aspas. Entretanto, o ponto essencial é a necessidade de decodi-
ficar: dado um tal número, deve existir um procedimento para
determinarmos qual expressão ele nomeia. (Em um caso, nos
dirigimos ao Oxford English Dictionary, no outro, fatoramos
o número e examinamos os expoentes de seus fatores primos.)
Uma vez adotado algum sistema para nomear as proposições
expressadas pelas sentenças da linguagem-objeto, agora precisa-
mos definir um predicado-verdade. Há uma série de restrições
no que constitui uma definição apropriada. A mais importante,
talvez, é que o poder de expressão da metalinguagem não seja
inferior ao da linguagem-objeto. Não seremos capazes de espe-
cificar as condições sob as quais cada proposição é verdadeira
se não pudermos expressar na metalinguagem tudo o que pode
ser expressado na linguagem-objeto. Por exemplo, para darmos
as condições de verdade de “Kennedy é presidente”, precisamos
ser capazes de nos referir a Kennedy; para darmos as condições
37
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 37 06/06/14 12:25
de verdade de proposições negadas (em geral), precisamos ser
capazes de expressar a negação; e assim por diante. Desse modo,
a cada proposição da linguagem-objeto será correlacionada uma
sentença da metalinguagem com o mesmo significado. Podemos
agora propor como uma exigência mínima a teorias da verdade
uma que se tornou célebre por receber o nome de Tarski, uma
condição de adequação: nada merece o nome de teoria da verdade
se não puder produzir, no mínimo, todas as proposições da forma
S é verdadeira se e somente se p,
onde p é substituída por uma tradução na metalinguagem da
sentença da linguagem-objeto cujo nome substitui S.
Vejamos alguns exemplos. Primeiro, considere que a lingua-
gem-objeto é o alemão e a metalinguagem, o português. Vamos
usar nomes com aspas para nos referir às expressões do alemão.
“Es regnet” é traduzida para o português como “Está chovendo”.
Assim, uma exigência mínima para uma teoria da verdade (em
português) do alemão é que entre suas consequências deve estar
“Es regnet” é verdadeira se e somente se estiver chovendo.
A teoria precisaria incluir todos os outros pares, associando
cada proposição em alemão à sua tradução em português, isto
é, a uma proposição do português que diga a mesma coisa e que
estabeleça quando a proposição em alemão é verdadeira. Para
o segundo exemplo, considere o português como sua própria
metalinguagem (se necessário, regimentada em uma hierarquia
do tipo de Tarski, para evitar paradoxos). A teoria deve impli-
car, no mínimo, todos os bicondicionais (isto é, enunciados “se
e somente se”) tais como
“Está chovendo” é verdadeira se e somente se estiver chovendo.
Tarski chamou essa exigência mínima de “condição de
adequação material”. Qualquer teoria que não atenda a esse
requisito estará fornecendo condições de verdade erradas para
as proposições da linguagem-objeto. Isso pode ser considerado
38
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 38 06/06/14 12:25
parte de um conjunto de exigências que devem ser atendidas por
uma teoria semântica: as exigências formais, segundo as quais
deve haver modos decodificáveis de nos referirmos às proposições
da linguagem-objeto, de que as definições sejam formalmente
corretas etc.; e essa condição material, de que a teoria não deve
correlacionar proposições da linguagem-objeto com condições
de verdade na metalinguagem que digam algo diferente.
Teorias da verdade minimalistas
Será que podemos extrair mais do que isso da condição
de adequação material? Não poderíamos considerar que as
sentenças-T (o conjunto de enunciados da forma “S é verda-
deira se e somente se p”) fornecem uma expressão adequada da
teoria da verdade como correspondência? Pois o que nós temos,
como foi indicado no último parágrafo, é uma correlação entre
proposições da linguagem-objeto, de um lado, e fatos – ou pelo
menos estados de coisas, existentes, ou não –, do outro. Mas
isso é ler coisas demais no esquema-T, isto é, no esquema para
as sentenças-T. Certamente uma teoria da correspondência
deveria satisfazer a condição de adequação material – todas as
sentenças-T deveriam ser implicadas por ela. Mas é a teoria da
correspondência, não a condição de adequação material, que
interpreta o lado direito como uma referência a fatos ou estados
de coisas. No esquema, há uma correlação entre a linguagem e o
mundo; no lado esquerdo, uma referência a entidades linguísticas,
e no lado direito – alguém poderia ter a coragem de alegar –, uma
“referência” não linguística, sua condição de verdade. Mas é um
passo adiante ler naquela descrição uma referência metafísica a
fatos. A teoria da correspondência envolve uma metafísica de
fatos e estados de coisas correlacionados a proposições. Esse
é seu erro fundamental: construir a semântica da verdade em
analogia com a referência de “Fido”. O esquema-T é neutro
no que diz respeito a essa questão. Qualquer teoria semântica
irá estabelecer uma correlação entre a linguagem e o mundo; a
metafísica da teoria da correspondência concebe isso como uma
correlação entre proposições e fatos.
39
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 39 06/06/14 12:25
O próprio Tarski também apresentou uma teoria da verdade,
que não deve ser confundida com sua condição de adequação
material, a ser atendida por qualquer teoria da verdade. Sua
própria teoria da verdade era próxima das teorias da correspon-
dência de Russell e Wittgenstein – mas sem a referência a fatos.
Deixando de lado a linguagem natural, vulnerável a paradoxos
semânticos por ser semanticamente fechada, ele mostrou como
construir uma semântica para uma linguagem formal, uma
linguagem especificada pela descrição inicial de uma classe de
sentenças atômicas, seguida por um tratamento recursivo de
como sentenças complexas são construídas a partir de senten-
ças mais simples. (Chamar isso “recursivo” significa que, dada
qualquer cadeia de símbolos, podemos checar formalmente se ela
é bem formada e se constitui uma legítima sentença.) Sentenças
atômicas são constituídas de nomes e predicados, cada um asso-
ciado a alguma entidade não linguística: nomes com objetos,
predicados com propriedades, ou relações, ou conjuntos. Uma
sentença atômica é verdadeira se os objetos por ela nomeados
têm a propriedade ou são ligados pela relação associada ao predi-
cado. (Por exemplo, “Sortes currit” é verdadeira se e somente se
o objeto denotado por “Sortes” tem a propriedade associada a
“currit”.) Sentenças complexas são tratadas do modo que vimos
antes: “não-A” é verdadeira se A não é verdadeira; “A e B” é
verdadeira se A é verdadeira e B é verdadeira; e assim por diante.
(Na verdade, Tarski forneceu a definição recursiva da noção de
“satisfação” – s satisfaz “não-A” se s não satisfaz A, e assim por
diante – e definiu verdade em termos de satisfação. Mas essa é
uma complicação que podemos ignorar aqui.) Dois pontos são
importantes: foi mostrado que a definição de verdade, embora
distinta das condições de adequação material – isto é, a teoria
de Tarski sobre teorias da verdade –, atendia tais condições; e
em lugar algum da definição de verdade, nem da teoria sobre
teorias da verdade, há qualquer comprometimento explícito a
uma determinada metafísica da verdade.
40
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 40 06/06/14 12:25
O que podemos ler de modo mais plausível no tratamento
de Tarski – embora, vale lembrar, não seja implicado por ele
– é um tratamento da verdade metafisicamente minimal. Um
tal tratamento pode ser de três formas: uma denomina-se a si
mesma “minimalismo” e afirma que o conjunto das sentenças-T
esgota o que há para ser dito acerca da verdade; um tratamento
minimal mais antigo é a teoria da “redundância”; e uma versão
mais recente é a chamada teoria “prossentencial”. Dentre essas
três formas, vamos ver agora a segunda e a terceira.
De acordo com a teoria da correspondência, o predicado-
-verdade é um predicado substantivo, que atribui uma proprie-
dade relacional a proposições. Em virtude de sua correlação com
fatos, proposições verdadeiras têm uma propriedade real, uma
propriedade que as distingue das proposições falsas. Isso é negado
pela teoria da redundância. Ela diz que verdade é redundante
no sentido que predicar verdade a uma proposição não diz nada
além da asserção da própria proposição. Vejamos um exemplo:
“‘Matilda é sensível e brilhante’ é verdadeira” não é, de acordo
com a teoria da redundância, e apesar das aparências, uma afir-
mação acerca de uma proposição, atribuindo-a a propriedade
da verdade. Antes ela seria uma afirmação acerca de Matilda,
dizendo que ela é sensível e brilhante. Ela diria nada além ou
aquém do que a proposição “Matilda é sensível e brilhante”.
Nenhuma teoria da verdade é necessária, pois não haveria uma
tal coisa como a verdade. As sentenças-T de Tarski são verda-
deiras porque seus lados direito e esquerdo são essencialmente
idênticos – diferem apenas notacionalmente.
O que significa dizer que verdade não é uma propriedade real?
O exemplo filosófico mais comum de uma recusa desse tipo é da
noção de existência, que veremos em algum detalhe no Capítulo
5. A versão de Descartes do argumento ontológico da existência
de Deus afirma que, posto que existência é uma perfeição e Deus
tem todas as perfeições, Deus deve existir. A resposta de Kant
foi que perfeições são propriedades (propriedades que tornam
aquele que as possui melhor de algum modo) e existência não é
41
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 41 06/06/14 12:25
uma propriedade, logo o argumento falha. Posto que não existe
diferença alguma entre, digamos, um Deus e um Deus existente,
ou entre uma mesa e uma mesa existente, existência não é uma
propriedade. Se a mesa não existe, não há mesa alguma. Para
ter quaisquer propriedades, aquilo que possui as propriedades
deve existir. Logo, a existência não pode ser uma propriedade.
Nem sempre podemos confiar na linguagem. Considere a
sentença “Está chovendo!”. Perguntar “O que é isso que está
a chover?” revela uma ignorância do português ou estupidez
filosófica. Sem dúvida, uma resposta pode ser produzida, mas na
verdade a sentença não serve para predicar “chuva” de alguma
coisa. Ela significa que há chuva, que a chuva está caindo.
Gramaticalmente, a sentença tem a forma sujeito-predicado,
mas não há sujeito algum. Do ponto de vista lógico, há apenas
um predicado.
A predicação da verdade é enganadora de modo similar. Se
nós afirmamos uma proposição, nós a afirmamos como verda-
deira. Logo, dizer que ela é verdadeira nada acrescenta. É isso
o que as sentenças-T nos mostram. Mas as sentenças-T não são
apenas uma condição mínima para testar uma teoria da verdade
substancial. Antes, elas nos mostram que não há substância
alguma na noção de verdade.
Por que então a linguagem tem um predicado-verdade? Se
tudo o que pode ser feito com ele pode ser feito sem ele, qual é a
utilidade de um predicado-verdade? Dizer que verdade não é uma
propriedade real, e que a noção de verdade não é substantiva,
não é o mesmo que dizer que a noção de verdade não tem utili-
dade, nem que tudo o que pode ser feito com ela pode ser feito
sem ela. O predicado-verdade permite que façamos afirmações
gerais que não poderíamos fazer sem ele. Considere a frase “o
que John disse é verdade”, e suponha primeiro que o que John
disse foi “Oswald matou Kennedy”. Assim, podemos reformular
a frase como “‘Oswald matou Kennedy’ é verdadeira”, e então
42
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 42 06/06/14 12:25
descartar o predicado-verdade, redundante, obtendo “Oswald
matou Kennedy”. Temos a mesma afirmação feita por John.
Mas suponha que nós não sabemos o que John disse – nós
estamos endossando sua frase não porque sabemos o que ele disse
e também acreditamos nisso, mas talvez porque sabemos que
John nunca mente, ou porque alguém nos disse para acreditar
nele. O predicado-verdade nos habilita a endossá-lo sem repetir o
que ele disse. Nossa frase inclui a generalidade: “o que quer que
John tenha dito (naquela ocasião)...”, isto é, “para toda propo-
sição, se John proferiu tal proposição (naquela ocasião), então
tal proposição é verdadeira”. Um dos primeiros proponentes da
teoria da redundância foi Frank Ramsey. Ele fez uma observa-
ção interessante. Suponha que todas as proposições tivessem a
forma aRb – por exemplo, “Oswald matou Kennedy”. Então,
poderíamos dizer “para todos os nomes e predicados a, R e b,
se John disse que aRb, então aRb”. Em particular, se John disse
que Oswald matou Kennedy, então Oswald matou Kennedy.
Aqui, no consequente do condicional (a parte depois do “então”)
existe um verbo (R). Portanto, não precisamos acrescentar “é
verdadeira”. Mas nem todas as proposições são da forma aRb
– há um número ilimitado de diferentes formas de proposições.
É impossível percorrer todas as formas de proposições possíveis.
Logo, dizemos “o que quer que John disse...”, e agora precisamos
de um verbo no consequente; nós não podemos simplesmente
concluir “...essa proposição”. O predicado-verdade cumpre o
papel de um tal verbo: “...essa proposição é verdadeira.”
Em que sentido, então, a verdade é redundante? Não é que
tudo o que pode ser feito com o predicado-verdade pode também
ser feito sem ele. Nesse sentido, ele não é redundante. Do ponto
de vista gramatical ele é requerido, como um “falso verbo”.
Mas do ponto de vista lógico e metafísico ele é redundante. O
predicado-verdade não adiciona coisa alguma à sentença à qual
é acrescentado. Não existe uma condição que possa comple-
tar o critério “proposições verdadeiras são aquelas que...”.
43
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 43 06/06/14 12:25
Seguindo Tarski, podemos tomar casos particulares: “‘Oswald
matou Kennedy’ é verdadeira se e somente se Oswald matou
Kennedy.” Seguindo Ramsey, podemos generalizar parcial-
mente: “proposições verdadeiras da forma ‘aRb’ são aquelas
que aRb.” Se tentamos generalizar completamente, tudo o que
obtemos é “proposições verdadeiras, p, são aquelas que...” – p?
Não, não podemos dizer isso, não é gramaticalmente correto:
“é verdadeira” deve ser adicionado, como um “falso verbo”.
Mas isso, certamente, não ajuda muito e é trivial: “proposições
verdadeiras p são aquelas em que p é verdadeira.”
A teoria da redundância tem um ponto importante e benéfico.
Ela evita a procura por uma metafísica da verdade em termos
de objetos, a busca por uma propriedade real das proposições
verdadeiras. Mas há mais acerca da verdade do que a mera repe-
tição – o ponto sobre generalidade mostra isso. E mais: a simples
repetição do que outra pessoa falou perde o caráter de endosso.
É isso que o tratamento prossentencial acrescenta à teoria da
redundância. Dizer que uma proposição é verdadeira é fazer mais
do que repeti-la, é endossá-la também. A teoria da redundância
está correta em negar que a verdade é uma propriedade real; ela
erra ao insistir que o predicado-verdade é realmente redundante.
Isso é mostrado já pelo ponto acerca da generalidade. Mais
importante, entretanto, é a natureza anafórica da predicação de
verdade. Dizer “isso é verdade” ou “o que John disse é verdade”
é essencialmente se referir a outra afirmação – mas não predicar
uma propriedade real a tal afirmação.
O epíteto “prossentencial” é um neologismo, uma palavra
criada por analogia com “pronominal”. Pronomes anafóri-
cos servem para nos referirmos a outros nomes, e obtermos
a referência de tais nomes. Por exemplo, em “Peter abriu a
porta, ele pegou a correspondência”, “ele” se refere ao uso
de “Peter” na primeira sentença. De modo similar, em “Peter
pegou sua correspondência”, “sua” (se usado anaforicamente)
se refere a “Peter”. Nesses casos, temos o que se chama de
44
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 44 06/06/14 12:25
pronomes-por-preguiça; seu sentido é dado essencialmente ao
se colocar no lugar de um nome. Deixando de lado a falta de
estilo, poderíamos substituí-los pelo antecedente, por exemplo:
“Peter pegou a correspondência de Peter” – temos de ignorar a
sugestão, produzida pelo uso repetido de “Peter”, de que estamos
nos referindo a duas pessoas diferentes. Note que o antecedente
de um pronome (não definimos essa noção precisamente) pode vir
após o pronome, por exemplo: “Quando ele abriu a porta, Peter
pegou sua correspondência.” O antecedente de “ele” na primeira
oração (subordinada) é “Peter” na segunda oração (principal).
Nem todos os pronomes anafóricos são pronomes-por-
-preguiça. Por exemplo, em “Alguém abriu a porta. Ele pegou
a correspondência”, não podemos, preservando o sentido,
substituir “ele” por “alguém”. Gareth Evans chamava casos
desse tipo de “pronomes tipo-E”. Para substituí-los por um
termo nominal, temos de construir uma expressão em função
do contexto: “Alguém abriu a porta. A pessoa que abriu a porta
pegou a correspondência.” Aqui também tais pronomes servem
para se referir a algo que já foi referido antes, mas eles não podem
simplesmente ser substituídos pela expressão antecedente. Um
terceiro tipo de pronome anafórico é o uso quantificacional.
Considere a proposição “todo estudante trouxe a sua foto do
passaporte”: “sua” é anafórico, mas não pode ser substituída
pelo antecedente, nem existe uma sentença ou oração anterior
que permita a construção de um termo nominal. A proposição
não significa “todo estudante trouxe a foto do passaporte de todo
estudante”, logo “sua” não é um pronome que esteja no lugar
de um nome. Ele se refere ao quantificador “todo” e extrai dele
sua referência (outros quantificadores são “algum”, “nenhum”,
“cada”, “qualquer” etc.).
A verdade tem uma função anafórica similar. “‘Oswald
matou Kennedy’, disse John. ‘Isso é verdade’, respondeu Mary.”
Nós poderíamos primeiro identificar “isso” como um pronome
anafórico, mas podemos ir além. A frase inteira “isso é verdade”
45
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 45 06/06/14 12:25
pode ser substituída pelo seu antecedente. Tudo o que Mary diz
é “Oswald matou Kennedy”. Mas ao fazê-lo, ela endossa o que
John havia dito. Isso é o que escapa à teoria da redundância.
O acréscimo do elemento anafórico completa o tratamento da
verdade. Outros usos prossentenciais da verdade são do tipo-E:
“John disse alguma coisa. Se isso era verdadeiro, então...” –
aqui nós não podemos substituir “isso” por “alguma coisa”,
nem podemos reduzir “o que John disse era verdadeiro” ao que
John disse. “Isso era verdadeiro” é uma prossentença por meio
da qual designamos a referência do que John disse. Outros usos
são quantificacionais, por exemplo: “nada do que John diz é
verdadeiro” – isto é, para toda proposição p, se John disse p,
então p não é verdadeira. Nós não podemos substituir “p” em “p
não é verdadeira” por qualquer antecedente aqui, ainda que “p
não é verdadeira” se refira ao seu antecedente quantificacional,
“tudo o que John disse”.
A verdade não é uma propriedade. Nós não podemos caracte-
rizar as proposições verdadeiras, pois não há uma característica
comum compartilhada pelas proposições verdadeiras. As senten-
ças-T nos mostram que predicar a verdade de uma proposição é
equivalente a asserir essa proposição. O que o predicado-verdade
acrescenta é a generalidade: nos torna capazes de fazer afirmações
gerais abstraindo das particulares; e o endosso: o papel anafórico
da verdade ao responder e comentar outras afirmações.
Resumo e sugestões para leituras
Nossa primeira tentativa de responder à pergunta “o que é
a verdade?” nos levou a um quebra-cabeças metafísico acerca
da natureza dos fatos e de como eles se relacionam com (isto
é, correspondem a) proposições verdadeiras. A perplexidade
de G. E. Moore diante desse problema pode ser lida em seu
Some Main Problems of Philosophy, organizado por H. D.
Lewis, capítulo 14-15, palestras ministradas em Cambridge em
46
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 46 06/06/14 12:25
1912 e nos anos seguintes (embora não publicadas até muito
tempo depois). A resposta de Russell, seu atomismo lógico que
lia a natureza da realidade na estrutura lógica da linguagem,
foi publicada em suas palestras “The Philosophy of Logical
Atomism”, reimpressas em Logic and Knowledge, ed. R. C.
Marsh. O atomismo lógico mais meticuloso de Wittgenstein,
no qual a teoria figurativa do significado funciona como a
ligação entre a linguagem e o mundo, pode ser encontrado no
Tractatus Logico-Philosophicus, traduzido por D. Pears e B.
McGuiness. Mas o estilo do Tractatus é opaco, e uma visão
geral mais clara das teorias de correspondência e do atomismo
lógico encontra-se em Philosophical Analysis de J. Urmson ou
em The Correspondence Theory of Truth de D. J. O’Connor.
As objeções às teorias da correspondência em que me concen-
trei eram essencialmente ontológicas: é possível apresentar um
tratamento plausível dos fatos (e da relação de correspondência)
que mostre que é essencial reconhecer a existência dos fatos
como ontologicamente autônomos? Gottlob Frege apresentou
outro argumento contra os fatos, e na verdade contra qualquer
teoria da verdade que sustente que verdade é um conceito subs-
tantivo. A ideia é que a equivalência entre A e “é verdade que
A”, junto de uma tal afirmação, produz um regresso vicioso
(e portanto implica que uma tal teoria é incoerente). O argu-
mento é apresentado e criticado em Spreading the Word, de
S. Blackburn, capítulo 7. Alguns veem o argumento de Frege
como um precursor do minimalismo em teorias da verdade.
A teoria da correspondência tem uma versão mais moderna,
inspirada em um artigo de J. L. Austin, “How to Talk”, reim-
presso em seu Philosophical Papers: ela é chamada “semântica
situacional” e é descrita por J. Barwise e J. Perry em Situations
and Attitudes. Alguns princípios norteadores dessa nova teoria
são estabelecidos por Barwise no capítulo 11: “Notes on Branch
Points in Situation Theory” de seu The Situation in Logic. Logic
47
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 47 06/06/14 12:25
and Information, de Keith Devlin, é uma introdução cuidadosa
à teoria da situação.
Os maiores problemas são: o que é uma situação? Realmente
precisamos dela? Esse é o problema original, que nos leva a
perguntar: “para que uma teoria da verdade?” e “como teorias
da verdade deveriam ser avaliadas?” As condições de adequação
formal e material de Tarski foram formuladas pela primeira
vez em um longo artigo publicado por volta de 1930, mas a
encontramos expressada de modo mais conciso no texto “The
Semantic Conception of Truth”, reimpresso em Readings in
Philosophical Analysis, ed. W. Sellars e H. Feigl. O tratamento
que Tarski deu à noção de verdade levou ao desenvolvimento
da teoria de modelos em lógica formal. Um artigo que apre-
senta um bom panorama do trabalho de Tarski, incluindo as
teorias deste e do próximo capítulo, é “Tarski on Truth and
Logical Consequence”, de John Etchemendy. Uma reformula-
ção da teoria da correspondência, inspirada nos resultados de
Tarski, foi apresentada por Donald Davidson em “True to the
Facts”, reimpresso em seu Essays on Truth and Interpretation.
Uma apresentação clara das teorias da verdade, incluindo a
contribuição de Tarski, pode ser encontrada no capítulo 7 de
Philosophy of Logics, de Susan Haack. Esse é também o foco da
discussão de Mark Platts sobre a verdade no primeiro capítulo
de Ways of Meaning.
Uma reflexão acerca da condição de adequação material
de Tarski nos leva a questionar o que é de fato obtido com
a atribuição de verdade. A observação intrigante de Ramsey,
que mais tarde deu origem à teoria da redundância e a outras
teorias da verdade minimalistas, encontra-se em “Facts and
Propositions”, incluído em The Foundations of Arithmetic and
Other Essays, uma coletânea publicada após sua morte prema-
tura aos 27 anos, em 1930. A teoria da redundância, segundo
a qual a atribuição de verdade é essencialmente redundante e
48
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 48 06/06/14 12:25
nada acrescenta à sentença cuja verdade é declarada, foi desen-
volvida por Arthur Prior nos anos de 1960 e é articulada de
modo límpido em What is Truth?, de Christopher Williams.
A teoria prossentencial acrescenta à teoria da redundância a
natureza anafórica da verdade: asserir a verdade não se resume
a reasserir, mas sim endossar o que foi dito. Essa teoria foi
exposta por Dorothy Grover e outros em “A Prosentential
Theory of Truth”. Esse e outros artigos sobre o mesmo tema
encontram-se no livro A Prosentential Theory of Truth.
Nos anos recentes, entretanto, vimos uma forte rejeição a
ideias minimalistas e tentativas de estabelecer uma noção subs-
tantiva de verdade sem a metafísica inaceitável de uma teoria
plena da verdade como correspondência. Hilary Putnam, por
exemplo, em “A Comparison of Something with Something
Else”, descarta o trabalho de Tarski como um trabalho que não
fornece insight filosófico algum acerca do conceito de verdade.
Em muitos outros lugares – um tratamento acessível é dado em
seu Reason, Truth and History, especialmente no capítulo 3 –,
Putnam defendeu uma forma de realismo, que ele chama de
“realismo interno”, para distingui-lo de “realismo metafísico”,
que ele rejeita. A ideia essencial do tratamento internalista,
compartilhada com as visões construtivistas que veremos no
Capítulo 8 deste livro, é que não há um ponto de vista exterior
a partir do qual possamos comparar o que dizemos e pensamos
com o modo pelo qual as coisas são: há apenas o ponto de vista
interno, a perspectiva dentro de um esquema de descrição.
Um tratamento geral (e uma crítica) dos tratamentos mini-
malistas (chamados de “deflacionários”) é dado por Hartry
Field em “The Deflationary Conception of Truth”, em Fact,
Science and Morality, ed. G. Macdonald e C. Wright. Crispin
Wright lançou recentemente mais um ataque sistemático à ideia
de que verdade não é uma propriedade substancial em seu livro
Truth and Objectivity. Tal ideia, ele argumenta, não é capaz
49
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 49 06/06/14 12:25
de dar conta de aspectos essenciais do conceito de verdade, em
particular, que tal conceito é distinto da – e ultrapassa a – noção
de assertibilidade justificada na medida em que é estável (uma
vez verdadeiro, sempre verdadeiro) e absoluto (diferentemente
da noção de justificação, não admite graus).
Notas
1
Optamos por traduzir a distinção type/token por tipo/espécime, conforme a
Enciclopédia de termos lógico-filosóficos (João Branquinho, Desidério Murcho
e Nelson Gonçalves Gomes (ed.), São Paulo, Martins Fontes, 2006) [N.T.].
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 50 06/06/14 12:25
2
O poder da lógica
Consequência lógica
Consequência lógica é o conceito central da lógica. O propó-
sito da lógica é esclarecer o que se segue de quê, determinar quais
são as consequências válidas de um dado conjunto de premissas
ou suposições. A relação de consequência associa um conjunto
ou coleção de proposições dadas com aquelas proposições ou
conclusões que corretamente, ou validamente, se seguem das
primeiras. Podemos dizer que as premissas implicam a conclusão;
ou que a conclusão se segue (validamente) das premissas; ou
que alguém pode inferir corretamente a conclusão a partir das
premissas; que a conclusão é uma consequência lógica (válida)
das premissas; que o argumento, ou a inferência das premissas
para a conclusão, é válido. Essa relação essencial, consequência
lógica, é o tema deste capítulo.
Enquanto abordava o tema da verdade no capítulo anterior,
contrastei a nossa falta de hesitação usual para determinar a
verdade de várias afirmações com nossa incerteza quando nos
deparamos com a questão do que é a verdade propriamente dita.
Agora a situação é diferente. Consequência lógica não é como o
conceito de verdade da vida cotidiana. Não resta dúvida de que
nós temos uma concepção no que diz respeito a uma proposição
se seguir ou não de outra, de um argumento ser válido ou não.
Mas a lógica possui uma tarefa adicional além daquela que é
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 51 06/06/14 12:25
requerida por uma teoria da verdade. Uma teoria da verdade
requer uma análise conceitual do conceito de verdade, uma
elucidação do que consiste a verdade. Uma teoria da consequên-
cia lógica, ao mesmo tempo que requer uma análise conceitual
da relação de consequência, procura também estabelecer um
conjunto de técnicas para determinar a validade de argumentos
particulares. Uma boa parte da lógica consiste em elaborar méto-
dos semânticos e sintáticos (de teoria da prova) para estabelecer
a validade e invalidade de argumentos.
Mas há outro aspecto dessa análise conceitual que precisa
ser pelo menos concomitante, senão anterior, ao desenvolvi-
mento de métodos técnicos. Essa análise conceitual é a tarefa
própria da filosofia da lógica. Teorias lógicas particulares são
baseadas em determinadas decisões quanto à correta análise da
consequência. A lógica clássica e as teorias nela baseadas, como
por exemplo a lógica modal, a aritmética de primeira ordem, a
teoria de conjuntos, e assim por diante, são fundamentadas em
uma análise particular da noção de consequência lógica. Teorias
da lógica rivais, como por exemplo a lógica intuicionista, lógicas
paraconsistentes, lógicas relevantes, lógicas conexivas, e assim
por diante, são baseadas em análises filosóficas diferentes dessa
noção básica.
O contraste com teorias da verdade é dramático. Tirando
algumas exceções (por exemplo, considerar os paradoxos semân-
ticos como verdadeiros, falsos, ou sem valor de verdade – ver
Capítulo 6), não há desacordo nas teorias da verdade sobre
os valores de verdade que efetivamente devem ser atribuídos
a proposições particulares. O desacordo se dá sobre em que
consiste a verdade, qual concepção de verdade é a correta. Já no
caso do conceito de consequência lógica, além da discordância
acerca da base a partir da qual esse conceito deve ser adequada-
mente estabelecido, há também um verdadeiro desacordo sobre
a validade e invalidade de argumentos particulares.
52
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 52 06/06/14 12:25
A concepção clássica
A concepção clássica de consequência recebe esse nome por ser
a ortodoxia em relação à qual as concepções rivais são compara-
das. Essa abordagem envolve uma série de posições fortemente
interconectadas sobre a extensão do conceito de consequência
lógica, isto é, com respeito a quais argumentos são válidos e
quais não são válidos, e sobre a sua intensão, ou seja, as bases
filosóficas que determinam a validade.
Em primeiro lugar, para a concepção clássica, validade é uma
questão de forma. Argumentos individuais são válidos apenas em
virtude de instanciarem formas lógicas válidas; uma proposição é
uma consequência lógica de outras apenas se houver um padrão
válido no qual as proposições conjuntamente se encaixem. Por
exemplo, “este fósforo irá acender” decorre das proposições,
“todos os fósforos acendem quando riscados” e “este fósforo
está prestes a ser riscado”. Esse argumento exibe estrutura similar
ao seguinte: “Edmundo é um alpinista; todos os alpinistas são
corajosos; Edmundo é corajoso.” O padrão comum pode ser
representado, como é feito em muitos livros didáticos de lógica,
como se segue: “Fa. Todo F é G. Logo, Ga.” Considere-se que a
significa “este fósforo”, F significa “está prestes a ser riscado” e
G significa “irá acender”. No segundo caso, considere-se que a
significa “Edmundo”, F significa “é um alpinista” e G significa
“é corajoso”. Em cada caso, ao substituir as letras esquemáticas
a, F e G pelas respectivas expressões, obtemos as inferências
particulares em questão. E podemos fazer substituições alter-
nativas, de modo a produzir indefinidamente argumentos com
uma mesma forma.
A visão clássica faz duas alegações sobre essa forma e suas
instâncias (e alegações similares paralelas sobre outras formas
válidas): em primeiro lugar, que a forma é válida, e por essa
razão todas as instâncias dessa forma são válidas, em virtude de
instanciarem uma forma válida; em segundo lugar, que é somente
em virtude de instanciarem uma tal forma que esses argumentos
53
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 53 06/06/14 12:25
são válidos. Em outras palavras, qualquer argumento que não
obedeça a um padrão válido é inválido; a sua conclusão não é
válida a partir de suas premissas. Por exemplo: “Edmundo é
corajoso. Todos os alpinistas são corajosos. Logo, Edmundo
é um alpinista.” Aqui, a conclusão não é uma consequência
lógica das premissas. Esse argumento não é uma instância de
uma forma válida.
Assim, a validade é uma questão de forma, e a tarefa da lógica
é fornecer técnicas para identificar e analisar a forma lógica de
vários argumentos, e para determinar se as formas em questão
são de fato válidas. Mas é certo que a questão permanece: quais
são as formas válidas? É bastante claro que os primeiros dois
exemplos acima são válidos e que o terceiro, não. Não precisamos
da lógica para nos dizer isso. Mas qual é a base para tal decisão?
Qual é o critério pelo qual julgamos que argumentos e formas de
argumentos são considerados válidos? Qual é a análise correta
da consequência lógica?
De acordo com o tratamento clássico, o critério é a preser-
vação da verdade. Isto é, uma forma de um argumento é válida
se, qualquer que seja a interpretação das letras esquemáticas, o
resultado não consiste em uma coleção de premissas verdadeiras e
uma conclusão falsa. Por exemplo, considere-se o terceiro exem-
plo acima. Podemos formalizá-lo como: “Fa. Todo G é F. Logo,
Ga”, a, F e G sendo, respectivamente, Edmundo, “é corajoso”
e “é um alpinista”. Essa forma é inválida. Alternativamente,
considere que a nomeia uma mariposa, F significa “já foi uma
lagarta” e G significa “é uma borboleta”. Então, obtemos a
seguinte instância da mesma forma argumentativa: “Esta mari-
posa já foi uma lagarta. Todas as borboletas já foram lagartas.
Logo, esta mariposa é uma borboleta”, cuja conclusão é clara-
mente falsa, embora as suas premissas sejam verdadeiras. Daí
se segue, pelo critério de preservação da verdade, que a forma é
inválida. Essa forma tem uma instância (acerca de borboletas e
mariposas), cujas premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.
Além disso, o terceiro exemplo não pode produzir argumento
54
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 54 06/06/14 12:25
algum que seja válido. Por conseguinte, não é uma instância de
uma forma válida, e, portanto, é inválido. A sua conclusão não
é uma consequência lógica válida das suas premissas.
Por outro lado, a primeira forma que consideramos antes é
válida: “Fa. Todo F é G. Logo, Ga.” Não há interpretação de
a, F e G que torne as premissas verdadeiras e a conclusão falsa.
Daí se segue que Ga é de fato consequência lógica de Fa e “Todo
F é G”, e que “Este fósforo irá acender” se segue logicamente
de “Este fósforo será riscado” e “Todos os fósforos acendem
quando riscados”. O critério clássico de preservação da verdade
vai ao encontro das intuições acerca de exemplos simples como
os três que vimos acima e é estendido a quaisquer argumentos
e inferências. Consequência lógica é uma questão de forma, a
saber, que qualquer que seja o modo pelo qual as letras esquemá-
ticas sejam interpretadas, a verdade é preservada das premissas
para a conclusão: nunca obtemos premissas verdadeiras e uma
conclusão falsa.
Argumentos válidos não precisam ter premissas verdadei-
ras, nem argumentos inválidos precisam ter conclusões falsas.
Talvez nem todos os fósforos acendam quando riscados; talvez
este fósforo jamais seja riscado. Entretanto, a afirmação de que
ele irá acender se segue das outras possivelmente falsas afirma-
ções. No caso do argumento inválido, mesmo sendo Edmundo
um alpinista, isso não se segue de Edmundo ser corajoso e de
todo alpinista ser corajoso (se é que são mesmo). Posto que há
instâncias nas quais a conclusão é falsa (“esta mariposa é uma
borboleta”) mesmo sendo as premissas verdadeiras, a forma é
inválida.
Serão úteis aqui algumas considerações acerca da noção de
verdade lógica. No início do século 20 vários autores (talvez sob
a influência do método axiomático) parecem ter se concentrado
na noção de verdade lógica como a noção lógica primária, e a
consequência lógica foi para um segundo plano. Esse é um erro
grave, que inverte completamente a situação real. Consequência
lógica não pode ser definida em termos de verdade lógica; mas
55
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 55 06/06/14 12:25
verdade lógica é um caso degenerado, ou extremo, de conse-
quência lógica. Verdade lógica pode ser caracterizada de duas
formas equivalentes. Em primeiro lugar, uma verdade lógica é
a conclusão de uma inferência válida na qual não há premissa
alguma. Um argumento pode ter uma, duas, três ou mais premis-
sas, é claro. Mais adiante iremos considerar o caso no qual o
número de premissas cresce até o infinito. Mas o que acontece se
o número de premissas é reduzido a zero? Lembre-se que, classi-
camente, uma proposição (ou uma forma proposicional) é uma
consequência lógica de um conjunto de premissas se, qualquer
que seja a interpretação das letras esquemáticas, o resultado não
consiste de premissas verdadeiras e conclusão falsa. Logo, se o
número de premissas é zero, obtemos a seguinte caracterização:
uma proposição ou forma proposicional é uma verdade lógica
se, qualquer que seja a interpretação de suas letras esquemáticas,
o resultado não é falso. Em outras palavras, verdades lógicas
são verdadeiras independentemente de como seus constituintes
são interpretados. Considere, por exemplo, a fórmula (a forma
proposicional) “A ou não-A”. Qualquer que seja a sentença
colocada no lugar de A, obtemos uma verdade. “Este fósforo irá
acender ou este fósforo não irá acender”, “Edmundo é corajoso
ou Edmundo não é corajoso”, e assim por diante. Similarmente,
a fórmula “Todo F é F” é uma verdade lógica. Qualquer que
seja o predicado colocado no lugar de F, obtemos uma verdade:
“Todo alpinista é alpinista”, “Todo fósforo é fósforo” e assim
por diante. Verdades lógicas são um caso extremo de argumentos
válidos que não têm premissas nem pressuposições.
Outra maneira de caracterizar verdade lógica é em termos
de supressão. Verdades lógicas são aquelas proposições entre as
premissas de um argumento que são desnecessárias ou podem ser
suprimidas. Suponha que uma conclusão se segue validamente de
um conjunto de premissas, e suponha que uma dessas premissas
é verdadeira em qualquer interpretação. Logo, a conclusão se
segue logicamente das outras premissas apenas. Pois, se o argu-
mento é válido, uma interpretação que torne a conclusão falsa
56
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 56 06/06/14 12:25
deve tornar uma das premissas falsa também. Mas a premissa
que nessa interpretação será falsa não pode ser a verdade lógica,
aquela premissa específica que estamos considerando. Sendo
assim, a validade não será afetada pela omissão dessa premissa
– será ainda verdadeiro que qualquer interpretação que torne
a conclusão falsa também tornará falsa uma das premissas do
novo argumento (omitindo a verdade lógica). Portanto, a verdade
lógica é redundante, e pode ser suprimida.
Entretanto, nossa descrição da consequência clássica ainda
não está completa, pois existem diferentes maneiras pelas quais a
noção de preservação da verdade é articulada e que são caracte-
rísticas dessa abordagem. Em primeiro lugar, note que, tal como
foi aqui apresentada, a preservação da verdade é um critério
essencialmente substitucional. Considere um argumento, M.
Substituímos uma parte da terminologia de M por letras esque-
máticas, de modo a obter uma forma argumentativa, M’. Então
interpretamos as letras esquemáticas de M’ de várias maneiras,
procurando ver se alguma instância de M’ tem premissas verda-
deiras e conclusão falsa. Suponha que isso acontece, isto é, que
existe uma instância N de M’, com premissas verdadeiras e uma
conclusão falsa. Então, N resulta de M pela substituição de um
ou mais termos por outros – pela substituição de certas expres-
sões em M por expressões diferentes. Por exemplo, obtivemos
o nosso contraexemplo para a validade do terceiro exemplo
acima substituindo “Edmundo” por “esta mariposa”, “é cora-
joso” por “era uma vez uma lagarta” e “é um alpinista” por
“é uma borboleta”. Por meio dessas substituições obtivemos
um argumento que leva da verdade à falsidade. Por essa razão,
o exemplo original não tem a garantia de nos levar sempre de
verdades a verdades (posto que um outro argumento com a
mesma forma nos leva de verdades a uma falsidade), e portanto
deve ser inválido. Isto é, em geral, um argumento será inválido
se houver alguma substituição dos termos que produza premissas
verdadeiras e conclusão falsa; um argumento será válido se não
existir uma tal substituição.
57
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 57 06/06/14 12:25
Isso de imediato levanta um problema: quais substituições são
admissíveis – isto é, quais termos podem ser substituídos? Pois
o tratamento clássico não permite que qualquer termo em um
argumento seja substituído. Essa restrição está presente na noção
de forma, acerca da qual possivelmente falamos muito pouco.
Note que em todas as formas acima, uma palavra não foi substi-
tuída por uma letra esquemática, a saber, a palavra “todos”. Na
concepção clássica (e de fato em todas as outras), “todos” é um
termo reservado, é parte do vocabulário lógico. Ao exibir a forma
lógica de um argumento, substituímos todas as expressões que
não fazem parte do vocabulário lógico por letras esquemáticas.
As palavras lógicas incluem “todos”, “alguns”, “se”, “e”, “ou”,
“não”, e uma série de outras expressões. Na verdade, algumas
palavras são por vezes tratadas como expressões lógicas, mas
outras vezes não, produzindo diferentes lógicas. Por exemplo,
se “necessariamente” é tratada como uma expressão lógica,
obtemos uma lógica modal, uma extensão da lógica clássica;
caso contrário, temos uma lógica não modal, isto é, uma lógica
padrão. Se o “é” da identidade (como em “A estrela da manhã
é a estrela da tarde”) é considerado um termo lógico, obtemos
a lógica clássica com identidade. Muitas extensões da lógica
clássica (elas mesmas essencialmente clássicas) são obtidas por
meio do alargamento do vocabulário lógico.
Entretanto, o tratamento clássico não é puramente substi-
tucional. O critério substitucional tem origem em Bolzano, no
início do século 19. Mas ele precisa ser refinado pois, do modo
como foi apresentado, esse critério dá respostas absurdas, já que
considera válidas certas inferências que são claramente inválidas.
Um exemplo simples lança mão de uma verdade lógica aparente,
mas o mesmo ponto pode ser generalizado facilmente para infe-
rências com uma ou mais premissas. Considere a proposição
“existem pelo menos duas coisas”. Existirem pelo menos duas
coisas não é uma questão de lógica. No entanto, o critério de
Bolzano, ou o critério puramente substitucional, caracteriza a
58
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 58 06/06/14 12:25
proposição acima como uma verdade lógica, dada a aceitação
habitual dos quantificadores “alguns” ou “existem”, a negação
e a identidade como expressões lógicas. Pois tal proposição é
equivalente a “existem duas coisas que não são idênticas”, e
nessa última proposição não existem expressões não lógicas. Em
outras palavras, não existem letras esquemáticas para fazermos
diferentes substituições e, por isso, a questão de sua verdade
lógica se reduz à questão da sua verdade. Uma vez que existem
no mundo pelo menos 1080 átomos, a proposição é verdadeira
– e, similarmente, argumentos tais como “existem duas coisas,
por isso, existem 76 coisas”, “está chovendo, por isso existem
1026 coisas” e assim por diante, tornam-se todos válidos, mas
isso é claramente absurdo.
A solução de Tarski foi acrescentar ao tratamento substitucio-
nal uma variação no domínio de interpretação (e abrir mão da
exigência de que todo elemento do domínio deve ter um nome).
A interpretação agora consiste de um domínio (que não pode ser
vazio – o caráter não vazio do domínio é uma característica da
lógica clássica, em que “existe pelo menos uma coisa” continua
a ser tomada como uma verdade lógica –, ver Capítulo 5) e uma
interpretação das letras esquemáticas considerando esse domínio.
A proposição “existem pelo menos duas coisas” pode agora
ser falsificada, como também as conclusões das inferências no
último parágrafo, enquanto suas premissas são mantidas verda-
deiras, pela escolha adequada do domínio e da interpretação.
Por exemplo, “existem pelo menos duas coisas” é falsa quando
interpretado em um domínio que contém apenas uma coisa.
Há dois outros aspectos da noção clássica de consequência
lógica que devem ser ressaltados antes de considerarmos concep-
ções alternativas. Ambos elaboram melhor o que classicamente
é entendido por “preservação da verdade”. Considere a noção
de verdade lógica tal como ela foi caracterizada acima. É uma
consequência imediata dessa caracterização a ideia de que uma
verdade lógica não seja apenas consequência de um conjunto
59
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 59 06/06/14 12:25
vazio de premissas, mas que também seja uma consequência de
qualquer conjunto de premissas, pois nenhuma interpretação
ou substituição pode tornar falsa uma verdade lógica; portanto,
quaisquer que sejam as premissas, não será possível simultanea-
mente torná-las verdadeiras e tornar falsa a conclusão (a verdade
lógica). Logo, todo argumento cuja conclusão é uma verdade
lógica é válido. Por exemplo, a proposição “Todos os fósforos
são fósforos” se segue de qualquer conjunto de proposições. Do
mesmo modo, qualquer proposição da forma “A ou não-A” é
consequência lógica de qualquer proposição ou conjunto de
proposições.
Inversamente, considere qualquer proposição ou fórmula
que nenhuma substituição ou interpretação possa tornar verda-
deira, como uma da forma “nenhum F é F” ou “A e não-A”.
Então, não haverá interpretação alguma que torne simulta-
neamente tal proposição verdadeira e uma outra proposição,
falsa. Daí se segue que, classicamente, qualquer proposição
é uma consequência lógica de uma proposição contraditória.
Uma contradição implica qualquer proposição. Este princípio
é frequentemente denominado ex falso quodlibet, que em latim
significa “a partir do falso, qualquer coisa”, isto é, qualquer
coisa se segue daquilo que é (logicamente) falso. Ele também é
algumas vezes chamado “lei da explosão”, que uma inconsistên-
cia produz qualquer proposição. Vamos definir o fechamento
lógico de um conjunto de proposições como o conjunto de todas
as proposições que se seguem logicamente dessas proposições,
e chamemos qualquer conjunto de proposições logicamente
fechado de uma teoria. Assim, uma teoria contém todas as suas
consequências lógicas. Dizemos que uma teoria é consistente
se ela não contiver uma proposição e a sua negação, e que é
trivial se contiver todas as proposições. Segue-se da concepção
clássica de consequência lógica que qualquer teoria inconsis-
tente é trivial.
60
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 60 06/06/14 12:25
Compacidade
A concepção clássica, na versão puramente substitucional de
Bolzano, produz mais inferências válidas do que deveria, pois
considera válidas inferências que são claramente inválidas – por
exemplo, qualquer inferência com a conclusão “há pelo menos
duas coisas”. Assim a visão predominante, a descrição clássica
que é derivada do trabalho de Tarski, foi ajustada para evitar
que inferências inválidas fossem tomadas como válidas. Mais
adiante irei argumentar que, ao considerar trivial qualquer
teoria inconsistente e toda verdade lógica como consequência de
qualquer conjunto de proposições, a descrição clássica também
produz mais inferências válidas do que deveria – muito embora
esse seja um aspecto essencial e característico do tratamento
aqui denominado “clássico”. O terceiro e último aspecto da
concepção clássica que veremos aqui produz menos inferências
válidas do que deveria, isto é, não considera válidos argumentos
que de maneira plausível poderiam ser considerados consequên-
cias lógicas válidas. Vou usar a expressão “concepção clássica”
para me referir à concepção que rejeita tais inferências como
logicamente inválidas. Mas existem tentativas, que têm origem
na própria concepção clássica, de estendê-la de modo a incluir
tais inferências.
O aspecto em questão é conhecido como compacidade: a
consequência lógica clássica é compacta. Para entender essa
noção, precisamos generalizar a ideia do número de premissas
de um argumento de modo que essa coleção de premissas possa
ser infinita. Implicitamente isso já foi feito quando introduzimos
a noção de teoria, pois qualquer proposição possui um número
infinito de consequências – na concepção clássica, cada verdade
lógica (e há um número infinito delas) é consequência de qualquer
proposição, e mesmo deixando isso de lado, qualquer proposição
implica a si mesma, sua dupla negação, a conjunção de si mesma
com sua dupla negação, a disjunção de si mesma com qualquer
proposição, e assim por diante. Uma teoria foi definida como um
61
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 61 06/06/14 12:25
conjunto de proposições que contém todas as suas consequências
lógicas. Portanto, reconhecemos que a relação de consequência
lógica pode ocorrer (ou deixar de ocorrer) entre uma teoria,
isto é, um conjunto infinito de premissas, e uma proposição.
Nós dizemos que uma relação de consequência é compacta se
qualquer consequência de um conjunto infinito de proposições
é consequência de algum subconjunto finito desse conjunto
infinito. A compacidade da consequência clássica não significa
que ela negue que uma inferência pode ter infinitas premissas.
Ela pode ter; mas classicamente isso é válido se e somente se a
conclusão for seguida de um subconjunto finito desse conjunto
infinito de premissas.
Compacidade pode ser vista como uma virtude – ela torna
mais fácil o tratamento da relação de consequência. Mas ela
é também uma limitação – limita o poder expressivo de uma
lógica. Até agora nos concentramos no aspecto semântico da
consequência lógica clássica, a saber, a preservação da verdade.
Mas a consequência pode ser pensada também em termos pura-
mente sintáticos. Dessa forma, uma proposição é consequência
de um conjunto de outras proposições se for possível derivá-la
dessas outras proposições em uma série de passos, sendo tais
passos de acordo com certas regras. Esse é o objeto de estudo
da teoria da prova, em que a correção da aplicação de uma
regra depende apenas da forma, sem considerar o significado dos
símbolos envolvidos. É claro que as regras admitidas dependerão
de uma concepção semântica, de tal forma a termos garantias de
que nenhuma falsidade possa ser derivada de verdades. Mas em
si mesma uma prova não tem significado algum; sua correção é
definida em termos de sua forma e de sua estrutura.
A ideia de uma prova, portanto, é a de que alguém possa
checar se uma dada fórmula é consequência de certas outras,
checando recursivamente se a prova é bem formada. Correção –
isto é, a ideia de que se a prova estiver bem formada, a conclusão
é de fato consequência lógica das premissas – é primordial. A
conversa da correção é a noção de completude – a de que existe
62
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 62 06/06/14 12:25
uma derivação para cada caso de consequência lógica. Apesar
de altamente desejável, não podemos dar à completude a mesma
importância dada à correção. Uma vez que nossos métodos de
prova sejam corretos, uma prova pode então estabelecer com
certeza que uma proposição é consequência de outras.
O primeiro resultado significativo de Kurt Gödel, seu Teorema
da Completude de 1930, estabeleceu que há um método de
prova completo para a consequência lógica clássica. Seu segundo
resultado importante, o Teorema da Incompletude de 1931,
mostrou que o primeiro resultado não passava de uma vitória
vazia. A consequência lógica compacta tem um método de prova
completo; mas a consequência compacta produz menos inferên-
cias válidas do que deveria – existem consequências intuitiva-
mente válidas que são consideradas inválidas. O exemplo mais
claro e famoso é o da regra-w. Suponha que alguma fórmula
A é verdadeira para qualquer número natural, 0, 1, 2..., isto é,
A(0) vale, A(1) vale, e A(n) vale para qualquer número natural
n. Segue-se obviamente daí que a fórmula “para todo n, A(n)”
é verdadeira. “Para todo n, A(n)” é consequência lógica do
conjunto infinito de fórmulas, A(0), A(1), A(2) etc., mas não
é uma consequência lógica clássica de tais fórmulas, pois não
se segue de nenhum subconjunto finito do conjunto infinito de
fórmulas, A(0), A(1), A(2) etc. A regra-w permitiria a inferência
“para todo n, A(n)” a partir das premissas A(0), A(1) etc. Não é,
entretanto, uma regra que possamos usar, pois seu uso exigiria
que a prova fosse um objeto infinito, contendo provas de A(0),
A(1) etc. A regra-w não é aceita pela ortodoxia da teoria da
prova clássica, e sua validade não é aceita pela consequência
clássica ortodoxa.
Como isso é possível? Pois uma regra será válida segundo
a concepção clássica a menos que alguma interpretação sobre
algum domínio torne a(s) premissa(s) verdadeira(s) e a conclusão
falsa. Como poderiam as premissas A(0), A(1) etc. serem verda-
deiras, mas a conclusão “para todo n, A(n)” ser falsa? Como
poderia A(n) ser verdadeira para todo n, e “para todo n, A(n)”
63
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 63 06/06/14 12:25
ser falsa? A explicação é a limitação de exprimibilidade que se
segue da escolha de uma lógica compacta. A meta dos lógicos
na passagem para o século 20 era a axiomatização da matemá-
tica – encontrar um conjunto finito de axiomas, ou pelo menos
um conjunto especificável finitamente, do qual toda e somente a
matemática pudesse ser derivada. Era uma tentativa fundacional
de estabelecer a consistência e a coerência da matemática e de
completar uma tarefa que havia ocupado os matemáticos ao
longo do século 19: remover os pontos obscuros e as incertezas
da matemática que eles tinham herdado de seus predecessores
e exibir, por métodos da teoria da prova, uma teoria clara,
certa e consistente. O resultado de Gödel de 1931 mostrou que,
mesmo para a aritmética, isso não poderia ser feito. O modelo
standard da aritmética, usualmente denominado w, consiste dos
números naturais 0, 1, 2 etc. e das operações de sucessor, adição,
multiplicação e exponenciação sobre os números naturais. A
meta era encontrar um conjunto de fórmulas que caracterizasse
exatamente esse modelo – na terminologia, “categoricamente”,
ou “a menos de um isomorfismo”. Isto é, de forma puramente
estrutural e ignorando qualquer renomeação dos elementos do
domínio, os axiomas deveriam ter somente um modelo, o modelo
standard, w. Gödel mostrou que nenhuma lógica compacta pode
fazer isso. Na verdade, ele mostrou que nenhum método de
prova, em nenhuma lógica, pode fazer isso. Em uma lógica não
compacta podemos ter um conjunto categórico de fórmulas para
a aritmética, mas, como nós vimos, métodos de prova (como são
usualmente concebidos) requererem compacidade.
Há uma outra maneira de encararmos a diferença entre
lógica compacta e não compacta. A lógica clássica ortodoxa
é de primeira ordem; um conjunto categórico de axiomas
para a aritmética exige segunda ordem. O que isso significa?
Precisamos ponderar com um pouco mais de cuidado sobre a
noção de forma, e em particular sobre as letras esquemáticas
(usadas para substituir predicados não lógicos) e quantifica-
dores. Quantificadores são palavras como “todos”, “alguns”,
64
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 64 06/06/14 12:25
“nenhum”, “qualquer”, “cada”, “existem”, que qualificam um
predicado, como em “todo F é G”, ou um predicado postiço,
como em “existem duas coisas que não são idênticas”. Em geral,
as regras do uso dos quantificadores na lógica clássica estabele-
cem que eles ligam variáveis; os dois exemplos acima tornam-se
“para todo x, se x é F (ou Fx), então Gx” e “existem x e y tais
que x ≠y”, usando = para “idêntico a” e ≠ para “não é idêntico
a”. Aqui as variáveis quantificadas percorrem, ou se referem, a
coisas, objetos, diferentemente das propriedades referidas pelos
predicados, representadas pelas letras esquemáticas (F, G etc.).
Isso é lógica de primeira ordem. Na lógica de segunda ordem os
quantificadores também podem percorrer ou se referir a proprie-
dades. Por exemplo, para expressar na linguagem formalizada
“Napoleão tinha todas as qualidades de um grande general”,
quantificamos sobre propriedades (ou qualidades). A proposição
acima diz que Napoleão tinha todas aquelas qualidades que
somente grandes generais têm, isto é, qualquer um que possuísse
todas aquelas qualidades seria um grande general. Isto é, “para
toda qualidade f, se, para toda pessoa x, x for um grande gene-
ral, então x tem f, logo Napoleão tem f”, isto é, “Para todo f,
se para toda pessoa x, se Gx então fx, logo f(Napoleão)”. Aqui
“f” é uma variável de primeira ordem, distinta de uma variável
individual, x, e da letra esquemática, G, que representa “ser um
grande general”. Na lógica de primeira ordem, além das letras
esquemáticas, somente variáveis individuais, que percorram
coisas (e pessoas), são permitidas; na lógica de segunda ordem,
variáveis de primeira ordem, que percorrem propriedades de tais
coisas, também são permitidas.
Na verdade, o problema é ainda mais sutil. Sintaticamente,
não se pode dizer se uma fórmula como “Para todo f, se para todo
x, se Gx então fx, então fn” é de primeira ordem ou de segunda
ordem. Ela poderia ser uma fórmula de uma teoria de primeira
ordem com variáveis de diferentes tipos, onde f percorre uma
espécie de objeto e x percorre outra. O que distingue a lógica de
primeira da de segunda ordem, são as respectivas semânticas, e
65
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 65 06/06/14 12:25
a questão crucial é saber o que uma variável como f percorre. Já
observamos que para elaborar uma interpretação deve-se especi-
ficar um domínio, e que esse domínio pode ser arbitrário (desde
que não seja vazio). Logo, se f for uma variável individual, seu
domínio de interpretação pode ser arbitrário. Apenas se for de
primeira ordem é que f deverá percorrer todas as propriedades.
A característica definidora da lógica de segunda ordem é a de
que, ainda que o domínio de suas variáveis individuais possa
ser arbitrário, as variáveis de primeira ordem percorrem todas
as propriedades dos objetos do domínio (ou se nós estamos
pensando extensionalmente, todos os subconjuntos de objetos
do domínio). É por isso que a aritmética de segunda ordem é
categórica – de fato, existe uma fórmula da lógica de segunda
ordem cujo único modelo é o modelo standard, w, que consiste
somente nos números naturais. Toda verdade aritmética é uma
consequência (de segunda ordem) dessa fórmula. Não obstante,
a aritmética de segunda ordem é incompleta, no sentido (em que
Gödel estava interessado) de que não existe nenhum conjunto de
regras de inferência pelas quais todas aquelas verdades possam
ser derivadas a partir dessa fórmula, ou de qualquer conjunto
finitamente especificável de axiomas.
Se retornamos para a lógica de primeira ordem, a ortodoxia
clássica, podemos entender agora por que a regra-w não é válida.
O modelo standard da aritmética, w, é um segmento inicial de
qualquer modelo para verdades aritméticas de primeira ordem.
Isto é, w constitui a primeira parte de cada modelo – e no caso do
modelo standard, w é o modelo inteiro. Mas os outros modelos
contêm números adicionais, não standard, todos maiores que
os números naturais (pois é uma verdade da aritmética, que
podemos exprimir por uma fórmula, que todo número natural
diferente de zero é maior que zero, e se um número não standard
fosse menor que algum número standard n, digamos, teria de
ser idêntico a um dos números standard n menores que n). É
por essa razão que a regra-w falha: seja qual for a proposição
que instancie A(n), ela vale para todos os números do modelo
66
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 66 06/06/14 12:25
standard, 0, 1, 2 etc., mas pode não ser verdadeira para todos
os números do modelo – assim, apesar de todas as premissas da
regra-w, A(0), A(1) etc., serem verdadeiras nesse modelo, sua
conclusão, “para cada n, A(n)”, é falsa.
De fato, alguém poderia ser levado por essa explicação a
objetar que a regra-w seja mesmo (logicamente) inválida. Ao
mencionar a regra-w com uma objeção para a compacidade da
lógica clássica, era crucial que aceitássemos tanto que a regra-w
é classicamente inválida quanto que ela é de fato válida. Mas
sua validade depende da sequência 0, 1, 2... esgotar os números
naturais. Logo, poderíamos supor que a regra-w, do modo que
foi formulada, é inválida; ela precisa de uma premissa extra: “e
estes são todos os números.” Essa condição adicional é verda-
deira aritmeticamente; mas os modelos não standard mostram
que, do ponto de vista da lógica, isso precisa ser explicitamente
declarado (em termos da lógica de primeira ordem, isto é, em
termos lógicos).
Há duas maneiras de ver que essa resposta é inadequada como
uma defesa da lógica clássica e da compacidade. Em primeiro
lugar, a condição extra, “e estes são todos os números”, não
pode ser expressa em primeira ordem. Isso é claro, já que vimos
que nenhum conjunto de fórmulas da lógica de primeira ordem
possui w como seu único modelo. Mais uma vez, portanto, vemos
que a lógica de primeira ordem é inadequada para capturar a
validade da regra-w – nessa perspectiva, ela nem mesmo pode
ser expressada na lógica de primeira ordem.
A outra resposta (que não é essencialmente diferente) rela-
ciona essa questão com um antigo problema lógico. Wittgenstein,
em seu atomismo lógico, propôs uma redução de “todo F é G”
para “este F é G e aquele F é G e...”, uma conjunção percorrendo
todos os Fs. Russell objetou que as duas proposições não são
equivalentes, pois a segunda (a conjunção longa) necessita de
uma condição extra, “e esses são todos os Fs”. Acredito que ele
estava errado. Se a conjunção fosse exaustiva (isto é, contivesse
referência para cada F), as duas proposições seriam equivalentes;
67
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 67 06/06/14 12:25
se não é, a condição extra não é efetiva, já que é falsa. Da mesma
maneira com a regra-w. Já que 0, 1, 2... é uma lista completa dos
números naturais, é desnecessário acrescentar aquela afirmação
como uma premissa extra. Ela não tem função adicional alguma.
Se A(n) for verdadeira para cada n, então “para todo n, A(n)”
será verdadeiro. Os modelos não standard de lógica de primeira
ordem são justamente isso, não standard. Eles contêm objetos
que não são números.
A aritmética de segunda ordem é capaz de barrar esses mode-
los não standard e os números não standard que eles contêm,
porque com ela podemos expressar o fato de que o modelo
standard é um segmento inicial de todos os outros modelos, e
de que é nesse segmento inicial, w, que estamos interessados.
Expressamos esse fato pelo axioma da indução, segundo o qual
qualquer propriedade possuída por zero e pelo sucessor de
qualquer número que a possua pertencerá a todos os números.
Para que esse axioma seja bem-sucedido, é crucial que estejamos
falando de “qualquer propriedade”. No axioma de indução
de primeira ordem, somente uma letra esquemática é usada, e
ela percorrerá um subconjunto de propriedades que não exclui
os divertidos números não standard. A semântica da lógica de
segunda ordem garante que “qualquer propriedade” significa
“qualquer propriedade”, e por isso temos a categoricidade.
A lógica de primeira ordem é completa no idiossincrático
sentido de que há um conjunto de regras de inferência pelas quais,
dadas certas premissas, pode ser construída uma prova para
qualquer consequência de primeira ordem dessas premissas. Ela
é incompleta no seguinte sentido: nem toda consequência intuiti-
vamente válida dessas premissas é, com efeito, uma consequência
de primeira ordem delas. A lógica de segunda ordem é completa
no sentido em que sua relação de consequência corresponde à
relação intuitiva. Ela é incompleta no sentido em que não há
nenhum conjunto de métodos de prova e regras de inferência
adequado para derivar todas as fórmulas que são consequências
de um dado conjunto de premissas.
68
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 68 06/06/14 12:25
Conteúdo e forma
Temos agora uma visão clara da concepção de consequência
lógica proposta pela lógica clássica. Consequência lógica é uma
questão de forma: uma proposição é consequência lógica de
outras proposições se toda proposição com a mesma forma que
a primeira é consequência lógica de proposições com as mesmas
formas dessas outras proposições; e uma fórmula é consequência
de outras se não houver um domínio e uma interpretação das
letras esquemáticas que torne estas verdadeiras e a primeira falsa.
Mesmo pondo de lado a incompletude que vimos na última
seção, essa concepção de consequência lógica pode muito bem
ser questionada, pois parece que ela displicentemente desconsi-
dera um grupo inteiro de consequências válidas, a saber, aquelas
que, embora válidas, não são válidas em virtude da sua forma.
Tomemos o caso das verdades lógicas, em particular. Será real-
mente o caso que todas as verdades lógicas são verdades lógicas
meramente em virtude da forma? Considere, por exemplo, “Nada
é redondo e quadrado (ao mesmo tempo)”. Nem “redondo” nem
“quadrado” são expressões lógicas, logo a forma da proposição
é “nada é simultaneamente F e G”, que pode ser claramente
falsificada por uma interpretação adequada das letras F e G. Mas
algo nos deve ter escapado, pois “Nada é redondo e quadrado”
não pode ser falso, é uma verdade necessária.
O critério clássico de consequência lógica não faz qualquer
menção à necessidade. Na verdade, isso é visto por seus defen-
sores como uma virtude. Ela evita a noção de necessidade,
falando acerca de interpretações ou substituições admissíveis.
Um argumento é válido se instancia uma forma válida; e uma
forma é válida se não houver interpretação (admissível) das
letras esquemáticas (relativamente a um domínio) na qual as
premissas sejam verdadeiras e a conclusão, falsa. Pode-se pensar
que isso quer dizer o mesmo que: um argumento é válido se é
impossível suas premissas serem verdadeiras e sua conclusão,
falsa. Pois não significa o mesmo dizer “A poderia ser falsa” e
69
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 69 06/06/14 12:25
“existe uma interpretação na qual A é falsa”? Suponha que A
seja “Edmundo é um alpinista”: o que fizemos anteriormente
foi representar sua forma como Ga, e então interpretar a como
“essa mariposa” e G como “é uma borboleta”. Assim interpre-
tada, Ga é falsa. Efetivamente, o que nós fizemos foi substituir
“Edmundo” por “essa mariposa” e “é um alpinista” por “é
uma borboleta” e verificar se alguma substituição desse tipo
torna a proposição falsa. Aparentemente, A poderia ser falsa
se e somente se houvesse uma substituição das expressões não
lógicas de A que a tornasse falsa.
Na verdade, já vimos que a questão não pode ser assim
tão simples, pois variar a interpretação das expressões cons-
tituintes não pode representar uma variação no número de
coisas existentes, ainda que uma tal variação possa mostrar
o insucesso de uma implicação. Portanto, o critério interpre-
tacional, se é que podemos chamá-lo dessa forma, precisa ser
modificado pela adição de diferentes domínios de interpretação.
No entanto, vemos agora que o tratamento interpretacional
também falha por não representar possibilidades que são rele-
vantes. Simplesmente não é verdade que “nada é redondo e
quadrado” pode ser falsa porque podemos substituir as palavras
“quadrado” e “redondo” por expressões tais que o resultado
seria uma proposição falsa.
O tratamento interpretacional, tal como representado pelo
critério clássico, é uma tentativa de evitar uma certa metafísica
modal. Isso será mais discutido no Capítulo 4. O problema é
concebido da seguinte forma: um tratamento modal de propo-
sições, proposições que dizem o que poderia ou o que deve ser
o caso, sustenta que tais proposições se referem a situações
possíveis em que essas coisas realmente seriam o caso. Por
exemplo, dizer que Edmundo poderia ser um alpinista é dizer
que existe uma situação possível, ou como é frequentemente
chamado, um mundo possível, no qual Edmundo é realmente
um alpinista. Um mundo possível é uma determinação completa
dos valores de verdade de todas as proposições relativamente
a um certo domínio. Classicamente, exige-se que um mundo
70
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 70 06/06/14 12:25
possível seja consistente e completo – isto é, nenhuma propo-
sição tem o mesmo valor de verdade da sua contraditória, pois
uma ou outra deve ser verdadeira, e não ambas.
Platonismo modal é a tese filosófica segundo a qual tais
mundos possíveis são mais do que simplesmente uma especi-
ficação dos valores de verdade de proposições: são mundos
“reais”, tão elaborados e complexos quanto o mundo em que
vivemos. Nosso mundo é especial apenas porque é efetivamente
real – o nosso mundo é o mundo efetivamente real. Mas esses
outros mundos existem e de certo modo são reais. A alega-
ção é que a existência desses mundos é necessária para que
proposições modais tenham o valor que têm. A “metáfora”
de mundos possíveis deve ser tomada literalmente. “Edmundo
poderia ser um alpinista” é verdadeira se e somente se existe um
mundo possível em que Edmundo é “realmente” um alpinista.
Esse mundo pode não ser real – ou seja, Edmundo pode não
ser de fato (no nosso mundo) um alpinista –, mas a verdade
da proposição modal (que certamente é verdadeira) exige que
exista um tal mundo.
O platonismo modal é ontologicamente extravagante e
epistemologicamente problemático. A Navalha de Occam
recomenda que não devemos incluir em uma explicação mais
do que é estritamente necessário. Mas o platonista modal certa-
mente acredita que mundos possíveis, em sua plena realidade,
sejam de fato necessários. O critério clássico de validade tenta
mostrar que não o são. Além disso, o platonista modal produz
problemas próprios, alguns deles epistemológicos, tais como:
se o platonismo modal fosse verdadeiro, como poderíamos
saber se uma dada proposição modal é verdadeira? Pois como
poderíamos descobrir os valores de verdade de proposições
em outros mundos? Somos habitantes deste mundo, o mundo
efetivamente real, portanto nossos processos sensoriais nos
apresentam informações sobre como as coisas são de fato neste
mundo. Suponhamos que Edmundo não seja um alpinista. De
acordo com o platonismo modal, para descobrir se ele pode-
ria sê-lo, precisamos saber se existe um mundo em que ele é
71
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 71 06/06/14 12:25
um alpinista. De fato, parece que colocamos o carro na frente
dos bois. Certamente, para descobrir se existe um tal mundo,
pensamos em Edmundo (o Edmundo efetivamente real) e em
montanhas (montanhas efetivamente reais) e se ele poderia nelas
subir. Mas isso não nos diz apenas se há um mundo possível no
qual Edmundo escala montanhas, isso nos diz também, direta-
mente, se ele poderia escalá-las. Em outras palavras, a realidade
dos mundos possíveis é irrelevante para a descoberta da verdade
de proposições modais.
Isso não mostra que o platonismo modal é falso. O platonista
modal (como o platonista matemático) irá negar que o conhe-
cimento depende sempre de uma relação causal. A realidade de
mundos possíveis é uma exigência ontológica para assegurar os
valores de verdade de proposições modais. Entretanto, se esse
fosse o único tratamento plausível da modalidade (explorare-
mos um outro no Capítulo 4), alguém poderia rapidamente ser
levado a considerar maneiras de evitar modalidades em geral.
O tratamento clássico substitui o discurso acerca das noções de
necessidade e possibilidade, e sobre mundos e situações possí-
veis, por um discurso acerca de substituições e interpretações
admissíveis. Isso mantém nosso problema dentro do âmbito
epistemológico. Somos nós que interpretamos expressões e
fornecemos seus significados; somos nós que produzimos novas
proposições, ao substituir expressões de proposições dadas;
somos nós que verificamos se as proposições resultantes são de
fato verdadeiras. O tratamento interpretacional promete redu-
zir uma linguagem metafisicamente problemática a formas de
expressão limpas e claras.
Entretanto, tal redução falha. Pois “nada é redondo e
quadrado” é necessariamente verdadeira, mas seus componen-
tes não lógicos podem ser interpretados de modo a torná-la
falsa. Alguém poderia, baseado na solução anteriormente dada
que considerou variações nos domínios, sustentar que alguma
pequena revisão poderia resolver o problema, pois aquela pare-
ceu ser uma boa estratégia para o problema inverso: “existem
72
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 72 06/06/14 12:25
pelo menos duas coisas” não é necessariamente verdadeira, e,
portanto, não é logicamente verdadeira. Mas podemos agora
ver que admitir variações de domínios foi um desastre para o
tratamento clássico. Ao mudarmos a interpretação, ou fazermos
uma substituição, verificávamos se a proposição assim obtida
era de fato verdadeira ou falsa. Ao variar o domínio, temos de
verificar se a proposição seria verdadeira ou falsa – voltamos
às noções modais. Podemos mudar a interpretação dos termos,
podemos efetuar a substituição de uma expressão por outra. Mas
não podemos de fato variar o domínio. Alguém poderia replicar
que podemos fazê-lo considerando que as variáveis percorrem um
subconjunto de nosso universo – por exemplo, para demonstrar
que “existem pelo menos duas coisas” poderia ser falsa. Mas
supor que isso é sempre possível exige que deixemos de lado
a questão do tamanho do universo real. Não importa quão
grande ele seja, podemos encontrar inferências cuja invalidade
é demonstrada somente pela consideração de um universo com
um domínio maior. Podemos somente especular, ou calcular, ou
adivinhar, se uma proposição seria verdadeira em uma tal situa-
ção. E se podemos fazer isso, então podemos também especular,
ou calcular, ou adivinhar, o que seria o caso se Edmundo e todos
os alpinistas fossem corajosos. Em particular, podemos ver que
Edmundo não seria necessariamente um alpinista.
Consequência lógica é realmente uma questão do que seria
o caso se as premissas fossem verdadeiras. Uma proposição é
consequência lógica de outras se ela fosse verdadeira caso as
outras fossem verdadeiras, isto é, quando é impossível estas últi-
mas serem verdadeiras e a primeira falsa. A consequência lógica
fornece uma garantia de que as conclusões são verdadeiras se as
premissas forem verdadeiras, isto é, as conclusões não podem
ser falsas sendo as premissas verdadeiras. A lógica clássica tenta
substituir esse discurso em termos de necessidade e possibilidade
por interpretações e substituições, mas isso é inadequado. Em
particular, ao insistir que todo caso de consequência lógica é
73
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 73 06/06/14 12:25
uma questão de forma, a lógica clássica falha ao considerar
válidas inferências cuja correção depende das conexões entre
termos não lógicos. Dado que um objeto é redondo, se segue
daí que ele não é quadrado; mas essa inferência não é válida
em virtude da sua forma, mas sim em virtude de seu conteúdo,
do que significa ser redondo. Podemos dizer que a inferência é
materialmente válida, isto é, válida em virtude do seu conteúdo,
não da sua forma.
Tais conexões entre termos são frequentemente denominadas
analíticas. Ao insistir na natureza formal da consequência, a
natureza das conexões analíticas sofreu ataques de vários lógi-
cos clássicos durante o século 20. Uma maneira de defender a
lógica clássica e a tese de que todas as consequências válidas
são válidas em virtude da forma é rejeitar conexões analíticas e
verdades analíticas, sustentando que elas não possuem a firmeza
e imutabilidade da lógica.
Outra maneira de defender a natureza formal da validade é
rejeitar que exemplos como “nada é simultaneamente redondo e
quadrado” sejam verdades lógicas, mas sim verdades acerca do
significado. Compare com “todo mapa plano pode ser colorido
com no máximo quatro cores” (o Teorema das Quatro Cores);
embora verdadeiro, e necessariamente verdadeiro, não se trata
de uma verdade lógica, mas sim de uma verdade matemática.
Sua prova exige pressupostos matemáticos substanciais que acre-
ditamos serem necessariamente verdadeiros. Logo, nem todas
as verdades necessárias são verdades lógicas. Da mesma forma,
poderíamos dizer que “isso não é quadrado” não se segue logi-
camente de “isso é redondo”, mas somente pela adição de mais
uma premissa, dessa vez um fato acerca do significado, a saber,
“nada é simultaneamente redondo e quadrado”. Na verdade, o
caso da matemática é difícil: em particular, uma explicação de
nossa habilidade em apreender a verdade de proposições mate-
máticas é que elas podem ser reduzidas à lógica. Uma grande
parte da matemática pode ser elaborada em lógica de segunda
74
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 74 06/06/14 12:25
ordem, que antes já argumentei que é lógica – e inversamente,
aqueles que acreditam que a matemática vai além da lógica
usam esse fato para argumentar que a lógica clássica está correta
ao excluir a lógica de segunda ordem. A regra-w é vista então
como uma inferência que não é logicamente válida, mas que é
substancialmente matemática.
O que nós deveríamos reconhecer é que a lógica clássica de
primeira ordem é inadequada para descrever todas as consequências
válidas, isto é, todos os casos nos quais é impossível as premis-
sas serem verdadeiras e a conclusão, falsa. Se as teorias que
complementam a lógica clássica de primeira ordem devem ser
consideradas lógicas ou não – se elas são teorias matemáticas,
ou do significado – é um ponto a ser discutido.
Relevância
Por fim, vamos deixar os casos nos quais a lógica clássica
produz menos inferências válidas do que deveria, isto é, não
reconhece como válidas consequências que intuitivamente são
válidas, e considerar os casos em que a lógica clássica produz
mais inferências válidas do que deveria, isto é, casos em que
inferências intuitivamente inválidas tornam-se válidas segundo
o critério clássico. O mais notório é o chamado ex falso quodli-
bet (EFQ), que já foi mencionado. Ele permite a inferência de
qualquer proposição a partir de uma contradição. Sua forma
é “A e não-A, logo B”. Quaisquer que sejam as proposições
colocadas nos lugares de A e B, não há uma circunstância em
que a premissa seja verdadeira e a conclusão, falsa, simples-
mente porque nenhuma proposição da forma “A e não-A” é
verdadeira. (Alguns lógicos, in extremis, negaram esse ponto
– ver o Capítulo 6. Mas, por ora, vamos deixar isso de lado.)
Logo, de acordo com o critério clássico, a inferência é válida.
Isso significa, por exemplo, que deveríamos aceitar como válida
a seguinte inferência:
75
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 75 06/06/14 12:25
Ernesto é corajoso e Ernesto não é corajoso. Logo, Ernesto
é um alpinista.
Ou ainda pior:
Ernesto é corajoso e Ernesto não é corajoso. Logo, este
fósforo não vai acender.
Mas o que a coragem, ou covardia, de Ernesto tem a ver com
o fósforo acender ou não? As afirmações contraditórias acerca
da sua coragem não fornecem apoio algum para a conclusão –
alguém poderia dizer que elas nem mesmo são relevantes para a
conclusão. A objeção, portanto, é a de que o critério de preser-
vação da verdade da concepção clássica legitima inferências nas
quais as premissas não são relevantes para a conclusão. Mas
um tratamento da consequência lógica deveria reconhecer não
apenas que inferências válidas preservam verdade mas também
que as premissas devem ser relevantes para a conclusão.
Um caso similar de irrelevância surge quando a conclusão é
uma verdade lógica, pois verdades lógicas não podem ser falsas
– independentemente do modo pelo qual as letras esquemáti-
cas são interpretadas, obtemos uma proposição verdadeira;
ou quaisquer que sejam as substituições feitas nos termos não
lógicos, o resultado é verdadeiro. Sendo assim, quaisquer que
sejam as premissas da inferência, se a conclusão é uma verdade
lógica, nenhuma interpretação irá tornar as premissas verdadei-
ras e a conclusão falsa. Por conseguinte, uma verdade lógica é
consequência lógica de qualquer conjunto de proposições. Isso
significa que as seguintes inferências são válidas:
Este fósforo vai acender. Logo, Ernesto é corajoso ou
não é corajoso.
E:
Todos os alpinistas são corajosos. Ernesto é um alpinista.
Logo, uma mariposa é uma mariposa.
76
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 76 06/06/14 12:25
Novamente, as premissas não parecem ser relevantes para a
conclusão e, portanto, não deveriam implicar a conclusão.
O problema não afeta apenas a versão do tratamento clássico
da noção de consequência lógica baseada em interpretações.
Ele também ocorre no tratamento baseado nas noções modais,
pois se uma proposição é consequência lógica de outras, se for
impossível ela ser falsa enquanto essas outras são verdadeiras,
então qualquer proposição é consequência de um conjunto de
proposições que não podem ser todas verdadeiras, e qualquer
proposição que não pode ser falsa é consequência de quaisquer
outras proposições. Daí se segue que a consequência lógica
também legitima as seguintes inferências:
Todos os quadrados são redondos. Logo, Ernesto é
corajoso.
E:
Alguns atletas são alpinistas. Alguns alpinistas são cora-
josos. Logo, todo efeito tem uma causa.
Como poderíamos incorporar a demanda por relevância no
critério de consequência lógica? Um método poderia consistir
em oferecer um tratamento da relevância em termos do conteúdo
que seria combinado com o critério de preservação da verdade de
modo a fornecer um tratamento mais preciso no qual relevância
fosse um componente necessário. Mas é improvável que essa
opção seja bem-sucedida. Considere a inferência:
Todos os quadrados são redondos. Logo, todas as coisas
redondas são quadradas.
Segundo o critério de conteúdo, premissa e conclusão parecem
ser tão intimamente relacionadas quanto seria possível para duas
proposições. Mas, ainda assim, a única coisa que torna a inferên-
cia válida – se é que ela é válida – é a impossibilidade lógica da
premissa. Isto é, a inferência poderia satisfazer os princípios de
relevância e preservação da verdade separadamente. Mas, mesmo
77
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 77 06/06/14 12:25
assim, considerar o exemplo acima uma inferência válida parece
ser tão aberto a objeções quanto os outros exemplos.
Um caminho melhor para superar essa dificuldade é diag-
nosticar o real problema com o tratamento da consequência
lógica em termos de preservação da verdade e então revisá-lo
à luz de tal diagnóstico. A concepção clássica tem a forma de
“é impossível que A e não-B” – ou “sob nenhuma interpreta-
ção temos A e não-B” –, onde A significa que as premissas são
verdadeiras e B que a conclusão é verdadeira. Isso aparente-
mente captura nossas intuições até que percebemos que, se é
impossível que A (ou necessário que B), então é impossível que
tenhamos simultaneamente A e não-B. De início, pensamos que
essa impossibilidade consistiria de algum modo em uma relação
entre A e não-B – que B é uma consequência lógica de A. Esse
pensamento é então subvertido pela impossibilidade isolada de
A ou necessidade de B.
Como já foi mencionado, o que um argumento válido deve
fazer é fornecer uma garantia de que a conclusão é verdadeira
sempre que as premissas forem verdadeiras, isto é, que é neces-
sário que se as premissas forem verdadeiras a conclusão também
seja verdadeira. Poderíamos pensar que a condição “se as premis-
sas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira”
(se A, então B) é o mesmo que “não é o caso que as premissas
sejam verdadeiras e a conclusão, falsa” (não ambos A e não-B).
Posto que “é necessário que não…” é o mesmo que “é impossí-
vel que…”, achamos que poderíamos expressar com segurança
o critério de preservação da verdade como sendo “é impossível
que ambos A e não-B”, isto é, “é impossível que as premissas
sejam verdadeiras e a conclusão, falsa”. Mas agora vemos que
houve um engano. Pois ainda que, se é impossível que A, então é
impossível que ambos A e não-B (e similarmente, se é necessário
que B, então é impossível que ambos A e não-B) e não é óbvio
que da afirmação de que A é impossível (ou que B é necessário)
se siga que é necessário que se A, então B. Essas inferências
serão examinadas mais detalhadamente no Capítulo 3, quando
78
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 78 06/06/14 12:25
discutiremos condicionais. Tais inferências são tão implausíveis
quanto o próprio ex falso quodlibet, por exemplo, em:
É impossível que todos os quadrados sejam redondos.
Logo, se todos os quadrados são redondos, então todas
as coisas redondas são quadradas.
(Note que isso não é um caso de EFQ: “é impossível que todos
os quadrados sejam redondos” não é uma proposição impossível
– na verdade, ela é necessariamente verdadeira.) Daí se segue que
o critério de preservação da verdade é de fato correto – o que
estava errado é o modo pelo qual ele foi expresso e a crença de
que ele tornava válidas inferências do tipo EFQ. Não precisamos
adicionar a relevância como uma condição necessária a mais
para a consequência lógica, além da condição de preservação da
verdade. Se esta última for corretamente expressa, ela já exclui
essas inferências implausíveis e irrelevantes. Uma proposição
é consequência lógica de outras proposições se for necessário
que, sendo estas últimas verdadeiras, então a primeira também
seja verdadeira.
Não é dessa forma que o lógico clássico compreende o critério,
no entanto, e ele pode contra-argumentar. Um modo de compre-
ender a resposta clássica é o de que talvez tenhamos sido muito
apressados em nosso julgamento do que seja relevante em relação
a quê. Afinal, se uma proposição é realmente uma consequência
lógica de outras, então estas últimas devem ser pelo menos logi-
camente relevantes para aquela – o que mais poderia querer um
lógico para caracterizar relevância? Uma inferência sabidamente
válida, portanto, não pode ser atacada com base na relevância,
pois se há razões para endossar a inferência, essas mesmas razões
mostram igualmente que uma conexão relevante existe. O resul-
tado é que tanto o lógico clássico quanto seu oponente mantêm
suas posições, um usando o critério de preservação da verdade
(interpretado ao seu modo – “é impossível simultaneamente A e
não-B”) para sustentar seu endosso ao EFQ, o outro apelando
à intuição para rejeitá-lo.
79
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 79 06/06/14 12:25
Iremos considerar mais argumentos contra a posição clás-
sica no próximo capítulo, quando analisarmos as condicionais.
Podemos fechar este capítulo examinando, por um lado, um
argumento a favor da validade de EFQ e, de outro lado, uma
tentativa de bloqueá-lo. Até agora, neste capítulo, a noção
de prova recebeu muito pouca atenção. Em um determinado
momento, defensores da lógica clássica, em sua antipatia pela
noção de necessidade, foram tão longe a ponto de definir uma
inferência válida como uma inferência de acordo com as regras da
lógica. O problema que naturalmente surge é justificar as regras
da lógica. Em última análise, para a lógica clássica, tal como a
estou apresentando aqui, a base da consequência lógica tem de
ser semântica. A noção de prova irá aparecer por ela própria
mais tarde (Capítulo 8) quando considerarmos as objeções à
concepção realista de verdade e o que justifica as restrições
epistêmicas de tais conceitos.
Entretanto, está aberta ao lógico clássico a tarefa de produzir
uma prova da conclusão de EFQ a partir de suas premissas –
isto é, produzir uma sequência de passos de acordo com certas
regras de inferência, e desafiar seu oponente a rejeitar uma dessas
regras. Pois se todos os passos da prova forem válidos, parece-
ria plausível concluir que a prova como um todo é válida, isto
é, que sua conclusão se segue das premissas. O argumento é o
seguinte: partindo de uma contradição arbitrária, da forma “A
e não-A”, passo a passo obtemos uma conclusão B, isto é, uma
conclusão que aparentemente não é relevantemente conectada
com a premissa:
Suponha A e não-A
Então, por simplificação, temos A
e por adição A ou B
Mas, por simplificação de novo, temos não-A
e pelo silogismo disjuntivo B
80
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 80 06/06/14 12:25
As regras de inferência acima são mencionadas aqui pelos seus
nomes tradicionais. Simplificação é um nome para a inferência de
P a partir de “P e Q”, e também de Q a partir de “P e Q”. Adição
nomeia a inferência de “P ou Q” a partir de P, ou igualmente a
partir de Q. Por fim, o silogismo disjuntivo nos autoriza a inferir
Q de “P ou Q” e “não-P”. Cada uma dessas regras parece ser
intuitivamente válida, e certamente todas preservam a verdade.
Se “P e Q” for verdadeira, então P deve ser verdadeira e Q deve
ser verdadeira. Se P é verdadeira, então, ou P é verdadeira, ou
Q é verdadeira, logo “P ou Q” deve ser verdadeira. Se “não-P”
é verdadeira, então P não pode ser verdadeira, logo, se “P ou
Q” também é verdadeira, deve ser Q a proposição verdadeira.
Temos, portanto, uma sequência de passos, cada um dos quais,
sendo a premissa verdadeira, a conclusão deverá ser verdadeira.
Alguém poderia rejeitar o pressuposto de que uma sequência
de passos válidos torna-se um único passo válido do início ao
fim – a chamada “transitividade da prova”. Caso contrário,
então, a menos que alguém possa rejeitar algum desses passos
muito plausíveis, B de fato se segue de “A e não-A”, para uma
proposição arbitrária B, isto é, EFQ é válido.
É certo que o argumento deveria precisar de algo mais, além
do fato de preservar a verdade. Sabemos que EFQ preserva a
verdade da conclusão – de fato, esse é o problema. A questão é
se a preservação da verdade é o bastante. Para o lógico clássico,
aqui não se trata de desafiar seu oponente a apresentar um
contraexemplo. É consenso em ambos os lados que não existe
um caso em que premissas sejam verdadeiras e a conclusão, falsa.
O que está em disputa é se produzir um tal contraexemplo é
condição necessária para invalidade – isto é, se a incapacidade de
produzir um contraexemplo é suficiente para a validade. De fato,
cada um desses passos já foi alguma vez colocado em questão
por algum lógico. Gostaria de me concentrar em um dos passos
acima, o último deles.
81
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 81 06/06/14 12:25
O silogismo disjuntivo diz que de “P ou Q” e “não-P” pode-
mos validamente inferir Q. Vamos parar por um momento e
pensar acerca desse passo. Suponha que desejamos inferir Q de
“não-P”; o que mais precisamos saber para podermos fazer isso?
A resposta é: “se não-P, então Q”. O mínimo que precisamos
saber para passarmos de “não-P” para Q é que se não-P, então
Q. Logo, se o silogismo disjuntivo é válido, a premissa maior
“P ou Q” deve ser equivalente a (ou implicar) “se não-P, então
Q”. E isso parece ser o caso: “ou Edmundo é covarde ou é alpi-
nista” parece dizer o mesmo que “se Edmundo não é covarde,
ele é um alpinista”. Ou Edmundo é covarde ou não é, e nesse
caso ele é um alpinista.
Mas há um problema aqui. Pois “P ou Q” foi inferido de P –
concordamos que Edmundo é covarde ou um alpinista baseado
no fato que ele é covarde. Se por um lado parece correto argu-
mentar que “Edmundo é covarde ou é um alpinista” se segue
de “Edmundo é covarde”, é bem menos plausível dizer que “se
Edmundo não é covarde, então ele é um alpinista” se segue da
premissa “Edmundo é covarde”. Dado que ele é covarde, segue-se
que ou ele é covarde ou – qualquer coisa. Mas simplesmente do
fato que ele é covarde, não se segue que se ele não for covarde,
então – qualquer coisa. A questão, aqui, afeta diretamente as
condicionais, e nós a examinaremos no próximo capítulo. Mas
a conclusão tem de ser a de que o argumento apresentado acima
trata a fórmula “A ou B” de maneira ambígua. Por um lado,
“A ou B” se segue de A apenas – mas então não é equivalente
a “se não-A, então B”. Por outro lado, “A ou B” é equivalente
à condicional “se não-A, então B” e, junto com a premissa
menor “não-A”, implica B. Mas esses dois sentidos não podem
ser o mesmo – ou, pelo menos, que tenham um mesmo sentido
é tão passível de disputa quanto afirmar que EFQ é um caso de
consequência válida.
Vamos, por ora, deixar a questão da relevância da seguinte
forma: existe um argumento convincente contra a interpretação
82
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 82 06/06/14 12:25
clássica da noção de preservação da verdade: que ela foi inter-
pretada de modo muito impreciso e que inferências que são
admitidas pela lógica clássica como válidas na verdade não são
válidas. Para os propósitos da consequência lógica, as premissas
não são relevantes para a conclusão.
Resumo e sugestões para leituras
Neste capítulo, argumentei que o conceito central da lógica é
o conceito de consequência lógica. Mas durante uma boa parte
do século 20 não foi essa a concepção que prevaleceu. Antes,
a noção de verdade lógica é que esteve na posição central. Em
muitos livros de lógica, a expressão “consequência lógica”
(e expressões equivalentes) não é encontrada no índice. Nesses
livros, validade será identificada com verdade lógica. A lógica
era concebida como um conjunto de verdades, derivadas a partir
de axiomas autoevidentes por duas ou três regras de inferência
modus ponens, generalização universal e (usualmente) substitui-
ção. Um exemplo paradigmático é Methods of Logic, de Quine.
Mas, como podemos ver pela minha referência a Bolzano (ver
Theory of Science), não foi sempre dessa forma. De fato, tanto
a silogística de Aristóteles quanto a teoria medieval da conse-
quentiae davam supremacia à teoria da inferência. Tampouco
a noção de consequência lógica foi completamente ignorada,
mesmo durante os primeiros anos do século 20. Entretanto, os
trabalhos inovadores de Tarski e Gentzen nos anos de 1930 só
foram devidamente reconhecidos muito mais recentemente. Os
artigos de Tarski sobre consequência lógica, especialmente “On
the Concept of Logical Consequence” (todos estão na coletânea
dos artigos de Tarski traduzidos para o inglês sob o título Logic,
Semantics and Metamathematics) merecem ser lidos.
Tentei chamar a atenção para três características do para-
digma clássico desenvolvido nos trabalhos de Frege, Russell e
Tarski: a lógica é formal, preserva verdade e é compacta. Ela
83
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 83 06/06/14 12:25
é também simbólica, mas isso não deve ser confundido com o
fato de ser formal. A lógica é formal ao usar letras esquemáticas
para identificar a estrutura formal dos argumentos, mantendo
fixas apenas as expressões lógicas (ou “constantes lógicas”
como são frequentemente denominadas); e é simbólica ao usar
símbolos para representar as constantes lógicas (e também
métodos técnicos para manipular tais símbolos). Mas muitos
dos livros didáticos modernos usam indistintamente os títulos
“Lógica formal” e “Lógica simbólica”. Há uma enorme sele-
ção de textos. Logical Forms, de Mark Sainsbury, tem um viés
iluminador e pouco usual, e apresenta a importância da noção
de forma para o paradigma clássico. G. B. Keene fornece uma
defesa espirituosa para a restrição da lógica ao estudo apenas
da forma em seu Foundations of Rational Argument, cap. 2,
seção 2.
Atribuí a proeminência dada à noção de verdade lógica
à predominância do método axiomático no início do desen-
volvimento da lógica moderna. Isso provavelmente também
explica o posterior desenvolvimento dos métodos semânticos.
Uma história do conceito de preservação da verdade aparece
no artigo de Etchemendy sobre Tarski mencionado no cap. 1:
“Tarski on Truth and Logical Consequence”, que é também
uma boa introdução ao ataque de Etchemendy à concepção
de consequência lógica de Tarski, que encontramos em The
Concept of Logical Consequence.
As limitações expressivas da lógica de primeira ordem (o
paradigma clássico) não são enfatizadas pelos seus represen-
tantes principais. Em um artigo importante (e técnico) de 1969,
Per Lindström fornece uma dupla caracterização, bastante útil,
dessas limitações. De um lado temos a compacidade e a conse-
quente incapacidade de expressar noções como “finitude” e de
obter um conjunto de fórmulas de primeira ordem que caracte-
rize categoricamente o modelo standard da aritmética, isto é, o
conjunto de números naturais. Compacidade recebe esse nome
84
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 84 06/06/14 12:25
por analogia à propriedade topológica correspondente: toda
cobertura de um espaço compacto tem uma subcobertura finita;
equivalentemente, se a interseção de uma família de conjuntos
fechados é vazia, também será vazia a interseção de um subcon-
junto finito (a propriedade da interseção finita, p.i.f.). A história
do lento reconhecimento da importância da noção de compaci-
dade é relatada de modo intrigante por John Dawson em “The
Compactness of First-Order Logic: From Gödel to Lindström”.
O outro aspecto limitador da lógica de primeira ordem é o que
chamamos de Propriedade de Löwenheim-Skolem-Tarski, e o
consequente paradoxo de Skolem, mostrando que qualquer
teoria de conjuntos de primeira ordem é inadequada. Uma
discussão interessante pode ser encontrada em dois artigos de
P. Benacerraf e C. Wright, ambos com o título “Skolem and the
Skeptic”. Hilary Putnam trata do tema no seu artigo “Models
and Reality”, que tem um papel central em seu argumento contra
o realismo metafísico, mencionado no capítulo 1. Uma das
primeiras indicações de que a lógica de primeira ordem produz
menos inferências válidas do que deveria está no famoso artigo
de Gödel de 1931. Dentre muitas exposições elementares, reco-
mendo particularmente Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden
Braid, de D. Hofstadter. Sobre Gödel e também sobre outros
resultados de limitação, ver também What is Mathematical
Logic? de J. Crossley et al. Recomenda-se, entretanto, que o
leitor consulte também a resenha de S. Shapiro e J. Corcoran em
Philosophia, onde algumas imprecisões do livro de Crossley são
apontadas. Não obstante, o livro de Crossley tem o mérito de
transmitir resultados técnicos difíceis (e importantes) de modo
claro e amigável. Uma discussão exemplar de toda a questão
da expressibilidade encontra-se em “Which Logic is the Right
Logic?” de Leslie Tharp.
Insatisfações com o fato da concepção clássica produzir
mais inferências válidas do que deveria são muito antigas,
mas tratamentos alternativos somente foram sistematicamente
85
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 85 06/06/14 12:25
desenvolvidos no século 20. O tratamento mais completo
da noção de relevância data de 1956, um artigo de Wilhelm
Ackerman, e engendrou a linha de pesquisa da “lógica relevante”.
Uma abordagem enciclopédica pode ser encontrada nos dois
volumes de Entailment: The Logic of Relevance and Necessity,
de A. Anderson e N. Belnap, dois dos principais representantes
da lógica relevante. Uma exposição mais recente, e mais sucinta,
está em Relevant Logic, do presente autor.
Outras tentativas importantes de se evitar a produção de
mais inferências válidas do que seria desejável na lógica clássica
são a lógica da implicação analítica (ver W. T. Parry, “Analytic
Implication: Its History Justification and Varieties”), que rejeita
o princípio da adição; e a chamada “lógica relevante intuicio-
nista” de Neil Tennant, apresentada em seu livro Anti-Realism
and Logic, que restringe a transitividade da inferência válida.
(A tradução deste capítulo se baseou em uma versão
feita em 2009 por Cristiano Picasso e Guilherme de
Oliveira, então alunos da graduação em Filosofia da
UFMG, sob a supervisão do presente tradutor.)
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 86 06/06/14 12:25
3
O poder de um se
teorias de condicionais
Condicionais são proposições da forma “se A, então B”,
como por exemplo:
Se a libra não for desvalorizada, a recessão continuará
Se Oswald não tivesse matado Kennedy, alguma outra
pessoa o teria matado
e
Se Aristóteles escreveu quaisquer diálogos, eles não
sobreviveram.
Algumas vezes a forma não é tão clara, e precisamos reescrever
a proposição para obter a forma “se A, então B”:
Vamos pegar o ônibus às 9h20, se ele chegar no horário
Charles, se fosse limpar seu nome, teria de fazer uma
confissão honesta
Contanto que os números do desemprego sejam satis-
fatórios, o governo irá sobreviver ao voto de confiança
Uma condição suficiente para obter a bolsa é ser o pri-
meiro lugar da classe.
Todas as proposições acima podem ser colocadas na forma “se
A, então B”. A marca o lugar do antecedente da condicional,
B, do consequente. Todas – com exceção da segunda, que está
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 87 06/06/14 12:25
no subjuntivo – estão no modo indicativo. Condicionais podem
também envolver questões, comandos e outros modos de discurso
no consequente:
Se a campainha tocar, desligue o forno
Se não há alternativa, por que o presidente pede crédito
para tomar decisões difíceis?
e
Se o ônibus não chegar até as 10h30, vamos caminhando
mesmo.
Neste capítulo, não vamos considerar condicionais desse último
tipo – comandos, questões e optativas, independentemente de
serem condicionais, demandam abordagens distintas. Além
disso, de início iremos nos concentrar em condicionais no modo
indicativo, mas mais adiante veremos também condicionais no
modo subjuntivo.
Quando fazemos asserções de condicionais com antecedente
e consequente no indicativo, que podem ser enunciados e avalia-
dos como verdadeiros ou falsos em si mesmos, aparentemente
estamos enunciando uma proposição que é ou verdadeira ou
falsa. Consideramos que
Se você ficar em primeiro lugar, ganhará uma bolsa
Se Aristóteles escreveu quaisquer diálogos, eles não
sobreviveram
Se o ônibus estava no horário, eles o pegaram às 9h20
fazem asserções que são verdadeiras ou falsas. Podemos concor-
dar ou discordar delas, e fornecer evidências contra ou a favor
delas – elas constituem em si mesmas proposições compostas de
proposições. São proposições complexas ou moleculares.
Disjunções e conjunções são também proposições complexas.
E, nesses casos, se a proposição complexa é verdadeira ou falsa
depende diretamente de seus constituintes serem verdadeiros
ou falsos. Se uma das partes de uma proposição disjuntiva é
88
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 88 06/06/14 12:25
verdadeira, a proposição inteira é verdadeira; se ambas as partes
de uma proposição conjuntiva é verdadeira, a conjunção inteira
é verdadeira; e em todos os outros casos essas proposições
complexas são falsas. O tratamento standard, ou clássico, das
condicionais trata as proposições condicionais de modo similar,
pelo menos no caso das condicionais indicativas. A condicional
inteira é verdadeira no caso de o antecedente ser falso ou de o
consequente ser verdadeiro.
Considere as três condicionais imediatamente acima. A
primeira diz:
Ou você não fica em primeiro lugar, ou você ganhará
uma bolsa
que parece verdadeira ou no caso de você não ficar em primeiro,
ou no caso de você ganhar a bolsa – isto é, no caso em que você
fica em primeiro e ganha a bolsa. Da mesma forma, a segunda diz
Ou Aristóteles não escreveu quaisquer diálogos, ou eles
não sobreviveram
e, novamente, isso certamente é verdadeiro no caso de Aristóteles
não ter escrito diálogo algum, ou no caso de tê-los escrito, mas
eles não terem sobrevivido. Por fim, a terceira condicional é
verdadeira no caso de o ônibus não estar no horário, ou no caso
de estar no horário e ter sido pego. Isto é, cada condicional é
verdadeira no caso de o antecedente ser falso, ou no caso de o
consequente ser verdadeiro. Isso porque, como observamos no
capítulo anterior, uma condicional “se A, então B” parece em
geral ser equivalente a um enunciado disjuntivo “ou não-A, ou
B”, isto é, “ou não-A, ou A, e nesse caso B”.
Dizemos que conjunções e disjunções são vero-funcionais,
porque sua verdade depende imediata e diretamente da verdade
dos seus constituintes. Uma disjunção é verdadeira se um dos
disjuntos é verdadeiro, caso contrário é falsa; uma conjunção é
verdadeira se ambos os conjuntos são verdadeiros, caso contrário
é falsa. (“Disjunto” e “conjunto” aqui são termos técnicos para
89
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 89 06/06/14 12:25
os componentes de proposições disjuntivas e conjuntivas.) Existe
uma “função” dos valores de verdade, das partes constituintes
para o valor de verdade da proposição complexa inteira. Essas
funções, isto é, o fato de o valor de verdade do todo depender
dos valores de verdade das partes, são frequentemente apresen-
tadas na forma de tabelas de verdade. Para a disjunção, a função
produz o valor “verdadeiro”, se uma das partes é verdadeira, e
“falso”, se ambas as partes são falsas:
A B A ou B
V V V
V F V
F V V
F F F
Considere que “V” representa “verdadeiro” e “F” representa
“falso”; assim, “ou” mapeia os pares de valores de verdade <V,
V>, <V, F> e <F, V> para V, e o par <F, F> para F. De modo
análogo, a função correspondente à conjunção produz “verda-
deiro” apenas quando ambas as partes são verdadeiras:
A B AeB
V V V
V F F
F V F
F F F
isto é, “e” mapeia o par <V, V> para V e os pares <V, F>, <F,
V> e <F, F> para F.
A visão padrão dos condicionais é a de que eles também são
vero-funcionais, isto é, a de que seus valores de verdade são
determinados pelos valores de verdade de seus constituintes.
Isso se segue imediatamente da equivalência entre condicionais
e disjunções, e da natureza vero-funcional da disjunção. Desse
modo, a tabela de verdade da condicional é a seguinte:
90
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 90 06/06/14 12:25
A B Se A, então B
V V V
V F F
F V V
F F V
isto é, “se…então” mapeia os pares de valores de verdade <V,
V>, <F, V> e <F, F> para V, e o par <V, F> para F.
A tese conversacionalista
Entretanto, tratar condicionais como sendo vero-funcionais
leva a vários problemas. Suponha que a libra será desvalorizada,
mas a recessão, contudo, irá continuar. Isso já seria o suficiente
para corroborar a afirmação de que se a libra não é desvalorizada,
a recessão continuará? De acordo com o tratamento vero-funcio-
nal, a resposta é positiva. Traduzida em termos da disjunção, a
condicional diz que ou a libra será desvalorizada, ou a recessão
irá continuar. Se a libra for desvalorizada, essa disjunção é verda-
deira; por outro lado, se a recessão continuar (independentemente
do que aconteça com a libra), a disjunção é verdadeira. Mas a
condicional sugere uma conexão mais direta entre o antecedente
e o consequente. O tratamento vero-funcional implica que a
condicional é verdadeira simplesmente em virtude dos valores de
verdade de seus constituintes. Mas em geral, quando pensamos
sobre isso, assumimos que condicionais adquirem seus valores de
verdade em virtude de uma conexão entre antecedente e conse-
quente. Mas vemos agora que pode não haver conexão alguma,
muito embora, no tratamento vero-funcional, os valores possam,
por coincidência, ser tais que impliquem a verdade da condicio-
nal. Portanto, surgem dúvidas de se o tratamento vero-funcional
consegue captar a história toda.
O argumento oferecido em defesa da vero-funcionalidade foi
sucinto: ele dependeu da equivalência entre a condicional “se A,
então B” e a disjunção “ou não-A, ou B” e da vero-funcionalidade
91
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 91 06/06/14 12:25
da disjunção. Mas podemos nos perguntar se de fato existe essa
relação entre a condicional e a disjunção. A dúvida surgiu no
capítulo anterior. “Se o Edmundo não é covarde, então ele é um
alpinista” parece significar que ou Edmundo é covarde, ou ele
é um alpinista – ou ele é covarde, ou não é, e nesse caso é um
alpinista. Mas a disjunção é desmembrada em dois aspectos:
de um lado, ser equivalente à condicional correspondente e, do
outro, ser vero-funcional. As premissas desse breve argumento
(equivalência e vero-funcionalidade) não podem ser satisfeitas
simultânea e univocamente pela disjunção.
Há, entretanto, um argumento mais elaborado em defesa da
vero-funcionalidade. Ele toma como ponto de partida o trata-
mento usual da consequência lógica, que já examinamos aqui, e
acrescenta a observação de que as condicionais são usadas para
expressar o fato de que a conclusão de um argumento depende
de suas premissas. Isto é, uma condicional é verdadeira, dadas
certas pressuposições, apenas no caso em que seu consequente
se segue logicamente do seu antecedente juntamente com tais
pressuposições:
“Se A, então B” se segue de certas proposições
se e somente se
B se segue dessas mesmas proposições juntamente com
A.
Por exemplo:
“Se Edmundo é corajoso, então ele é um alpinista” se
segue de “toda pessoa corajosa é alpinista”
se e somente se
“Edmundo é alpinista” se segue de “toda pessoa corajosa
é alpinista” e “Edmundo é corajoso”.
Condicionais não apenas correspondem a argumentos válidos,
mas frequentemente são usadas para dizer que tais argumentos
são válidos. Podemos dizer que, em um argumento válido, se as
premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira,
92
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 92 06/06/14 12:25
sendo essa conexão reforçada por meio da referência à necessi-
dade ou à generalidade: segundo o tratamento clássico da vali-
dade, visto no capítulo anterior, qualquer que seja o modo pelo
qual as letras esquemáticas são interpretadas, se as premissas são
verdadeiras, a conclusão é também verdadeira. Vamos denomi-
nar essa relação entre condicionais e a consequência lógica (ou
validade) de “teorema da dedução”.1
Do tratamento padrão da consequência e do teorema da
dedução se segue que condicionais são vero-funcionais. Primeiro,
suponha que A é verdadeira e B falsa. Então se a condicional
“se A então B” fosse verdadeira, B seria verdadeira (por modus
ponens). Logo, posto que B é falsa, “se A então B” deve também
ser falsa, posto que A é verdadeira. De fato, não há discordância
nesse ponto: se A é verdadeira e B falsa, então “se A então B”
não pode ser verdadeira.
O que ocorre quando A é falsa, ou quando B é verdadeira?
Trataremos desses casos separadamente. Suponha que A é falsa.
Pelo princípio ex falso quodlibet, B se segue de A e “não-A”.
Logo, pelo teorema da dedução, “se A, então B” se segue de
“não-A”. Mas, posto que A é falsa, “não-A” é verdadeira, logo
“se A, então B” deve ser verdadeira.
Suponha agora que B é verdadeira. Novamente, pelo
tratamento padrão, B se segue de A e B. Logo, pelo teorema da
dedução, “se A, então B” se segue de B. Como estamos assu-
mindo que B é verdadeira, daí se segue que “se A, então B” é
verdadeira. Portanto, em ambos os casos, seja A falsa ou B verda-
deira, o tratamento padrão da consequência juntamente com o
teorema da dedução implicam que “se A, então B” é verdadeira.
Todos os casos já foram tratados: se A é falsa, a condicional
é verdadeira; se B é verdadeira, a condicional é verdadeira; e se
A é verdadeira e B é falsa, a condicional é falsa. Assim, o valor
de verdade da condicional é completamente determinado pelos
valores de verdade de seus constituintes.
Isso reforça o tratamento clássico das condicionais, mas não
explica os contraexemplos. Não explica o problema de que, por
93
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 93 06/06/14 12:25
exemplo, a possível covardia de Edmundo não parece suficiente
para a afirmação de que se ele é corajoso, ele é um alpinista.
A réplica conversacionalista é uma tentativa de explicar esse
fenômeno de modo consistente com a tese da vero-funcionali-
dade. A ideia é simples: condicionais são vero-funcionais; não
é o caso que os contraexemplos mostram que uma condicional
com antecedente falso e consequente verdadeiro não é, de fato,
verdadeira. Antes, eles mostram que uma tal condicional pode
não ser asserível em certas circunstâncias. É estabelecida uma
distinção entre verdade e assertibilidade. O que é verdadeiro em
certas circunstâncias pode não ser asserível – e vice-versa: o que
é asserível pode não ser verdadeiro.
A doutrina conversacionalista tem uma esfera de aplicação
muito maior do que simplesmente as condicionais. Alguns dos
seus principais exemplos são muito familiares. Se, ao respon-
der à pergunta sobre se você conhece a mulher jovem que foi
recentemente nomeada professora de letras clássicas, você diz
“ela é muito boa em Latim” ou “ela gosta de futebol”, você
poderia perfeitamente ser compreendido como querendo dizer
que as realizações acadêmicas dessa professora não são boas,
como deveriam ser. Com efeito, em um contexto apropriado,
a interpretação poderia não ser essa. Se é claro que o status da
nova professora como pesquisadora é excelente, sua resposta
poderia simplesmente ser tomada como informações adicionais
interessantes. Além disso, mesmo que sua audiência inferisse da
sua resposta um certo desprezo pelas realizações acadêmicas da
professora, isso poderia ser anulado por você: “certamente eu
não quis dizer que seus vários livros não são muito bons.” Não
obstante, em qualquer situação conversacional há inferências e
implicações – nesse caso, usamos o termo técnico “implicatura”,
posto que “implicação” é frequentemente usado no lugar de
“acarretamento”. A existência de implicaturas influi no que
está sendo asserido, e precisamos estar prevenidos. Duas máxi-
mas foram identificadas por H. P. Grice como diretrizes para a
conversação: a máxima da qualidade, segundo a qual alguém
94
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 94 06/06/14 12:25
somente deveria asserir aquilo que acredita ser verdadeiro e
justificado, e a da quantidade, segundo a qual alguém não
deveria asserir menos do que pode asserir. A razão, no primeiro
caso, é que quando algo é asserido, está implicado que o autor
da asserção acredita no que diz e tem boas razões para dizê-lo.
Essas implicaturas podem ser anuladas: o autor das asserções
pode prosseguir e indicar que ele mesmo não acredita no que diz,
embora outros sustentem tais asserções; ou então indicar que ele
acredita no que diz, mas, até então, não possui evidências para
tal. Mas, na ausência de tais esclarecimentos, a implicatura está
lá. Analogamente, no segundo caso, quando alguém faz uma
asserção, está implicado que nenhuma informação adicional útil
e relevante pode ser dada. Por exemplo, ao dizer que ou Bush ou
Clinton venceu as eleições, está implicado que aquele que fez a
asserção não sabe qual dos dois venceu. No comentário acerca da
professora de letras clássicas, há uma implicatura segundo a qual
o autor não tem opinião alguma acerca da posição acadêmica
de tal professora; ou, ainda, que o autor está escondendo suas
crenças acerca dela (muito embora essa última opção talvez esteja
em desacordo com a máxima de relevância de Grice).
A ideia de Grice, portanto, é a de que, embora o que torne
uma disjunção verdadeira seja a verdade de um dos disjuntos,
o conhecimento de um dos disjuntos não é suficiente para sua
asserção. Na asserção de uma disjunção há uma implicatura
de que aquele que assere, nela acredita, e tem um fundamento
para tal (pela máxima da qualidade), mas que esse fundamento
não consiste simplesmente no conhecimento de um dos seus
componentes (pela máxima da quantidade). Deve haver uma
razão pela qual o autor da asserção escolheu asserir a disjunção,
e não apenas um disjunto, e a explicação óbvia é a de que não
há razões que fundamentem a asserção de um dos disjuntos. Em
outras palavras, na asserção de “A ou B” há uma implicatura
de que aquele que assere não sabe que A, nem sabe que B, ainda
que saiba que um ou outro é verdadeiro, isto é, que se A não é
verdadeiro, B deve ser verdadeiro; isto é, sabe que “se não-A,
95
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 95 06/06/14 12:25
então B” é verdadeiro (de modo equivalente, que “se não-B,
então A” é verdadeiro).
A relação entre condicionais e disjunções serve para estender
o tratamento conversacionalista das disjunções às condicionais.
“Se A, então B” corresponde – e, de fato, é equivalente – a
“não-A ou B”, e cada um é verdadeiro se A for falso ou B
verdadeiro. Mas nenhum é asserível baseado simplesmente na
falsidade de A, ou na verdade de B. Se Edmundo é covarde,
daí se segue que tanto “Edmundo é covarde ou é um alpinista”
quanto “Se Edmundo é corajoso, ele é um alpinista” são verda-
deiras. Mas não se segue que qualquer uma das duas seja asse-
rível, pois asseri-las implicaria que o fundamento da asserção
é alguma conexão entre a covardia de Edmundo e alpinismo.
Portanto, temos uma explicação da razão pela qual a suces-
são de inferências parece problemática, mas essa explicação é
consistente com correção das inferências. Se A é verdadeiro,
então “A ou B” é verdadeiro, e, portanto, “se não-A, então B” é
verdadeiro. Se “não-A” e “se não-A, então B” são verdadeiras,
B deve ser verdadeira. Logo, se tanto A quanto “não-A” são
verdadeiras, B deve ser verdadeira, qualquer que seja B. Isso
não é um problema, pois nenhuma proposição e sua negação
são simultaneamente verdadeiras; logo, para nenhuma propo-
sição A temos que tanto A quanto “não-A” são verdadeiras.
Vamos pensar um pouco mais, entretanto, sobre a ideia de
distinguir entre a assertibilidade e a verdade de uma proposi-
ção. A ideia é aceitar os argumentos pela vero-funcionalidade
de “se… então” e, portanto, aceitar que qualquer condicional
com antecedente falso ou consequente verdadeiro é verdadeira;
e assim explicar os contraexemplos inaceitáveis, não por serem
falsos, mas por não serem asseríveis. A razão de não serem
asseríveis é que eles são proferidos em circunstâncias nas
quais se sabe que o antecedente é falso, ou que o consequente
é verdadeiro, o que contradiz a implicatura conversacional
que resulta da asserção da condicional, a saber, que nenhuma
96
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 96 06/06/14 12:25
asserção mais forte seria possível (isto é, negar o antecedente
ou asserir o consequente).
Há uma abordagem alternativa. Grice atribuía a não asser-
tibilidade dos exemplos a uma implicatura conversacional.
Já Frank Jackson a atribuía a uma implicatura convencional.
A diferença é que, enquanto Grice vê a implicatura como
consequência de máximas conversacionais gerais (em particular,
a máxima da quantidade), Jackson a identifica como um
aspecto específico das condicionais. Ele define uma noção de
“robustez”: uma proposição é robusta no que diz respeito a
alguma informação se a alta assertibilidade da proposição não
é afetada pela aquisição dessa informação. Algumas disjun-
ções são robustas no que diz respeito à negação de ambos os
disjuntos, outras não o são. Por exemplo, se eu digo “Churchill
ordenou o bombardeio de Dresden” e você nega isso, um de
nós deve estar certo, isto é, “ou eu estou certo ou você está
certo” tem alta assertibilidade, que permanecerá alta quando
alguma evidência revelar qual de nós dois estava correto. A
disjunção é robusta no que diz respeito à negação de cada um
dos disjuntos. Por outro lado, se eu sei que Mascagni escreveu
Cavalleria rusticana, mas escolhi asserir algo mais fraco, “Ou
Mascagni ou Leoncavallo escreveu Cavalleria rusticana”, essa
disjunção, com alta assertibilidade, não é robusta no que diz
respeito à negação do primeiro disjunto. Ao saber (se isso fosse
o caso) que Mascagni não escreveu Cavalleria rusticana, eu me
retrataria, e não iria inferir a autoria de Leoncavallo.
Para Jackson, é aqui que o silogismo disjuntivo e o modus
ponens entram na discussão. O ponto das condicionais, ele diz, é
mostrar que se pode aceitar o modus ponens. A condicional “Se
Mascagni não escreveu Cavalleria rusticana, então Leoncavallo
escreveu” para mim não é asserível, pois não é robusta no que
diz respeito ao antecedente. Uma condicional “se A, então
B” é robusta no que diz respeito ao antecedente se tem uma
alta assertibilidade, que permanece alta se se descobre que seu
97
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 97 06/06/14 12:25
antecedente é verdadeiro. Somente nesse caso o modus ponens
poderia funcionar. Mas no nosso caso, eu não continuaria a
acreditar na condicional se soubesse que seu antecedente era
verdadeiro. Minha única razão para acreditar nela (dada a tese
de que ela é equivalente à disjunção correspondente) é minha
crença na falsidade do seu antecedente. Logo, eu teria relutância
em obter o consequente ao saber da verdade do antecedente.
Inversamente, a condicional “se eu estou errado, então você
está certo” é robusta no que diz respeito ao antecedente, pois eu
não a asseri simplesmente porque não acredito no antecedente.
Mas, segundo Jackson, condicionais não são robustas no que
diz respeito à falsidade de seus consequentes. Essa é uma conse-
quência de ele acreditar que a assertibilidade de uma condicional
é dada pela probabilidade condicional do seu consequente sobre
o seu antecedente, uma noção que iremos discutir na próxima
seção. Se a baixa assertibilidade de condicionais verdadeiras
fosse consequência da implicatura conversacional, elas seriam
robustas no que diz respeito tanto à verdade dos antecedentes
quanto à falsidade dos consequentes, pois o fato de elas terem
sido asseridas implicaria, pela máxima da qualidade, que nada
se sabia da falsidade de seus antecedentes, nem da verdade de
seus consequentes. Portanto, se Jackson estiver certo acerca da
assertibilidade ser medida pela probabilidade condicional, essa
máxima pode ser o fundamento da sua baixa assertibilidade
somente no caso de um antecedente sabidamente falso, mas
não do consequente verdadeiro. (Nós veremos o cálculo que
resulta nisso um pouco mais adiante.) A proposta de Jackson
é a de que existe uma convenção específica no caso das condi-
cionais, a saber, que elas são robustas no que diz respeito aos
seus antecedentes, e, portanto, não asseríveis nas circunstâncias
em que seus antecedentes são sabidamente falsos. O modus
ponens ser válido, isto é, da verdade do antecedente podermos
inferir a verdade do consequente, é uma questão de convenção.
98
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 98 06/06/14 12:25
Entretanto, nem a teoria de Grice nem tampouco a de
Jackson são defensáveis. Isso porque as condicionais proble-
máticas – condicionais que parecem falsas, apesar de terem
antecedente falso ou consequente verdadeiro – ocorrem no
interior de contextos maiores. Lembre-se do exemplo sobre
Churchill e considere a disjunção:
Ou se eu estava certo você também estava, ou se você
estava certo eu também estava.
Posto que, nesse exemplo, você estava negando categoricamente
o que eu havia dito, não é plausível considerar verdadeira
nenhuma dessas condicionais. Entretanto, de acordo com a
análise vero-funcional, se você estava certo, o primeiro disjunto
é verdadeiro (consequente verdadeiro), ao passo que se você
estava errado, o segundo disjunto é verdadeiro (antecedente
falso). Grice explica isso dizendo que, embora uma das duas
seja verdadeira, nenhuma é asserível. Mas nenhuma das duas
foi asserida – o que foi asserido foi a disjunção. Asserção
e assertibilidade são noções que se aplicam a proposições
completas, e não a partes de proposições. A razão pela qual a
disjunção acima parece ser falsa não é que, embora verdadeira,
não é asserível por alguma razão, mas sim porque é falsa. E
a razão pela qual é falsa é a de que, apesar do argumento em
defesa da vero-funcionalidade das condicionais, condicionais
não são vero-funcionais. Ainda que os defensores da análise
vero-funcional possam protestar e tentar rejeitar os contrae-
xemplos, parece ser claro que existem condicionais falsas com
antecedente falso ou consequente verdadeiro.
99
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 99 06/06/14 12:25
Probabilidade condicional
Para defender essa posição, precisamos de duas coisas:
mostrar um tratamento alternativo para condicionais e dizer onde
está a falha no argumento em defesa da análise vero-funcional.
Um tal tratamento desenvolve uma ideia cuja origem pode ser
encontrada em Frank Ramsey. A ideia é a seguinte: para decidir
se você deve acreditar ou não em uma condicional, adicione
provisória ou hipoteticamente o antecedente às suas crenças e
considere então se acredita ou não no consequente. Isso reduz
a questão de acreditar nas condicionais à questão de acreditar
em proposições não condicionais, isto é, proposições categóricas
ou apodíticas. (Algumas vezes antecedente e consequente são
denominados “prótase” e “apódose”.) Devemos acreditar em
uma condicional se a crença no antecedente nos compromete a
acreditar no consequente.
Aqueles que utilizaram a proposta de Ramsey, frequen-
temente denominada Teste de Ramsey, se dividem em dois
grupos. Alguns, como Jackson ou David Lewis, acreditam que
condicionais indicativas são vero-funcionais; mas eles admitem
que condicionais subjuntivas não podem ser vero-funcionais.
Um tipo importante de condicional subjuntiva é a condicional
contrafactual, cujo antecedente é sabidamente falso ou conside-
rado falso. Por exemplo, se alguém diz
Se Oswald não tivesse matado Kennedy, outra pessoa
teria matado
está considerando, ou pressupondo, que Oswald matou Kennedy.
Se todas as condicionais fossem vero-funcionais, condicionais
desse tipo seriam todas verdadeiras em virtude da falsidade dos
seus antecedentes (ou pelo menos seriam consideradas verdadei-
ras por todos aqueles que compartilhassem dessa pressuposição).
Isso as tornaria sem sentido. Alguém que asserisse a condicional
acima desejaria negar
100
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 100 06/06/14 12:25
Se Oswald não tivesse matado Kennedy, ninguém mais
o teria matado.
Se condicionais contrafactuais fossem vero-funcionais, essa
condicional também seria verdadeira.
O outro grupo que adotou o teste de Ramsey inclui aqueles
que foram persuadidos pela ideia de que condicionais indicativas
não são vero-funcionais, e assim veem o teste de Ramsey como
uma maneira de fornecer um tratamento, tanto de condicionais
indicativas quanto de subjuntivas. Na verdade, Robert Stalnaker,
o principal defensor dessa posição, minimiza a distinção entre
condicionais indicativos e subjuntivos, vendo-a como um aspecto
essencialmente pragmático, que não reflete uma diferença
acentuada nas suas condições de verdade, mas, antes, reflete
simplesmente o fato de que a falsidade do antecedente foi admi-
tida, e talvez esteja aberto um maior número de possibilidades.
(Vamos retornar a esse ponto na próxima seção.) Já que esta-
mos interessados em alternativas à vero-funcionalidade, vamos
seguir Stalnaker e elaborar o teste de Ramsey para condicionais
indicativas.
Ao apresentar o teste de Ramsey houve uma troca, da verdade
e condições de verdade, para crença e ocorrência de crença – para
credenciais e credibilidade. Podemos tratar a noção de crença,
relacionando-a à noção de verdade, interpretando-a como uma
função de probabilidade. A probabilidade de uma proposição
é a probabilidade de ela ser verdadeira. É uma medida de quão
provavelmente a proposição é verdadeira. Uma função de proba-
bilidade é uma função que atribui a cada proposição um número
entre 0 e 1, de modo que a proposições totalmente improváveis,
contradições lógicas por exemplo, é atribuído 0, e a proposições
logicamente verdadeiras, isto é, tautologias, é atribuído o valor
máximo 1. A probabilidade de uma disjunção de duas propo-
sições que não podem ser ambas verdadeiras é igual à soma de
suas probabilidades. Assim, por exemplo, a probabilidade de
“não-A”, que designamos por “p(não-A)”, é igual a 1 – p(A),
101
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 101 06/06/14 12:25
posto que “A ou não-A” é uma tautologia (logo, sua probabi-
lidade é 1), e A e “não-A” não podem ser ambas verdadeiras.
Dada uma medida de probabilidade p1 e uma proposição
E, podemos obter outra medida p2 pela condicionalização de
E. A ideia aqui é a de que a distribuição das atribuições de
probabilidade medidas por p1 terão sido feitas com base em
certas evidências, e serão a medida das crenças obtidas com
base naquelas evidências. Posteriormente, evidência adicional E
é obtida; e com base em E, queremos revisar nossas atribuições
de probabilidade e chegar a uma distribuição revisada de juízos
de probabilidade, p2. Para cada proposição A, estabelecemos que
p2(A) é a probabilidade anterior de “A e E”, p1(A e E), sendo A e
E verdadeiros, dividida pela probabilidade anterior da evidência,
p1(E). (É claro que ao condicionalizar sobre E, p1(E) não deve ser
zero; não deve ser impossível a evidência ser obtida.) Essa razão,
é chamada probabilidade condicional de A sobre E, e escrevemos
p1(A/E). Assim,
, desde que p1(E) ≠ 0
Vejamos um exemplo, a probabilidade de se tirar uma carta de
um baralho comum de 52 cartas – quatro naipes de 13 cartas, sem
curinga. A teoria da probabilidade tem duas interpretações: uma
probabilidade objetiva, que resulta da frequência de resultados
particulares, e uma probabilidade subjetiva, que corresponde às
crenças de alguém formadas a partir de evidências. A primeira é
ilustrada pelo baralho de cartas (e similarmente pelos lançamen-
tos de uma moeda ou um dado); a segunda é a que o teste de
Ramsey se refere. Não é nem um pouco óbvio que elas estejam
102
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 102 06/06/14 12:25
de acordo, ou que crenças reais correspondam a distribuições
de frequência objetiva. Não obstante, as frequências objetivas
são úteis para ilustrar o uso das funções de probabilidade, e
podem ser vistas, se quisermos, como medidas das crenças de
um observador ideal e objetivo.
Ao se retirar uma única carta ao acaso de um baralho bem
embaralhado, a probabilidade de retirar copas, p(copas) = 1/4;
de retirar um ás, p(ás) = 1/13; e de retirar um ás de copas, p(ás
de copas) = 1/52. Pois há 13 modos de retirar uma carta de
copas dentre 52 modos de retirar uma carta qualquer; 4 modos
de retirar um ás; e apenas 1 modo de retirar um ás de copas. A
probabilidade de não se retirar copas, p(não-copas) = 3/4, pois
há 39 resultados desse tipo, o que corresponde a 1 – p(copas).
Além disso, p(não-copas) = p(paus ou ouros ou espadas), e
posto que paus, ouros e espadas são mutuamente excludentes,
podemos somar tais probabilidades separadamente, isto é, p
(paus ou ouros ou espadas) = p(paus) + p(ouros) + p(espadas) =
1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4, como seria esperado. Outro exemplo de
soma de probabilidades – que somente pode ser feita quando os
resultados são excludentes – é a probabilidade de se retirar uma
figura, p(figura) = p(rei ou dama ou valete) = p(rei) + p(dama)
+ p(valete) = 1/13 + 1/13 + 1/13 = 3/13. Note, entretanto, que
p(copas ou ás) = 4/13 ≠ p(copas) + p(ás) = 17/52, pois os resul-
tados de se retirar copas ou ás não são excludentes – eu poderia
retirar o ás de copas.
Para ilustrar as probabilidades condicionais, considere a
probabilidade de que uma carta de figura que tenha sido retirada
seja um rei:
pois p(rei e figura) = p(rei), e isso é claramente correto – existe
1 em 3 chances de que uma carta de figura seja um rei.
103
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 103 06/06/14 12:25
Por outro lado,
pois nenhuma carta de figura é um ás, ao passo que
e novamente, o cálculo obtido pela teoria está de acordo com a
medição direta das frequências, pois há quatro modos de retirar
um ás dentre as 40 cartas que não são figuras.
O teste de Ramsey equipara o crédito que damos a uma
condicional com o crédito que damos ao seu consequente, ao
assumirmos o antecedente. A proposta de Stalnaker foi usar
funções de probabilidade para articular essa ideia. Assim, o que
se segue se tornou conhecido como “hipótese de Stalnaker”:
p(se A, então B) = p(B/A). Uma proposta mais fraca, algumas
vezes denominada “hipótese de Adams” devido ao trabalho de
Ernest Adams, é a de que p(B/A) não dá a medida da probabi-
lidade da condicional, mas sim sua assertibilidade. Note que a
hipótese de Adams é consistente com a análise vero-funcional
da condicional – de fato, essa é a posição de Jackson, que vimos
na última seção. Por outro lado, a hipótese de Stalnaker não
é consistente com a posição que sustenta que a condicional
respectiva é vero-funcional, pois p(B/A) ≠ p(não-A ou B) – por
exemplo: p(rei/ás) = 0, mas p(não-ás ou rei) = p(não-ás) = 12/13.
Seja seguindo Stalnaker ou Adams, o que é atraente em consi-
derar p(B/A) como medida é que isso evita muitas consequências
104
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 104 06/06/14 12:25
contraintuitivas de uma adoção acrítica da análise vero-funcional
das condicionais, em particular que qualquer condicional com
antecedente falso ou consequente verdadeiro é verdadeiro. Pois
p(B/A) pode ser baixa ainda que p(não-A) ou p(B) sejam altas,
isto é, a alta probabilidade da falsidade do antecedente ou da
verdade do consequente da condicional correspondente não
implica um valor alto para a probabilidade condicional. Por
exemplo, p(ás/figura) = 0, mas p(não-figura) = 10/13 é alta.
Similarmente, p(não-figura/rei) = 0, ao passo que p(não-figura)
é alta. O que desaparece é a equivalência, em valores de proba-
bilidade, entre a condicional (ou probabilidade condicional)
e a disjunção correspondente. Independentemente de como
considerarmos os argumentos da última seção, em defesa da
vero-funcionalidade da condicional, eles não funcionam com
probabilidades. Considere o teorema da dedução (que relaciona
a verdade de condicionais com a validade do argumento corres-
pondente): sempre que p(A e B) é alta, p(B) deve também ser
alta; mas daí não se segue que, se p(B) é alta, p(B/A) também
será alta, como o exemplo acima, p(não-figura/rei), mostra.
Portanto, a análise probabilística fornece um tratamento
alternativo das condicionais e também um diagnóstico do erro
dos argumentos em defesa da vero-funcionalidade. No primeiro
argumento, o problema era a equivalência entre a condicional e
a disjunção correspondente; no segundo, o uso do teorema da
dedução.
Vimos na seção anterior que Jackson sustenta que a robus-
tez das condicionais no que diz respeito a seus antecedentes é
uma questão de implicatura convencional, não de implicatura
conversacional. Podemos agora entender as razões de Jackson: a
diferença entre p(não-A ou B) e p(B/A) (considerando a disjun-
ção vero-funcionalmente). A robustez, como Jackson a define,
de uma proposição H com respeito a alguma evidência E é uma
medida da diferença que E faz para a probabilidade de H, isto é,
105
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 105 06/06/14 12:25
da diferença entre p(H) e p(H/E); p(H/E) não deve ser significa-
tivamente mais baixa que p(E). Um simples cálculo mostra que
Mas temos também que
Logo,
Esse fator, que diminui a probabilidade do que para Jackson é
a condição de verdade de “se A, então B” – a saber, “não-A ou
B” –, é exatamente a medida da robustez da condicional (consi-
derada vero-funcionalmente) no que diz respeito ao seu ante-
cedente, p(condicional) – p(condicional/antecedente). Assim, se
p(B/A) expressa corretamente a medida das condições de asserti-
bilidade das condicionais, como acredita Jackson, então somente
a robustez no que diz respeito ao antecedente, e não no que diz
respeito à falsidade do consequente, deveria ser considerada.
Isso pode acontecer somente se a implicatura é convencional, e
não conversacional. Se ela fosse conversacional (regulada pelas
máximas de conversação), seria afetada, tanto pela falsidade do
antecedente quanto pela verdade do consequente. Mas então
haveria um fator adicional, p(condicional) – p(condicional/não-
-consequente), e o resultado não seria p(B/A). Se Jackson está
106
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 106 06/06/14 12:25
correto em adotar a hipótese de Adams, então a implicatura que
a explica deve ser convencional.
Entretanto, vimos que o tratamento de Jackson, que mantém
vero-funcionalidade nas condições de verdade dos condicionais,
tropeça no problema dos condicionais embutidos. Já a hipótese
de Stalnaker, diferentemente, identifica as condições de verdade
equiparando a probabilidade das condicionais com a probabilidade
condicional. Nos últimos vinte anos, David Lewis realizou um
contínuo ataque a essa equiparação. O objetivo de Lewis é mostrar
que não existe uma proposição cuja probabilidade seja medida pela
probabilidade condicional, isto é, dadas duas proposições A e B, não
há uma proposição C tal que p(C) = p(B/A). Assim, em particu-
lar, a probabilidade condicional não mede a probabilidade de
condicionais. Portanto, a hipótese de Stalnaker é insustentável.
Precisamos ou adotar a versão de Adams – como fazem Lewis
e Jackson – ou abandonar de vez a análise probabilística.
O argumento de Lewis é um pouco técnico e passou por uma
sucessão de refinamentos durante os anos. O que podemos fazer
aqui é examinar sua versão mais simples. Em primeiro lugar,
note que existem proposições A e B tais que p(B) ≠ 0, p(não-B)
≠ 0, p(A e B) ≠ 0 e p(A e não-B) ≠ 0. Por exemplo, sejam A e B
respectivamente as proposições “eu retirei uma carta de figura”
e “eu retirei um rei”. Então, p(B) = 1/13, p(não-B) = 12/13,
p(A e B) = 1/13 e p(A e não-B) = 2/13. O ponto crucial a obser-
var é que p(B/A) = 1/3 ≠ p(B). O que Lewis irá mostrar é que, se
houvesse uma proposição C de tal modo que, para toda função de
probabilidade p em alguma classe razoável (por exemplo, aquelas
que modelam uma gama de crenças do falante), p(C) = p(B/A),
logo p(B/A) = p(B). Posto que essa última igualdade é claramente
falsa, não pode haver uma tal proposição C, em particular p(“se
A, então B”) ≠ p(B/A).
Suponha que a hipótese de Stalnaker vale para todas as
funções de probabilidade de alguma classe. Seja q a função de
probabilidade definida por q(D) = p(D/B) para toda proposição
D. É plausível considerar que q pertence à classe de funções de
107
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 107 06/06/14 12:25
probabilidade em questão (no exemplo, ela é o estado de crença
revisado ao saber que alguém retirou um rei). Assim,
de acordo com a definição de q
de acordo com a hipótese de Stalnaker, posto que q pertence à
classe
de acordo com definição de probabilidade condicional,
de acordo com a definição de q
de acordo com a definição de probabilidade condicional
posto que “B e A e B” é a mesma proposição que “B e A”. Logo,
p(C/B) = 1.
108
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 108 06/06/14 12:25
De modo similar (supondo que r é definido por r(D) = p(D/
não-B) para todo D, pertence à classe – quando eu fico
sabendo que não retirei um rei):
posto que “A e B e não-B” não pode ser verdadeira.
Para completar a prova, precisamos de mais dois fatos da
teoria da probabilidade, que podem ser facilmente derivados
dos postulados que fornecemos. Em primeiro lugar, posto que
segue-se que p(D e E) = p(D/E) * p(E) para qualquer D e E. Em
segundo lugar, posto que “D e E” e “D e não-E” não podem ser
simultaneamente verdadeiras, ainda que D seja equivalente a “D
e E ou D e não-E”, segue-se que p(D) = p(D e E, ou D e não-E)
= p(D e E) + p(D e não-E). Agora, aplicamos o mesmo ponto
a C e B (onde C é a proposição cuja probabilidade assumimos
que é medida por p(B/A):
(Note que nosso pressuposto de que B, “não-B” etc. não tem
probabilidade zero garante que nenhum desses denominadores é
zero). Chegamos assim ao chamado resultado da “trivialidade”
de Lewis, segundo o qual aparentemente C é probabilísticamente
independente de A, um resultado claramente falso em casos como
109
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 109 06/06/14 12:25
a carta de figura e o rei. O culpado é a hipótese de Stalnaker. A
probabilidade da condicional não pode ser medida pela proba-
bilidade condicional.
A abordagem por semelhança
Alguém poderia sentir-se impelido a dar mais um passo e
concluir que a ideia de Ramsey foi refutada. Mas isso seria preci-
pitado demais. A hipótese de Stalnaker é apenas uma tentativa
de expressá-la de modo preciso. Tanto Stalnaker, para condi-
cionais em geral, quanto Lewis, para condicionais subjuntivas,
desenvolveram o que de início parece ser uma articulação muito
diferente do teste de Ramsey, partindo de ideias da semântica
da lógica modal cujas implicações filosóficas iremos considerar
no próximo capítulo.
O teste de Ramsey propõe que uma condicional seja avaliada
assumindo o antecedente e avaliando o consequente sob esse
pressuposto. Podemos tomar isso como uma sugestão de que
uma condicional não é verdadeira em virtude de como as coisas
realmente são, mas sim em virtude de como elas seriam em uma
revisão apropriada: se o antecedente for verdadeiro, as coisas
serão diferentes de algum modo – de fato, a condicional afirma
que o consequente será então verdadeiro. Quão diferentes as
coisas deveriam ser? – apenas o suficiente, propõe Stalnaker,
para tornar o antecedente verdadeiro. Assim ele apresenta suas
condições de verdade: uma condicional é verdadeira se seu conse-
quente é verdadeiro na revisão mínima na qual seu antecedente
é verdadeiro, isto é, no mundo possível mais semelhante no qual
o antecedente é verdadeiro. Um mundo possível é um estado de
coisas maximal – uma especificação completa de como as coisas
poderiam ser. (No Capítulo 4, veremos em detalhe o que é um
mundo possível.) O que precisamos é uma função, uma função
de “semelhança” tal que, dada qualquer proposição e um mundo
possível, o valor da função é o mundo mais semelhante no qual
a proposição é verdadeira. Ele a chama de função de seleção:
f(A,w) recebe como entrada uma proposição A e um mundo w,
110
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 110 06/06/14 12:25
e fornece como valor o mundo mais semelhante a w no qual A
é verdadeira. Uma condicional “se A, então B” é verdadeira em
um mundo w se B é verdadeira em f(A,w), o mundo possível
mais semelhante a w em que A é verdadeira.
Por exemplo, “se você ficar em primeiro lugar, receberá uma
bolsa” é verdadeira se o mundo mais semelhante ao mundo real
em que você fica em primeiro lugar for aquele mundo em que
você recebe a bolsa. “Se Oswald não matou Kennedy, outra
pessoa o matou” é verdadeira se na revisão mínima de como
as coisas são, na qual nós supomos que Oswald não matou
Kennedy, ainda assim Kennedy foi baleado. “Se a libra não
for desvalorizada, a recessão irá continuar” é verdadeira se no
mundo mais semelhante ao mundo real, no qual não há desva-
lorização da libra, a recessão continua.
Se A é efetivamente verdadeira em w, então f(A,w) = w;
isto é, o mundo mais semelhante, no que diz respeito a uma
proposição, ao mundo onde tal proposição já é verdadeira, é
esse próprio mundo. Portanto, segundo essa análise, uma condi-
cional com antecedente verdadeiro é verdadeira se e somente se
seu consequente é verdadeiro; em particular, condicionais com
antecedente e consequente verdadeiros são verdadeiras. Nesse
ponto, a análise em termos de mundos possíveis está de acordo
com a análise vero-funcional, e também com a análise proba-
bilística, pois se p(A) = 1, p(B/A) = p(B). (A condicionalização
– formar p2(B) = p1(B/A) para todo B pela condicionalização
sobre A – somente altera probabilidades anteriores se a nova
evidência for realmente nova.) A análise em termos de mundos
possíveis diverge da vero-funcional quando o antecedente é falso.
No tratamento padrão, vero-funcional, todas as condicionais
com antecedente falso são verdadeiras. Não é esse o resultado
obtido pelas condições de verdade em termos de semelhança de
mundos. Considere novamente, por exemplo, “se Edmundo é
corajoso, então ele é alpinista”. Sendo Edmundo covarde, isso
não significa automaticamente, como determina a análise vero-
-funcional, que a condicional é verdadeira. O que precisamos
111
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 111 06/06/14 12:25
fazer é considerar aquele mundo possível mais semelhante ao
nosso no qual Edmundo é corajoso e verificar se em uma tal
circunstância ele é um alpinista. Essa circunstância será obtida
por meio da elaboração da revisão mínima que é necessária
para fazer com que Edmundo, de um covarde, se torne um herói
corajoso. Pode mesmo acontecer que, dada a personalidade e
interesses particulares de Edmundo, uma manifestação imediata
de sua coragem será começar o alpinismo – tudo que o impedia
de fazê-lo era sua covardia.
Vários princípios lógicos que classicamente são válidos
deixam de sê-lo na abordagem por semelhança. Um exemplo é
a contraposição, segundo a qual “se B, então não-A” se segue de
“se A, então não-B”. Considere o seguinte exemplo: “Se chover,
não vai chover muito. Logo, se chover muito, não vai chover.”
A premissa poderia ser verdadeira, mas a conclusão é absurda.
No mundo mais próximo em que chove, pode perfeitamente
estar chovendo pouco, mas no mundo mais próximo em que
chove muito, de modo algum pode não estar chovendo. Outro
princípio que não funciona é o do fortalecimento do antece-
dente, que tem a forma “se A, então B; logo, se A e C, então
B”. Classicamente esse princípio é válido, pois se a premissa é
verdadeira, ou A é falsa ou B é verdadeira; no primeiro caso “A
e B” será falsa, no segundo, B é verdadeira, logo a conclusão é
verdadeira. Um contraexemplo é “se eu colocar açúcar no chá,
ele ficará saboroso. Logo, se eu colocar açúcar e óleo diesel no
meu chá, ele ficará saboroso.” No mundo possível mais próximo
em que eu coloco açúcar no meu chá, o chá fica saboroso; mas
no mundo mais próximo no qual eu coloco óleo diesel e açúcar
no meu chá, o resultado é terrível.
Daí se segue que transitividade não funciona, isto é, a infe-
rência “se A então B, e se B então C; logo, se A então C” será
inválida. Pois claramente “se A e C, então A” é verdadeira. Pela
transitividade, “se A e C, então A. Se A, então B. Logo, se A e
C, então B”, donde se segue o fortalecimento do antecedente. A
transitividade não funciona na análise da semelhança porque o
112
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 112 06/06/14 12:25
mundo mais próximo em que A é verdadeira não precisa ser o
mundo mais próximo em que B é verdadeira, e assim não precisa
ser um mundo em que C é verdadeira.
Esses princípios também falham na análise probabilística.
Na verdade, os princípios lógicos que são válidos nos dois
tratamentos são os mesmos, apesar de as condições de verdade
serem estabelecidas nas duas teorias em termos tão diferentes.
O fato de a transitividade e de o princípio de fortalecimento do
antecedente falharem mostra também que o teorema da dedução
falha. “Se A, então B. A e C. Logo, B” é um princípio válido,
tanto na análise da semelhança, quanto na probabilística. O
contraexemplo do óleo diesel funcionou porque o mundo no
qual eu coloco açúcar e diesel no meu chá não é o mundo real.
Mas, se o antecedente da conclusão é incluído nas premissas,
o contraexemplo não funciona mais. Se “A e C” é verdadeira,
então o mundo real é um mundo no qual A é verdadeira.
Logo, “se A, então B” é verdadeira somente se B é verdadeira.
Consequentemente, se as premissas são verdadeiras, a conclusão
também é verdadeira. O mesmo ponto se aplica à transitividade:
quando o antecedente da conclusão é incluído nas premissas, a
inferência resultante é válida. Portanto, as seguintes inferências
são válidas:
Se A, então B. A e C. Logo, B
e
Se A, então B. Se B, então C. A. Logo, C
mas os resultados da aplicação do teorema da dedução às
inferências acima são inválidos:
Se A, então B. Logo, se A e C, então B
e
Se A, então B. Se B, então C. Logo, se A, então C.
113
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 113 06/06/14 12:25
A razão pela qual o teorema da dedução não funciona na aborda-
gem por semelhança é que a condicional se tornou um conectivo
modal. O princípio comete uma falácia modal. Se “se A, então
B” é tratado como um tipo de conectivo modal (isto é, seu valor
de verdade não depende apenas dos valores atuais de A e B, mas
sim de seus possíveis valores), então, para inferir “se A, então
B” de algumas outras proposições nós precisamos saber não
apenas que B se segue dessas outras proposições em conjunção
com A (como requer o teorema da dedução), mas também que
essas outras proposições são suficientemente fortes em algum
sentido modal apropriado. Por exemplo, mesmo que “se A,
então B” seja verdadeira; se “A e C” não for de fato verdadeira,
o mundo mais próximo em que “A e C” é verdadeira pode não
ser o mundo mais próximo em que A é verdadeira, logo B pode
não ser verdadeira nesse mundo. Para garantir que o mundo mais
próximo em que “A e C” é verdadeira é o mundo mais próximo
em que A é verdadeira, precisaríamos saber, por exemplo, que
C é verdadeira em todos eles.
Já deveríamos agora ter percebido de que modo a teoria da
“semelhança” funciona. Entretanto, dentre seus defensores, há
discordância em relação a alguns princípios, entre os quais está
o terceiro excluído condicional. Já vimos o princípio do terceiro
excluído: ele diz que, entre uma proposição e sua contraditória,
uma ou outra deve ser verdadeira, isto é, que toda proposição
da forma “A ou não-A” é verdadeira. O terceiro excluído condi-
cional é um princípio mais forte, segundo o qual, dentre um par
de condicionais cuja única diferença é que o consequente de
um é a contraditória da consequente do outro, uma das duas é
verdadeira, isto é, toda proposição da forma “se A então B ou
se A então não-B” é verdadeira. O terceiro excluído condicio-
nal é central no modo pelo qual Stalnaker desenvolve o teste de
Ramsey e corresponde ao pressuposto de que existe sempre um
único mundo mais próximo, isto é, f(A,w) é sempre unicamente
definida para cada A e w. Pois, sendo assim, se B é verdadeira em
f(A,w), então “se A então B” é verdadeira (em w), ao passo que
114
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 114 06/06/14 12:25
se “não-B” é verdadeira em f(A,w), então “se A então não-B” é
verdadeira em w. Considerando que pelo terceiro excluído, ou B,
ou “não-B” é verdadeira em f(A,w), e também que f(A,w) é único,
segue-se que o terceiro excluído condicional é sempre válido.
Entretanto, há pares de condicionais para os quais esse resul-
tado parece implausível. O exemplo de David Lewis, frequen-
temente mencionado, é
Se Bizet e Verdi eram compatriotas, Bizet seria italiano
e
Se Bizet e Verdi eram compatriotas, Bizet não seria
italiano
(porque Verdi poderia ser também francês). Segundo o trata-
mento de Stalnaker, uma dessas duas condicionais deve ser
verdadeira (embora ele admita que não sabe qual). Lewis afirma
que são ambas falsas. (Lembre-se que para Lewis somente as
condicionais subjuntivas não são vero-funcionais – as indicati-
vas com falso antecedente, para Lewis, são vero-funcionais. Eu
sigo Stalnaker aqui em considerar a distinção entre condicionais
indicativas e subjuntivas simplesmente um reflexo do conheci-
mento de alguém acerca das nacionalidades de Bizet e Verdi. As
indicativas seriam bastante aceitáveis, se enunciadas por alguém
que desconhece as suas nacionalidades – ou na repetição do
exemplo com, digamos, Menotti e Ligeti.)
Na verdade, alguém poderia estar inclinado a pensar que a
segunda condicional, com consequente negativo, seria a verda-
deira. Entretanto, a razão disso poderia ser a condicional não
ser compreendida como uma proposição da forma “se A, então
não-B”, como o terceiro excluído condicional requer, mas sim
“não-(se A então B)”, isto é,
Não é o caso que se Bizet e Verdi eram compatriotas,
Bizet seria italiano
115
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 115 06/06/14 12:25
e nesse caso é o próprio terceiro excluído e não sua versão condi-
cional que requer a verdade da proposição (dado que a instância
com consequente afirmativo é falsa). Outra maneira de expressar
como alguém poderia compreender essas proposições é
Se Bizet e Verdi fossem compatriotas, Bizet poderia ser
italiano
e
Se Bizet e Verdi fossem compatriotas, Bizet poderia não
ser italiano
Se essas duas proposições podem ser simultaneamente verdadei-
ras, e Lewis está correto em identificar “se A, poderia ser não-B”
com “não-(se A, seria B)”, então o terceiro excluído condicional
deve ser abandonado, assim como o pressuposto de unicidade
do mundo mais semelhante.
A semântica de Stalnaker inclui outro pressuposto, o de que
há sempre pelo menos um mundo possível mais próximo. Mas,
assim como uma relação de proximidade é concebível, como
no exemplo de Bizet e Verdi, é concebível que nem sempre haja
um mundo mais próximo. Considere uma adaptação de outro
exemplo de Lewis:
Se Lewis tem mais de 2 metros de altura, ele pode entrar
no time de basquete.
(Aqueles que o conheceram, podem colocar “tivesse” e “pode-
ria” aqui.) O que está em questão aqui é a pressuposição de um
limite (ou existência) segundo o qual, dentre mais e mais mundos
semelhantes, há um limite, um mundo tal que não exista nenhum
outro mais semelhante. Mas mundos nos quais Lewis tem 2,02m,
2,01m, 2,005m, e assim por diante, são progressivamente mais
semelhantes ao mundo atual, ainda que não haja limite para esta
sequência (que não seja aquele em que ele tem 2m de altura e não
é compatível com o antecedente). Para acomodar as duas revisões
116
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 116 06/06/14 12:25
– o abandono da unicidade e da pressuposição de limite –, Lewis
substitui a função seleção f por uma relação de semelhança, e
propõe que “se A, então B” é verdadeira em w nos seguintes
casos: ou não existe um mundo em que “A e B” é verdadeira,
ou existe um mundo em que “A e B” é verdadeira e tal mundo
é mais próximo de w do que todos os mundos em que “A e
não-B” é verdadeira; isto é, existe um mundo em que A e B são
verdadeiras e tal mundo é mais similar a w do que cada um dos
mundos em que A e “não-B” são verdadeiras. Considerando o
exemplo acima, a condicional é verdadeira se existe um mundo
no qual Lewis tem mais de 2m e pode entrar no time de basquete,
e tal mundo é mais semelhante ao nosso do que cada um dos
mundos em que ele tem mais de 2m e não pode entrar no time de
basquete. No caso de Verdi/Bizet, onde não há um único mundo
mais próximo, as condicionais com expressão verbal “seria”
são falsas porque, para cada um dos mundos compatíveis, mais
semelhantes, nos quais Bizet e Verdi são compatriotas, não há
um mundo mais semelhante em que a nacionalidade de Bizet é
diferente. Consequentemente, as condicionais com expressão
verbal “poderia ser” são ambas verdadeiras: “se A, poderia ser
B” é verdadeira em um mundo w se existe um mundo no qual
“A e B” é verdadeira e nenhum mundo em que “A e não-B” é
verdadeira é mais semelhante a w.
Essa revisão abre mão do terceiro excluído condicional, mas
não altera em mais nada o básico da teoria. Por exemplo, consi-
derando nossos exemplos iniciais, “se você fica em primeiro,
ganhará uma bolsa” será verdadeira se para cada mundo no
qual você fica em primeiro lugar mas não obtém a bolsa existe
um mundo mais similar no qual você fica em primeiro lugar e
ganha a bolsa. Se há um mundo mais semelhante, então você
ganhar ou não ganhar a bolsa nesse mundo é o que determina
a questão; se não há tal mundo, a nova teoria fornece uma
resposta que a anterior não fornecia. Similarmente, “se Oswald
não matou Kennedy, alguma outra pessoa o matou” é verdadeira
porque cada um dos mundos em que nem Oswald nem uma
117
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 117 06/06/14 12:25
outra pessoa matou Kennedy é menos semelhante ao nosso do
que um mundo em que Kennedy foi assassinado por uma pessoa
diferente – seja esse mundo ou uma revisão dele. Novamente, a
teoria revisada está de acordo com a anterior, exceto nos casos
em que a anterior não conseguia acomodar – quando não há um
único mundo mais semelhante.
Isso basta sobre a teoria da “semelhança”. Mas ela é aceitável?
Oferece um tratamento adequado das condições de verdade de
condicionais? Há duas razões para supor que não. A primeira
é que, como já foi visto, essa teoria torna verdadeiras todas as
condicionais com antecedente e consequente verdadeiros. Mas
nesse ponto ela é equivocada. Muitas condicionais desse tipo
são falsas, por exemplo,
Se o Sol é mais largo que a Terra, então a Terra descreve
uma órbita ao redor do Sol
e (supondo que John está no Alasca)
Se John não está na Turquia, então ele não está em Paris.
Essas condicionais são verdadeiras na teoria da “semelhança”
porque essa teoria pergunta apenas se o consequente é verdadeiro
no mundo mais próximo em que o antecedente é verdadeiro (ou
se ambos são verdadeiros em um mundo mais próximo do que
cada um dos mundos em que um é verdadeiro e o outro falso),
e isso, dado que o antecedente é verdadeiro, é equivalente a
perguntar se o consequente é verdadeiro. Mas, intuitivamente,
quando pensamos acerca dos exemplos, na verdade ignoramos
o fato de que o antecedente é verdadeiro, e consideramos se a
(possível) verdade do antecedente implicaria a verdade do conse-
quente – como requer o teste de Ramsey. O teste de Ramsey não
estabelece somente que o mundo atual seja considerado, mas sim
que devemos supor que o antecedente é verdadeiro e, sob essa
suposição, avaliar o consequente. A restrição ao mundo mais
semelhante e aquela ao mundo atual, se o antecedente é verda-
deiro, são aspectos que foram adicionados, aparentemente, por
boas razões, mas são, entretanto, suplementares à ideia básica.
118
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 118 06/06/14 12:25
Os contraexemplos com antecedente e consequente verdadeiros
sugerem que deveríamos reconsiderar o teste e seu modo de
aplicação.
Na verdade, se agora pensarmos novamente sobre o teste de
Ramsey, no teorema da dedução e na condicionalização, deveria
parecer surpreendente que o teorema da dedução não funciona
tanto na abordagem por semelhança quanto na análise proba-
bilística. Pois os três princípios parecem ser apenas maneiras
diferentes de expressar a mesma ideia. Em cada caso, estamos
considerando nosso compromisso com uma condicional “se A,
então B”. A condicionalização propõe aumentar a probabili-
dade de A para 1 e ver que diferença isso faz na probabilidade
de B; o teste de Ramsey propõe que consideremos B em um
contexto em que A é adicionada às nossas crenças; e o teorema
da dedução propõe adicionar A às proposições em relação às
quais a suposta implicação “se A então B” está em questão, e
perguntar se esse novo conjunto de proposições implica B. A
razão pela qual a análise da semelhança e a análise probabilís-
tica separam o teorema da dedução desse trio de princípios é o
tratamento especial que elas dão ao caso em que o antecedente
é verdadeiro. A ideia central do trio de princípios, entretanto,
é a seguinte: considere uma teoria, isto é, um conjunto de
proposições, e mais todas as suas consequências (talvez um
mundo possível), e seja o um meio, até aqui não especificado,
de combinar duas teorias, u e v, formando uma nova teoria
u o v. Então, “se A, então B” pertence a uma teoria v se sempre
que A pertence à teoria v, B pertence à teoria composta
u o v. As teorias u, v e u o v aqui podem ser distribuições de
probabilidade, estados de crenças ou mundos possíveis. Dada
uma teoria de tais teorias, o teste de Ramsey e seus princípios
cognatos nos dizem como expressar as condições de verdade
para condicionais nessa teoria. (Estou usando “teoria” tanto em
sentido não técnico, para caracterizar um tratamento filosófico
de algum tipo, quanto em sentido técnico, para um conjunto
119
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 119 06/06/14 12:25
de proposições fechado sob consequência lógica. O contexto
deveria deixar claro o sentido em que a palavra está sendo usada
em cada caso.)
Uma tal teoria está ainda para ser elaborada. Vamos terminar
este capítulo com a segunda razão para acreditar que a teoria da
“semelhança” precisa de revisão, uma revisão que irá fornecer
alguns detalhes de como a nova teoria de condicionais deveria
ser formulada e, ao mesmo tempo, remeterá a ideias do final do
Capítulo 2. A questão é: o que fazer com as condicionais com
antecedente contraditório, antecedentes que não podem ser
verdadeiros? Por exemplo,
Se a raiz quadrada de 2 é racional, ela pode ser expressa
como uma fração irredutível.
A raiz quadrada de 2 não é racional, e nem pode ser. Não
obstante, essa condicional é verdadeira. Se √2 fosse racional,
poderia, como é característico dos números racionais, ser
expressa como uma fração. Entretanto, como √2 não pode ser
racional, não existe um mundo possível no qual √2 é racional, e
em particular não existe um tal mundo possível mais próximo.
Stalnaker, consequentemente, adaptou sua teoria incluindo,
dentre os mundos em seu modelo, um mundo “impossível”,
que ele denomina λ, no qual toda proposição é verdadeira.
Condicionais com antecedente contraditório são avaliadas
em λ, e posto que toda proposição é verdadeira em λ, todas
as condicionais desse tipo tornam-se verdadeiras. A teoria de
Lewis tem a mesma consequência, que todas as condicionais
com antecedente contraditório são verdadeiras, tornando-as
vacuamente verdadeiras.
Isso nos faz lembrar do ex falso quodlibet e de suas objeções,
baseadas na ideia de relevância, que vimos no Capítulo 2. Algumas
condicionais com antecedente contraditório são de fato verdadei-
ras, mas não todas. Por exemplo,
120
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 120 06/06/14 12:25
Se todos os quadrados são redondos, então todas as
coisas redondas são quadradas
e
Se Edmundo é corajoso e não é corajoso, então teremos
que pegar o ônibus
A teoria precisa ser adaptada de modo que possamos distin-
guir, entre os condicionais com antecedente contraditório, os
verdadeiros dos falsos. Essa adaptação não é difícil, mas levanta
problemas filosóficos, pois significa que teremos de colocar na
teoria uma gama adequada de mundos “impossíveis”. A teoria
de Stalnaker já inclui um mundo desse tipo, mas quando uma
gama de tais mundos é incluída, não é preciso que (todos) eles
sejam tão extremos ao ponto de tornar verdadeira toda proposi-
ção – sob a hipótese de que a respectiva teoria da consequência
não inclui o ex falso quodlibet. Mundos (ou teorias) são fecha-
dos sob consequência lógica – eles contêm todas as consequên-
cias lógicas das proposições neles contidas (ou que eles tornam
verdadeiras) –, logo, existe apenas uma teoria impossível (ou
mundo) no tratamento clássico da consequência lógica. Mas, se
rejeitamos EFQ, e ao sustentar tal rejeição desejamos elaborar
uma teoria na qual condicionais com antecedente contraditório
podem ser falsos, precisamos incluir nessa teoria uma gama de
mundos ou teorias, tanto possíveis quanto impossíveis. Isso
também faz sentido se as teorias forem concebidas como modelos
de estados de crenças, pois a maioria das pessoas tem crenças
contraditórias sem estar ciente dessas inconsistências. Mas não
é o caso que todas as pessoas possuem um mesmo estado de
crenças, que seria o resultado de admitir crenças contraditórias
juntamente com a lógica clássica.
Ao considerar uma tal teoria de mundos, o problema filosófico
é se tais mundos impossíveis podem de algum modo ser reais.
Isso nos leva ao tópico do próximo capítulo, lógica modal e sua
semântica, e à compreensão correta, do ponto de vista filosófico,
da noção de mundo possível.
121
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 121 06/06/14 12:25
Resumo e sugestões para leituras
A ortodoxia clássica sustenta que condicionais são vero-
-funcionais, verdadeiras se o antecedente é falso, ou o consequente
é verdadeiro, e falsas somente se o antecedente é verdadeiro, e
o consequente é falso. Examinamos dois argumentos em defesa
dessa afirmação, um rápido argumento baseado na equivalência
entre uma condicional e a disjunção correspondente e a vero-
-funcionalidade da disjunção; e um argumento mais longo,
baseado no teorema da dedução e no tratamento clássico da
validade, que percorre os três casos de antecedente verdadeiro
e consequente falso, antecedente falso e, por fim, consequente
verdadeiro. Os dois argumentos pretendem mostrar que as
condições de verdade de condicionais são dadas pela condicional
material (ou implicação material), frequentemente simbolizada
por ∩. “A ∩ B”, por definição, é verdadeira se A é falsa ou B
verdadeira, caso contrário é falsa.
Apesar desses argumentos, há razões para supor que condicio-
nais não são vero-funcionais. Proposições da forma “se A então
B ou se B então A” não parecem ser universalmente verdadeiras,
como seriam se a condicional fosse vero-funcional. Além disso,
se condicionais fossem vero-funcionais, a forma argumentativa
Se A então B. Logo, ou se A então C, ou se D então B
seria válida (suponha a premissa verdadeira: então ou A é falsa,
o que torna verdadeiro o primeiro disjunto da conclusão verda-
deiro, ou B é verdadeira, o que torna verdadeiro o segundo
disjunto da conclusão). Mas há instâncias dessa forma intuiti-
vamente inválidas, como
Se John está em Paris, então ele está na França. Logo, ou
se John está em Paris, então ele está na Turquia, ou se
John está em Istambul, então ele está na França,
na qual ambos os disjuntos da conclusão parecem ser clara-
mente falsos, apesar da premissa ser obviamente verdadeira.
122
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 122 06/06/14 12:25
Um catálogo inteiro de tais contraexemplos pode ser encontrado
em “The Propositional Logic of Ordinary Discourse”, de W.
Cooper.
Já foram realizadas muitas tentativas de defender a tese vero-
-funcional e refutar os contraexemplos. Uma que é cada vez mais
popular é a defesa conversacionalista, que tem origem em H.
Paul Grice. Grice expôs e desenvolveu sua teoria de implicatu-
ras conversacionais durante muitos anos; o melhor tratamento
talvez não seja encontrado em suas próprias obras, mas sim em
R. C. S. Walker, “Conversational Implicatures”. Veja também
Ways of Meaning, de Mark Platts, cap. 3, seção 2. A adaptação
de Jackson das ideias de Grice, atribuindo a não assertibilidade
de condicionais verdadeiras (na análise vero-funcional) a uma
implicatura convencional que determina sua falta de robustez
com respeito a seus antecedentes, pode ser encontrada em sua
monografia Conditionals. (Minha definição de “robustez” é a
versão revisada (robustez2) oferecida por Lewis (com aprova-
ção de Jackson) no adendo de 1986 ao texto “Probabilities of
Conditionals and Conditionals Probabilities”, v. I.)
O problema real dessas defesas da vero-funcionalidade ocorre
quando elas são adaptadas para condicionais embutidos. Essa
é uma versão da dificuldade enfrentada por teorias expressivis-
tas, apontada por Peter Geach em seu artigo “Ascriptivism”,
reimpresso em Logic Matters. O que no artigo “Assertion” ele
chama de “o ponto de Frege” é que nem todo caso de predicação
é um caso de asserção; proposições embutidas em condicionais
exigem que expliquemos a função de “bom”, “intencional”, “se”
e outras palavras em casos em que nenhuma asserção é feita.
A monografia de Jackson intitulada Conditionals não deve
ser confundida com a coletânea de artigos com o mesmo nome,
por ele editada, que contém um artigo no qual Jackson apre-
senta seu tratamento da robustez, “On Assertion and Indicative
Conditionals”. Essa coletânea, que contém também um artigo
de Grice, “Logic and Conversation”, é muito útil, assim como a
coletânea mais antiga editada por W. Harper et al., Ifs. Ambas
enfatizam, a primeira exclusivamente, as teorias da semelhança
123
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 123 06/06/14 12:25
e probabilística que aceitam que condicionais não são vero-
-funcionais, propõem tratamentos que não são vero-funcionais
e explicam as falácias nos dois argumentos em defesa da vero-
-funcionalidade. Ambas têm origem no trabalho de Stalnaker, e
são desenvolvimentos do teste de Ramsey, encontrado em breves
comentários de Frank Ramsey no artigo “General Propositions
and Causality”. O tratamento probabilístico foi apresentado
em “Probability and Conditionals” de Stalnaker, reimpresso
na coletânea de Harper acima mencionada, em que Stalnaker
propõe que a probabilidade de uma condicional é a probabilidade
condicional correspondente, p(se A então B) = p(B/A). A hipó-
tese de Stalnaker foi criticada por David Lewis em dois artigos,
“Probabilities of Conditionals and Conditional Probabilities”,
volumes I e II, reimpressos na coletânea de Jackson, com base
nas suas provas de trivialidade, segundo as quais não pode haver
uma proposição cuja probabilidade é medida pela probabili-
dade condicional, sob pena de trivializar toda a atribuição de
probabilidades.
Duas reações aos resultados de Lewis são possíveis: buscar
um tratamento alternativo para as condições de verdade de
condicionais; ou voltar a uma ideia de Ernest Adams, segundo
a qual condicionais não têm condições de verdade e p(B/A) não
expressa a medida da probabilidade da verdade de “se A então
B”, mas simplesmente sua assertibilidade ou credibilidade. Ele
apresentou essa ideia em The Logic of Conditionals. Não é claro
o que significa uma condicional ter uma probabilidade sem que
seja a probabilidade de ser verdadeira, mas essa ideia é mais
desenvolvida por Dorothy Edgington em “Do Conditionals have
Truth-Conditions?”, reimpresso na coletânea de Jackson, em que
ela sustenta que condicionais não têm condições de verdade. Pois
caso contrário elas seriam vero-funcionais, argumenta Edgington,
baseada na hipótese de Adams, segundo a qual a confiança de
alguém (segundo Edgington) em uma condicional “se A, então
B” é medida por p(B/A). Posto que condicionais não são vero-
-funcionais, também não possuem condições de verdade.
124
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 124 06/06/14 12:25
A outra elaboração que Stalnaker faz do teste de Ramsey foi
na teoria da semelhança, propondo que “se A, então B” é verda-
deira (em um mundo possível w) se B é verdadeira no mundo
mais semelhante a w no qual A é verdadeira. Ele apresentou
essa ideia em “A Theory of Conditionals”, reimpresso tanto em
Jackson quanto em Harper. Foi criticado por David Lewis por
assumir a existência e a unicidade de um mundo mais semelhante,
e Lewis propôs um tratamento alternativo em “Counterfactuals
and Comparative Possibility”, reimpresso em Harper e desen-
volvido de modo mais pleno em seu Counterfactuals. Stalnaker
respondeu em defesa do terceiro excluído condicional, o núcleo
da discordância, e a disputa pode ser acompanhada na coletânea
de Harper.
Seguindo Stalnaker, adotei neste capítulo a concepção
segundo a qual a diferença entre condicionais indicativos e
subjuntivos é essencialmente epistêmica e pragmática, refletindo
diferentes visões epistêmicas do antecedente, e não expressa uma
diferença nas condições de verdade (embora possa haver uma
diferença nos valores de verdade). Lewis e Jackson discordam.
Vic Dudman também, embora de modo diferente. O leitor
deve tomar conhecimento das ideias iconoclastas de Dudman,
que acredita que os filósofos sistematicamente classificaram as
condicionais de modo equivocado e, por conseguinte, suas teorias
cometem erros graves. Um artigo interessante, “Interpretations
of ‘If’-sentences”, está na coletânea de Jackson.
Minha posição, entretanto, é a de que o teste de Ramsey
fornece um insight interessante da semântica de condicionais,
e que o tratamento em termos de mundos possíveis estava na
direção certa. Contudo, precisa ser revisado em dois pontos
para acomodar o fato de que nem todas as condicionais com
antecedente e consequente verdadeiros são verdadeiras, como
também não são verdadeiras todas aquelas com antecedente
contraditório (como acontece nas teorias de Stalnaker e Lewis).
Essa revisão pode ser realizada examinando não apenas o
mundo mais próximo, onde o antecedente é verdadeiro (ou, na
125
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 125 06/06/14 12:25
teoria de Lewis, mundos suficientemente mais próximos), mas
de modo mais geral mundos onde o antecedente é verdadeiro,
e combinando as “teorias” ou mundos onde antecedente e
condicional são presumivelmente verdadeiras com um mundo
onde o consequente deveria ser verdadeiro. O desenvolvimento
de uma tal revisão na teoria terá de levar em conta o trabalho
de Alchourron, Gärdenfors e Makinson; veja, por exemplo,
de Gärdenfors, Knowledge in Flux. O teste de Ramsey pode
então ser reformulado essencialmente na forma do teorema
da dedução, para articular a condição de aceitação de condi-
cionais em tal teoria. Um paradoxo ameaça, generalizando os
resultados de trivialidade de Lewis, à luz de alguns pressupostos
plausíveis sobre revisão de teorias (veja Gärdenfors, cap. 7). Se
eles puderem ser superados, poderíamos assim ter esperança de
obter uma teoria de condicionais adequada com o tratamento
da consequência lógica do fim do Capítulo 2, que requer uma
conexão de relevância entre premissas e conclusão em um caso,
e entre antecedente e consequente, em outro.
Nota
1
Read denomina “princípio da condicionalidade” o que usualmente é chamado
“teorema da dedução”, isto é, dado um conjunto se sentenças Γ e duas sentenças
A e B, Γ implica logicamente A B se e somente se Γ e A implicam logicamente
B. Optamos aqui por usar a terminologia usual, “teorema da dedução”. [N.T.]
126
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 126 06/06/14 12:25
4
O olhar incrédulo
Mundos possíveis
Mundos possíveis já foram mencionados mais de uma vez
nos capítulos anteriores. No Capítulo 1, foi introduzida a
ideia de estados de coisas maximais, modos em que os objetos
se encontram de forma a tornar ou verdadeira ou falsa toda
proposição. Estados de coisas maximais são realidades comple-
tas, modos que o mundo poderia ter sido se a classe de todas
as proposições tivesse uma determinada atribuição de valores
de verdade. Em uma versão da teoria da verdade como corres-
pondência, eles seriam a união de todos os estados de coisas
que precisariam existir, caso certas proposições tivessem tais e
tais valores de verdade. No Capítulo 3, a mesma concepção de
um estado de coisas completo, que inclui cada eventualidade,
foi necessária para o tratamento de condicionais pela teoria da
“semelhança”, de modo que as consequências de se supor o
antecedente verdadeiro pudessem ser corretamente exploradas.
Uma teoria, um conjunto de proposições fechado dedutivamente,
correspondia a sua realização concreta, um mundo possível no
qual toda situação foi especificada de um determinado modo.
A concepção alternativa de condicionais, no final do capítulo,
substituiu o discurso sobre uma relação de semelhança por uma
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 127 06/06/14 12:25
operação sobre mundos, formando um novo mundo ou teoria
u o v a partir dos mundos u e v, mas a sua base, uma classe de
cenários alternativos, era a mesma, apesar de também incluir
mundos “impossíveis”, situações nas quais as consequências de
pressupostos contraditórios pudessem ser estudadas. Em todas
essas ideias, e no uso da noção de “mundo possível”, está a
ideia segundo a qual existem alternativas ao mundo atual, ou
diferentes modos de como o mundo poderia ter sido.
Isso basta sobre a lógica dos mundos possíveis. Qual é a
metafísica subjacente a essa abordagem? Temos aqui uma
representação da realidade filosoficamente coerente? Em seus
aspectos mais extremados, o uso de mundos possíveis em lógica
nos apresenta uma quantidade extraordinária de versões alter-
nativas da realidade. É material próprio da ficção científica.
Muitos escritores de ficção científica já elaboraram e usaram essa
concepção em suas histórias. Um exemplo que se destaca é The
Gods Themselves, de Isaac Asimov.1 Amostras de um elemento
“fisicamente impossível” são descobertas – um elemento que é
instável e decai formando um elemento estável e fornecendo nesse
processo uma energia que pode ser aproveitada. Mas qual é a
origem dessas amostras? Elas são provenientes de um universo
paralelo no qual as leis da natureza são ligeiramente diferentes,
de modo que o elemento “fisicamente impossível”, nesse mundo,
não é impossível. Nesse mundo, a força nuclear forte é duas
ordens de grandeza maior do que no nosso mundo. Além das
diferenças no que diz respeito a quais elementos (combinações
de prótons, nêutrons e elétrons) são estáveis, uma diferença
desse mundo é que a fusão nuclear, que é a origem da energia
das estrelas, ocorreu de modo muito mais rápido. Apenas sete
estrelas são visíveis no céu, todas as estrelas estão morrendo e
o fim do universo está próximo. Um cientista desse universo
descobriu como transferir matéria para um mundo vizinho – o
nosso mundo. Nessa operação, ambos os lados se beneficiam,
pelo menos à primeira vista. Pois cada elemento trocado, embora
128
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 128 06/06/14 12:25
estável em seu mundo, é instável no mundo de forças nucleares
diferentes, e por essa razão fornece energia ao decair para um
elemento estável. Os cientistas do nosso mundo, ao cooperarem
com essas trocas, descobriram uma fonte de energia sem custo;
os “paracientistas” podem evitar o fim da sua civilização ao
se tornarem independentes do seu sol para obter energia, e ao
efetivamente importarem energia podem sobreviver à morte
térmica do seu universo.
Como romancista, Asimov é também capaz de incorporar
correspondências sedutoras entre esses mundos alternativos,
modos diferentes em que, no contexto de diferentes leis da
natureza, a evolução das estrelas, do mundo e das pessoas tem
histórias próximas, mas contrastantes. Assim, os cientistas da
Terra (e da Lua) Hallam, Denison e Selene têm contrapartes
no parauniverso, Tritt, Odeen e Dua. Entretanto, existe um
problema nessas trocas de matéria. A importação desses elemen-
tos estranhos a cada mundo traz outras mudanças, mudanças que
ameaçam nosso mundo, ameaçam fazer com que a explosão do
Sol ocorra em um tempo drasticamente menor. A solução está,
como coloca Denison, no fato de que “o número 2 é ridículo e
não pode existir”. Se o nosso mundo não é o único mundo que
existe, então não existe apenas um universo alternativo, mas
uma infinidade deles.
O quadro que Asimov nos apresenta, portanto, é o de uma
pletora de universos diferentes, mas paralelos, cada um possuindo
uma história da evolução estelar, cada um incorporando uma
diferença em como as coisas poderiam ter sido se uma variável de
uma lei física tivesse sido diferente, se estrelas fossem compostas
de modo diferente, se a vida tivesse evoluído diferentemente,
se diferentes decisões e diferentes ações tivessem sido tomadas.
Cada mundo é um universo completo, sem relação com os
outros, exceto por seus lugares no “espaço” de possibilidades
alternativas.
129
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 129 06/06/14 12:25
Platonismo modal
Isso que vimos é a metafísica conhecida como realismo modal
ou, como prefiro chamá-la, realismo extremo ou platonismo
modal – pois pretendo, mais adiante neste capítulo, defender uma
metafísica realista diferente. O que é característico do platonismo
– que tem esse nome em alusão ao filósofo grego do século 4
a.C., Platão, cuja teoria das formas tinha esse mesmo caráter – é
que ele procura fundamentar a objetividade em objetos autos-
subsistentes. A ideia é a de que condicionais, por exemplo, são
objetivamente ou verdadeiras ou falsas, independentemente de
nossa capacidade de determinar seus valores de verdade – até aqui
trata-se de realismo –, e que a explicação para essa objetividade
reside no fato que – digamos, segundo a teoria da “semelhança”
– antecedente e consequente têm os valores de verdade que têm
em mundos apropriados (e objetivamente) semelhantes ao nosso.
Analogamente, proposições têm significado objetivamente – na
teoria pictórica do significado de Wittgenstein mencionada no
Capítulo 1 – em virtude de corresponderem a estados de coisas
reais e independentes da mente, segmentos de histórias completas
do mundo, todas reais, mas apenas uma atual.
Hallam, Denison e Selene têm contrapartes no parauniverso,
contrapartes que ao mesmo tempo são uma única contraparte,
Estwald. Os diferentes mundos são universos reais e concretos,
contendo matéria física estendida no espaço e no tempo. É natural,
dessa forma, enquadrá-los na concepção platonista. Concepções
alternativas de mundos, que veem mundos como “modos como
o mundo poderia ter sido”, frequentemente sugerem que objetos
em um mundo não têm meras contrapartes em outros mundos,
mas são idênticos a elas. Se imaginamos o que teria acontecido
se Edmundo fosse corajoso estamos imaginando o que teria
acontecido se o nosso Edmundo, o Edmundo do mundo real,
fosse corajoso, não estamos pensando em alguma contraparte
dele. Mas levar o platonismo a sério sugere fortemente que isso é
incoerente. Certamente, uma ideia que naturalmente acompanha
130
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 130 06/06/14 12:25
o platonismo, e pode ser apoiada por um argumento, é a de que
a afirmação de que Edmundo pudesse habitar diferentes mundos
deve ser rejeitada. Se cada mundo tem realidade concreta, então
Edmundo não pode estar ao mesmo tempo em dois mundos
diferentes. Quando imaginamos como seria Edmundo se ele
fosse corajoso, estamos pensando em alguém muito parecido
com Edmundo – ou tão parecido quanto alguém poderia ser –
sendo corajoso. Dua escapou, não do nosso Sol, mas sim de uma
contraparte do Sol – muito menor e mais frio.
Como identificamos uma contraparte? Alguém poderia
dizer que Dua não é a contraparte de Selene, mas sim que ela
é a contraparte de Peter Lamont. São eles que, em seus respec-
tivos mundos, tentam interromper o processo de troca. Selene,
na Lua, não tem uma contraparte no parauniverso, pois nesse
mundo a Terra não tem lua. Por outro lado, no trio, Dua tem as
características femininas, e é “emocional”, ao passo que Selene
é “intuitiva”. Identificar a contraparte de uma pessoa, ou de
uma coisa, em outro mundo, parece se basear em características
que são correspondentes. Ao pensar no que teria acontecido se
Edmundo fosse corajoso, buscamos a pessoa, na outra situa-
ção, mais parecida com Edmundo, exceto no que diz respeito à
coragem, e nossa questão é respondida ao descobrirmos quais
outras qualidades essa pessoa tem. Uma pessoa ou uma coisa
pode não ter contraparte em alguma outra situação – se as forças
nucleares fossem cem vezes mais fortes, diz Asimov, a Terra (a
contraparte da Terra) não teria lua alguma. Não haveria Lua.
Inversamente, quando Dua e Odeen pensam acerca do nosso
mundo, eles julgam que o número de estrelas, e de pessoas, é
inimaginável. Da perspectiva deles, existem muitas pessoas e
coisas possíveis, mas não existentes – objetos possíveis que não
têm uma contraparte atual.
O que esse raciocínio torna visível é uma embaraçosa simetria
na concepção platonista modal. O que é atual, o que realmente
existe, é relativo a cada mundo. Denison e Selene acreditam que
nosso mundo é o mundo atual; o parauniverso é apenas como
131
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 131 06/06/14 12:25
as coisas poderiam ter sido se as leis da física fossem diferentes.
Analogamente, Odeen e Dua acreditam que eles são reais; nosso
mundo, para eles, é meramente uma possibilidade remota. Mas
quando a bomba de pósitrons entra em ação, trocando matéria
entre os dois universos, os outros se tornam reais e motivo de
interesse. O que aconteceria com as pessoas – nós – no outro
mundo, se o sol deles – nosso – explodisse? Na concepção
platonista, todo e cada mundo é real. “Atual” conota apenas
“o mundo ao qual pertenço”; “real” é ambíguo entre “atual” e
“todo”. Todos os mundos são reais; todos os mundos realmente
existem; não há mais o contraste entre o “possível” e a realidade.
Toda possibilidade é realizada.
À primeira vista, a concepção platonista é convincente.
Explicamos “possível” da seguinte forma: “é possível que A”
significa que existe um mundo possível em que A é verdadeira;
“é necessário que A” significa que em todos os mundos possíveis
A é verdadeira. Assim, quantificamos sobre todos os mundos
possíveis – “existe…”, “em todo…”. Não deveria existir essa
infinidade de mundos possíveis para podermos explicar as
noções de possibilidade e necessidade? Ainda que tomássemos
a metáfora seriamente e desenvolvêssemos uma teoria metafísica
que realmente contivesse todos esses mundos possíveis, como
realidades concretas realmente existentes, constataríamos, em
última análise, que precisamente a noção que pretendíamos
esclarecer escapa de nossas mãos. Imaginamos o que seria
possível se Edmundo fosse corajoso; e constatamos que não
seria Edmundo, mas algum doppelgänger, que teria praticado
alpinismo. Edmundo está aqui entre nós; ele não pode habitar
também um outro mundo. Mais grave ainda, temos agora difi-
culdade em identificar sua contraparte. Edmundo não pode ser
tão diferente – sua contraparte não pode ser muito diferente
dele, ou não seremos capazes de localizá-la e rastreá-la. Quão
diferente Edmundo pode ser e ainda assim ser (uma contraparte
de) Edmundo? Quão diferente Edmundo pode ser sem deixar
de ser (uma contraparte de) Edmundo? Além disso, trata-se
132
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 132 06/06/14 12:25
de Edmundo, o Edmundo real, como Edmundo efetivamente
é. Sua contraparte deveria ser somente uma sombra, como
Edmundo poderia ter sido, uma possibilidade. A possibilidade
agora é real – a contraparte pensa que é o próprio Edmundo,
como Edmundo efetivamente é, e para ela nós somos apenas
uma remota possibilidade – nosso Edmundo é como Edmundo
teria sido, caso não fosse corajoso. Mas essa não parece ser a
concepção de possibilidade que procurávamos.
Ao identificar Edmundo, ou qualquer que seja o objeto de
nossas reflexões modais, o platonista acerca de mundos possíveis
lançará mão de uma dentre as seguintes estratégias. O ecceitista
acredita que cada coisa tem uma essência individual, um conjunto
de propriedades que são essenciais a tal coisa. Por exemplo,
Edmundo é essencialmente um ser humano, e nenhuma contra-
parte de Edmundo poderia ser algo diferente de um ser humano.
Mas Edmundo não é essencialmente covarde, sua contraparte
pode ser corajosa. Mais ainda: Edmundo tem também uma
essência definidora, algo ainda mais característico dele do que
ser um ser humano, pois essa última é uma característica que ele
compartilha com outras pessoas. Edmundo deve também ter a
propriedade essencial de “ser Edmundo”, e essa propriedade é
compartilhada apenas com suas contrapartes nos outros mundos.
É essa ecceidade (do latim haecceitas, um neologismo criado
por Duns Scotus no fim do século 12, que significa literalmente
“coisidade”) que nos torna capazes de localizar Edmundo (isto é,
as contrapartes de Edmundo) em outros mundos. Suas proprie-
dades determinam as propriedades modais de Edmundo.
O antiecceitista apresenta uma objeção a esse discurso ultra-
essencialista. Eles podem ou não admitir que algumas proprie-
dades são essenciais. Por exemplo, poucos sustentariam que
Edmundo poderia ter sido um carro esportivo, uma doença ou
uma linha de longitude. Isso pode ser porque ser um ser humano
é, de algum modo, profundo, essencial para ele. Mas pode ser
simplesmente porque as contrapartes de Edmundo são identi-
ficadas pela semelhança com ele, por serem mais semelhantes
133
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 133 06/06/14 12:25
a Edmundo do que às outras coisas de seu mundo. Seja ou não
essencialista, o antiecceitista nega que existam quaisquer essên-
cias individuais. Se existissem, eles dizem, faria sentido supor que
Edmundo e seu irmão Edgar pudessem trocar de lugar em algum
outro mundo – que, em tal mundo, a contraparte de Edmundo
poderia se comportar como Edgar se comporta aqui, e vice-versa.
De fato, aparentemente dois mundos poderiam ser idênticos,
exceto no que diz respeito a uma permutação de identidades,
isto é, de contrapartes. Mas isso, o antiecceitista replica, é uma
distinção sem diferença. Entre dois mundos deve haver uma
diferença real, de modo que algum objeto não possua, em um
mundo, uma propriedade que possui em outro. Identidade, ou
a relação de contraparte, não é uma tal diferença. Quais objetos
são as contrapartes de quais objetos depende das propriedades
que eles têm, e não de alguma essência escondida por debaixo
dessas propriedades.
Muitos anos atrás, Willard van Quine rejeitou em bloco
a lógica modal com base na ideia de que seus proponentes
se comprometiam com uma crença em essências. Ele estava
disposto a admitir que algumas proposições são necessariamente
verdadeiras (pelo menos, ele aceitava que essa ideia faz sentido,
embora não concordasse com o modo como era descrita). Por
exemplo, a proposição “9 é maior do que 7” é necessariamente
verdadeira, pois é uma verdade da aritmética. Isso é modalidade
de dicto, modalidade atribuída a uma proposição (dicto vem do
latim dictum, para “proposição”). A interpretação de dicto de
“necessariamente, 9 > 7” é a de que não é concebível a propo-
sição “9 > 7” ser falsa. Mas 9 é também o número de planetas.
Podemos com razão inferir que, necessariamente, o número de
planetas é maior que 7? A proposição “o número de planetas é
maior que 7” não parece ser necessariamente verdadeira, pois é
concebível que existissem menos de 7 planetas. Não obstante, o
princípio que utilizamos na inferência, em geral, é útil e seguro.
Coloquialmente, é a garantia de Romeu para Julieta, de que
“aquilo que chamamos uma rosa, mesmo com outro nome, teria
134
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 134 06/06/14 12:25
a mesma doçura”. “O que é um nome?”, pergunta Julieta. Posto
que 9 é maior que 7, ao que se segue que o número de planetas
é maior que 7, da mesma forma, aparentemente, do fato que
necessariamente 9 é maior que 7, segue-se que, necessariamente,
o número de planetas é maior que 7. O nome técnico desse
princípio é indiscernibilidade dos idênticos, chamado também
algumas vezes de Lei de Leibniz. Se a e b são idênticos, então
suas propriedades são as mesmas. Se dois nomes significam uma
mesma coisa, então as propriedades de tal coisa não dependem
do modo pelo qual elas são nomeadas. (A conversa, a identi-
dade dos indiscerníveis, segundo a qual se a e b têm as mesmas
propriedades, a é idêntico a b, é muito mais controversa.)
Contudo, parece aqui que o princípio da indiscernibilidade
dos idênticos nos leva, da afirmação verdadeira de que necessa-
riamente 9 é maior que 7, para a afirmação falsa de que neces-
sariamente o número de planetas é maior que 7. Pois é certo que
poderiam existir apenas 6 planetas. Há uma explicação, que
Quine conhece, mas que não é suficiente para aliviar seus temo-
res. A resposta é distinguir dois tipos diferentes de nomes, nomes
genuínos, e nomes não genuínos (ou dizer que estes últimos não
são nomes de verdade). Somente nomes genuínos permitem a
substituição de acordo com o princípio de indiscernibilidade de
idênticos. O princípio diz que, dada uma proposição da forma
Fa, isto é, a atribuição de uma propriedade F a um objeto a, e
dada também a premissa “a = b” (isto é, que a e b são nomes da
mesma coisa), podemos inferir Fb. O passo que vai de “Cícero
denunciou Catilina” (que atribui a Cícero a propriedade de ter
denunciado Catilina) e “Cícero é Túlio” (pois “Cícero” e “Túlio”
são diferentes nomes de uma mesma pessoa, Marco Túlio Cícero)
até “Túlio denunciou Catilina” tem essa forma, e nos leva de
premissas verdadeiras a uma conclusão verdadeira. Por outro
lado, “o maior orador romano” e “o número de planetas” não
seriam nomes genuínos. (Veremos com mais atenção as razões
para isso no próximo capítulo.) Tais expressões são descrições.
A proposição “o maior orador romano denunciou Catilina” não
135
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 135 06/06/14 12:25
tem a forma Fa, associando um nome a um predicado, mas é
um enunciado muito mais complexo, a saber, “existe, dentre os
oradores romanos, um que é o maior de todos e que denunciou
Catilina”. Analogamente, “o número de planetas é maior que 7”
tem a forma “existe um x tal que x é o único G e x é F”, isto é,
“algum número é o único número que corresponde ao número
de planetas e tal número é maior que 7”. Quando analisadas
dessa forma (a análise das descrições de Russell, que preparou o
terreno para o desenvolvimento da filosofia analítica nos primei-
ros anos deste século), as proposições “o número de planetas
é 9” e “necessariamente, o número de planetas é maior que 7”
não contêm nomes genuínos (além de “9” e “7”), e portanto não
podem ser premissa e conclusão de uma aplicação do princípio
de indiscernibilidade dos idênticos.
O problema inicial foi evitado. “Necessariamente, 9 > 7” é
verdadeira e “necessariamente, o número de planetas é maior
que 7” é falsa. Esta última não se segue da primeira pelo princí-
pio de indiscernibilidade dos idênticos, posto que “o número de
planetas é 9” não é a proposição de identidade que parece ser, e
que o princípio requer. Mas, diz Quine, saímos de um problema
para cair em outro ainda pior. Pois apliquemos a análise das
descrições à proposição “necessariamente, o número de planetas
é maior que 7”. Podemos fazer isso de duas maneiras diferentes.
Ao analisar essa proposição, implicitamente damos ao nome não
genuíno um escopo, pois a análise consiste em substituir uma
forma aparente A(d), em que a descrição d ocorre na proposição
A, por uma proposição B, que não contém constituinte algum
que corresponda a d. Dizemos que a proposição A é o escopo
da descrição. Em nosso exemplo, a descrição “o número de
planetas” ocorre, tanto na proposição “necessariamente,… é
maior que 7”, quanto na cláusula “… é maior que 7”, que é parte
da proposição inteira. Substituindo a descrição na proposição
maior, “necessariamente,… é maior que 7”, obtemos
136
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 136 06/06/14 12:25
Existe um número que é o único número que corresponde
ao número de planetas e, necessariamente, tal número
é maior que 7
ao passo que, substituindo a descrição na cláusula “… é maior
que 7”, obtemos
Necessariamente, existe um número que é o único
número que corresponde ao número de planetas e tal
número é maior que 7.
(Na primeira, “necessariamente” tem escopo menor, e o quanti-
ficador existencial que substituiu a descrição tem escopo maior,
ao passo que, na segunda, “necessariamente” tem escopo maior,
e o quantificador existencial que substituiu a descrição tem
escopo menor.)
A última proposição é certamente falsa, pois não é necessário
que exista um número maior que 7 e que tal número corresponda
ao número de planetas. Se existissem apenas 6 planetas (como
acreditava Newton, por exemplo), não existiria tal número. Essa
proposição não causa problemas e dissolve o quebra-cabeças
inicial. Mas o que dizer da primeira proposição? Lembre-se
das premissas do argumento que dá origem ao quebra-cabeças:
“necessariamente, 9 > 7” e “existe um número que é o único
número que corresponde ao número de planetas e tal número é
9”. A expressão “9” é um nome genuíno (assim foi considerado,
ao contrário da expressão “o número de planetas”). O princí-
pio da indiscernibilidade, portanto, produz “existe um número
que é o único número que corresponde ao número de planetas
e, necessariamente, tal número é maior que 7”, precisamente a
proposição acima. Portanto, ela é verdadeira – implicada por
premissas verdadeiras. Mas o que ela diz? Ela diz que algum
número é necessariamente maior que 7. Qual número, pergunta
Quine? “9”, ele responde, “– isto é, o número de planetas”.
Essa última objeção é puramente retórica. Vimos que não
podemos substituir “9” diretamente pela descrição correspon-
dente. Mas existe uma questão séria por trás desse movimento
137
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 137 06/06/14 12:25
retórico. A aceitação de nomes genuínos nos compromete com
a modalidade de re, a atribuição de propriedades modais a
objetos. Quine aceitaria (dependendo de análises adicionais)
a modalidade de dicto, a atribuição de propriedades modais a
proposições. Mas atribuições de re verdadeiras (re do latim res,
“coisa”) são totalmente diferentes. Elas dizem que os próprios
objetos, independentemente de como são descritos, necessa-
riamente possuem propriedades. Isso é um essencialismo que,
para Quine, é um vestígio da ciência aristotélica corretamente
rejeitado pela revolução científica do século 17 e sua ênfase no
método empírico.
Atualismo
A solução de Quine é restringir o campo de aplicação do
princípio de indiscernibilidade, e sua justificativa reside na
renúncia efetiva da lógica modal e da metafísica de mundos
possíveis, que vem junto com ela. A lógica é restrita ao paradigma
clássico do Capítulo 2, e a teoria das modalidades torna-se uma
teoria questionável, a ser rejeitada, em última análise, pelos
seus argumentos contra analiticidade e significado. Antes disso,
Quine constrói toda modalidade como sendo de dicto, e a toma
literalmente em termos de citação. Isto é, proposições modais
da forma “necessariamente A” são consideradas proposições
da forma Fa, onde a nomeia a proposição A e F é o predicado
“é necessariamente verdadeira”. Assim, “necessariamente 9 >
7” torna-se “‘9 > 7’ é necessariamente verdadeira”. Os nomes
“9” e “7” ficam então escondidos dentro da citação, protegidos
do princípio da Indiscernibilidade. Nem se discute se a citação
é “opaca” à substituição, como propõe Quine. Que Túlio seja
Cícero não nos permite inferir, do fato que “Túlio” tem 5 letras,
que “Cícero” também tem 5 letras.
Consideramos dois extremos: realismo extremo de um lado e,
do outro, a total rejeição do discurso modal. Entretanto, nenhum
138
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 138 06/06/14 12:25
dos dois é satisfatório. O platonismo trata possibilidades como
realidades concretas, fazendo desaparecer a distinção entre o que
é atual e o que é apenas possível. E isso, ou restringe a gama de
possibilidades de modo a permitir a identificação de contrapartes
pela sua semelhança, promovendo um tipo de essencialismo não
justificado; ou postula ecceidades, essências íntimas e encobertas
compartilhadas apenas pelas contrapartes, um tipo de essencia-
lismo mágico. Não é de se estranhar que isso seja rejeitado por
Quine. Entretanto, é preciso que a rejeição do platonismo seja
assim tão violenta? Será que não há um meio-termo razoável?
Sim, existe um meio-termo, uma forma de atualismo que
distingue de modo rigoroso o mundo atual da gama de mundos
possíveis. Há duas formas principais de atualismo: o reducio-
nismo, em suas muitas variantes, que busca construir mundos
possíveis a partir de uma matéria-prima mais mundana e fami-
liar; e o realismo moderado, no qual o mundo atual e concreto
opõe-se a mundos possíveis abstratos, porém reais. Os defeitos
do reducionismo podem ser caracterizados pela consideração de
duas de suas variantes. Em uma, mundos possíveis são identifi-
cados com combinações conjuntísticas de elementos básicos do
mundo atual – por exemplo, pontos do espaço-tempo, átomos,
o que quer que seja. O problema é a limitação daí resultante,
pois os constituintes básicos de todos os mundos são os mesmos,
o que entra em conflito com nossa intuição de que o mundo
poderia, no mínimo, ter constituintes de algum modo diferentes.
(Contudo, lembre-se, conforme o Capítulo 1, que isso era negado
por Wittgenstein: para ele, os objetos eram comuns a todos
os mundos.) Tais formas de reducionismo falham, portanto,
em fornecer uma variedade suficiente para a gama de mundos
possíveis. A outra falha importante com o reducionismo acerca
de mundos possíveis é similar a um problema do reducionismo
acerca de números. Os chamados números de Von Neumann
têm um isomorfismo estrutural com o conjunto de números
naturais – construímos cada número como o conjunto consti-
tuído por todos os seus predecessores. Assim, 0 é considerado o
139
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 139 06/06/14 12:25
conjunto vazio; 1 é o conjunto cujo único membro é o 0; 2 é o
conjunto cujos membros são 0 e 1; e assim por diante. Além de
ser elegante, tratar os números como números de Von Neumann
tem vantagens técnicas, permitindo que algumas provas sejam
obtidas mais facilmente. Mas, do ponto de vista filosófico, esse
tratamento é inaceitável. O que quer que seja o número 2, ele não
é um conjunto com 2 membros, nem é um membro do número
3. Algo análogo ocorre com mundos possíveis. Podemos cons-
truir mundos possíveis a partir de proposições (por exemplo,
identificando um mundo possível com o conjunto de proposições
verdadeiras em tal mundo), de decimais infinitos (uma descrição
de um mundo pode ser codificada como uma expressão infinita
desse tipo) e de inúmeras outras formas. Mas “ser verdadeira
em” (um mundo) não é o mesmo que pertencer a (um conjunto).
Todas essas alternativas se parecem muito mais com jogos mate-
máticos e são pouco convincentes como uma teoria de mundos
possíveis.
Quando pensamos que Edmundo poderia ter sido corajoso,
ou que 9 deve ser maior que 7, quantificamos sobre mundos
possíveis. Há um modo que as coisas poderiam ter sido em
que Edmundo era corajoso. Por outro lado, não importa como
as coisas sejam, 9 será sempre maior que 7. Nossa capacidade
de quantificar sobre propriedades (lembre-se de “Napoleão
tinha todas as qualidades de um grande general” do Capítulo
2) nos mostra que devemos levar a sério o discurso acerca de
propriedades – mas não sem certos cuidados: propriedades são
inerentes aos seus sujeitos e não podem existir sem eles. Objetos
particulares são a substância primária do mundo, ainda que
propriedades sejam também existentes reais, embora abstraídas
dos objetos que elas qualificam. Analogamente, os modos que
as coisas poderiam ser são reais, mas somente quando abstraí-
dos do modo que as coisas realmente são. Elas aparecem e são
distinguidas pela mente por abstração, mas não são dependentes
da mente para existir. É um fato objetivo que Edmundo poderia
ter sido corajoso, e isso consiste na possibilidade real de que ele
140
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 140 06/06/14 12:25
poderia ser corajoso. Mas ele não é corajoso, e não existe um
mundo concreto e independente no qual ele seja corajoso. Ao
considerar essa possibilidade, estamos pensando acerca de uma
possibilidade real, mas abstrata. Mundos diferentes do nosso são
entidades abstratas, tão reais quanto números ou qualidades, nos
quais podemos pensar abstraindo do modo como nosso mundo
é. Mas esses mundos não são concretos, entidades fisicamente
inacessíveis, cujos habitantes “reais” podem pensar acerca de
nós de modo simétrico. Sua realidade é apenas moderada, como
modos que o nosso mundo poderia ter sido.
Somente um realismo moderado pode fazer justiça à intui-
ção de que quando supomos que Edmundo poderia ter sido
corajoso, é do próprio Edmundo que estamos supondo ser
corajoso. Vimos que o platonismo povoa mundos alternativos
com contrapartes; assim como o reducionismo, se este pretende
de algum modo fornecer mundos com domínios. Existem muitas
possibilidades abstratas acerca de Edmundo: que ele é corajoso
ou covarde, um alpinista ou um jogador de squash, um iatista
ou o que quer que seja. Um conjunto dessas possibilidades é
exemplificado na realidade concreta. Em todas elas, o sujeito
que reaparece a cada vez é o próprio Edmundo. Modalidades
de re são inteligíveis – Edmundo tem a propriedade de que
poderia ter sido corajoso, pois existe um mundo, um modo
pelo qual as coisas poderiam ter sido, no qual ele, Edmundo,
é corajoso. O número 9 tem a propriedade de ser (em qualquer
circunstância) maior que 7. Além disso, identificar objetos em
outros mundos não chega a ser um problema. Posto que é o
próprio Edmundo que é corajoso em algum estado de coisas
não atual, ao identificarmos Edmundo no mundo atual, nós o
identificamos em tal estado de coisas. Uma vez que o identifi-
camos no modo pelo qual as coisas são, o mundo atual, nossos
meios linguísticos de nos referirmos a ele não podem falhar ao
descrevê-lo em outro mundo. Kripke chama isso de uma estipu-
lação. O mundo no qual estamos interessados é “estipulado”
como sendo um mundo no qual Edmundo é corajoso. Isso não
141
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 141 06/06/14 12:25
deve ser compreendido erroneamente como sendo uma maneira
mágica de identificar Edmundo por estipulação. Antes, nós
identificamos Edmundo do modo como sempre fazemos e isso
garante que é ele que supostamente é corajoso.
Isso altera a imagem do exemplo anterior, “necessariamente
o número de planetas é maior que 7”. Quando consideramos a
descrição com escopo menor, ela designa diferentes objetos em
diferentes mundos, a saber, o número de planetas em tal mundo,
6, 9, 10, qualquer que seja tal número. Quando consideramos
que a descrição tem escopo maior, ela designa o mesmo objeto
em todos os mundos, independentemente de quantos planetas
existem em tal mundo, a saber, o atual número de planetas, 9.
(Relatos recentes sugerem que existem de fato 10 planetas no
sistema solar, mas até que isso seja solidamente confirmado,
vamos considerar que são de fato 9.) Nomes genuínos têm sempre
escopo maior – eles designam um objeto, e as propriedades
modais são diretamente atribuídas a esse objeto. Não conjec-
turamos “qual objeto é 9 em um outro mundo?”, ao passo que
precisamos perguntar “qual objeto é o número de planetas?”
Kripke chama nomes genuínos de “designadores rígidos”. Tais
nomes são rígidos porque designam o mesmo objeto em todos
os mundos, pelo menos nos mundos em que designam algo. (Por
exemplo, “Edmundo” sempre designa Edmundo, exceto nas
situações em que ele supostamente não existe.)
Um esclarecimento será oportuno aqui. Quando dizemos que
um designador pode designar diferentes objetos em diferentes
mundos, não estamos pensando em diferentes usos da lingua-
gem em mundos diferentes. Nesse sentido, qualquer expressão,
“Edmundo”, por exemplo, poderia ter sido usada para designar
objetos diferentes dos quais ela atualmente designa. Não estamos
nos referindo a usos de outros usuários possíveis da linguagem,
mas sim ao nosso próprio uso da linguagem. Nosso uso da lingua-
gem é tal que nomes genuínos designam um item no mundo atual
e mantêm essa referência em qualquer contexto modal. Em geral,
descrições não fazem isso. Elas podem ser tomadas como nomes
142
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 142 06/06/14 12:25
genuínos, se as considerarmos com escopo maior. E algumas
descrições designam rigidamente independentemente de como
são construídas, como é o caso, por exemplo, de “o quadrado
de 3”. O conceito de designador rígido cobre essas três ideias:
referência constante de direito, no caso de nomes genuínos;
referência constante de fato, no caso de considerar descrições
com escopo maior; e novamente referência constante de fato, no
que poderia ser chamado o caso das essências, em que a descri-
ção utilizada para designar um objeto conota uma propriedade
essencial de tal objeto, uma propriedade que ele possui em todos
os mundos – assim como “o quadrado de 3” se refere a 9 em
virtude de sua relação com 3, uma relação necessária.
Vimos que nomes genuínos – e na verdade isso vale para
designadores rígidos em geral – podem criar verdades modais
de re. Um exemplo notório é o da identidade. Considere dois
designadores rígidos do mesmo objeto, por exemplo, “Cícero”
e “Túlio”. “Cícero é Cícero” é necessariamente verdadeira. Mas
“necessariamente, Cícero é Túlio” é verdadeira também, pois
“Cícero” e “Túlio” designam o mesmo objeto – por hipótese
são designadores rígidos, portanto designam o mesmo objeto
em todos os mundos possíveis (nos quais eles designam algo).
Portanto, os dois nomes designam o mesmo objeto em todos os
mundos. A verdade simples “Túlio é Cícero” se torna a verdade
modal de re “necessariamente, Cícero é Túlio”.
O necessário e o a priori
Isso pode parecer surpreendente, pois nem todos sabem que
Cícero era Túlio. Não se trata de uma verdade óbvia, mas sim de
uma verdade que precisa ser descoberta. Mas isso não significa
então que é uma verdade contingente? Não. Isso apenas mostra
que é uma verdade empírica, ou a posteriori (essas palavras
são equivalentes). “Necessário” significa “verdadeiro em todos
os mundos”; “contingente” significa “verdadeiro em algum,
mas não em todos os mundos” (logo, “contingente” significa
143
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 143 06/06/14 12:25
“possível, mas não necessário”). “A priori” significa “capaz
de ser conhecido como verdadeiro sem investigação empírica”;
“empírico” (ou “a posteriori”) significa “pode ser descoberto
somente por meio da experiência”. Verdades a priori não são
sempre autoevidentes. O teorema das quatro cores é um bom
exemplo. Considere o problema, enfrentado pelo cartógrafo, de
desenhar um mapa em uma folha de papel. Cada área (que repre-
senta, digamos, um país, um estado, um município, um bairro)
precisa ser colorida com uma cor diferente das áreas vizinhas.
Cada região dada pode fazer fronteira com um número indefi-
nido de outras regiões. Entretanto, os cartógrafos descobriram,
por meio da experiência, com bastante engenhosidade, que eles
nunca precisavam de mais de quatro cores. Quatro cores basta-
vam para colorir qualquer mapa que eles pudessem conceber, de
tal modo que duas regiões adjacentes nunca tivessem a mesma
cor. Mas até então isso era apenas uma descoberta empírica,
a posteriori, baseada em um passo indutivo que, a partir de
mapas particulares (uma quantidade muito grande de mapas
particulares, sem exceções), formulou uma hipótese acerca de
todos os mapas. Se eles sabiam que nenhum mapa precisa de
mais de quatro cores – e eu concordaria de bom grado que eles
sabiam disso –, tal conhecimento era empírico. Não obstante,
isso pode ser provado. A prova foi obtida somente no início dos
anos de 1980. A prova é a priori; ela não depende de investiga-
ção empírica alguma, mas analisa várias possíveis configurações
de mapas em (um número muito grande de) diferentes tipos e
mostra como cada tipo requer no máximo quatro cores. A prova
mostrou que o teorema das quatro cores é um conhecimento a
priori que é capaz de ser obtido independentemente de inves-
tigação empírica e, dessa forma, mostrou também que o juízo,
baseado na experiência, formado pelos cartógrafos, era de fato
conhecimento. O conhecimento dos cartógrafos era empírico,
mas o teorema, a verdade propriamente dita e o conhecimento
dela são a priori.
144
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 144 06/06/14 12:25
Dois outros termos técnicos intimamente relacionados são
“analítico” e “sintético”. Uma verdade analítica é verdadeira
somente em virtude do seu significado; uma verdade sintética é
aquela que não é analítica. Assim, “necessário” e “contingente”,
“a priori” e “empírico” e “analítico” e “sintético” constituem
pares de opostos, exclusivos e exaustivos. Primariamente eles
qualificam verdades, mas podem também distinguir entre as
falsidades que são necessariamente falsas e contingentemente
falsas (falsas, mas possivelmente verdadeiras), o falso a priori e
o falso empírico, o analiticamente falso (implicitamente contra-
ditório, falso em virtude do significado) e o sinteticamente falso.
As caracterizações dos termos “analítico” e “sintético” talvez
tenham passado por mais modificações do que a dos outros pares.
Mas o que é importante estar ciente é que os termos “necessário”,
“a priori” e “analítico” têm caracterizações bastante diferentes,
apesar de muitos filósofos terem acreditado que esses termos
seriam coextensionais. Essa crença, de fato, levou a um uso algo
arrogante e impreciso desses termos. Mas, se eles fossem coex-
tensionais (e nesse caso não haveria erro algum em permutá-los,
salvo produzir uma confusão que nenhum filósofo gostaria de
ser acusado), essa afirmação precisaria ser defendida por um
argumento, pois essa é uma tese metafísica forte.
Havia razões para se adotar a tese segundo a qual necessidade,
aprioricidade e analiticidade são coextensionais – na sua maior
parte razões empiristas e reducionistas. Até aqui, nas nossas
reflexões sobre mundos possíveis, nossa tendência foi ignorar
considerações epistemológicas. Elas são particularmente proble-
máticas no caso do platonismo modal. “Necessário” foi identi-
ficado com “verdadeiro em todos os mundos possíveis”. Como,
então, vamos estabelecer que algo é necessariamente verdadeiro?
O modelo sugere que inspecionemos cada mundo. Mas isso é
impossível, por duas razões. Em primeiro lugar, existem muitos,
infinitamente muitos mundos possíveis. Em segundo lugar, eles
são inacessíveis. De acordo com o platonismo, cada mundo é
uma realidade concreta, espaço-temporalmente disjunta de cada
145
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 145 06/06/14 12:25
uma das outras. Escritores de ficção científica como Asimov
podem postular uma comunicação entre eles, mas isso é uma
fantasia. Existem conexões lógicas, mas conexões efetivas são
necessariamente internas a um determinado mundo. O discurso
acerca de mundos possíveis, longe de ajudar-nos a estabelecer
necessidades e possibilidades, ameaça torná-las impossíveis de
serem descobertas. Se não vamos rejeitar necessidade como
uma noção obscura, parece que o único modo de salvá-la é
identificando-a com o a priori.
A noção de a priori, por sua vez, também foi atacada.
Filósofos racionalistas como Kant afirmaram que algumas verda-
des, apesar de verdadeiras a priori, eram, todavia, sintéticas. Sua
verdade não era uma questão trivial de significado, mas um fato
metafísico substancial. O empirista poderia não aceitar isso:
concordando que as verdades analíticas sejam essencialmente
triviais, sua posição é a de que todas as verdades substanciais são
empíricas. Ele nega a possibilidade de uma metafísica substancial
(verdade real é verdade científica) e identifica o a priori com o
analítico. Claramente, se algo é uma questão de significado, pode
ser elaborado independentemente da experiência; o empirista
insiste que o que pode ser descoberto independentemente da
experiência deve resultar dos significados das palavras.
A verdade necessária de identidades empiricamente descober-
tas bloqueia o primeiro passo dessa redução do necessário ao
analítico. Que Cícero era Túlio foi uma descoberta empírica; tal
identidade, porém, é necessária. Dois designadores rígidos do
mesmo objeto devem, em virtude da rigidez, designar o mesmo
objeto em todos os mundos possíveis. Logo, trata-se de uma
identidade necessária. Isso é uma consequência imediata da noção
de designação rígida. A parte substancial da tese de Kripke é
provar que um termo particular é rígido. Esse é o tema principal
de Kripke, que os nomes próprios da linguagem natural não têm
sentido e não podem ser substituídos por frases descritivas, pois
estas se comportam de maneira diferente em contextos modais.
Nomes próprios, segundo Kripke, são designadores rígidos.
146
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 146 06/06/14 12:25
Parte da dificuldade com essa afirmação é a falta de clareza
nas duas visões opostas sobre os nomes, uma historicamente
associada a John Stuart Mill – a de que nomes são puramente
denotativos, não possuindo conotação – e a outra associada a
Gottlob Frege – a de que nomes possuem sentido. Kripke, embora
insista que nomes não têm um sentido dado por uma descrição,
aceita que a referência de um nome possa ser “fixada” por uma
descrição; aqueles que defendem Frege negam que o sentido que
cada nome possui possa sempre ser dado por uma descrição e
podem até mesmo conceder que nomes em sua função conotativa
(sejam descritivos ou de reconhecimento) sempre recebem, por
convenção, escopo maior. Nesse ponto, as teorias se tornaram
equivalentes. O metafísico do século 19, F. H. Bradley, assinalou
que, a menos que um nome fosse associado a um meio de reiden-
tificar seu referente, não poderíamos usá-lo. Mas se admitirmos
(como admite a convenção de “maior escopo”) que esse método
de reidentificação não se aplica a possibilidades, mas apenas ao
mundo atual, a teoria do “sentido” se modifica e se torna uma
teoria denotativa. Pois o argumento de Kripke para sustentar que
nomes não possuem sentido era o de que proposições simples
(isto é, não modais) que contenham tais nomes poderiam ter tido
valores de verdade diferentes. Kripke nega que isso seja o mesmo
que considerar seu comportamento em contextos modais. Mas
como nós decidimos se “Cícero denunciou Catilina” poderia ter
sido falsa? Parece que a questão se reduz a perguntar se Cícero
poderia não ter denunciado Catilina, e isso é perguntar pelo
comportamento de “Cícero” em contextos modais como “pode-
ria não ter…”. De acordo com o argumento de Kripke, segundo
o qual nomes não possuem sentido, qualquer que seja o sentido
F que um nome a supostamente possui, “a poderia não ser F”
é verdadeira; por exemplo, Cícero poderia não ter denunciado
Catilina, ou não ter escrito De Lege Manilia, ou qualquer outra
coisa acerca de Cícero que possamos usar para fixar a referência
de “Cícero”. Dessa forma, sentidos servem apenas para designar
alguma coisa em virtude de como tal coisa atualmente é, mas não
147
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 147 06/06/14 12:25
fornecem uma expressão com o mesmo significado – exceto sob a
convenção do escopo maior. Nomes próprios têm suas referências
fixadas no mundo atual por descrições (ou por outros meios de
reconhecimento) em virtude de como as coisas são, mas mantêm
suas referências rigidamente em contextos modais.
Se qualquer enunciado verdadeiro de identidade como
“Cícero era Túlio”, é necessariamente verdadeiro, o que fazer
com o enunciado “Cícero poderia não ter sido Túlio”. Ele tem
de ser necessariamente falso, assim como “Cícero poderia não ter
sido Cícero”. Nossa inclinação para supor que tal enunciado seja
verdadeiro reflete uma possibilidade epistêmica, não uma possi-
bilidade metafísica. Posto que a verdade de “Cícero era Túlio” é
a posteriori, não reconhecemos imediatamente sua verdade. Mas
a nossa dúvida, “Cícero era Túlio?”, reflete ignorância, não uma
possibilidade contingente. Se Cícero é Túlio, isso é uma verdade
necessária; se Cícero não é Túlio, isso também é uma verdade
necessária. Anastasia alegava ser a última dos Romanovs. Se
fosse realmente possível Anastasia ser a filha mais nova do czar
da Rússia, que teria sobrevivido à Revolução, então haveria um
mundo possível no qual ela era de fato a filha sobrevivente. Mas
então ela seria necessariamente a filha sobrevivente e, portanto,
o era no mundo atual também. Assim, se ela não era realmente a
filha sobrevivente, não era nem mesmo possível que ela o fosse. A
“possibilidade” que nós concebemos é epistêmica – simplesmente
não sabemos se ela era ou não a filha sobrevivente.
Outras propriedades essenciais também produzem necessi-
dades a posteriori. Kripke e outros, por exemplo, acreditam na
doutrina da necessidade de origem – Margaret Thatcher não
poderia ter sido filha de Stalin, pois ela era filha do Sr. Roberts,
o dono de armazém de Grantham. De fato, poderíamos descobrir
uma conspiração e constatar que a primeira-ministra britânica
era uma espiã da KGB e fazia parte de um plano a longo prazo
para destruir a economia britânica. Mas isso, insiste Kripke, é
uma possibilidade epistêmica; não existe a possibilidade metafí-
sica de que a pessoa que realmente nasceu em Grantham poderia
148
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 148 06/06/14 12:25
ter sido filha de Stalin. Se a é um designador rígido e F é uma
propriedade essencial que o objeto atualmente denotado por a de
fato possui, então a possui a propriedade F em todos os mundos
possíveis. Sendo rígido, a denota o mesmo objeto em todos os
mundos; e sendo F uma propriedade essencial, todo objeto que
possui a propriedade F em qualquer mundo a possui em todos
os mundos. Assim, não existe um mundo possível no qual a não
é F, e não poderia acontecer de a não ser F.
Kripke não apenas rejeita a tese de que todas as verdades
necessárias sejam a priori, mas também rejeita a tese de que todas
as verdades a priori sejam necessárias. Seu exemplo básico é o
da barra do metro padrão em Paris. Pelo menos uma vez, um
metro foi definido por referência a essa barra, que foi mantida
em determinada temperatura e pressão. Assim, poderíamos
saber a priori que tal barra tem comprimento de um metro. Não
obstante, ela poderia ter sido maior ou menor do que ela é, pois
existem mundos em que ela tem um comprimento diferente de
um metro. Nesses outros mundos possíveis, o comprimento da
barra teria definido a medida de um metro diferentemente do
mundo atual, mas isso é irrelevante, do mesmo modo que vimos
que é irrelevante que a palavra “Edmundo” pudesse ter sido
usada para denotar outra pessoa. O que é relevante é o nosso
uso da palavra “metro” e que tal uso seja determinado pelo
comprimento atual da barra. Os diferentes comprimentos que
ela poderia ter estão retratados nos diferentes comprimentos que
a barra possui em outros mundos possíveis. Logo, contingência
e aprioricidade são conceitos distintos. “A barra padrão de um
metro tem comprimento de um metro” é uma verdade apenas
contingente, embora possa ser conhecida a priori.
Esse divórcio radical entre o necessário e o a priori tem
consequências surpreendentes. Uma delas é a de que toda
proposição é a priori equivalente a uma proposição contingente.
Considere qualquer proposição A. Se A é contingente, o resul-
tado é imediato, pois A é a priori equivalente a si mesma. Se A é
necessariamente verdadeira ou necessariamente falsa, considere
149
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 149 06/06/14 12:25
a proposição “A tem o mesmo valor de verdade que ‘A barra
padrão de um metro tem comprimento de um metro’.” Se A é
necessariamente verdadeira, essa proposição é verdadeira, mas
contingentemente verdadeira, e é a priori equivalente a A (pois
tudo o que ela realmente diz é que “‘A’ é verdadeira”); se A é
necessariamente falsa, essa proposição é falsa, mas contingente-
mente falsa, e novamente ela é a priori equivalente a A. Assim,
qualquer proposição é a priori equivalente a uma proposição
contingente.
Uma dose de engenhosidade pode estender esse resultado de
modo a estabelecer que toda proposição é a priori equivalente a
uma proposição que é necessariamente verdadeira ou necessaria-
mente falsa (dependendo da proposição original ser verdadeira
ou falsa). Vamos chamar uma tal proposição, que é, ou necessa-
riamente verdadeira ou necessariamente falsa, de necessitativa.
A engenhosidade de que precisamos aqui é a construção de um
designador rígido apropriado. O que precisamos é, para toda
proposição, uma expressão que designe rigidamente o valor de
verdade dessa proposição. A frase “o valor de verdade de A” não
irá funcionar, pois ela irá designar, para cada mundo, o valor
de verdade de A nesse mundo; logo, não será um designador
rígido. Mas “o atual valor de verdade de A” resolve o problema;
qualquer que seja o mundo que considerarmos, essa proposição
designa o valor de verdade de A no mundo atual. Portanto, “o
atual valor de verdade de A” é um designador rígido. (Isso é
um caso de rigidez por essência, o terceiro dos três tipos que
mencionamos, do mesmo modo que “o quadrado de 3”.) A ou
é verdadeira ou é falsa, portanto, “o atual valor de verdade de
A” designa ou o verdadeiro ou o falso. Considere a proposição
“o atual valor de verdade de A é o verdadeiro”. Vamos chamar
essa proposição de act(A). Se A é verdadeira, então act(A) (uma
identidade verdadeira entre designadores rígidos) é necessaria-
mente verdadeira; se falsa, é necessariamente falsa. Portanto,
act(A) é uma necessitativa. Além disso, podemos dizer a priori
150
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 150 06/06/14 12:25
que A é equivalente a act(A), que essencialmente diz que A é
verdadeira no mundo atual. Portanto, A é a priori equivalente
a uma necessitativa.
Similarmente, podemos mostrar que A é necessariamente
equivalente a uma proposição a posteriori, e que isso é neces-
sariamente equivalente a uma proposição a priori. No primeiro
caso, escolha A se A é a posteriori, e escolha “A é equivalente
a act(A)” se A é a priori. No segundo caso, escolha “A é equi-
valente a act(A)” se A é verdadeira e “A não é equivalente a
act(A)” se A é falsa.
Mas o que esses jogos mostram? Eles enfatizam a diferença
entre o necessário e o a priori. Isso também nos leva de volta
ao Capítulo 1. Lá, a ideia era a de que a equivalência entre A e
“A é verdadeira” mostrava que verdade não é uma propriedade
substancial de proposições (por exemplo, que consiste em uma
relação com fatos), mas sim um dispositivo que nos torna capazes
de nos referir a outras afirmações e endossá-las. A equivalência
entre A e “A é verdadeira” é simultaneamente necessária e a
priori. Considere um exemplo: suponha que A seja a proposição
“alguém matou Kennedy”. Já vimos que a verdade de “alguém
matou Kennedy” em um determinado mundo depende de alguém
ter de fato matado Kennedy em tais circunstâncias, e não depende
do que poderia ser o significado de “matado” e “Kennedy” em
tais circunstâncias. Poderíamos pensar que “‘alguém matou
Kennedy’ é verdadeira” seria um caso diferente, pois aqui
aparentemente estamos nos referindo à sentença “alguém matou
Kennedy”. Precisamos distinguir uso e menção. Em “Fred tem 7
letras” estamos usando o nome Fred e nos referindo ao indivíduo
Fred – talvez ele esteja jogando palavras cruzadas de tabuleiro e
tenha 7 letras na mão; em “‘Fred’ tem 4 letras” estamos mencio-
nando o nome “Fred”, isto é, estamos nos referindo ao nome.
As aspas em “Fred” servem para nos lembrar que não estamos
usando, mas sim mencionando, o nome. Se estivéssemos mencio-
nando a sentença “alguém matou Kennedy” quando dizemos
151
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 151 06/06/14 12:25
“‘alguém matou Kennedy’ é verdadeira”, então a verdade dessa
proposição dependeria do significado de “matou”, “Kennedy”
etc., e poderia variar independentemente da verdade de “alguém
matou Kennedy”. Mas já argumentamos no Capítulo 1 que não
devemos considerar que sentenças são portadores de verdade,
caso contrário “A é verdadeira” seria diferente de “é verdade
que A”; “‘alguém matou Kennedy’ é verdadeira” iria atribuir
verdade a uma sentença, diferentemente de “é verdade que
alguém matou Kennedy”. Decidimos construir “A é verdadeira”
predicando a verdade da proposição expressa por A, e isso
significa a proposição atualmente expressa por A. Portanto, A
e “A é verdadeira” se mantêm lado a lado, enquanto passamos
de um mundo a outro, avaliando ambas em cada mundo, mas
preservando os significados que possuem no mundo atual. Em
contraste, A e “A é atualmente verdadeira” não se mantêm lado
a lado. “Alguém matou Kennedy” adquire diferentes valores,
dependendo de Kennedy, em outras circunstâncias, ter sido
assassinado, o que não acontece com “‘alguém matou Kennedy’
é atualmente verdadeira”. Se Kennedy tivesse morrido em paz
na sua cama (em algum mundo diferente do atual), “alguém
matou Kennedy” seria falsa (nesse mundo); mas mesmo nesse
caso, “‘alguém matou Kennedy’ é atualmente verdadeira” seria
ainda verdadeira – isto é, “alguém matou Kennedy” no mundo
atual seria verdadeira, pois Kennedy foi assassinado. Lembre-se
que é o significado do nosso proferimento que está em questão.
A barra de metro padrão poderia não ter um metro de compri-
mento, mas podemos dizer, a priori, que ela deve ter um metro
de comprimento. O necessário e o a priori não são coextensivos.
Resumo e sugestões para leituras
O platonismo modal vê o nosso mundo, em sua totalidade,
como apenas uma entre uma imensa variedade de possibilidades
alternativas reais e existentes. Cada mundo é uma realidade
152
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 152 06/06/14 12:25
concreta, de indivíduos com suas propriedades e relações,
completo e plenamente determinado. Atualidade nada mais é
do que a imediatez do mundo do falante; cada mundo é atual
em relação a si mesmo. Nosso mundo é atual apenas na medida
em que é o nosso mundo. O principal defensor dessa visão é
David Lewis, em seu livro Counterfactuals, capítulo 4, e mais
recentemente, e de modo mais pleno, em On the Plurality of
Worlds. Neste último, Lewis comenta que suas exposições
anteriores dessa concepção receberam olhares incrédulos, mas
poucas objeções cogentes. Entre os dois livros, uma profusão de
objeções apareceu.
Os problemas que diagnosticamos no platonismo modal
eram todos consequência de os mundos todos serem tratados
da mesma forma. Se cada um deles constitui uma realidade
concreta, então nenhum objeto pode estar presente em mais de
um mundo – objetos podem ter contrapartes, doppelgängern em
outros mundos, mas não podem ser idênticos a eles. O problema
então é encontrar e identificar suas contrapartes. O recurso a
ecceidades, isto é, essências individuais, é difícil de ser levado
a sério e sugere algum tipo de mágica. O uso de semelhanças
ameaça limitar as alternativas de um modo não natural. O ponto
crucial é que estamos interessados em como seria Edmundo se
ele fosse completamente diferente, e não em alguma contraparte
dele. Lewis apresenta sua teoria das contrapartes no artigo
“Counterpart Theory and Quantified Modal Logic”, reimpresso
na coletânea de Michael Loux, The Possible and the Actual.
Tratar cada mundo como uma realidade autossubsistente
também vai de encontro à nossa crença de que nosso mundo é
único. Nosso mundo é atual, os outros são meramente possíveis.
Sugerir que, para as contrapartes de Edmundo, seus mundos são
atuais e nós somos apenas uma vaga possibilidade contradiz
nossa ideia do que é real. Além disso, sugerir que a reflexão acerca
de possibilidades exige algo como um tipo especial de telescópio,
através do qual outros mundos possíveis seriam observados,
153
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 153 06/06/14 12:25
coloca problemas epistemológicos gratuitos e desnecessários
porque tais métodos são impossíveis. Possibilidades tornam-se
subitamente indetectáveis.
Há ainda outro problema para um realismo extremo: há
muitas lógicas modais. Dentre elas, várias têm interesse apenas
formal e não correspondem a qualquer concepção modal real.
Mas pode-se argumentar que mais de uma lógica modal arti-
cula estruturas modais válidas. Por trás de nossa discussão está
uma equiparação entre “necessário” e “verdadeiro em todos
os mundos possíveis”. Essa concepção é conhecida como o
sistema modal S5, que corresponde ao mais forte dos cinco
sistemas modais de C. I. Lewis (ver, por exemplo, G. Hughes e
M. Cresswell, An Introduction to Modal Logic). Frequentemente
considera-se que S5 fornece uma análise adequada da possibili-
dade e necessidade metafísicas. Pelo menos dois outros sistemas
são também de interesse. S4, outro sistema de Lewis, desenvolve
um sentido de “necessidade” como “demonstrabilidade” em um
sentido razoavelmente informal. Um sistema ligeiramente dife-
rente, G, desenvolvido mais recentemente, é útil para a análise do
conceito formal de demonstrabilidade encontrado nos trabalhos
de Gödel sobre a aritmética (onde demonstrabilidade não garante
verdade). Há outros sistemas que desenvolvem os conceitos de
obrigações, de permissões e proibições (lógica deôntica) e de
conhecimento e crença (lógica epistêmica). O que o platonista
modal diria de todos esses sistemas? Existe uma gama completa
de realidades concretas que corresponde a cada um deles? Ou
apenas a alguns? E se esse for o caso, quais?
O platonista sustenta sua posição porque acredita que essa é
a única maneira de assegurar a objetividade dos juízos modais.
As alternativas ao platonismo têm como objetivo mostrar que
ou a objetividade é um mito ou que pode ser obtida a um custo
menor. Uma coletânea útil de artigos sobre esse tema já foi
mencionada – The Possible and the Actual, de Loux. Programas
reducionistas são aqueles apresentados por Cresswel, Adams,
154
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 154 06/06/14 12:25
Mondadori e Morton. Soluções realistas moderadas, como a
minha, são encontradas em Stalnaker e Plantinga. Mundos possí-
veis são modos que o mundo poderia ter sido – reais, mas sem
constituir realidades concretas. Eles são possibilidades abstratas,
resultado de abstrações, mas são objetivos e independentes da
mente. É certo que é preciso ir além do que fiz aqui na elaboração
e defesa dessa concepção, mas ainda assim acredito que esse seja
o mais promissor tratamento do problema.
A reflexão filosófica sobre mundos possíveis e lógica modal
nos últimos 25 anos foi profundamente influenciada pelo traba-
lho formal de Kripke, no qual a noção de mundos possíveis foi
claramente elaborada, de modo a fornecer um semântica formal
satisfatória para a lógica modal. Até então, predominava o ceti-
cismo acerca do discurso modal, liderado por W. V. O. Quine.
Seu mais famoso ataque às noções modais pode ser encontrado
em “Three Grades of Modal Involvement”, reimpresso em Ways
of Paradox and Other Essays. A lógica modal aceitável seria de
dicto (o segundo grau, que poderia ser reduzido ao primeiro),
e poderia ser expressa pela lógica de predicados não modal
(o paradigma clássico). A réplica a Quine foi feita por Ruth
Barcan Marcus. Uma retrospectiva recente pode ser encontrada
no seu artigo “A Backwards Look at Quine’s Animadversions
on Modalities”, no livro Perspectives on Quine, editado por R.
Bartrett e R. Gibson. Um tratamento claro de como o cuidado
com distinções de escopo na teoria das descrições de Russell
evita os problemas causados por substituições ilícitas é dado
por A. F. Smullyan em “Modality and Description”, reimpresso
na coletânea ainda útil de L. Linsky, Reference and Modality.
O artigo de Kripke “Semantical considerations on modal
logic I”, também reimpresso em Reference and Modality, teve
um grande impacto na discussão sobre noções modais. Primeiro
entre os lógicos que começaram a apreciar uma ferramenta
efetiva para a análise lógica que era fornecida pela lógica
modal (por exemplo, nas análises das condicionais de Lewis e
155
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 155 06/06/14 12:25
Stalnaker). Logo em seguida, no livro Naming and Necessity,
composto por palestras proferidas em 1970 e publicadas em
1972, Kripke mostrou a eficácia das noções modais. Ele também
argumenta fortemente em defesa do realismo moderado acerca
de mundos possíveis, tanto nas palestras originais quanto na
introdução acrescentada na edição de 1980. Foi nessa obra
que Kripke apresentou com clareza os exemplos que separam
as noções modais de necessidade, possibilidade e contingência
das noções epistêmicas a priori e a posteriori. Essa distinção é
também enfatizada, mas sem exemplos, no artigo “‘Necessary’,
‘A Priori’ and ‘Analytic’”, de Aaron Sloman. A ideia de que toda
proposição tem equivalentes a priori, tanto contingentes quanto
necessários, foi feita por Leslie Tharp em meados dos anos de
1970, mas foi publicada somente após a sua morte, em “Three
Theorems of Metaphysics”.
Nota
1
Isaac Asimov, Os próprios deuses, São Paulo, Editora Aleph, 2010. [N.T.]
156
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 156 06/06/14 12:25
5
A barba de Platão
Sobre o que há e o que não há
Como a linguagem é possível? Como é possível, a partir
da aprendizagem de um vocabulário básico e finito de uma
linguagem, formar um número ilimitado de novos enunciados,
novas proposições que expressam pensamentos que nunca foram
formulados antes? Pois isso é possível. Apesar do vocabulário
de uma linguagem ser muito grande, como revela uma olhada
no dicionário, ele é pequeno quando comparado com o número
imenso de sentenças que compõem os livros das bibliotecas
espalhadas pelo mundo. Dessas sentenças, poucas são idênticas.
Dentre as sentenças que lemos, poucas são as que vimos antes.
Como é possível que o leitor compreenda essas sentenças? Como
é possível que o autor as conceba e as formule?
A resposta é óbvia, mas suas implicações são poderosas.
Podemos aprender uma linguagem porque seu vocabulário e
suas regras gramaticais são relativamente pequenas – ambas
podem ser reunidas em um pequeno número de volumes. Um
dicionário de alguns volumes como o Oxford English Dictionary
contém muito mais do que o vocabulário da maior parte dos
falantes do inglês. E mesmo esse dicionário consiste de 10 ou
12 volumes, o que é uma pequena parte da biblioteca onde ele
está. A partir desse vocabulário, as regras gramaticais permitem
a criação de um número infinitamente grande de sentenças.
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 157 06/06/14 12:25
Para que possamos entender tais sentenças, os significados das
palavras individuais são combinados de acordo com a estrutura
estabelecida pela gramática. Em outras palavras, da mesma forma
que uma sentença é literalmente composta pelas palavras que
ela contém, o significado de uma sentença, a proposição, é de
alguma maneira “composto” pelos significados das palavras que
nela estão. A ideia inicial é óbvia: entendemos novas sentenças
porque entendemos como seus significados resultam dos signifi-
cados das palavras que as constituem. As implicações disso não
são óbvias, e o que isso diz não é tão claro: os significados das
palavras se combinam de algum modo para compor o significado
da sentença completa, a proposição por ela expressa.
O princípio em questão aqui é por vezes chamado de “princí-
pio da composicionalidade”, por outras de “princípio de Frege”,
o grande filósofo alemão da matemática e da linguagem do final
do século 19. Os dois termos cobrem aplicações bastante diferen-
tes da ideia. Mas a motivação subjacente é a mesma. De algum
modo precisamos explicar a “criatividade” da linguagem, o modo
pelo qual uma criança, ao ouvir um número finito e pequeno de
enunciados, desenvolve a habilidade de produzir e compreender
um número ilimitado de proposições que não estão entre os dados
a partir dos quais tal habilidade foi desenvolvida. A explicação
de como essa lacuna é preenchida é a mais simples e plausível,
e está de acordo com a introspecção, a experiência pessoal do
falante de uma linguagem ao participar de uma conversa – um
conjunto de enunciados seus e de outros falantes. Os dados
iniciais e os novos enunciados produzidos são analisados em
componentes significativos, e é postulada uma conexão entre o
todo e as partes. Mas, o que é essa conexão?
Aqueles que chamam essa ideia de princípio de “composi-
cionalidade” estarão inclinados a interpretar essa conexão de
modo bastante literal. No Capítulo 1 mencionei como Russell
considerou que as proposições – significados das sentenças e
objetos de crença – teriam como constituintes particulares e
158
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 158 06/06/14 12:25
universais. Assim, por exemplo, a proposição de que Sócrates
é sábio teria, literalmente, Sócrates e a sabedoria como consti-
tuintes. Para Russell, o significado de “Sócrates” era o próprio
filósofo Sócrates, em pessoa; e o significado de “é sábio” era o
universal ou a propriedade sabedoria. Portanto, o significado
da sentença “Sócrates é sábio” seria composto por Sócrates e a
sabedoria, do mesmo modo que a sentença é composta por sujeito
e predicado. Uma visão mais sofisticada, diferentemente, aponta
para uma dependência funcional do significado da expressão
complexa em relação aos significados das suas partes. Considere
uma analogia: 4 é o resultado do quadrado de 2, 4 = 22, mas
4 não contém literalmente o número 2 como um constituinte,
tampouco contém a função elevar ao quadrado. Antes, 4 é o
resultado de aplicar ao número 2 a função que eleva um número
ao quadrado. Assim, para filósofos como Frege, é desse modo
que se estabelece a conexão entre o significado de uma sentença
e os significados das suas partes. O quadro é mais complicado
porque Frege distinguia diferentes componentes no significado
de uma expressão. Mas o princípio é preservado: o significado
de uma expressão complexa, uma sentença, por exemplo, resulta
dos significados das suas partes e pode ser calculado a partir
deles. Assim, a compreensão das partes e do modo pelo qual o
todo depende das partes explica a compreensão do todo.
A razão pela qual essas reflexões foram feitas é fornecer
um contexto para um quebra-cabeças determinado. Considere
as proposições: “o Rei Lear não existiu”, “não existe o maior
número primo”, “a imagem que você vê não é real”. Tais propo-
sições são denominadas “existenciais negativos”, e muitas delas
parecem ser verdadeiras. Mas, como explicar isso? Para compre-
ender essas proposições, seus significados devem ser compostos
pelos ou depender dos significados das suas partes. Mas, se
elas forem verdadeiras, ainda assim não há objeto real algum
que corresponda às expressões “o Rei Lear”, “o maior número
primo”, “a imagem que você vê”. Portanto, essas expressões não
159
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 159 06/06/14 12:25
deveriam ter significado, pois são termos vazios. Mas então a
composicionalidade implica que o todo também não terá signi-
ficado. Parece que proposições do tipo “x não existe”, “x não é
real” devem ser falsas, ou sem significado. Ou x existe, e nesse
caso elas são falsas em negar a existência de x, ou x não existe,
e nesse caso x não tem significado e expressões que contêm x
também não têm significado.
Willard van Orman Quine chamou “barba de Platão” a uma
solução desse problema. Platão herdou essa solução do grande
pensador do século 5 a.C., Parmênides. No caminho da verdade
de seu poema “Sobre a natureza”, Parmênides escreveu: “não
se pode dizer ou pensar o que não é.” O que é, é, e o que não é,
não é, e o não ser não pode nem mesmo ser pensado. A reação de
Platão pode ser encontrada em diversos trechos dos seus escritos,
mas particularmente em seu diálogo Parmenides. O que não é
deve ser em algum sentido, pois lhe atribuímos algumas carac-
terísticas. Segundo Quine, “o não ser deve, em algum sentido,
ser, caso contrário, o que é isso que não é?”
Descrições
Quine e, antes dele, Russell recuaram um pouco ante a libe-
ralidade dessa sugestão. Um sentimento de realidade mais sólido
deve rejeitar a ideia segundo a qual qualquer coisa acerca da qual
podemos falar, ou mesmo pensar, deve em algum sentido ser. O
que não existe de fato não existe, e são falaciosos os argumen-
tos que pretendem mostrar que tais coisas existem. Mas, como
podemos diagnosticar essa falácia?
O diagnóstico de Russell o levou a formular sua teoria das
descrições que, como mencionei no Capítulo 4, forneceu um
estímulo essencial para todo o movimento da filosofia analítica
no século 20. Vamos passar em revista o problema. O signifi-
cado de sentenças significativas depende dos significados das
suas partes; mas, se x não existe, expressões que aparentemente
se referem a x não podem ter significado, e assim nada de
160
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 160 06/06/14 12:25
significativo pode ser dito acerca de x, nem mesmo que x não
existe. A resposta de Russell foi distinguir a forma lógica da
forma gramatical. Do ponto de vista gramatical, “o Rei Lear
não existiu” tem estrutura sujeito-predicado, e predica a não
existência do sujeito, Rei Lear. De modo análogo, “Rei Lear
tinha três filhas” é uma proposição sujeito-predicado, e predica
ter três filhas ao Rei Lear. Nenhuma dessas proposições poderia
ter significado se suas formas lógicas fossem iguais às formas
gramaticais. Posto que elas claramente têm significado, do ponto
de vista lógico elas devem ser analisadas de modo diferente do
que é indicado pela análise gramatical. Russell iniciou todo um
movimento na filosofia ao fornecer uma tal análise das descri-
ções. Ele e outros filósofos levaram adiante métodos analíticos
desse tipo, e tentaram aplicá-los a outros problemas filosóficos.
Considere uma frase descritiva, uma descrição definida como
“o pai de Goneril e Regan”, ou uma indefinida, como “a monta-
nha de ouro sólido”. Nenhum desses objetos existe; logo, tais
expressões não podem adquirir seus significados por denotarem
algo, e, assim, tampouco podem contribuir para o significado das
proposições das quais fazem parte. Apesar disso, essas expressões
podem ser partes de proposições com significado. A solução de
Russell foi propor uma análise lógica das proposições em que tais
frases fossem componentes gramaticais. Por exemplo, considere
a segunda descrição em uma proposição como “a montanha de
ouro sólido não existe”. Antes de conceder, como faz Platão,
que em algum sentido deva existir uma montanha de ouro sólido
cuja existência é então negada, Russell sustenta que a análise
lógica da proposição distingue-se da forma sujeito-predicado
mais óbvia. Do ponto de vista lógico, o que essa proposição
diz é que não existe um objeto que seja uma montanha de ouro
sólido, e isso significa que a propriedade de ser uma montanha
de ouro sólido não é instanciada.
Aqui, Russell está se baseando em um insight de Frege, a saber,
o de que os quantificadores são predicados de segundo nível,
ou de segunda ordem. Lembre-se da distinção que estabeleci no
161
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 161 06/06/14 12:25
Capítulo 2 entre linguagens de primeira e de segunda ordem.
Linguagens de primeira ordem contêm variáveis individuais –
variáveis que percorrem objetos individuais – e letras esquemá-
ticas para predicados que se aplicam a tais objetos. Linguagens
de segunda ordem contêm, além disso, variáveis (de primeira
ordem) de predicados – variáveis que percorrem predicados (ou
propriedades) de indivíduos (como em “Napoleão tinha todas as
qualidades de um grande general”) – e letras esquemáticas para
predicados que se aplicam a propriedades de primeira ordem.
Típicas propriedades de uma propriedade de primeira ordem
como “ser uma montanha” são: ser instanciada, ser universal-
mente instanciada, ser essencial, ser verdadeira de Parmênides
etc. As duas primeiras dessas propriedades (de segunda ordem)
são os quantificadores. Quantificadores dizem de que modo
um predicado é distribuído. O quantificador existencial, “para
algum” ou “existe(m)”, diz que um predicado é verdadeiro
para pelo menos uma coisa. O quantificador universal “para
todo” ou “para cada” diz que um predicado é verdadeiro para
todas as coisas. A lógica de primeira ordem, embora não admita
variáveis de primeira ordem (isto é, de predicados), nem letras
esquemáticas de segunda ordem, inclui um pequeno vocabulá-
rio de segunda ordem, a saber, os quantificadores existencial e
universal. Analogamente, a lógica de segunda ordem admite um
vocabulário limitado de terceira ordem, a saber, quantificação
sobre variáveis de primeira ordem, de modo a expressar que
predicados de segunda ordem são instanciados pelo menos uma
vez, ou universalmente.
Quais predicados de segunda ordem deveríamos permitir
que fossem adicionados a uma linguagem de primeira ordem?
Isto é, sem adotar uma teoria plena de segunda ordem, na qual
todo predicado de segunda ordem seria permitido, qual nível
de expressabilidade em segunda ordem deveríamos permitir em
uma linguagem de primeira ordem? A lógica clássica de primeira
ordem permite apenas os quantificadores existencial e universal,
162
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 162 06/06/14 12:25
isto é, as propriedades de segunda ordem de ser instanciado
pelo menos uma vez e de ser universalmente instanciado – e
qualquer predicado que possa ser definido em termos desses
dois, por exemplo, o de não ser instanciado (posto que temos a
negação) ou o de ser instanciado exatamente duas vezes (se temos
a identidade). Muitas outras propriedades de segunda ordem
não são definíveis em lógica de primeira ordem – por exemplo,
a de ser finito ou de ser verdadeiro para a maioria das coisas. O
acréscimo de predicados que correspondam a essas propriedades
produz uma extensão da lógica de primeira ordem. Lembre-se da
observação do Capítulo 2, de que a consequência lógica clássica
de primeira ordem é compacta. A lógica com o quantificador
“para apenas um número finito de…” não é compacta, pois a
compacidade diz que o que se segue de qualquer conjunto de
premissas deve se seguir de um subconjunto finito de premissas
de tal conjunto. Seja A a proposição “para apenas um número
finito de x, Fx”. Então A é compatível com qualquer subconjunto
finito do conjunto das premissas, “0 é F”, “1 é F”, e assim por
diante, para todo n, mas não é compatível com todo o conjunto
de premissas. Portanto, “não-A” se segue de “0 é F”, “1 é F”…,
mas não se segue de qualquer subconjunto finito dessas propo-
sições. Assim, a relação de consequência obtida pela adição do
quantificador “para apenas um número finito de…” à lógica de
primeira ordem não é compacta.
O insight de Frege de que os quantificadores são (proprieda-
des) de segunda ordem (ou como se diz usualmente nas discussões
sobre Frege, de “segundo nível”) deu uma expressão formal à
afirmação de Kant (e, defensavelmente, também de Aristóteles)
que consideramos no Capítulo 1. Quando Kant disse que existên-
cia não era uma propriedade, ele quis dizer, segundo Frege, que
existência não é uma propriedade de primeira ordem, isto é, não
é uma propriedade de indivíduos. Existência é uma propriedade
de propriedades, a saber, a de que a propriedade é instanciada.
Retornando a Russell, “não existe uma montanha de ouro” nega
163
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 163 06/06/14 12:25
essa propriedade ao predicado de primeira ordem “ser uma
montanha de ouro”; esse predicado não é instanciado. Em um
certo sentido, a proposição tem a forma sujeito-predicado.
Entretanto, seu sujeito não é uma expressão que pretende
(e é malsucedida nessa pretensão) se referir a uma montanha
de ouro (um indivíduo não existente). Antes, seu sujeito é “a
propriedade de ser uma montanha de ouro”; sua forma lógica é
“a propriedade de ser uma montanha de ouro não é instanciada”.
O que dizer de uma proposição como “uma montanha de ouro
sólido foi descoberta”? Segundo Russell, a forma lógica dessa
proposição também é diferente da forma gramatical – mas seu
predicado gramatical é ainda um predicado de primeira ordem.
A descrição indefinida, contudo, não é seu sujeito. A sua forma
lógica é “existe algo que é uma montanha de ouro sólido e que
foi descoberta”, isto é, “para algum x, x é uma montanha de
ouro sólido e x foi descoberta”. Mais uma vez, o sujeito aparente
encobre uma frase predicativa, e a proposição, na verdade, é uma
proposição quantificada que falsamente atribui a propriedade de
ter uma instância ao predicado complexo “ser uma montanha
de ouro sólido que foi descoberta”.
Quando Russell passa a considerar descrições definidas, ele
as analisa essencialmente da mesma maneira. A única diferença é
a implicação de unicidade em virtude do artigo definido. Assim,
“o pai de Goneril e Regan não existiu” tem a forma lógica “a
propriedade de ser o único pai de Goneril e Regan não é instan-
ciada”, isto é, “é falso que, para algum x, x e somente x é pai de
Goneril e Regan”. Isso é verdadeiro, pois a história do Rei Lear
é um mito. Daí se segue, para Russell, que dizer qualquer coisa
positiva de Rei Lear é falso. Por exemplo, “o pai de Goneril e
Regan enlouqueceu”.
Alguém poderia não gostar dessa conclusão, pois, na história,
Lear de fato enlouquece. Isso sugere que poderíamos acrescen-
tar um operador de ficção, “na ficção” a tais proposições. “Na
ficção, Rei Lear enlouqueceu”, isto é, “na ficção, existe um e
164
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 164 06/06/14 12:25
apenas um pai de Goneril e Regan e ele enlouqueceu”, aparente-
mente, seria verdadeira, ao passo que “na ficção, Lear assassinou
Duncan” seria corretamente considerada falsa.
Essa é uma opção audaciosa, e essencialmente correta.
Entretanto, do modo que foi apresentada, não irá funcionar.
De início, essa opção é ainda muito vaga. Ela convida o leitor
a procurar por uma obra de ficção apropriada, sem quaisquer
restrições. Quem sabe se não haveria uma obra de ficção que
tornaria a “Lear assassinou Duncan” verdadeira? O que preci-
samos – e isso é precisamente o cerne da questão – é de uma
indicação clara do domínio ficcional a partir do qual tais propo-
sições devessem ser avaliadas. Isso é o que iremos obter quando
mais tarde considerarmos uma alternativa à análise de Russell.
A análise de Russell não pode ser salva por meio de um apelo
vago a um operador de ficção.
Na verdade, há dois aspectos significativos da teoria de
Russell que causam dificuldades, e vimos aqui o primeiro deles.
Para começar, entretanto, deveria estar claro que o tratamento
dado por Russell às descrições definidas pretendia ser aplicável a
todas as descrições, não apenas àquelas para as quais não existe
o objeto correspondente. Russell percebeu corretamente que uma
sentença ter ou não significado é uma questão a priori, e isso não
deveria depender da existência de certos objetos. Ao contrário
de ser verdadeira ou falsa, ter ou não ter significado não pode
ser uma questão empírica. Assim, “o pai de Goneril e Regan” e
“o pai de Emily e Charlotte Brontë” são igualmente “expressões
incompletas”, expressões que não têm significado por si mesmas
e cuja presença em sentenças indica uma contribuição ao signi-
ficado por meio das suas partes, mas não pela expressão toda.
O primeiro problema da teoria de Russell é o seguinte: “o pai
de Emily e Charlotte Brontë era irlandês” recebe corretamente
o valor verdadeiro pela análise de Russell – as irmãs Brontë
tinham um e apenas um pai e ele era irlandês; “o pai de Emily e
Charlotte Brontë morreu antes delas” é corretamente reconhecida
165
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 165 06/06/14 12:25
como falsa pela análise de Russell. Mas, segundo o tratamento
de Russell, toda proposição simples que aparentemente predica
algo de uma descrição vazia é falsa. Nenhuma distinção é feita,
digamos, entre “o pai de Goneril e Regan enlouqueceu”, que
é defensavelmente verdadeira, e “o pai de Goneril e Regan era
rei da Dinamarca”, que é certamente falsa. Segundo a teoria
de Russell, ambas são falsas. De fato, tudo o que é positivo e
simplesmente predicado dessa descrição é falso.
Isso não inclui predicações complexas, por exemplo, “não
existiu”, “não foi rei da Dinamarca” e “poderia ter sido o pai
de Charlotte Brontë”. Proposições que predicam tais expressões
de descrições podem ser analisadas de duas maneiras diferen-
tes, como vimos no Capítulo 4, dependendo de a descrição ser
considerada com escopo maior ou menor, o que Russell chama,
respectivamente, de ocorrências primária e secundária da descri-
ção. Isso, no entanto, é incidental. A teoria de Russell faz uma
opção metodológica relevante ao distinguir forma lógica da
forma gramatical. Mas ela não pode ser correta nos seus detalhes
porque produz valores de verdade incorretos. Qualquer teoria
que diga que todos os enunciados positivos acerca de objetos
que não existem são falsos não pode estar correta, ainda que
seja um avanço quando comparada à teoria que diz que tais
enunciados são sem significado. Mas a teoria correta irá esta-
belecer uma distinção entre proposições verdadeiras como “o
pai de Goneril e Regan enlouqueceu” e falsas como “o maior
número primo é par”.
O outro problema com a teoria de Russell diz respeito aos
nomes. Do modo que foi apresentada até aqui, é uma teoria de
descrições. Mas o problema da barba de Platão se aplica a toda
expressão que pretende se referir a um objeto ou indivíduo, mas
é malsucedida nessa pretensão. Proposições como “Satã não
existe”, “Pégaso foi capturado por Belerofonte” e “Hamlet tinha
complexo de Édipo” não estão livres de problemas. A primeira
deve ser falsa ou sem significado, e as outras, simplesmente sem
166
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 166 06/06/14 12:25
significado – a menos que a teoria possa ser estendida, como
Russell de fato fez. Nomes genuínos são aqueles que temos a
garantia de que têm uma referência, logo evitam o problema –
nomes como “nove” ou, segundo a epistemologia de Russell,
“isto” e “aquilo”, quando aplicados a objetos imediatos da
percepção. Outros nomes não são genuínos, mas sim descri-
ções disfarçadas. Nomes como “Pégaso” (“o cavalo alado que
nasceu do sangue de Medusa”), “Cícero” (“o autor de De Lege
Manilia”) e “Everest” (“a montanha mais alta da Terra”) não
adquirem seus significados porque nomeiam alguma coisa (pois
nem todos nomeiam algo e, daqueles que nomeiam, não se
pode ter uma garantia a priori de que nomeiem algo), mas sim
porque contribuem para o significado das proposições expresso
pelas sentenças das quais fazem parte. Tal contribuição se dá na
medida em que tais nomes são abreviações de frases descritivas
analisadas de acordo com a teoria das descrições.
Embora sua resposta ao problema da barba de Platão seja
diferente, Frege faz uma opção similar aqui. O exemplo de
Frege é “Nausica encontrou Ulysses nu na praia”. A teoria do
significado de Russell era direta: nomes significam objetos e os
significados de predicados são universais. A teoria de Frege era
mais sutil: muito embora o significado (isto é, a referência) de
um nome seja um objeto (a menos que o nome seja vazio), além
do significado, os nomes tinham um sentido. “Cícero” significa
Cícero, mas seu sentido é dado por uma descrição, ou outros
meios de se reconhecer Cícero – talvez como o autor de De Lege
Manilia. “Nausica”, para Frege, era um nome vazio, não tem
referência, ainda que tenha um sentido – a filha do rei Alcino
de Kerkyra. Compreendemos “Nausica encontrou Ulysses nu
na praia” por meio do sentido da frase completa, que depende
dos sentidos das suas expressões constitutivas, isto é, o sentido
do todo depende funcionalmente dos sentidos das partes. Frege
aplicou a tese da dependência funcional, tanto à significação
(“referência”, Bedeutung no original alemão) quanto ao sentido.
167
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 167 06/06/14 12:25
Mas “Nausica” não tem significação; e por essa razão a sentença
completa também não tem significação (isto é, referência), o
que, para Frege, era o valor de verdade da sentença. A sentença,
portanto, tem sentido; podemos compreendê-la, mas falta valor
de verdade, pois não faz uma asserção significativa.
A teoria de Frege difere da de Russell de muitas maneiras –
por exemplo, ao distinguir sentido de significação e ao afirmar
que sentenças com nomes vazios não têm valor de verdade. O
elemento comum é a associação de cada nome a um modo descri-
tivo de identificação, ou algum meio de reconhecimento. F. H.
Bradley, um contemporâneo de Frege, como mencionei antes,
expôs o problema com clareza: se não houvesse um critério para
se reidentificar o referente de um nome, o nome simplesmente
não teria tal referente. Isso, dizia Bradley, era o que estava errado
com o tratamento de Mill, segundo o qual nomes não teriam
conotação. O mesmo problema reaparece no tratamento de
Kripke, que mencionei no Capítulo 4. (Kripke respondeu com
uma teoria sobre como um nome e sua referência são transferidos
de uma ocasião de proferimento para outra.)
Entretanto, a associação de nomes com descrições (Russell)
ou sentidos (Frege) tem suas próprias dificuldades. Podemos
apresentar o significado de “Rei Lear” como “o herói epônimo
da peça de Shakespeare”, “Shakespeare” como “o famoso
autor teatral nascido em Stratford”, “Stratford” como “a
cidade mercante às margens do rio Avon” e assim por diante.
Nomes não genuínos, cuja referência não é garantida a priori,
para Russell, devem ser convertidos em descrições, em última
análise baseadas em nomes genuínos. Essa é uma tarefa redu-
cionista, que leva a relação de referência de volta para o nível
atômico – “nomes próprios lógicos”. Russell sustenta, por
meio de um argumento transcendental, que deve existir um
tal nível, mas ao mesmo tempo admite com franqueza que é
difícil identificar quaisquer nomes genuínos. Como vimos no
Capítulo 1, o atomismo lógico estava comprometido com a
168
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 168 06/06/14 12:25
existência de proposições atômicas que continham nomes genu-
ínos que simplesmente não poderiam ser encontrados.
Lógica livre
Uma resposta melhor a essa dificuldade talvez pudesse ser
obtida pela adoção de uma epistemologia não fundacionalista.
Mas, ainda assim, permanecemos com a primeira dificuldade, a
de responder ao problema da barba de Platão. Precisamos que
nossa teoria estabeleça uma distinção entre, por exemplo, de um
lado, “Rei Lear enlouqueceu” e “Rei Lear era Rei Lear” e, de
outro, “Rei Lear era Hamlet” e “Rei Lear matou Duncan”. Nem
a teoria de Russell, nem a de Frege, faz isso: a primeira diz que
todas são falsas; a segunda, que nenhuma tem valor de verdade.
Na verdade, estou usando a frase “barba de Platão” em
sentido um pouco diferente do de Quine. Para mim, essa frase
denota o seguinte problema: como é possível que sentenças com
nomes vazios tenham significado? Para Quine, “barba de Platão”
denota uma resposta particular para esse problema: que nomes
vazios, embora não devessem denotar coisa alguma existente,
no entanto, denotam algo – todos têm ser, muito embora apenas
alguns existam efetivamente. O mais famoso defensor dessa
concepção em tempos recentes foi o próprio Russell, que em
1903 escreveu “ser é o que pertence a tudo o que é concebível,
a todo objeto possível do pensamento”. Russell escapou dessa
extravagância com a sua teoria das descrições.
Essa concepção extravagante de Russell certamente foi resul-
tado da influência do filósofo alemão contemporâneo Alexius
Meinong. Mas essa não era a concepção de Meinong. Segundo
Meinong, muitos objetos estariam “além do ser e do não ser”.
Ele não acreditava, ao contrário do que frequentemente se diz,
que além das coisas que existem, todas as outras coisas “subsis-
tem”. Para ele, objetos concretos existem; objetos abstratos
subsistem; e, além disso, todo termo denota um objeto para o
qual a questão do ser nem deveria ser levantada. O princípio
169
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 169 06/06/14 12:25
central da sua doutrina era o Princípio de Independência entre
o ser e a essência – isto é, se um objeto tem certas propriedades
é independente de se o objeto tem ser e de que tipo de ser é esse.
Pégaso é um cavalo alado, ainda que ele não exista; a montanha
de ouro é feita de ouro, ainda que ela não exista; o cavalo que
não é um cavalo é um cavalo, mas não há um tal cavalo. Como
colocou Meinong, de um modo paradoxalmente agressivo,
“existem objetos tais que não existem tais objetos”.
Ainda que todos os seguidores de Meinong protestem que essa
concepção é diferente da do jovem Russell, ela é igualmente extra-
vagante. Ela começa por reconhecer nossa intuição – Rei Lear
enlouqueceu, mas não matou Duncan –, mas está na iminência
de ir além dessas intuições, admitindo o que Quine chamou de
“favela ontológica” e outros de “selva de Meinong”. Considere
o cavalo que não é um cavalo. Isso não é uma contradição?
Segundo Meinong, o princípio da não contradição se aplica
somente a objetos possíveis. Esses objetos são impossíveis – essa
é a razão pela qual o cavalo que não é um cavalo não existe e
nem mesmo subsiste.
No Capítulo 4 defendi um realismo moderado acerca de
mundos possíveis – que existem tais mundos e que eles são reais,
mas abstratos. Outros mundos possíveis diferem do mundo
real porque são meras possibilidades abstratas, ao passo que
este mundo é concreto. No Capítulo 3 propus que a semântica
das condicionais requer que admitamos “mundos impossíveis”
além dos mundos possíveis, mundos nos quais contradições são
verdadeiras. Por exemplo, para avaliar a condicional “se Pégaso
fosse um cavalo que não é um cavalo, então…” precisamos
considerar um mundo no qual Pégaso é um objeto impossível,
um cavalo que não é um cavalo. Não seria essa posição a mesma
que a de Meinong, e igualmente extravagante? Eu estaria me
comprometendo a rejeitar o princípio da não contradição para
algumas classes de objetos?
170
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 170 06/06/14 12:25
Existe uma diferença crucial entre as duas posições, entre, de
um lado, a posição que sustentei acerca da semântica da moda-
lidade e, de outro, a ontologia de Meinong e do jovem Russell.
Enquanto eu digo “poderia ter existido um cavalo alado, mas
não existe”, Meinong e Russell dizem “existe um cavalo alado
que não existe”. Enquanto eu digo “considere uma situação (um
“mundo impossível”) na qual Pégaso é um cavalo que não é um
cavalo”, não estou admitindo que existe um cavalo impossível.
Claramente isso não é o caso, como afirma o princípio da não
contradição. A distinção diz respeito ao que é varrido pelos quan-
tificadores. Quando dizemos “existe algum” ou “para todos”,
estamos quantificando sobre o que efetivamente existe ou sobre o
que poderia (ou não) ter existido? Russell, em 1903, quantificava
sobre “todas as coisas concebíveis”; Meinong quantificava sobre
“objetos tais que não existem tais objetos”. Eu não faço isso.
Por essa razão, nem a teoria de Meinong nem a do jovem
Russell são lógicas livres. “Lógica livre” é uma abreviação para
“lógica livre de pressupostos existenciais”. Há dois pressupos-
tos existenciais embutidos na lógica clássica, a visão ortodoxa
que consideramos no Capítulo 2. Um é o de que o domínio dos
quantificadores não seja vazio; o outro é o de que todos os termos
denotem. O primeiro tem a consequência de que “existe um x
tal que x é F ou x não é F” é uma verdade lógica (clássica) (para
todo F); o segundo tem a consequência de que, para todo termo
a, “a é F” é consequência lógica de “para todo x, x é F”. Nem
todas as lógicas livres rejeitam o primeiro pressuposto (de que
o domínio não é vazio). As que rejeitam são chamadas “lógicas
universalmente livres”. Se o domínio for vazio, então não existe
valor de x para o qual ou “x é F” ou “x não é F” é verdadeiro.
Mas, se o domínio não for vazio, então deve existir um valor de
x que denote algo no domínio, acerca do qual, ou a atribuição
de F será verdadeira, ou não.
Não se pode dizer que lógicas livres quantifiquem mais sobre
o que não existe do que a lógica clássica. O fato de serem livres
diz respeito ao pressuposto clássico de que todos os termos, isto
171
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 171 06/06/14 12:25
é, toda constante individual, ou nome, ou descrição, ou expressão
funcional (a menos que sejam eliminadas por análise), denotam
alguma coisa que existe. É usual classificar as lógicas livres em
três tipos: positivas, negativas e neutras. Lógicas livres positivas
são aquelas que sustentam que algumas proposições contendo
termos vazios (isto é, termos que denotam algo que não existe)
são verdadeiras; lógicas livres negativas sustentam que todas as
proposições desse tipo são falsas; e lógicas livres neutras susten-
tam que todas essas proposições não têm valor de verdade. Com
efeito, essa classificação não ajuda muito e é completamente
superficial. Ela diferencia lógicas livres que são similares em
importantes aspectos e coloca juntas lógicas que são essencial-
mente diferentes. Por exemplo, o método de sobrevalorações,
que iremos considerar na próxima seção, considera que algumas
proposições contendo termos vazios são verdadeiras, ainda que
seus pressupostos metafísicos – ou pelo menos a metafísica das
lógicas livres que usam sobrevalorações – tenham muito mais
em comum com lógicas livres negativas e neutras.
A diferença filosófica mais importante entre as lógicas livres
diz respeito às semânticas para “termos vazios”. Até aqui carac-
terizei termos vazios de modo equivocado, como termos que
“denotam algo que não existe”. Isso cobre duas possibilidades:
que tais termos literalmente se referem a coisas que não existem;
e que tais termos não se referem a coisa alguma – isto é, que eles
simplesmente não têm referência. Chamarei o primeiro tipo de
“lógica livre de domínio externo” e o segundo de “lógica livre
não referencial”. As características distintivas da lógica livre
de domínio externo são as de que todo termo se refere a algo,
mas o domínio dos objetos referidos pelos termos é dividido
em domínio interno e domínio externo. O domínio interno é
como na lógica clássica (com a única diferença que permitimos
que seja vazio, se quisermos uma lógica universalmente livre):
ele consiste de objetos cuja existência é real, Cícero, Maravilha
Negra, minha escrivaninha, o planeta Plutão etc. O domínio
externo consiste nas referências dos “termos vazios” Pégaso, Rei
172
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 172 06/06/14 12:25
Lear, a montanha de ouro, o quadrado redondo etc. O domínio
externo não pode ser vazio, pois todo termo deve referir; logo, o
domínio mínimo consiste em um domínio externo com um único
elemento e um domínio interno vazio. (É certo que não é isso o
que acontece de fato. Mas lembre-se do que vimos no Capítulo
2 sobre consequência lógica, de que é necessário permitir que
o domínio varie para evitar a produção de verdades lógicas e
consequências lógicas indesejáveis.)
Até aqui, a lógica livre de domínio externo parece correspon-
der exatamente à teoria de Meinong – um domínio interno de
objetos reais (se existentes ou subsistentes é uma mera questão
terminológica) e um domínio externo impossibilista absoluta-
mente extravagante. A diferença crucial foi mencionada acima: os
quantificadores na lógica livre varrem apenas o domínio interno.
“Pégaso é um cavalo alado” é verdadeira, mas daí não se segue
que exista um cavalo alado, pois “existir” significa “existir real-
mente” e Pégaso não é um dos indivíduos que realmente existem,
pois não está no domínio interno. A inferência “a é F, logo, existe
um x tal que x é F” não funciona. O termo a pode denotar algo
no domínio externo, enquanto o quantificador “existe um x”
varre apenas o domínio interno. Se o domínio interno pode ser
vazio, temos uma lógica universalmente livre: “existe um x tal
que x é F ou x não é F” não é uma verdade lógica, pois é falsa
se o domínio interno for vazio. Independentemente disso ser
o caso, a inferência que tipicamente distingue a lógica clássica
da lógica livre falha: “para todo x, x é F” é verdadeira se todo
objeto do domínio interno é F; entretanto, “a é F” pode ser falsa,
posto que a pode denotar algo no domínio externo que seja F.
Por exemplo, “nenhum cavalo tem asas” (isto é, “para todo x,
se x é um cavalo, x não tem asas”) é verdadeira, mas “Pégaso
não tem asas” é falsa. A regra de instanciação (ou eliminação do
universal, como é também chamada), para todo termo a, “para
todo x, x é F, logo, a é F”, é inválida na lógica livre.
Diferentemente, essa forma de inferência na lógica livre requer
uma premissa extra, a saber, “a existe”. “a é F” se segue de
173
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 173 06/06/14 12:25
“para todo x, x é F” e “a existe”. Pois, se “a existe” é verdadeira,
então a referência de a está no domínio interno, e todo objeto
do domínio interno é F, posto que “para todo x, x é F” é verda-
deira. Em outras palavras, esta última fórmula significa “para
todo x que existe, x é F”. O quantificador varre apenas objetos
existentes. Similarmente, a regra de introdução do existencial
(ou generalização existencial) também requer a mesma premissa
adicional e tem a forma “a é F e a existe, logo, existe x tal que
x é F”. Na lógica clássica a segunda premissa não é necessária,
mas na lógica livre, a poderia denotar um objeto não existente.
Não se deve concluir disso tudo que, na lógica livre, “existe”
é uma propriedade (de primeira ordem). “a existe” significa que
a referência de “a” está no domínio interno. Portanto, “a existe”
significa que existe algo (no domínio interno) que é o a, isto
é, existe um x tal que x é a (posto que “existe um x” significa
“existe um x no domínio interno”, isto é, “para algum x que
existe”). Em outras palavras, “a existe” é verdadeira se o predi-
cado de primeira ordem, “ser idêntico a a”, tem uma instância
(que existe). Em geral, “existe um x tal que x é F” significa que a
propriedade de ser um F tem uma instância, isto é, uma instância
no domínio interno, o domínio das coisas que existem.
Vimos que a teoria de Meinong era contraditória – essa era
a maior objeção de Russell. Se permitirmos que “o cavalo que
não é um cavalo” seja um termo legítimo, que denote um objeto
impossível, e também que os elementos descritivos em tal nome
devem ser verdadeiros no que diz respeito ao objeto referido
pelo nome, então o cavalo que não é um cavalo é um cavalo e
não é um cavalo. No contexto do ex falso quodlibet, isso trivia-
liza a teoria, pois daí se segue a verdade de toda proposição. A
inconsistência que afeta os objetos impossíveis se estende a todos
os objetos, mesmo os existentes. Poderíamos tentar evitar esse
problema adotando uma lógica paraconsistente ou relevante, na
qual EFQ seja inválido. Mas a lógica livre, na sua forma usual, é
uma extensão da lógica clássica e, portanto, aceita EFQ. Seria a
174
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 174 06/06/14 12:25
lógica livre também inconsistente e trivial, pelo menos a versão
da lógica livre com domínio externo, na qual considera-se que
“o cavalo que não é um cavalo” e termos desse tipo denotam
elementos do domínio (externo)? A resposta é negativa, e a razão
está na restrição imposta aos quantificadores, que varrem apenas
objetos existentes.
A ameaça de inconsistência e o modo de evitá-la é o seguinte:
uma inconsistência resulta porque somos forçados a admitir
que o F (ou um F) é F, para um predicado inconsistente F. Pois
suponha que afirmamos que tudo o que é um F é F, isto é, para
todo x, se x é um F, então x é F. (Vamos chamar esse princípio,
seguindo Meinong, de princípio da essência, PE.) Então, consi-
derando que um F existe, por instanciação de PE segue-se que
se um F é um F, então um F é F. Portanto, se é universalmente
verdadeiro que um F é um F, temos a conclusão indesejada que
um F é F. Isto é, a conclusão indesejada (pela inconsistência
iminente) se segue de PE (que qualquer coisa que é um F é F),
um pressuposto razoável, e de apenas duas premissas, que um
F existe e que um F é um F.
Por exemplo, daí se segue que o cavalo que não é um cavalo é
um cavalo; e não é um cavalo somente se o cavalo que não é um
cavalo existe e é idêntico a si mesmo. Podemos evitar a inconsis-
tência, portanto, pelo fato de que não existe um tal cavalo – na
verdade, a derivação da contradição nos diz, por uma aplicação
usual do reductio ad absurdum (se é que não percebemos isso
ainda), que não existe nenhum cavalo que não seja um cavalo.
Esse exemplo é transparente: mas poderia existir um predicado F
que não fosse obviamente inconsistente, mas que a pressuposição
de que o F é F implicaria uma contradição. A resposta natural
é que não pode existir um tal F.
A inconsistência é evitada pela diferença crucial entre a lógica
livre (de domínio externo) e a doutrina de Meinong – que os
quantificadores varrem apenas os objetos existentes. Dizer que
qualquer coisa que seja um F é F é dizer que qualquer objeto
175
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 175 06/06/14 12:25
existente que seja um F é F. Daí não se segue que Fs não exis-
tentes nunca são F; alguns são, e outros não – e se há a ameaça
de inconsistência, não são.
Sobrevalorações
Ainda assim, há algo insatisfatório com o domínio externo na
lógica livre, a saber, a bivalência. Ela não é apenas uma lógica
livre positiva, isto é, em que alguma proposição que contenha um
nome vazio é verdadeira; antes, toda proposição que contenha
um nome vazio ou é verdadeira ou é falsa. Isto é, a lógica livre
de domínio externo nos força a decidir, para toda proposição
acerca de um não existente, se ela é verdadeira ou falsa. Com
efeito, mesmo a lógica clássica exige que aceitemos a bivalência
para proposições acerca de objetos existentes, mesmo nos casos
em que não podemos decidir se a proposição é verdadeira ou
falsa. Por exemplo, “Oswald matou Kennedy” ou é verdadeira ou
falsa, assim como a conjectura de Goldbach, “todo número par
maior que 2 é a soma de dois primos”, uma famosa conjectura
da aritmética, ainda sem solução. O realista responde que tais
proposições são de fato verdadeiras ou falsas, independentemente
de sermos capazes de determinar seus valores de verdade. (Iremos
considerar no Capítulo 8 a rejeição antirrealista da bivalência.)
Essa resposta, plausível para objetos existentes, não é plausível
para objetos não existentes, personagens ficcionais, míticos etc.
Considere as proposições “Rei Lear podia assoviar”, “Pégaso
tinha 40 centímetros de altura” e “o cavalo que não é um
cavalo é um cavalo”. As duas primeiras poderiam nos compelir
a investigar a obra de Shakespeare, ou lendas e mitos antigos,
para obter uma resposta. Mas, se alguém seriamente acredita
que Lear e Pégaso são criaturas míticas, deve estar preparado
para que aquela pergunta não tenha resposta alguma. Se eles
outrora existiram, existem verdades objetivas acerca deles que
nós, entretanto, sem dúvida jamais saberemos. Caso contrário, se
eles não existiram, as respectivas proposições não são verdadeiras
176
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 176 06/06/14 12:25
nem falsas. Acerca do cavalo que não é um cavalo, acabamos de
ver que ele não pode simultaneamente ser e não ser um cavalo e,
portanto, é plausível que nem um nem outro seja o caso.
O que as considerações feitas acima deveriam mostrar é que
a lógica livre com domínio externo de fato evita o problema.
Quando dizemos que um nome é vazio, que não se refere a coisa
alguma, isso não significa que tal nome se refere a algo que não
existe; nós queremos dizer que tal nome não tem referência.
Não há de fato coisa alguma à qual ele se refere – isto é, ele é
não referencial. É essa a ideia assumida pela lógica livre não
referencial. Existe um domínio de existentes que é varrido pelos
quantificadores; pode ou não existir um domínio externo de não
existentes, e nomes podem ou não ter referência. Proposições que
contêm nomes que têm referência (sejam existentes ou não) são
avaliadas da maneira usual. A questão é: como avaliar proposi-
ções que contenham nomes vazios?
Na verdade, aquilo a que aspiramos é claro: não queremos que
todas as proposições acerca de não existentes sejam falsas (lógica
livre negativa), como no tratamento de Russell; nem que sejam
sem valor de verdade (lógica livre neutra), como na teoria de
Frege; nem queremos exigir que toda proposição tenha um valor
de verdade, como na lógica livre de domínio externo. Algumas
proposições são verdadeiras, como, por exemplo, “Rei Lear
enlouqueceu”; outras são falsas, como “Lear matou Duncan”; e
algumas não têm valor de verdade, como “Lear podia assoviar”.
A questão, até onde diz respeito à lógica, é se essas aspirações
podem ser obtidas preservando uma lógica, isto é, de modo
compatível com um tratamento aceitável da verdade lógica e
da consequência lógica. Considere a regra de adição, ou intro-
dução da disjunção, a inferência que obtém “A ou B” de uma
proposição A. A pode ser verdadeira ou falsa, ou não ter valor
de verdade. De que modo o valor de verdade de “A ou B” é
relacionado com os valores de A e B? Devemos preservar os
valores clássicos: se A e B são verdadeiras, ou uma é verdadeira
e a outra falsa, “A ou B” é verdadeira; se A e B são falsas, “A ou
177
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 177 06/06/14 12:25
B” é falsa. Mas o que fazer se A ou B não tem valor de verdade?
Temos duas opções. Podemos interpretar a ausência de valor
de verdade como uma espécie de praga que infecta tudo o que
toca – assim, se ou A ou B não tem valor de verdade, “A ou B”
também não terá. Ou podemos, por outro lado, considerar que,
digamos, se A é verdadeira, “A ou B” é verdadeira independen-
temente do valor de verdade de B (e analogamente para B), de
modo que “A ou B” não tem valor de verdade somente se ambas
as proposições A e B não tiverem valor de verdade. A primeira
opção corresponde às chamadas matrizes fracas de Kleene (as
matrizes são tabelas, similares às tabelas de verdade, que repre-
sentam o valor de verdade de “A ou B” – e outras combinações
– dependendo dos “valores” de A e B, sendo esses “valores”
o verdadeiro, o falso, ou a ausência de valor de verdade). A
segunda opção corresponde às matrizes fortes de Kleene. Nas
matrizes fracas, “A ou B” não tem valor de verdade se ou A ou
B não tiver valor de verdade e, nos outros casos, reproduzem
as tabelas de verdade clássicas. Nas matrizes fortes, “A ou B” é
verdadeira se A é verdadeira ou B é verdadeira; e não tem valor
de verdade somente se tanto A quanto B não tiverem valor de
verdade, ou uma for falsa e a outra não tiver valor de verdade.
Vamos trabalhar com as matrizes fortes, pois o problema que
se segue também afeta, entre outras coisas, matrizes fracas. O
tratamento clássico da consequência diz que uma proposição é
consequência de outras proposições se nenhuma interpretação
leva de premissas verdadeiras a uma conclusão falsa. Mas isso irá
permitir a inferência que vai de “a é F” a “a existe”, a qual não
queremos, pois nos faria deixar de lado os nomes vazios. Sempre
que “a é F” é verdadeira, “a existe” é verdadeira; quando “a é F”
não tem valor de verdade, “a existe” é falsa. Assim, precisamos
estender o tratamento clássico da consequência de modo a incluir
os casos em que ocorre ausência de valor de verdade. Para excluir
a inferência que conclui “a existe” de “a é F”, precisamos rejeitar
como inválido o passo que vai da ausência de valor de verdade
à falsidade. Isto é, diremos que uma proposição é consequência
178
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 178 06/06/14 12:25
de outras se nenhuma interpretação leva de proposições que não
são falsas a uma proposição falsa. Infelizmente, essa revisão do
critério de validade irá invalidar inferências que gostaríamos de
considerar válidas. Considere, por exemplo, o passo que vai de
“a é F e a é não-F” para “b é G” – lembre-se que a lógica livre
(tal como foi desenvolvida aqui) é uma extensão da lógica clássica
e, portanto, qualquer proposição se segue de uma contradição.
Suponha que b existe e não é G. Se a não é vazio, premissas e
conclusão serão falsas; mas se a é vazio, a premissa não tem valor
de verdade (pois a negação inverte o valor de verdade e deixa
ambos sem valor de verdade, e a conjunção “e” (assim como
“ou”) não tem valor de verdade se ambos os conjuntos também
não têm valor de verdade), ao passo que a conclusão, ainda assim,
é falsa. Essa inferência, portanto, nos leva de ausência de valor
de verdade à falsidade e deveria, então, ser considerada inválida
pela concepção revisada de consequência.
Parece que fomos pegos de surpresa. Se estendermos o critério
de consequência lógica de modo a rejeitar o passo que vai da
ausência de valor de verdade para falsidade, iremos invalidar
EFQ (o que poderia até ser desejável por outras razões, como
observamos no Capítulo 2, mas não é parte da nossa tarefa ao
montarmos uma lógica livre). Por outro lado, se não o fizermos e
validarmos a inferência que de “a é F” conclui-se que “a existe”
(e que “existe um x tal que x é F”), parece que estamos admitindo
que todos os termos denotam.
Uma alternativa que irá possibilitar uma lógica livre que
preserve inferências clássicas como EFQ, restrinja a introdução
do existencial (e regras similares dos quantificadores) do modo
que examinamos na última seção, mas não atribua valor algum
a predicações atômicas da forma “a é F” quando a for vazio é
adaptar o método de sobrevalorações. Na verdade, a ideia de Van
Fraassen ao introduzir o método era defender a lógica clássica
tal como ela estava e mostrar que as restrições da lógica livre
179
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 179 06/06/14 12:25
eram desnecessárias. Entretanto, veremos que isso resultava de
Van Fraassen não levar o método suficientemente a sério.
Considere a lei do terceiro excluído, “A ou não-A”. Já vimos
que, se tanto A quanto B não têm valor de verdade, então não
temos como atribuir um valor a “A ou B” – precisaremos de
um ou de outro para ter certeza de que a disjunção é verdadeira,
e de ambos falsos, para estarmos certos de que a disjunção é
falsa. Similarmente, se A não tem valor de verdade, não temos
como atribuir um valor a “não-A”. Logo, se A contém um nome
vazio, e assim não tem valor de verdade, acontece o mesmo com
“A ou não-A”. Por que, então, acreditamos que “A ou não-A”
é uma verdade lógica? Aparentemente porque, se A tivesse um
valor de verdade, então uma ou outra dentre A e “não-A” seria
verdadeira, e a disjunção seria verdadeira.
É aqui que o método das sobrevalorações começa. Consideremos
uma valoração parcial – uma atribuição de valores de verdade
que atribua verdade a algumas proposições, falsidade a outras
e valor algum às restantes. Considere todos os modos de se
estender essa valoração parcial a uma valoração total, atribuindo
valores arbitrariamente (de modo consistente com as condições
de verdade – por exemplo, se arbitrariamente fazemos A verda-
deira, “A e B” será também verdadeira) às proposições que
inicialmente não tinham valor. Vamos chamá-las de extensões
clássicas da valoração parcial original. Então, a sobrevaloração
sobre a valoração parcial original é definida da seguinte forma:
uma proposição é verdadeira de acordo com a sobrevaloração,
se for verdadeira em todas as extensões clássicas da valoração;
falsa, de acordo com a sobrevaloração, se for falsa em todas
as extensões clássicas da valoração; e não terá valor na sobre-
valoração se tiver diferentes valores em diferentes extensões
clássicas. A sobrevaloração, portanto, é ainda uma valoração
parcial – algumas proposições não têm um “sobrevalor” (isto
é, um valor na sobrevaloração). Mas a sobrevaloração estende
a valoração parcial original. Considere, por exemplo, “A ou
não-A”, onde A contenha um nome vazio (isto é, um nome sem
180
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 180 06/06/14 12:25
referência segundo a valoração original). Então, “A ou não-A”
não terá valor nessa valoração. Mas, em toda extensão clássica,
A recebe um valor e “não-A”, o valor oposto. Portanto, em todas
as extensões clássicas da valoração parcial original, ou A é verda-
deira ou “não-A” é verdadeira e, dessa forma, “A ou não-A”
será verdadeira. Portanto, “A ou não-A” recebe o sobrevalor
verdadeiro. Similarmente, “A e não-A”, que não tem valor na
valoração original (posto que A não tem), recebe o valor falso
na sobrevaloração.
Podemos agora definir consequência lógica e verdade lógica.
Uma proposição é consequência lógica de outras proposições se
não existir uma interpretação ou valoração (parcial) tal que todas
as suas extensões clássicas tornem verdadeiras as premissas e falsa
a conclusão. Uma proposição é uma verdade lógica se não existir
sobrevaloração de qualquer interpretação em que tal proposição
seja falsa. De acordo com essa definição, toda instância de “A
ou não-A” será logicamente verdadeira: qualquer valoração
parcial, ou atribui um valor a A, ou não atribui valor algum.
Se atribuir um valor a A, então “A ou não-A” será verdadeira
nessa valoração e, portanto, verdadeira em todas as extensões
clássicas dessa valoração; se não atribuir, “A ou não-A” será
verdadeira em todas as extensões clássicas e, assim, verdadeira
na sobrevaloração. Portanto, a lei do terceiro excluído será
verdadeira na sobrevaloração sobre cada valoração parcial, isto
é, qualquer que seja o modo pelo qual os símbolos não lógicos
sejam interpretados. Similarmente, cada proposição da forma
“A e não-A” será falsa em todas as extensões clássicas de todas
as valorações parciais; consequentemente, EFQ é uma inferên-
cia válida, posto que não haverá nenhuma extensão clássica de
qualquer valoração parcial que torne “A e não-A” verdadeira e
a conclusão falsa, qualquer que seja a conclusão.
A ideia é simples, embora tenhamos que ser cuidadosos com
os detalhes, pois, sem algumas restrições, iremos tornar inváli-
das algumas inferências que desejaríamos que fossem válidas e
tornar válidos princípios que gostaríamos de abandonar. Dentre
181
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 181 06/06/14 12:25
essas questões, Van Fraassen cuida do primeiro caso (por meio
de restrições “arbitrárias”, isto é, restrições concebidas especifi-
camente para garantir que a relação de consequência resultante
seja completamente clássica); ele não precisa, por essa mesma
razão, fazer coisa alguma no que diz respeito ao segundo caso.
Considere, por exemplo, a lei da identidade, “a é a” para
qualquer termo a. Se a denotar, “a é a” será verdadeira; se a
não denotar, “a é a” não terá valor em cada uma das valora-
ções parciais e, portanto, considerando que não estabelecemos
nenhuma condição especial, pode receber o verdadeiro ou o falso
em cada extensão clássica, de modo que também não terá valor
em cada sobrevaloração. Mas já fomos persuadidos antes de que,
ainda que nomes como “Rei Lear”, “Pégaso” etc. sejam vazios,
as proposições “Rei Lear é Rei Lear”, “Pégaso é Pégaso” etc.
são verdadeiras. A lei da identidade é uma verdade lógica. Van
Fraassen arbitrariamente exige que “a é a” seja verdadeira em
cada extensão clássica. Outro exemplo é o princípio da indiscer-
nibilidade dos idênticos, que vimos no Capítulo 4. Ele diz que
se a é b e a é F, então b é F. Se a e b não denotam em alguma
interpretação, então até aqui não há coisa alguma que impeça
uma extensão clássica que torne “a é b” e “a é F” verdadeiras
e “b é F” falsa. Mas não é isso o que uma extensão clássica
pretende expressar. Novamente, para evitar que isso aconteça,
Van Fraassen impõe uma restrição às extensões clássicas.
Os princípios questionáveis que a definição acima valida são
formas clássicas da eliminação do universal e introdução do
existencial, respectivamente, de “a é F” para “existe x tal que
x é F” e de “tudo é F” para “a é F”, para todo termo a. Pois
suponha que “a é F” seja falsa em uma extensão clássica de
alguma valoração parcial. Então a denotação de a estará fora da
interpretação de F – algo não é F. Então, “tudo é F” será falsa
nessa extensão da valoração parcial. Inversamente, se “a é F” for
verdadeira em uma extensão clássica, a deverá denotar algo na
interpretação de F e, assim, “alguma coisa é F” será verdadeira
182
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 182 06/06/14 12:25
nessa extensão. As formas clássicas de inferência não podem ser
invalidadas; no entanto, essas duas inferências estão no cerne da
lógica livre. Será possível remediar essa situação?
A solução mais promissora é combinar o método das sobreva-
lorações com a ideia de um domínio externo. Não consideramos
todas as extensões clássicas, nas quais valores de verdade são
arbitrariamente atribuídos àquelas proposições que não têm
valor de verdade na valoração parcial. Ao invés disso, conside-
ramos todos os modos de atribuir uma denotação aos termos
vazios e as valorações totais que daí resultarão. Entretanto, as
denotações dos termos vazios não são escolhidas no domínio da
valoração parcial, mas nas extensões arbitrárias desse domínio,
por meio da adição de um domínio externo. Assim, dizemos
que uma extensão livre de uma valoração parcial abrange uma
extensão do domínio pela adição de um domínio externo (não
vazio), juntamente com uma extensão da interpretação das letras
de predicado para esse domínio externo e a valoração total
resultante dessas extensões. Uma sobrevaloração é definida como
antes, mas substituindo “extensão livre” por “extensão clássica”.
Assim, a lei da identidade é validada, posto que, qualquer que
seja a referência de a – seja tal referência atribuída pela valoração
parcial original ou pelas extensões livres –, a referência a será
igual a si mesma. O princípio de indiscernibilidade dos idênti-
cos é válido nas extensões livres, pois, se a e b, nomes vazios na
valoração parcial original, recebem a mesma denotação em uma
extensão livre, e se “a é F” for verdadeira, “b é F” deverá também
ser verdadeira. Por fim, a eliminação do universal e a introdução
do existencial se tornam inválidos nas suas formas clássicas e
válidos nas formas livres, com a premissa extra “a existe”. Pois
suponha que “a é F” seja verdadeira em alguma extensão livre.
Se “a existe” for verdadeira, a denotação de a deverá estar no
domínio da valoração original, logo, “a é F” e, por conseguinte,
“algo é F” deverão ser verdadeiras nessa valoração e, assim, a
última deverá ser verdadeira nas extensões. Por outro lado, se
183
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 183 06/06/14 12:25
“a existe” for falsa na extensão livre, a denotação de a está no
domínio externo, o que é compatível com nada no domínio
interno ser F. Assim, “algo é F” poderá ser falsa quando “a é F”
for verdadeira, mas não quando “a é F” e “a existe” forem ambas
verdadeiras, como era desejado. Uma análise similar mostra que
“a é F” pode ser falsa quando “tudo é F” for verdadeira, mas
não quando “tudo é F” e “a existe” forem ambas verdadeiras.
Conseguimos, portanto, um tratamento semântico claro do
comportamento lógico dos nomes vazios que não nos compro-
mete com a existência atual de objetos que correspondem a tais
nomes. De fato, podemos ver agora como lidar sistematicamente
com o problema da ficção: povoamos o domínio externo com
os objetos da ficção e os objetos não existentes que quisermos.
(Isso é, entretanto, apenas uma solução parcial, pois não trata da
atribuição, também ficcional, de propriedades fictícias a objetos
reais.) Todo o aparato foi estabelecido de modo a lidar tanto com
nomes que se referem a coisas que não existem (por exemplo,
“Rei Lear” e “Nausica”) quanto para nomes não referenciais
(por exemplo, “phlogiston”, “as novas roupas do imperador”,
“o homem que não estava lá e que eu encontrei nas escadas”).
Em particular, temos agora um tratamento claro e aceitável da
consequência lógica – o de que não pode haver uma valoração
parcial tal que todas as suas extensões livres façam premissas
verdadeiras e conclusão falsa – que valida princípios de inferência
que estão de acordo com a semântica que estabelecemos.
Resumo e sugestões para leituras
No momento que podemos identificar como o surgimento da
filosofia, Parmênides, um pensador enigmático, nos colocou um
quebra-cabeças: como podemos falar significativamente sobre
o que não existe? Pois, como podemos nos referir a uma coisa,
se tal coisa não existe? Parmênides e Platão responderam com a
recusa em negar ser ao que quer que seja – se podemos pensar
184
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 184 06/06/14 12:25
em alguma coisa, tal coisa em algum sentido tem de ser. Os
fragmentos remanescentes do “Way of Truth” de Parmênides
e todo o diálogo de Platão, Parmenides (cujo principal falante
recebe o nome de “Parmênides” e não de “Sócrates”, como é
usual nos diálogos de Platão), estão reunidos e comentados em
Plato and Parmenides, de F. M. Cornford.
Willard van Orman Quine criou a encantadora imagem da
“barba de Platão” para descrever a resposta de Platão ao quebra-
-cabeças de Parmênides; tomei emprestado o epíteto para aludir
ao quebra-cabeças propriamente dito. Quine lançou um ataque
desenfreado a essa extravagância de Platão em um artigo clássico,
“On What There Is”, reimpresso em seu From a Logical Point of
View. Quine é o principal defensor de uma solução originalmente
proposta por Bertrand Russell em outro artigo clássico, “On
Denoting”, publicado pela primeira vez em 1905 e reimpresso
em seu Logic and Knowledge, editado por R. C. Marsh. Russell
tinha defendido antes uma concepção bastante parecida com
a de Platão, mas a rejeitou em “On Denoting”. A solução de
Russell se dá em dois estágios: frases descritivas, ao contrário
do que parece inicialmente, não adquirem significado por meio
da referência a objetos, mas são “símbolos incompletos” que
não correspondem a um componente único na análise lógica
das proposições. Proposições que contêm descrições, portanto,
conservam seus significados mesmo que objeto algum corres-
ponda à descrição gramatical. Em segundo lugar, outros termos
singulares são distinguidos em uma classe de nomes genuínos –
que, de fato, dependem da existência dos objetos que denotam
para adquirir significado – e descrições disfarçadas, nomes não
genuínos cuja análise segue a teoria das descrições. Mais tarde,
Russell passou por dificuldades metafísicas por considerar que
temos conhecimento a priori da existência de objetos e de seus
nomes e que isso é o bastante para dar conta do nível atômico de
proposições elementares e nomes próprios lógicos (lembre-se do
Capítulo 1 e veja o texto “The Philosophy of Logical Atomism”,
185
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 185 06/06/14 12:25
também em Logic and Knowledge, especialmente conferências 2
e 6); Quine tentou mostrar que, do ponto de vista lógico, nomes
e termos singulares podem ser completamente dispensados.
Por razões independentes, Gottlob Frege estabeleceu uma
distinção entre a significação (Bedeutung) e o sentido (Sinn) de
uma expressão – ver seu artigo “Über Sinn und Bedeutung”,
traduzido como “On Sense and Reference” (ou “On sense and
Meaning”) em Translations from the Philosophical Writings of
Gottlob Frege, por P. Geach e M. Black. Como Russell, Frege
acreditava que o significado de uma proposição resulta dos
significados das suas partes (embora funcionalmente, e não
como uma combinação literal, como em Russell), um princí-
pio que se aplica tanto ao sentido quanto à significação e que
ele expôs com tanta ênfase que é frequentemente denominado
“princípio de Frege”. Essa distinção entre dois elementos do
significado pode ser aplicada ao problema da barba de Platão:
uma expressão pode ser vazia, isto é, não ter significação, mas
ainda assim ser significativa, ou seja, ter sentido. Frege discute
esse ponto em um texto póstumo, “Further Remarks on Sense
and Meaning”, disponível na coletânea Posthumous Writings,
editada por H. Hermes et al., traduzida por P. Long e R. White.
(O leitor já deve ter percebido que há dificuldades na tradução
do termo Bedeutung: eu usei aqui “significação”; Geach e outros
alternaram entre o uso de “referência” e “significado” (meaning);
Russell traduzia Sinn por “significado” (meaning) e Bedeutung
por “denotação” (denotation); cada uma dessas opções reflete
o modo pelo qual o tradutor avalia o que Frege quer dizer com
sua teoria.)
Com a ideia de Frege de que uma proposição pode ser signi-
ficativa mas conter nomes vazios, estamos próximos de um
tratamento que vai ao encontro das nossas intuições. Mas não
está perfeitamente de acordo com a lógica clássica, que endossa
princípios que exigem que todo termo denote, em particular,
186
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 186 06/06/14 12:25
as regras de inferência da eliminação do universal e da intro-
dução do existencial. Três reações são possíveis: a de Russell,
em que todo nome genuíno denota um existente, e nomes que
não denotam devem ser eliminados; a de Platão, adotada em
tempos modernos por Alexius Meinong, em que todo nome é
realmente um nome e de fato denota, embora denote objetos
“além do ser e do não ser”; e a lógica livre, que faz uma revisão
da lógica clássica e permite termos que não denotam (vazios).
O tratamento de Meinong, apesar de amplamente criticado
(em grande medida pelos ataques de Russell, ataques direcio-
nados mais à sua teoria anterior do que à de Meinong), é uma
tentativa corajosa, e podemos aprender muito com ela, mesmo
se Russell estiver certo quando diz que, em última análise, ela
colapsa em inconsistências. O livro Meinong and the Principle
of Independence, de Karel Lambert, é uma discussão moderna
e não acadêmica.
O próprio Lambert, entretanto, é um autor e defensor da
lógica livre, uma lógica livre de pressupostos existenciais. Eu
não segui a distinção tradicional entre lógicas livres positivas,
negativas e neutras, mas antes contrastei lógica livre de domí-
nio externo com as não referenciais. Temo, contudo, que essa
caracterização seja anacrônica, pois lógicas livres (como, antes
delas, os sistemas modais) foram inicialmente apresentadas
como sistemas sintáticos sem uma semântica clara, e minha
distinção é semântica. Entretanto, acredito que agora lógicas
são mais habitualmente abordadas do ponto de vista semân-
tico – como deve ser, aliás. A lógica livre de domínio externo
compartilha com a lógica clássica, de Platão e Meinong, a crença
de que nomes vazios são vazios apenas no nome e que denotam
algo, embora algo que não exista. Mas é diferente no que diz
respeito aos quantificadores, que não varrem esses objetos não
existentes, mas apenas os objetos do domínio interno. Lógicas
livres não referenciais levam a sério a ideia de que nomes vazios
187
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 187 06/06/14 12:25
realmente não denotam. Mas a resposta da lógica livre neutra
(se é que houve uma tal resposta) a essa situação, de que todas
as proposições que contêm pelo menos um nome vazio não têm
valor de verdade, é insatisfatória. Algumas proposições sobre
objetos não existentes são verdadeiras: por exemplo, “Pégaso
nunca existiu”, “Rei Lear tinha três filhas”, “Ou Balerofonte
teve uma infância feliz ou não”; outras são falsas: por exemplo,
“Nausica realmente existiu”, “No fundo, Hamlet gostava de seu
tio”, “Pégaso era simultaneamente cinza e pardo”; e a outras
não podemos atribuir um valor de verdade (e não apenas por
falta de informações): por exemplo, “Pégaso era cinza”, “Lear
podia assoviar” etc.
O real problema para a lógica livre não referencial é o de
especificar as condições de verdade de proposições complexas
com nomes vazios. Adotar as matrizes fortes ou fracas de Kleene
torna difícil definir satisfatoriamente as noções de verdade lógica
e de consequência lógica. Usar o método das sobrevalorações
de Van Fraassen ameaça minar todo o projeto da lógica livre
ao validar as regras de eliminação do universal e introdução do
existencial nas suas formas clássicas. O artigo de Van Fraassen,
“Singular Terms, Truthvalue Gaps and Free Logic”, foi reim-
presso em Philosophical Applications of Free Logic, editado por
Karel Lambert, junto com muitos dos mais importantes artigos
sobre lógicas livres. A ideia de Peter Woodruff de combinar
sobrevalorações com as técnicas de domínios externos, não publi-
cada, é brevemente mencionada na contribuição de Ermanno
Bencivenga, “Free Logics”, ao Handbook of Philosophical Logic
III, editado por D. Gabbay e F. Guentner, um dos artigos mais
acessíveis nessa excelente, mas usualmente muito técnica, coleção
de quatro volumes.
Essa combinação de sobrevalorações com domínios externos
mostra quais seriam os valores de verdade de proposições com
nomes vazios se os nomes não fossem vazios e como as condições
188
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 188 06/06/14 12:25
de verdade de proposições complexas podem ser articuladas
nessa situação de valorações parciais. Mas terá essa abordagem
atingido o cerne do quebra-cabeças de Parmênides? “Outra [via],
para o que não é e, como tal, é preciso não ser, esta via afirmo-te
que é uma trilha inteiramente insondável; pois nem ao menos
se conheceria o não ente, pois não é realizável, nem tampouco
se o diria.”1 Teremos respondido a Parmênides ao reafirmar
calmamente a nós mesmos que podemos?
Nota
1
Laboratório OUSIA - UFRJ, disponível em <http://www.ifcs.ufrj.br/~fsantoro/
ousia/PARMENIDES%20I-VIII.rtf>, acesso em 20/04/2011.
189
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 189 06/06/14 12:25
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 190 06/06/14 12:25
6
Bem, então serei enforcado!
Os paradoxos semânticos
No romance de Cervantes, Dom Quixote faz seu servo Sancho
Pança governador da Ilha de Baratária. Como governador,
Sancho Pança se depara com muitos problemas. Na sua primeira
manhã lhe comunicam que é tarefa do governador presidir o
tribunal, e seu primeiro caso surgiu de uma lei sobre o uso de
uma ponte que leva de um bairro a outro. O proprietário havia
estabelecido o seguinte decreto:
Aquele que passar por essa ponte, de uma parte para a outra, há
de dizer primeiro, debaixo de juramento, onde vai e para que vai. Se
jurar a verdade, deixem-no passar, e se disser mentira, morra na forca
que ali está, sem remissão alguma.1
Essa lei funcionou durante anos até que um dia um homem
parou diante da ponte e declarou: “Pelo juramento que faço,
prometo que morrerei na forca que ali está, e que nada além disso
pretendo fazer.” Os guardiões da ponte se viram diante de um
dilema e foram perguntar ao governador o que deveriam fazer.
Pois se deixassem o homem passar, ele teria jurado falsamente
e mentido e, portanto, deveria ser enforcado. Mas se ele fosse
enforcado, ele teria dito a verdade e deveria ter tido a permissão
de passar pela ponte.
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 191 06/06/14 12:25
Sancho Pança gasta algum tempo apreciando o problema.
Pois a lei sobre a ponte funciona perfeitamente bem na maioria
dos casos, garantindo que apenas aqueles que verdadeiramente
revelam o que pretendem fazer terão permissão para passar por
ela. Certamente o proprietário do local tinha encontrado uma
maneira eficiente de garantir que bandidos e vagabundos não
pudessem passar por ali sem ser pegos. Entretanto, dessa vez,
nesse caso específico, a lei se enredou toda. Se alguém vai à ponte
e diz que está ali para morrer na forca, então o que quer que
seja feito com ele será errado segundo o decreto: deixá-lo passar
livremente significa que ele mentiu e deveria ter sido enforcado;
enforcá-lo significa que ele disse a verdade e deveria ter passado
livremente.
A primeira reação de Sancho Pança foi encontrar um modo de
simultaneamente deixá-lo passar e enforcá-lo; ele diz: “deveriam
deixar passar a parte do homem que disse a verdade, e enfor-
car a parte que fez um juramento falso; assim, as condições do
decreto serão plenamente atendidas.” Mas quando mostram para
ele que cortar o homem em dois de qualquer modo irá matá-lo
e, logo, torna impossível que uma parte dele passe livremente,
Sancho Pança apela a uma máxima de Dom Quixote segundo
a qual, quando a ação justa parece duvidosa para nós, deve-
mos agir com clemência. Assim, ele diz que deveriam deixar o
homem passar livremente. Na verdade, isso desobedece à lei e
a declara inoperante nesses casos. Em outras palavras, antes de
mais nada, a lei deveria ser formulada com mais cuidado, pois
era insatisfatória. Vejamos alguns outros casos para verificar se
essa solução é aplicável em geral.
Um dos paradoxos mais famosos foi narrado por Bertrand
Russell e diz respeito ao barbeiro de Tombstone. Um fato
aparentemente trivial acerca de Tombstone, diz Russell, é que lá
o barbeiro faz a barba de todos e somente daqueles homens que
não fazem a barba de si mesmos. Pois, certamente, os homens
que fazem a barba de si mesmos não precisam dos serviços do
barbeiro; e ninguém, além do barbeiro, iria fazer a barba de
todos os outros.
192
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 192 06/06/14 12:25
Mas então quem faz a barba do barbeiro? Se ele faz a barba
de si mesmo, então não é verdade que ele faz a barba somente
daqueles homens que não fazem a barba de si mesmos. Por outro
lado, se ele não faz a barba de si mesmo (se a esposa faz sua
barba, por exemplo), então não é verdade que ele faz a barba
de todos os homens que não fazem a própria barba.
A conclusão óbvia é que o barbeiro é uma mulher! Caso
contrário, a descrição do barbeiro de Tombstone é simples-
mente incorreta. Ela produz uma caracterização inconsistente
do barbeiro. Talvez ele faça a barba apenas de todos e somente
dos outros homens (que não ele mesmo) que não fazem a barba
de si mesmos. Mas não pode haver um homem em Tombstone
que faz a barba de todos e somente daqueles homens que não
fazem a barba de si mesmos.
O que nos é dado pelas histórias de Baratária e Tombstone são
paradoxos. Um paradoxo surge quando uma conclusão inacei-
tável é suportada por um argumento plausível cujas premissas
aparentemente podem ser aceitas. Ambas as conclusões, de que
o homem na ponte de Baratária deveria ser simultaneamente
enforcado e liberado para passar livremente pela ponte, e de
que o barbeiro de Tombstone deveria simultaneamente barbear
e não barbear a própria barba, são claramente inaceitáveis. Mas
ambas, não obstante, aparentemente se seguem validamente de
premissas que, à primeira vista, podem ser aceitas, a saber, a
promulgação de uma lei que governa os direitos daqueles que
passam pela ponte e uma descrição do barbeiro de Tombstone.
Em cada um desses casos, rejeitamos as premissas: a lei era
inaceitável e precisava ser revista; a descrição era incorreta e
também precisava ser revista.
Mas veremos que há outros casos que não permitem uma
rejeição tão simples das premissas. E se as premissas não podem
ser rejeitadas, e se, além disso, a conclusão se segue validamente
delas, estamos obrigados a aceitar a verdade da conclusão.
Temos, portanto, três reações diferentes diante de um paradoxo:
mostrar que se trata de uma falácia; ou que as premissas não são
193
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 193 06/06/14 12:25
todas verdadeiras; ou que a conclusão pode ser aceita. Vejamos
agora alguns exemplos desses paradoxos mais complicados.
Talvez o mais famoso dentre os casos mais difíceis seja o de
Epimênides, o cretense. Epimênides se sentia envergonhado pelos
seus compatriotas que, ele acreditava, sempre mentiam. Então
ele disse: “todos os cretenses são mentirosos.”
Mas ele também era um cretense: estaria então dizendo a
verdade? Se estivesse, então ele próprio estaria mentindo, pois
acabara de afirmar que todos os cretenses mentem e, portanto,
estaria dizendo uma falsidade. Em outras palavras, se supusermos
que ele estava dizendo a verdade, devemos concluir que ele estava
simultaneamente dizendo a verdade e não dizendo a verdade.
Mas isso é impossível. Logo, a suposição é falsa, isto é, ele não
estava dizendo a verdade.
Usamos acima o princípio de inferência reductio ad absurdum:
faça uma suposição, derive dessa suposição uma contradição
(ou um absurdo), e conclua, então, que a suposição inicialmente
feita tem de ser rejeitada, isto é, é falsa. Aqui, mostramos que
Epimênides estava mentindo, pois se estivesse dizendo a verdade,
seria verdadeiro que ele estava mentindo, o que é uma contradi-
ção. Logo, ele estava mentindo.
Mas, se ele estava mentindo, e considerando que todos os
outros cretenses haviam, de fato, mentido – isto é, o pessimismo
de Epimênides era justificado –, então ele estava de fato dizendo
a verdade, pois, novamente, isso (que todos os cretenses mentem)
foi o que ele disse. Logo, ele não estava mentindo, mas dizendo
a verdade. Mas isso é problemático, pois já vimos que ele estava
mentindo e agora mostramos que, se ele estava mentindo, então
estava dizendo a verdade. Aparentemente, portanto, Epimênides
estava, tanto mentindo quanto dizendo a verdade.
Vamos rever o argumento: se supusermos que Epimênides
estava dizendo a verdade, segue-se que ele estava mentindo e,
portanto, não estava dizendo a verdade. Logo, por reductio
ad absurdum, ele não poderia estar dizendo a verdade, isto é,
estava mentindo. Mas daí se segue que, posto que ele disse que
194
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 194 06/06/14 12:25
ele e os outros são mentirosos e, pela nossa suposição, os outros
são de fato mentirosos, Epimênides estava dizendo a verdade.
Parece, portanto, que podemos concluir que Epimênides estava
simultaneamente mentindo e dizendo a verdade.
Mas essa conclusão é com certeza inaceitável; logo, temos um
paradoxo novamente – uma conclusão inaceitável derivada de
premissas aparentemente razoáveis. Mas não conseguimos nos
livrar desse paradoxo tão facilmente quanto nos livramos dos
anteriores. Não podemos simplesmente inferir que Epimênides
não teria existido ou, caso tenha existido, que ele nunca disse
que todos os cretenses são mentirosos, pois é mencionado, por
exemplo, na epístola de Paulo a Tito (e por alguns fragmentos
mais antigos), que isso foi dito por Epimênides. E nem pode-
mos escapar do problema dizendo que Epimênides deve ter se
enganado, isto é, que sua afirmação é falsa, pois isso é parte
do paradoxo: se a afirmação é falsa, ele estava mentindo; logo,
dado que todos os outros cretenses haviam mentido, Epimênides
estava certo e dizendo a verdade.
O mesmo problema surge, dessa vez ampliado, na frase pessi-
mista dos Salmos 116:11: “Perplexo, eu dizia: todos os homens
são mentirosos.” Se um tal pessimismo fosse justificado, então
o autor da frase teria dito algo falso e, portanto, ele também
estaria mentindo, mas então estaria dizendo a verdade; e se o
que ele diz fosse verdadeiro, então ele também estaria mentindo
e, portanto, o que ele diz não seria verdadeiro. Logo, o que ele
disse é simultaneamente verdadeiro e falso – se, de fato, todos
os homens são mentirosos. O autor da frase certamente tinha
razões para estar perplexo.
Bertrand Russell conta uma história ótima sobre G. E. Moore:
Ele tinha uma espécie de delicada pureza. Apenas uma vez consegui
fazê-lo dizer uma mentira e, mesmo assim, por meio de um subter-
fúgio. “Moore”, eu disse, “você sempre fala a verdade?” “Não”, ele
respondeu. Creio que essa foi a única mentira que ele disse na vida.
195
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 195 06/06/14 12:25
Mas será que Russell não está sendo dissimulado aqui? Se
Moore de fato nunca havia mentido, então sua resposta teria
de ser uma mentira. Mas, se é mentira que ele algumas vezes
mente, então aquela resposta, ela própria, deveria ser verdadeira.
Portanto, aquela não poderia ter sido sua única mentira.
A hierarquia da verdade
Talvez o caso mais simples em que esse paradoxo surge seja
o chamado paradoxo do mentiroso,
A proposição expressada por esta sentença é falsa.
A proposição diz dela mesma que ela é falsa. Suponha que ela
seja verdadeira. Nesse caso, ela seria falsa, pois o que ela diz de si
mesma é que ela é falsa. Isto é, se ela é verdadeira, então é falsa.
Por outro lado, se ela for falsa, ela é verdadeira, pois ela diz de
si mesma justamente que ela é falsa. Logo, se toda proposição
é ou verdadeira ou falsa, segue-se que ela é simultaneamente
verdadeira e falsa.
Poderíamos pensar, portanto, que seria possível evitar esse
paradoxo em particular inferindo que a proposição em questão
não é verdadeira nem falsa. Talvez seja o caso de que algumas
proposições não são verdadeiras nem falsas. Por exemplo, pode-
ríamos considerar que “o atual reitor de St. Andrews é um bom
ciclista” não é nem verdadeira nem falsa, pois St. Andrews não
tem mais reitores.
Mas essa saída não funciona com todos os paradoxos.
Considere a proposição:
Esta proposição não é verdadeira.
Novamente, suponha que ela fosse verdadeira. Então, o que ela
diz é o caso, isto é, ela não é verdadeira. Logo, se a proposição
for verdadeira, ela não será verdadeira. Mas se supusermos
que ela não é verdadeira, então ela deverá ser verdadeira, pois
é isso o que a proposição diz. Logo, se a proposição não for
196
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 196 06/06/14 12:25
verdadeira, então ela será verdadeira. Mas certamente ela deve
ser ou verdadeira ou não verdadeira e, portanto, ela deve ser
simultaneamente verdadeira e não verdadeira.
Note que acima não usamos a lei da bivalência, segundo a
qual toda proposição ou é verdadeira ou falsa. Mas usamos a lei
do terceiro excluído, segundo a qual, ou uma dada proposição,
ou sua contraditória, é verdadeira, isto é, que toda proposição
ou é verdadeira ou não é verdadeira.
Existem várias maneiras de negar o terceiro excluído. Vamos
explorar uma delas. Poderíamos concordar que toda sentença
com significado expressa uma proposição que é verdadeira ou
falsa. Mas, se uma sentença não tem significado, então ela de
fato não tem significado e, portanto, não irá expressar uma
proposição verdadeira, ainda que aparentemente as coisas sejam
do modo que tal proposição diz que são. No nosso caso, parece
que a sentença diz que a proposição que ela expressa não é verda-
deira. Se a sentença não tem significado, então ela não expressa
uma proposição verdadeira. Mas isso não nos autoriza a inferir,
posto que ela diz que não expressa uma proposição verdadeira,
que, no final das contas, ela expressa uma proposição verdadeira.
O que realmente precisamos para que essa seja uma solução
convincente é um tratamento adequado da noção de significado
em relação ao qual sejam claras as razões pelas quais a sentença
“esta proposição não é verdadeira” não tem significado. Pois
é certo que tal sentença parece ter significado – nós sabemos o
que ela significa, a saber, que a proposição por ela expressada
não é verdadeira. Além disso, se ela não tem significado, então
certamente não pode expressar uma proposição verdadeira.
Portanto, presumivelmente, podemos dizer que essa sentença
não expressa uma proposição verdadeira. Por que não podemos
usar a própria sentença para dizer que ela não expressa uma
proposição verdadeira? Esse ponto é problemático e é algumas
vezes denominado “o problema da revanche”. Sustenta-se que a
proposição “esta proposição não é verdadeira” não é verdadeira,
ainda que isso seja exatamente o que ela diz – o que há de errado
197
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 197 06/06/14 12:25
então? A resposta é a seguinte: a sentença que pretende dizer que
tal proposição não é verdadeira é sem significado e, por isso,
não expressa uma proposição verdadeira. Mas por quê? Qual
seria o tratamento da noção de significado que irá, de modo
convincente, mostrar que essa sentença não tem significado?
Estamos diante de um argumento negativo: se a sentença tivesse
significado, estaríamos diante de um paradoxo. Mas qual seria
o tratamento positivo da noção de significado que explicaria o
fato de tal sentença não ter significado?
Aqui temos mais um paradoxo (chamado mentiroso fortale-
cido) que enfatiza esse ponto:
Esta sentença ou expressa uma proposição falsa ou não
tem significado.
Se a proposição expressada fosse verdadeira, ou ela seria falsa,
ou a sentença não teria significado; logo, ela não seria verda-
deira. Portanto, ela não pode ser verdadeira. Se a proposição
expressada fosse falsa, ela não seria falsa e teria significado;
logo, ela seria verdadeira. Portanto, ela não pode ser falsa. Se
a sentença não tivesse significado, aparentemente a proposição
diria justamente isso, que ela é sem significado (ou expressa
uma proposição falsa); logo, aparentemente seria verdadeira
e, nesse caso, não seria uma sentença sem significado (pois
uma sentença verdadeira tem significado). Portanto, aparen-
temente, também não é uma sentença sem significado.
Qual seria o tratamento da noção de significado que pode-
ria mostrar que essas sentenças paradoxais não têm significado
– e por que – e produzir um tratamento geral e aceitável do
significado de sentenças não paradoxais?
Uma ideia é que o que está presente em todos esses casos
paradoxais é a autorreferência. Temos sentenças, ou viajantes,
ou cretenses, que referem-se a si mesmos. Quando apresen-
tamos a sentença “a proposição expressada por esta sentença é
falsa”, somos instados a explicar de qual sentença se trata. Mas,
quando fazemos isso, constatamos que a explicação é circular.
198
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 198 06/06/14 12:25
Começamos dizendo “...esta sentença...” e somos interrompi-
dos pela pronta questão “que sentença?”; “...esta sentença...”,
repetimos, e novamente somos questionados “que sentença?”,
e assim por diante.
Esse tratamento da noção de significado desobedece à segunda
condição que estabelecemos no fim do parágrafo anterior. Pois
ela exclui sentenças não paradoxais aparentemente aceitáveis,
ao considerá-las sentenças sem significado, mas não apresenta
uma justificativa plausível para isso, além de ser possivelmente
bem-sucedida em excluir as sentenças paradoxais. Mas isso não
vai funcionar – pois é certo que Epimênides pode se referir a si
mesmo, por exemplo, se ele quiser dizer o seu nome a alguém,
ou dizer que está com fome e precisa comer alguma coisa. E até
mesmo sentenças podem legitimamente se referir a si mesmas,
por exemplo, o adesivo na traseira do carro que diz “se você
pode ler isto, está próximo demais”.
Portanto, o problema não pode ser apenas a autorreferência.
Antes, a causa dos paradoxos parece ser a combinação de autor-
referência com falsidade, em que ser falso – ou algo análogo – é
predicado da proposição expressada pela própria sentença, ou
dizer que algo é verdadeiro ou falso é predicado do próprio
falante, e assim por diante. Na verdade, será bastante difícil
explicar o que é incluído na expressão acima “e assim por diante”
de modo a garantir que estejam sendo incluídos todos os casos
que levam a paradoxos. Temos um exemplo talvez inesperado.
Considere o argumento:
1=1
Logo, este argumento é inválido.
(Esse é um argumento de uma premissa apenas, e a premissa
é necessariamente verdadeira; a conclusão é que o próprio
argumento é inválido.) O argumento acima é um paradoxo
autorreferencial, embora não mencione verdade nem falsidade.
Pois podemos argumentar: se o argumento é válido, então ele
tem uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa. Mas todos
199
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 199 06/06/14 12:25
os argumentos com premissas verdadeiras e conclusão falsa são
inválidos (pois a validade garante justamente que se a premissa
for verdadeira, a conclusão também será verdadeira). Logo, se
o argumento for válido, ele será inválido. Portanto, ele deve ser
inválido. Mas, ao mostrarmos que ele é inválido, nos baseamos
no fato que “1 = 1” é verdadeira; isto é, deduzimos que ele é
inválido a partir da afirmação que 1 = 1. Mas isso é justamente
o que o argumento diz que pode ser feito. Logo, ele deve ser
válido. Por conseguinte, o argumento é simultaneamente válido
e inválido!
Dizemos que argumentos são válidos ou inválidos, assim
como dizemos que proposições são verdadeiras ou falsas.
Portanto, devemos ser cuidadosos ao afirmar ou negar a validade
de argumentos autorreferenciais. E, sem dúvida, isso se aplica
também a outros conceitos. Desse modo, para que esse caminho
produza uma solução, nós precisamos caracterizar, em termos
gerais, conceitos semânticos, conceitos relacionados às noções
de verdade, significado, validade etc.
A maioria das sentenças não menciona verdade ou falsi-
dade (ou validade, ou conceitos semânticos em geral). Vamos
chamar tais sentenças de sentenças básicas. Outras sentenças
predicam verdade ou falsidade (e outros conceitos) das propo-
sições expressas pelas sentenças básicas; vamos chamar essas
sentenças de “sentenças de nível 1”. Há ainda outras sentenças
que predicam verdade ou falsidade das proposições expressas
pelas sentenças do nível 1; vamos chamá-las de sentenças de
nível 2 – e assim por diante, com sentenças em todos os níveis.
Essa construção tem origem no trabalho de Alfred Tarski. Ele
considerou que a cada nível corresponde uma determinada
linguagem, de modo que o nível 1 é a metalinguagem do nível
0, o nível 2 é a metalinguagem do nível 1, e assim por diante.
Chamamos isso de “hierarquia de Tarski”.
A restrição que evita o paradoxo é a seguinte: uma sentença
pode predicar verdade ou falsidade apenas das proposições
expressadas por sentenças do nível inferior a ela própria. As
200
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 200 06/06/14 12:25
sentenças paradoxais não obedecem a essa restrição ao predi-
car verdade ou falsidade de proposições expressadas por elas
mesmas, isto é, de sentenças do seu próprio nível. Qualquer
sentença que desobedeça a essa restrição é rejeitada como sem
significado. Embora a sentença “a proposição expressa por
esta sentença é falsa ou a sentença não tem significado” pareça
expressar uma proposição verdadeira, se supusermos que ela não
tem significado, esse não é o caso. Segundo esse tratamento da
noção de significado, tal sentença não tem significado porque
pretende dizer que a proposição por ela mesma expressada é
falsa ou sem significado. Qualquer aparência em contrário é
apenas uma confusão conceitual que surge devido a um desco-
nhecimento das complexidades que envolvem a predicação de
verdade e falsidade.
Desse modo, estamos diante de uma hierarquia de sentenças
que pretende ser uma solução para os paradoxos. Cada sentença
tem um nível, embora muitas vezes não saibamos qual é esse
nível. No caso de essa concepção estar correta, se Epimênides
tivesse percebido que seu proferimento “todos os cretenses são
mentirosos” não tinha significado, ele poderia ter dito “todos
os cretenses até o presente momento foram mentirosos”. Mas,
sem saber em detalhe quão frequentemente os cretenses haviam
proferido proposições verdadeiras ou falsas, ou de que modo tais
proferimentos se referiam a outros proferimentos, Epimênides
não saberia que nível atribuir ao seu próprio proferimento.
Ele poderia constatar, entretanto, que mesmo uma afirmação
em princípio correta poderia ser sem significado – por exemplo,
se outro cretense dissesse, ao mesmo tempo, que Epimênides
era o único entre eles que sempre disse a verdade. Pois, nesse
caso, haveria uma autorreferência (indireta), desconhecida
por Epimênides. Na Idade Média, os paradoxos mais comuns
relatavam Platão afirmando que tudo o que Aristóteles diz é
verdadeiro, enquanto Aristóteles afirmava que tudo o que Platão
diz é falso. (Por exemplo, suponha que Aristóteles, ouvindo mal
Platão, ache que ele disse “o que Aristófanes diz é verdadeiro” – e
201
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 201 06/06/14 12:25
Aristóteles tente, então, rejeitar essa afirmação; mas Platão, na
verdade, se referiu a Aristóteles.) Então, se Platão falou a verdade,
Aristóteles também o fez; e, assim, o que Platão disse é falso.
Mas, se o que Platão disse é realmente falso, o que Aristóteles
disse também é falso e, portanto, Platão está falando a verdade.
Novamente, temos um caso de autorreferência – apesar de indi-
reta – levando a um paradoxo.
A proposta apresentada proibiria esse tipo de circularidade.
Qualquer que seja o nível do proferimento de Platão, ele pode
estar apenas falando dos proferimentos de Aristóteles feitos em
um nível mais baixo, e os proferimentos de Aristóteles, por sua
vez, também podem se referir apenas a proferimentos de um
nível mais baixo, logo não podem se referir ao proferimento de
Platão acerca de Aristóteles.
Entretanto, o que é problemático é que frequentemente a
complexidade plena do que está ocorrendo pode nos passar
despercebida. Tal incerteza levaria Epimênides ao erro se, como
sugerimos, outro cretense tivesse expressado sua crença de que
Epimênides fala sempre a verdade.
Portanto, uma consequência de tentar impor uma tal ordem
às nossas atribuições de verdadeiro e falso a proposições é
que essas atribuições podem ter propriedades que escapam à
investigação. De fato, podemos não ser capazes de afirmar que
nossos proferimentos tenham ou não significado. Considere o
caso de Epimênides. Ele pensou ter expresso uma proposição
inteligível. Aqueles que o ouviram também consideraram a
proposição inteligível e relataram que Epimênides disse que todos
os cretenses eram mentirosos. Mas, se algum outro cretense, por
exemplo, ao mesmo tempo tivesse falado “Epimênides sempre
diz a verdade” – ele próprio achando que seu proferimento tem
significado –, então, de acordo com a hierarquia de Tarski, eles
estariam ambos enganados, mas não acerca da verdade do que
haviam falado e sim de pensarem ter falado algo com significado.
O significado de um proferimento seria sempre apenas uma
202
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 202 06/06/14 12:25
conjectura. Poderíamos achar que Epimênides tinha dito algo
com significado, mas poderíamos estar enganados. Essa é uma
consequência muito estranha.
Existe outra característica inquietante na proposta de Tarski.
Nenhuma razão foi efetivamente apresentada para justificar
por que a atribuição de conceitos semânticos na presença da
autorreferência resulta na ausência de significado. Parece que
isso leva a uma contradição – sabemos disso; e, ao considerar
que tais sentenças não têm significado, posto que sentenças sem
significado não expressam proposições verdadeiras nem falsas,
evitamos a contradição. Pois, se afirmamos seriamente, por
exemplo, que “a proposição expressada por esta sentença não é
verdadeira” não tem significado e, portanto, não expressa uma
proposição verdadeira, então ela de fato é sem significado e não
diz de si mesma que não é verdadeira – sendo sem significado,
ela não diz coisa alguma, apesar de aparentemente dizer alguma
coisa. Mas por quê?
Vimos no Capítulo 5 que é plausível supor que o significado
de uma sentença resulta do modo pelo qual ele é composto pelos
significados das partes da sentença, e assim podemos explicar
como somos capazes de compreender e produzir novas sentenças
que antes nunca ouvimos, nem proferimos. Um corolário dessa
tese é que, se uma sentença é corretamente composta de partes
com significado, então ela própria também tem significado.
A presente proposta nega isso. A técnica, em geral correta, de
predicar “não é verdadeira” de um termo que se refere a uma
proposição resulta, nesse caso em particular, em ausência de
significado. Mas isso é um argumento ad hoc, que não fornece
qualquer explicação para a ausência de significado. Simplesmente
descrever o caso como sendo de uma autopredicação de falsidade
não é explicação alguma.
203
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 203 06/06/14 12:25
Contradições verdadeiras
Vimos que podemos evitar o paradoxo de três maneiras
diferentes: negando as premissas em princípio plausíveis; acei-
tando a conclusão aparentemente implausível; ou negando que
a conclusão se segue das premissas. Claramente, a proposta que
nós aqui consideramos, como no caso do paradoxo do barbeiro
e a solução ao problema do Sancho Pança, é um ataque às
premissas – negar, por exemplo, que Epimênides tenha de fato
proferido uma proposição com significado ao dizer que todos
os proferimentos dos cretenses eram falsos. Mas esse tipo de
solução fracassou. Vamos ver agora, então, se, enfrentando o
problema de frente, isto é, explorando a possibilidade de aceitar
que a conclusão paradoxal seja de fato verdadeira, podemos
encontrar uma solução melhor. Veremos que, ao buscar uma
solução desse tipo, encontramos outro poderoso paradoxo que,
na verdade, nos impele a revisar a lógica que adotamos.
Essa solução para os paradoxos sustenta que eles mostram
exatamente aquilo que parecem mostrar, a saber, que algu-
mas contradições devem ser aceitas. Algumas proposições são
realmente paradoxais, são realmente verdadeiras e falsas. Por
exemplo, devemos aceitar que o proferimento de Epimênides
é simultaneamente verdadeiro e falso, assim como para os
outros exemplos. Note que isso ainda não é uma contradição.
Mas uma proposição é falsa quando sua negação é verdadeira.
Assim, tanto “todos os cretenses são mentirosos”, proferida por
Epimênides, quanto sua contraditória, “nem todos os cretenses
são mentirosos”, são verdadeiras. Logo, a conjunção dessas
sentenças é verdadeira e temos, assim, uma contradição. Note
também que, segundo essa proposta da falsidade de uma propo-
sição, não podemos inferir que tal proposição não é verdadeira,
pois ela pode ser simultaneamente verdadeira e falsa.
Entretanto, é claro que essa solução será razoável somente
se ela não nos forçar a aceitar contradições demais. Qualquer
tratamento dos paradoxos que implicar, por exemplo, que a
proposição “a neve é negra” é verdadeira será inaceitável. O
204
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 204 06/06/14 12:25
problema é que se aceitamos a conclusão de qualquer um dos
paradoxos, em princípio, teremos que aceitar também que a neve
é negra. Posto que “a neve é negra” é falsa, teremos assim um
outro paradoxo. Pois agora, além daquelas poucas proposições
autorreferenciais, teremos um número demasiado grande de
proposições simultaneamente verdadeiras e falsas.
Aqui está a prova. Considere que o proferimento de
Epimênides é simultaneamente verdadeiro e falso. Então, em
particular, é verdadeiro que todos os cretenses são mentirosos.
Logo, todos os cretenses são mentirosos ou a neve é negra. Mas
também, por hipótese, o proferimento de Epimênides é falso,
logo, nem todos os cretenses são mentirosos. Posto que, ou todos
os cretenses são mentirosos, ou a neve é negra, concluímos que
a neve é negra.
Como podemos evitar esse novo paradoxo, de que a neve é
negra, obtido quando optamos por aceitar as conclusões dos
paradoxos iniciais? Não podemos, é certo, aceitar que a neve é
negra. Pois, se pretendemos seriamente aceitar que Epimênides
tenha dito algo simultaneamente verdadeiro e falso, isto é, que
é verdade que todos os cretenses são mentirosos e que também
é verdade que nem todos os cretenses são mentirosos, como o
paradoxo inicial parece mostrar, devemos então encontrar razões
para rejeitar a validade do argumento que concluiu que a neve
é negra da premissa de que todos os cretenses são mentirosos e
nem todos os cretenses são mentirosos.
Vimos no Capítulo 2 que esse tipo de inferência, que de uma
proposição e sua contraditória conclui qualquer outra propo-
sição arbitrária, foi rejeitada, por razões diversas, por vários
lógicos. Seu nome é ex falso quodlibet – do falso (ou de uma
contradição), tudo se segue. Uma consequência de admitir esse
modo de inferência é que qualquer um que, por engano, sustente
crenças contraditórias, estará comprometido também com a
verdade de quaisquer outras proposições. Mas parece claro que
alguém poderia acreditar que Cícero escreveu De Lege Manilia,
mas que Túlio não o fez, sem reconhecer, na verdade, tratar-se
de uma mesma pessoa, sem que por isso ficasse comprometido
205
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 205 06/06/14 12:25
a acreditar que a neve é negra. Além disso, devemos aceitar que
estamos logicamente comprometidos a aceitar as consequências
lógicas de nossas crenças, posto que é desse modo que podemos
ser levados a alterá-las.
Se esse modo de inferência for de fato inválida, o que a faz
parecer tão plausível? Argumentei no Capítulo 2 que a razão é
que o “ou” é ambíguo. Em um sentido, “ou” permite o passo
de A para “A ou B”, por exemplo, de “todos os cretenses são
mentirosos” para “todos os cretenses são mentirosos ou a neve é
negra”. Mas é um sentido bastante diferente do “ou” que permite
o passo de “A ou B” e “não-A” para B, a saber, o sentido do
“ou” em que “A ou B” significa o mesmo que “se não-A então
B”. Por exemplo, “todos os cretenses são mentirosos ou a neve
é negra” pode significar “se nem todos os cretenses são menti-
rosos, então a neve é negra” e, claramente, desta última, dado
que “nem todos os cretenses são mentirosos”, podemos inferir
“a neve é negra”. Mas “todos os cretenses são mentirosos” não
implica “se nem todos os cretenses são mentirosos, então a neve
é negra”. Portanto, o argumento comete a falácia do equívoco
ou ambiguidade – a proposição “todos os cretenses são menti-
rosos ou a neve é negra” exibe uma ambiguidade no sentido do
“ou”. Considerada em um sentido, ela se segue da premissa de
que todos os cretenses são mentirosos, mas dela não se segue a
conclusão obtida (mesmo com a “informação” adicional de que
nem todos os cretenses são mentirosos). Considerada no outro
sentido, ela implica a conclusão de que a neve é negra (dada a
outra premissa, de que nem todos os cretenses são mentirosos),
mas nesse caso ela não se segue das premissas.
Entretanto, mesmo que encontremos uma solução para evitar
o primeiro problema, rejeitando a correção do ex falso quodlibet,
não estamos ainda em uma situação completamente segura. Pois
outro paradoxo surge se admitirmos predicações de verdade
autorreferenciais. Considere a proposição
206
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 206 06/06/14 12:25
Se esta (proposição) condicional é verdadeira, então a
neve é negra
na qual a frase “esta (proposição) condicional” se refere à
condicional inteira. Lembre-se que a proposta que estamos
considerando agora não rejeita tais proposições autorreferenciais
considerando-as como sem significado – como faz a abordagem
da hierarquia. Diferentemente, a atual proposta tenta assimilar
as consequências de permitir a predicação autorreferencial de
verdade e falsidade, como, por exemplo, considerar o proferi-
mento de Epimênides simultaneamente verdadeiro e falso. Mas
considere o seguinte argumento acerca da condicional acima.
Suponha que ela seja verdadeira. Assim, ela tem um antece-
dente verdadeiro (a primeira cláusula) e, então, pela inferência
modus ponendo ponens (de A e “se A, então B”, inferir B),
ela deve ter um consequente verdadeiro (a segunda cláusula).
Isto é, se a condicional é verdadeira, a neve é negra. Mas isso é
justamente o que a proposição diz. Em outras palavras, mostra-
mos que a condicional é verdadeira. Mas então o antecedente
da condicional é verdadeiro. Devemos concluir, portanto, por
modus ponendo ponens, que o consequente é verdadeiro, mas
agora não mais sob a hipótese de que a condicional é verdadeira,
pois já provamos que ela é verdadeira. Concluímos, então, que a
neve é negra. Primeiro mostramos que a condicional é verdadeira
e, depois, que daí se segue imediatamente que a neve é negra.
Esse tipo de paradoxo é conhecido como paradoxo de Curry,
em homenagem ao lógico Haskell B. Curry, que o descobriu em
torno de 1940.
Portanto, se pretendemos admitir os paradoxos, devemos
não apenas rejeitar o argumento de que, dada uma proposição
simultaneamente verdadeira e falsa, prova que a neve é negra,
mas também o argumento que prova que a condicional acima
é verdadeira e, mais uma vez, conclui que a neve é negra. Por
conseguinte, essa proposta que pretende admitir os paradoxos
exige uma revisão considerável na nossa lógica. (De passagem,
207
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 207 06/06/14 12:25
note a similaridade entre esse último paradoxo e o paradoxo
do argumento “1 = 1, logo, este argumento é inválido”; um
argumento é válido se e somente se a correspondente condi-
cional é necessariamente verdadeira, portanto, o argumento
se transforma na proposição condicional “se 1 = 1, então esta
proposição (condicional) é falsa”, cuja contraposição, grosso
modo, é “se esta proposição é verdadeira, então 1 ≠ 1” ou,
na alternativa igualmente problemática, “se esta proposição é
verdadeira, então a neve é negra”.)
Um princípio lógico que está implícito no argumento acerca da
condicional e que já foi questionado é o de que duas aplicações de
2
um pressuposto em um argumento podem ser reduzidas a uma.
Esse princípio é algumas vezes denominado “contração” ou
“absorção”. Pois, uma vez assumido que a condicional é verda-
deira, aplicamos esse pressuposto duas vezes. A primeira, como
premissa da condicional maior, obtendo a menor. A segunda,
como premissa da condicional menor, concluindo então que a
neve é negra. Mas consideramos esse pressuposto apenas uma
vez quando concluímos que, se a condicional é verdadeira, então
a neve é negra. Se fôssemos tornar explícito o uso duplicado do
pressuposto, obteríamos
Se a condicional é verdadeira, então se a condicional é
verdadeira, então a neve é negra,
que não é a condicional. Assim, o argumento não funciona mais.
Seria possível, entretanto, bloquear a derivação do paradoxo
de Curry sem rejeitar completamente o princípio da contração?
Pois fazer isso teria como consequência imprevista que argu-
mentos que já vimos, como o de Eubulides, que foram construí-
dos como provas de que algumas contradições são verdadeiras,
não mais funcionariam. Eles procedem por reductio; por
exemplo, se o mentiroso fortalecido for verdadeiro, então não
é verdadeiro e, portanto, não é verdadeiro; mas posto que não
é verdadeiro, deve ser verdadeiro; logo, é simultaneamente
verdadeiro e não verdadeiro – contradição. O reductio, por sua
208
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 208 06/06/14 12:25
vez, é intimamente relacionado à contração. Sua forma básica
é a chamada consequentia mirabilis, “se A então não-A, então
não-A”. Mas “não-A” é equivalente a “se A, então o absurdo”
(“0 = 1” ou qualquer outra proposição inaceitável, “a neve é
negra”, talvez). Logo, consequentia mirabilis pode ser expandido
em “se A, então se A, então 0 = 1; logo, se A, então 0 = 1”, o
que é uma instância da contração. Em outras palavras, temos
um dilema: se aceitamos a validade da contração, o paradoxo de
Curry nos leva à trivialidade, à conclusão de que toda proposição
é verdadeira. Mas, se rejeitamos a contração, quaisquer que sejam
as razões oferecidas para rejeitá-la provavelmente irão resultar
na rejeição, tanto da reductio, quanto da consequentia mirabilis.
Mas, nesse caso, nenhum dos argumentos que leva a paradoxos
funciona, e não haverá razão alguma (pelo menos do ponto
de vista dos paradoxos semânticos) para supor que quaisquer
contradições sejam verdadeiras. Esse é um resultado estranho e
inesperado para a proposta de simplesmente aceitar o resultado
dos paradoxos semânticos como contradições a serem admitidas.
No fim das contas, a ideia de que algumas contradições
são verdadeiras não funciona. Pois o paradoxo de Curry
mostra que, a menos que alguém deseje revisar drasticamente
a lógica de base, obterá uma teoria da verdade na qual toda
proposição, por mais absurda que seja, será verdadeira. Por
outro lado, se alguém faz a opção de ajustar a lógica de base,
as provas originais da existência de contradições verdadeiras
não funcionam mais. Além disso, as provas famosas da não
enumerabilidade dos números reais e do teorema de Gödel,
que dependem essencialmente da formulação dos paradoxos,
também não irão mais funcionar. (Veremos no Capítulo 8 o
argumento diagonal de Cantor – que mostra que não é possível
fazer uma lista infinita de todos os decimais infinitos entre 0
e 1, por exemplo –, que foi a base de toda uma nova matemá-
tica dos chamados números “transfinitos” no fim do século
19. A prova do teorema da incompletude de Gödel, de 1931,
que discutimos no Capítulo 2, segundo a qual as verdades da
209
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 209 06/06/14 12:25
aritmética não podem ser completamente capturadas por um
conjunto efetivo de axiomas, desencadeou pesquisas na área
da computabilidade que eventualmente levaram à teoria do
computador digital.) O mais importante, entretanto, é que a
objeção de estarmos procedendo ad hoc, aplicada à tentativa
anterior de considerar as sentenças paradoxais sem significado,
pode também ser aplicada aqui. Pois não demos razão alguma
para rejeitar o reductio ad absurdum e o princípio da contração
além do fato de que eles inviabilizam a existência de contradições
verdadeiras. Compare essa situação com aquela em que inferimos
B de “A e não-A”. Nessa última, explicamos o erro apontando
para uma ambiguidade no sentido do “ou” que, caso tivesse sido
percebida por si mesmo, teria mostrado de modo independente
que o respectivo argumento é inválido. Nenhuma explicação
similar está disponível no nosso caso.
Fechamento semântico
Tentar aceitar a conclusão dos argumentos paradoxais e
acatar as contradições foi uma boa ideia que não deu certo.
Regimentar a linguagem em uma hierarquia, uma linguagem-
-objeto e uma série de metalinguagens, também parecia uma boa
ideia, mas não é intuitivamente plausível. Como uma terceira
possibilidade, vejamos até onde podemos ir assumindo um
fechamento semântico, isto é, uma linguagem que contenha seu
próprio predicado-verdade. Evitamos o paradoxo ao separar as
condições de verdade das condições de falsidade, como fazem
os que defendem que há contradições verdadeiras. Isto é, vamos
voltar à ideia de rejeitar a bivalência, mas evitando, ao mesmo
tempo, o paradoxo do mentiroso fortalecido.
Essa ideia, que foi apresentada de modo bastante interessante
por Saul Kripke em meados dos anos de 1970, teve um grande
impacto no ambiente lógico e filosófico da época e motivou
vários trabalhos formais. Em essência, a proposta é bastante
simples. Seus detalhes técnicos podem ser omitidos aqui (apesar
210
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 210 06/06/14 12:25
de serem indispensáveis para uma articulação adequada da
proposta de Kripke). A ideia é imitar a hierarquia de Tarski,
mas com a diferença de que expandimos a linguagem a cada
passo, incluindo, em cada nível, o nível anterior. Cada “metalin-
guagem” contém, como uma parte, a linguagem-objeto. Assim
como na teoria de Tarski, p em “S é verdadeira se e somente se
p” é substituída pela mesma proposição que é designada pela
sentença que substitui S. O sucesso do método depende de dois
fatos: primeiro, que eventualmente alcançamos um ponto a
partir do qual a expansão não possa mais prosseguir – no qual
a “metalinguagem” não contenha atribuição de verdade alguma
além das que ocorrem na “linguagem-objeto” que ela pretendia
expandir; em outras palavras, alcançamos fechamento semântico.
Em segundo lugar, que o predicado-verdade seja uma valoração
parcial (vimos essa noção no Capítulo 5), e assim as proposi-
ções paradoxais não recebam um valor nesse ponto, chamado
“ponto fixo”, o ponto no qual a expansão para. A resposta de
Kripke a Tarski, portanto, é a de que podemos obter fechamento
semântico e simultaneamente preservar consistência, desde que
sejamos cuidadosos.
Como o ponto fixo é construído e como sabemos que ele
existe? Vamos começar por baixo, como uma linguagem
como a nossa, mas na qual o predicado-verdade não tenha
sido ainda interpretado. A interpretação que vamos obter
será parcial, portanto, precisamos tratar verdade e falsidade
separadamente, pois falso não será apenas não verdadeiro. A
interpretação do predicado-verdade V será um par <S1, S2>, S1
contendo as proposições que são verdadeiras, e S2 as falsas.
Quando começamos, S1 e S2 são vazios. Agora, nesse primeiro
estágio, adicionamos a S1 todas as verdades da nossa lingua-
gem (“a neve é branca”, “Cícero denunciou Catiline” etc.) e
a S2 todas as falsidades (“a neve é negra”, “César morreu na
sua cama e em paz” etc.). A interpretação é parcial, pois algu-
mas proposições não receberão valor algum (por exemplo, “‘a
neve é branca’ é verdadeira”), pois nesse estágio da valoração
211
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 211 06/06/14 12:25
o predicado-verdade não está interpretado. Precisamos, então,
de alguma maneira, avaliar proposições compostas por propo-
sições às quais eventualmente não se tenha ainda atribuído um
valor. Vimos três métodos no Capítulo 5, a saber, as matrizes
fraca e forte de Kleene, e as sobrevalorações de Van Fraassen.
Qualquer uma dessas opções irá funcionar, mas Kripke usa as
matrizes fracas de Kleene.
O que fizemos foi alterar a interpretação do predicado-
-verdade. Assim, quando repetimos o procedimento, iremos
expandir S1 e S2. No segundo estágio, S1 conterá tudo o que
já continha antes mais aquilo que resulta da interpretação do
predicado V no primeiro estágio. Por exemplo, “‘a neve é branca’
é verdadeira” agora será incluída em S1, pois “a neve é branca”
estava no estágio 1. Aplicando esse procedimento sucessiva-
mente, expandimos S1 e S2.
O procedimento de construir o ponto fixo, na verdade,
depende de indução transfinita. Veremos a noção de iteração
transfinita somente no Capítulo 8, junto do conceito de infinito.
Mas a ideia, em princípio, é simples. Começamos com um caso
base – a interpretação de V era vazia. Procedemos, então, recur-
sivamente ou sucessivamente, construindo valorações parciais,
uma para cada nível finito. O primeiro nível transfinito é a
coleção das interpretações de S1 e S2 em todos os níveis finitos.
Feito isso, podemos começar de novo (do mesmo modo que
faz Cantor em sua construção de pontos de acumulação, como
veremos no Capítulo 8). O procedimento tem três componentes:
o caso base, o caso dos sucessores e a coleção de todos os pontos
limites. Esse processo ameaça não ter fim.
Entretanto, tal processo não pode prosseguir indefinidamente.
E esse é o resultado no qual se baseia a proposta de Kripke. Em
algum ponto, a reinterpretação de V não acrescentará mais nada.
Esse é um caso especial do famoso resultado do ponto fixo de
funções normais sobre os ordinais. Uma função normal é uma
função monotônica, crescente e contínua. <S1 e S2> ≦ <S1’ e S2’>
se e somente se S1 ⊆ S1’ e S2 ⊆ S2’, isto é, S1 está incluído em S1’ e
212
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 212 06/06/14 12:25
S2 em S2’, isto é, tudo que está em S1 está também em S1’ e talvez
algumas coisas mais, e o mesmo para S2. Portanto, <S1’, S2’> é
mais inclusivo (interpreta mais coisas) do que <S1, S2>. Considere
que j representa a operação de expandir <S1, S2> por meio das
verdades e falsidades da linguagem na qual o predicado V é
interpretado por <S1, S2>. Assim, j <S1, S2> irá expandir <S1,
S2> – ou seja, irá repetir todas as interpretações contidas em
<S1, S2>, mas irá possivelmente incluir outras. Assim, <S1,
S2> ≦ j <S1’, S2’>. Isso significa que j está crescendo. Além
disso, se <S1, S2> ≦ <S1’, S2’>, então j <S1, S2> ≦ j <S1’ e S2’>.
O resultado de aplicar j a uma determinada interpretação
será pelo menos tão inclusivo quanto essa interpretação. Isso
mostra que j é monotônica. Por último, decidimos reunir tudo
o que estava antes do ponto limite: se <S1, S2> é um ponto
limite, j <S1, S2> será o resultado de reunir os resultados da
aplicação de j a todas as interpretações menos inclusivas.
Dizemos que j é contínua.
Qualquer função monotônica, crescente e contínua tem
pontos fixos; na verdade, tem pontos fixos arbitrariamente
grandes – dado qualquer ponto fixo, existe um maior. Além
disso, tal função tem um ponto fixo mínimo. Em cada ponto
fixo, j <S1, S2> = <S1, S2>. Isto é, a linguagem com o predicado
V interpretado pela escolha de <S1, S2> é semanticamente
fechada. A interpretação do predicado-verdade por <S1, S2>
é tão inclusiva quanto possível. Adicionar todas as verdades
a S1, falsidades a S2, com V interpretado dessa forma, não
fornece nada novo. A construção de V está completa.
Mas a interpretação é ainda parcial – <S1, S2> no ponto
fixo dá uma valoração parcial. Pois a valoração é concebida
para preservar consistência. Em nenhum ponto uma propo-
sição é colocada simultaneamente em S1 e S2. Começamos
consistentemente, com S1 e S2 vazios. Em cada estágio suces-
sivo, adicionamos a S1 as proposições que são verdadeiras
de acordo com a interpretação de V construída no estágio
anterior – isto é, por hipótese (hipótese indutiva), consistente,
213
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 213 06/06/14 12:25
e de modo similar para S2 no que diz respeito às proposições
falsas. Nos estágios limite nós simplesmente coletamos o que
já está presente, e o que obtemos é, portanto, consistente.
Logo, S1 e S2 permanecem sempre disjuntos.
De fato, isso pode nos ajudar a visualizar a situação.
Obviamente, não podemos continuar indefinidamente adicio-
nando proposições a S1 e S2, em algum ponto o processo
deve parar. (Isso pode parecer equivocado – posto que há
infinitamente muitas proposições, por que não poderíamos
continuar indefinidamente? A razão é que estamos iterando o
processo no transfinito e, desse modo, deve haver um ponto
no qual a iteração exaure o conjunto de proposições. Essa
noção de “iteração transfinita”, introduzida por Cantor, e
suas implicações filosóficas, serão discutidas no Capítulo 8.)
O fato interessante é que alcançamos um ponto fixo muito
antes de adicionarmos todas as proposições – mesmo todas
as que podemos consistentemente adicionar – a S1 e S2.
O fato que S1 e S2 são sempre disjuntos significa que existe
um grupo de proposições que permanecem não interpreta-
das. Chamaremos-lhes de “não fundadas”. Elas incluem o
mentiroso e similares, e também o chamado “Veraz”, “esta
proposição é verdadeira”. De um lado, temos a intuição de
que não há um fundamento para atribuir um valor de verdade;
do outro, parece que podemos atribuir qualquer um dos dois.
A construção respeita as duas intuições. A proposição “esta
proposição é verdadeira” não tem valor de verdade no ponto
fixo mínimo. Mas, depois da construção do ponto fixo, pode-
mos lhe atribuir um valor arbitrário, verdadeiro, digamos.
Assim repetimos o processo de construção do predicado V,
alcançando um ponto fixo mais alto. No novo ponto fixo,
“esta proposição é verdadeira” é verdadeira, mas o mentiroso
continua sem valor de verdade.
214
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 214 06/06/14 12:25
Qualquer que seja a solução dada aos paradoxos semânti-
cos, algum preço será pago. Qual é o da proposta de Kripke?
Além disso, como a proposta de Kripke lida com o mentiroso
fortalecido e o problema da vingança? Eles caem no mesmo
ponto – vestígio da hierarquia de Tarski. Não podem ser
expressos na linguagem em questão. Posto que “esta propo-
sição não é verdadeira” não tem valor de verdade, não pode-
mos dizer na própria linguagem que ela não é verdadeira ou
que ela não tem valor de verdade. Toda a discussão acima,
a construção, as definições, pertencem à metalinguagem.
Predicados como “paradoxal” e “não fundado” também
pertencem à metalinguagem e não pertencem ao ponto fixo
semanticamente fechado. Tudo o que o ponto fixo pode ter
é um predicado-verdade cuja interpretação é completa em
algum sentido. Mas o ponto fixo não pode resolver tudo do
ponto de vista semântico.
É por essa razão que o esquema T de Tarski é também
uma vítima. A e “A é verdadeira” terão o mesmo valor no
ponto fixo. Mas “A se e somente se A é verdadeira” não será
válida, pois se A não tem valor de verdade, “A é verdadeira”
também não terá e, por conseguinte, a bicondicional não terá
valor de verdade – tanto no esquema de Kleene, quanto nas
sobrevalorações, posto que pode receber diferentes valores
em diferentes extensões clássicas.
A ideia de Kripke para dar conta do fechamento semântico
é audaciosa, e o preço a pagar é alto. Ela inclui uma revi-
são do esquema T de Tarski, preserva em grande medida a
hierarquia de Tarski na discussão semântica e trata de modo
esquizofrênico o problema da vingança sustentando que “o
mentiroso não é verdadeiro” não tem valor no ponto fixo,
mas é verdadeira na metalinguagem. O leitor deve pesar esses
custos e decidir se eles são altos demais.
215
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 215 06/06/14 12:25
Resumo e sugestões para leituras
O que são os paradoxos semânticos? Somente podemos
caracterizá-los a partir da referência a uma proposta de solução.
O paradoxo da predição à primeira vista não se parece com
um paradoxo semântico. Ele aparece em um sem-número de
formas e com vários nomes: Exame Inesperado, Teste Surpresa,
Carrasco, entre outros. A seguir, uma de suas versões:
Um professor diz a seus alunos que em um dia da próxima semana
haverá um teste, mas o dia exato será uma surpresa. Os alunos argu-
mentam que o teste não poderá ser na manhã de sexta, pois nesse
caso não seria surpresa, posto que não teria havido teste de segunda
a quinta-feira e, assim, os alunos ficariam sabendo antecipadamente
que seria na sexta-feira e não haveria surpresa nenhuma. Mas se o teste
não pode ser na sexta, também não pode ser na quinta-feira, pois se
fosse na quinta, não havendo teste de segunda a quarta-feira, os alunos
saberiam antecipadamente que seria na quinta, posto que sabem que
não pode ser sexta-feira e, portanto, não haveria surpresa. E assim
por diante. Logo, eles concluem: o teste não pode ser simultaneamente
aplicado e ser surpresa. Por conseguinte, quando o teste é finalmente
aplicado, por exemplo, na terça-feira, isso é uma grande surpresa.
Certamente temos um paradoxo aqui. A situação é familiar, e
sua descrição parece correta. Haverá um teste surpresa. Logo,
o que estaria errado com o argumento que sugere que ele seria
impossível? Uma explicação é a de que a proposição do profes-
sor tem a forma:
Haverá um teste, mas vocês não saberão, apenas com
base neste enunciado, em que dia será realizado o teste.
Esse enunciado, portanto, é autorreferencial. Além disso,
envolve o conceito de conhecimento, que implica verdade, e
assim envolve implicitamente conceitos semânticos. Pois o
216
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 216 06/06/14 12:25
exemplo a seguir mostra que paradoxos semânticos surgem em
casos desse tipo por meio do conceito de conhecimento:
Ninguém conhece esta proposição.
Suponha que essa proposição seja falsa. Se fosse falso que
ninguém a conhece, alguém a conheceria. Mas conhecimento
implica verdade (isto é, se algo é falso, alguém teria apenas
pensado conhecer tal proposição, mas não teria de fato conhecido
a proposição), e, assim, a proposição seria verdadeira, dado que
alguém a conheceria. Isto é, se a proposição fosse falsa, seria
verdadeira. Portanto, não pode ser falsa e deve ser verdadeira.
Por conseguinte, sabemos que ela é verdadeira (pois acabamos
de prová-lo). Logo, alguém conhece tal proposição e, portanto,
ela é falsa. Logo, ela é simultaneamente verdadeira e falsa!
Discussões sobre o paradoxo do Exame Inesperado (e suas
variantes) podem ser encontradas em muitos lugares. O melhor
talvez seja “A Paradox Regained”, de R. Montague e D. Kaplan,
reimpresso em Formal Philosophy, de R. Montague; ver também
o capítulo 4 de Paradoxes, de Mark Sainsbury.
Paradoxos semânticos podem surgir em situações inespe-
radas. Se a análise feita acima está correta, o paradoxo do
Exame Inesperado é também um caso de paradoxo semântico.
Um paradoxo surge quando um argumento plausível leva de
premissas aparentemente aceitáveis a uma conclusão inaceitável.
Vimos vários paradoxos associados a noções semânticas como
verdade, significado, validade e conhecimento – por exemplo, a
afirmação de Epimênides, o cretense, de que todos os cretenses
são mentirosos, e proposições como “esta proposição não é
verdadeira” e “se esta proposição é verdadeira, então a neve é
negra”. Diferentemente da história do barbeiro, esses parado-
xos colocam problemas reais. Pois simplesmente não existe um
barbeiro que faça a barba de todos e somente daqueles que não
fazem a barba de si mesmos.
217
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 217 06/06/14 12:25
Discussões úteis dos paradoxos semânticos podem ser encon-
tradas em Philosophy of Logics, de Susan Haack, e Paradoxes,
de Sainsbury, capítulos 5 e 6. A história sobre Sancho Pança
foi retirada de Dom Quixote, de Cervantes, escrito em 1614,
parte 2, capítulo 45. Era uma história popular na Idade Média.
Exploramos aqui três linhas de soluções para os parado-
xos. Uma impõe uma hierarquia sobre todas as predicações
de verdade e outras noções semânticas e considera sem signi-
ficado os enunciados que desobedecem a essas regras. Mas,
desse modo, ameaça descartar muito mais do que apenas as
sentenças autorreferenciais que levam a contradições. Além
disso, todas as predicações de noções semânticas devem ter um
nível, mesmo que o falante desconheça esse fato. Assim, tanto
o falante como o ouvinte podem não saber se um proferimento
tem ou não significado.
A proposta da especificação exata da proposição3 foi apre-
sentada em “Heterodoxicality”, de G. Ryle, reimpresso nos
seus Collected Papers, v. ii. Ideias similares são usadas por
Dorothy Grover nos textos “Inheritors and Paradox” e “O
paradoxo de Berry”, reimpressos em A Prosentential Theory
of Truth (mencionado no Capítulo 1), para estender sua teoria
da verdade prossentencial aos paradoxos semânticos. A solução
da hierarquia talvez seja, atualmente, a mais aceita. Sua forma
clássica foi dada por Alfred Tarski – ver, por exemplo, seu “The
Semantic Conception of Truth” em Readings in Philosophical
Analysis, editado por H. Feigl e W. Sellars. Os problemas com
o argumento “1 = 1, logo este argumento é inválido” foram
observados no século 14 – o exemplo era “Deus existe, logo este
argumento é inválido”. Ver, por exemplo, Perutilis Logica, de
Alberto da Saxônia (escrito por volta de 1350), traduzido em
Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts, N.
Kretzmann et al., v. i, p. 360-361; e também a discussão de um
autor anônimo (frequentemente referido como Pseudo-Scotus
porque seus escritos, embora datados dos anos 1340, cerca de 50
218
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 218 06/06/14 12:25
anos depois de John Duns Scotus, foram publicados mais tarde
junto dos escritos genuínos de Scotus) descrita, por exemplo,
em “Consequences”, de I. Boh, em The Cambridge History of
Later Medieval Philosophy, N. Kretzmann et al., capítulo 15.
A segunda tentativa procurava assimilar a conclusão
contraditória, sustentando que certos proferimentos parado-
xais são, de fato, simultaneamente verdadeiros e falsos. Essa
alternativa, entretanto, envolvia a tarefa de rever drastica-
mente os princípios da lógica de modo a evitar que tenhamos
que aceitar que qualquer proposição, por exemplo, “a neve
é negra”, seja verdadeira. Além disso, constatamos que essa
revisão minava o que em princípio fundamentava a suposição
de que deveríamos endossar contradições verdadeiras. A ideia
de que há contradições verdadeiras, mostrada não apenas pelos
paradoxos semânticos, mas também por muitas outras situações
problemáticas como os paradoxos do espaço e movimento de
Zenão e a metafísica da mudança, é defendida entusiasticamente
por Graham Priest em In Contradiction. Priest é bem-sucedido
em simultaneamente manter reductio e invalidar contração.
Assim, ele evita o paradoxo de Curry, enquanto mantém que o
mentiroso, por exemplo, é de fato simultaneamente verdadeiro e
falso. A proposta foi criticada (e respondida por Priest) em “Can
Contradictions be True?”, de Timothy Smiley, em um simpó-
sio da Aristotelian Society de 1993. O paradoxo de Curry foi
descoberto e apresentado por H. B. Curry no contexto da teoria
de conjuntos. Ele é elegantemente explicado como a origem de
um paradoxo semântico em “On Insolubilia”, de Peter Geach,
reimpresso em seu Logic Matters.
O tratamento que exerceu mais influência recentemente
foi o de Saul Kripke, apresentado em “Outline of a Theory of
Truth”. Esse artigo foi reimpresso, junto com outros artigos
que desenvolvem abordagens similares, em Recent Essays on
Truth and the Liar Paradoxes, de R. L. Martin. Vimos que
a ideia era reter o fechamento semântico, como é requerido
219
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 219 06/06/14 12:25
por nossas intuições básicas, desenvolvendo seriamente uma
teoria para lidar com lacunas de valores de verdade, de modo
a negar um valor de verdade ao mentiroso e suas variantes.
Começamos pela construção do predicado-verdade, atribuindo-
-lhe inicialmente uma interpretação vazia que era refinada passo
a passo, expandindo-a de modo a evitar inconsistência. Isto
é, algumas proposições tornam-se verdadeiras, outras falsas,
outras nem verdadeiras nem falsas. Alguém poderia pensar
que esse procedimento continuaria indefinidamente. Mas a
natureza da construção é tal que, mais cedo ou mais tarde, a
expansão termina, pois não haverá mais nada a acrescentar.
Em um sentido, a construção estará completa, pois repeti-la
nada acrescentará. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação será
incompleta, pois será parcial. Não será atribuído um valor de
verdade ao mentiroso, ele não estará no conjunto das verdadei-
ras nem no conjunto das falsidades.
Essa é uma solução elegante, mas seu custo é uma certa esqui-
zofrenia. De um lado, temos uma linguagem semanticamente
fechada, que contém seu próprio predicado-verdade; de outro,
temos de recorrer a uma metalinguagem para descrevê-la e dizer,
por exemplo, que a proposição do mentiroso não é verdadeira.
Examinamos apenas um pequeno número dentre as várias
tentativas de solução que já foram propostas. Entretanto, as
alternativas examinadas são representativas dos diferentes
modos pelos quais podemos responder aos paradoxos. Mas,
como cada opção parece ficar menos atrativa à medida que
é levada mais e mais adiante, outras ideias podem ocorrer.
Não seria o caso de que os conceitos semânticos que usamos
são inerentemente contraditórios e que nosso único erro não
reside na aplicação de tais conceitos, mas sim simplesmente
em adotá-los? Essa sugestão é similar em vários aspectos
à primeira linha de investigação que examinamos, pois ela
implica que existe algo inerentemente errado na aplicação
autorreferencial dos conceitos semânticos. Mas ela remete à
220
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 220 06/06/14 12:25
segunda linha de investigação, na medida em que sua adoção
nos levaria a revisar, não a lógica, mas sim o esquema T de
Tarski, que está na base das nossas aplicações da lógica aos
paradoxos. É nossa escolha se preferimos manter nossos velhos
e familiares conceitos semânticos e continuar a conviver com os
paradoxos semânticos, ou nos livrar do mundo selvagem dos
paradoxos, procurando por um novo mundo de estabilidade.
Notas
Adaptação da tradução de Conde de Azevedo e Visconde de Castilho de Dom
1
Quixote de Cervantes, v. II, capítulo LI, ed. eBooksBrasil, disponível em <http://
www.ebooksbrasil.org/eLibris/quixote2.html>. [N.T.]
(A g (A g B)) g (A g B). [N.T.]
2
Conhecida como “namely-rider solution”, ou seja, “what proposition, namely?”
3
[N.T.]
221
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 221 06/06/14 12:25
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 222 06/06/14 12:25
7
Homens carecas para sempre
O paradoxo sorites
Deve-se criticar [a nova academia] por utilizar um tipo de argu-
mento extremamente capcioso, que usualmente não é de modo algum
aprovado na filosofia – o método de proceder por passos diminutos de
adição ou subtração. Eles chamam esse tipo de argumento de sorites
porque, ao adicionar a cada vez um único grão, obtém-se um monte...
Nenhuma faculdade de conhecer limites absolutos foi concedida pela
natureza das coisas a nós de modo a nos permitir determinar exatamente
até onde ir em qualquer assunto. E isso ocorre não apenas no caso de
um monte de trigo, de onde o nome sorites é derivado, mas qualquer
que seja o assunto. Se nos perguntam, em estágios graduais, se uma
determinada pessoa é rica ou pobre, famosa ou desconhecida, se dados
objetos são muitos ou poucos, grandes ou pequenos, compridos ou
curtos, não sabemos em que ponto da adição ou subtração devemos
dar uma resposta definitiva (Cícero, Academica, p. 2, 49 e 92).
O paradoxo sorites é usualmente atribuído ao contempo-
râneo de Aristóteles, Eubulides, o filósofo megárico a quem é
também atribuída a forma pura do paradoxo do mentiroso. O
argumento procede, passo a passo, para nos levar da verdade
à falsidade. Por exemplo, um é pouco, dois é pouco, e a qual-
quer número que seja pouco, adicionar um a tal número não
nos leva de pouco para muitos. Assim, por 9.998 passos desse
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 223 06/06/14 12:25
tipo, chegamos à conclusão absurda que 10.000 são poucos.
Ou, usando subtração, um homem com 10.000 fios de cabelo
não é calvo, e remover apenas 1 fio de cabelo não o tornará
calvo. Assim, após 9.999 passos, concluímos que um homem
com apenas 1 fio de cabelo (ou talvez nenhum!) não é calvo.
Uma pedra não é um monte de pedras, e adicionar apenas uma
pedra ao que não é um monte de pedras não o torna um monte
de pedras. Logo, não existem montes de pedra. Esses são os
paradoxos do calvo e do monte de pedras, atribuídos a Eubulides.
O nome “sorites” é, na verdade, um trocadilho, e em grego
significa “monte”. Sorites nomeia diversas aplicações dos argu-
mentos que vimos acima, concluindo, por adição, que 10.000
pedras não são um monte, ou que, por subtração, 1 pedra é um
monte de pedras, e nomeia, também, o próprio método do argu-
mento, pois ele procede pela adição de passos, que nos incitam
a estabelecer um limite. Se três são poucos, certamente quatro
também o são; dado que quatro são poucos, segue-se que cinco
são poucos, e assim por diante, em uma sequência de passos
da forma “se n é F, então n + 1 é F”, usando adição, ou “se n
é F, então n – 1 é F”, usando subtração. É como se o próprio
argumento fosse um monte (ou sorites) de passos da inferência
modus ponens:
F(0) G(10,000)
Se F(0), então F(1)
Se G(10,000), então G(9,999)
Logo, F(1) Logo, G(9,999)
Se F(1), então F(2)
Se G(9,999), então G(9,998)
Logo, F(2) Logo, G(9,998)
Se... Se...
... ...
...Logo, F(10,000)
...Logo, G(0)
Certamente é arbitrário começar de 0 ou 10.000. O ponto
do argumento é o movimento gradual, passo a passo, cada
passo sendo pequeno de modo a não afetar a aplicabilidade do
predicado, F ou G, partindo de um caso em que o predicado
224
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 224 06/06/14 12:25
claramente se aplica e chegando a um caso em que o predicado
não se aplica e, assim, produzindo uma contradição. Um homem
de 1 metro de altura é baixo; se um homem de 1 metro é baixo,
um homem de 1 metro e 1 milímetro (ou um milésimo de milí-
metro) é também baixo; e prosseguimos, a cada passo com um
aumento de tamanho que plausivelmente não faz diferença
alguma, até concluir que todos os homens, mesmo com 2 ou 3
metros, são baixos.
A forma clássica do argumento procede por meio de uma
sequência de aplicações do modus ponens, mas isso não é
necessário. Podemos obter a conclusão por meio de um passo
de indução. Pois cada premissa maior do modus ponens tem a
forma “se n é F, então n + 1 é F”. Indução matemática (veja o
Capítulo 2) nos leva, em apenas um passo, de F(0) e “se n é F,
então n + 1 é F” a “para todo n, F(n) (ou de F(k) para “para todo
n maior que k, F(n))”. Adicionar ou subtrair um fio de cabelo não
faz diferença; logo, posto que um homem com nenhum cabelo
em sua cabeça é calvo, daí se segue que todos os homens são
calvos. Adicionar uma pedra ao que não é um monte de pedras
não produz um monte de pedras. Posto que uma pedra não é
um monte de pedras, não existem montes de pedras.
Em qualquer uma de suas formas, o desafio do argumento
sorites é identificar o ponto de corte. Dois é pouco; 10.000 não.
Onde está o ponto de corte? Existe um número n tal que n são
poucos, mas n + 1 são muitos? Existe um determinado número
de fios de cabelo tal que um homem com tal número de fios de
cabelo não é calvo, mas o seria se tivesse um fio a menos? Há um
determinado número de pedras que marca o ponto de corte entre
o que é um monte de pedras e o que não é? De um lado, parece
absurdo e impossível apontar para um determinado número que
estabeleça uma linha divisória entre cada caso; de outro, se há
tal linha divisória, o argumento sorites infere traiçoeiramente
que 10.000 são poucos (ou 1 é muito), que homens sem cabelo
não são calvos etc.
225
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 225 06/06/14 12:25
Vagueza
O argumento sorites se alimenta do fato de que alguns dos
nossos conceitos são vagos. Como diz Cícero, não podemos dar
uma resposta definitiva sobre quando um homem pobre se torna
rico, uma pequena caminhada se torna uma longa caminhada,
uma estrada estreita se torna larga, um homem cabeludo se torna
calvo, e assim por diante. Já outros conceitos são precisos. Não
podemos empregar o sorites com um conceito como “1,80 metro
de altura” ou “tio”. A aplicação desses conceitos não produz
situações limítrofes como “rico”, “alto”, “calvo” etc.
Max Black adverte que devemos distinguir vagueza de ambi-
guidade e também de generalidade. Palavras como “banco”
(banco da praça versus banco financeiro) ou “cabo” (do exército,
da panela, ou um tipo de formação geográfica) são ambíguas,
têm dois (ou mais) significados distintos. Mas isso não as torna
vagas. Novamente, a palavra “cadeira” cobre algumas possibi-
lidades: cadeira de balanço, cadeira de dentista, cadeira da mesa
de jantar. Mas isso não a torna uma palavra vaga. Na verdade,
tal palavra também é vaga, mas o que a torna vaga não é sua
generalidade, mas sim a existência de casos limítrofes, uma zona
nebulosa na qual não podemos estar certos de que o conceito
se aplica corretamente. Pode ser difícil estabelecer uma linha
divisória entre o que é uma cadeira e o que deixa de ser. É nesse
momento que temos a vagueza e a ameaça do argumento sorites.
Devemos também distinguir vagueza de outro aspecto dessas
expressões. O que é grande para um rato não é grande para um
elefante – um rato grande é muito menor do que um pequeno
elefante. Adjetivos como “grande”, “pouco”, “alto”, “bom”,
“bonito” são chamados “atributivos”. Os poucos cabelos na
cabeça de um homem podem corresponder a um número muito
maior do que o número que corresponderia a muitas pessoas em
um encontro político; uma dançarina bonita pode não ser bonita
simpliciter; um homem alto é mais baixo do que um poste de luz
baixo. Novamente, essa característica desses termos é distinta
da vagueza que caracteriza muitos deles.
226
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 226 06/06/14 12:25
Frege e Russell pensaram que a vagueza seria de fato indese-
jável e que levava a incoerências; portanto, deveria ser banida
do discurso científico e lógico. As incoerências podem ocorrer
de três formas. Uma tem origem no argumento sorites, que
estende um termo com limites vagos para além do que deveria.
Outra tem origem no esquema T de Tarski visto no Capítulo 1:
se negamos valor de verdade a atribuições limites, o esquema T
nos levará à contradição. Pois suponha que queremos dizer que
“quinze são poucos” não é verdadeira nem falsa. Pelo esquema T,
temos que “‘quinze são poucos’ não é verdadeira” é equivalente
a “quinze não são poucos”, e que “‘quinze são poucos’ não é
falsa” é equivalente a “quinze são poucos”. Logo, “‘quinze’ são
poucos” não é verdadeira nem falsa” é equivalente a “quinze
não são poucos e quinze são poucos”, e isso é uma contradição.
Em terceiro lugar, falar em casos limítrofes não significa que
o conceito não possa ser aplicado nesses casos: é errado dizer
que 10.000 é pouco (porque é falso) e também é errado dizer
(posto que não tem sentido) que Beethoven é pouco; mas não é
errado dizer que 15 é pouco. Entretanto, pela mesma razão, não
é errado dizer que 15 não é pouco. Logo, aparentemente não há
nada errado em dizer que 15 simultaneamente é pouco e não é
pouco, produzindo uma contradição.
Uma reação a tais argumentos é concluir que a vagueza é uma
fonte de incoerências e que, portanto, deveria ser eliminada. Note
que há duas afirmações distintas aqui. A primeira é a de que uma
linguagem que contenha expressões vagas será responsável por
inconsistência e incoerência; a segunda é a pressuposição de que
tal incoerência possa ser eliminada. Os argumentos acima dão
suporte somente à primeira dessas afirmações. A última assume
que qualquer predicado vago pode ser substituído por (um ou
mais) predicados precisos, e isso, por sua vez, pressupõe que o
mundo propriamente dito não é vago, e que a vagueza em certos
termos da linguagem natural resida no próprio termo e não
naquilo a que ele se refere. A ideia é que não há objetos vagos.
227
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 227 06/06/14 12:25
Pois suponha que existissem. De fato, suponha que há dois
objetos vagos, Everest e Gaurisanker (talvez seja indeterminado
exatamente onde uma montanha começa e a outra acaba), e
é indeterminado se Everest e Gaurisanker são idênticos (pois
é indeterminado se suas regiões limítrofes são as mesmas).
Assim, Everest tem a propriedade de ser indeterminado se ele
é Gaurisanker. Mas Gaurisanker não tem essa propriedade – é
claro que Gaurisanker é Gaurisanker. Logo, pelo princípio de
indiscernibilidade dos idênticos, Everest não é Gaurisanker (pois
tem propriedades distintas). Isso contradiz a hipótese inicial de
que a identidade era vaga, que era uma consequência de supor
que existem tais objetos vagos. Parece, portanto, que não existem
objetos vagos.
Inicialmente, Wittgenstein assumiu uma posição ainda mais
radical, sustentando que não existem nem mesmo expressões
vagas – “o que queremos dizer deve ser bem determinado”.
Enquanto para Frege e Russell a linguagem natural possuía
incoerências insuperáveis, o que motivou a procura por uma
linguagem ideal, para Wittgenstein a nossa linguagem, apesar
das aparências em contrário, deveria já ser uma linguagem ideal.
Apesar de não parecer ideal, a linguagem funciona, e uma lingua-
gem incoerente, no sentido que Frege e Russell consideravam a
linguagem natural, não poderia funcionar. Segundo Wittgenstein,
“seria muito estranho se os seres humanos tivessem falado todo
esse tempo sem terem sequer formado uma proposição genuína”.
Mas, de um modo ou de outro, por meio de uma reforma ou por
um tratamento adequado da linguagem que já temos disponível, o
fato é que a linguagem deve ser precisa, e a vagueza é inaceitável.
Suponha, então, que substituímos “calvo”, “monte” etc.
por termos precisos, ou fomos convencidos de que, apesar das
aparências, esses termos são precisamente determinados. Isso
significa que o sorites é bloqueado por meio de uma delimitação
precisa entre a aplicação correta e incorreta de cada predicado.
Por exemplo, suponha que um homem calvo seja um homem
228
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 228 06/06/14 12:25
com menos que 5.000 fios de cabelo; um monte de grãos de trigo
tenha no mínimo 350 grãos; e 100 será muito (para, digamos,
uma aliança política), mas 99 não é muito. A atribuição dos
respectivos predicados não será mais imprecisa, e produzirá
valores de verdade bem definidos. O que perdemos, entretanto,
foi a capacidade de saber, em geral, se usamos tais predicados
corretamente. Usualmente não sabemos o número preciso de
fios de cabelo na cabeça de uma determinada pessoa, nem da
altura de alguém, com precisão de milímetros. Essa alternativa
substitui – ou identifica – vagueza por ignorância. O problema
inicial era a incoerência de uma linguagem com expressões vagas;
mas agora cabe perguntar se uma linguagem sem vagueza teria
afinal alguma utilidade.
Não abordamos ainda aquele que, como veremos, é o mais
oneroso de todos os exemplos do sorites, a saber, o dos predica-
dos de cor. Nesse exemplo, estamos diante de um arranjo linear
de amostras de cores que, no início (do lado esquerdo, digamos),
é claramente vermelho e, no final, (lado direito) é claramente
verde. Se observamos duas amostras adjacentes, não podemos
discriminá-las, pois são muito semelhantes em cor e tonalidade
(por exemplo, suponha que elas sejam temporariamente remo-
vidos da sequência de amostras; nesse caso, examinando apenas
essas duas amostras, não poderíamos dizer qual estaria mais
próxima respectivamente da extremidade verde e da vermelha).
Se refletirmos sobre a nossa experiência com cores, constatamos
que isso é perfeitamente possível. Pode ser que exista um número
muito grande de amostras, cada uma delas diferente das outras,
de modo que duas consecutivas possam ser discriminadas, mas
pode ser também que uma amostra seja indistinguível das mais
próximas, de modo que a diferença só possa ser percebida dez
amostras adiante. O ponto é que, se estendermos suficientemente
o espectro de tonalidades, as cores podem ser exibidas de modo
contínuo.
229
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 229 06/06/14 12:25
Temos, então, uma situação na qual aplicamos o argumento
sorites. Os passos não são mais dados um por um, como nos
exemplos anteriores – as amostras de cores não têm números a
elas associados (seria ingênuo supor que todas as cores, mesmo
aquelas entre o vermelho e o verde, sejam simplesmente funções
de um comprimento de onda; o vermelho, por exemplo, pode
ser produzido por muitas combinações de comprimentos de
onda), mas o princípio básico do argumento permanece inal-
terado. A primeira amostra, mais à esquerda, é claramente
vermelha. A amostra imediatamente à sua direita é indistinguível
da primeira e, portanto, não podemos negar que seja também
vermelha, e assim por diante. A primeira amostra é vermelha, e
qualquer amostra indistinguível de uma amostra vermelha deve
ser também vermelha. Assim, por várias aplicações de modus
ponens, ou por indução, cada amostra na sequência de amostras
é vermelha. Mas isso é falso, pois aquelas na extremidade direita
são claramente verdes, e de modo algum vermelhas.
De acordo com a doutrina da vagueza como ignorância, o
sorites é evitado porque em algum ponto da série existe um
corte bem delimitado. Para algum par de amostras adjacentes
indistinguíveis, a que está à esquerda é vermelha, e a que está à
direita não é. Assim, o sorites é bloqueado por meio da rejeição
da premissa maior (ou uma das premissas maiores) segundo a
qual uma amostra indistinguível de uma amostra vermelha é
vermelha. Mas agora deveríamos parar e refletir sobre o seguinte
ponto: qual é o fato que supostamente ignoramos? Certamente é
verdade – ou pelo menos não há razão para duvidar – que exista
uma diferença no modo pelo qual amostras adjacentes refletem
a luz. Suponha que utilizamos instrumentos, que certamente
existem, para medir essa diferença. Mas podemos considerar
também que a sequência de amostras foi preparada de modo
que as diferenças não pudessem ser percebidas, não importa
quão refinada fosse a percepção do observador. O que fazer
então com as informações obtidas através dos instrumentos?
230
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 230 06/06/14 12:25
Elas poderiam nos dizer a cor de cada amostra – aquela que é
vermelha e a que é verde?
Aparentemente há razões para supor que o instrumento não
poderia fazer isso, pois palavras como “vermelho” são predica-
dos de observação. “Vermelho” adquire significado na medida
em que é aplicado a objetos da percepção. É a observação que
fundamenta nossos juízos acerca da correção da aplicação de
“vermelho”. É digno de nota que alguns de nossos juízos de
observação são baseados em características que nós não reconhe-
cemos conscientemente. Podemos ser expostos de modo subli-
minar à estimulação visual (em casos famosos de propaganda,
agora banidos, e em experimentos psicológicos), sem estarmos
conscientes de tais percepções e, no entanto, tais percepções
subliminares influenciam comportamentos subsequentes. Assim,
é concebível que pessoas considerem que amostras possuam
diferentes tonalidades ainda que admitam que não podem ver
diferença alguma. Mas aqui, ex hypothesi, isso não é o caso.
Amostras adjacentes foram concebidas de modo a não permitir
tais distinções. A atribuição de predicados observacionais é em
virtude da observação, e a observação não é capaz de distinguir
essas amostras adjacentes. Se uma amostra é vermelha, e “verme-
lho” é um predicado observacional, uma amostra indistinguível
por meio da observação é também vermelha.
É certo que isso não seria um problema para alguém que
propusesse tornar a linguagem mais precisa, por meio da subs-
tituição de termos vagos por termos científicos, ou para um
teórico que sustente que, apesar das aparências, nossos termos
devem ser exatos. Eles diriam, pior para (um conceito obser-
vacional como) “vermelho”. Mas não há solução aqui para o
sorites. Em primeiro lugar, ele nos retira a capacidade de aplicar
termos “simplesmente por meio do olhar”. Teríamos de carregar
conosco diversos instrumentos de medida para sabermos quando
aplicar “vermelho” e “alto”, do mesmo modo que fazemos para
“radioativo” e “venenoso”. Mas mesmo que estejamos dispostos
a aceitar algo tão pouco prático, há um segundo ponto decisivo:
231
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 231 06/06/14 12:25
o sorites irá reaparecer para distinções abaixo do nível de discri-
minação dos instrumentos e para nossa capacidade de realizar
medidas com eles.
Temos termos vagos na linguagem por uma boa razão: nossa
capacidade de reconhecer distinções finas, ainda que sejam
reforçadas por instrumentos, não podem fazer distinções cada
vez mais finas indefinidamente. Podemos introduzir termos
precisos na linguagem, por exemplo, “mais de 1,85 metro”. Mas,
ainda assim, em certos casos, podemos desconhecer se de fato
o termo se aplica ou não. Dependendo da situação, podemos
usar técnicas de mensuração mais ou menos rigorosas. Mas esses
termos se apoiam em outros termos vagos, termos que têm casos
positivos, negativos e, entre esses, uma gama de casos nos quais
não estamos certos da sua aplicação correta, uma incerteza que
não depende de desconhecimento dos fatos, mas sim da vagueza
inerente a tais termos.
Análise do sorites
Se aceitamos que a vagueza é endêmica em nossa linguagem,
deveríamos então nos render ao argumento sorites e à incoerência
que dele resulta, ou haveria uma falha no argumento que teria
passado despercebida? O movimento no sentido de tornar a
linguagem mais precisa se baseia em três argumentos; um deles
é o sorites, cuja conclusão devastadora aceitamos talvez rapi-
damente demais. Vejamos primeiro os outros dois argumentos,
começando pelo último, segundo o qual não é errado negar um
termo e seu contrário nos casos de fronteira.
O que precisamos é de uma distinção que é frequentemente
descrita como uma distinção entre negação interna e externa.
Contudo, essa terminologia faz alusão a uma distinção de escopo
que não está presente. Mas, ainda assim, é uma distinção que
precisamos em outros casos em que não há questões de escopo.
Considere a sentença “virtude é entretanto”, que não é bem
formada e não expressa uma proposição. Uma maneira de dizer
232
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 232 06/06/14 12:25
isso é replicar “virtude não é entretanto”. Com efeito, em certo
sentido, “virtude é entretanto” não tem sentido, assim como
“virtude não é entretanto”. Em outro sentido, “não” serve como
uma negação externa que expressa o que é às vezes denominado
(seguindo Carnap) de modo material de discurso – “virtude
não é entretanto” –, e que, no modo formal, seria expresso por
“‘virtude é entretanto’ não tem significado”.
O mesmo ponto se aplica, mas agora em relação à vagueza e
não ao significado, a “quinze não são poucos”. Como negação
interna, “quinze não são poucos” quer dizer que quinze são
muitos; como negação externa, quer dizer que não é correto dizer
que quinze são poucos. A falha no argumento anterior surge,
portanto, quando dizemos “pela mesma razão não é errado dizer
que quinze não são poucos”. O sentido no qual não é errado
dizer que quinze não são poucos é “externo” – “poucos” não se
aplica corretamente a quinze. Mas o sentido no qual não é errado
dizer que quinze são poucos é “interno” – “muitos”, isto é, “não
poucos”, não se aplica a quinze. Logo, a conclusão segundo
a qual quinze simultaneamente são poucos e não são poucos
é equivocada – são poucos porque seria errado dizer que são
muitos (negação interna) e não são poucos porque seria errado
dizer que são poucos (negação externa). Se parece confuso, tente
no modo formal de discurso. O sentido no qual quinze não são
poucos é o de que “quinze são poucos” está na região dos casos
de fronteira. Logo, não podemos inferir que quinze são muitos
– o “não” em “quinze não são poucos” não é a negação normal
de quinze serem poucos, mas o modo de expressão material da
vagueza de “quinze são poucos”.
Essa distinção esclarece também o segundo argumento, que
usa o esquema T, e serve, além disso, para resolver um problema
que foi adiado, desde os Capítulos 5 e 6, a saber, se a teoria
minimalista da verdade, que defendi no fim do Capítulo 1, é
compatível com a rejeição da bivalência nos Capítulos 5 e 6 e, em
particular, com a não identificação da bivalência com o terceiro
excluído. Não haveria um argumento rápido e direto partindo
233
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 233 06/06/14 12:25
do terceiro excluído (para todo A, “A ou não-A” é sempre
verdadeira) e concluindo a bivalência (que toda proposição ou
é verdadeira ou falsa, isto é, para todo A, A é verdadeira ou
falsa) usando o esquema T? De “A ou não-A” pelo esquema T
derivamos “A é verdadeira ou ‘não-A’ é verdadeira” e, portanto,
“A é verdadeira ou A é falsa” pela equivalência entre “‘não-A’
é verdadeira” e “A é falsa”.
Se A não expressa uma proposição, então não há problema
algum. Como o terceiro excluído se aplica apenas a proposições,
de sentenças que não expressam proposições, podemos dizer
com coerência que não expressam proposições verdadeiras, nem
proposições falsas. Mas no Capítulo 5 consideramos expressões
que contêm nomes vazios e seria desejável tanto considerá-las
com significado (expressando proposições) quanto considerá-las
sem valor de verdade. De modo similar, no Capítulo 6 conside-
ramos abordagens com lacunas de valores de verdade, como a de
Kripke. E aqui, novamente, desejamos aceitar que a atribuição
de termos vagos a itens na região de fronteira não produz propo-
sições com valor de verdade, aceitando, ao mesmo tempo, que
uma proposição é expressa. Por exemplo, “quinze são poucos”
expressa uma proposição que não é verdadeira nem falsa. Mas
quando dizemos que “‘quinze são poucos’ não é verdadeira” é
equivalente a “quinze são não poucos”, o “não” aqui é a nega-
ção externa; e quando dizemos que “‘quinze são poucos’ não é
falsa” é equivalente a “quinze são não poucos”, colapsamos a
negação interna e a externa. A seguir, os sucessivos passos, com
“NÃO” para negação externa e “não” para negação interna:
“Quinze são poucos” não é verdadeira nem falsa
Logo, “quinze são poucos” não é verdadeira e “quinze
são poucos” não é falsa
Logo, quinze são NÃO poucos e “quinze são não poucos”
não é verdadeira
Logo, quinze são NÃO poucos e quinze são NÃO não
poucos.
234
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 234 06/06/14 12:25
A contradição surge ao identificarmos “NÃO não poucos”
com “poucos”, ao passo que isso significa simplesmente “NÃO
muitos”, isto é, não é correto dizer que quinze são muitos. Dizer
“quinze não são poucos, nem não poucos” parece contraditório
até que constatamos que isso expressa o fato de que quinze está
na região de fronteira. Nenhuma das atribuições “pouco” ou
“muito” se aplica de modo adequado a quinze. Quinze são NÃO
poucos e NÃO muitos.
O que tem de ser abandonado no rápido argumento em
defesa da bivalência, portanto, é o que observamos no fim do
Capítulo 6: que o esquema T não pode ser afirmado como uma
equivalência, mas sim que A e “A é verdadeira” terão o mesmo
valor de verdade ou ambas não terão valor de verdade. Caso
contrário, identificaremos não-A, tanto com “é verdade que
não-A” (isto é, “A é falsa”) quanto com “não é verdade que
A” (isto é, “A é falsa ou sem valor de verdade”). Isto é, não
distinguiríamos adequadamente, em relação a não-A, a negação
interna e a externa.
Assim, nem o segundo, nem o terceiro argumentos são bem-
-sucedidos em mostrar que a aceitação de termos vagos leva
à inconsistência e à incoerência. Mas o que dizer, entretanto,
do primeiro argumento, o sorites propriamente dito? A seguir,
veremos primeiro uma observação trivial e, depois, um ponto
mais substancial.
O sorites adquire sua força da premissa maior, por exem-
plo, a de que ao remover uma pedra de um monte de pedras
continuamos tendo um monte de pedras, ou a de que remover
um fio de cabelo de um homem cabeludo não o tornará calvo.
Entretanto, a explicação disso pode não ser tanto uma tolerância,
no que diz respeito aos termos “monte” e “calvo”, no sentido
de que eles não se referem a um número exato e específico de
pedras ou cabelo, ou de que o número de pedras ou cabelos é
simplesmente irrelevante à sua aplicação, mas sim que “monte”
e “calvo” não se referem a número algum, de pedras ou fios de
cabelo. Avaliamos se uma coleção de pedras é um monte, não por
235
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 235 06/06/14 12:25
referência a um número aproximado de pedras em uma pilha,
mas em virtude da sua configuração. É a disposição e o layout
das pedras que é relevante, e não o número. Com efeito, existe
uma conexão, contingente e acidental, entre o número de pedras
e a configuração. Lembre-se do jogo de pega-varetas. Tirar uma
única vareta pode resultar no colapso total da pilha de varetas. E
uma vez que as varetas estejam espalhadas sobre a mesa, não há
mais um monte. Entretanto, pode ser que seja ainda um número
de varetas suficiente para formar um novo monte.
Já arrancar cabelos é diferente, mas o ponto é o mesmo. É a
distribuição global de cabelos na cabeça que distingue o calvo
do não calvo. Um número insuficiente de cabelos, em princípio,
não permitirá que o couro cabeludo seja coberto de modo que
não caracterize calvície. Mas, mesmo 10.000 fios de cabelo,
se estiverem concentrados na base e deixando o cocuruto sem
cabelos, não deixarão de caracterizar calvície.
Essa é a observação trivial a que me referi, pois não me
parece que ela neutraliza o sorites. Mas devemos ter em mente
que permitir que o sorites seja apresentado de forma descuidada
pode encobrir sua efetiva solução. Precisamos ser cuidadosos
para identificar o ponto crucial em que o argumento é falacioso.
Um ponto mais importante é o seguinte: a premissa maior do
sorites diz “para todo n, se n é F, então n +1 é F”. Essa premissa
é sustentada pelo fato de que, se ela fosse falsa, haveria um limite
bem estabelecido, um par k e k + 1 tal que k é F e k + 1 não é
F, um limite rígido contraintuitivo entre muito e pouco, grande
e pequeno, alto e baixo etc. Nossa análise das condicionais no
Capítulo 3 já deveria nos ter alertado da falácia que ocorre aqui.
Ela assume que condicionais são vero-funcionais e, como vimos,
essa componente da concepção clássica da lógica é implausível e,
hoje em dia, amplamente rejeitada. (Afora alguns poucos casos de
recidiva, o mundo da lógica se encontra dividido de forma mais
ou menos equilibrada entre apologistas – geralmente invocando o
nome de “Grice” – e radicais, variando de Stalnaker até aqueles
que alegam que os condicionais sequer exprimem proposições.)
236
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 236 06/06/14 12:25
Lembre-se do longo argumento em defesa da vero-funcionalidade
dos condicionais visto no Capítulo 3. Primeiro, um contraexem-
plo mostra a condicional falsa: dados A e não-B, segue-se que
“se A, então B” é falsa. Em segundo lugar, se A é falsa, ou se B é
verdadeira, “A e não-B” é falsa, e “se A, então B” é verdadeira.
(Este segundo passo pode ser analisado em detalhe, como um uso
de ex falso quodlibet, simplificação e teorema da dedução.) Isto
é, a afirmação de que condicionais são vero-funcionais significa
não apenas que um contraexemplo é suficiente para a falsidade
da condicional, mas também que ele é necessário – em outras
palavras, se não há um contraexemplo (“A e não-B” falsa), então
a condicional é verdadeira. Esse é exatamente o passo dado pelo
sorites (tal como foi apresentado): se a condicional (“se n é F
então n + 1 é F”) é falsa, então deve haver um contraexemplo
no qual n é F mas n + 1 não é F. Se aceitamos esse passo do
sorites, então admitimos a necessidade de um contraexemplo
para a falsidade do condicional e, nesse caso, estamos tratando
condicionais vero-funcionalmente.
Como pode uma condicional ser falsa sem um contraexem-
plo? Essa é a objeção clássica, que leva à vero-funcionalidade. A
resposta é que a verdade de uma condicional requer mais do que
uma simples distribuição favorável de valores de verdade. Requer
algum tipo de conexão entre o antecedente e o consequente. Se
tal conexão não existe, a condicional é falsa, ainda que os valores
de verdade não produzam de fato um contraexemplo. Isso vale,
por exemplo, tanto para as teorias da semelhança e da probabi-
lidade quanto para um tratamento baseado em relevância. Se A
é falsa, mas um mundo no qual “A e não-B” é verdadeira é mais
próximo do que um mundo no qual “A e B” é verdadeira, então
a condicional é falsa (no tratamento de Stalnaker), ainda que o
contraexemplo não seja real, mas apenas possível. Novamente,
se p(B/A) é baixa, mesmo que p(B) seja maior que p(A), a condi-
cional é falsa (ou improvável) – seja A “você tirou um ás” e B
“você tirou uma carta de copas”. P(B/A) = 1/4; e, no entanto,
você pode receber o ás de copas.
237
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 237 06/06/14 12:25
Entretanto, ainda assim as teorias da semelhança e da proba-
bilidade produzem uma demarcação precisa. A razão é que, como
observamos no Capítulo 3, elas identificam o valor de verdade
de uma condicional com antecedente verdadeiro com o valor
de verdade de seu consequente. Se A é verdadeira, então em
ambas as teorias “se A então B” é verdadeira se e somente se B
é verdadeira. No nosso caso, A(0) é verdadeira, e as sucessivas
aplicações de modus ponens tornam A(n+1) verdadeira sempre
que A(n) e “se A(n) então A(n+1)” são verdadeiras. Considere o
menor k para o qual “se A(k) então A(k+1)” é falsa. (“Pequeno”
pode ser vago, mas “menor” é bem delimitado.) Então A(k) é
verdadeira e, portanto, pela linha de raciocínio acima, A(k+1)
deve ser falsa. Isto é, as teorias da similaridade e probabilidade
produzem uma delimitação precisa. Somente por meio da rejei-
ção da ideia de que “se A então B” é verdadeira sempre que A
e B são ambas verdadeiras (como argumentei no Capítulo 3),
podemos evitar o passo que vai da falsidade da condicional à
existência de uma delimitação precisa.
Se aceitamos esse ponto, então não se segue que, se não há
uma delimitação precisa, cada uma das condicionais será verda-
deira. Tudo o que o sorites precisa é um ponto de partida (usual-
mente incontroverso) e uma sequência uniforme de condicionais.
Para obter esta última, o argumento depende de uma relutância,
por uma série de razões, em efetivamente negar a condicional.
Em primeiro lugar, há o contexto. Não se pode negar que, se
10.000 são muitos, então um a menos será ainda muitos, pois
isso, em geral, sem um contexto específico, é verdadeiro. Em
segundo lugar, os números envolvidos são irrelevantes. Não se
pode negar que um homem com apenas 3.000 fios de cabelo
seja calvo, assim como um com 3.001 (pois sendo a distribuição
similar, um fio a mais é imperceptível).
238
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 238 06/06/14 12:25
indistinguível
... 100 101 102 103 ...
distinguível
Fig.7.1
Mas o que importa é a distribuição, não o número – de fios
de cabelos, de pedras etc. Em terceiro lugar, estamos em uma
posição que torna difícil negar que, se n pedras não perfazem
um monte, então n + 1 também não, se não somos capazes de
exibir um monte de pedras com n +1 pedras tal que qualquer
subconjunto próprio de tais pedras perfaz um monte – especial-
mente, como enfatiza o segundo ponto, se o número de pedras
for apenas acidentalmente relacionado com a possibilidade das
pedras perfazerem um monte (e assim como a possibilidade das
pedras de fazerem um monte é contingentemente relacionada com
seus tamanhos e formas). Há ainda, por fim, mais um equívoco
que é empregado para dar uma ajuda ao sorites.
Considere a série de amostras de cor, que mudam de cor
indiscriminadamente do vermelho para o verde. Examinando
um par isoladamente, não podemos distinguir uma da outra.
Mas podemos certamente distinguir a amostra da extremi-
dade esquerda (vermelho) da amostra da extremidade direita
(verde). Daí se segue que as amostras podem ser distinguidas.
Considere que se duas amostras consideradas isoladamente são
indistinguíveis, elas são indistinguíveis em primeira ordem (ou
simplesmente indistinguíveis). Se existe uma terceira amostra
em relação à qual uma pode ser distinguida, mas a outra não,
elas são distinguíveis em segunda ordem. Este argumento mostra
que as amostras da nossa série são indistinguíveis em primeira
ordem, mas distinguíveis em segunda ordem. Comece com o
caso mais simples: amostras adjacentes são indistinguíveis em
239
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 239 06/06/14 12:25
primeira ordem, mas cada amostra pode ser distinguida (em
primeira ordem) da amostra adjacente à amostra seguinte, tanto
para esquerda quanto para a direita (conforme Figura 7.1).
Assim, as amostras 100 e 101 são indistinguíveis (consideradas
isoladamente), como também as amostras 101 e 102 etc., mas
as amostras 100 e 102 (consideradas isoladamente, isto é, em
primeira ordem) são distinguíveis, assim como o 101 e o 103
etc. Portanto, cada par de amostras adjacentes é distinguível em
segunda ordem. Considere, por exemplo, o par 101 e 102. A
amostra 101 é indistinguível da 100, mas não da 102. Temos,
desse modo, um meio de distinguir a 101 da 100, a saber,
compará-las com a 100. E podemos repetir o procedimento para
cada par de amostras adjacentes.
indistinguível
... 100 101 102 103 104 105 106 ...
distinguível
Fig. 7.2
A mudança de tonalidade da série pode ser mais fina e sutil.
Suponha que cada amostra seja indistinguível, não apenas das
suas vizinhas imediatas, mas também das duas amostras seguintes
para cada lado (conforme Figura 7.2). Por exemplo, a amostra
103 não pode ser distinguida das amostras 101, 102, 104 e
105, mas pode, isoladamente, ser distinguida das amostras 100
e 106. Assim, a 103 pode ser distinguida em segunda ordem da
102, comparando-a com a amostra 100. Pois a 102 não pode
ser distinguida da 100, ao passo que ex hypothesi, a 103 pode.
Mas a mudança de tonalidade pode ser ainda mais fina e mais
sutil. Contudo, há um número finito de amostras e, certamente,
verde e vermelho podem ser distinguidos em primeira ordem.
Logo, deve haver um valor maximal para o comprimento das
sequências de amostras indistinguíveis, sequências nas quais
240
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 240 06/06/14 12:25
nenhum membro pode ser distinguido dos outros pelo exame
isolado – dois no primeiro exemplo (100, 101; 101, 102 etc.),
três no segundo (100, 101, 102; 101, 102, 103 etc.). Suponha
que esse número seja 20. Assim, as amostras 119 e 120 podem
ser distinguidas em segunda ordem, posto que embora a 119
não seja distinguível da 100, a 120 é, e assim por diante para
cada par de amostras.
Se refletirmos sobre a nossa prática com distinção de cores,
iremos reconhecer que tais comparações de segunda ordem, ou
com um “terceiro elemento”, são parte integral de nossa habi-
lidade de fazer juízos com cores – mas não apenas com cores.
Fazemos comparações similares para distinguir tamanhos de
pessoas diferentes – na verdade, usamos um instrumento de
medida que nada mais é do que esse “terceiro elemento”.
Contudo, essas distinções baseadas em um terceiro elemento
irão ainda deixar amostras indistinguíveis. Suponha, por exem-
plo, que as amostras 118 e 119 sejam exatamente duplicadas.
Assim, não haverá um terceiro elemento em relação ao qual elas
possam ser consideradas distintas. Temos que admitir, portanto,
que podem existir amostras diferentes, mas tão minimamente
diferentes que teste algum de qualquer ordem poderá distingui-las
– comparação isolada, comparação com um terceiro elemento
que seja distinguível em primeira ordem de um deles, mas não
do outro, um teste com uma amostra distinguível em segunda
ordem de uma, mas não da outra etc. Mesmo com comparações
de ordem cada vez mais alta, certas diferenças podem ser tão
pequenas que escapam à nossa capacidade de discriminação. É
nesse ponto que o sorites aparece novamente, pois não foi ainda
vencido.
Lógica difusa
O quadro que vimos até agora é o seguinte: entre os casos
claros, positivos e negativos, em que certos conceitos podem ser
aplicados (por exemplo, “alto”, “vermelho”, “pouco”), existe
241
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 241 06/06/14 12:25
uma área difusa, uma região de casos de fronteira. Em tais casos
de fronteira não estamos certos se o conceito se aplica ou não.
Isso motivou o desenvolvimento de uma teoria de conjuntos
difusa, e também de uma “lógica difusa”. A meu ver, podemos
mostrar que isso é um engano, um caminho equivocado – sendo
que o caminho certo é levar adiante a ideia de indistinguibilidade.
Mas será instrutivo considerar a abordagem difusa primeiro.
Aparentemente ela contribuiu de modo importante para a teoria
de sistemas de inteligência artificial. Mas ela não fornece uma
resposta satisfatória para o paradoxo sorites.
A teoria ingênua de conjuntos trata as extensões dos conceitos
dentro de um dado universo de discurso ou domínio – para cada
conceito bem definido há um conjunto de coisas que caem sob
tal conceito. Paradoxos similares aos que vimos aqui colocam
restrições à aplicabilidade de tais noções sem a especificação
de um domínio específico (veremos esse ponto no Capítulo 8).
Uma vez que estamos a salvo de casos paradoxais que já foram
adequadamente compreendidos (por exemplo, o conjunto de
todos os conjuntos que não são membros de si mesmos), pode-
mos estabelecer uma teoria de extensões coerente. Mas a teoria
assume que os conceitos são precisos e exatos. Deve estar claro e
determinado se um objeto particular pertence, ou não, a um dado
conjunto. Do ponto de vista ortodoxo, conjuntos são precisos e
exatos. Dado um conjunto, temos as coisas que pertencem a tal
conjunto, e o seu complemento, as coisas que não pertencem a
tal conjunto (dentro do universo de discurso).
Conjuntos difusos dividem o universo em três partes, uma
positiva, uma negativa e uma região de fronteira (usualmente
dividida em graus). Podemos conceber os conjuntos ortodoxos
como mapeamentos ou funções que vão de um conceito aos
valores de verdade “verdadeiro” e “falso” (ou 0 e 1, quem sabe).
Um objeto x pertence a um conjunto ortodoxo A se o “valor”
de “x pertence a A” – que vamos escrever “A(x)” – é 1, e não
pertence a A(x) se o valor é 0. Para todos os objetos do universo
de discurso deve estar determinado que A(x) é 0 ou 1. Conjuntos
242
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 242 06/06/14 12:25
ortodoxos podem, portanto, ser vistos como um caso-limite
dos conjuntos difusos. Para uma teoria de conjuntos difusos,
considere um conjunto de valores, V. V pode consistir de apenas
dois valores, “verdadeiro” e “falso” (o caso-limite), ou de três
valores, 0, 1 e ½, digamos, ou de todos os números reais entre
0 e 1 [0, 1] – e conjuntos de valores ainda mais elaborados são
possíveis. Um conjunto difuso, A, é um mapeamento definido em
U, o universo de discurso, que atribui a cada objeto x em U um
valor A(x) de V. Considere, por exemplo, o predicado “alto”.
Poderíamos atribuir a “alto” a função (x – 1)2 que vai da altura
das pessoas (em metros) ao intervalo real [0, 1]. Assim, alguém
com 2 metros de altura seria alto no grau 1, indiscutivelmente
alto. Alguém de 1 metro de altura seria alto no grau 0, isto é, não
seria alto. Entre esses dois casos, uma pessoa de 1,8 metro seria
alta no grau 0,64, isto é, bastante alta. Cada um dos predicados
sorites “alto”, “vermelho”, “pouco” etc. pode ser considerado
como um predicado que define, não um conjunto ortodoxo, mas
um conjunto difuso, distinguindo casos positivos claros (valor
1), casos negativos claros (valor 0) e uma gama de casos difusos
com valores intermediários entre esses dois.
Além de predicados difusos, que definem conjuntos difusos,
há também quantificadores difusos e advérbios difusos. Por
exemplo, não há um número exato ou proporção dos As que
deveriam ser Bs para que a maioria dos As fossem Bs (alguém
poderia definir como a metade dos As mais um; mas isso seria
um tentativa ortodoxa de tornar precisa a ideia). “Maioria”
e “poucos” são quantificadores difusos. “Usualmente” é um
advérbio difuso. Se dizemos “usualmente, poucas pessoas na
plateia têm cabelos ruivos”, há uma vagueza introduzida, não
apenas pelo predicado difuso “cabelos ruivos” e pelo quantifi-
cador “pouco”, mas também pela expressão “usualmente” – a
maioria segue esse padrão, mas não há uma proporção exata.
A lógica e a aritmética difusas são tentativas de estabelecer uma
teoria sistemática desses quantificadores e advérbios. Frege, ao
rejeitar a vagueza, afirmou que os matemáticos lidam apenas com
243
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 243 06/06/14 12:25
noções exatas e precisas. Mas isso não é verdade. Um teorema
da teoria dos números (ortodoxa) diz que “números redondos
são muito raros”. Um número redondo é um produto de um
número considerável de fatores comparativamente pequenos.
Assim, “redondo” é um predicado difuso de números, “raro”
é um quantificador difuso e “muito” é um advérbio difuso. No
entanto, é possível fornecer uma prova precisa da conexão entre
tais conceitos.
A lógica difusa e a teoria de conjuntos difusa, entretanto, não
ajudam muito para tratar o sorites. Em primeiro lugar, note como
seria estranho exigir que uma teoria difusa atribuísse valores
precisos aos graus em que um dado objeto é alto ou vermelho.
Na verdade, embora essa ideia apareça frequentemente, não
é essencial. Podemos tomar qualquer conjunto no lugar de V
como o conjunto de valores – podem ser, por exemplo, valores
linguísticos, “um pouco”, “não muitos” etc. Isso parece bem
mais plausível como um modelo para a nossa prática, afinal,
não dizemos coisas como “a cor vermelha nesta amostra tem um
grau de p/4” ou “esta pessoa é alta em um grau 0,81”. Graus são
difusos. Uma escala de ordinais é tudo o que precisamos. Mas isso
é o sintoma de uma dificuldade maior. A suavidade e continui-
dade do intervalo [0, 1] como conjunto de valores mascara uma
atribuição muito implausível na atribuição discreta dos valores.
O que seria a fronteira? Uma sugestão seria todos os membros x
de U para os quais A(x) esteja entre 0 e 1. Outra, todos para os
quais A(x) esteja entre certos valores não extremos a e b, isto é,
0 < a < b < 1. Mas, quaisquer que sejam os valores escolhidos,
o resultado é uma delimitação precisa, mas implausível, entre os
valores positivos, negativos e a fronteira. De fato, não apenas
essa delimitação é implausível – considere as amostras coloridas,
claramente vermelhas à esquerda; não há uma primeira amostra
que não seja claramente vermelha –, mas uma tal delimitação
precisa, agora, não entre A e não-A, mas entre A, não-A e a
fronteira, será igualmente não observável, indo de encontro ao
reconhecimento (contra os precisificadores) de que nossa prática
trata certos predicados como observacionais.
244
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 244 06/06/14 12:25
Esse caráter difuso da fronteira da fronteira é usualmente
denominado o fenômeno da “vagueza de ordem superior”. Não
apenas há uma fronteira “médio” entre “alto” e “não-alto”,
mas a fronteira entre “alto” e “médio” é, ela própria, difusa.
Não existe uma altura mínima a que “alto” se aplique, ou altura
máxima a partir da qual “alto” já não se aplique, qualquer que
seja a qualificação adicional introduzida. Não há como acomodar
esse fato dentro da teoria de conjuntos difusa. Isso não pode ser
feito pela variação do percurso de valores da função (o conjunto
de valores, V). Isso é uma característica que se deve ao fato de o
domínio da função (o conjunto das alturas) ser um ordenamento
linear de pontos. Veremos que a solução não é introduzir uma
abordagem difusa, baseada no grau de pertencimento de um
elemento a um conjunto, mas sim mudar a concepção de ser
membro de um conjunto.
Existem também problemas lógicos. Considere a forma do
sorites que procede, ou por meio da aplicação sucessiva de modus
ponens, ou por indução (talvez seguido por um passo como “...
logo, todas as amostras são vermelhas, portanto, esta amostra
verde é vermelha”). As premissas maiores têm a forma “se A(n),
então A(n + 1). Quando n pertence à região de fronteira, a
verdade de A(n) é ligeiramente maior que a de A(n + 1) – isto é,
n é A em um grau maior do que n + 1. Logo, é natural dizer que
cada condicional é ligeiramente menos do que completamente
verdadeira. Cada condicional é verdadeira em um grau d, onde
d esteja próximo a 1, mas menor que 1, assim como n + 1 é A
em um grau g, onde g está entre 0 e 1 e é ligeiramente menor do
que (talvez d menor do que) o grau em que n é A.
Começamos com A(0), que é verdadeiro no grau 1 (ex
hypothesi). Aplicamos então uma sucessão de passos de modus
ponens para obter, digamos,
A(0), se A(0) então A(1), se A(1) então A(2), ... se A(k – 1)
então A(k)
Logo, A(k)
245
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 245 06/06/14 12:25
A(0) é plenamente verdadeira; cada uma das outras premissas é
próxima da verdade – tão próxima quanto quisermos, tornando
as diferenças entre n e n + 1 tão pequenas quanto for necessário.
Mas A(k) é muito pequeno (ou 0). Portanto, temos uma escolha:
ou podemos fazer o valor de verdade de todas as premissas ser
igual a zero, ou negar que a inferência seja válida. Essa última
opção exige rejeitar a validade do modus ponens. Esse é o preço a
pagar pela lógica difusa, pois veremos que ela não pode escolher
a primeira alternativa. A razão é a conexão entre a lógica difusa
e a teoria de conjuntos difusa.
A teoria ingênua de conjuntos, em sua maior parte, consiste
em um tratamento das combinações e relações entre conjuntos.
Dados dois conjuntos A e B, podemos formar sua união A ∪
B, que é o conjunto cujos elementos pertencem a A ou a B; a
interseção A ∩ B, cujos membros são os elementos comuns a A
e a B; a diferença, A – B, cujos membros são os elementos que
estão em A, mas não estão em B. Note que A ∪ B = B ∪ A e A
∩ B = B ∩ A, mas obviamente A – B ≠ B – A. O complemento de
A, que representamos por A’, é U – A, e contém todas as coisas
do universo de discurso que não estão em A. A teoria de conjun-
tos difusa pretende definir operações análogas com conjuntos
difusos. Se A e B são conjuntos difusos, sua interseção A ∩ B
é definida por uma função de pertencimento fA ∩ B que vai de
A ∩ B até V, relacionada às funções de pertencimento que
definem separadamente A e B. Como poderíamos definir fA∩
B
? Suponha, a título de exemplo, que V = [0, 1], o intervalo de
números reais entre 0 e 1. Existem três propostas plausíveis para
a definição de fA ∩ B. A primeira é a de que as operações ∪, ∩
etc. deveriam se comportar de modo análogo às operações sobre
funções de probabilidade. Lembre-se que, para proposições A e
B, p(A e B) = p(A)*p(B/A); p(A ou B) = p(A) + p(B), contanto
que A e B sejam independentes, isto é, que A implique não-B.
Isso identifica o primeiro problema: as equações de probabilidade
não determinam p(A e B), nem p(A ou B), elas apenas estabele-
cem restrições. Seguir o modelo probabilístico não permitiria um
246
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 246 06/06/14 12:25
tratamento uniforme da união, interseção etc. dos conjuntos
difusos. O segundo problema diz respeito à região de fronteira.
p(A e não-A) = 0 para todo A. Mas, se A é difuso, haverá uma
sobreposição difusa entre A e não-A, de modo que, em algum
grau, algumas coisas serão simultaneamente A e não-A. A distri-
buição de graus não funciona como funções de probabilidade.
Outra proposta é a de que fA ∩ B = fA*fB, o produto das duas
funções de definição. Isso dará a resposta certa para o modus
ponens (que permanecerá válido), mas a resposta errada para
conjuntos. Considere A ∩ A. Evidentemente, a interseção de um
conjunto consigo mesmo deveria permanecer inalterada: A ∩ A
= A. Mas, segundo esta última alternativa, fA ∩ A = fA*fA = fA2 e,
em geral, fA ≠ fA2. Assim, não podemos definir interseções usando
o produto. É uma pena, pois essa proposta faria as premissas
das inferências modus ponens tenderem a zero (como deveriam,
intuitivamente), quanto maior fosse o número de condicionais.
Se o grau de verdade de “se A(n) então A(n + 1)” é, digamos, d
< 1, então para qualquer e > 0, por menor que seja, existe um
número k tal que dk < e. Isto é, o grau de verdade da conjunção
de premissas não suficientemente verdadeiras será próximo de
zero. Se pudéssemos considerar o produto dos graus de verdade
das premissas do modus ponens, poderíamos manter o passo
modus ponens válido, isto é, o grau de verdade das suas premissas
seria menor que o da conclusão e ainda explicar por que verde
não é vermelho.
O mesmo acontece com a forma indutiva do sorites, onde
as premissas são A(0) e “para todo n, se A(n), então A(n+1)”.
O quantificador universal “para todo n” é essencialmente uma
longa conjunção, de modo que a verdade das premissas seria
praticamente zero, assim como a conclusão. Mas a conjunção
não pode trabalhar como um produto, sob a pena de não
produzir uma teoria de conjuntos adequada. A única proposta
plausível para fA ∩ B na teoria de conjuntos difusa é Min(fA, fB),
isto é, fA ∩ B recebe o valor menor entre os valores de fA e fB.
247
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 247 06/06/14 12:25
Assim, fA ∪ B = Max(fA, fB), e fA’ = 1 – fA. A teoria de conjuntos
difusa agora é bem-sucedida, quem perde é o modus ponens.
O grau de verdade das suas premissas (no sorites) é maior do
que o da conclusão. Se o valor de cada condicional “se A(n),
então A(n+1)” é pelo menos d (e o de A(0) é 1), então o grau
de verdade de todas as premissas é ainda d, isto é, Min(1, d),
mas o da conclusão é próximo de zero. Similarmente para a
indução: o grau de verdade de “para todo n, se A(n), então
A(n+1)” é d, próximo de 1, mas o valor de A(k) é zero, para um
k suficientemente grande.
Com efeito, como deve ter ficado claro nos capítulos ante-
riores, nenhuma regra de inferência, mesmo modus ponens,
é correta acima de qualquer dúvida. Já colocamos objeções,
por exemplo, ao ex falso quodlibet, ao silogismo disjuntivo (e,
implicitamente, ao modus ponens para a implicação material,
isto é, vero-funcional), à introdução do existencial. Mas a lógica
difusa não fornece razões claras para tais rejeições. Suponha que
não temos condicional alguma e, por conseguinte, também não
temos o paradoxo sorites. Qual seria a objeção à introdução de
um novo conectivo (a condicional “implica”) baseado na regra
por meio da qual poderíamos asserir “A implica B” sempre que
pudéssemos derivar B de A? Pois o modus ponens seria válido
para a implicação; isto é, sempre que, tanto “A implica B”,
quanto A fossem asseríveis, estaríamos justificados em asserir B
(pois, posto que A foi asserido, e sendo “A implica B” também
asserível, mostra que podemos derivar B de A). Mas isso nos
levaria imediatamente ao paradoxo sorites. A objeção de que a
introdução de um tal conectivo deve ser rejeitada porque produz
um paradoxo seria completamente ad hoc. Não haveria explica-
ção ou diagnóstico para o problema, muito embora a situação
não seja muito diferente no que diz respeito ao fato da lógica
difusa considerar modus ponens inválido.
248
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 248 06/06/14 12:25
conceito X
Fig. 7.3
Essa longa análise do modo pelo qual a lógica difusa trata o
sorites confirma nosso ponto inicial. A lógica difusa e a teoria
de conjuntos difusa não tratam adequadamente os predicados
vagos. Ainda está para ser apresentado um tratamento da natu-
reza de predicados como “pouco”, “alto”, “vermelho” que
expresse adequadamente o caráter difuso das regiões de fronteira.
Tolerância
O que o fenômeno da vagueza sugere é que a malha que joga-
mos sobre a realidade não corresponde exatamente aos nossos
conceitos. Há uma certa espessura em nossa habilidade de discri-
minar, mas nossos conceitos não são definíveis a partir dela (ver
Figura 7.3). Essa situação levou ao desenvolvimento da noção
de “conjunto aproximado”, um conjunto cujos membros, e não
a relação de pertencer, são difusos. O que o sorites nos mostra é
que muitos de nossos conceitos correspondem a conjuntos apro-
ximados, e não a classes claramente distinguíveis de elementos.
Considere um universo de discurso U e uma relação R sobre U.
U poderia ser o conjunto das amostras de cores, ou de homens,
ou números. R, uma relação de tolerância, isto é, uma relação
que estabelece grupos de elementos de U que não podem ser
249
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 249 06/06/14 12:25
distinguidos. R deve ser reflexiva (cada elemento é indistinguí-
vel de si mesmo) e simétrica (se um elemento é indistinguível de
outro, este último é também indistinguível do primeiro). Para
cada elemento x em U, seja [x]R o conjunto de membros de U
relacionados a x pela relação R (isto é, o conjunto dos elementos
de U indistinguíveis de x). Por exemplo, R poderia ser “ter o
mesmo número de fios de cabelos” sobre o universo dos homens,
de modo que R dividiria o universo em classes de equivalência –
uma divisão exclusiva e exaustiva de todo o universo de discurso.
Nesse caso, R seria também transitiva, posto que é uma relação
de equivalência que fornece um conjunto de classes elementares
em U de modo que cada membro de U pertence a uma, e apenas
uma, classe de equivalência.
Entretanto, não existe nenhuma razão especial para que as
classes elementares sejam disjuntas, posto que cobrem o conjunto
U. Por exemplo, se U é o conjunto dos inteiros, R poderia rela-
cionar qualquer número x aos números que diferem de x em
no máximo 5 unidades. Assim, R dividiria U em tantas classes
elementares quantos são os números inteiros, cada uma contendo
11 membros. Lembre-se do nosso exemplo de amostras de cores:
a relação de indistinguibilidade – mesmo quando modificada por
um terceiro elemento que estabeleça a distinção – divide a série
em uma sucessão de conjuntos sobrepostos, provavelmente com
um número variável de membros. A situação que fornecemos
(Figura 7.3) das classes elementares sobre um domínio mostrou
classes de equivalência disjuntas. No caso das amostras colori-
das (ou conjuntos de números), a situação é como a mostrada
na Figura 7.4. No caso de uma configuração em duas dimen-
sões, teríamos elipses ou círculos sobrepostos (ver Figura 7.5).
Considere que R é uma relação de tolerância e, para todo x em
U, [x]R é o conjunto das classes elementares definidas por R em
U. Nesse caso, as classes elementares cobrem todo o universo
U, mas não o dividem em classes disjuntas.
250
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 250 06/06/14 12:25
... 100 101 102 103 104 105 106 ...
diferentes conjuntos elementares
Fig. 7.4
conceito X
Fig. 7.5
Um subconjunto X de U é definível se X é a união de um
conjunto de conjuntos elementares em U; caso contrário, não é
definível. Os conjuntos aproximados são aqueles que não são
definíveis. Um conjunto aproximado X pode ser estabelecido
apenas de modo aproximado por conjuntos elementares. A apro-
ximação superior de X é a união de cada conjunto elementar de
U que contenha um membro de X; a aproximação inferior de
X é a união de todos os conjuntos elementares de U totalmente
contidos em X. A aproximação inferior de “vermelho” consiste
naqueles objetos que são, sem dúvida, vermelhos. A aproximação
251
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 251 06/06/14 12:25
superior contém coisas que podem ser consideradas não verme-
lhas. O vermelho propriamente dito é um conjunto aproximado.
Essa é a lição do sorites. Há conjuntos elementares na região
de fronteira do “vermelho” que contêm elementos que, por um
lado, não podem ser distinguidos e, por outro, caem em lados
opostos da divisão vermelho/não-vermelho.
No caso de predicados de cor, os conjuntos elementares são
tonalidades. Michael Dummett e outros argumentaram que
a noção de tonalidade é incoerente – pelo menos se – o que
à primeira vista parece plausível – ela tiver as três seguintes
propriedades:
1. objetos que podem ser distinguidos têm diferentes tonalidades;
2. objetos que não podem ser distinguidos têm a mesma tona-
lidade;
3. nenhum objeto tem mais de uma tonalidade.
A terceira cláusula precisa de alguns esclarecimentos: nenhum
objeto tem mais de uma tonalidade em um dado ponto de
sua superfície, para um observador normal, em condições de
iluminação normais (ou pelo menos constantes). Na verdade, é
essa terceira cláusula que deve ser rejeitada, pois, como vimos,
indistinguibilidade é uma relação não transitiva. É uma relação
de tolerância, e relações de tolerância dividem o domínio em
classes elementares que se sobrepõem.
Daí se segue que devemos rejeitar a premissa maior do sori-
tes. É falso que adicionar 1, ou passar de um pedaço colorido
para outro à sua direita, não pode nos levar de “poucos” para
“muitos”, de “calvo” para “não calvo”, de “vermelho” para
“amarelo”. Mas, ainda assim, isso não significa que conceitos
tenham bordas precisas, que exista uma delimitação precisa.
As bordas são “turvas”, indefinidas, porque são compostas de
classes de elementos indistinguíveis. Predicados sorites estabele-
cem conjuntos aproximados. Perto das fronteiras, os predicados
sorites correspondem apenas de modo aproximado a conjuntos
252
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 252 06/06/14 12:25
elementares. Mas conjuntos aproximados não podem ser defi-
nidos por conjuntos elementares – eles ficam aquém da união
de todos os conjuntos elementares que contenham quaisquer
de seus membros, sua aproximação superior. A aproximação
superior contém objetos que não caem sob o conceito, mas não
contém objetos que não pertençam à mesma classe elementar de
objetos que caem sob o conceito – isto é, para todo objeto na
aproximação superior existe um objeto que cai sob o conceito
e é indistinguível do primeiro.
Antes parecia que deveríamos negar isso, sob pena de tornar
predicados de observação, como “vermelho”, em predicados não
observacionais. A ideia era a de que predicados de observação
devem se estender a todos os objetos que sejam indistinguíveis
dos objetos que caem sob ele. Mas é essa ideia que sustenta o
sorites – e, portanto, ela é incoerente. Predicados de observação
devem trabalhar de modo diferente do que supomos inicialmente.
Aqui está uma sugestão: predicados de observação (e também
outros, mas por ora vamos nos concentrar nos predicados de
observação) trabalham através da identificação de paradigmas
de contrários. “Poucos” e “muitos” são um par, assim como
“grande” e “pequeno”, “alto” e “baixo”. Predicados de cor
constituem um sistema completo de paradigmas contrastantes:
“vermelho”, “azul”, “verde”, “amarelo”, “marrom” etc. Se
olharmos uma série de amostras de cores, dispostas em duas
dimensões, por exemplo, na superfície de um cilindro, como é
usual, veremos uma variação contínua das cores. Se tentarmos
mapear classes de amostras de tonalidades indistinguíveis nessa
superfície, obteremos uma sobreposição de conjuntos de classes
– tonalidades distintas. As duas lições do sorites são, primeiro,
que tonalidades se sobrepõem, segundo, que o modo principal
de descrever as cores não é por meio de tonalidades – não há
um conjunto de tonalidades cuja união corresponda a uma
determinada cor. Pois essas classes de amostras indistinguíveis
têm limites rígidos, mas as cores, não.
253
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 253 06/06/14 12:25
Uma última observação acerca de vagueza de ordem supe-
rior. As aproximações superior e inferior de um conceito,
nesse modelo, têm bordas rígidas. Mas antes argumentamos
que as bordas de um conceito devem ser difusas. Conjuntos
aproximados poderiam ter bordas também aproximadas?
Metaforicamente, desviar a atenção de um conceito para a sua
borda envolve uma mudança de foco. Mas essa metáfora contém
a resposta. Existem diferentes relações de tolerância para diferen-
tes contextos e propósitos. Se o que queremos saber é se alguém é
alto ou baixo, uma fita métrica pode ser suficiente. Se queremos
saber se tal pessoa é muito alta, ou pouco alta, ou realmente alta,
precisamos ser mais acurados. Mas para responder a perguntas
mais precisas, precisaríamos refinar ainda mais nossos métodos e
critérios de distinguibilidade. A vagueza de ordem superior pode
ser modelada pela linguagem dos conjuntos aproximados, por
meio da variação do tamanho da malha de tolerância.
Resumo e sugestões para leituras
O sorites tem a forma de uma sucessão de aplicações de
modus ponens, ou de uma indução, que, por meio de uma série
de passos que mal podem ser distinguidos (por exemplo, se
alguém é uma criança após n horas, será também uma criança
após n + 1 horas), nos leva de um exemplo claro da aplicação
de um conceito, por exemplo, “criança”, até um exemplo claro
de aplicação incorreta (que pessoas de 90 anos são crianças, que
todos são crianças). Um bom panorama do argumento sorites na
Antiguidade foi apresentado por Jonathan Barnes em “Medicine,
Experience and Logic”.
Vimos no Capítulo 6 que, em resposta ao paradoxo, podemos
negar uma ou mais premissas, rejeitar a cadeia de inferências
propriamente dita, ou tentar de algum modo aceitar a conclusão.
A terceira opção não está disponível, como também não estava no
caso do paradoxo de Curry – a conclusão trivializa os conceitos
envolvidos e deve ser rejeitada.
254
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 254 06/06/14 12:25
A lógica difusa rejeita os passos inferenciais e sustenta que o
sorites mostra que o modus ponens não é universalmente válido.
As premissas combinadas, embora cada uma delas em separado
seja um pouco menos do que completamente verdadeira, são bem
próximas da verdade, tanto separadamente quanto em conjunto,
pois na conjunção consideramos o valor mínimo entre os valo-
res das proposições conectadas pelas conjunções para definir a
interseção na teoria de conjuntos difusa. Mas a conclusão é falsa.
Por essa razão, nessa perspectiva, o modus ponens permite que
o grau de verdade das premissas caia, não demasiadamente, mas
o suficiente para torná-lo um princípio de inferência inválido.
Um número suficiente de reduções, por meio de uma série de
aplicações do modus ponens, leva eventualmente à falsidade da
conclusão – que 10.000 são poucos ou que uma amostra verde
é vermelha. A apresentação clássica encontra-se em “The Logic
of Inexact Concepts”, de J. Goguen, que desenvolve uma ideia
de 1965, de Zadeh. Uma coletânea útil de artigos de Zadeh é
Fuzzy Sets and Applications, editado por R. Yager.
Mas essa resposta ao sorites é ad hoc – não é acompanhada
por uma teoria geral da condicional e seu comportamento em
inferências – e, junto com outras desvantagens da abordagem
da teoria de conjuntos difusa, sugere que não encontramos
ainda a causa real do fenômeno sorites. Outros diagnósticos
se concentram na premissa maior, as proposições da forma “se
A(n), então A(n+1)”, ou em sua forma mais radical, “se a é F e
b é indistinguível de a, então b é F”. Certos conceitos parecem
vagos e estabelecer limites precisos para eles é impossível. Além
dos casos positivos e negativos, há aqueles na região de fronteira.
O sorites traiçoeiramente estende o predicado além dessa região
de fronteira e nos faz tentar estabelecer uma linha divisória, uma
fronteira precisa além da nossa capacidade de discriminação.
Frege e Russell acreditaram que isso mostrava que a lingua-
gem coloquial é incoerente e precisava ser substituída por uma
linguagem ideal com conceitos exatos e precisos. J. van Heijnoort
apresenta um panorama dos argumentos de Frege no artigo
255
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 255 06/06/14 12:25
“Frege and Vagueness”, em Selected Essays. Mas Van Heijenoort
não estabelece uma distinção cuidadosa entre vagueza e outros
fenômenos similares, mas diferentes, como ambiguidade, gene-
ralidade, entre outros, uma distinção que é estabelecida por
Max Black no artigo “Vagueness”. Essa acusação de incoerência
direcionada a conceitos vagos foi repetida nos anos de 1970
por Michael Dummett no artigo “Wang’s Paradox”, publicado
em um número especial de Synthese, de 1975, que reúne outros
artigos sobre vagueza de Fine, Wright e Zadeh. O paradoxo de
Wang aplica o sorites ao conceito “número pequeno” e conclui
que todos os números são pequenos. Crispin Wright estendeu esse
argumento a um ataque em larga escala à ideia comum de que
a linguagem é governada por regras – ver “Further Reflections
on the Sorites Paradox”.
Se conceitos vagos são realmente incoerentes, uma aborda-
gem corajosa é negar que nossa linguagem contenha quaisquer
predicados vagos. Talvez o sorites seja simplesmente resultado de
ignorância – existe sempre um limite rígido, o problema é que não
sabemos onde ele está. Algum número é pequeno e o seu sucessor
imediato é grande, um certo número de pedras é insuficiente
para fazer um monte, mas uma a mais seria suficiente, e assim
por diante. Tim Williamson apresentou uma defesa competente
dessa solução em “Vagueza e ignorância”. Uma alternativa que
não examinamos neste capítulo é usar a técnica das sobreva-
lorações do Capítulo 5: construir predicados vagos, não como
predicados com fronteiras difusas e sem limites rígidos, mas como
predicados que têm uma delimitação, mas tal delimitação não
está em nenhum lugar em particular. Não existe um número em
particular em relação ao qual a premissa maior do sorites falha,
mas em qualquer aplicação do conceito, algum número deve ser
escolhido. A lógica da vagueza, então, é obtida considerando as
sobrevalorações de todas as extensões clássicas, em cada uma
das quais uma delimitação precisa, particular mas arbitrária, é
considerada. (Ver, por exemplo, K. Fine em Synthese (1975).
256
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 256 06/06/14 12:25
Mas tudo isso são apenas tentativas de consertar algo que,
por outro lado, não temos nenhuma prova de que tenha de fato
um defeito. A verdadeira questão é se há um tratamento coerente
de conceitos de observação, mas vagos. Há uma razão pela qual
conceitos cuja aplicação depende de observação deveriam ter
fronteiras vagas – a observação não é capaz de discernir limites
rígidos indefinidamente. Nossos conceitos devem ser tais que
possamos usá-los e aplicá-los.
O mais forte argumento pela incoerência dos conceitos vagos
é o sorites. Mas o sorites adquire muito da sua força por meio de
movimentos ilegítimos, o principal deles é a afirmação de que a
premissa maior, “se A(n) então A(n+1)”, somente pode ser falsa
se existe um limite rígido, isto é, um número k tal que “A(k)”
é verdadeira mas “A(k+1)” é falsa. Isso, entretanto, depende
de tomar a condicional como sendo material e vero-funcional,
uma alternativa que, como vimos no Capítulo 3, não pode ser
sustentada. O sorites também depende da retórica: quantos fios
de cabelo um homem precisa? Como podem esses pedaços colo-
ridos ser distinguidos quando vistos separadamente? Quantos,
sem considerar o contexto, são poucos?
Reconhecer essas características é importante, não para rejei-
tar o sorites, mas sim para esclarecer o ponto essencial. Considere
um universo de discurso. Nossa capacidade de observação e
nossos conceitos podem fazer distinções entre os elementos, mas
não indefinidamente. Ficamos com “classes elementares”, grupos
de elementos entre os quais, pelo menos por ora, não podemos
fazer distinções. Essas classes elementares cobrem o domínio,
isto é, todo elemento do domínio pertence a pelo menos uma, e
possivelmente mais de uma, classe de elementos indistinguíveis.
Sobre o domínio, aplicamos um conjunto de conceitos estabeleci-
dos por paradigmas – grupos de elementos vistos como exemplos
perfeitos, em contraste com outros que constituem exemplos
negativos. Entre eles não existe um contínuo de casos, mas,
antes, um grupo indefinidamente grande de elementos, dentre os
quais muitos são indistinguíveis. Qualquer que seja o ponto que
257
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 257 06/06/14 12:25
escolhermos para traçar uma linha, ela passará por conjuntos
elementares, pois esses conjuntos se sobrepõem. Considere, por
exemplo, a imagem de Dummett do ponteiro do relógio que se
move imperceptivelmente ao redor do mostrador. Após dois
segundos, sua posição parece ser a mesma; após quatro segundos,
sua posição parece ser a mesma que estava após dois segundos,
mas já é perceptível que agora sua posição é diferente da inicial.
Há um número finito de posições distinguíveis para o ponteiro.
Mas essas posições se sobrepõem – depois de dois segundos a
posição pertence tanto à classe elementar definida na hora inicial
quanto àquela definida quatro segundos depois – e vice-versa,
tais posições também pertencem à classe elementar definida no
instante intermediário, dois segundos após a hora inicial. Isso
seria incoerente? É um quebra-cabeças, e talvez seja paradoxal.
Mas aqui está um paradoxo cuja conclusão podemos aceitar, a
saber, que diferentes posições ou tonalidades, e outras noções
de observação, diferentes classes de elementos indistinguíveis
podem, e na verdade devem, incluir os mesmos elementos do
domínio. Indistinguibilidade não é uma relação transitiva.
Essa teoria, a teoria dos conjuntos aproximados, foi iniciada
por Zdzislaw Pawlak. Sua aplicação ao problema da vagueza
pode ser encontrada no artigo de Ewa Orłowska, “Semantics
of Vague Concepts”. Um tratamento completo dos conjuntos
aproximados foi publicado em Z. Pawlak, Rough Sets. Para
Pawlak, a relação de tolerância é uma relação de equivalência;
ela é afrouxada de modo a permitir a sobreposição de classes
elementares por Orłowska. A ideia de localizar conceitos vagos
por referência a paradigmas foi defendida de modo bastante
efetivo na aula inaugural de Mark Sainsbury, “Concepts without
Boundaries”.
258
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 258 06/06/14 12:25
8
Que reta é essa afinal?
O desafio construtivista
No Capítulo 1, caracterizei a teoria da verdade como corres-
pondência como realista, tanto do ponto de vista ontológico
quanto do epistemológico. Do ponto de vista ontológico, é
realista porque assere a existência de uma gama de objetos
abstratos, fatos, cuja existência não pode ser reduzida à existência
das entidades que os constituem – além delas, há a existência
adicional dos fatos. Não existem apenas ursos negros, meridia-
nos, doenças, concertos de violino, mas também fatos acerca
desses ursos, doenças etc. O que torna verdadeiras ou falsas as
proposições acerca dessas coisas não são as próprias coisas, mas
sim os fatos acerca delas. Não é o urso que faz verdadeira “o
urso é negro”, mas o fato que o urso é negro.
Fui adiante e afirmei que poderíamos elaborar uma teoria
da verdade satisfatória – atendendo às restrições de adequação
formal e material formuladas por Tarski – sem o compromisso
ontológico com fatos. Mas a opção filosófica por detrás da
teoria da correspondência é muito comum, e é resultante do seu
realismo epistemológico. Este último consiste na crença em valo-
res de verdade objetivos, isto é, que proposições são verdadeiras
ou falsas independentemente de nossa habilidade de descobrir
seus valores de verdade. Verdade, na concepção realista, não é
restringida pela epistemologia. Proposições possuem valores de
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 259 06/06/14 12:25
verdade, possamos ou não encontrá-los. Por princípio, podem
existir verdades que não temos meios de conhecer.
A conexão com o realismo ontológico é uma tentativa de
explicar essa independência. O que é isso que não depende de
nós e que tornam verdadeiras as proposições verdadeiras? A
objetividade é fundada em objetos, a saber, fatos. Sem dúvida,
o problema deixa de ser a objetividade dos valores de verdade
e passa a ser a existência objetiva dos fatos. O que se espera,
contudo, é que um tratamento aceitável desses últimos não
irá demorar muito a aparecer. Algumas vezes é sugerido que a
existência dos fatos é um truísmo, que ninguém estaria disposto
a negar. O que é então característico do realismo é sua concep-
ção particular dos fatos e a relação destes com as proposições.
Fatos “duros” (isto é, num sentido forte) são distinguidos de
fatos “fracos”, de modo que realismo acerca de alguma área do
discurso é a afirmação de que a verdade consiste em uma corre-
lação substantiva com fatos duros. Segundo o realismo global,
isso é o caso para todas as proposições legítimas. Certamente
podemos seguir esse caminho, e as formas cotidianas de discurso
(por exemplo, “Isso é um fato?”) parecem apoiar essa tese. A meu
ver, entretanto, é mais claro e mais econômico não desperdiçar
a palavra “fato” em truísmos, o que tem como consequência a
necessidade de se buscar uma subclasse de “fatos duros”. Basear
uma teoria em objetos autossubsistentes e ontologicamente autô-
nomos (no caso, fatos) historicamente tem sido o modo padrão
de sustentar a objetividade acerca de alguma área do discurso.
O minimalismo (se é que alguma versão dessa concepção
é possível) mostra que essa ideia é confusa. O minimalismo
atribui valores de verdade objetivos sem qualquer recurso
adicional a objetos. Por exemplo, a proposição de que a
está na relação R com b é verdadeira se e somente se a está
na relação R com b, e assim por diante, para cada forma
de proposição. “S é verdadeira se e somente se p” é um
esquema que vale sempre que S é substituído pelo nome de
uma proposição e essa mesma proposição (ou uma tradução
260
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 260 06/06/14 12:25
dela, quando a linguagem e a metalinguagem são diferentes)
substitui p. Lembre-se que, segundo a tese minimalista, não
há o que dizer acerca da verdade além do que está contido no
esquema T: a essência e a finalidade da noção de verdade é que o
esquema T dá as condições de verdade da proposição nele citada.
As condições de verdade não acrescentam nada à proposição.
Apenas retiramos as aspas e simplesmente as apresentamos.
Ao mesmo tempo, não é colocada nenhuma restrição sobre a
verdade, nem a exigência de que verdade seja discernível, nem
de que ela seja fundamentada na existência de algum grupo de
objetos. A proposição é simplesmente repetida, de modo básico,
e sem alterações. Nenhuma ontologia adicional é requerida,
tampouco há qualquer restrição epistêmica à noção de verdade.
O minimalismo é um realismo sem dor.
O desafio construtivista, portanto, ataca tanto o minima-
lismo quanto teorias ontologicamente mais extravagantes. Pois
o construtivismo pretende mostrar que uma noção de verdade
sem restrições epistêmicas é incoerente, não nas suas implica-
ções ontológicas, mas sim nas implicações epistêmicas. A falha,
segundo afirmam os construtivistas, está na noção de verdade
realista, e não no compromisso com objetos, no caso de haver
tal compromisso. O desafio é exigir que o realista mostre que
faz sentido a ideia segundo a qual uma proposição deveria ser
verdadeira ainda que a pergunta pelo seu valor de verdade
possa transcender, ir além, da nossa capacidade de descobri-lo.
O problema central diz respeito ao compromisso realista com
a possibilidade daquilo que, segundo a terminologia, é deno-
minado verdades de “verificação transcendente”, proposições
cuja verdade não temos meios de demonstrar ou verificar. O
construtivista desafia o realista a defender esse pressuposto – ou
abandonar o realismo e adotar uma teoria da verdade epistêmica
ou construtivista.
O objetivo deste capítulo é tentar esclarecer esse debate. A
partir do mero enunciado do desafio, muitas questões imedia-
tamente surgem: o que é uma concepção epistêmica da verdade
261
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 261 06/06/14 12:25
e como ela é conectada com a ideia de “construção”?; por que
seria tão difícil fazer sentido da ideia de verdades de verificação
transcendente?; e, em particular, haveria uma classe particular
de verdades que se constituiria no principal campo de batalha
entre os dois lados? Essas e outras questões receberão respostas
à medida que considerarmos os três argumentos que os cons-
trutivistas apresentam contra os realistas, que denominarei
matemático, lógico e linguístico.
O infinito
O argumento matemático diz respeito à natureza do infinito.
O infinito surge na matemática em dois lugares. O primeiro está
ao contarmos os números, ou números naturais, como são usual-
mente chamados. Não importa quão longe tenhamos contado,
é sempre possível contar mais um. O maior número natural não
existe – qualquer candidato poderia ser imediatamente superado
pela adição de 1. Portanto, não pode existir apenas uma cole-
ção finita de números naturais – tal coleção é infinita. O outro
contexto em que o infinito surge é o estudo da geometria. Uma
linha pode ser infinitamente subdividida. Qualquer intervalo
pode ser novamente subdividido em subintervalos. Mais uma vez,
é um processo que não tem limite. Não importa quão longe tenha
ido o processo de subdivisão, mais subdivisões são possíveis.
Note que a infinitude da repetição de ambos os processos
são ideais e conceituais, mas também essenciais. Suponha que
existam – como nos disseram – apenas 1080 partículas elemen-
tares no universo. Ainda podemos acrescentar a elas o número
de moléculas e estrelas formadas com elas, o número de pares
e cadeias de partículas, cadeias de cadeias, e assim por diante.
Similarmente, mesmo que o espaço físico seja “granulado” (não
admita distinções além de, digamos, 10-40), o espaço ideal da
geometria não é restrito dessa forma. E, ainda mais importante,
a “reta real”, o conceito de extensão espacial, atua como um
modelo para o tratamento matemático do tempo, velocidade,
massa, comprimento de onda e frequência, entre outras.
262
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 262 06/06/14 12:25
Contudo, a ideia de que um processo (de adicionar 1, ou de
subdividir mais e mais) pode ser infinitamente continuado intro-
duz o infinito apenas do ponto de vista potencial. Nesse modelo,
o infinito não é algo que possa algum dia ser alcançado. De fato,
seria incoerente supor o contrário, pois nossa ideia é justamente
a de um processo que, não importa quantas vezes tenha sido
aplicado, possa ser aplicado novamente. Logo, não pode existir
um ponto a partir do qual todas as possíveis aplicações tenham
sido completadas. Infinitude, assim, é um objetivo inalcançável,
que jamais pode ser realizado.
Nossos conceitos de modelo standard da aritmética, w (do
Capítulo 2), e da reta real são, por outro lado, concepções do
infinito que o tomam como atual. w, o conjunto dos números
naturais, é uma totalidade completa, o resultado de iterar a
adição de 1 infinitas vezes. Ele contém todos os números natu-
rais. Similarmente, a reta real é mais do que um intervalo; é uma
coleção de pontos, infinitos pontos. A reta real é realmente,
efetivamente, densa e contínua. Além de ser possível localizar
pontos na reta real (eles realmente estão lá), entre dois números
quaisquer existe um terceiro (densidade); e toda sequência cotada
infinita de pontos tem um limite – ela é contínua.
Essas concepções dos números naturais e da reta real são
relativamente recentes, pois tratar coleções infinitas como atuais
parecia levar a paradoxos. Considere, por exemplo, os números
naturais. Todo número natural ou é ímpar, ou é par. Se pensar-
mos na coleção como uma totalidade completa, ela parece ser
a união de duas subcoleções – a coleção de todos os números
pares e de todos os ímpares. Mas essas coleções são também
infinitas. Não é paradoxal que as duas coleções deveriam ser do
mesmo tamanho – infinitas –, ainda que uma seja menor do que
a outra? Pois, em certo sentido, existem menos números ímpa-
res do que números naturais, posto que nem todos os números
naturais são ímpares.
263
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 263 06/06/14 12:25
Tratar a reta como um infinito atual também parecia levar a
paradoxos. Vários deles são atribuídos a Zenão de Eleia, século
5 a.C. Se uma pista de corrida consiste de um infinito atual de
pontos, um corredor deve completar um infinito atual de tarefas
antes de chegar ao final – alcançando primeiro, por exemplo,
metade do percurso, depois metade do percurso remanescente,
e assim por diante. Visto de outra perspectiva, antes de alcançar
qualquer ponto, ele deve primeiro alcançar o ponto médio que
corresponde à metade do percurso até esse ponto, mas antes
de alcançar esse ponto médio, deve primeiro alcançar o ponto
que fica na metade do caminho até o ponto médio, e assim por
diante. Logo, ele não pode sequer começar, pois antes de fazer
qualquer movimento, haveria um número infinito de tarefas
a serem executadas. Esse quebra-cabeças tem uma “solução”
matemática – o tempo decorrido até alcançar um ponto é a soma
finita dos intervalos progressivamente menores (para frente ou
para trás) que corresponde exatamente à soma finita dos inter-
valos espaciais cada vez menores – mas isso é não se dar conta
do aspecto filosófico do problema. Pois este depende do fato de
que uma coleção infinita foi definida como uma coleção que,
não importa quanto já se tenha dela, há sempre mais coisas por
vir – ela é, por definição, incompleta. Logo, se de fato há infinitas
tarefas a serem completadas antes que alguém tenha percorrido
um dado intervalo, então tal intervalo não pode ser percorrido.
Esse e outros quebra-cabeças sobre o infinito e o contínuo (a
reta real) não tinham sido resolvidos (se é que foram “resolvi-
dos”) até que o processo de aritmetização da análise foi levado
a cabo no fim do século 19. O desenvolvimento da topologia
geral, dando continuidade a um trabalho iniciado por Descartes
no século 17 introduzindo métodos algébricos na geometria,
levou a um programa fundacional cujo objetivo era eliminar
confusões, sujeição à intuição e paradoxos. Considere a desco-
berta simples, mas rica em implicações, da incomensurabilidade
264
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 264 06/06/14 12:25
pelos gregos. Considere o gráfico da função y = x2 – ½; ele divide
o intervalo unitário (sobre o eixo dos x) em dois segmentos, os
valores de x cujo quadrado é menor do que ½ e os valores de
x cujo quadrado é maior que ½. Mas o ponto da divisão não
pode ser obtido por qualquer processo de divisão racional,
subdividindo-se a linha em frações. Um tratamento adequado da
reta real como um conjunto de pontos, um infinito atual, requer
a complementação do conjunto das frações por uma infinidade
adicional de pontos obtidos por meio de “cortes”, a postulação
de pontos irracionais que correspondem a cada possível divisão
do conjunto dos pontos racionais em duas classes, a primeira
contendo todos os racionais menores que qualquer racional que
ela contenha, a segunda contendo todos os racionais maiores que
qualquer racional que ela contenha.
Esse processo de domesticação do infinito na matemática
precisou de duas inovações cruciais e deu origem a um difícil
quebra-cabeças. Na ponta de lança dessas inovações estavam
Georg Cantor e Richard Dedekind. O objetivo era tratar o
infinito, tanto quanto fosse possível, de modo similar ao finito.
O primeiro passo foi mudar a definição de infinito: ao invés
de defini-lo como incompletável, e tendo como consequência
o paradoxo de Galileu (que existem tantos números ímpares
quanto números naturais), definimos o infinito por meio desse
paradoxo, como sendo qualquer coleção equinumérica com um
subconjunto próprio de si mesma (como os números ímpares,
equinuméricos aos números naturais, ou os pontos do intervalo
[0, 1], equinuméricos aos pontos do intervalo [¼, ¾], ou na
verdade, a qualquer intervalo), e então perguntamos se uma tal
coleção é completável. A afirmação de Cantor, que introduziu a
teoria do “transfinito” – o infinito domesticado –, era a de que
nem todos são incompletáveis. O transfinito pode ser tratado
– por meio dos métodos que usamos para o finito – como uma
totalidade completa, um infinito atual. Por exemplo, considere o
265
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 265 06/06/14 12:25
processo da tomada de um limite, como o progresso do corredor
ao longo do estádio. A distância percorrida é
O símbolo ∞ não precisa ser tratado como o nome de um valor
de n – de fato, esse foi o insight essencial do século 19. A soma é
um limite; ela é o número (a saber, 2) que difere cada vez menos
de cada soma parcial,
à medida que k aumenta. Essa técnica é usualmente conhecida
como definição “e-d”: = g se para todo e > 0 (por menor
que seja) existe um d = 1/k tal que . Logo, g = 2.
Suponha que temos algum processo que podemos aplicar
repetidas vezes, por exemplo, a um subconjunto do intervalo
[0, 1] (o exemplo que Cantor considerou foi a formação do
conjunto derivado de seus pontos de acumulação), formando
subconjuntos sucessivos, P, P(1), P(2), ..., P(n). Analisa n d o o s
limites por meio da técnica e-d, podemos considerar o limite
desse processo, P(∞), para cada conjunto P. Esse pode ser vazio,
ou pode ser outro subconjunto não vazio de [0, 1]. Nesse
último caso, podemos aplicar a técnica novamente, formando
P(∞+1). Foi nesse ponto que Cantor introduziu a notação w
para o resultado de aplicar esse processo uma vez para cada
número natural – até o limite. Assim, escrevemos P(w) para o
conjunto limite, P(w+1), P(w+2), ... como o resultado de aplicar
esse processo repetidamente, produzindo – para subconjun-
tos iniciais P suficientemente ricos – os conjuntos derivados
e assim por diante. Os
266
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 266 06/06/14 12:25
índices w, w*2, ww etc. eram os números transfinitos de Cantor, o
infinito tratado como finito. A segunda motivação era completar
a reta real por meio dos irracionais, obtidos por “cortes” do tipo
anteriormente apresentado. Se pensarmos na reta real como um
contínuo, devemos supor que onde quer que ela seja cortada –
como o lado de um quadrado “corta” a diagonal, na famosa
prova de Euclides da incomensurabilidade, ou como o gráfico
de cos x “corta” o eixo x em p/2, 3p/2 etc. – existe um ponto
na reta através do qual o corte passa. A reta é contínua, contém
um ponto limite para cada sequência monotônica cotada, isto
é, uma sequência tal que todos os seus membros são menores
(respectivamente maiores) que algum número, isto é, uma cota
superior (respectivamente inferior), e tal que membros suces-
sivos são maiores (respectivamente menores) que os membros
anteriores, isto é, aumentando (respectivamente diminuindo)
monotonicamente; pois a própria sequência define um corte no
contínuo, o qual, por sua vez, serve para definir o limite como
o supremo, o menor do majorantes.
Qual é, então, a questão que produz o quebra-cabeças? Ela
se coloca da seguinte forma: agora temos duas coleções infi-
nitas, duas espécies de infinito atuais, os números naturais, w,
tratados como uma totalidade completa; e a reta real, digamos,
novamente o intervalo [0, 1], tratado como uma totalidade
completa. Cada um dos dois é infinito posto que é equinumérico
com um subconjunto próprio de si mesmo. Por outro lado, eles
também são muito diferentes. w é um conjunto discreto no qual
cada membro (com exceção do primeiro) tem um predecessor
imediato e um sucessor imediato. Tecnicamente, isso é uma boa
ordenação, isto é, todo subconjunto tem um menor membro
nessa ordenação. O intervalo [0, 1], por outro lado, não é um
ordenamento discreto – não devemos pensar nele como contas
em um colar, incrivelmente apertadas umas contra as outras.
Nenhum membro tem um sucessor ou um predecessor imediato
– entre quaisquer dois membros existe um número infinito de
267
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 267 06/06/14 12:25
outros membros. Na verdade, entre quaisquer dois racionais
existem infinitamente muitos irracionais, como também infi-
nitamente muitos racionais. A questão colocada por Cantor foi:
essas duas coleções são equinuméricas?
De fato, não é tanto a questão, mas sim a resposta, que produz
um quebra-cabeças. Pois Cantor foi capaz de provar que essas
coleções não são equinuméricas. Isso significa que não há um
pareamento (ou uma bijeção) entre seus membros, como existe,
por exemplo, entre os números ímpares e os números naturais,
ou entre o intervalo [0, 1] e qualquer segmento dele. Pois consi-
dere qualquer número real entre 0 e 1, isto é, qualquer membro
de (0, 1) – 0 e 1 excluídos. Tal número pode ser representado,
de um modo que nos é familiar, por um decimal infinito e, para
evitar duplicações (posto que, por exemplo, 0,5 = 0,49999...),
como um decimal infinito com nenhuma sequência consecutiva
infinita de zeros:
1/p = 0,318309886...
1/2 = 0,4999999...
1/√2 = 0,707106781...
13/83 = 0,156626506...
Cada casa decimal após a vírgula contém um dígito entre 0 e 9.
Suponha que exista um mapeamento dos números reais para os
naturais, isto é, uma lista exaustiva dos membros do intervalo (0,
1), com um primeiro membro, um segundo, e assim por diante.
(A tabela acima poderia ser o início de uma tal lista, mostrando
seus primeiros quatro membros.) Nós agora podemos “diago-
nalizar” qualquer lista desse tipo, exibindo um número real em
(0, 1) que não está na lista. O “novo” número real é construído
da seguinte forma: na sua primeira casa decimal, adicione 1 ao
primeiro dígito após a vírgula do primeiro número da lista, se
tal dígito não for 9, ou ponha 8, se tal dígito for 9; na segunda
casa decimal, adicione 1 ao segundo dígito após a vírgula do
segundo número da lista, se tal dígito não for 9, ou ponha 8, se tal
dígito for 9; e assim por diante. Em outras palavras, esse “novo”
268
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 268 06/06/14 12:25
número real difere na n-ésima posição do n-ésimo número da
lista. Por exemplo, se a amostra acima mostra o início da nossa
lista, o real da “diagonal” será 0,4887... . É fácil constatar que
esse número real não pode estar em lugar algum da lista, posto
que é diferente de cada número real dessa lista em pelo menos
uma casa decimal.
Como deveríamos interpretar esse resultado? Lembre-se dos
tipos de ordens transfinitas de Cantor, w, w + 1,..., w*2, ww etc.
Essa série é bem-ordenada e estende os números naturais ao
transfinito. O mapeamento dos números ímpares nos números
naturais mostra que w e w*2 (isto é, w + w) são equinuméricos
– pois ele extrai os números ímpares (como uma coleção de
ordem tipo w) e deixa os números pares (outra coleção de tipo
w). Isto é, podemos mostrar que cada um desses tipos de ordem
superior, w, w+1, w2, ww é equinumérico a w. Cantor interpretou
o argumento diagonal mostrando que os reais correspondem
a um ordinal ainda mais alto, que não pode ser mapeado 1-1
sobre w. Isto é, ele não pôs em dúvida que os reais possam ser
bem-ordenados – apresentados em uma lista. Entretanto, uma
tal lista seria inevitavelmente mais longa que w. Qualquer lista
de tipo w omite alguns reais; logo, uma lista completa deve
prosseguir além de w, e isso de um modo radical, de um modo
que, por exemplo, w2 não faz, pois w2 (por exemplo, dividir os
números naturais em subconjuntos que compartilham os menores
divisores primos) pode ser reordenado para corresponder a w.
A essa altura já percorremos um longo caminho desde o para-
doxo de Zenão e a prova de incomensurabilidade dos gregos.
Aparentemente temos uma teoria coerente que unifica métodos
da aritmética, da análise e da geometria. A matemática tornou-
-se a teoria do infinito, da aplicação sucessiva de operações do
finito ao transfinito, na teoria ordinal dos limites, e do contínuo
como uma coleção de elementos individuais, criando uma métrica
de extensões a partir de uma coleção de pontos não extensos,
na topologia geral. A data é, digamos, 1890, e os paradoxos
269
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 269 06/06/14 12:25
que Dedekind, Weiertrass e Cantor pensaram que tinham sido
banidos para sempre estavam prestes a retornar com força total.
O primeiro dos paradoxos modernos foi o de Burali-Forti.
Considere a série de ordinais de Cantor. Não importa quão
longe nós tenhamos ido na série de ordinais, podemos sempre
aplicar uma vez mais a operação iterada, qualquer que seja ela.
O ordinal resultante é maior que os ordinais que os antecedem.
(Aqui, “maior que” não quer dizer “não equinumérico”, pois
claramente “a + 1” pode ser mapeado 1 para 1 em a, mapeando
1 ao primeiro elemento de a, 2 ao segundo elemento de a, e assim
por diante, deslocando a operação sucessora à direita. Antes,
“a + 1” nunca será isomórfico a a no que diz respeito à ordem,
isto é, “a + 1” denota um tipo de ordem do qual a é uma parte
própria – um segmento inicial próprio.) Considere a coleção de
todos os ordinais. Ela é bem-ordenada, pois é desse modo que
os ordinais são construídos. Logo, ela tem uma ordem de um
tipo, que é também um ordinal, q, digamos. Então, podemos
construir q + 1, que será um ordinal maior do que o conjunto
de todos os ordinais – uma contradição.
Claramente, não pode existir a coleção de todos os ordinais,
pois, caso contrário, obtemos uma inconsistência. Ela é um
infinito absoluto. Cantor alegava ter domesticado a infinitude
– o transfinito. Mas além do transfinito, deve haver um infinito
absoluto, sujeito a todos os velhos problemas. Cantor reconheceu
isso. O problema, entretanto, é dar uma justificativa, uma expli-
cação, para o fato de não poder existir uma coleção de todos os
ordinais. Dizer que ela não existe, caso contrário, obtemos uma
inconsistência, é fazer um movimento completamente ad hoc.
Precisamos de uma explicação, uma razão pela qual colecionar
alguns objetos juntos, por exemplo, os números naturais, parece
seguro e consistente, ao passo que colecionar outras coisas, como,
por exemplo, os ordinais, leva a uma contradição.
O mais famoso dos paradoxos que explodiram na matemática,
todos essencialmente na década de 1895-1905, foi o paradoxo
de Russell, publicado por Bertrand Russell em 1903. Russell o
270
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 270 06/06/14 12:25
encontrou ao refletir sobre a prova de Cantor de que os números
reais não são enumeráveis – não pode haver uma lista (de tipo de
ordem w) dos números reais (ou de qualquer intervalo dos reais,
posto que tal intervalo seria equinumérico com toda a coleção
dos reais). Como vimos, a prova procede pela “diagonalização”
de qualquer suposta lista dos reais, usando a lista para construir
outro real que é diferente de cada um dos reais da lista. A prova
pode ser generalizada: dado qualquer conjunto, existem mais
propriedades das coisas desse conjunto do que coisas nesse
conjunto. Para qualquer pareamento dado, das propriedades com
coisas do conjunto, considere a propriedade que alguma coisa
tem se e somente se tal coisa não tem a propriedade com a qual
é associada. Considere um caso fácil, apenas duas coisas, a e b
(duas pedras, por exemplo) e pense nas propriedades extensio-
nalmente, isto é, como simplesmente o conjunto de coisas com
tais propriedades. Então existem quatro propriedades, a que
não é verdadeira, nem de a nem de b (ser uma gaivota talvez),
a que é verdadeira de a (ser a), a que é verdadeira de b (ser b),
e a que é verdadeira de a e b (ser uma pedra). Não podemos
fazer um pareamento 1 para 1 das pedras com suas possíveis
propriedades – há propriedades em demasia.
A construção crucial em ambas as provas – na de Cantor
e na de Russell – é a diagonalização, o uso de um suposto
mapeamento 1 para 1 para produzir um número, um
conjunto, ou propriedade, que originalmente não estava lá.
Para o paradoxo de Russell, considere o conjunto de todas
as propriedades (ou conjuntos) e considere a propriedade (ou
coleção) de propriedades (respectivamente, conjuntos) que
não se aplica a si mesma (respectivamente não pertence a si
mesmo). Chame isso de propriedade de Russell, ou conjunto
de Russell. Ela não pode se aplicar a si mesma, posto que é a
propriedade que se aplica a propriedades somente se elas não
se aplicam a si mesmas. Mas então ela deveria se aplicar a si
mesma, posto que se aplica a todas as propriedades que não
se aplicam a si mesmas (mutatis mutandis para conjuntos).
271
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 271 06/06/14 12:25
Isso é uma contradição: a propriedade de Russell simultanea-
mente se aplica e não se aplica a si mesma; o conjunto de Russell
simultaneamente pertence e não pertence a si mesmo.
Intuicionismo
Russell e Zermelo – que aparentemente chegaram de modo
independente ao “paradoxo de Russell” – estavam entre os
líderes do trabalho de reconstrução da teoria de conjuntos
clássica. Russell introduziu uma hierarquia de tipos, Zermelo,
uma hierarquia de conjuntos, ambos restringindo a abrangência
do transfinito. Mas, para Brouwer e o grupo dos construtivistas,
os intuicionistas, que ele liderava e inspirava, os paradoxos da
teoria de conjuntos eram vistos como envolvendo muito mais do
que um problema restrito à teoria de conjuntos que pudesse ser
tratado por meios lógicos e conjuntísticos. Eles comprometiam
o empreendimento como um todo, remontando pelo menos a
Descartes, de tratar algebricamente conceitos geométricos, e a
introdução do infinito atual, que ele ensejava.
Ao lidar com coleções infinitas, podemos tratá-las tanto
extensionalmente quanto intensionalmente. Isto é, podemos
ou bem descrevê-las como a extensão de um conceito, ou bem
podemos considerar que são constituídas pelos seus elementos.
Considere um exemplo: suponha que asserimos que todos os
passageiros do voo para Fiumicino receberam seus jantares.
Poderíamos fazer essa asserção como um fato geral acerca de
passageiros de voos da Alitalia – tratando, desse modo, a coleção
intensionalmente. Cada membro da coleção cai sob um certo
conceito, uma intensão e, como tal, a ele será servido um jantar.
Mas podemos também fazer essa asserção como o resultado de ir
a cada passageiro e verificar que lhe foi servido o jantar – dessa
forma, podemos checar a asserção geral. Isso é tratar a coleção
extensionalmente, o que é possível com coleções finitas, mas
não com coleções infinitas, que somente podem ser tratadas
intensionalmente, como instâncias de um conceito geral. É isso
272
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 272 06/06/14 12:25
o que significa a incompletabilidade de coleções infinitas – por
mais instâncias que alguém tenha examinado ou enumerado,
existem ainda outras por vir.
O realista tenta manter a ficção de que coleções infinitas
podem, entretanto, continuar a ser concebidas extensionalmente.
Ainda que nós, com nossas limitações humanas, não possamos
inspecioná-las, elas existem objetivamente – e talvez outro ser,
com grandes poderes (Deus), poderia percorrê-las todas. Na
famosa frase de Russell, as limitações humanas constituem uma
“mera impossibilidade médica”. O realista acredita que existe
uma extensão plenamente estabelecida de conceitos como os de
“número natural”, de “número real” etc.
Na sua versão mais radical, o realista adota plenamente o
Princípio da Compreensão, segundo o qual todo conceito bem-
-definido determina um conjunto. Os paradoxos de Burali-Forti e
Russell mostraram que tal princípio exige algum tipo de restrição.
Entretanto, na hierarquia cumulativa, que constrói conjuntos de
baixo para cima na teoria axiomática de conjuntos, os axiomas
da infinitude e do conjunto potência asserem em particular a
existência – como totalidades determinadas – das extensões dos
conceitos “número natural” e “número real”.
Isso é rejeitado pelo intuicionista. O que corresponde a esses
conceitos são operações ou procedimentos – noções intensionais.
Por exemplo, o conceito “número natural” é constituído por um
processo ou operação de sucessivamente se adicionar 1. Cada
número real é o limite de uma série de aproximações, estendendo
sua expansão decimal por mais e mais termos. Isto é, tanto os
números naturais quanto os números reais são obtidos por meio
de uma construção. Não existe uma totalidade preexistente de
entidades que são então exploradas por nós. Números são cria-
dos pela aplicação sucessiva de uma operação. Onde o realista
diz que todo infinito potencial pressupõe um infinito atual, o
construtivista responde que todo infinito potencial pressupõe
uma operação e implica que não existe uma realidade objetiva.
O que é verdadeiro o é em virtude da nossa capacidade de aplicar
273
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 273 06/06/14 12:25
a operação e sermos bem-sucedidos no resultado obtido, e não
devido a algum tipo de correspondência com uma tal realidade.
A concepção que sustenta a abordagem construtivista a cole-
ções infinitas, portanto, é radicalmente diferente da realista. Em
particular, ela leva a um tratamento muito diferente das afirma-
ções de existência. Na verdade, o realista tende a uma posição
equívoca nessa questão. Ele também irá falar frequentemente
em “construções”, por exemplo, dos racionais como pares
ordenados de inteiros, dos reais como cortes de Dedekind dos
racionais. Mas ele não leva a sério a noção de construção como
impondo uma restrição real. Ele pode recorrer a “Deus” – pelo
menos metaforicamente – como o grande construtor que pode
percorrer tais construções em suas plenitudes (medicamente
impossíveis). No fim das contas, sua doutrina filosófica permite
postular qualquer entidade cujo acréscimo não leve a inconsis-
tências. Foi isso que moveu adiante a aritmetização da análise
nos anos de 1860 e 1870; e, quando surgiram os paradoxos, o
objetivo da revisão era preservar tanto quanto a consistência
nos permitisse.
O construtivista, como o próprio nome revela, considera
seriamente as limitações impostas pelos métodos de construção.
A existência não tem aplicação ou sentido além do que pode
ser construído e exibido. Exige-se que uma prova de existên-
cia exiba a testemunha de sua verdade – isto é, que forneça
uma construção por meio da qual ela possa ser calculada. Um
exemplo muito citado de uma prova construtiva é a prova da
infinidade dos números primos – para qualquer primo, existe
um maior número primo. Dado um número primo, a prova
mostra como construir um maior. Suponha que p é primo.
Considere p! + 1 (isto é, o sucessor de p fatorial, sendo p fatorial
o produto de todos os seus predecessores – por exemplo, 2! =
2 * 1 = 2; 3! = 3 * 2 * 1 = 6; (n + 1)! = (n + 1) * n!). Dividir
p! + 1 por todos os primos menores ou iguais a p deixa como
resto 1. Logo, posto que todo número tem um fator primo, p!
+ 1 deve ter um fator primo maior do que p. Testando todos
274
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 274 06/06/14 12:25
os números entre p e p! + 1 para verificar se são primos, encon-
tramos, isto é, construímos, esse novo número primo.
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Fig. 8.1
Temos, portanto, uma prova construtiva da infinitude dos núme-
ros primos – ou de sua potencial infinitude, o que significa que
não importa quantos primos tenhamos encontrado (ou constru-
ído), existe (isto é, podemos construir) mais um.
Compare essa prova com a prova do lema de König: suponha
que temos uma árvore infinita, finitamente gerada (ver Figura
8.1). A árvore cresce de baixo para cima, cada nó dá origem a
um número finito de ramos. O lema de König afirma que existe
um ramo infinito na árvore. Nós o “construímos” da seguinte
forma. Seja a0 o nó da raiz e suponha que an (n > 0) tenha
sido construído de tal modo que acima de an haja um número
infinito de nós (claramente há infinitos nós acima de a0, posto
que a árvore é infinita). Então, existe pelo menos um nó que
é sucessor imediato de an e, acima de tal nó, há infinitos nós.
Defina an+1 como sendo tal nó. Nesse caso, podemos proceder à
“construção” do ramo infinito, a0, a1, a2...
Coloquei a palavra “construção” entre aspas nessa prova
porque a prova é inaceitável do ponto de vista construtivista. É
uma “construção” que somente o grande construtor pode levar
a cabo – nós não podemos. Pois, dado um nó com um número
infinito de nós acima dele, não há um método construtivo para
selecionar um sucessor imediato que tenha a mesma propriedade.
275
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 275 06/06/14 12:25
Somos incapazes de testar ou checar quais dentre os nós são os
corretos. O construtivista não vai aceitar a validade da prova do
lema de König. Sua afirmação existencial não é sustentada por
uma construção legítima, pois não existe um processo efetivo
por meio do qual o ramo que queremos possa ser construído.
... ... ... ... ... ...
... αn,0 αn,1 αn,2 αn,3 ...
... αn ...
... ... ...
... ...
Fig. 8.2
De fato, os construtivistas rejeitam a afirmação segundo
a qual, dado um nó acima do qual há um número infinito de
nós, mas apenas um número finito de nós que sejam sucessores
imediatos, pelo menos um desses sucessores imediatos tem acima
dele um número infinito de nós. Pois, novamente, essa afirmação
existencial (há pelo menos um nó que é sucessor imediato...)
precisa ser sustentada por uma construção mostrando como
identificar, dentre os nós sucessores, aquele com a propriedade
requerida. Posto que não temos um meio de levar a cabo tal
verificação – seria uma tarefa infinita percorrer a árvore infinita –,
a afirmação existencial é intuicionisticamente inaceitável.
Temos aqui um autêntico quebra-cabeças. Como pode o
intuicionista manter essa posição? Pois sabemos que existem
infinitos nós acima de an, e apenas finitamente muitos sucesso-
res, digamos, an,0, an,1, an,2, an,3 (veja Figura 8.2). Se existissem
apenas finitos nós acima de cada an,0 ..., an,3, então existiriam
apenas finitos nós acima de an – a união de todos eles. Assim,
por contraposição, se existem infinitos nós acima de an, então
276
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 276 06/06/14 12:25
pelo menos um dos nós an,0 ..., an,3, sucessores imediatos de an,
possui acima dele um número infinito de nós.
O passo da contraposição aqui é completamente inaceitável
intuicionisticamente. Sabemos que se cada um dos nós an,0 ...,
an,3 tivesse finitos sucessores, an também teria finitos sucessores.
O passo ilícito – do ponto de vista construtivista – é o de “nem
todo x é F” para “existe um x que não é F” (algum sucessor
imediato de an tem infinitamente muitos sucessores). Não
podemos concluir uma afirmação existencial dessa maneira, na
ausência de uma construção adequada.
De certa forma, aqui fomos levados ao erro por uma figura.
O diagrama apresentado na Figura 8.2 sugere uma realidade
objetiva, uma árvore realmente infinita acima de an. Visto
desse modo, é inconcebível que não exista uma árvore infinita
acima de um dos sucessores imediatos de an. Mas essa não é a
imagem correta da situação, que deve ser encarada do ponto de
vista construtivo. Desde an, há uma sucessão infinita de escolhas
finitas a serem feitas. Mas não temos método algum de garantir
que faremos uma escolha que não nos leve a um impasse – isto
é, que não acabemos nos encontrando em um beco sem saída.
É fácil pensar na árvore em termos extensionais, realistas.
Pensamos que, ou a lista é (realmente) infinita, ou o intuicionista
deve aceitar que a árvore é finita – que somente uma árvore de
tamanho finito pode ser construída. De fato, o intuicionista
afirma que árvores reais, isto é, árvores completas, são todas
finitas. Mas essa árvore é infinita – isto é, existe um método
para construí-la de modo que ela nunca será completada, uma
operação que nunca terminará. O intuicionista resiste ao passo,
dado pelo realista, da afirmação de que a construção acima de
an jamais terminará, para a afirmação de que para um dos nós
an,0..., an,3 a construção acima dele nunca terminará. Não existe
uma maneira segura de escolher um dos nós an,0..., an,3 de modo
a garantir isso.
Classicamente, o lema de König é equivalente à afirmação
de que se todo ramo de uma árvore finitamente gerada é finito,
277
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 277 06/06/14 12:25
então existe uma cota superior para os comprimentos dos ramos
da árvore. Esse resultado é construtivamente demonstrável – é
o famoso teorema do leque de Brouwer – mas não é construti-
vamente equivalente ao lema de König, pelas razões dadas. Isso
ilustra um resultado frequente da reconstrução intuicionista da
matemática e análise: muitas vezes há alternativas intuicionistas
aceitáveis para métodos clássicos não construtivos – embora o
resultado construtivo seja mais difícil de provar, requerendo um
cuidado maior em assegurar a disponibilidade de construções
adequadas.
O fracasso do ponto de vista intuicionista da prova clássica
do lema de König ilustra outro fracasso – possivelmente o mais
central – de uma importante característica da concepção realista.
Certamente, irá dizer o realista, ou algum dentre os sucessores
imediatos de an,0 ..., an,3 tem infinitos sucessores, ou isso não é o
caso; se não é o caso, a árvore é finita. Logo, deve haver um nó
sucessor adequado. Novamente, nos equivocamos em pensar que
existe uma verdade objetiva. Ou a situação é de uma forma, diz
o classicista – apontando para alguma característica –, ou não é
dessa forma. O construtivista é obrigado a – ou antes, se esforçará
para – negar esse grau de determinação. A árvore não tem reali-
dade alguma além do que podemos mostrar construtivamente
acerca dela. Na ausência de algum método que prove que essas
duas alternativas são exaustivas, não temos base para afirmar
a disjunção delas. Não temos uma construção que, aplicada a
an, mostrará que, ou um sucessor imediato tem acima dele uma
árvore infinita, ou não existe tal sucessor. O grande construtor
mítico poderia talvez levar a cabo a procura (infinita) – ou “ver”
a árvore infinita como um todo e apontar o nó correto. Mas esse
ponto de vista de Deus e a árvore infinita que ele “vê” são mitos.
A lei do terceiro excluído, que para toda proposição A, ou A
ou não-A, é um princípio central da concepção clássica, realista,
juntamente com a lei da bivalência, segundo a qual toda propo-
sição ou é verdadeira ou é falsa. (Na verdade, a lógica livre e
a teoria da verdade de Kripke parecem negar a bivalência; mas
278
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 278 06/06/14 12:25
não em espírito. Nos dois tratamentos, existe uma partição
determinada entre verdades, falsidades e ausência de valor de
verdade.) Essas afirmações são intuicionisticamente inaceitáveis.
A verdade de uma afirmação requer uma demonstração, uma
prova de que é verdadeira. Isso parece mais problemático do
que realmente é. Da perspectiva clássica, o intuicionista parece
igualar verdade com prova, ou demonstração: “A ou não-A”
torna-se “ou A é demonstrável ou ‘não-A’ é demonstrável”;
“existe n tal que A(n)” torna-se “podemos construir n e provar
A(n)”. Mas essas paráfrases são simplesmente heurísticas, para
auxiliar alguém habituado com a concepção clássica (na qual
verdade e demonstração são noções distintas) a compreender
as objeções construtivistas. Para o construtivista não existe tal
separação. A verdade de A é constituída por uma construção
apropriada – não uma demonstração de que A é verdadeira, pois
isso seria claramente regressivo, mas por uma demonstração de
A. Não existe uma realidade que corresponda a A além do que
pode ser demonstrado.
Negar o terceiro excluído e a bivalência não implica aceitar
suas contraditórias. Não é uma tese da lógica intuicionista que,
para algum A, não é o caso que A e não é o caso que não-A
(como é para Kripke ou para a lógica livre). Pois podemos vir
a ser bem-sucedidos em estabelecer ou refutar A. A posição
intuicionista é mais cautelosa. Podemos asserir “A ou não-A”
somente quando estamos em posição de asserir ou negar A.
Em particular, não podemos introduzir uma asserção geral
de “A ou não-A”. Outro famoso exemplo não construtivo é a
prova de que existem dois números irracionais a e b tais que
ab é irracional. Segundo o raciocínio clássico, ou √2√2 é racio-
nal – e nesse caso fazemos a = b = √2 –, ou √2√2 é irracional – e
nesse caso fazemos a = √2√2 e b = √2 (de modo que ab = 2, que é
racional). A disjunção das alternativas aqui é construtivamente
inaceitável, pois não temos uma construção por meio da qual
possamos determinar se √2√2 é racional ou não. Portanto, não
estamos autorizados em asserir o caso do terceiro excluído no
279
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 279 06/06/14 12:25
qual a prova se baseia. (Aqui, novamente, existe uma alternativa
construtiva, que prova construtivamente o mesmo resultado, mas
permitindo determinar a e b.)
Intuicionisticamente, portanto, o terceiro excluído é um
enunciado substantivo. Por exemplo, considere o enunciado
“x = y + z”, que um número (natural) é a soma de dois outros.
Ele é decidível, isto é, dados x, y e z, temos um procedimento
efetivo para determinar se x é de fato a soma de y e z. Podemos
então asserir que para todo x, y e z, ou x = y + z, ou não é o
caso que x = y + z, pois dados x, y e z, podemos determinar qual
dos dois é o caso. Contudo, considere agora a afirmação de que
se x é par e maior que 2, então existem y e z que são primos e
cuja soma é x. Novamente, “par”, “maior que 2” e “primo”
são predicados decidíveis: podemos asserir de qualquer número
que ou ele é primo ou é ímpar, que é maior que 2 ou não é,
que é primo ou não é, pois existem algoritmos para dar essas
respostas (respectivamente, divisão por 2, subtração de 2 e crivo
de Erastótenes). Mas a afirmação geral, usualmente conhecida
como conjectura de Goldbach, segundo a qual todo número
par maior que 2 é a soma de dois primos, não é decidível. Isto
é, temos um predicado A(x) que é decidível (“x é par, maior
que 2 e existem y e z primos tais que x = y + z”), pois podemos
trabalhar sistematicamente através de todos os números y e z
menores que x, testando se eles são primos. Mas “para todo x,
A(x)” não é decidível. Não temos um método que garantidamente
estabeleça ou refute essa afirmação universal para todo número
x. Assim, ainda que possamos asserir “A(x) ou não-A(x)” para
todo número x, não podemos asserir “para todo x, A(x) ou não é
o caso que para todo x, A(x)”, isto é, não podemos asserir que a
conjectura de Goldbach é verdadeira ou não é verdadeira. Pois até
hoje ninguém mostrou qual das duas alternativas é verdadeira,
e não possuímos um algoritmo que determine essa resposta. Se
a conjectura de Goldbach for falsa, algum dia alguém poderá
encontrar um número que a refute. Se for verdadeira, alguém
poderá um dia fornecer uma prova geral de que para todo x,
280
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 280 06/06/14 12:25
A(x). Mas, até que isso aconteça, os construtivistas se abstêm
de asserir a sua disjunção.
Um último ponto, antes de deixarmos a reconstrução intui-
cionista da matemática e passarmos para outros argumentos em
defesa do construtivismo. Construtivistas frequentemente apre-
sentam os chamados “contraexemplos fracos” ao princípio do
terceiro excluído. O seguinte exemplo talvez seja o mais surpre-
endente: se a é um número real (um número real construtivo),
“a = 0” não é decidível e, portanto, o construtivista não pode
asserir que todo número real ou é idêntico a 0 ou é diferente de
0 (isto é, para todo a, a = 0 ou a ≠ 0). Contudo, temos de ser
cuidadosos aqui ao apreciar o ponto do argumento, que é essen-
cialmente uma questão de representação. Cada número natural
tem uma representação canônica. Quando concedemos que “x
é primo” é decidível para os números naturais, entendemos que
isso é relativo à representação canônica desses números. Se, por
exemplo, x é caracterizado como “7, se a conjectura de Goldbach
é verdadeira; 8, caso contrário”, perdemos a decidibilidade. De
fato, mesmo do número que é 7, se a conjectura de Goldbach é
verdadeira, e 11, caso contrário, não podemos dizer que é primo,
pois isso depende de reconhecer que o número ou é 7 ou é 11
(ambos primos), o que, por sua vez, depende do terceiro excluído
para a conjectura de Goldbach.
“Par”, “primo” etc. são decidíveis para os números naturais
no que diz respeito às suas representações canônicas, como, por
exemplo, numerais arábicos. Números reais, por outro lado,
não têm uma representação canônica para o construtivista. Eles
podem ser compreendidos ou como classes de equivalência de
sequências de Cauchy, ou em termos dos cortes de Dedekind
(do ponto de vista construtivo, cada uma dessas alternativas dá
origem a diferentes teorias). Mas as sequências de Cauchy (isto
é, sequências de números racionais para as quais termos suces-
sivos, depois de um certo ponto, diferem um do outro menos
do que um módulo dado) podem ser apresentadas de diferentes
formas. Seja A(x) o predicado de Goldbach (isto é, “se x é par
281
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 281 06/06/14 12:25
e maior que 2, então x é a soma de dois primos”). Então, é
possível definir um número real que é igual a 0 se e somente se
a conjectura de Goldbach é verdadeira. Duas coisas se seguem.
Em primeiro lugar, não existe uma representação canônica
desse número real – não podemos identificá-lo com um decimal
infinito, como classicamente podemos fazer com todos os núme-
ros reais. Em segundo lugar, a identidade de tal número é tão
decidível quanto a verdade da conjectura de Goldbach. Logo,
não podemos asserir, de cada um dos reais, que ou ele é igual
a 0 ou não é. Similarmente, não podemos asserir que os reais
são linearmente ordenados (para qualquer par de números não
idênticos, que um é menor do que o outro) e assim por diante. A
teoria construtiva dos reais é radicalmente diferente da clássica.
Não obstante, uma teoria adequada para os propósitos usuais
pode ser elaborada. Minha proposta aqui não é chegar a uma
decisão acerca do argumento matemático que apoia a objeção
construtivista. A descoberta dos paradoxos da teoria de conjun-
tos levou a aritmetização clássica da análise a uma crise. Tanto
a abordagem clássica quanto a construtivista apresentaram
respostas a essa crise. A resposta clássica mantém tanto quanto
possível – na verdade, efetivamente tudo – da construção de
Cantor e Weiertrass, em uma teoria de conjuntos que é proble-
mática do ponto de vista filosófico. A resposta construtivista é
muito mais radical, levando a sério a questão filosófica do infi-
nito atual, mas resultando não apenas em uma matemática da
reta real muito mais difícil, mas também em revisões lógicas, ao
rejeitar a validade universal da lei do terceiro excluído. Vamos
ver agora o argumento lógico, que lida diretamente com o sentido
dos conectivos lógicos.
O argumento lógico
O construtivista é um antirrealista, isto é, ele não vê a verdade
como uma característica objetiva de uma proposição, algo que
tal proposição possui independentemente de nós e que resulta de
282
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 282 06/06/14 12:25
alguma estrutura objetiva – por exemplo, dos números naturais
ou da reta real como uma totalidade completa de objetos. Antes,
a verdade é uma noção epistêmica, e a verdade de uma proposi-
ção consiste em nossa capacidade de demonstrá-la e verificá-la.
Por essa razão, a noção de prova (ou demonstração) se torna
central para o construtivista. Asserir uma proposição como
verdadeira é ter uma prova de tal proposição. Por enquanto,
assim como o construtivista, podemos considerar a matemática
como paradigma, embora na próxima seção veremos que esse
modelo é estendido também às proposições empíricas.
Do ponto de vista clássico, há um contraste entre prova e
semântica. A prova é concebida como uma noção puramente
sintática, um modo de produzir verdades lógicas (teoremas)
por meio de um procedimento que leva em conta apenas as
propriedades formais das expressões lógicas, abstraindo de
considerações acerca do significado. Inversamente, a semântica
atribui significado às fórmulas ao relacioná-las a propriedades
de diferentes estruturas. Assim como em muitas outras áreas,
esse ponto de vista é completamente estranho ao construtivista
e, portanto, não é muito útil abordar o construtivismo tendo
em mente essa dicotomia. Para o construtivista, a prova é uma
noção semântica; é a prova que atribui significados às expressões.
Estruturas matemáticas não têm realidade alguma além daquilo
que podemos provar acerca delas. No caso finito, isso é trivial e
desinteressante – a prova nesse caso consiste apenas em checar
cada um dos casos. Mas, no caso infinito, a prova é crucial. O
infinito é potencial e consiste na possibilidade sem fim de se
produzir mais e mais casos. O que é real são os procedimentos
que produzem mais e mais casos e as provas que os verificam. O
construtivista poderia fazer uma distinção semelhante à distinção
clássica entre provas e sistemas formais e a noção informal de
prova que eles tentam capturar. Algumas vezes ele o faz, mas,
na maioria das vezes, para o construtivista, “prova” significa
uma noção intuitiva, alargada e informal de demonstração e
verificação.
283
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 283 06/06/14 12:25
Daí se segue que a restrição epistêmica que o construtivista
impõe à noção de verdade se transforma em uma concepção
epistêmica de significado. Uma teoria do significado realista é
frequentemente caracterizada como vero-funcional, contrastando
com a relação estabelecida pelo antirrealista entre significado e
alguma noção delimitada epistemicamente, como assertibilidade
comprovada. Isso porque a “verdade”, da qual depende a noção
de “vero-funcional”, é identificada com verdade realista, de
verificação transcendente, uma crença em fatos que determinam
o significado sem que se faça referência à nossa capacidade de
descobrir esses fatos. Argumentos para uma concepção epistê-
mica de significado, isto é, que explique significado em termos
de procedimentos para estabelecer a verdade de proposições, e
argumentos para uma noção de verdade epistemicamente deli-
mitada, que rejeite a ideia de verificação transcendente, têm em
vista um objetivo comum.
É a partir desse pano de fundo que o construtivista desenvolve
um argumento contra a visão clássica e, em particular, contra
a teoria clássica da negação. Vimos que o intuicionista rejeita a
lei do terceiro excluído, a afirmação de que toda proposição da
forma “A ou não-A” é verdadeira. Algumas instâncias podem ser
asseridas, a saber, aquelas em que temos meios de ou verificar
ou refutar A. Em geral, o intuicionista aceita “A ou B” somente
quando se tem uma prova de A, ou uma prova de B – ou pelo
menos um método de verificar ou demonstrar um dos disjuntos.
É dessa forma que o intuicionista concebe o significado de “A
ou B”, alguém que assere “A ou B” está comprometido com a
verificaçao de A ou de B.
Por que o clássico vai além disso e afirma que “A ou
não-A” é universalmente válida, mesmo na ausência de qual-
quer método que decida por uma das duas? Isso se baseia em
um par de inferências – de fato, qualquer uma das duas já é
suficiente. O método de prova conhecido como reductio ad
absurdum tem duas formas, que o clássico vê como essencial-
mente a mesma. Primeiro, suponha que de A alguém possa
284
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 284 06/06/14 12:25
derivar uma contradição, alguma proposição da forma “B e
não-B”, para alguma fórmula B. Então, se A fosse verdadeiro,
uma contradição seria verdadeira, o que é impossível. Logo,
A não pode ser verdadeira; isto é, podemos concluir “não-A”.
Similarmente, suponha que de “não-A” possamos derivar uma
contradição. Então, “não-A” não pode ser verdadeira – logo,
infere o clássico, A deve ser verdadeira. Mas isso pressupõe que
as alternativas são exauridas por A e “não-A”, isto é, que estamos
em posição de asserir “A ou não-A”. Entretanto, já vimos que
isso é negado pelo intuicionista, que sustenta que, se “não-A” é
contraditória (isto é, implica “B e não-B”, para algum B), então
podemos validamente inferir que “não-A” não é verdadeira, isto
é, não-não-A, mas não podemos dar mais um passo e asserir A.
O intuicionista rejeita tanto a reductio clássica, que da deriva-
ção de uma contradição a partir de “não-A” podemos inferir
A, quanto a dupla negação, que da asserção de “não-não-A”
podemos inferir A.
De fato, para o intuicionista, essas inferências clássicas esten-
dem de modo ilegítimo as bases para asserir, por exemplo, “A
ou B” ou “existe x tal que A(x)”. Pois suponha que possamos
mostrar que “não-(A ou B)” (isto é, nem A nem B) é contraditória
para algum par A e B (como poderíamos se B fosse “não-A”), e
daí inferimos que “A ou B” deve ser verdadeira. Ou que, supondo
que para nenhum x temos A(x), obtemos uma contradição e
inferimos que para algum x, A(x) deve valer (como na suposição
de que não existe um ramo infinito em uma árvore finitamente
ramificada, que contradiz a afirmação de que a árvore tem um
número infinito de nós). Nenhuma das inferências é construtiva,
no sentido de que as conclusões não são sustentadas por uma
demonstração de qual disjunto é verdadeiro, ou de qual objeto x
torna A(x) verdadeira. Parece que introduzimos um fundamento
adicional para asserir “A ou B” além de uma prova de A ou de B,
e um fundamento adicional para asserir “existe x tal que A(x)”
além da exibição de um objeto x para o qual A(x) é verdadeira.
285
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 285 06/06/14 12:25
A reductio clássica é certamente não construtiva. A questão
é se ela é incoerente. É esse argumento que quero examinar. Se
pudermos mostrar que o tratamento clássico da negação (aquilo
que ele tem a mais que a reductio intuicionista, de que possamos
asserir “não-A” quando a pressuposição de A nos levar a uma
contradição) é incoerente de um modo que a negação intuicio-
nista não é, teremos um argumento poderoso a favor do ponto
de vista intuicionista. A objeção construtivista parecerá irres-
pondível. O argumento é o seguinte. Ele deriva de uma resposta
dada por Nuel Belnap a um quebra-cabeças levantado por Arthur
Prior. O que preocupava Prior era o holismo inerente à afirma-
ção de que o significado de um conectivo lógico, como “ou” ou
“existe”, seria determinado pelos tipos de inferências válidas
permitidas por tal conectivo. Isso, segundo Prior, é colocar o
carro na frente dos bois. Primeiro estabelecemos o significado do
conectivo; então, e somente então, podemos determinar se uma
determinada inferência contendo tal conectivo é ou não válida
(a saber, tal inferência permite obter falsidades de verdades? –
somente se já soubermos o significado do conectivo podemos
saber se premissas e conclusão são verdadeiras ou falsas). Para
sustentar essas ideias, Prior pretendia mostrar que a ideia de
“validade analítica” era absurda – que ninguém poderia ter
carte blanche para introduzir conectivos e dotá-los de significado
simplesmente estabelecendo as respectivas inferências válidas.
Seu exemplo notório é “tonk”, um conectivo binário que forma
uma proposição “A tonk B” de proposições A e B (assim como a
conjunção, a disjunção e a condicional). Segundo Prior, as regras
que definem “tonk” são as seguintes: de A podemos inferir “A
tonk B”; e de “A tonk B” podemos inferir B. (A analogia era,
por exemplo, com a conjunção, que um defensor da validade
analítica poderia dizer que é definida pelas inferências: de A e B
inferir “A e B”, e de “A e B” inferir A, e também B.)
Até aqui tudo bem. Temos um par de regras: uma que dá o
fundamento para asserir “A tonk B” e outra que diz como proce-
der em inferências de tais asserções – respectivamente, regras de
286
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 286 06/06/14 12:25
introdução e eliminação, como são frequentemente denominadas.
Mas o desastre é iminente. Pois admitir a validade dessas duas
inferências permite, partindo de A, obter “A tonk B” e, deste
último, obter B, isto é, qualquer proposição (B) de qualquer outra
proposição (A). Mas isso é absurdo. Como a simples introdução
de um conectivo poderia implicar que quaisquer duas propo-
sições (que em geral não contêm “tonk”) são equivalentes? O
que Prior quer dizer é que as inferências postuladas com “tonk”
devem ser inválidas – elas levam a um resultado absurdo. Se
soubéssemos o que “tonk” significa, poderíamos ver que uma ou
outra inferência não preserva verdade. Mas – e essa é a objeção
de Prior – o defensor da validade analítica não pode dizer isso,
pois ele não tem um tratamento independente do significado de
“tonk” em relação ao qual possa mostrar que as inferências são
inválidas. “Tonk” foi definido como o conectivo para o qual tais
inferências são válidas. Prior conclui que desse modo a validade
analítica foi demonstrada como estando definitivamente equi-
vocada. O significado, mesmo dos conectivos lógicos, deve ser
especificado independente da e previamente à determinação da
validade das inferências.
Belnap saltou em defesa da “validade analítica” (que ele
chamava, de modo confuso, de sintética). O que falta aqui, dizia
Belnap, é uma prova de que existe um tal conectivo “tonk”. Isso
é um problema para definições em geral. Não podemos definir
uma coisa e, desse modo, trazê-la à existência. Devemos primeiro
mostrar que existe uma e apenas uma tal coisa. Um exemplo
famoso é o “prosoma” entre duas frações, (a/b) ! (c/d) definido
como a+c/b+d. Considere (2/3) ! (3/4), que aparentemente é
5/7. Mas 2/3 = 4/6, logo (2/3) ! (3/4) = (4/6) ! (3/4) = 7/10 ≠ 5/7.
Definições devem ser independentes do modo de representação
dos números, e esta não é. O uso de diferentes representações
leva à inconsistência. “!” aqui não está bem definido. Não
mostramos – e não podemos mostrar – que existe uma tal função.
O mesmo ocorre com “tonk”. Não mostramos que existe uma
única fórmula que possa ser inferida de uma fórmula arbitrária
287
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 287 06/06/14 12:25
A e que implique qualquer outra fórmula B. E, de fato, não pode
haver uma tal forma, como a obtenção da inconsistência mostra.
Entretanto, um problema permanece. No que diz respeito a
conectivos, o que seria análogo à afirmação de existência para
definições em geral? O que significa exigir que exista um tal
único conectivo? Afinal, estamos acrescentando um conectivo à
linguagem que, em um sentido, claramente ainda não existe. Não
pode estar sempre errado estender uma linguagem por meio do
acréscimo de um novo conectivo. Na verdade, Prior – ou pelo
menos aqueles que posteriormente o defenderam – possivelmente
tinha em mente a classe de funções de verdade, mapeamentos de
conjuntos de valores de verdade em valores de verdade (como,
por exemplo, “e” mapeia o par “verdadeiro-verdadeiro” no
“verdadeiro”, e assim por diante). Mas isso é restrito demais.
Vimos no Capítulo 4 que podemos estender a lógica clássica por
meio de um conectivo para necessidade, “é necessário que...”,
que não é vero-funcional. E argumentei no Capítulo 3 que “se...
então...” não é vero-funcional.
A proposta de Belnap era de que o acréscimo de um novo
conectivo por meio de regras de inferência que definem seu
significado é legítimo no caso de o resultado ser uma extensão
conservativa do sistema original. O que isso significa é que, se
acrescentamos um novo símbolo à linguagem e estabelecemos
(seja por meio de tabelas de verdade, axiomas, ou por mera
estipulação) as respectivas regras de inferência, e se daí resultar
que uma fórmula A implica uma fórmula B, A e B como fórmu-
las do vocabulário antigo, então essa implicação deveria valer
antes de a extensão ser feita. Isto é, uma condição necessária
para estender um sistema de inferências com novos conectivos
é que nenhuma inferência que não fosse permitida no vocabu-
lário antigo passasse a ser permitida no novo. Todas as novas
inferências, resultantes da extensão do sistema, devem envolver
o novo vocabulário. “Tonk” não satisfaz essa condição, pois,
obviamente, o acréscimo de “tonk” trivializa completamente a
relação de implicação, de modo que esta vale entre quaisquer
288
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 288 06/06/14 12:25
duas fórmulas, inclusive aquelas que pertencem apenas ao voca-
bulário antigo.
A restrição de Belnap é certamente efetiva. Em outro lugar,
questionei se ela é a restrição correta (ver meu livro Relevant
Logic, capítulo 9), pois é muito forte. Mas agora gostaria de
considerar o uso que dela foi feito, pelo construtivismo, como
uma crítica à lógica clássica, e também se ela mostra que a
negação clássica é ilegítima, mesmo pressupondo que é correta
para novos conectivos. Seria o caso de que a negação clássica
desobedece à condição de Belnap? Seria a lógica clássica uma
extensão conservativa de seu fragmento sem a negação? Se isso
não é o caso, então as regras da negação clássica, em particular,
a reductio clássica e a dupla negação, são ilegítimas – não são
justificadas nem confiáveis ao estendermos a relação de conse-
quência do fragmento sem negação.
Claramente, as regras clássicas nos permitem provar fórmulas
como o terceiro excluído, “A ou não-A”, que contém a negação.
Mas elas estendem o fragmento sem negação? Os construtivistas
afirmam que sim. Exemplos são “se P então Q, ou se Q então R”
e a notória lei de Peirce “se P então Q, somente se P, somente se
P”. Considere a primeira: ela é válida classicamente, pois, se Q é
verdadeira, o primeiro disjunto é verdadeiro (por um “paradoxo
da implicação material”); se Q é falsa, o segundo disjunto é
verdadeiro (pelo outro “paradoxo”). Isso está de acordo com o
terceiro excluído; mas não há negação em “se P então Q, ou se
Q então R”, e tal fórmula, insiste o construtivista, não pode ser
provada no fragmento sem negação. Algo similar ocorre com a
lei de Peirce: se P é verdadeira, a fórmula toda é verdadeira, pelo
primeiro paradoxo da implicação material (qualquer condicio-
nal com consequente verdadeiro é verdadeira); e se P é falsa, o
antecedente é falso (e pelo segundo “paradoxo” a fórmula toda é
verdadeira), pois tem um antecedente verdadeiro – a condicional
“se P então Q”, que é verdadeira pelo primeiro “paradoxo” – e
consequente falso (P).
289
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 289 06/06/14 12:25
A questão crucial, portanto, é se esses princípios são parte
do fragmento sem negação – e a questão que se coloca é como
identificá-los. Estender uma lógica por meio do acréscimo de
conectivos é uma operação bem definida; mas remover conec-
tivos não é. O construtivista insiste que a lei de Peirce não é
parte do fragmento sem negação, porque, em uma determinada
formulação do cálculo clássico, ela não pode ser provada sem o
uso das regras clássicas da negação. Essa formulação do cálculo
clássico tem diversas formas, mas todas derivam em última
análise do sistema de dedução natural de Gerhard Gentzen, NK,
de 1934. De certa forma isso não é surpreendente, pois Gentzen
foi um dos primeiros autores a insistir na validade analítica dos
conectivos lógicos. Ele escreveu: “é como se as regras de intro-
dução representassem as ‘definições’ dos respectivos símbolos,
e as regras de eliminação, em última análise, não são mais do
que consequências dessas definições.” Se tomamos os pares de
regras de NK para os conectivos, exceto negação, os pares de
regras de introdução que especificam as bases para asserir uma
fórmula e regras de eliminação para usar tais asserções, obtemos
o fragmento sem negação da lógica intuicionista. A partir daí,
com o acréscimo das regras intuicionistas da negação (reductio
intuicionista e o ex falso quodlibet), temos a lógica intuicio-
nista, e com o acréscimo das regras clássicas da negação, temos
a lógica clássica. Mas essas últimas regras também estendem o
conjunto de fórmulas e consequências válidas entre as fórmulas
sem negação e, portanto, não obedecem à condição de Belnap.
O problema desse argumento é que ele depende muito do
modo pelo qual o fragmento sem negação da lógica clássica é
identificado – da escolha do sistema de dedução natural NK
de Gentzen. Quase todas as outras formulações fornecem uma
resposta diferente – isto é, incluem a lei de Peirce e similares
no fragmento sem negação. Por exemplo, a outra forma por
meio da qual Gentzen apresenta a lógica clássica, seu cálculo de
290
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 290 06/06/14 12:25
sequentes LK, permite provas simples dessas proposições sem o
uso da negação. O passo crucial, em todos os casos, é se permi-
timos inferir “se P então Q, ou R” de “se P então, Q ou R”,
uma inferência que é permitida pelo sistema LK de conclusões
múltiplas, ao passo que o sistema de dedução natural com uma
única conclusão não a permite. A objeção do construtivista é a
de que esse passo introduz uma disjunção de um modo que não
garante que saibamos que um dos disjuntos tem justificação.
Por exemplo, “se P então, Q ou P” é aceito, tanto pela lógica
clássica quanto pela intuicionista; mas apenas a lógica clássica
aceita “se P então Q, ou P”, isto é, “P ou se P então Q” – ou P
é verdadeira ou não é e, nesse caso, “se P então Q” é verdadeira.
A dedução natural com múltipla conclusão, derivada de LK e
de formulações axiomáticas, reitera o mesmo ponto, assim como
a semântica clássica. Lembre-se que, para o realista, o estudo das
estruturas semânticas precede o estudo das provas – e tem de ser
assim em lógicas de ordem superior, que são incompletas (cf. as
observações feitas sobre a regra-w no Capítulo 2). Segundo as
tabelas de verdade, a lei de Peirce e as outras são válidas, inde-
pendentemente de a negação estar presente. É certo que o apelo
a essa semântica não convence o construtivista. Mas isso mostra
onde reside a verdadeira discordância entre o construtivista e o
realista. A condição de Belnap não mostra que a negação clássica
é ilegítima.
O argumento linguístico
Por fim, veremos agora o terceiro argumento usado pelo
construtivista para contestar o realista, que denomino “argu-
mento linguístico”. Seu foco é no chamado “desafio da exibi-
ção”: que direito temos de atribuir a falantes uma compreensão
de expressões que ultrapassam o que eles são capazes de
manifestar em seu comportamento linguístico? A forma dessa
291
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 291 06/06/14 12:25
objeção, se ela é cogente, reside no que podemos considerar
como manifestação.
Lembre-se do quebra-cabeças que vimos no Capítulo 5 acerca
da aquisição da linguagem: como é possível que uma criança,
a partir da exposição a um número relativamente pequeno de
dados linguísticos, seja capaz de adquirir competência na lingua-
gem, a habilidade de produzir e entender uma classe infinitamente
grande de expressões com significado. A resposta que demos a
essa pergunta se baseou no princípio da composicionalidade, ou
da dependência funcional, por meio do qual um conjunto finito
de postulados pode gerar recursivamente saídas potencialmente
infinitas. Mas isso respondia a uma questão diferente da que
está agora diante de nós; isso explica como uma base finita
pode produzir uma capacidade infinita. O problema que surge
agora é o seguinte: como pode uma criança, ou um aprendiz da
linguagem, eleger com precisão a tal base finita particular por
meio de exposição, não àquela base propriamente dita, mas às
manifestações dela por outros falantes? O que o aprendiz da
linguagem escuta é a saída, não é a base geradora que produz a
saída. Como pode ele estabelecer sua própria base geradora de
modo a produzir as mesmas saídas daquelas que produziram as
evidências?
Chomsky e outros linguistas se dedicaram a esse problema nos
anos de 1960. Eles propuseram uma solução realista – de fato,
eles se autodeclaravam realistas. Deve existir alguma habilidade
específica a determinadas espécies, e possuída pelos humanos,
que os torna capazes de aprender a linguagem. A diferença entre
humanos e macacos ou marcianos não seria uma mera questão
de maior ou menor inteligência inata; independentemente das
habilidades intelectuais dos diferentes seres, a hipótese por eles
levantada é a de que as linguagens humanas têm uma estrutura
cujo caráter geral não é aprendido, mas “pré-programado”, isto
é, resulta de uma tendência inata dos humanos a se comportar
linguisticamente de determinadas maneiras. Essa hipótese deu
início a uma investigação empírica com o objetivo de determinar
tais universais linguísticos.
292
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 292 06/06/14 12:25
A lacuna entre evidência e teoria, contudo, não precisa ser
preenchida dessa maneira. O antirrealista arremata, então,
negando que a teoria realmente ultrapassa os dados dessa
maneira. A aquisição é essencialmente ligada a sua exibição na
linguagem. Não pode haver algo a mais no significado – nada
que possa ser adquirido – do que aquilo que o uso da linguagem
pelos falantes pode revelar. Duas coisas estão sendo negadas aqui:
primeiro, que pode haver um elemento privado no significado,
uma qualidade introspectiva que não pode se tornar pública.
Frequentemente considera-se que a fenomenologia do signifi-
cado contradiz essa afirmação; experimentamos o fenômeno
de saber o que queremos dizer independentemente de sermos
malsucedidos em nossas tentativas de expressar nossas ideias
e de nos comunicarmos. Mas a situação que se configura aqui
tem uma lógica diferente. O argumento da linguagem privada de
Wittgenstein é a tentativa mais famosa de estabelecer esse ponto.
Uma linguagem privada requereria regras privadas incomunicá-
veis. Tentativas privadas de seguir essas regras não distinguiriam
entre a correta observância e a violação das regras. O que quer
que pareça correto ao linguista privado estaria correto. Mas a
noção de regra requer precisamente essa distinção entre o uso
correto e o incorreto. Como corolário, não pode haver elemento
algum do significado que não possa ser exibido.
A segunda coisa que é negada aqui é que a verdade, entendida
como uma noção de evidência transcendente, pode ser a noção
central na teoria do significado. Como já enfatizei diversas vezes,
a concepção realista de verdade implica que uma proposição
poderia ser verdadeira e, ainda assim, permanecer para sempre
desconhecida de nós. A verdade consiste em uma propriedade
que se aplica ou não se aplica a uma estrutura, independente-
mente de nossa capacidade de sabermos disso. A alegação aqui
é a de que tal concepção de verdade não poderia fazer parte do
conceito de significado. Devemos ser capazes de manifestar nossa
compreensão de uma proposição no uso que fazemos dela. Essa
manifestação consiste em negar ou asserir a proposição à luz de
293
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 293 06/06/14 12:25
evidências, contra ou a favor dela. Portanto, sustenta-se que o
significado da proposição deve consistir na apreensão do que
deveria contar como sua verificação ou refutação. Isto é, seu
significado não pode consistir na ocorrência de uma situação de
forma independente de nossa habilidade de reconhecer que tal
situação tenha ocorrido; ele deve consistir na capacidade de se
reconhecer a ocorrência de tal situação, se ela tiver sido o caso.
O cenário com o qual nos defrontamos se alargou. O problema
não é mais restrito apenas à matemática, mas engloba também
proposições empíricas. Segundo o construtivista, proposições
que dizem respeito ao passado, ao futuro, classes abertas (por
exemplo, “todas as esmeraldas são verdes”), contrafatuais, atri-
buições de estados mentais, devem todas ser relacionadas a um
método efetivo de verificação. Para manifestar a compreensão
de tais proposições, uma relação deve ser estabelecida com o que
contaria como prova ou refutação conclusiva. Isso não significa
que estejamos necessariamente em uma posição de estabelecer
sua verdade, de uma forma ou de outra. Aquelas proposições
que podemos estabelecer se são verdadeiras ou falsas são as
efetivamente decidíveis. Mas, mesmo para aquelas que não são
efetivamente decidíveis, seus sentidos devem consistir naquilo que
as estabeleceria como verdadeiras ou falsas, caso obtivéssemos
tal evidência.
A objeção ao clássico é a seguinte: sua filosofia o compromete
com a existência de proposições cuja verdade poderíamos ser
incapazes de demonstrar. Considere um exemplo: “Jones era
corajoso.” Jones agora está morto e nunca na sua vida surgiu
uma situação que pudesse revelar se ele era ou não corajoso. A
proposição tem sentido, diz o construtivista. Seu sentido é o de
que, caso Jones tivesse oportunidade, teria atuado com coragem.
Podemos exibir o sentido de tais proposições: ao observar alguém
se comportar de uma determinada maneira, o enaltecemos como
uma pessoa corajosa. Esse sentido se estende até a proposição
indecidível “Jones é corajoso”. Se Jones tivesse passado por um
teste, sua reação teria mostrado sua coragem, ou não. Mas o
294
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 294 06/06/14 12:25
construtivista abstém-se de asserir que, ou Jones era corajoso,
ou não era. Até que exista algum método para decidir qual dos
disjuntos é o correto, o construtivista sustenta que não há nada
que o determine como verdadeiro. A verdade da proposição
depende de como Jones reage e não é uma propriedade reclusa,
latente e não revelada, como pressupõe o clássico. O clássico
irá responder que, ou Jones era corajoso, ou não era – ele é
completamente comprometido com o terceiro excluído. Por
conseguinte, deve existir algum fazedor de verdade que decida,
de um modo ou de outro, a verdade da proposição. Ainda que tal
verdade possa permanecer para sempre inalcançável, o clássico
não pode negar o lógico.
O argumento linguístico sustenta que tal compreensão clássica
da proposição não poderia ser comunicada, isto é, não poderia
ser exibida e consequentemente não poderia ser adquirida. O
tratamento clássico tenta fundamentar o significado em fatos de
evidência transcendente que eventualmente possam ter ocorrido,
em estruturas semânticas divorciadas de quaisquer métodos de
verificação. A objeção é de que uma tal identificação do signi-
ficado com condições de verdade desligadas de suas condições
de verificação deixará tais proposições vazias de significado.
O que é positivo no argumento linguístico é o que ele tem
em comum com os quebra-cabeças que já vimos acerca do infi-
nito; o negativo é o que ele tem em comum com o ceticismo em
geral. O argumento da aquisição coloca uma questão retórica:
como poderia o aprendiz da linguagem descobrir, a partir do
comportamento linguístico exibido pelos falantes competentes
da linguagem, qualquer elemento do significado que não fosse
exibido na sensibilidade dos falantes, em suas alegações, sobre
as evidências disponíveis? Essa é uma questão retórica para a
qual o construtivista não espera uma resposta; é tomado como
certo que nenhuma resposta pode ser dada. Ainda que seja tenta-
dor, não é uma resposta satisfatória simplesmente replicar que
normalmente atribuímos um sentido realista a tais proposições,
um sentido que é demonstrado pela nossa aceitação do terceiro
295
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 295 06/06/14 12:25
excluído, em geral e em particular, para a classe de proposições
indecidíves. Isso não é uma resposta, pois o que está em ques-
tão é se essa afirmação é justificada e se existe um tal sentido
realista que seja coerente. Por outro lado, o próprio fato de que
aparentemente existe um tal sentido, isto é, que nós agimos
como se existisse, torna a situação paradoxal, e não uma vitória
imediata do construtivista. Parece que atribuímos um sentido a
proposições como “Jones era corajoso”, que nos compromete a
asserir o terceiro excluído em relação a tais proposições, apesar
da aparente resistência de um tal sentido a se manifestar. Quem
está certo, o cético acerca do sentido realista ou o que acredita
em fatos de evidência transcendente?
A reação behaviorista dos anos de 1930 à confiança exagerada
em relatos introspectivos e fenomenológicos foi salutar. Tais
relatos não podem ser sempre tomados pelo que aparentam ser
à primeira vista, e precisamos de uma metodologia adequada
para podermos avaliá-los. O que estava errado com o behavio-
rismo era sua visão estreita do que poderia ser tomado como
evidência. Uma consequência, dentro da filosofia, foi o ceticismo
acerca do significado que encontramos em Quine e em certas
interpretações dos comentários de Wittgenstein e no argumento
linguístico em defesa do construtivismo. O cético, com razão,
nos desafia a explicar como seria possível demonstrar que tais
proposições são verdadeiras. Ele está errado em não esperar pela
resposta. Uma forma canônica de provar coragem é observar
alguém corajoso em ação. O que não é tão óbvio é se nós não
achamos que existe outra evidência que poderia ser procurada,
na ausência da observação canônica. Coragem é uma qualidade
que faz parte da personalidade humana, que consiste de uma
rede interconectada de virtudes e defeitos que não se apresen-
tam como um kit de montagem livre, sem restrições em suas
combinações. O fato de Jones possuir ou não outras qualidades
pode fundamentar também a atribuição de características como
a coragem ou a covardia.
296
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 296 06/06/14 12:25
Esses breves comentários não são uma refutação do cons-
trutivista cético acerca do significado. O que eles pretendem
fazer é equilibrar o debate de modo que possamos ver que a
questão depende da coerência de certas concepções. Comecei
o capítulo contrastando a concepção realista e objetivista da
verdade com a concepção construtivista, com restrições epis-
têmicas. A questão com a qual terminamos é central nesse
debate: a concepção realista é coerente e, em particular, pode
ser elucidada e explicada?
Resumo e sugestões para leituras
Segundo a concepção realista da verdade, proposições
possuem uma propriedade objetiva, uma propriedade relacional
que é adquirida em virtude das propriedades dos objetos nela
mencionados. Um metafísico realista iria procurar, como vimos
no Capítulo 1, por um fato a ser unicamente correlacionado com
a proposição e que não fosse redutível a outros objetos, cuja
existência torna verdadeira a proposição. Um realista minima-
lista irá negar que a verdade é uma propriedade substantiva e
tentará reduzir verdade à questão de se os objetos mencionados
na proposição têm as propriedades a eles atribuídas. Em ambos
os casos, entretanto, a verdade é objetiva no sentido de que não
há indício algum de que a verdade de uma proposição é, de
algum modo, afetada pela nossa capacidade ou incapacidade de
descobri-la. Fatos poderiam existir, ou objetos poderiam ter as
propriedades que têm, sem que para isso seja necessário qualquer
tipo de evidência para nós.
O antirrealista nega que essa concepção clássica, realista,
seja inteligível ou coerente. Tradicionalmente isso foi visto
como um problema acerca do infinito. Mais recentemente o
problema foi estendido, por analogia, a outras áreas – áreas que
possuem um histórico de disputas sobre ceticismo e realismo –,
o passado, o futuro, outras mentes, generalizações universais,
dentre outras. Isso é discutido no capítulo 6 do livro de Pascal
297
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 297 06/06/14 12:25
Engel, The Norm of Truth. Duas fontes clássicas são o texto de
Dummett “What Is a Theory of Meaning? (II)” e a resenha de
Crispin Wright da coletânea de textos de Dummett, “Anti-realism
and Revisionism”, reimpressa em Realism, Meaning and Truth.
A crítica é direcionada para as chamadas “verdades de verifi-
cação transcendente” ou de “evidência transcendente”, a ideia
realista segundo a qual uma proposição poderia ser verdadeira
ainda que não pudéssemos descobrir ou estabelecer sua verdade.
Suponha, por exemplo, que a conjectura de Goldbach, de que
todo número par maior que 2 é a soma de dois primos, é verda-
deira – na concepção realista, ainda assim poderia não haver
uma prova geral de que um número par arbitrário mostrasse
que ele pode ser decomposto em dois primos. Talvez seja um
fato único e particular para cada número par que ele possa ser
assim decomposto. Se isso é o caso, não poderíamos estabelecer
essa verdade, pois não podemos completar a tarefa de examinar
cada número par e verificar que tal número é a soma de dois
primos. Essa verdade poderia ser de evidência ou de demons-
tração transcendente.
Na concepção antirrealista, isso é ininteligível. Não há uma
realidade que diga respeito à coleção dos números pares que
esteja além da nossa capacidade de gerar números cada vez
maiores que sejam divisíveis por 2. No caso de uma coleção
finita – seja uma coleção de números, de ovelhas, de elétrons,
ou de espécies abróteas –, em princípio é possível checar um a
um seus elementos e examiná-los. Assim, cada elemento pode
ser único, cada um pode ser um particular, com propriedades a
serem descobertas. Com uma coleção infinita – do ponto de vista
antirrealista –, a situação é diferente. O realista está equivocado
ao passar de uma para a outra. A concepção da estrutura de
uma coleção infinita de números, digamos, é derivada da ideia
de construção; no caso dos números, a construção ou operação
por meio da qual o sucessor de um número é gerado. Portanto,
o que quer que seja verdadeiro de tais números deve residir na
298
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 298 06/06/14 12:25
construção, deve poder ser averiguado por uma prova geral, que
verifique um número particular e mostre que sua construção
determina a posse de tal propriedade.
Por que o construtivista teme tanto uma estrutura subjacente
à operação de construção, alguma totalidade sobre a qual a
noção de verdade realista pudesse ser baseada? Sua preocupação
tem uma boa origem, a saber, uma série de paradoxos novos e
antigos. Os paradoxos da reta têm origem em Zenão de Eleia
no século 5 a.C. – veja, por exemplo, Aristóteles, Physics, livro
3, capítulos 4-8, ou A. Grünbaum, Modern Science and Zeno’s
Paradoxes. O problema filosófico com a noção de infinito – o
incompletável – é bem descrito em The Philosophy of Set Theory,
de M. Tiles. Mas a matemática parece precisar mais do que aquilo
que os gregos tinham a fornecer com sua teoria das proporções.
O movimento em direção à aritmetização, do tratamento da
reta como um infinito atual de pontos, deu origem ao cálculo e
a sua bem-sucedida aplicação à física matemática do século 17
em diante. A aritmetização alcançou seu auge no século 19, no
trabalho de Cauchy, Bolzano, Weiertrass e outros. Esse trabalho
é cuidadosamente exposto por Morris Kline nos capítulos 40,
41, 43 e 51 de sua obra magistral Mathematical Thought from
Ancient to Modern Times.
A motivação filosófica subjacente é de que todo infinito
potencial pressupõe um infinito atual – por exemplo, a geração
de sucessores sugere que eles já estavam lá; assim como o corte
da reta sugere que o ponto em que o corte é feito já estava
lá. Foi particularmente essa última questão, a reta como uma
ordem linear contínua de pontos, que conduziu o trabalho de
Cantor, como é descrito tão bem em Cantorian Set Theory
and Limitation of Size, de M. Hallet. Aparentemente, coleções
infinitas (conjuntos), assim como coleções finitas, permitem
um tratamento extensional, simples e direto. A abordagem
realista, que se concentrava na estrutura, tal como ela é reve-
lada pela nossa investigação, parecia perfeitamente justificada.
Mas isso não levava em conta os paradoxos lógicos – de
299
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 299 06/06/14 12:25
Cantor, Burali-Forti e Russell. Esses e outros são apresentados
em uma obra que é uma verdadeira mina de ouro de informações,
Foundations of Set Theory, de A. Fraenkel e Y. Bar-Hillel, com
contribuições de A. Levy e D. van Dalen.
A reação realista foi conservadora, preservando tanto quanto
possível do desenvolvimento da análise, o trabalho clássico de
Weierstrass e outros. A reação dos construtivistas foi radical;
eles acreditavam que seu ceticismo era justificado e que era
necessário reconstruir completamente a matemática do infinito a
partir de uma perspectiva construtivista. Os detalhes podem ser
encontrados em Construtivism in Mathematics: An Introduction,
de A. Troelstra e D. van Dalen, onde são apresentados parale-
lamente o intuicionismo e outras formas de construtivismos. A
abordagem dos intuicionistas liderados por L. E. J. Brouwer a
partir de 1907 é investigada por M. Dummett em Elements of
Intuitionism, que contém também uma extensa discussão filosó-
fica. Uma coletânea útil de artigos é Readings in the Philosophy
of Mathematics, editado por P. Benacerraf e H. Putnam, na
qual intuicionismo é mostrado lado a lado com outras análises
filosóficas e tratamentos da natureza da matemática.
Muito deste capítulo foi dedicado ao desenvolvimento da
matemática do infinito, tanto realista quanto antirrealista, não
somente porque esse ponto é o mais difícil de tratar do ponto de
vista filosófico, mas também porque, a meu ver, esse é o ponto
no qual reside o debate filosófico essencial. Ou o construtivismo
é justificado pelo fato que a tentativa de Cantor de tratar o infi-
nito por meio de métodos realistas da teoria de conjuntos leva
a paradoxos, ou o realismo é um projeto viável, e a matemática
pode prosseguir como o estudo de estruturas cujas propriedades
podem transcender nossos procedimentos investigativos.
Não obstante, defensores mais recentes do antirrealismo
tentaram mostrar a incoerência do realismo por outros meios.
Os principais proponentes de tais argumentos foram D. Prawitz,
em uma série de artigos incluindo “Meaning and Proofs: On
300
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 300 06/06/14 12:25
the Conflict Between Classical and Intuitionistic Logic”; e M.
Dummett novamente, em vários artigos, mas particularmente em
um de seus primeiros artigos, “Truth” (em relação ao qual quase
todo seu trabalho subsequente são notas de rodapé adicionais)
e em “The Philosophical Basis of Intuitionistic Logic”, ambos
reimpressos em Truth and Other Enigmas, e em seu livro recente
(baseado em palestras proferidas em 1976), The Logical Basis
of Metaphysics. Suas ideias são resumidas de forma bastante
útil no texto “Proof Theory and Meaning” de G. Sundholm,
no Handbook of Philosophical Logic, vol. III, editado por D.
Gabbay e F. Guenthner. Há, na verdade, dois argumentos que
eles acrescentam às considerações feitas acima. Dummett critica
a negação clássica por estender de modo não conservativo a
teoria da implicação; tanto Prawitz quanto Dummett criticam,
com certo cuidado, o fato da lógica clássica não possuir uma
conexão adequada (“harmônica”) entre suas regras de negação.
A origem desse argumento pode ser encontrada em um artigo
pequeno mas provocativo de Arthur Prior, “The Runabout
Inference Ticket”. Prior sustentava que era absurda a tenta-
tiva (iniciada pelos comentários incidentais de G. Gentzen em
“Investigations Concerning Logical Deduction”, traduzido por
M. Szabo em Collected Papers of Gerhard Gentzen) de atribuir
significado aos conectivos lógicos por meio das respectivas regras
de inferência, pois tal abordagem permitiria a introdução de
um conectivo como “tonk” e a consequente ruína da lógica. N.
Belnap respondeu, em “Tonk, Plonk and Plink”, propondo uma
restrição na definição de novas constantes lógicas por meio de
regras de inferência, a saber, que a introdução dessas constantes
deveria ser conservativa, a introdução da nova constante lógica
não deveria produzir, no vocabulário antigo, uma consequência
que não houvesse antes de tal introdução. Essa é claramente uma
restrição forte e efetiva; já o que seria sua justificativa, não é tão
claro. Mas se aceitamos essa restrição, é tentador usá-la contra a
lógica clássica, cujos sistemas de dedução natural, que têm origem
301
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 301 06/06/14 12:25
em Gentzen, não são extensões conservativas do fragmento sem
negação, isto é, as regras clássicas para a negação, em particular a
reductio clássica e a eliminação da dupla negação, tornam válidas
inferências no vocabulário sem negação, que não são permitidas
pelas regras de dedução natural do fragmento sem negação.
Com efeito, esse argumento não irá convencer um realista
linha-dura, que não irá conceder que os conectivos devem ser
definidos por regras de inferência – o que já tem um sabor de
antirrealismo –, nem que as operações (aqui, as operações infe-
renciais) são primordiais. Vamos primeiro definir os conectivos
em virtude das estruturas nas quais eles operam; somente nesse
caso (repetindo Prior) podemos determinar se as inferências
preservam verdade. Mas mesmo que alguém se sinta atraído
pela simplicidade e elegância da definição dos conectivos em
termos das regras de inferência (em contraste, por exemplo, com
a complexidade e rudeza da semântica de mundos possíveis),
poderá ainda perceber que a objeção de Dummett depende em
grande medida de um modo particular de definir os padrões
de inferência relevantes. De fato, o ponto então não é o de que
as regras de negação clássicas sejam muito poderosas, mas sim
que as outras regras são muito fracas, em particular as regras da
condicional. As inferências que estão sendo disputadas já deve-
riam ter sido incluídas no fragmento sem negação, e o fato de não
estarem aí incluídas é um problema do fragmento sem negação,
e adicioná-las não é um problema das regras da negação. Para
solucionar o problema, precisamos adotar um diferente estilo de
prova. Como observado por D. Shoesmith e T. Smiley em seu
brilhante e difícil livro Multiple-Conclusion Logic:
[a implicação material] causa dificuldades (...) o que acontece é
que as regras de introdução óbvias caracterizam a implicação intui-
cionista, mas não a clássica; e para introduzir esta última é necessário
ter conclusões múltiplas. De fato, alguém poderia ter de concluir que
302
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 302 06/06/14 12:25
os lógicos clássicos, como tantos Monsieur Jourdains, sem perceber,
falaram de conclusões múltiplas durante toda a vida (p. 4).
O outro argumento para a incoerência do realismo foi apre-
sentado repetidas vezes por Dummett, por exemplo, nos artigos
já mencionados e no capítulo 13 de seu livro Frege: Philosophy of
Language. O descontentamento dos antirrealistas com o realismo
é o compromisso deste último com a ideia de verificação trans-
cendente, segundo a qual uma proposição pode ser verdadeira
sem que tenhamos os meios para reconhecer sua verdade. Essa
ideia, dizem eles, é incompatível com uma restrição natural sobre
o significado, a saber, de que a compreensão do significado de
uma proposição por alguém seja capaz de ser exibida, e que tal
exibição possa atuar como a única fonte para a aquisição da
linguagem. O realismo acarreta um divórcio entre o que uma
proposição pode significar e o que a torna verdadeira. É uma
lacuna que foi superada por Chomsky, com sua postulação de
um conhecimento inato próprio de cada espécie, em seu Cartesian
Linguistics. Mas a ideia de Chomsky foi enfraquecida por Quine,
que defendeu a tese da indeterminação do significado, no capí-
tulo 2 de Word and Object. Dummett dá um passo parecido ao
restringir e limitar o significado, de um modo que requer, da parte
do falante, uma capacidade de reconhecer quando a proposição é
verdadeira. A compreensão de uma proposição deve consistir em
uma capacidade de reconhecer uma verificação ou demonstração
da verdade da proposição que possa ser manifestada. Não há a
exigência de que a verdade de tal proposição seja efetivamente
decidível. Há muitas proposições para as quais não temos meios
efetivos de decidir se são verdadeiras. Mas manifestamos nossa
compreensão, diz Dummett, quando exibimos o nosso reconhe-
cimento da verdade de proposições às quais está relacionado
algum mecanismo composicional adequado. A compreensão é
uma capacidade recognitiva.
303
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 303 06/06/14 12:25
Vários autores ofereceram resistência à afirmação de
Dummett. S. Blackburn, no capítulo 2 de Spreading the
Words, apresenta seus próprios argumentos e menciona
também outros. A conexão com o ceticismo de Quine acerca
do significado deveria nos lembrar do Wittgenstein de Kripke
(ver seu Wittgenstein on Rules and Private Language) e de seu
paradoxo cético. Como também a referência a Chomsky, que
incitou na linguística um programa levado a cabo e estendido
por Jerry Fodor, por exemplo, em The Language of Thought,
argumentando a favor de uma capacidade inata – ninguém
poderia aprender uma linguagem se não possuísse previa-
mente uma linguagem inata. Foi essa concepção agostiniana
que Wittgenstein atacou em Investigações filosóficas. Mas
Wittgenstein oferece uma resposta ao cético – uma resposta
que foi interpretada de diferentes maneiras, interpretações que
podem ser tão paradoxais quanto o problema original. O que
acho que ele está nos dizendo é que é a nossa prática futura
que decide o que nossos proferimentos anteriores significam. O
problema de seguir regras é que muitas interpretações (regras)
são compatíveis com qualquer manifestação finita do signifi-
cado; o que as torna determinadas, então? Fodor pensa que
são nossos pensamentos internos, nossa linguagem privada;
o cético de Kripke pensa que não há qualquer significado ou
compreensão. A solução de Wittgenstein é a de que decidimos,
através de nossa prática futura, o que queremos dizer, de tal
modo que a ordem de explicação vai (estranhamente) do futuro
para o passado, e não no sentido inverso.
Aqui há uma pista para o realista responder a Dummett,
uma resposta que pode agora dar sentido à ideia, recusada
anteriormente, de que nossa prática como realistas usando
a reductio clássica etc. seja afinal coerente. Essa prática não
é justificada pelo nosso uso do fragmento sem negação, mas
serve para reinterpretá-lo.
304
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 304 06/06/14 12:25
Referências
ACKERMANN, W. Begründung einer strengen Implikation. Journal of
Symbolic Logic, v. 21, p. 113-128, 1956.
ADAMS, E. The Logic of Conditionals. Dordrecht: Reidel, 1975.
ALBERTO DA SAXÔNIA. Perutilis Logica. Traduzido em KRETZMANN,
N. et al. (Ed.). The Cambridge Translations of Medieval Philosophical
Texts, v. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
ANDERSON, A.; BELNAP, N. (1975) Entailment: The Logic of Relevance
and Necessity. Princeton: Princeton University Press, 1992. 2 v.
ARISTÓTELES. Physics. Edição e tradução de E. Hussey. Oxford:
Clarendon Press, 1983.
ARMSTRONG, D. M. A Combinatorial Theory of Possibility. Cambridge:
Cambridge University Press, 1989.
ASIMOV, I. The Gods Themselves. London: Panther Books, 1973.
AUSTIN, J. L. How to Talk. Reimpresso em Philosophical Papers. Oxford:
Oxford University Press, 1970.
BARNES, J. Medicine, Experience and Logic. In: BARNES, J. et al. (Ed.).
Science and Speculation. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
BARWISE, J. The Situation in Logic. Stanford, Calif.: Center for the Study
of Language and Information, 1989.
BARWISE, J.; ETCHEMENDY, J. The Liar. Oxford: Oxford University
Press, 1987.
BARWISE, J.; PERRY, J. Situations and Attitudes. Cambridge, Mass.: MIT
Bradford, 1983.
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 305 06/06/14 12:25
BELNAP, N. Tonk, Plonk and Plink. Analysis, v. 22, p. 30-34, 1961-1962.
BENACERRAF, P. Skolem and the Skeptic. Aristotelian Society, supp.
v. 60, p. 85-115, 1985.
BELNAP, N.; PUTNAM, H. (Ed.). Readings in the Philosophy of Mathematics.
Oxford: Blackwell, 1985.
BENCIVENGA, E. Free Logics. In: GABBAY, D.; GUENTHNER, F. (Ed.).
Handbook of Philosophical Logic, v. iii. Dordrecht: Reidel, 1986.
Black, M. Vagueness. Philosophy of Science, v. 4, p. 427-455, 1937.
Blackburn, S. Spreading the Word. Oxford: Oxford University Press,
1985.
Boh, I. Consequences. In: KRETZMANN, N. et al. The Cambridge History
of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press,
1982. Capítulo 15.
Bolzano, B. Theory of Science. Tradução de R. George. Los Angeles/
Berkeley, Calif.: University of California Press, 1972.
Cervantes, M. de. Don Quixote. Tradução de T. Smollett. London:
Deutsch, 1986.
Chomsky, N. Cartesian Linguistics. London: Harper & Row, 1966.
Cicero. Academica. Tradução de H. Rackham. London: Heinemann,
1972.
Cooper, W. The Propositional Logic of Ordinary Discourse. Inquiry, v.
11, p. 295-320, 1968.
Corcoran, J.; Shapiro, H. Resenha de J. Crossley et al. What is
Mathematical Logic? Philosophia, v. 8, p. 79-94, 1978.
Cornford, F. M. Plato and Parmenides. London: Routledge & Kegan
Paul, 1939.
Crossley, J. et al. What is Mathematical Logic? Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1972.
Davidson, D. True to the Facts. In: ____. Inquiries into Truth and
Interpretation. Oxford: Oxford University Press, 1984.
Dawson, J. The Compactness of First-Order Logic: From Godel to
Lindstrom. History and Philosophy of Logic, v. 14, p. 15-37, 1993.
Devlin, K. Logic and Information. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991.
306
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 306 06/06/14 12:25
Dudman, V. Interpretations of “IF”-sentences. In: Jackson, F. (Ed.).
Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Dummett, M. Elements of Intuitionism. Oxford: Oxford University
Press, 1977.
Dummett, M. Frege: Philosophy of Language. London: Duckworth,
1973.
Dummett, M. The Logical Basis of Metaphysics. London: Duckworth,
1991.
Dummett, M. The Philosophical Basis of Intuitionistic Logic. Reimpresso
em Truth and Other Enigmas. London: Duckworth, 1978.
Dummett, M. Truth. Reimpresso em Truth and Other Enigmas. London:
Duckworth, 1978.
Dummett, M. Truth and Other Enigmas. London: Duckworth, 1978.
Dummett, M. Wang’s Paradox. Synthese, v. 30, p. 301-324, 1975.
Dummett, M. What Is a Theory of Meaning? v. II. In: EVANS, G.;
MCDOWELL, J. (Ed.). Truth and Meaning. Oxford: Oxford University
Press, 1976.
Edgington, D. Do Conditionals Have Truth-Conditions? In: JACKSON,
F. (Ed.). Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Engel, P. The Norm of Truth. Brighton: Harvester, 1991.
Etchemendy, J. The Concept of Logical Consequence. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1990.
Etchemendy, J. Tarski on Truth and Logical Consequence. Journal of
Symbolic Logic, v. 53, p. 51-79, 1988.
Field, H. The Deflationary Conception of Truth. In: MACdonald, G.;
Wright, C. (Ed.). Fact, Science and Morality. Oxford: Blackwell, 1986.
Fine, K. Vagueness, Truth and Logic. Synthese, v. 30, p. 265-300, 1975.
Fodor, J. The Language of Thought. Brighton: Harvester, 1976.
Fraassen, B. van. Singular Terms, Truthvalue Gaps and Free Logic.
Reimpreso em Lambert, K. (Ed.). Philosophical Applications of Free
Logic. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Fraenkel, A. et al. Foundations of Set Theory. Amsterdam: North-
Holland, 1973.
307
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 307 06/06/14 12:25
Frege, G. On Sense and Reference. In: GEACH, P.; BLACK, M. (Ed.
e trad.).Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege.
Oxford: Blackwell, 1966.
Frege, G. Further Remarks on Sense and Meaning. In: HERMES, H. et
al. (Ed.). Posthumous Writings. Edição e tradução de P. Long e R. White.
Oxford: Blackwell, 1979.
Gardenfors, P. Knowledge in Flux. Cambridge, Mass.: MIT Bradford,
1988.
Geach, P. Ascriptivism. In:____. Logic Matters. Oxford: Blackwell, 1972.
Geach, P. Assertion. In:____. Logic Matters. Oxford: Blackwell, 1972.
Geach, P. On Insolubilia. In:____. Logic Matters. Oxford: Blackwell, 1972.
Geach, P. Logic Matters. Oxford: Blackwell, 1972.
Gentzen, G. Investigations Concerning Logical Deduction. In:
Szabo, M. (Ed. e trad.). Collected Papers of Gerhard Gentzen. Ams-
terdam: North-Holland, 1969.
Goguen, J. The Logic of Inexact Concepts. Synthese, v. 19, p. 325-373,
1968-1969.
Grice, H. P. Logic and Conversation. In: Jackson, F. (Ed.). Conditionals.
Oxford: Oxford University Press, 1991.
Grover, D. A Prosentential Theory of Truth. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1992.
Grover, D.; Camp, J.; Belnap, N. A Prosentential Theory of
Truth. Philosophical Studies, v. 27, 1975. Reimpresso em Grover,
D. A Prosentential Theory of Truth. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1992.
GrÜnbaum, A. Modern Science and Zeno’s Paradoxes. London: George
Allen & Unwin, 1968.
Haack, S. Philosophy of Logics. Cambridge: Cambridge University
Press, 1978.
Hallett, M. Cantorian Set Theory and Limitation of Size. Oxford:
Oxford University Press, 1984.
Harper, W. et al. (Ed.). Ifs. Dordrecht: Reidel, 1981.
Heijenoort, J. van. Frege and Vagueness. In:____. Selected Essays.
Naples: Bibliopolis, 1985.
308
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 308 06/06/14 12:25
Hofstadter, D. Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid.
Harmondsworth: Penguin, 1980.
Hughes, G.; Cresswell, M. An Introduction to Modal Logic. London:
Methuen, 1968.
Jackson, F. Conditionals. Oxford: Blackwell, 1987.
Jackson, F. (Ed.). Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Jackson, F. On Assertion and Indicative Conditionals. In: Jackson, F.
(Ed.). Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Keene, G. B. Foundations of Rational Argument. Lewiston, NY: Edwin
Mellen Press, 1992.
Kline, M. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. Oxford:
Oxford University Press, 1972.
Kripke, S. Naming and Necessity. Oxford: Blackwell, 1980.
Kripke, S. Outline of a Theory of Truth. Reimpresso em Martin, R. L.
(Ed.). Recent Essays on Truth and the Liar Paradox. Oxford: Clarendon
Press, 1984.
Kripke, S. Semantical Considerations on Modal Logic I. Reimpresso em
Linsky, L. (Ed.). Reference and Modality. Oxford: Oxford University
Press, 1971.
Kripke, S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Oxford:
Blackwell, 1982.
Lambert, K. Meinong and the Principle of Independence. Cambridge:
Cambridge University Press, 1983.
Lambert, K. (Ed.). Philosophical Applications of Free Logic. Oxford:
Oxford University Press, 1991.
Lewis, D. Counterfactuals. Oxford: Blackwell, 1973.
Lewis, D. Counterfactuals and Comparative Possibility. Reimpresso em
Harper, W. et al. (Ed.). Ifs. Dordrecht: Reidel, 1981.
Lewis, D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic. Reimpresso
em LOUX, M. (Ed.). The Possible and the Actual. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1979.
Lewis, D. On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell, 1987.
Lewis, D. Probabilities of Conditionals and Conditional Probabilities I
and II. Reimpresso em Jackson, F. (Ed.). Conditionals. Oxford: Oxford
University Press, 1991.
309
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 309 06/06/14 12:25
Lindstrom, P. On Extensions of Elementary Logic. Theoria, v. 35,
p. 1-11, 1969.
Lindstrom, P. On Characterizing Elementary Logic. In: Stenlund,
S. (Ed.). Logical Theory and Semantic Analysis. Dordrecht: Reidel, 1974.
Linsky, L. (Ed.). Reference and Modality. Oxford: Oxford University
Press, 1971.
Loux, M. (Ed.). The Possible and the Actual. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1979.
Marcus, R. B. A Backwards Look at Quine’s Animadversions on
Modalities. In: Gibson, R.; Barrett, R. (Ed.). Perspectives on Quine.
Oxford: Blackwell, 1989.
Martin, R. L. (Ed.). Recent Essays on Truth and the Liar Paradox.
Oxford: Clarendon Press, 1984.
Montague, R.; Kaplan, D. A Paradox Regained. Reimpresso em
MONTAGUE, R. Formal Philosophy. New Haven, Conn.: Yale University
Press, 1974.
Moore, G. E. Some Main Problems of Philosophy. Edição de H. D. Lewis.
London: George Allen & Unwin, 1953.
O’Connor, D. J. The Correspondence Theory of Truth. London:
Hutchinson, 1975.
Orłowska, E. Semantics of Vague Concepts. In: Dorn, G.;
Weingartner, P. (Ed.). Foundations of Logic and Linguistics. New
York: Plenum Press, 1984.
Parry, W. T. Analytic Implication: Its History, Justification and Varie-
ties. In: Norman, J.; Sylvan, R. (Ed.). Directions in Relevant Logic.
Dordrecht: Kluwer, 1989.
Pawlak, Z. Rough Sets. Dordrecht: Kluwer, 1991.
Peacocke, C. Are Vague Predicates Incoherent? Synthese, v. 46, p. 121-
141, 1981.
Platts, M. Ways of Meaning: An Introduction to a Philosophy of
Language. London: Routledge & Kegan Paul, 1979.
Prawitz, D. Meaning and Proofs: On the Conflict Between Classical
and Intuitionistic Logic. Theoria, v. 43, p. 2-40, 1977.
Priest, G. In Contradiction. Dordrecht: Nijhoff, 1987.
Priest, G. Can Contradictions be True? Aristotelian Society, supp.
v. 67, 1993.
310
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 310 06/06/14 12:25
Prior, A. The Runabout Inference Ticket. Analysis, v. 21, p. 8-39, 1960-
1961.
Putnam, H. A Comparison of Something with Something Else. New
Literary History, v. 17, p. 61-79, 1985-1986.
Putnam, H. Models and Reality. Journal of Symbolic Logic, v. 45,
p. 464-482, 1980. Reimpresso em PUTNAM, H. Realism and Reason,
Philosophical Papers, 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
p. 1-25.
Putnam, H. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge
University Press, 1981.
Quine, W. van O. Methods of Logic. London: Routledge & Kegan Paul,
1962.
Quine, W. van O. On What There Is. In:____. From a Logical Point of
View. London: Harper & Row, 1953.
Quine, W. van O. Three Grades of Modal Involvement. In:____. Ways
of Paradox and Other Essays. New York: Random House, 1966.
Quine, W. van O. Word and Object. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960.
Ramsey, F. P. Facts and Propositions. In:____. The Foundations of Mathe-
matics and Other Essays. Edição de R. B. Braithwaite. London: Routledge
& Kegan Paul, 1931.
Ramsey, F. P. The Foundations of Mathematics and Other Essays. Edição
de R. B. Braithwaite. London: Routledge & Kegan Paul, 1931.
Ramsey, F. P. General Proposisions and Causality. In:____. Foundations
of Mathematics and Other Essays. Edição de R. B. Braithwaite. London:
Routledge & Kegan Paul, 1931.
Read, S. Relevant Logic. Oxford: Blackwell, 1988.
Russell, B. Logic and Knowledge. Edição de R. C. Marsh. London:
George Allen & Unwin, 1956.
Russell, B. On Denoting. In:____. Logic and Knowledge. Edição de R.
C. Marsh. London: George Allen & Unwin, 1956.
Russell, B. The Philosophy of Logical Atomism. In:____. Logic and
Knowledge. Edição de R. C. Marsh. London: George Allen & Unwin, 1956.
Ryle, G. Heterologicality. In:____. Collected Papers, v. ii. London:
Hutchinson, 1971.
Ryle, G. Discussion of Rudolf Carnap: “Meaning and Necessity”. In:____.
Collected Papers, v. I. London: Hutchinson, 1971.
311
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 311 06/06/14 12:25
Sainsbury, R. M. Concepts Without Boundaries. King’s College. London:
[s.n.], 1990. Palestra.
Sainsbury, R. M. Logical Forms. Oxford: Blackwell, 1991.
Sainsbury, R. M. Paradoxes. Cambridge: Cambridge University Press,
1988.
Shoesmith, D.; Smiley, T. Multiple-Conclusion Logic. Cambridge:
Cambridge University Press, 1978.
Sloman, A. “Necessary”, “A Priori” and “Analytic”. Analysis, v. 26,
p. 12-16, 1965-1966.
Smiley, T. Can Contradictions be True? Aristotelian Society, supp.
v. 67, 1993.
Smullyan, A. F. Modality and Description. Reimpresso em Linsky,
L. (Ed.). Reference and Modality. Oxford: Oxford University Press, 1971.
Stalnaker, R. Probability and Conditionals. Reimpresso em Harper,
W. et al. (Ed.). Ifs. Dordrecht: Reidel, 1981.
Stalnaker, R. A Theory of Conditionals. Reimpresso em Jackson, F.
(Ed.). Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991; e em HARPER,
W. et al. (Ed.). Ifs. Dordrecht: Reidel, 1981.
Sundholm, G. Proof Theory and Meaning. In: Gabbay, D.;
Guenthner, F. (Ed.). Handbook of Philosophical Logic, v. iii. Dor-
drecht: Reidel, 1986.
Tarski, A. On the Concept of Logical Consequence. In:____. Logic,
Semantics, Metamathematics. Tradução de J. H. Woodger. Oxford:
Clarendon Press, 1956.
Tarski, A. The Semantic Conception of Truth. Reimpresso em Feigl,
H.; Sellars, W. (Ed.). Readings in Philosophical Analysis. New York:
Appleton-Century-Crofts, 1949.
Tennant, N. Anti-Realism and Logic. Oxford: Clarendon Press, 1987.
Tharf, L. Which Logic is the Right Logic? Synthese, v. 31, p. 1-21, 1975.
Tharf, L. Three Theorems of Metaphysics. Synthese, v. 81, p. 207-214,
1989.
Tiles, M. The Philosophy of Set Theory. Oxford: Blackwell, 1989.
Troelstra, A.; Dalen, D. van. Constructivism in Mathematics: An
Introduction. Amsterdam: North-Holland, 1988.
Urmson, J. Philosophical Analysis. Oxford: Clarendon Press, 1956.
312
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 312 06/06/14 12:25
Walker, R. C. S. Conversational Implicatures. In: Blackburn, S. (Ed.).
Meaning, Reference and Necessity. Cambridge: Cambridge University
Press, 1975.
Williams, C. J. F. What is Truth? Cambridge: Cambridge University
Press, 1976.
Williamson, T. Vagueness and Ignorance. Aristotelian Society, supp.
v. 66, p. 145-162, 1992.
Wittgenstein, L. Philosophical Investigations. London: Blackwell,
1953.
Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Tradução de D. Pears
e B. McGuinness. London: Routledge & Kegan Paul, 1961.
Wright, C. Anti-Realism and Revisionism. In:____. Realism, Meaning
and Truth. Oxford: Blackwell, 1987.
Wright, C. Further Reflections on the Sorites Paradox. Philosophical
Topics, v. 15, p. 227-290, 1987.
Wright, C. Language Mastery and the Sorites Paradox. In: Evans, G.;
McDowell, J. (Ed.). Truth and Meaning. Oxford: Oxford University
Press, 1976.
Wright, C. On the Coherence of Vague Predicates. Synthese, v. 30,
p. 325-365, 1975.
Wright, C. Skolem and the Skeptic. Aristotelian Society, supp. v. 60,
p. 117-137, 1985.
Wright, C. Truth and Objectivity. Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, 1992.
Zadeh, L. Fuzzy Sets. Information and Control, v. 8, p. 338-353, 1965.
Reimpresso em YAGER, R. (Ed.). Fuzzy Sets and Applications. Chichester:
Wiley, 1987.
ZADEH, L. Fuzzy Logic and Approximate Reasoning. Synthese, v. 30,
p. 407-428, 1975.
Zadeh, L. An Introduction to Fuzzy Logic. Dordrecht: Kluwer, 1992.
313
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 313 06/06/14 12:25
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 314 06/06/14 12:25
Glossário
a posteriori: Conhecimento acerca da verdade de uma proposição obti-
do empiricamente, isto é, por meio da experiência ou observação.
a priori: Conhecimento da verdade de uma proposição obtido inde-
pendentemente da experiência.
adição (introdução da disjunção): Nome tradicionalmente atribuído à
inferência que obtém uma disjunção a partir de um dos disjuntos,
isto é, de A infere A ou B, e de B infere A ou B.
barba de Platão: A afirmação segundo a qual tudo, mesmo o que não
existe, deve em algum sentido ser, pois, caso contrário, como
poderiam os nomes vazios ter significado?
bivalência (lei da): A afirmação segundo a qual toda proposição ou é
verdadeira ou é falsa.
condicional: Uma proposição da forma “se A, então B”, em que A é o
antecedente e B o consequente; por exemplo, “se Ernesto é um
alpinista, então ele é corajoso”.
condicionalização: Nome usual para o procedimento que passa de uma
função de probabilidade para outra por meio da identificação da
segunda com a probabilidade condicional baseada na primeira
relativa a algum item de informação. Ela mede o resultado de
aumentar a probabilidade inicial de tal informação, um valor
diferente de zero, a 1.
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 315 06/06/14 12:25
conjectura de Goldbach: Todo número par maior que dois é a soma
de dois primos (até hoje nenhum contraexemplo é conhecido e
também não há uma prova geral da conjectura de Goldbach).
consequentia mirabilis: Nome tradicional para inferências do tipo
“se A então não-A, logo não-A” e “se não-A então A, logo A”.
Quando Bertrand Russell foi criticado por basear na Física sua
rejeição do realismo ingênuo da percepção, posto que a Física
por sua vez depende do realismo ingênuo, ele replicou usando
consequentia mirabilis: “se o realismo ingênuo é verdadeiro,
então a física também é, portanto o realismo ingênuo é falso,
logo o realismo ingênuo é falso.”
conexiva (lógica): Qualquer lógica que incorpore o que é usualmente
denominado tese de Aristóteles, a saber, que nenhum enunciado
implica ou é implicado pela sua própria negação. Essa tese não
pode ser acrescentada de modo consistente à lógica clássica,
pois, por exemplo, a lei da não contradição implica sua própria
negação (e tudo o mais). Lógicas conexivas usualmente não
possuem adição e simplificação.
construtivismo: Uma concepção antirrealista, primariamente na filoso-
fia da matemática, que requer que cada asserção seja sustentada
explicitamente por uma construção. As asserções mais afetadas,
do ponto de vista construtivo, são as existenciais, que exigem
a exibição de um objeto que seja uma testemunha da verdade
da proposição; e disjunções, que exigem a exibição da prova de
um dos disjuntos. Por essa razão, os construtivistas rejeitam a
validade universal do princípio do terceiro excluído.
contração ou absorção: Nome usual para o princípio de inferência
que reduz vários usos de uma hipótese a apenas um. Frequen-
temente é usado para inferir “se A, então B” de “se A, então,
se A, então B”.
correspondência (teoria da verdade como): A tese segundo a qual
verdade consiste em correspondência com os fatos, isto é, uma
proposição (crença etc.) é verdadeira se e somente se corresponde
aos fatos.
disjuntivo (silogismo): Nome tradicional para a inferência que de
uma disjunção e a negação de um dos disjuntos conclui o outro
disjunto, isto é, de “A ou B” e “não-A” conclui B.
316
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 316 06/06/14 12:25
ecceitismo: A crença de que toda entidade tem uma essência individual,
um conjunto de propriedades que são essenciais a tal entidade
e a distinguem de todo o resto.
empirismo: A tese segundo a qual o conhecimento real deriva em última
análise da observação empírica, isto é, dos sentidos.
essencialismo: A tese (frequentemente atribuída a Aristóteles) de que
alguns atributos pertencem necessariamente a seus sujeitos, isto
é, que alguns enunciados singulares são necessariamente verda-
deiros, por exemplo, “Sócrates era um homem”.
esquema-T ou sentença-T: Qualquer instância do esquema-T, “S é
verdadeira se e somente se p”, onde p é substituído por uma
sentença, ou a tradução de uma sentença, cujo nome substitui S,
é uma sentença-T. A condição de adequação material de Tarski,
para teorias da verdade, é que uma tal teoria deveria implicar
todas as instâncias do esquema-T.
ex falso quodlibet: Literalmente, “do falso tudo (se segue)”. Nome tra-
dicional para a inferência de uma proposição arbitrária de uma
contradição, isto é, de “A e não-A” conclui B, para qualquer B.
“Fido”-Fido (princípio): Nome dado por Gilbert Ryle para a ideia
segundo a qual o significado de uma palavra ou expressão é
um objeto que corresponda à palavra (ou expressão), da mesma
forma que o cachorro Fido corresponde ao nome “Fido”.
fortalecimento do antecedente: Nome usual para a inferência que
acrescenta pressupostos ao antecedente de uma condicional, isto
é, de “se A, então B” conclui “se A e C, então B”.
generalização existencial: Nome usual para a inferência que obtém
uma proposição existencial de umas das suas instâncias, isto é,
de “a é F” conclui “alguma coisa é F”. É também denominada
introdução do existencial.
indiscernibilidade de idênticos (princípio da): Nome usual para a afir-
mação segundo a qual o que quer que seja verdadeiro de um
dado objeto é verdadeiro de tal objeto independentemente de
como nós nos referimos a tal objeto. Em outras palavras, se a
é F e a = b, então b é F.
317
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 317 06/06/14 12:25
instanciação universal: Também chamada eliminação do universal, é
a inferência que conclui uma proposição singular a partir do
universal correspondente, isto é, de “tudo é F” conclui “a é F”
para qualquer termo a.
lema de König: Teorema da matemática não construtiva segundo o
qual qualquer árvore infinita finitamente ramificada tem um
ramo infinito.
metalinguagem: Linguagem utilizada para falar de outra (possivelmente
a mesma) linguagem.
modus (ponendo) ponens: Nome tradicional para o princípio de in-
ferência que conclui o consequente de uma condicional dados
a condicional e seu antecedente, isto é, de “se A então B” e A,
concluímos B.
minimalismo: Nome dado às recentes correntes deflacionistas e reducio-
nistas em arte, música, filosofia e outras áreas. O minimalismo
rejeita qualquer tentativa de atribuir a elementos linguísticos,
e também de outra natureza, propriedades expressivas, repre-
sentacionais ou transcendentes. No que diz respeito à verdade,
minimalismo é a afirmação segundo a qual o esquema-T de
Tarski diz tudo o que há para ser dito acerca da verdade.
não contradição (lei da): A afirmação segundo a qual nenhuma proposi-
ção e sua contraditória podem ser simultaneamente verdadeiras,
isto é, nenhuma proposição da forma “A e não-A” é verdadeira.
Navalha de Occam: Princípio metodológico segundo o qual não se deve
multiplicar entidades além do necessário, isto é, que uma expli-
cação não postule nada além do que for estritamente necessário.
platonismo modal: A tese de que o modo pelo qual as coisas são (no
mundo real) é apenas uma de um sem-número de mundos pos-
síveis que existem concretamente.
proposição atômica: Uma proposição que não pode ser analisada logi-
camente em termos de proposições mais simples, por exemplo,
“Sócrates corre” ou “a neve é branca”.
paraconsistente (lógica): Qualquer lógica que permita a formulação
de teorias inconsistentes, mas não triviais. A lógica clássica não
é paraconsistente, posto que, pelo princípio ex falso quodlibet,
de uma contradição qualquer proposição arbitrária se segue.
318
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 318 06/06/14 12:25
particular: Termo técnico para um objeto particular, algo que não
pode ter diferentes instâncias, embora possa ser uma instância
de outra coisa, a saber, um universal, noção com a qual a noção
de particular é contrastada.
Princípio da Independência: É a independência do ser de um modo
determinado em relação ao ser, isto é, se um objeto tem certas
propriedades é independente desse objeto ser ou existir.
prossentencial: Neologismo, cunhado em analogia com “pronominal”,
para caracterizar expressões que têm a força de uma sentença,
mas são usadas deiticamente ou anaforicamente para se referir
a outras sentenças.
realismo: Nome genérico para a crença em que algumas entidades
existem independentemente do nosso conhecimento delas e
não são meras aparências nem simplesmente resultado de nosso
pensamento ou nossas investigações.
reductio ad absurdum: Nome usual para uma inferência que conclui
que uma proposição é falsa a partir da demonstração de que
supor que tal proposição é verdadeira leva a uma contradição,
isto é, inferências da forma “se A então B e não-B, então não-A”
e, na lógica clássica, mas não na intuicionista, “se não-A então
B e não-B, então A”.
reducionismo: Proposta que pretende resolver um problema filosófico
pela substituição de termos problemáticos, possivelmente em
contexto, por outros menos problemáticos, mas equivalentes
aos primeiros.
simplificação (eliminação da conjunção): Nome tradicional para a
inferência que conclui um conjunto a partir de uma conjunção,
isto é, de “A e B” conclui A, e de “A e B” conclui B.
teorema da dedução: Nome dado para a relação entre condicionais e
consequência, a saber, que uma condicional se segue de outras
proposições se e somente se seu consequente se segue dessas
outras proposições juntamente com seu antecedente (isto é,
sendo G um conjunto de proposições e A e B proposições, “se A
então B” se segue de G se e somente se B se segue de G e A). Esse
princípio é também denominado princípio da condicionalidade.
319
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 319 06/06/14 12:25
terceiro excluído (lei do): A afirmação de que todas as proposições da
forma “A ou não-A” são logicamente verdadeiras.
terceiro excluído condicional (princípio do): Nome usual para a afir-
mação segundo a qual, de um par de condicionais com mesmo
antecedente e consequentes contraditórios, uma das duas deve
ser verdadeira; isto é, que todas as proposições da forma “se
A, então B ou se A, então não-B” são logicamente verdadeiras.
teste de Ramsey: Proposta de Frank Ramsey segundo a qual devemos
acreditar em uma condicional nos casos em que, ao adicionar
seu antecedente às outras crenças que temos, acreditamos no
consequente.
transitividade: Como regra de inferência, possui duas formas: o cha-
mado silogismo hipotético, “se A, então B” e “se B, então C”,
logo “se A, então C”; ou o princípio segundo o qual se temos
uma prova de que B se segue de A, e também uma prova de A,
então temos uma prova de B.
universal: Aquilo que, se de fato existe, é comum a todas as coisas
às quais atribuímos o mesmo nome. A crença em que univer-
sais existem é denominada realismo (acerca de universais). A
crença segundo a qual nada é real além das nossas concepções
denomina-se conceitualismo, e a crença segundo a qual nada é
real além dos nomes denomina-se nominalismo.
320
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 320 06/06/14 12:25
Índice
A analiticidade 53, 110-111
e necessidade/aprioricidade
a posteriori, verdades, ver verdades 111, 114-117
empíricas
anafórica, função de verdade 30-31
a priori, verdades:
anafóricos, pronomes 29-31
definição 109-110, 248
Anderson, A. 63
Kant 111
antecedentes, contraditórios 90-91
e necessidade/analiticidade
Aristóteles 61, 126, 236
111, 114-117
aritmética 62
Ackermann, W. 63
e lógica compacta 45-46
atualismo 105-109
difusa 190
ver também realismo;
reducionismo e infinito 205-213
Adams, E. 78, 93, 118 segunda ordem 48-49
Adams, hipótese de 78, 80, 94 modelo standard (ω) 206,
209-210
adição 59, 248
Asimov, I. 97-98
lógica livre 138
assertibilidade, verdade e 69-74
Alberto da Saxônia 170
atomismo lógico 15-18, 31, 32, 48,
Alchourron, C. E. 95 131, 145
ambiguidade, vagueza 175, 200 atômicas, proposições 13, 17, 248
análise, aritmetização da 207, 222 Agostinho 16, 304
analítica, validade 225, 226, 229 Austin, J. L. 32
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 321 06/06/14 12:25
autorreferência, paradoxos de 154- Cantor, Georg 165, 166, 167, 208-
155 209, 210, 212, 236, 237
axioma da infinitude 214 prova diagonal 163, 210-211,
212
B Carnap, R. 19, 181
Bar-Hillel, Y. 237 Cauchy, sequências de 221
barbeiro, paradoxo do 149-150, 158 Cervantes, M. de 148-149, 169
Barnes, J. 199 Chomsky, N. 230-231, 239, 240
Barrett, R. 119 Chuang Tzu 6
Barwise, J. 32 Cícero 173, 175
behaviorismo 233-234 classes elementares 201
Belnap, N. 63, 225, 226-228, 238 condicionais/implicação material 91,
Benacerraf, P. 62, 237 228, 239
Bencivenga, E. 147 condicionais subjuntivos 74-75, 82
bivalência 11-12, 14, 164, 182, 248 conectivos lógicos:
terceiro excluído 181-182 validade analítica 229
lógica livre 137 holismo 225-226
e intuicionismo 219 e padrões de inferência
de domínio externo 137 225-228, 238
Black, M. 175, 200 novos, adição de 226-227
Blackburn, S. 32, 240 consequência lógica 35-63
boa ordem 210 clássica 139
Boh, I. 170 análise conceitual de 35-36
Bolzano, B. 41, 42, 61 lógica livre 141
Bradley, F. H. 112, 130 critério de interpretação 50-52
Brouwer, L. E. J. 213, 218, 237 e verdades lógicas 38-40
Burali-Forti, paradoxo de 211-212, base semântica 58
214, 236
concepção sintática da 44
C Tarski 61, 62
contradições lógicas 75
calvo, paradoxo do 173, 183
contradições verdadeiras 158-163
ver também paradoxo sorites
322
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 322 06/06/14 12:25
cor, predicados de 178-179, 186-188 subjuntivos 74-75, 82
fundamento observacional 179 teorias de 64-95
e conjuntos aproximados vero-funcionalidade 66-69, 92,
195-198 184-185, 201
cor, tonalidades de 187 tabela de verdade 67
como uma noção incoerente e argumentos válidos 68
196-197
ver também implicatura
compacidade 42-49, 62, 126
conjunções 18
e aritmética 45-46
vero-funcionalidade 66-67
definição 43
tabela de verdade 66
e consequência lógica 43-45
fatos conjuntivos 15-16
completude 49
consequentia mirabilis 162, 248
completude, teorema da (Gödel) 44
construtivismo 214-240, 249
composicionalidade, princípio da 122,
afirmações de existência 215
230
argumento linguístico 230-234
ver também princípio de Frege
argumento lógico 222-230
compreensão, princípio da 214
minimalismo 204-205
condicionalização 89, 248
prova 222, 223
condicionais 3, 248
proposições indecidíveis
tratamento clássico 65-67
232-233
antecedentes contraditórios
verificacionismo 232
90-91
contingentes, proposições 115
tese conversacionalista 67-74
contingentes, verdades 109
contrafactuais 74-75
contração 162, 163, 249
e disjunção 71
contradições verdadeiras 158-163
falsidade sem contraexemplo
184-185 contraposição 83-84
material 91, 228, 239 contrários, paradigmas de 198
e mundos possíveis 82-91, convencional, implicatura 72-73, 79,
94-95 80
robustez 72-73, 79 conversacional, implicatura 70-74
teoria da semelhança 82-91, conversacionalista, tese 67-74, 92
94, 185
Cooper, W. 92
323
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 323 06/06/14 12:25
Cornford, F. M. 144 dedução natural:
correspondência, relação de 12-15 cálculo (NK) 228-229
correspondência, verdade como 7-15, conclusões múltiplas 229-230
32, 204, 249
definição, representação e indepen-
metafísica da 25-26 dência 227
como teoria realista 10-11 Descartes, R. 27, 207, 213
e sentenças-T 25 descrições 124-131
Wittgenstein 12, 13-14 definidas 127
condicionais contrafactuais 74-75 nomes como descrições
disfarçadas 129-131
conjuntos:
análise das descrições de Russell
infinito 214, 236
103, 104, 119, 124-125,
ortodoxo 189 126-130, 131, 144-145
paradoxo de Russell 212-213 escopo maior 108, 109
teoria ingênua 192 designadores rígidos 108-109, 112,
114, 115
subconjunto, definição 195
verdades modais de re 109
conjunto potência, axioma do
214 robustez 72-73, 93
conjuntos aproximados 195-196, 202 condicionais 79
e predicados de cor 195-198 Devlin, K. 32
limites de 198 diagonal, prova (Cantor) 163, 210-
211, 212
Cresswell, M. 118
disjunções 18
Crossley, J. 63
e conditionais 71
Curry, H. B. 161
vero-funcionalidade 66-67
Curry, paradoxo de 161, 162, 163,
171, 199 tabela de verdade 66
fatos disjuntivos 15-16
D
domínio 47
Davidson, D. 32 domínio de interpretação 41
Dawson, J. 62 dualismo 10
de dicto, modalidade 102, 105, 119 Dudman, V. 94
de re, modalidade 104-105, 109 Dummett, M. 196-197, 200, 235,
Dedekind, R. 208 237-238, 239-240
324
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 324 06/06/14 12:25
Duns Scotus 101 F
E fatos:
ecceitismo 101, 105-106, 117, 249 conjuntivos 15-16
ver também essencialismo disjuntivos 15-16
Edgington, D. 93 existência objetiva 203-204
empirismo 111-112, 249 e proposições 12-14
Engel, P. 235 fechamento lógico 42
Epimênides, ver paradoxo do fechamento semântico 163-168
Mentiroso ficção, operador de 127-128, 143-144
epistemologia realista 11, 203
“Fido”-Fido, Princípio 19-20, 249
essências:
Field, H. 33
individuais, ver ecceitismo
Fine, K. 200
e lógica modal 102
Fodor, J. 240
essencialismo 101-102, 106, 249
forma 40
esquema-T 25, 176, 181, 182, 204,
251 lógica de primeira e de segunda
ordem 46-47
e paradoxos semânticos 172
e verdade lógica 49-50
Etchemendy, J. 32, 62
e validade 36-37
Eubulides 162, 173
fortalecimento do antecedente 84, 251
Euclides 209
Fraenkel, A. 237
Evans, G. 30
Frege, G. 21, 32, 61, 112, 122
evidência transcendente 231, 233, 235
composicionalidade 122, 123
ex falso quodlibet 42, 54-60, 69, 90,
91, 139, 160, 249 sentido e referência 130, 145
lógica livre 135-136, 141 vagueza 176, 177, 190,
199-200
no sorites 184
existência, afirmações de 215 Frege, Princípio de 145
existência, pressuposição de 133 G
extensões, teoria das 188
Galileu, paradoxo de 208-209
Gärdenfors, P. 95
325
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 325 06/06/14 12:25
Geach, P. 92, 171 implicatura:
generalidade, vagueza e 175, 200 convencional 72-73, 79, 80
generalização existencial 142, 143, conversacional 70-74
146, 147, 249 incomensurabilidade 207, 209
Gentzen, G. 61, 228-229, 238 Incompletude, teorema da (Gödel)
44, 45
geometria, e o infinito 205-206
Independência, princípio da
Gibson, R. 119
(Meinong) 131-132, 146
Gödel, K. 23, 44, 45, 62, 118, 163 indiscernibilidade dos idênticos
Gödel, números de 23 102-103, 105, 142, 143, 177, 249
Goguen, J. 199 indução 191
Goldbach, conjectura de 137, matemática 44-45, 174
220-221, 235, 249 indução, axioma da 48-49
Grice, H. P. 70, 72, 92, 93, 184 inferência:
Grover, D. 33, 170 padrões e conexões lógicas
225-228, 238
Grünbaum, A. 236
regras 59
H verdade e 1
infinito:
Haack, S. 33, 169
atual 206, 207-208, 215, 222,
Hallett, M. 236 236
Harper, W. 93 axioma do 214
Hofstadter, D. 62-63 geometria e 205-206
Hughes, G. 118 números naturais e 205-213
de primos 215-216
I
potencial 206, 236
identidade 101-102 intuicionismo 213-22
lógica clássica com 40-41 bivalência 219
e verdade modal de re 109 terceiro excluído 219, 220,
222, 224
descobertas empiricamente
103, 113, 122 negação 223-224
lógica livre 143 rejeição da redução ao absurdo
clássica 224
dos indiscerníveis 102-103
iteração no transfinito 165, 166-167
326
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 326 06/06/14 12:25
J quantificadores 125-126
redução ao absurdo 225-226
Jackson, F. 72, 73, 74, 78, 79, 80, 92,
93 semântica 222-223
validade 36-37, 91
K com identidade 40-41
Kant, I. 27, 111, 126 lógica de primeira ordem 46-47
Kaplan, D. 169 completude 49
Keene, G. B. 61-62 limitações expressivas 43-49,
Kipling, R. 19 62
Kleene, Matrizes de 138-139, 147, lógicas modais 40-41, 119
165 e essências 102
Kline, M. 236 múltipla 118
König, lema de 216-218, 250 rejeição das essências (Quine) 102
Kripke, S. 108, 112-115, 119, 130, linguagens formais, semântica 26
164-168, 171, 182, 219, 240
lógica formal e lógica simbólica 61
L lógica livre 131-137, 146-147, 219
adição 138
Lambert, K. 146
bivalência 137
linguagem privada, argumento da 231
ex falso quodlibet 135-136,
linguagens de primeira ordem 125
141
linguagem-objeto 22-25, 164, 204
terceiro excluído 140, 141
lógica simbólica, e formal 61
identidade 143
lógica clássica 36-42
não referencial 134, 138-139,
rejeição de modalidades 52-53 146-147
condicionais 65-67 consequência lógica 141
terceiro excluído 233 verdade lógica 141
pressupostos de existência 133 domínio externo 134-137,
consequência lógica 139 146-147
negação 223-224, 228, 238 quantificadores 135, 136-7
consequência lógica 42-45, semântica para termos vazios
54-60, 63 134
prova 222-223 tipos de 133, 138
lógica difusa 188-194
327
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 327 06/06/14 12:25
modus ponens 191-192, Meinong, A. 131-132, 133, 134, 135,
193-194, 199 146
predicados difusos 189-490 menção, e uso 116
quantificadores difusos metalinguagem 22-25, 164, 204, 250
189-490
poder de expressão 24-25
teoria de conjuntos difusa
192-493 metafísica:
linguagem: teoria da verdade como
correspondência 25-26
aquisição de 230
modal 50-52
criatividade da 121, 122
da verdade 29
Levy, A. 237
Mill, J. S. 112, 130
Lewis, C. I. 118
minimalistas, teorias da verdade
Lewis, D. 74, 80-82, 86, 93, 94, 117
25-31, 181, 204-205, 250
Lindström, P. 62
metafísica modal 50-52
linguística 230-231
modalidades:
Linsky, L. 119
de dicto 102, 105, 119
lógica:
de re 104-105, 109
abordagem dogmática 2, 4
formas de evitar 52-53
pressuposições de existência
133 modus (ponendo) ponens 61, 72, 73,
161, 250
Loux, M. 117, 118
lógica livre 191-192, 193-194,
Löwenheim-Skolem-Tarski,
199
propriedade 62
teoria de conjuntos difusa
M 192-193
sorites 174, 191-192
Makinson, D. 95
Mondadori, F. 118
Marcus, R. B. 119
monismo 10
Martin, R. L. 171
Montague, R. 169
material, condição de adequação 25,
33 Moore, G. E. 12, 31, 152
matemática: mundos possíveis 51-52, 96-98
axiomatização da 45 e condicionais 82-91, 94-95
lógica de segunda ordem 54 quantificação sobre 100, 107
e ficção científica 96-98
328
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 328 06/06/14 12:25
ver também mundos impossí- não contradição 132, 250
veis
mundos impossíveis 91, 132 O
O’Connor, D. J. 32
N
Occam, Navalha de 15-16, 51, 250
nomes 112, 113
ω (aritmética standard) 206, 209-210
e modalidade de re 104-105,
regra-ω 44-45, 47-48
109
ontológico, argumento 27
como descrições disfarçadas
129-131 ontologia 3, 10-11
vazios 129-131, 146, 182 origem, necessidade da 113-114
sentido de (Frege) 129-130 Orłowska, E. 202
nomes vazios 129-131, 146, 182
P
números naturais 206
e infinito 205-213 paradoxos 2-3, 150, 154-155
necessidade: paradoxos semânticos 22, 148-172
a posteriori 113-17; ver e teoria prossentencial da ver-
também identidade, dade 170
empiricamente descoberta autorreferência 154-155
e aprioricidade/analiticidade e o esquema-T 172
109-117
e validade 155
de origem 113-114
paradoxo do mentiroso 150-158,
como demonstrabilidade 118 159-160, 169
e validade 50 fortalecido 153-154, 162, 167
ver também verdades como infundado 167
necessárias
paradoxo do enforcado 168-169
negação:
paradoxo do exame inesperado 168-
clássica 223-224, 228, 238 169
interna versus externa 180-183 paradoxo do Mentiroso reforçado
intuicionismo 223-224 153-154, 162, 167
proposições negativas 17-18 paradoxo do monte 173, 174, 183
existencial 123 Parmênides 123, 144, 147
enunciados negativos, Parry, W. T. 63
condições de verdade para 21
329
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 329 06/06/14 12:25
Pawlak, Z. 202 transitividade 59
Peirce, C. S. 9 teoria da 44
Lei de Peirce 228, 229-230 proposições:
Plantinga, A. 118 como objetos abstratos 9
Platão 6, 98, 123, 144 atômicas (elementares) 13, 17
barba de Platão 123, 131, 144, conjuntivas 18
145, 250
disjuntivas 18
resposta de Frege 129-130
e fatos 12-14
platonismo modal 51-52, 98-105,
natureza das 7-10
111, 117, 118, 250
negativas 17-18
Platts, M. 33, 92
teoria figurativa 14-15, 31-32,
possibilidade:
98
epistêmica 113, 114
e sentenças 7-8
metafísica 114
como portadores de verdade
Prawitz, D. 237, 238 9-10
Priest, G. 171 distinção tipo-espécime 9
primos, infinidade de 215-216 indecidíveis 232-233, 233
Prior, A. 33, 225-226, 227, 238 prossentencial, teoria da verdade 27,
29-30, 170
probabilidade, teoria da 75-76
Pseudo-Scotus 170
probabilidade condicional 73, 74-82
Putnam, H. 33, 62, 237
probabilidade objetiva 76
probabilidade subjetiva 76 Q
proposições não fundadas 167
quantificação, sobre mundos possíveis
proposições elementares 13, 17 100, 107
proposições existenciais negativas 123 quantificadores:
Proposições modais 50-52 domínio de 133
proposições necessitivas 115 existencial 125
prova 58 lógica livre 135, 136-137
lógica clássica 222-223 difusos 189-90
construtivismo 222, 223 segunda ordem 125, 126
caso infinito 223 universal 125
330
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 330 06/06/14 12:25
Quine, W. 61, 102, 103-105, 106, ver também verificação
119, 123, 131, 144, 234, 239, 240 transcendente
quantificador existencial 125 realismo interno 33
quebra-cabeças do relógio (Dummett) regras de eliminação 226
201-202
regras de introdução 226
R regras gramaticais 121
redução ao absurdo 150-151, 162,
Ramsey, F. 28, 33, 74, 93 163, 224, 250
teste de Ramsey 74-91, 93-95, clássica 225-226
250
intuicionismo 224
e lógica modal 82-91
reducionismo 15-18, 106, 107, 111,
reta real 206, 207-208 251
realismo 11-12, 250 redundante, teoria da verdade 27-29,
infinito atual 215 33
pressuposições do 2 referência (Bedeutung) 130, 145
princípio da compreensão 214 falha da 8
concepção de fatos 204 significado e 20, 21
e verdade como relativismo, global 6
correspondência 10-11 relevância 54-60
epistemológico 11, 203 regras de inferência 59
afirmações de existência 215 regra da simplificação 59, 251
incoerência do 235, 239 Russell, B. 31, 61, 122, 135, 212
coleções infinitas 214 análise das descrições 103,
interno 33 104, 119, 124-125, 126-130,
131, 144-145
aquisição da linguagem
230-231 relação de correspondência 21
metafísico 234 atomismo lógico 15-18, 31
e minimalismo 204-205 significado 20
moderado 107-108, 132 sobre Moore 152
noção de verdade 231 proposições negativas 17-18
ontológico 11, 203 proposições e fatos 12-14
teoria do significado 223 referência 20
paradoxos semânticos 149
331
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 331 06/06/14 12:25
hierarquia de tipos 213 significado 20-1
vagueza 175, 177, 199-200 concepção epistêmica 223
paradoxo de Russell princípio “Fido”-Fido 19-20,
(conjuntos) 212-213, 214, 236 249
Ryle, G. 19, 170 fenomenologia 231
teoria figurativa 14-15, 31-32,
S 98
S4, sistema modal 118 elemento privado na 231
S5, sistema modal 118 concepção realista 223
Sainsbury, R. M. 61, 169, 202 e referência 20, 21
Sancho Panza, paradoxo de 148-149, ceticismo sobre 234
158, 169 silogismo disjuntivo 59, 60, 72, 249
segunda ordem: Shapiro, S. 63
aritmética 48-49 Shoesmith, D. 239
linguagens 125 significação ver referência
lógica 46-47 semântica situacional 32
completude 49 Skolem, paradoxo de 62
e matemática 54 Sloman, A. 120
semântica 20 Smiley, T. 239
lógica clássica 222-223 Smullyan, A. F. 119
linguagens formais 26 sorites, paradoxo 173-202
situacional 32 análise do 180-188
sentido (Sinn) 129-130, 145 ex falso quodlibet 184
ver também significado e modus ponens no 174,
191-192
sentenças:
Stalnaker, R. 75, 78, 80, 82, 86, 87,
falha da referência 8 93, 118, 184, 185
significado 122-123 hipótese de 78, 80-82, 93
e proposições 7-8 substitucional, critério 40-41
distinção tipo-espécime 9 Sundholm, G. 238
cálculo de sequentes (Gentzen) sobrevalorações 133-134, 137-144,
229-230 147, 168
332
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 332 06/06/14 12:25
definição 140 ver também terceiro excluído
condicional
com dom externo 142-143
Tiles, M. 236
substituição uniforme 61
tipo-espécime, distinção 9
paradoxo do exame inesperado
168-169 tolerance 194-198
“tonk” conectivo (Prior) 225-226
T
transfinito, iteração no 165, 166-167
Tarski, A. 22-25, 32, 155, 170 números 208-9, 209-211, 212
domínio de interpretação 41 transitividade 84-85, 251
hierarquia 164, 167, 168 da prova 59
consequência lógica 61, 62 “trivialidade”, resultado de (Lewis)
teorias da verdade 22-27, 32 81-82
teorema da dedução 68-69, 78, 79, Troelstra, A. 237
84-85, 89, 91, 95, 248
teorema das quatro cores 54, 110 V
teorema do leque (Brouwer) 218 verdade 5-34
teoria figurativa do significado 14-15, anafórica, função 29-31
31-32, 98
e assertibilidade 69-74
terceiro excluído condicional 85-88,
concepção epistêmica 205, 222
248
e inferência 1
tautologias 75
verdade lógica 29
Tennant, N. 63
objetividade da 7
Tharp, L. 63, 120
predicação da 27-28
Teeteto (Platão) 6
noção realista 11-12, 231 ver
terceiro excluído 85, 86-87, 153, 249
também realismo
e bivalência 181-182
relatividade da 6
lógica clássica 233
hierarquia da 152-158, 170
rejeição do 153
como noção semântica 21
fragmento sem negação
teorias da 18-25
228-229
condição de adequação
lógica livre 140, 141
material 25
intuicionismo 219, 220-222,
minimalista 25-31,181,
224
204-205
333
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 333 06/06/14 12:25
prossentencial 27, 29-31, 170 de ordem superior 190-191,
198
redundância 27-29, 33
como ignorância 178-179, 200
semântica 21-31
como fonte de incoerência
uso do conceito 6
176-177
definição, predicado verdade
verdades empíricas 109, 248
24
verdades sintéticas 110-111
generalidade e predicado
verdade 29 validade:
preservação da 1, 36-38, analítica 225, 226, 229
40-42, 62
concepção clássica 36-37, 91
validade e preservação da
e condicionais 68
verdade 56-58
critério de 37-38
funções de 227
e forma 36-37
condicionais 66-69, 92,
184-185, 201 e verdade lógica 61
conjunções 66-67 material 53
disjunções 66-67 e necessidade 50
tabelas de 66-67 e paradoxos semânticos 155
valores de 9-10, 21 e preservação da verdade 56-58
verdades necessárias: van Dalen, D. 237
e aprioricidade 114-117 van Fraassen, B. 140, 141, 142, 147,
165
definição 109
van Heijenoort, J. 200
ver também necessidade
verificação-transcendente 14-15, 205,
verdade lógica 38-40, 61
223, 239
e forma 49-50
verificacionismo 232
e consequência lógica 38-40
vingança, problema da 153, 168
e supressão 39
vocabulário lógico 40-41
e preservação da verdade 42
Von Neumann, números de 106
e validade 61
vagueza 175-80 U
objetos vagos 177 universal, generalização 61
e ambiguidade 175, 200 universal, quantificador 125
generalidade e 175, 200
334
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 334 06/06/14 12:25
universal, eliminação do 142, 143,
146, 147, 251
universais 19, 251
linguísticos 231
uso e menção 116
W
Walker, R. C. S. 92
Williams, C. 33
Williamson, T. 200
Wittgenstein, L. 12, 240
atomismo lógico 31, 48
objetos comuns a todos os
mundos 106
teoria figurativa do significado
14-15, 31-32, 98
argumento da linguagem
privada 231
fatos e proposições 12, 13-14
reducionismo 15-18
ceticismo acerca do significado
234
vagueza 177
Woodruff, P. 147
Wright, C. 34, 62, 200, 235
Z
Zadeh, L. 199
Zenão de Eleia 171, 207, 236
Zermelo, E. 213
335
REPENSANDO A LOGICA_MIOLO_3-12-2013 335 06/06/14 12:25
Вам также может понравиться
- Larry LaudanДокумент132 страницыLarry LaudanGustavo BellezaОценок пока нет
- LEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãoДокумент49 страницLEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãopoeticacontemporaneaОценок пока нет
- Quine, W. v. - Sobre o Que Há (Tradução de Luis Henrique Dos Santos - Coleção Os Pensadores, 1973)Документ8 страницQuine, W. v. - Sobre o Que Há (Tradução de Luis Henrique Dos Santos - Coleção Os Pensadores, 1973)Rogério GonçalvesОценок пока нет
- O Que Nos Faz Pensar Paul Ricoeur Na Escola Do BiranismoДокумент19 страницO Que Nos Faz Pensar Paul Ricoeur Na Escola Do BiranismoFla QuintanilhaОценок пока нет
- Carta Descartes - Mersenne PDFДокумент6 страницCarta Descartes - Mersenne PDFneirsouzaОценок пока нет
- A Concepcao Fisica Do Mundo Como Os SereДокумент265 страницA Concepcao Fisica Do Mundo Como Os SereLik510Оценок пока нет
- Boas-Vindas À Filosofia - Marilena ChauíДокумент27 страницBoas-Vindas À Filosofia - Marilena ChauíEdmundo Teixeira100% (1)
- FARIA, Paulo (2006) História Da Filosofia Analítica PDFДокумент5 страницFARIA, Paulo (2006) História Da Filosofia Analítica PDFMarcelo EndresОценок пока нет
- A Metafísica Do BeloДокумент141 страницаA Metafísica Do BeloBill SemogОценок пока нет
- Linguagem e Acontecimento ApropriativoДокумент25 страницLinguagem e Acontecimento ApropriativoLuiz Carlos de Oliveira e Silva100% (1)
- HEIDEGGER Heraclito PDFДокумент5 страницHEIDEGGER Heraclito PDFHérmiton FreitasОценок пока нет
- Cratilo PlataoДокумент305 страницCratilo PlataoDanielli ReisОценок пока нет
- Slides - Filosofia Da LinguagemДокумент86 страницSlides - Filosofia Da LinguagemPedro CorsiniОценок пока нет
- William P. Alston - Filosofia Da LinguagemДокумент82 страницыWilliam P. Alston - Filosofia Da LinguagemFábbio CerezoliОценок пока нет
- ALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesДокумент137 страницALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesNathalia LuchesiОценок пока нет
- Web Historia Da Filosofia Medieval PDFДокумент234 страницыWeb Historia Da Filosofia Medieval PDFVinicios RibeiroОценок пока нет
- A Conjectura de Poincare Uma Abordagem ElementarДокумент27 страницA Conjectura de Poincare Uma Abordagem ElementarEduardo CostaОценок пока нет
- Cupani A Crítica Do PositivismoДокумент27 страницCupani A Crítica Do Positivismorobertohigashi8071Оценок пока нет
- AUSTIN, J. L. - Sentido e PercepçãoДокумент197 страницAUSTIN, J. L. - Sentido e Percepçãoasouza_283408100% (1)
- Tugendhat - Lições Introdutórias À Filosofia Analítica Da LinguagemДокумент341 страницаTugendhat - Lições Introdutórias À Filosofia Analítica Da LinguagemThiago Etc100% (2)
- A Filosofia Como Terapia Gramatical Segundo WittgensteinДокумент23 страницыA Filosofia Como Terapia Gramatical Segundo WittgensteinLuke CarricondeОценок пока нет
- Sobre o Modo de Estudar - o "De Modo Studendi" - Santo Tomás de AquinoДокумент5 страницSobre o Modo de Estudar - o "De Modo Studendi" - Santo Tomás de AquinoJordan Alves100% (1)
- John Cottingham - A Filosofia Da Mente de Descartes PDFДокумент34 страницыJohn Cottingham - A Filosofia Da Mente de Descartes PDFPaulo Cesar FernandesОценок пока нет
- A Falência Dos Modelos Normativos de Filosofia Da Ciência (Resenha)Документ4 страницыA Falência Dos Modelos Normativos de Filosofia Da Ciência (Resenha)André MattosОценок пока нет
- Três Aberturas em OntologiaДокумент0 страницTrês Aberturas em OntologiaGilmar Pereira Dos Santos100% (1)
- Platão. Mênon. Trad. M. Iglésias. Loyola (2001)Документ58 страницPlatão. Mênon. Trad. M. Iglésias. Loyola (2001)Matheus CarvalhoОценок пока нет
- Boécio TraduçãoДокумент9 страницBoécio TraduçãoWellzinhoОценок пока нет
- Frege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciaДокумент26 страницFrege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciagustavobertolinoОценок пока нет
- O Contra-Argumento Cartesiano Do SonhoДокумент14 страницO Contra-Argumento Cartesiano Do SonhochmyzОценок пока нет
- Priest - Logica Uma Brevissima IntroduçãoДокумент145 страницPriest - Logica Uma Brevissima IntroduçãoAlanMirandaОценок пока нет
- Alain Badiou RESUMO DO Pequeno Manual de InesteticaДокумент20 страницAlain Badiou RESUMO DO Pequeno Manual de InesteticaMario CesarОценок пока нет
- A Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaДокумент18 страницA Virada Linguística e o Novos Rumos Da FilosofiaKárida MateusОценок пока нет
- JOÃO PAISANA, Fenomenologia e Hermenêutica, A Relação EntreДокумент4 страницыJOÃO PAISANA, Fenomenologia e Hermenêutica, A Relação EntreAdelioОценок пока нет
- Wolff, Francis. Três Figuras Do Discípulo Na Filosofia AntigaДокумент16 страницWolff, Francis. Três Figuras Do Discípulo Na Filosofia Antigasilvio_machado_2Оценок пока нет
- MORENO, Arley - Wittgenstein - Os Labirintos Da Linguagem - Parte 1Документ23 страницыMORENO, Arley - Wittgenstein - Os Labirintos Da Linguagem - Parte 1Professora Alik AraújoОценок пока нет
- KANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEДокумент812 страницKANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEemankcinОценок пока нет
- Tugendhat - O Que É FilosofiaДокумент22 страницыTugendhat - O Que É FilosofiaSílvio Priscilla M. Ribeiro100% (1)
- Alcoforado, Paulo - Investigações Lógicas - Gottlob FregeДокумент108 страницAlcoforado, Paulo - Investigações Lógicas - Gottlob FregePablo Barbosa100% (1)
- Lógica - Décio Krause e Newton CostaДокумент222 страницыLógica - Décio Krause e Newton CostanailtongomesОценок пока нет
- Linguagem e Verdade - Uma Análise Da Lógica de Frege - Versão FinalДокумент100 страницLinguagem e Verdade - Uma Análise Da Lógica de Frege - Versão FinalLuciano CarvalhoОценок пока нет
- Platão - Parmênides (2003, Loyola)Документ71 страницаPlatão - Parmênides (2003, Loyola)Bruno Brito100% (1)
- Porfírio - Isagoge IntroduçãoДокумент26 страницPorfírio - Isagoge Introduçãojohn aquino100% (1)
- Apologia, Êutifron, CrítonДокумент82 страницыApologia, Êutifron, CrítonOctavio FranciscaОценок пока нет
- Fil Da Linguagem 2014Документ13 страницFil Da Linguagem 2014Romualdo CorreiaОценок пока нет
- Filosofia Da LinguagemДокумент108 страницFilosofia Da LinguagemPaulo MunizОценок пока нет
- Antonio Gomes Penna 1Документ10 страницAntonio Gomes Penna 1Ulisses Heckmaier CataldoОценок пока нет
- Ayer - Linguagem, Verdade e Lógica - Capitulo 1 e 4Документ26 страницAyer - Linguagem, Verdade e Lógica - Capitulo 1 e 4Marcello DaminelloОценок пока нет
- Antiga 2Документ13 страницAntiga 2Sophia Bissoli100% (1)
- Peirce - Como Tornar Nossas Ideias ClarasДокумент25 страницPeirce - Como Tornar Nossas Ideias ClarasGabriel Engel DucattiОценок пока нет
- Disciplina: Introdução A Metafísica 1 Guido Imaguire URFJ 18.2Документ4 страницыDisciplina: Introdução A Metafísica 1 Guido Imaguire URFJ 18.2Rodrigo NascimentoОценок пока нет
- mondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesДокумент33 страницыmondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesÉsio SalvettiОценок пока нет
- Kant - Crítica Da Faculdade Do JuizoДокумент396 страницKant - Crítica Da Faculdade Do JuizoÉlle de Bernardini100% (1)
- Vidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)От EverandVidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)Оценок пока нет
- A prioridade relativa da linguagem sobre o pensamento: um estudo sobre um método recentemente abandonado em filosofia analíticaОт EverandA prioridade relativa da linguagem sobre o pensamento: um estudo sobre um método recentemente abandonado em filosofia analíticaОценок пока нет
- Personal Identity - FluxogramaДокумент4 страницыPersonal Identity - FluxogramaBárbara OliveiraОценок пока нет
- Mécia Lopes de Haro Uma BiografiaДокумент2 страницыMécia Lopes de Haro Uma BiografiaBárbara OliveiraОценок пока нет
- She Ra CompartivoДокумент1 страницаShe Ra CompartivoBárbara OliveiraОценок пока нет
- NormasДокумент8 страницNormasBárbara OliveiraОценок пока нет
- It 16 2019Документ14 страницIt 16 2019Diogo UrbanettoОценок пока нет
- 01 Cap 01 Gestão EstrategicaДокумент15 страниц01 Cap 01 Gestão EstrategicaMarcello SantosОценок пока нет
- Cinemoterapia 4Документ30 страницCinemoterapia 4FilipaОценок пока нет
- Psicologia Humanista de Adler PDFДокумент21 страницаPsicologia Humanista de Adler PDFtatiane_maciel_40Оценок пока нет
- Processos Cognitivos e MotivacionaisДокумент24 страницыProcessos Cognitivos e MotivacionaisAndreia Sousa100% (1)
- Abordagem Centrada Na PessoaДокумент16 страницAbordagem Centrada Na PessoaIzaqueu Araujo Silva Teixeira100% (1)
- Planejamento Da Carreira Profissional e PessoalResumoДокумент9 страницPlanejamento Da Carreira Profissional e PessoalResumoMaria Aparecida de MedeirosОценок пока нет
- Como As Emoções Influenciam Nossa VidaДокумент8 страницComo As Emoções Influenciam Nossa VidaMarcos Aurélio CorsiniОценок пока нет
- Artigo TPACKДокумент20 страницArtigo TPACKIsadora FigueiredoОценок пока нет
- PROVA Psicologia Escolar MODELO 1Документ4 страницыPROVA Psicologia Escolar MODELO 1Lucienia PinheiroОценок пока нет
- Correntes Da PsicologiaДокумент11 страницCorrentes Da PsicologiaAna Rubia CarraroОценок пока нет
- A Estratégia DeMolayДокумент10 страницA Estratégia DeMolayapi-22430776Оценок пока нет
- PNL - Apostila de Programaçao Neurolinguistica - Lair Ribeiro - PNLДокумент37 страницPNL - Apostila de Programaçao Neurolinguistica - Lair Ribeiro - PNLeunapim100% (6)
- Musicoterapia e EspiritualidadeДокумент37 страницMusicoterapia e EspiritualidadeNASCE_UFMG100% (2)
- NTCB 13 2019 Saida de EmergenciaДокумент35 страницNTCB 13 2019 Saida de EmergenciaDouglas HenzОценок пока нет
- Planilha SBCoaching - PPCДокумент130 страницPlanilha SBCoaching - PPCmads3100% (5)
- O Que É Um Meme Na Internet - ABCiber 2009Документ16 страницO Que É Um Meme Na Internet - ABCiber 2009Fernando Fontanella50% (2)
- Aconselhamento Psicologico Como Area de FronteiraДокумент7 страницAconselhamento Psicologico Como Area de FronteiraBruno LealОценок пока нет
- PLANO DE EMERGENCIA - P.A.E. (JUL-13) .PPSXДокумент37 страницPLANO DE EMERGENCIA - P.A.E. (JUL-13) .PPSXFábioCastroОценок пока нет
- Inteligencia Emocional No TrabalhoДокумент24 страницыInteligencia Emocional No TrabalhoMere Sousa100% (2)
- Alguns Quadros Teóricos Da Psicologia ComunitáriaДокумент6 страницAlguns Quadros Teóricos Da Psicologia ComunitáriaJoão HorrОценок пока нет
- TCC. TCC e A Interação Familiar PDFДокумент23 страницыTCC. TCC e A Interação Familiar PDFJonas Angelo Martins FerreiraОценок пока нет
- Resumo B1 Terapia Cognitiva ComportamentalДокумент8 страницResumo B1 Terapia Cognitiva Comportamentalcarinaeluciano100% (1)
- BehaviorismoДокумент4 страницыBehaviorismoRossano DaitxОценок пока нет
- PTD PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 2012 CorrigidoДокумент11 страницPTD PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 2012 CorrigidoTaquimОценок пока нет
- Tamayo. Impacto Do Clima Organizacional Sobre o Estresse No TrabalhoДокумент15 страницTamayo. Impacto Do Clima Organizacional Sobre o Estresse No TrabalhoRenee BorgesОценок пока нет
- Redes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas - Curso PráticoДокумент2 страницыRedes Neurais Artificiais para Engenharia e Ciências Aplicadas - Curso Práticodionisio94040% (9)
- Resumo Administração Geral FCCДокумент9 страницResumo Administração Geral FCCFranciely CoelhoОценок пока нет
- Musicoterapia em Geriatria (Idosos) RДокумент6 страницMusicoterapia em Geriatria (Idosos) Rguitar7119100% (1)
- Dependência Da Ajuda Externa, Acumulação e Ownership Contribuição para Um Debate de Economia PolíticaДокумент24 страницыDependência Da Ajuda Externa, Acumulação e Ownership Contribuição para Um Debate de Economia PolíticaElisa MagengeОценок пока нет