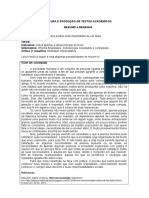Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Aulas Ciencias Suzani Cassiani Revisao
Загружено:
Felipe PilleggiАвторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Aulas Ciencias Suzani Cassiani Revisao
Загружено:
Felipe PilleggiАвторское право:
Доступные форматы
LEITURA E ESCRITA EM
AULAS DE CINCIAS
Luz, calor e fotossntese nas mediaes escolares
Maria Jos P. M. de Almeida
Odissa Boaventura de Oliveira
Suzani Cassiani de Souza
Copyright 2007, by Maria Jos P. M. de Almeida, Odissa Boaventura de Oliveira e
Suzani Cassiani de Souza
Capa e projeto grfico
Studio S Diagramao & Arte Visual
Reviso
A. R. Lima
Editorao e preparao de originais
Estdio Letras Contemporneas
Conselho editorial
Abel Silva
Fbio Brggemann
Maria de Ftima Sabino
Pricles Prade
Srgio Cezrio dos Santos
ISBN: 9785-7662-
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida,
no todo ou em parte, por quaisquer meios,
sem a autorizao expressa dos editores.
Todos os direitos desta edio reservados a
LETRAS CONTEMPORNEAS - OFICINA EDITORIAL LTDA.
Rua Hermann Blumenau, 134/05
Florianpolis, SC - 88.020-020
www.letrascontemporaneas.com.br
SuMRIO
Consideraes iniciais ...........................................................................................5
A estrutura do texto ..............................................................................................8
PRIMEIRA PARTE
Algumas noes de apoio................................................................................... 11
Consideraes sobre leitura e escrita ................................................................. 27
SEGUNDA PARTE - Mediaes escolares
Consideraes sobre escrita e leitura na escola ................................................ 33
Para pensar a escrita e a leitura nas cincias ..................................................... 35
Episdios de ensino ............................................................................................ 44
nfase na escrita: produes dos estudantes .................................................... 47
Mediaes na leitura ........................................................................................... 67
TERCEIRA PARTE - Fotossntese e luz
Algumas atividades .............................................................................................. 77
Fotossntese: a histria da construo de um conhecimento ........................... 99
Bibliografia ........................................................................................................141
Autoras ................................................................................................................143
5
CONSIDERAES INICIAIS
C
om este livro, pretendemos compartilhar com professores de Cin-
cias e disciplinas afins, e tambm com formadores desses profes-
sores nas universidades, algumas experincias vividas como professo-
ras e pesquisadoras na rea de Educao em Cincias. Ao escrev-lo,
buscamos repartir com nossos leitores acontecimentos e reflexes que
consideramos significativos no ensino escolar dessa rea. So muitas as
histrias pessoais e coletivas que possibilitaram a construo dos textos
que aqui formulamos, visando sua circulao, como suporte de ativida-
des escolares semelhantes s aqui narradas, ou como inspirao para
registro e divulgao de outras relaes de ensino em sala de aula.
Para redigir os textos nos apoiamos mais diretamente em alguns
trabalhos j concludos: destacamos especialmente nossa convivncia no
desenvolvimento de um projeto de ensino
1
, na redao do relatrio final
desse projeto, alm da elaborao por duas das autoras, orientadas pela
outra, de uma dissertao de mestrado
2
e de uma tese de doutorado
3
. Na
formulao dos textos aqui apresentados, fazemos releituras atualizadas
por vivncias e ponderaes posteriores a esses trabalhos mencionados.
1 Projeto: Conhecimento nas Cincias Naturais: Aes Culturais, um dos sub-projetos do Projeto
apoiado pela FAPESP (Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo): Parceria Univer-
sidade Escola Pblica. Parte das atividades deste sub-projeto foram organizadas a partir de suges-
tes incorporadas do projeto: Linguagem Comum e Linguagem Formal no Ensino do Contedo
Fsico, apoiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico)
2 OLIVEIRA, Odissa B. de. Possibilidades da escrita no avano do senso comum para o saber
cientfico na 8
a
srie do ensino fundamental. 2001. 157p. (mestrado em Educao) Faculdade
de Educao, Unicamp, Campinas, SP.
3 SOUZA, Suzani C. de. Leitura e fotossntese: Proposta de Ensino Numa Abordagem Cultural.
2000.241p. (doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Unicamp, Campinas, SP.
6
Salientamos que, o foco temtico principal, mas no nico, das
atividades escolares cujo funcionamento aqui analisado a noo de
Energia, pensada enquanto contedo de ensino propcio constitui-
o de saberes escolares pertinentes s Cincias, a partir de aspectos do
saber produzido em diferentes campos cientficos, como na Biologia,
na Fsica, na Qumica e em tecnologias associadas a essas disciplinas.
Citamos elementos da ptica fsica e geomtrica e a fotossntese como
exemplos desses aspectos. E tambm apontamos algumas das relaes
de natureza social implicadas nesses saberes.
Por outro lado, pensamos em atividades que envolvem a organiza-
o de situaes favorveis ao dilogo em sala de aula, ao trabalho pr-
tico, leitura e escrita, sendo que estas ltimas, a leitura e a escrita,
so especialmente discutidas, numa perspectiva cultural na qual ensinar
a ler e escrever no privilgio ou dever apenas do professor de Lngua
Portuguesa, mas tambm de outras disciplinas, e entre elas, as Cincias.
Muitas das atividades relatadas j haviam sido, ou foram posterior-
mente, por ns trabalhadas em outras situaes e nveis de ensino, com
finalidades e conseqncias semelhantes ou consideravelmente diferentes
das aqui expostas. No entanto, neste livro fazemos essencialmente relei-
turas do trabalho com oitavas sries do nvel fundamental em escolas p-
blicas. Mas, insistimos que, como j fizemos com vrias delas, possvel
adapt-las, ou mesmo reproduzi-las em outras sries/nveis e em outros
tipos de escolas. Ao coloc-las em funcionamento no nos prendemos
aos contedos usualmente trabalhados na oitava srie. Pelo contrrio,
queramos evidenciar possibilidades de transformao curricular e no di-
vidir os contedos de maneira rgida de acordo com divises disciplinares
que estabelecem contedos considerados de Biologia, de Fsica, e de Qu-
mica, em sries especficas. Tampouco queramos trabalhar isoladamente
disciplinas que tambm constituem as chamadas Cincias da Natureza,
como as Geocincias. Por outro lado, no era nossa inteno eliminar
as peculiaridades prprias da construo do conhecimento em cada dis-
ciplina. Procuramos selecionar contedos que usualmente so trabalha-
dos em diferentes aspectos conforme a disciplina que os est abordando.
Entre outros exemplos, esse o caso da Energia. Tambm procuramos
no negligenciar as caractersticas disciplinares em nome de uma suposta
7
interdisciplinaridade. Como foco principal, procuramos evidenciar o fun-
cionamento da linguagem no ensino escolar de determinados contedos,
tendo em conta uma perspectiva discursiva na qual a no transparncia
da linguagem e as condies de produo dos sentidos pelos estudantes,
foram os pontos de partida para o trabalho e para sua anlise.
Sabemos que qualquer acontecimento est associado s suas con-
dies de produo, condies que so as imediatas, como aquelas
que colocamos em prtica quando organizamos uma aula, e condies
scio-histricas, tais como as histrias de vida dos estudantes e do pr-
prio professor. Sabemos tambm que, em condies de produo dife-
rentes provavelmente seriam obtidos resultados diferentes. Por isso, em
nossas narrativas procuramos ressaltar as condies que julgamos mais
relevantes, sem, pretendermos ser exaustivas quanto a essas condies.
Por outro lado, sabemos que, no ensino escolar, alm de condies de
produo imediatas, e de condies scio-histricas dos estudantes,
esto presentes pressupostos e saberes tericos que subentendem a
seleo e organizao das atividades.
J no que concerne natureza dessas atividades, privilegiamos a
anlise do funcionamento da leitura e da escrita, o que no significou
trabalhar isoladamente com essas atividades.
8
A ESTRuTuRA DO TEXTO
N
o seu conjunto, o livro fruto de olhares crticos para experin-
cias de ensino escolar que vivenciamos. Ou seja, nele, relatamos
acontecimentos envolvendo pelo menos uma de ns como professora,
algumas vezes como professora da classe, e, em outras, apenas atuan-
do como pesquisadora-professora com o aval da professora da classe,
tambm presente, alm dos estudantes. Em sntese, apresentamos ativi-
dades que funcionaram na prtica, em condies determinadas e cujo
funcionamento j foi objeto de anlise.
Dividimos o livro em trs partes: na primeira falamos de pressu-
postos e saberes tericos que permeiam o conjunto das atividades e sua
anlise, que relatamos na segunda parte, e na terceira apresentamos al-
guns subsdios das atividades anteriormente analisadas. Por outro lado,
embora haja uma seqncia que consideramos ser a adequada para lei-
tura do livro, procuramos fazer tambm com que a leitura de cada ativi-
dade no ficasse atrelada s demais atividades, ou mesmo leitura dos
pressupostos e saberes tericos apresentados da primeira parte do livro.
Tambm optamos por apontar as referncias bibliogrficas e even-
tuais comentrios em notas de rodap, com o intuito de no provocarmos
interrupes na leitura do texto, deixando para o leitor a deciso de con-
sultar ou no essas notas, de acordo com o que considerar conveniente.
PRIMEIRA PARTE
11
ALGuMAS NOES DE APOIO
Uma criana de hoje tem muito mais interesse e acesso a infor-
maes do que h quarenta anos. Agora voc aprende em dife-
rentes fontes: pela televiso, nas ruas ou pelo computador. um
estmulo enorme para a humanidade, e isso s pode reverter em
atividade imaginativa. (Carlos Rubia, prmio Nobel de Fsica).
S
e for verdade o que diz Carlos Rubia nesta epgrafe, como pensar a
contribuio das Cincias no ensino escolar? Que aes de natureza
cultural, relativas a contedos da Cincia, podemos provocar em aula
e como refletir sobre o seu funcionamento? Foi a busca de respostas a
questes como essas que nos movemos na realizao das atividades que
descrevemos neste livro.
No entanto, a nossa histria como educadoras no se iniciou ao re-
alizarmos essas atividades. Muitos foram os apoios tericos e noes cons-
trudas, a partir desses apoios, nos quais nos sustentamos para procurar
compreender questes relacionadas escola e ao ensino que ali se proces-
sam. E entre esses apoios, que contriburam para o prprio planejamento
das atividades, destacamos alguns aos quais vamos nos referir a seguir de
maneira sucinta. Posteriormente, nos deteremos com maior detalhe naque-
les que constituram propriamente o nosso dispositivo analtico.
Consideramos inicialmente a contribuio de alguns autores da rea
de currculo, por nos propiciarem a reflexo sobre questes que, embora
relacionadas aos contedos de ensino, vo alm desses contedos na
medida em que provocam a necessidade de avaliarmos a sua relevncia.
Esse autor alerta, inclusive, para a possibilidade de selecionarmos conte-
dos diferenciados dos usuais. Assim, noes como currculo oculto e
12
tradio seletiva dos contedos, como so trabalhadas por Michael Ap-
ple
4
evidenciam a necessidade de planejarmos o ensino no nos restrin-
gindo ao que de imediato nos parece o bvio a ser feito. Ele adverte para
o fato de que os contedos escolares usuais foram selecionados entre
muitos outros possveis e outros foram simplesmente silenciados. Conse-
qentemente, os contedos do ensino podem ser modificados com base
em critrios plausveis de natureza poltica, filosfica ou pedaggica.
Por outro lado, o trabalho de Michael Apple ao confrontar situ-
aes de consenso e de conflito, tambm contribuiu para que penss-
semos nessa oposio como um par dialtico consenso/conflito. Par
dialtico no sentido de que um s existe por oposio ao outro, o que
nos faz refletir sobre a relevncia de, mediarmos o conflito em situaes
de ensino e, inclusive, procurarmos instaurar em sala de aula situaes
favorveis ao debate de idias.
Um outro par dialtico que contribuiu significativamente para a or-
ganizao das atividades que aqui descrevemos foi pensado a partir do
trabalho epistemolgico de Thomas Khun
5
. Esse autor mostra, referindo-
se ao ensino superior, como no ensino da Cincia os resultados cientfi-
cos tm tido lugar preponderante, uma vez que se pretende ensinar os
paradigmas aceitos pela comunidade cientfica. Para tal, aos estudantes
solicitado que faam grande quantidade de exerccios semelhantes.
Dessa nfase, evidentemente, decorre a no prioridade em se ensinar os
procedimentos de construo da Cincia, ou seja, seus processos, suas
histrias, seus equvocos, seus conflitos, muitas vezes produzindo uma
viso de cincia neutra. No entanto, aparentemente dessa maneira
que, os futuros cientistas apreendem os paradigmas a partir dos quais
tentaro avanar na construo da Cincia. Mas, e no ensino bsico? O
objetivo do ensino de cincias apenas formar cientistas?
Dado que no difcil notarmos a grande quantidade de exerccios
que so solicitados tambm a estudantes do ensino bsico, em disciplinas
4 APPLE, Michael W. Ideologia e currculo. Trad. por Carlos Eduardo F. de Carvalho, So Paulo:
Brasiliense, 1982. 246p.
__________. Educao e poder. Trad. por Maria Cristina Monteiro. Porto Alegre: Artes Mdicas,
1989. 201p.
5 KUHN, Thomas S. A funo do dogma na investigao cientfica. In: DEUS, Jorge Dias de (Org.)
A crtica da cincia. Rio de Janeiro: Zhaar editores, 1974, p.51-80.
13
como a Fsica, torna-se necessrio constatar que, tambm no ensino fun-
damental e mdio se tem valorizado os processos de construo cientfica
muito menos do que os resultados da Cincia. Dessa forma, julgamos per-
tinente a reflexo sobre o par dialtico processo/produto daquilo que
vamos ensinar da Cincia. Ou seja, qual a proporo em que devemos
trabalhar os resultados obtidos pela Cincia e seus modos de produo?
Queremos ainda lembrar a contribuio de um outro filsofo da
cincia, Gaston Bachelard
6
, para pensarmos a organizao de atividades
para o ensino de cincias. Em especial, as noes de continuidade e
ruptura, como so abordadas por esse autor; ou, como preferimos ex-
plicitar, o par dialtico continuidade/ruptura, que foi bastante relevante
no planejamento das atividades, por ter sido a partir dele que melhor
pudemos compreender que, na construo da Cincia, o conhecimento
elaborado, de maior abstrao, supe o conhecimento inicial, mais emp-
rico, o qual ser superado nos processos de produo dos conhecimen-
tos cientficos. A superao, no entanto, no um simples processo de
negao ou apagamento, mas sim uma efetiva transformao, cuja ori-
gem se situa na reflexo continuada sobre o anteriormente conhecido.
J no que concerne focalizao nos processos pelos quais passa
cada estudante em situaes de ensino, julgamos de grande interesse
pensar o processo de internalizao, ou reconstruo interna a par-
tir da mediao social, externa. A estas noes, discutidas por Lev
Vygotsky
7
, juntamos a noo de zona de desenvolvimento proximal,
com a qual esse autor evidencia que no ensino preciso considerar
as capacidades potenciais, no explicitadas pelo estudante, ajudando-o
em tarefas que, posteriormente, poder realizar sozinho. E, alm dessas
noes, a obra desse autor foi bastante significativa para a compreenso
das possibilidades de contribuirmos para a construo de conceitos pe-
los estudantes, atravs da mediao externa. E, aparentemente, na pro-
duo de significados essa mediao torna-se mais e mais relevante se
6 BACHELARD, Gaston. A formao do esprito cientfico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 314p.
__________. A filosofia do no: filosofia do novo esprito cientfico. Traduo por Joaquim Jos
Moura Ramos. Lisboa: Editorial Presena, 1987.136p
7 VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e linguagem. Trad. por Jferson L. Camargo. So Paulo: Martins
Fontes, 1987. 135p.
14
admitirmos que, no processo de ensino, qualquer que ele seja, os resul-
tados nunca sero imediatos. Trata-se sempre de um processo gradual.
Todas essas noes contriburam de alguma maneira tanto para
a elaborao de atividades de ensino quanto para a anlise do seu fun-
cionamento. No entanto, admitimos que a principal sustentao terica
dos textos aqui apresentados foi a anlise do discurso, a partir de obras
publicadas no Brasil principalmente por Eni Orlandi.
Dessa vertente, lembramos primeiro o fato de que a lingua-
gem no pode ser pensada como se fosse transparente. Ou seja, a
produo de sentidos entre interlocutores no idntica. E, entre as
noes de apoio, destacamos as condies de produo, fazendo-
nos pensar na importncia da constante considerao tanto das con-
dies imediatas quanto das scio-histricas na anlise dos processos
de produo de sentidos.
Comentrios sobre as noes at aqui apresentadas podem ser
encontrados em um texto que analisa a compreenso do fazer pedag-
gico
8
a partir dessas noes e no qual os autores admitem sua possvel
utilidade na anlise de outras situaes de mediao escolar, desde que
se compreenda a importncia dos processos que as expectativas mtuas
entre professor e alunos podem desencadear.
Discurso Cientfico e Discurso Escolar:
Algumas Interfaces Possveis
Apontamos algumas interfaces possveis entre o discurso prprio
da cincia e aquele que nela est focalizado em situaes de ensino,
a partir da caracterizao das noes de discurso cientfico e discurso
escolar, no mbito de concepes de linguagem que valorizam as suas
condies de produo e descartam a possibilidade de transparncia
na interpretao de qualquer texto, seja ele, oral, escrito ou imagtico.
Nosso propsito com essas caracterizaes e com a determinao de
possveis interfaces entre os dois discursos o de contribuir para que
aqueles que pretendem ensinar aspectos do conhecimento cientfico na
escola tenham em conta a vida cotidiana de quem vo ensinar.
8 ALMEIDA, Maria Jos P.M.; SILVA, Henrique C. Noes auxiliares na compreenso do fazer
pedaggico. Educao & Sociedade, Campinas, AnoXV, 97-105, 1994.
15
Fomos buscar em Agnes Heller
9
elementos para situar a noo de
vida cotidiana. A autora afirma que A Vida Cotidiana a vida de todo
o homem. (p.17) Ele j nasce inserido na sua cotidianidade, e ningum
consegue desligar-se inteiramente dela, bem como no h ningum que
viva apenas na cotidianidade. Tambm fato que, a manipulao das
coisas, mesmo a mais elementar, est associada assimilao de re-
laes sociais, enquanto que, segundo Heller, as formas de elevao
acima da vida cotidiana que produzem objetivaes duradouras so:
a arte e a cincia. J a caracterstica dominante da vida cotidiana a
espontaneidade. A autora tambm comenta que na vida cotidiana no
possvel calcular com segurana cientfica a conseqncia possvel de
uma ao. E ainda com respeito cotidianidade, sustentando-nos na
mesma autora, apontamos a alienao como aquilo que ocorre quando
as caractersticas da cotidianidade no deixam ao indivduo a possibili-
dade de explicao, de movimento, ou seja, quando ocorre um abismo
entre o desenvolvimento humano geral e o desenvolvimento dos indiv-
duos humanos que, ento, se tornam alienados.
Consideramos que a escola , certamente, uma instituio com
potencial para trabalhar a superao da alienao, o que, no entanto,
no ocorre pelo simples fato dos indivduos a ela comparecerem, sendo
de fundamental interesse a anlise das possibilidades de efetivao des-
se potencial. E a aprendizagem de conhecimentos de natureza cientfica
e tecnolgica, , sem dvida, um elemento de superao da alienao
em relao s influncias mtuas entre cincia e sociedade e aos limites
e possibilidades da cincia no que ela pode contribuir para a construo
da cidadania. A partir dessa considerao, procuraremos evidenciar a
relevncia da seleo adequada de interfaces entre o discurso prprio
da cincia e aquele que nela est focalizado em situaes de ensino.
A Noo de Discurso e Alguns Aportes da Anlise de Discurso
Sobre a noo de discurso, para situ-la recorremos inicialmente
a Michel Foucault
10
. O autor, referindo-se ao discurso em sua realidade
9 HELLER, Agnes. O cotidiano e a histria. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.121p.
10 FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. Traduo por Laura F. de A. Sampaio 4.ed. So
Paulo: Edies Loyola, 1998.
16
material de coisa pronunciada ou escrita, manifesta inquietao com
a sua existncia transitria, que ele considera destinada a se apagar, e
com uma durao que no nos pertence. Para Foucault, os discursos
certamente so feitos de signos; mas o que eles fazem mais do que
utilizar esses signos para designar coisas. a esse mais que ele atribui
o fato de serem irredutveis lngua e ao ato da fala. esse mais que
preciso fazer aparecer e que preciso descrever.
Quanto ao autor do discurso, segundo Foucault, ele no entendi-
do (...) como o indivduo falante que pronunciou ou escreveu um texto,
mas o autor como princpio de agrupamento do discurso, como unidade
e origem de suas significaes, como foco de sua coerncia.(p.26)
Para refletirmos sobre os discursos cientfico e escolar, nos apoia-
mos mais diretamente na anlise de discurso iniciada na Frana com
trabalhos de Michel Pcheux, linha de pensamento que no Brasil tem
inmeros trabalhos traduzidos e elaborados. Nos apoiamos principal-
mente nos trabalhos de Eni Orlandi.
Nessa vertente, a linguagem, alm de suporte do pensamento e
instrumento de comunicao de informaes, pensada como produto
do trabalho na sociedade, ou seja, efeito de um processo histrico. E, as-
sim considerada, dela no se pode esperar a transparncia. Ou seja, no
se pode assumir que haja uma relao direta entre palavras e coisas.
J o discurso, efeito de sentidos entre locutores, pensado simul-
taneamente como estrutura e como acontecimento; um processo social
cuja especificidade est em que a sua materialidade lingstica. Nele,
pode-se apreender a relao entre linguagem e ideologia com a noo
de sujeito como mediadora.
Quanto ideologia, cabe dizer que esta o que torna possvel
a relao entre palavras e coisas, ou seja, ela viabiliza a relao entre
pensamento, linguagem e mundo. E assim pensada, a ideologia no
iluso, nem falsidade, nem ocultamento, nem dissimulao do real, e
tampouco viso de mundo. Segundo Orlandi
11
, um dos pontos fortes da
anlise de discurso ter re-significado a noo de ideologia, numa defi-
nio discursiva a partir da considerao da linguagem. Para a autora:
11 ORLANDI, Eni P. Anlise de discurso: princpios & procedimentos. Campinas: Pontes, 1999. 100p.
17
O fato mesmo da interpretao, ou melhor, o fato de que no h
sentido sem interpretao, atesta a presena da ideologia. No h
sentido sem interpretao e, alm disso, diante de qualquer objeto
simblico o homem levado a interpretar, colocando-se diante da
questo: o que isto quer dizer? Nesse movimento da interpretao
o sentido aparece-nos como evidncia, como se ele estivesse j
sempre l. Interpreta-se e ao mesmo tempo nega-se a interpreta-
o, colocando-a no grau zero. Naturaliza-se o que produzido
na relao do histrico e do simblico. Por esse mecanismo ideo-
lgico de apagamento da interpretao, h transposio de for-
mas materiais em outras, construindo-se transparncias como se
a linguagem e a histria no tivessem sua espessura, sua opaci-
dade para serem interpretadas por determinaes histricas que
se apresentam como imutveis, naturalizadas. Este o trabalho da
ideologia: produzir evidncias, colocando o homem na relao
imaginria com suas condies materiais de existncia. (p.45-46)
A relao apontada por Orlandi entre ideologia e interpretao vai dar
margem explicitao pela autora das noes de autoria, repetio, apren-
dizagem e mediao. E tendo em vista subsidiar essas noes, remetemos
para a caracterizao do que considerada uma formao discursiva.
Quando se pensa as condies de produo de um discurso, es-
tas incluem mecanismos materiais, institucionais e imaginrios. E, nas
relaes discursivas, os mecanismos imaginrios implicam em diferentes
posies associadas a imagens relativas tanto aos sujeitos quanto aos
objetos do discurso. J as posies dadas em determinadas conjunturas
scio-histricas esto associadas s chamadas formaes ideolgicas. Do
que decorre que, segundo Orlandi (1999), uma formao discursiva
definida como aquilo que, em dada formao ideolgica, determina o
que pode e deve ser dito. A autora admite que o discurso se constitui
em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma for-
mao discursiva e no outra para ter um sentido e no outro. (p.43)
Com essa noo de formao discursiva, compreende-se que, Or-
landi
12
afirme que (...) uma mesma palavra, na mesma lngua, signifique
diferentemente, dependendo da posio do sujeito em uma ou outra
formao discursiva.(p.12) E tambm que ela afirme a associao entre
12 ORLANDI, Eni P. Parfrase e polissemia. A fluidez nos limites do simblico. Rua, Campinas, n.4,
p.9-19, 1998.
18
autoria e repetio. Pois, como a interpretao intrnseca linguagem,
o autor, instncia de formulao do discurso, interpreta necessariamente
ao formul-lo. E essa interpretao est associada memria discursiva,
ou seja, a outros discursos, os quais, por sua vez, podem estar associa-
dos a diferentes formaes discursivas. Nessa linha de pensamento, a
autora se refere repetio com possibilidades diferentes: a empri-
ca, ou simples exerccio mnemnico; a formal associada a tcnicas
de formao de frases; e a histrica, na qual so produzidos outros
dizeres, ou seja, deslizamentos em relao ao j dito.
Como conseqncia, referindo-se escola, ela aponta uma possibi-
lidade para a mediao escolar, supondo o que seria o ideal de apren-
dizagem; (...) levar o aluno da repetio emprica histrica, com passa-
gem obrigatria pela formal j que para que haja sentido preciso que a
lngua se inscreva na histria. (p.14) Dessa forma, cabe escola interferir
na relao do estudante com o repetvel, criando condies para que ele
trabalhe sua relao com suas filiaes de sentido, com sua memria.
Em sntese, para Orlandi a aprendizagem ocorre associada for-
mulao do discurso, segundo o princpio de autoria, no qual o autor
se liga histria de formulaes possveis, sem poder evitar a repetio
enquanto simples exerccio mnemnico, associada s tcnicas de pro-
duo de frases e tambm com o real trabalho da memria, quando
produz deslizamentos em relao ao j dito.
Partindo dessas noes, o foco das preocupaes de um analista
de discurso no se localiza na questo O que isto quer dizer? Centrado
nas condies de produo do discurso, ele far interrogaes como: De
onde fala o autor?, Em que condies tal discurso foi produzido?.
Tomando como base esse conjunto de noes sobre a anlise de
discurso, nos itens seguintes procuramos compreender os discursos cien-
tfico e escolar e buscamos possveis interfaces entre esses discursos.
O Discurso Cientfico
A seguinte fala de Pcheux
13
: (...) no h discurso da cincia
(nem mesmo, a rigor, discurso de uma cincia) porque todo discurso
13 PCHEUX, Michel. Semntica e discurso: uma crtica afirmao do bvio. Traduo por Eni
P. Orlandi et al. Campinas: Editora da Unicamp, 1988.
19
discurso de um sujeito (...) (p.198) parece colocar em suspenso a
temtica deste item. Mas apenas se no se levar em conta que o autor
no est se referindo a um indivduo concreto. Para ele, todo o discurso
funciona com relao ao que chama de forma-sujeito, ao passo que o
processo de conhecimento um processo sem sujeito.(p.198)
E Pcheux vai resumir suas idias a respeito desse assunto com
trs pontos:
- o processo de produo dos conhecimentos um processo sem sujei-
to, isto , um processo do qual todo sujeito, como tal est ausente;
- o processo de produo dos conhecimentos se opera atravs das to-
madas de posio (demarcaes etc.) pela objetividade cientfica;
- o processo de produo dos conhecimentos um corte continua-
do; ele , como tal, co-extensivo s ideologias tericas, das quais
ele no cessa de se separar, de modo que absolutamente im-
possvel encontrar um puro discurso cientfico sem ligao com
alguma ideologia. (p.198)
Esses pontos, cuja co-existncia pode parecer paradoxal, tomados
como base de uma posio em relao ao discurso cientfico, so com-
patveis com a argumentao de Orlandi
14
quando afirma que os fatos
so sujeitos interpretao e que a lngua, na medida em que constitu-
da pela falha, pelo deslize, pela ambigidade, faz lugar para a interpre-
tao. A autora tambm considera que, embora nunca se deixe de tentar
faz-lo, no h como regulamentar o uso dos sentidos, e prope que
se aceite essa impossibilidade ao mesmo tempo em que se reconhece
a necessidade do controle. Tambm admite nesse mesmo trabalho que
isso no descaracteriza a especificidade do discurso cientfico.
Especificidade essa que Possenti
15
atribui s regras de produo
dos enunciados desse discurso. O autor procura argumentar contra a
idia de que o discurso cientfico se caracteriza por ser um discurso
verdadeiro. E pensando na cincia como disciplina, sustenta-se princi-
palmente em Foucault para dizer que os critrios de julgamento do dis-
curso cientfico so diferentes dos critrios de julgamento de discursos
no cientficos. E diz tambm que, no trabalho cientfico ocorre a pro-
14 ORLANDI, Eni P. Leitura e discurso cientfico. Cadernos Cedes: Ensino da cincia leitura e lite-
ratura, Campinas, n.41, p.25-34, 1997.
15 POSSENTI, Srio. Notas sobre linguagem cientfica e linguagem comum. Cadernos Cedes: Ensino
da cincia leitura e literatura, Campinas, n.41, p.9-24, 1997.
20
gressiva eliminao do vivido pela estruturao da linguagem. Ou, em
outros termos, o sistema de produo de enunciados cientficos procura
eliminar a subjetividade. Ou ainda, a eliminao do individual na lingua-
gem da cincia implica a estruturao e no a objetividade absoluta.
J Foucault
16
, numa discusso sobre procedimentos de controle e
de delimitao do discurso, quando se refere ao autor de um discurso
como princpio de agrupamento desse discurso, faz notar que existem
muitos discursos que circulam sem autor. E com relao ao discurso
cientfico, ele lembra que ... a atribuio a um autor, era na Idade Mdia,
indispensvel, pois era um indicador de verdade.(p.27) Ou seja, nesse
perodo, uma proposio recebia seu valor cientfico do autor. Mas, ain-
da segundo Foucault: ...desde o sculo XVII, esta funo no cessou
de se enfraquecer, no discurso cientfico o autor s funciona para dar
um nome a um teorema, um efeito, um exemplo, uma sndrome.(p.27)
E ele tambm faz notar que essa no tem sido a tendncia de todos os
discursos. Citando o discurso literrio, observa que com esse discurso
ocorreu exatamente o oposto, ou seja:
... a partir da mesma poca, a funo do autor no cessou de se
reforar: todas as narrativas, todos os poemas, todos os dramas ou
comdias que se deixava circular na Idade Mdia no anonimato
ao menos relativo, eis que, agora, se lhes pergunta (e exigem que
respondam) de onde vm, quem os escreveu; ... (p.27)
As referncias sobre o discurso cientfico, que acabamos de citar,
alm de evidenciarem o carter histrico dos discursos, ou seja, suas
variaes com a sociedade em que so produzidos, tambm mostram
que os produtores do discurso cientfico tm procurado, ao constitu-lo,
eliminar a subjetividade, os sinais de quem o formula.
No item seguinte, voltamo-nos para o discurso escolar, para em
seguida refletir sobre a interface entre os discursos cientfico e escolar.
Discurso Escolar
Iniciamos este item a partir da obra j citada, Foucault. Com rela-
o educao, o autor comenta:
16 Op. Cit.
21
Sabe-se que a educao, embora seja, de direito, o instrumento
graas ao qual todo indivduo, em uma sociedade como a nossa,
pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em sua distri-
buio, no que permite e no que impede, as linhas que esto mar-
cadas pela distncia, pelas oposies e lutas sociais. Todo sistema
de educao uma maneira poltica de manter ou de modificar a
apropriao dos discursos, com os saberes e os poderes que eles
trazem consigo. (p.43-44)
Diante dessa possibilidade, de que todo o sistema de educao
uma maneira poltica de manter ou de modificar a apropriao dos dis-
cursos, no nos parece haver dvida quanto ao caminho a ser tomado
por um educador: a busca dos procedimentos que podem contribuir
com a possibilidade de transformao, ou seja, contribuir para que cada
um seja capaz, a partir de sua memria de outros discursos, de modificar
aquilo que interpretou quando ouviu/leu o que lhe ensinam. Ou ainda,
que o ensino propicie o que Eni Orlandi chama de mediar a passagem
da repetio emprica para a histrica.
E nessa perspectiva que nos apropriamos das noes de dis-
curso autoritrio e discurso polmico em Orlandi
17
, o primeiro sendo
aquele que no permite a reversibilidade e o segundo como o discurso
no qual, embora controlada, a polissemia d lugar s diferentes argu-
mentaes dos interlocutores. Sem que, para tal, haja intercambialidade,
ou seja, sem que um assuma a posio do outro.
Ao falar de leituras escolares, a autora lembra que est se referin-
do a posies simblicas, as posies significativas no discurso e no a
posies empricas, e afirma:
O que deve ser evitado justamente o que eu chamo de preten-
sa intercambialidade entre aluno e professor, ou seja, o aluno no
deve falar da posio-professor e o professor no pode pretender
faz-lo da posio-aluno. Limite imposto pelo jogo da alteridade:
no se pode falar do lugar do outro. (p.17)
A posio simblica, a que Orlandi se refere, , sem dvida, um dos
mltiplos aspectos intervenientes nos discursos em circulao na escola.
17 Op. Cit. 1998.
22
Uma outra autora, Alice Lopes
18
, ao pensar no conhecimento esco-
lar, lembra que este passa por uma seleo cultural de carter ideolgico
e arbitrrio, a partir de uma cultura social mais ampla, passando por pro-
cessos de mediao e disciplinarizao. Cultura que ela assume como:
... todo e qualquer processo de produo de smbolos, de representa-
es, de significados e, ao mesmo tempo, como prtica constituinte e
constituda do/pelo tecido social ... (p.68), e sendo ... essencialmente
cultivo humano, que distingue o ser humano da natureza ... (p.68)
E Lopes, ainda com respeito ao conhecimento escolar, ao mesmo
tempo em que evidencia a especificidade desse conhecimento, tambm
faz notar que ele produzido no embate com outros conhecimentos e
que a mediao, que ela chama de mediao didtica, ocorre num ...
processo de constituio de uma realidade a partir de mediaes con-
traditrias, de relaes complexas, no imediatas.
J em Apple
19
, o autor se refere esfera cultural dizendo que esta
... mediada pelas atividades, contradies e relaes especficas en-
tre homens e mulheres concretos, como ns mesmos medida que
se ocupam com sua vida diria nas instituies que organizam essa
vida.(p.13) s escolas, pensadas entre essas instituies, ele associa o
controle da seguinte maneira:
O controle das escolas, do conhecimento e da vida diria pode
ser, e mais sutil, pois compreende at mesmo circunstncias
aparentemente inconseqentes. O controle investido nos princ-
pios constitutivos, cdigos e, especialmente, na conscincia e nas
prticas do senso comum subjacentes a nossa vida, assim como
pela diviso e manipulao econmica direta. (p.13-14)
E no desenvolvimento de suas idias, o autor gera uma reflexo
sobre o conhecimento que efetivamente trabalhado na escola, sobre
quem selecionou esse conhecimento, sobre a possibilidade de ser outro
e no esse o conhecimento selecionado, sobre o que justifica sua orga-
nizao de uma e no de outra maneira, sobre o grupo social a que o
conhecimento dirigido, sobre o que e o que no tornado acessvel
18 LOPES, Alice Casemiro. L. Conhecimento escolar: cincia e cotidiano. Rio de Janeiro: Editora da
UERJ, 1999. 236p.
19 Op.Cit., 1982.
23
aos estudantes. Apple lembra tambm que, valores sociais e econmicos
j esto embutidos no projeto das instituies em que trabalhamos, no
... corpus formal do conhecimento escolar que preservamos em nos-
sos currculos, nas nossas maneiras de ensinar, e em nossos princpios,
padres e formas de avaliao. (p.19) E em decorrncia, para esse
autor: ... uma vez que esses valores agora agem atravs de ns qua-
se sempre inconscientemente, a questo no est em como se manter
acima da escolha. Est, antes, em quais so os valores que se devem,
fundamentalmente escolher. (p.19) E para concluir nosso recorte de al-
gumas idias de Michael Apple, introduzimos aqui a afirmao que esse
autor atribui a Raymond Williams: A educao no um produto como
po ou papel, mas sim deve ser vista como uma seleo e organizao
de todo conhecimento social disponvel em uma determinada poca.
(p.30) Seleo e organizao essas que acarretam opes sociais e ide-
olgicas conscientes e inconscientes.
Em sntese, para fechar este item, gostaramos de assinalar que, o
conjunto de comentrios aqui registrados sobre o discurso escolar teve a
finalidade de caracterizar a abrangncia, especificidade e carter poltico
dos discursos formulados a partir dela e, ou, em circulao na escola.
No item seguinte, para pensarmos o discurso escolar relativo
cincia, procuraremos ter em conta estas caractersticas dos discursos
escolares e tambm a sntese anterior sobre o discurso cientfico.
Discurso Escolar Relativo Cincia
Com os subsdios dos itens anteriores, relativos ao discurso cien-
tfico e ao discurso escolar, voltamos-nos agora para um discurso espe-
cfico, aquele que, em situaes escolarizadas, relativo cincia. Para
tal, assumimos a noo de cultura citada no item anterior, numa pers-
pectiva de mediao cultural, noo que aqui particularizamos para as
prticas de sala de aula.
No entanto, o ttulo deste item exige que se faa uma retificao: a
de que, na verdade, no se pode falar genericamente da cincia; sendo
que cada cincia particular possui as suas caractersticas prprias e os seus
modos de produo. O que no impede que diferentes cincias sejam se-
melhantes em alguns aspectos, e que sejam pensados objetivos a serem al-
canados como conseqncia do ensino escolar relativo a esses aspectos.
24
Assim, neste texto, admitimos que o ensino, das diferentes cin-
cias, pode ser pensado com objetivos bastante variados, tais como, con-
tribuir para que os estudantes: internalizem conceitos e leis previamen-
te selecionados; adquiram modos de raciocinar, habilidades e atitudes
pertinentes aos procedimentos de produo da cincia cujos contedos
esto sendo ensinados; reconheam as condies sociais em que deter-
minadas leis e conceitos foram produzidos; compreendam modos de
produo da cincia em questo; sejam crticos em relao a aplicaes
e implicaes sociais dos produtos que as diferentes cincias propiciam;
se sintam cada vez mais includos no seu tempo e melhorem a prpria
auto-estima pela insero no mundo que o conhecimento propicia. E
esses objetivos no so mutuamente excludentes, sendo que, cada um
deles pode estar mais ou menos associado ao ensino desta ou daquela
cincia, ou tpico dentro dela.
Por outro lado, se fato que a mediao cultural relativa s dife-
rentes cincias no se restringe s prticas escolares, a escola indubita-
velmente a instituio que melhor se presta organizao de mediaes
culturais sistemticas, caso se queira pensar na maioria da populao. Da
a pertinncia de se buscar interfaces possveis entre os discursos cientfico
e escolar, o que aqui chamamos de discurso escolar relativo cincia.
Com o propsito de encontrar interfaces, buscamos a contribui-
o de Gaston Bachelard
20
. Referindo-se aos conhecimentos cientfico
e comum, o autor diz que o mesmo fato no tem o mesmo valor epis-
temolgico nos dois conhecimentos, pois, para ele, a ruptura entre o
conhecimento comum e o cientfico to ntida que eles no poderiam
ter a mesma filosofia. Segundo Bachelard:
(...) O empirismo a filosofia que convm ao conhecimento co-
mum. O empirismo encontra a as suas razes, as suas provas, o seu
desenvolvimento. Pelo contrrio, o conhecimento cientfico so-
lidrio do racionalismo e, quer se queira quer no, o racionalismo
est ligado cincia, o racionalismo conhece uma atividade dial-
tica que impe uma extenso constante dos mtodos. (p.260)
20 BACHELARD, Gaston. O materialismo racional. Trad. por Joo Gama. Lisboa: Edies 70,
1990. 261p.
25
J, referindo-se ao ensino, Bachelard
21
diz que ... o ato de en-
sinar no se destaca to facilmente quanto se cr, da conscincia de
saber ... (p.19), e, na mesma obra, com relao ao formalismo, to co-
mumente usado no ensino das chamadas cincias da natureza, s quais
ele dedica essencialmente sua obra, o autor aponta que: O hbito da
razo pode converter-se em obstculo da razo. O formalismo pode,
por exemplo, degenerar num automatismo do racional, e a razo tornar-
se como que ausente de sua organizao (p.21)
J, entre os vrios autores que buscaram a epistemologia de Gas-
ton Bachelard para pensar o ensino escolar, George Snyders
22
(1978)
um dos que, aparentemente, mais se deteve no par dialtico continui-
dade-ruptura, par este coerente com a epistemologia bachelardiana. E
o fez para explicitar um processo em que uma ruptura na continuidade
com o saber cotidiano possibilita o salto do emprico para o abstrato.
Referindo-se a Bachelard, o autor afirma que:
(...) desde que se considere um daqueles exemplos simples que o
autor gosta de evocar, percebe-se que essas rupturas encontram,
finalmente, uma continuidade mais profunda com a experincia
do aluno. (...) Por isso mesmo, para descrever a funo do profes-
sor e depois de ter consagrado tantas pginas necessidade das
rupturas, Bachelard depara, vrias vezes, com termos como discu-
tir...retificar... por em ordem, que so precisamente as expresses
de uma continuidade reencontrada. (p.355-356)
A articulao das noes explicitadas nos itens anteriores, tendo
em vista diferenciar os discursos cientfico e escolar e o apoio nas idias
de Gaston Bachelard possibilita encontrar interfaces entre esses dois
discursos, como afirma Almeida
23
ao dizer que:
(...) se, por um lado, h uma ruptura entre os conhecimentos coti-
diano e cientfico, para que esta ocorra no se pode dispensar um
processo de continuidade. Caso contrrio, se apagado o raciona-
lismo docente em nome do racionalismo cientfico, quebra-se a
21 BACHELARD, Gaston. O racionalismo aplicado. Trad. por Nathanael C. Caixeiro. Rio de janeiro:
Zahar Editores, 1977. 244p.
22 SNYDERS, Georges. Para onde vo as pedagogias no diretivas? Trad por Ruth Delgado. 2
a
ed.
Lisboa: Moraes Editores, 1978. 374p.
23 ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Discursos da cincia e da escola: ideologia e leituras possveis.
Campinas: Mercado de Letras, 2004. 127p.
26
possibilidade de mediao apoiada na intersubjetividade, ou seja,
embora a ruptura com o cotidiano seja uma necessidade na apro-
priao do conhecimento cientfico, esta no pode ocorrer precipi-
tadamente, num processo no qual, efetivamente, os mecanismos da
racionalidade no sejam ativados, ou sejam apenas colocados pelos
estudantes em funcionamento de maneira insignificante. (p.61)
Acrescentamos aqui que, colocadas em funcionamento as racio-
nalidades dos estudantes e do professor, na mediao que este procura
fazer do conhecimento cientfico, os discursos assim constitudos j no
remetem exclusivamente ao conhecimento cientfico, pois neste conhe-
cimento, ao menos no que concerne s cincias da natureza, como co-
mentamos anteriormente, a tendncia de se evitar a subjetividade.
Assim, as subjetividades manifestadas pelos interlocutores em
aula, com a mediao de conhecimento pelo professor, faz com que,
necessariamente, ocorra uma diferenciao entre o conhecimento cien-
tfico e o que estamos chamando de conhecimento escolar relativo
cincia. Este ltimo mantendo interfaces com o primeiro, inclusive na
busca de rompimento com aspectos do saber cotidiano num processo
de continuidade que visa chegar ruptura atravs da mediao docente,
possibilitando aos estudantes alcanarem objetivos como os que enun-
ciamos no item anterior.
27
CONSIDERAES SOBRE LEITuRA E ESCRITA
Para ns extremamente difcil pensar objetivamente em letra-
mento ou em seu oposto, a comunicao oral apenas por palavra
falada, a oralidade. Na sociedade ocidental moderna, o analfa-
betismo de fato uma severa deficincia. O mundo moderno
inconcebvel sem a palavra escrita, o analfabeto excludo. Anal-
fabetismo, numa cultura to dependente da sabedoria acumulada
em livros, equivale a atraso e barbrie. Para a maioria das pessoas
que lem com toda a facilidade, a aplicao e os usos da escrita
parecem bvios e inevitveis, de modo que difcil imaginar um
mundo onde no sejam centrais. (Rosalind Thomas)
C
om o olhar de quem se prope a compreender a oralidade e o le-
tramento na Grcia antiga a autora
24
dessa epgrafe nos alerta para
o fato de que, se considerarmos letramento como a capacidade de ler e
escrever, fica a pergunta: ler e escrever o qu? Os exemplos da autora
incluem passagens curtas de textos escritos ou preencher formulrios,
ou ainda compreender livros. E aqui cabe a pergunta: que livros? Cer-
tamente no se l ou escreve tudo da mesma maneira, ou seja, existem
muitos graus de habilidades e contextos de leitura e de escrita. preciso
considerar o que est sendo lido ou escrito, alm de se ter em conta
que a prpria valorizao social do letramento tem sido diferenciada em
diferentes sociedades. A autora, inclusive, se refere ao fato de que ler e
escrever so processos distintos.
Alguns trechos da literatura de fico tambm evidenciam a rele-
vncia que a nossa cultura d escrita e leitura e podem nos ajudar
24 THOMAS, Rosalind. Letramento e oralidade na grcia antiga. Trad. por Raul Fiker. So Paulo:
Odysseus, 2005, 274p.
28
a compreender suas dimenses. Vejamos, por exemplo, como Jorge
Luis Borges
25
iniciou uma aula para a qual havia sido convidado na
Universidade de Belgrado:
Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espe-
tacular , sem dvida, o livro. Os demais so extenses de seu
corpo. O microscpio, o telescpio so extenses de sua viso; o
telefone a extenso de sua voz; em seguida temos o arado e a
espada, extenses de seu brao. O livro, porm, outra coisa: o
livro uma extenso da memria e da imaginao. (p.13)
O autor no s enaltece o livro dessa maneira, como, no prefcio
desse mesmo livro no qual escreveu o texto citado, afirma no poder
imaginar a sua vida sem esse instrumento o livro.
J o prmio Nobel de literatura, Jos Saramago, manifesta uma
posio bastante interessante sobre escrita e oralidade atravs da fala de
um de seus personagens
26
:
Escrevo a mesma coisa de duas maneiras diferentes, para ver se
numa delas acerto melhor: est dito, e, contudo, no basta. No
exato, porm, que no tenhamos falado muito. Mas escrever
(ai est o que eu j aprendi) uma escolha, tal como pintar.
Escolhem-se palavras, frases, partes de dilogos, como se esco-
lhem cores ou se determina a extenso e a direo das linhas. O
contorno desenhado de um rosto pode ser interrompido sem que
o rosto deixe de o ser: no h perigo de que a matria contida
nesse limite arbitrrio se esvaia pela abertura. Pela mesma razo,
ao escrever, se abandona o que escrita no serve, ainda que as
palavras tenham cumprido, na ocasio de serem ditas, o seu pri-
meiro dever de utilidade: o essencial fica preservado nessa outra
linha interrompida que escrever. (p.264)
Se tivermos em conta a posio contida nessa fala, fica bem pre-
sente a diferenciao entre a escrita e a oralidade nos significados do
que se diz/escreve. E, num outro livro
27
, tambm atravs da fala de seus
personagens, no caso, dois dialogando, Saramago introduz a questo da
interpretao diferencial de pessoa para pessoa.
25 BORGES, Jorge L. Cinco vises pessoais. Trad. por Maria Rosinda R da Silva. Braslia: Editora da
Universidade de Braslia, 4 ed., 2002. 73p.
26 SARAMAGO, Jos. Manual de pintura e caligrafia. So Paulo: Companhia das Letras, 1992. 277p.
27 SARAMAGO, Jos. A caverna. So Paulo: Companhia das Letras, 2000. 350p.
29
Vivi, olhei, li, senti, Que faz a o ler, Lendo, fica-se a saber quase
tudo, Eu tambm leio, Algo portanto sabers, Agora j no estou
to certa, ters ento de ler doutra maneira, Como, No serve a
mesma para todos, cada um inventa a sua, a que lhe for prpria,
h quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir mais
alm da leitura, ficam pegados pgina, no percebem que as pa-
lavras so apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio,
se esto ali para que possamos chegar outra margem, a outra
margem que importa, A no ser, qu, A no ser que esses tais
rios no tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa que
l seja, ela, a sua prpria margem, e que seja sua e apenas sua, a
margem a que ter de chegar, (p.77)
E com o historiador Roger Chartier
28
, citando Michel de Certeau
que de maneira sinttica julgamos poder colocar a questo da diferen-
ciao das leituras, e tambm da escrita.
A leitura sempre apropriao, inveno, produo de significa-
dos. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor um
caador que percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o
texto no tem de modo algum ou ao menos totalmente o sen-
tido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus comentadores.
Toda histria da leitura supe, em seu princpio, esta liberdade do
leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende im-
por. Mas esta liberdade leitora no jamais absoluta. Ela cercada
por limitaes derivadas das capacidades, convenes e hbitos
que caracterizam, em suas diferenas, as prticas de leitura. Os
gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as
razes de ler. Novas atitudes so inventadas, outras se extinguem.
Do rolo antigo ao cdex medieval, do livro impresso ao texto
eletrnico, vrias rupturas maiores dividem a longa histria das
maneiras de ler. Elas colocam em jogo a relao entre o corpo e o
livro, os possveis usos da escrita e as categorias intelectuais que
asseguram sua compreenso. (p.77)
28 CHARTIER, Roger. A aventura do livro do leitor ao navegador. Trad. por Reginaldo C. C. de
Moraes. So Paulo: Editora da UNESP e Imprensa Oficial, 1998. 159p.
SEGUNDA PARTE
MEDIAES ESCOLARES
33
CONSIDERAES SOBRE
ESCRITA E LEITuRA NA ESCOLA
E
ntre as possibilidades da escrita, citamos algumas: a comunicao, a
expresso de sentimentos, o relato de fatos histricos, a transcrio
e reflexo de vivncias cotidianas, a produo de conhecimentos em
diferentes reas. Narrativas, poesias, contos, romances, crnicas, crticas,
biografias, cartas e bilhetes, so apenas alguns dos gneros possveis.
Como justificar que algum no tenha acesso a esse universo de
possibilidades? Como se forma um escritor? A quem cabe estimular essa
habilidade? E de que forma? Qual o papel da escola nessa formao?
No ensino escolar as atividades que envolvem a escrita algumas
vezes envolvem apenas o exerccio mecnico de reproduo de idias
sem que ocorra propriamente elaborao e reflexo pelos estudantes.
Isso ocorre, entre outras situaes, quando eles: respondem perguntas
de um questionrio que exigem apenas a mera transcrio de um texto
base; preenchem lacunas em exerccios propostos para reforar o con-
tedo; copiam da lousa snteses colocadas pelo professor. Quanto ela-
borao associada escrita, quase sempre so pedidas apenas redaes,
pelo professor de lngua portuguesa.
J os Parmetros Curriculares Nacionais PCNs
29
das cincias natu-
rais do ensino fundamental nos 3 e 4 ciclos mencionam que a apren-
dizagem da escrita, no se restringe apenas rea de lngua portuguesa
29 BRASIL, Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais Ensino Fun-
damental/Cincias Naturais. Braslia, MEC/SEF, 1998, 138p. Em 31/08/2007, http://portal.mec.
gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf
34
e do sugestes de vrias atividades ao longo do documento, inclusive
nas questes relacionadas leitura. Essa ateno tambm dada no 1 e
2 ciclos, quanto organizao e registro de informaes por intermdio
de desenhos, quadros, esquemas, listas e pequenos textos. E tambm os
parmetros para o ensino mdio referentes s cincias da natureza, ma-
temtica e suas tecnologias do bastante nfase a questes de linguagem.
Assim, no que se refere a recomendaes includas nos parmetros, as
vrias instncias reconhecem a importncia da leitura e da escrita. No
entanto os PCNs so apenas sugestes, de carter bastante genrico.
35
PARA PENSAR A ESCRITA
E A LEITuRA NAS CINCIAS
P
ensamos na escrita visando compreender seu funcionamento no
ensino da cincia, tendo em vista a possibilidade de prop-la como
uma atividade que pudesse contribuir para a constituio e expresso
de pensamentos no ensino escolar. No pretendamos formar escritores
em aulas de cincias, mas acreditvamos que ao estimular a escrita pod-
amos estar caminhando na direo do prazer e da valorizao do ato de
escrever, envolvendo nesses objetivos: intenes relacionadas autoria
e autonomia dos estudantes.
Para Olson
30
:
... a escrita uma forma particular de representao e, como prin-
cpio geral, uma representao nunca equivale coisa representa-
da. Se assim, pensar nas representaes escritas como transpa-
rentes ou neutras um erro grave. (p.78-79)
Outro ponto de interesse levantado por Olson em sua obra refere-
se histria da leitura. Para ele, a escrita no determina completamente a
leitura, porque num determinado enunciado, apesar das palavras serem
as mesmas, cada um l de maneira diferente, isto , sua prpria manei-
ra. Com isso, pode-se concluir que a escrita representa parte do sentido,
seria iluso pens-la como modelo da fala, pois uma frase falada em tom
irnico escrita da mesma forma que a frase dita num tom srio. A forma
grfica, portanto, no determina completamente a interpretao.
30 OLSON, David. O mundo no papel: as implicaes sociais e cognitivas da leitura e da escrita.
So Paulo: tica, 1997.
36
Nesse sentido, buscamos algo diferente que pudesse proporcionar
ao aluno maior satisfao ao escrever, principalmente por no haver a
necessidade de reproduzir fielmente as palavras corretas e nicas do
professor ou do material didtico, mas permitindo a manifestao mais
livre do pensamento. Esperamos com isso, contribuir para a demarcao
de uma outra maneira de encarar o papel da escrita na escola e princi-
palmente no ensino das cincias.
Para fugirmos dos trabalhos intuitivos e aleatrios envolvendo a
escrita, julgamos necessrio um dispositivo analtico coerente com nos-
sas preocupaes e para isso recorremos Anlise de Discurso a partir
de aportes encontrados principalmente em textos de Eni Orlandi. Ten-
do em conta que nesta vertente a escrita no apenas um instrumento,
mas lugar de constituio de relaes sociais, no planejamento que
organizamos para trabalhar com os estudantes, concebemos a escrita
como uma atividade que pode criar condies para a re-significao
dos sujeitos, neste caso do estudante.
Nos estudos realizados, apesar do foco ser o ensino, no nos limi-
tamos s metodologias de trabalho, pois julgamos que tal confinamento
pode expressar a idia de que os problemas do ensino e da aprendi-
zagem se limitam a questes metodolgicas. Nossa opo valoriza as-
pectos como as condies de produo, que permeiam a elaborao da
escrita e sua anlise no trabalho com determinados contedos.
Nas aulas ministradas, foram requisitadas produes de textos es-
critos durante ou ao final das unidades estudadas. Parte desse material
foi analisado, com o objetivo de identificarmos princpios de autoria na
escrita. Procuramos identificar deslocamentos no processo de pensa-
mento dos estudantes e notar as contribuies do fato de lhes ter sido
solicitado que escrevessem de maneira mais livre do que as respostas
cobradas quando eles realizam provas na escola.
Como subsdio para elaborao e anlise das atividades, recor-
remos a um texto de Eni Orlandi em que a autora trabalha a idia de
autoria, a sua obra Interpretao
31
. Nesse sentido, buscamos indcios
da passagem da repetio emprica, quando o estudante exercita a
31 ORLANDI, Eni. Interpretao; autoria, leitura e efeitos do trabalho simblico. Petrpolis: Vozes,
1996. 150p.
37
memria para dizer apenas aquilo que o professor ou o livro j havia
dito (num mero exerccio mnemnico), para a repetio histrica, ou
seja, quando h incorporao de sentido prprio do aluno memria
constitutiva, isto , o aluno passa a assumir o discurso como seu, a
autoria. Entre essas duas repeties h uma intermediria, a repetio
formal, na qual o estudante explicita as mesmas idias vistas nas au-
las, mas com uma outra roupagem, ou seja, repete o que foi dito com
outras palavras. Este ltimo tipo de repetio, segunda a autora, a
mais comum em situaes escolares.
Associado noo de repetio usamos na anlise dos textos es-
critos pelos estudantes o duplo conceito de continuidade e ruptura,
baseado no trabalho de Gaston Bachelard e comentado na primeira par-
te deste livro. Essa noo nos possibilita admitir, na continuidade, um
certo movimento do pensamento duma representao anterior, rumo
superao de um obstculo, quando o estudante rompe com aquela
representao e se apropria de uma nova concepo.
Num outro texto de Orlandi
32
, buscamos argumentos favorveis ao
uso da escrita. Para essa autora, na cultura ocidental praticamente no
existe oralidade; s vezes pensamos estar na oralidade, como no caso
de uma missa, do jornal de televiso, de uma aula expositiva, mas na
verdade so casos de oralizao da escrita. E segundo Orlandi:
A escrita, numa sociedade de escrita, no s instrumento, ela
estruturante. Isso significa que ela lugar de constituio de
relaes sociais, isto , de relaes que do uma configurao
especfica formao social e aos seus membros. A forma da
sociedade est assim diretamente relacionada com a existncia
ou a ausncia da escrita. (p.7-8)
Sendo a anlise do discurso inscrita num quadro em que se arti-
cula o lingstico com o social, mobilizando questes referentes cons-
tituio do sujeito e do sentido e tambm tendo em vista que esto
em jogo de maneira ampla as condies de produo dos enunciados,
levamos em considerao essas condies para adentrar nas categorias
32 ORLANDI, Eni Reflexes sobre a escrita, educao indgena e sociedade. Escritos. Campinas:
LABEURB, n.5, 1999, p.7-22.
38
que permeiam os textos produzidos. A repetio ou parfrase, e a multi-
plicidade dos sentidos ou polissemia, constituem o eixo estruturante do
funcionamento da linguagem.
A proposta da anlise do discurso considerar a relao da lin-
guagem com a exterioridade, as condies de produo, isto , o falan-
te, o ouvinte, o contexto da enunciao, e o contexto histrico-social,
o ideolgico. Assim, ocorre o deslocamento das noes de social e de
ideologia, sendo o social representado por relaes imaginrias que fun-
cionam no discurso, ou seja, a imagem que se faz de um professor, de
um aluno, de uma me etc. J a ideologia est representada no interdis-
curso que so os discursos j produzidos que o sujeito tem na memria,
mas que esto esquecidos dando a iluso de que o sujeito origem de
seu discurso. O efeito ideolgico aparece na atividade interpretativa,
pois quando o sujeito fala, para ele como se os sentidos estivessem
nas palavras, apagam-se nesse momento as condies de produo e a
exterioridade que as constituem. No texto citado de 1996, Orlandi afirma
que ..., na ideologia no h ocultao de sentidos (contedos), mas
apagamento do processo de sua constituio.(p.66)
Devido dimenso
imaginria existe a iluso de que linguagem, pensamento, e mundo
relacionam-se termo a termo, o que produz o efeito ilusrio de que a
linguagem e os sentidos so transparentes, dando a impresso de que
atravessando as palavras se chega aos seus contedos, ignorando os
deslizamentos e equivocidades prprias linguagem humana.
Assim, para a anlise do discurso, a lngua no abstrata, ou seja,
ideologicamente neutra, nem apenas um cdigo; ela no transparente
e nem totalmente autnoma. Deste modo trabalhando com a relao
sujeito-linguagem-histria essa disciplina admite que a lngua tem sua
materialidade - a histria e o corpo simblico. Assim tambm a histria
no transparente, pois os fatos reclamam sentido, sendo este tambm
um produto do deslizamento daqueles. Muito menos o sujeito trans-
parente, pois afetado pelo inconsciente. Portanto a tarefa da anlise
do discurso compreender como o simblico faz sentido, como ocorre
seu funcionamento numa dada situao.
Assim, o sentido no dado a priori, mas constitudo no discurso
e considerado em relao a..., pois, as palavras mudam de sentido confor-
39
me a posio de quem as emprega, isto , tomam sentido em referncia
s formaes ideolgicas. Por exemplo, um operrio dizendo do lugar
de empregado diferente de um operrio que fala da posio do patro.
As posies assumidas no discurso, e no o lugar social, determinam a
interpretao. E, a interpretao acontece, mesmo sem que se perceba,
j que a linguagem no transparente. Em outras palavras, dizer um fato
no o prprio fato, pois se fosse, significaria apagar o espao da inter-
pretao. A linguagem opaca e incompleta, no havendo sentido em si,
naquilo que foi dito, pois a interpretao desloca sentidos, desconstruin-
do os efeitos do j dito em direo a uma outra significao.
Ainda remetendo mesma obra de Orlandi, o dizer aberto, no
tem comeo nem fim, pois, o sentido est em curso, embora os senti-
dos paream se fechar e serem evidentes. E mesmo a reflexo sobre o
silncio permite compreender a incompletude, como algo que no se
fecha, e que tambm constitutiva da linguagem. Ou ainda: pelo dis-
curso que melhor se compreende a relao entre linguagem/pensamen-
to/mundo, porque o discurso uma das instncias materiais (concretas)
dessa relao.(p.12) Orlandi tambm coloca a autoria como algo que
a escola deve procurar desenvolver. Para ela a posio-autor se faz na
constituio da interpretao, pois o autor no pode dizer coisas que
no tenham sentido, o que mostra sua relao com o interdiscurso. E,
alm de fazer sentido, este deve ser para um interlocutor determinado,
que faz parte de suas formaes imaginrias.
Assim, ao procurarmos explicitar os mecanismos de funcionamento
do discurso, estamos atentando para a construo de significados prprios
dentro de uma trama de outros textos, falas, conceitos e definies.
De um texto de outro autor, Maingueneau
33
, registramos o aspecto
do lugar de onde se fala e, portanto, de onde se escreve, o que determi-
na a identidade de cada indivduo, sendo que este tambm ao enunciar
garante sua autoridade institucional. Esta posio de onde fala o sujeito
seria o lugar encenado no discurso, sendo a encenao uma das formas
do real o qual s acessado atravs do discurso.
33 MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendncias em anlise de discurso. Traduo por Freda
Indursky. Campinas: Pontes, 1989, p. 29-51.
40
Outra idia discutida por esse autor a do gnero do discurso, ou
seja, dilogo, editorial, cientfico, manifesto, dirio, carta, panfleto etc.,
que relacionado ao lugar e poca da enunciao, implica em pensar nas
condies da enunciao e no estatuto assumido pelo enunciador. Desta
forma o gnero mais um elemento que legitima o lugar enunciativo.
Segundo esse autor, os enunciados esto associados a certos g-
neros de discurso, que implicam em condies de diferentes ordens,
que para a anlise do discurso constituem coeres, e:
... os gneros encaixam-se freqentemente uns nos outros. ... se
h gnero a partir do momento que vrios textos se submetem a
um conjunto de coeres comuns e que os gneros variam segun-
do os lugares e as pocas, compreender-se- facilmente que a lista
dos gneros, seja por definio, indeterminada. (p.35)
Ainda segundo Maingueneau, para a anlise do discurso, as for-
maes imaginrias, ou seja, as imagens projetadas no discurso, so
perceptveis ao se levar em conta que a escolha de um gnero para
desenvolver a escrita est relacionada ao lugar enunciativo, poca de
enunciao e s condies de comunicao.
Nas atividades realizadas com os estudantes valorizamos a escolha
por parte do aluno de um dos seguintes gneros: carta, dirio, pequenas
estrias ou relato. E, ao trazermos as colocaes de Maingueneau para
interpretar os discursos presentes no ensino tornam-se presentes elemen-
tos como a posio do enunciador, espao e tempo do discurso, a voz, o
tom e o gnero deste, que possibilitam entender aspectos que permeiam
aes e discurso dos estudantes e dos professores. Por exemplo, nota-
mos a importncia de estar dando voz ao aluno atravs das mais variadas
formas participativas, ou seja, em avaliaes diferenciadas, debates, se-
minrios, trabalhos em grupos, problematizaes, entre outras.
E continuando com aportes tericos que nos auxiliam a pensar
a escrita e a leitura nas cincias, nos referimos agora a Alan Chal-
mers
34
numa anlise epistemolgica sobre a produo da cincia,
enfoca o ato de ver:
34 CHALMERS, Alan F, O que a cincia afinal? Traduo por Raul Fiker. So Paulo: Brasilien-
se,1993. 225p.
41
Dois observadores normais vendo o mesmo objeto do mesmo lugar
sob as mesmas circunstncias fsicas no tm necessariamente expe-
rincias visuais idnticas, mesmo considerando-se que as imagens
em suas respectivas retinas possam ser virtualmente idnticas. (p.48)
Em outras palavras, quando pensamos no observador, apesar
dos estmulos fsicos serem os mesmos, o contato perceptivo no o
, pois depende da histria de vida, do conhecimento atual e das ex-
pectativas de cada um, que certamente no so as mesmas. Portanto
o que vemos no depende s dos rgos da viso, constitudo em
nossas mentes, dependendo da interpretao de cada um. como se
o presente, o passado e o futuro se fundissem em cada indivduo, que,
apesar de construdo socialmente, nico e, por isso, suas interpreta-
es podem ser diferenciadas.
Mesmo numa dada cultura e num dado momento histrico-cultu-
ral, a leitura de um poema, a observao de um quadro ou ouvir uma
msica podem ser interpretados de formas diferenciadas. Isso no quer
dizer que nossas interpretaes nada tm a ver com o que vivenciamos.
Se assim fosse, a comunicao entre as pessoas seria impossvel. H,
portanto, o fato dos sentidos terem sua histria, havendo, dessa forma,
uma sedimentao desses sentidos, que depende das condies de pro-
duo da linguagem, sem que esses sentidos sejam totalmente estveis,
conforme explicita Eni Orlandi
35
Essas condies de produo da linguagem esto no cerne da cons-
truo dos sentidos. A criana nasce num mundo formado pelos adultos,
e ela vai aprendendo a se apropriar da cultura. Essa apropriao no
mecnica, o sujeito atua e interage com o meio. Segundo Vigotsky
36
:
Os significados das palavras evoluem... a palavra primeiramente
uma generalizao do tipo mais primitivo; medida que o inte-
lecto se desenvolve, substituda por generalizaes de um tipo
cada vez mais elevado... (p. 71)
O fato parece ser bastante bvio quando pensamos em palavras
como manga, que tanto pode se referir manga de uma camisa e/ou
35 ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. Campinas: Cortez, 1988. 118p.
36 VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e Linguagem. So Paulo: Editora Martins Fontes, 1987. 135p.
42
a uma fruta. O que gostaramos de ressaltar que essa ambigidade da
palavra manga um exemplo de equvoco
37
, que prprio e consti-
tutivo da lngua, passvel de existir em todas as palavras. Dessa forma,
podemos afirmar que todos os textos esto sujeitos a esses equvocos, a
gestos de interpretao dos sujeitos, e isso que produz o sentido.
Michel Pcheux
38
nos remete aos equvocos, no como enga-
nos, mas sim como possibilidades de deslocamentos de sentidos que
as palavras proporcionam por ser prprio da natureza da linguagem a
construo de diferentes sentidos, isto , a polissemia.
Desse ponto de vista, necessrio dizer da inevitabilidade da
existncia das metforas, pois elas fazem parte do jogo da lngua. Sen-
do assim, por causa delas que a polissemia existe. E nos diferencia-
mos uns dos outros quando nos filiamos a redes de sentidos em nossa
memria discursiva.
Nesse caminho, dependendo do contexto, esses sentidos podem
funcionar de forma diferenciada, pois dependem dessas interaes
com o meio. Diferentemente de um dicionrio, com o significado lexi-
cal da palavra, os sentidos podem ser construdos pelas pessoas com
incurses em outros contextos. Portanto, a interpretao de um texto
(oral, escrito, imagtico, corporal, entre outros), depende das intera-
es das pessoas com esse texto.
Em sntese, na perspectiva da anlise de discurso, o discurso
efeito de sentidos entre interlocutores, e toda leitura constitui-se como
interpretao e no somente decodificao. Ou seja, diferentes leituras
de um mesmo texto podem ter sentidos diferentes. Ou ainda, os senti-
dos no esto dados, para serem apenas decodificados, mas so cons-
trudos no ato do discurso.
Uma outra noo de grande relevncia para se pensar a es-
crita e a leitura a de retrica. E no que se refere a essa noo,
interessa-nos a contribuio do que ocorre em sala de aula nas ma-
nifestaes dos estudantes, e acreditamos que essa contribuio
37 Equvoco no sentido de Pcheux, no como um engano, mas sim com as possibilidades de
deslocamento de sentidos.
38 PCHUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Trad. por Eni P. Orlandi. Campinas:
Pontes, 1993. 68p.
43
explicitada por Isabel Martins
39
quando a autora nos remete para a
seguinte noo de retrica:
Retrica significa a articulao de diferentes modos de comunica-
o como linguagem, imagens, gestos, etc, de forma a produzir re-
latos que objetivam instigar o interlocutor a considerar uma nova
viso de mundo. Esta noo de retrica inclui, portanto, anlises
do papel da argumentao e de processos atravs dos quais o co-
nhecimento comunicado, ensinado e legitimado. (p.24)
39 MARTINS, Isabel. Retrica, cincia e ensino de cincias. In ALMEIDA, Maria Jos P.M. e SILVA,
Henrique C. (orgs.) Textos de palestras e sesses temticas III encontro linguagens, leituras e
ensino da cincia. FE/UNICAMP. 2000, p.23-30.
44
EPISDIOS DE ENSINO
T
odos os episdios de ensino que apresentamos a seguir ocorreram em
classes de oitava srie do ensino fundamental em escolas pblicas.
Mostramos neste item algumas situaes, ocorridas em sala de aula,
que evidenciam mediaes da professora. Acreditarmos que mediaes
desse tipo contribuem para os deslocamentos que podem ocorrer com
os estudantes em situaes de ensino. Algumas aulas foram filmadas e
isso nos possibilitou a extrao dos episdios que aqui comentamos,
nos quais nos referimos professora como P e aos alunos como A.
Episdios I - A professora busca incentivar a participao dos alunos
durante a explicao dos contedos ou correo de exerccios.
P: A planta trabalha com a faixa de luz visvel. Ela vai usar essa faixa para
fazer a transformao. Cada cor que forma a luz branca tem um com-
primento de onda diferente. O que mesmo comprimento de onda?
A: a medida de uma onda que faz assim (aluno faz movimentos on-
dulatrios)
.................
P: Eu quero saber em que condies eu posso ver uma camisa vermelha?.
A1: Dona, na claridade, tem que ter uma camisa vermelha (gesticula
apontando para um aluno que est de blusa vermelha)
A2: Luz vermelha e camisa branca
P: Ento se tivermos uma luz vermelha que cor tem que ser a camisa?
A1: Branca
A2: Vermelha.
Vrios alunos confirmam que, nos dois casos a camisa ser vermelha.
45
Episdio II - A professora d nfase s falas dos alunos, repetindo-as para
que todos possam ouvi-las e vai avanando na formulao de questes:
P: Quando colocamos esterco no solo o que acontece com ele?
A: Decomposio
P: Veja, o Hugo disse que ele vai se decompor. E o que isso?
A: Vai atacar fungo e bactrias e desmanchar
P: T, fungos e bactrias vo atacar e devolver os componentes para o
solo. E quais so eles?
A: Hidrognio, nitrognio
P: Ento essa transformao de fezes em hidrognio e nitrognio
(fenmeno) fsico ou qumico?
Episdios III - Professora manifesta preocupao com a adequao da
linguagem utilizada pelos alunos em suas falas:
A: A lente convergente pode concentrar toda a luz solar
P: Toda a luz solar?
A: Bem, toda no aquela que passar pela lente
.......................
P: Vocs disseram que a luz se afasta da normal. E o que isso significa
para algum que no sabe nada sobre fsica?
A: dificil n?! Fica melhor dizer que a luz se espalha
.......................
P: O que vai acontecer com a semente depois de enterrada?
A: Vai crescer.
P: Se a semente crescer, ficar uma semente desse tamanho (gesticula
fazendo um crculo com os braos). Qual o termo mais adequado?
A: Vai germinar
Episdio IV - Professora retoma nas explicaes trechos dos vdeos
assistidos ou dos textos lidos pelos estudantes:
P:Bem, para responder essa questo (O que aconteceria se a luz emi-
tida pelo sol fosse verde? E os alunos responderam que enxergariam
todos os objetos da cor verde) vamos lembrar um pouco do que j
estudamos. Por que a gente consegue ver todas as cores, ento? Ele
de camisa azul, ela de vermelho, ele de verde
A:Por causa da luz, ela est refletindo e as cores vem.
P: O que acontece com essas cores que vem? O que o vdeo mostrou
sobre isso?.
A: Elas se juntam, se tornam branca.
46
P: T e no vdeo quais eram as cores de carto que o menino do vdeo
segurava?
A: Vermelha, azul e verde
P: E quando a luz branca incidia no carto vermelho que cor o menino
ficava?
A: Vermelho. Professora repete a pergunta com as outras cores e alu-
nos respondem.
P: Ento agora vamos pensar nas folhas das plantas, como vocs leram
no texto. As cores esto chegando na folha, ela absorve todas as co-
res menos o verde. E se a luz do sol fosse verde, elas fariam fotossn-
tese? Tudo seria verde como vocs disseram, mas o que aconteceria
s plantas?
A1: As plantas iriam morrer, porque elas no teriam luz para fazer a fo-
tossntese.
A2: No, a cor da luz no altera em nada a planta
P: Quem concorda com o Hugo? E com o Eduardo?
47
NFASE NA ESCRITA:
PRODuES DOS ESTuDANTES
40
A
s anlises apresentadas neste item referem-se a respostas escritas
fornecidas por estudantes de oitava srie do ensino fundamental
e tomam por base um questionrio inicial no qual lhes foi pergun-
tado o que era a luz. Nessas anlises procuramos elementos que
relacionassem a escrita com deslocamentos nos enunciados dos
alunos. E para isso, apoiamo-nos: na possibilidade de autoria, enten-
dida como repetio emprica, formal ou histrica; no duplo conceito
continuidade-ruptura e em noes sobre gnero e retrica, conforme
j nos referimos a essas noes.
Entre as atividades desenvolvidas ao longo de um ano, destaca-
mos quatro solicitaes aos estudantes, as quais sero aqui focaliza-
das seqencialmente. A primeira delas foi a resposta a uma questo
formulada em situao de avaliao do tipo prova (I). As produes
escritas pelos estudantes constaram de respostas a uma questo for-
mulada em situao de prova dois meses aps o incio das aulas. A
questo pedia que os estudantes montassem um pequeno texto refe-
rente luz usando as noes de reflexo, refrao, onda, partcula,
lentes, espelhos e instrumentos pticos.
A segunda produo refere-se a uma situao problemtica, e as
outras duas contemplaram exposies de conhecimentos solicitadas
aps o trabalho com determinados sub-temas estudados. Quanto ao
40 Exemplos pensados principalmente a partir do estudo citado na nota 2.
48
gnero das solicitaes, alm da prova que constituiu a primeira solicita-
o, nas outras trs foi pedido aos estudantes que escrevessem na forma
de carta, ou dirio, ou relato ou conto.
O segundo texto (II) foi de trabalho realizado dois meses aps o
primeiro. Os alunos produziram o texto a partir da seguinte situao:
Imagine que voc um dos ltimos sobreviventes do planeta e
precisa procurar outro lugar para viver, pois devido s inmeras explo-
ses atmicas durante a 3 Guerra Mundial, o mundo se tornou inabit-
vel. O cenrio catico e desolador, pois o planeta est arrasado. Apesar
disso, voc est embarcando numa espaonave, indo para um pequeno
planeta que pode ser repovoado, pois encontra algumas condies pa-
recidas com o nosso ex-planeta Terra, tais como temperatura e gua
lquida (metade de sua superfcie recoberta por gua).
Alm dessas caractersticas, o novo planeta no possui nenhum
tipo de ser vivo. Devido presena de gases em sua atmosfera, a luz
do sol chega como se tivesse atravessado um prisma que decompe a
luz branca, refratando os diferentes comprimentos de onda em diferen-
tes regies da superfcie. Desses gases presentes na atmosfera no h a
presena do oxignio.
O problema que voc precisa decidir qual a bagagem necess-
ria, pois h um limite de peso e espao para a carga da espaonave (1
tonelada ou 1000 quilogramas).
A sua responsabilidade muito grande porque dependem de voc
o futuro da espcie humana, j que a deciso do que preciso levar
importantssima!!!!!! Alm de seus objetos pessoais voc deve levar coisas
que possam colaborar para o repovoamento de um planeta.
Diante deste cenrio imaginrio, escreva um texto num estilo que
voc vai escolher levando em conta seus conhecimentos. Voc dever
utilizar sua imaginao e criatividade e poder contar sua histria de
diferentes formas escrevendo: uma carta a um amigo ou um artigo de
jornal ou um dirio de bordo ou um relato de sua aventura ou ainda uma
pequena estria (conto).
No terceiro texto (III), elaborado j no segundo semestre do
ano letivo, trs meses aps o segundo, foram solicitadas noes a
respeito de luz. Foi solicitado que os estudantes utilizassem conceitos
revisados em aula, redigindo uma carta, ou um dirio, ou um conto,
49
ou um artigo de jornal, ou um relato ou ainda outro gnero que eles
preferissem, a critrio de cada um.
O texto (IV) foi produzido pelos estudantes dois meses depois,
com caractersticas semelhantes ao texto III, mas sobre o contedo
Energia Trmica.
A anlise das produes dos estudantes mostrou que ao longo
do ano elas foram tornando-se cada vez mais longas, e puderam ser
identificados alguns deslocamentos qualitativos nas manifestaes sobre
aspectos dos contedos de cincias trabalhados em aula.
No incio as produes eram bastante restritas, mas com a realiza-
o de vrios textos os estudantes aparentemente foram ganhando segu-
rana e ficando mais vontade para expressarem seus conhecimentos.
Alguns alunos criaram pequenas estrias muito interessantes e a maioria
optou pela carta. Talvez devido ao fato da professora ter apresentado
um exemplo quando pediu o texto II. Tambm possvel que fosse o
gnero mais conhecido dos alunos.
Uma aluna que aqui ser chamada de Fabiana chamou a aten-
o da professora pela criatividade e pelos deslocamentos nos con-
ceitos estudados. No primeiro texto produzido por essa aluna numa
situao de avaliao tipo prova, foram expostos trs conceitos (re-
flexo, refrao, teoria sobre onda), sendo que apesar de estarem em
um nico pargrafo, ela no estabeleceu ligao entre eles. Definiu
reflexo e refrao da forma como havia visualizado na aula com
atividades prticas, escrevendo:
reflexo pode ser feita assim: um feixe de luz bate em um es-
pelho e volta para o lugar onde o espelho est apontando refle-
tindo uma imagem. Refrao: o feixe de luz passa por um vidro
ou gua, mudando a sua direo. Onda um feixe de luz que
viaja pelos espaos.
A nosso ver, aqui, j ocorreu uma repetio formal, j que ela exer-
cita a memria para dizer aquilo que havia visualizado, no h desliza-
mento de sentidos, no entanto elabora uma definio bastante prpria em
sua linguagem. Podemos observar a influncia exercida pelas imagens
observadas no manuseio com um dispositivo simples, a que chamamos
50
de projetor de fendas
41
, com o qual os estudantes puderam incidir feixes
de luz em diferentes tipos de lentes, espelhos e prisma, podendo observar
a reflexo e a refrao dos feixes luminosos. Tambm se apia nos esque-
mas grficos representados na lousa pela professora, como os seguintes:
No terceiro e quarto textos, a aluna apresentou uma notvel su-
perao de seu estgio anterior, operando todos os conceitos propostos
alm de articul-los coerentemente. Somou-se a isto a forma literria
de exposio de seus conhecimentos sobre energia luminosa e energia
trmica. Apesar de ser possvel reconhecermos certa repetio emprica
no que escreveu, podemos notar tambm a repetio histrica, pois ela
produziu nestes textos deslizamentos de sentidos e situaes, aparente-
mente com efeitos metafricos em sua apropriao do saber cientfico.
Repetio histrica que pode ser reconhecida quando notamos que Fa-
biana incorpora sentido prprio memria constitutiva, isto , ela con-
seguiu esquecer quem disse e passou a assumir o discurso como seu.
Exemplificando: quando escreve Estou meio confusa sobre o que
sou, as pessoas me definem como onda ou partcula, no sei o que est
certo, h um posicionamento prprio da aluna sobre a ambigidade do
que havia sido trabalhado sobre a luz; tambm quando usa a definio
contida num texto lido Luz comunicao com o resto do universo;
sinais luminosos que viajam no vcuo em linha reta com velocidade de
300.000 km/s. Essa mais uma de minhas definies, mostra o acrs-
cimo do entendimento de mais uma forma para se caracterizar a luz in-
41 Uma caixa de alumnio com formato de caixa de sapato, com uma lmpada de filamento reto
dentro e uma fenda de tamanho varivel para sada da luz.
51
cluindo sua velocidade; h assim o reconhecimento da potencialidade de
desdobramentos dos conceitos. Dessa forma, Fabiana sugere em seu tex-
to ter passado por uma ruptura com relao noo de luz, uma vez que
inicialmente estava presa apenas aos conceitos de reflexo e refrao.
Tais deslizamentos podem ser observados na medida em que ela
se integra ao que est contando, quando, por exemplo, se refere a ela
mesma como se fosse a luz e o calor. No terceiro texto se autodenomina
Luz da Silva, que tem dvida sobre sua identidade, onda ou partcula,
sobre o que pode acontecer a ela, Eu posso ser refletida ou Tambm
pode ocorrer comigo um tipo de refrao. No caso do conceito de calor,
no quarto texto, ela se assume como Calor Roberto, escrevendo em seu
dirio que est furioso porque o confundem com sua amiga temperatura,
Querido dirio, estou muito bravo com as pessoas. Por que todo mundo
pensa que eu e a minha amiga temperatura somos iguais? e tambm ao
se diferenciar do calor sensvel: Calor Sensvel, aquele meu primo chato,
que o calor que provoca aumento de temperatura em um corpo.
Cabe destacar que no comentamos sobre calor sensvel nas au-
las. possvel que a aluna tenha se sentido estimulada a buscar informa-
es em outras fontes para articular sua estria. Vemos o apoio (texto,
vdeo ou pessoa) como um instrumento que por mais que influencie
no sentido de levar o aluno simples cpia acaba funcionando como
um recurso para que ocorra efetiva aprendizagem. Cabe-nos tambm
reconhecer que a cpia pode ser estimulada pelo modo e pelo tipo de
cobrana que se faz do que foi lido. Se os estudantes acreditarem que o
que se espera deles uma reproduo bem prxima de um texto lido,
provavelmente iro copiar o texto.
Por outro lado, fato que textos como os escritos por Fabiana, e
que consideramos como repetio histrica, podem aparentar proximi-
dade com o obstculo animista, apontado por Bachelard, uma vez que
descreve fenmenos fsicos foram antropomorfizados, isto , caracteri-
zados por sentimentos, atitudes, preocupaes prprias do humano. No
entanto, ao mesmo tempo, a aluna demonstra conhecimento suficiente
para articular conceitos cientficos no interior de uma trama subjetiva.
Sua escrita no deixa dvida sobre um suposto animismo ingnuo, pois
demonstra uma clara e intencional utilizao da antropomorfizao da
52
natureza com objetivos claros de funcionar como suporte da exposio
de sua compreenso dos conceitos cientficos. Estamos diante de um
caso evidente de promoo de deslizamento de sentido, para a qual o
gnero de escrita solicitado certamente contribuiu.
Conforme afirma Maingueneau (1989), a escolha de um gnero
para desenvolver a escrita est relacionado ao lugar enunciativo, po-
ca de enunciao e s condies de comunicao. No caso de Fabiana,
a carta ou dirio constituram-se em uma proposta bastante positiva
para que ela expusesse seus conhecimentos, possibilitando-lhe assumir-
se como autora. Ao enunciar-se como a luz ou como o calor a aluna
assume uma posio em que ela se auto-define, podendo portanto,
referir-se como o sujeito em questo, uma vez que nos dois textos
diz minha pessoa. O que no tinha acontecido na questo da prova
em seu primeiro texto, no qual ela foi cobrada a falar sobre a luz, ape-
nas um referente estudado anteriormente. Ainda com relao a esse
assunto, em entrevista posterior Fabiana afirmou que os gneros mais
comumente trabalhados pela escola, do tipo redao e dissertao, no
a estimulavam, dada a seriedade e o formalismo de sua estrutura. Sentia
que sua criatividade era refreada, levando-a ao julgamento de que no
seria capaz de fazer algo de boa qualidade. A escolha dos gneros carta,
dirio e estria, parece ter desbloqueado, segundo suas palavras, seu
interesse e habilidade, possibilitando-lhe escrever livremente, o que,
aparentemente lhe proporcionou a facilidade de expor os contedos
estudados durante o curso, inclusive englobando diferentes gneros, ao
embutir o dilogo numa carta ou dirio.
Estes dois ltimos textos, vistos pela tica do teatro, como aponta-
do por Maingueneau assemelham-se mais representao de um papel,
o que possibilita deslizar mais livremente pelas palavras e at remeter a
aspectos poticos como por exemplo, Luz comunicao com o resto
do universo, ou quando descontraidamente diz que se desmancha
toda ao atravessar um prisma.
Acreditamos que a grande diferena entre os textos I, III e IV
deva-se, em parte, considerao do destinatrio. Enquanto no texto I
ela escreve para a professora que espera a resposta certa, repetida da
mesma maneira como foi ensinada, nos textos III e IV ela joga com um
53
destinatrio genrico, tanto que a carta III ela inicia com Aos meus
novos amigos, que no caso poderiam ser os prprios alunos, seus co-
legas, para quem ela procurar se apresentar e se definir. J no texto IV
ela escreve para ela mesma, uma vez que se trata de um dirio em que
o sujeito-calor est expondo sua ira, dada a confuso que as pessoas
fazem entre ele e sua amiga temperatura.
Entretanto, apesar de seus textos serem de bastante criativos, no
podemos descartar a importncia dela tambm se adaptar escrita com
linguagem mais formal, e pelo que notamos nos textos aqui apresenta-
dos, no est descartada uma possvel tendncia dessa aluna cristalizar
sua produo de textos, na maneira de envolver os conceitos estuda-
dos, colocando-os como sujeitos da trama traada. O reconhecimento
do mrito dos textos pela professora tambm um fator que poderia
contribuir para essa cristalizao.
No entanto, bastante relevante notarmos os avanos de Fabiana
na explicitao conceitual. Isso ficou bem marcante ao compararmos
seus textos III e IV com o II, este sobre fotossntese, no qual desen-
volveu um dirio apontando para sua dvida quanto ao que levar para
repovoar o novo planeta que no teria oxignio. Nesse texto decidiu
acertadamente por levar pessoas para reproduzirem, plantas que servi-
riam de alimento e de produtoras desse gs, e minhoca para fertilizar o
solo, alm de gua potvel.
Sem dvida, ela reproduziu as noes estudadas em classe para
uma situao hipottica. Entretanto, apesar de dizer o que seria funda-
mental para garantir a vida num local dessa natureza, Fabiana no d
explicaes conceituais, o que possvel observar nestas frases: leva-
ria algumas espcies de plantas que iriam purificar o ar para ns seres
humanos conseguirmos sobreviver. S que essas plantas seriam plantas
que dessem para ns comermos. E algumas coisas j industrializadas.
Seu discurso apresenta pouco distanciamento em relao ao que seria
uma repetio emprica, o que no acontece nos textos posteriores, po-
dendo estes ser considerados um sensvel avano.
Sem dvida, haveria ainda o que trabalhar com Fabiana, mas tambm
h o conforto da afirmao de Bachelard de que a superao total dos obs-
tculos nunca definitiva, eles esto sempre presentes e exigem constante
54
trabalho no sentido de super-los. Afinal, a linguagem comum j traz con-
sigo obstculos inconscientes, mas como super-los se no nos servirmos
dessa linguagem num processo de continuidade rumo superao?
Pensando nas condies de produo do discurso, mais especifi-
camente no contexto socio-histrico-ideolgico, lembramos que Fabia-
na morava num bairro de periferia, e possivelmente isso contribua para
que em seu imaginrio se visse com dificuldade em expor suas idias,
caracterstica que pudemos confirmar em entrevista quando ela afirmou
que no imaginava que a professora, pudesse gostar tanto e divulgar
seu trabalho para os colegas e inclusive num congresso
42
. Sua pouca
auto-estima ficou patente quando disse que no se considerava capaz
de fazer algo de tal nvel.
Vale ainda acrescentar que, na entrevista, foi a prpria aluna quem
exps as possveis causas de seu sucesso, ou seja, a escolha acertada do
gnero que permitiu seu desbloqueio. O mais importante a possibili-
dade de transformao de simples repeties empricas em repeties
histricas, aparentemente facilitada pela liberdade em escolher o gnero
de escrita. E fato que, os deslocamentos nos textos de Fabiana eviden-
ciaram sensvel avano rumo ao saber cientfico, j que ela conseguiu
articular vrios conceitos, como ao reconhecer os impasses nos modelos
a respeito da luz e na diferenciao entre calor e temperatura.
Ainda procurando evidncias quanto manifestao de obstculos,
que essa aluna visivelmente demonstrou seno superao, avanos em di-
reo ao pensamento cientfico, pois inicialmente no questionrio inicial,
aplicado para levantamento de conhecimentos prvios dos estudantes,
Fabiana comentou que a luz acontece quando a energia eltrica permite
iluminar os ambientes ao acender as lmpadas em nossas casas. Estamos
diante de uma concepo pragmtica dos fenmenos, uma vez que a
preocupao em definir permanece no mbito de sua utilidade pelos
seres humanos. No questionrio final ela escreveu: Luz, sinal luminoso
que viaja pelo espao atravs de ondas ou partculas. Se ainda h inade-
quao, ela de outra natureza, concluso a que chegamos no tanto por
esta ltima formulao, mas por toda a produo da estudante.
42 A professora-pesquisadora contou aluna nessa entrevista que tinha includo suas falas no
trabalho apresentado num Encontro de Pesquisa em Ensino de Fsica.
55
Uma outra aluna, Ndia, apresentou um outro percurso que apre-
sentamos a seguir. Seu texto II relativo fotossntese uma carta e tem
como destinatrio seu neto. Nela descreve a luta pela sobrevivncia em
um novo planeta, Marte, na cidade Araxido, no ano 2040. Ela comen-
ta que levou animais e vegetais para a alimentao, sendo os ltimos
necessrios tambm para resolver o problema da ausncia de oxignio.
Em sua bagagem havia inclusive minhocas para a fertilizao do solo.
interessante que Ndia lembrou-se de pousar na regio iluminada pelas
cores azul e vermelha para que as plantas pudessem realizar com mais
facilidade a fotossntese. Notamos, assim que, apesar de no se estender
em maiores explicaes, esta aluna demonstrou a internalizao de co-
nhecimentos cientficos na situao fictcia.
Tambm na mesma carta, evidenciou sua posio de autora ao es-
crever: E como a histria minha..., deixou tambm transparecer uma
representao de cincia como algo positivo e a crena no cientista como
solucionador dos problemas enfrentados, tendo a expectativa de que ele
desenvolvesse as tecnologias em uso atualmente. Notamos isso na frase:
dentre os 4 passageiros um era cientista e ele descobriria o petrleo, a
clonagem, etc.. Por outro lado, nada indica que para ela a cincia tivesse
relao com a situao de guerra pensada para o exerccio proposto.
Por outro lado no Texto I, que havia sido solicitado em uma das
questes da prova, ela no apresentou conexo entre frases referentes
a diferentes fenmenos. Ndia apresentou seu entendimento a respei-
to de reflexo, refrao, ondas, partculas, espelhos e lentes, em no-
es como: reflexo quando a luz bate num ponto e volta ao lugar
que foi incidida;refrao quando a luz bate em um meio diferente
e sofre um desvio. Essas frases evidenciam a reproduo dos esque-
mas que haviam sido apresentados pela professora em aula. Trata-se
de uma repetio formal, pois a aluna apenas representou com suas
palavras os esquemas visualizados. Pode tambm tratar-se apenas de
uma repetio emprica, uma vez que certamente a professora enun-
ciou definies dos fenmenos quando fez os esquemas na lousa, e a
aluna pode ter anotado e memorizado.
J no texto III referente ao mesmo contedo, mas podendo ser
escrito em forma de carta, dirio, etc., ela optou pelo gnero relatrio,
56
intitulando-o de Luz: O fenmeno contraditrio e esplndido. poss-
vel que ao se referir luz como fenmeno contraditrio Ndia estivesse
pensando no que havia sido apresentado sobre a luz enquanto onda e
partcula. Alm disso, ela procurou explicar a reflexo pelo modelo cor-
puscular ao relacionar as partculas com bolas de tnis e tambm procu-
rou explicar o que uma onda por meio de movimento na gua. Nessas
explicaes notamos a possvel interdiscursividade com um vdeo que
havia sido apresentado em aula e no qual mostrado o movimento de
uma bola de tnis e uma bacia de gua que o locutor associa luz.
Ndia tambm utilizou um desenho, para complementar suas pa-
lavras. Consideramos aqui a ocorrncia de repetio formal, j que ela
expressou uma imagem visual muito prxima ao que havia visualizado.
No texto de Ndia tambm pudemos notar um deslizamento de
sentido no uso do termo forma. Inicialmente ela disse: a luz pode ter
forma de partculas ou ondas, para referir-se aos modelos ondulatrio e
corpuscular. Depois comentou: ela tambm recebe nomes especficos
em relao a sua forma. interessante notarmos o uso das aspas nas
palavras nomes e forma, que evidencia uma possvel insegurana
quanto adequao do termo em expressar suas idias. Entretanto, es-
sas terminologias alternativas, que utilizou, indicam que ela no se limi-
tou a uma simples repetio emprica, mas expressou uma abordagem
com as prprias palavras, uma repetio formal.
Para comentar sobre as cores, utilizou um modelo que leva em
conta as propriedades de absoro e reflexo, ao citar o exemplo de
uma cartolina amarela iluminada por luz branca que absorver todas as
cores menos o amarelo que ser refletido. Procurou tambm explicar a
fotossntese por meio do comportamento dos corpos em relao luz,
dizendo que: absorvedores transformam uma energia luminosa em ou-
tro tipo de energia, exemplo seria as plantas.
57
Ao se referir refrao, nesse texto, Ndia evidenciou um outro
saber, pois procurou explicar o desvio relacionando-o mudana de
velocidade. Refere-se s lentes convergentes e divergentes da mesma
maneira que no texto I, e podemos notar certa interdiscursividade, ou
seja, a incorporao de outros discursos j produzidos, acrescentando
desenhos esquemticos noo exposta.
Para explicar a relao das cores com a luz, Ndia disse: outro
lado importante da luz enxergarmos as cores. Se temos um feixe de
luz e colocamos nele um prisma veremos as outras cores. E acrescenta
o seguinte desenho:
Ao comentar sobre as lentes disse: Outro ponto da luz so as
lentes que podem concentrar ou espalhar os raios de luz em pontos., e
mais uma vez recorreu s representaes esquemticas:
Esses esquemas nos evidenciam a ocorrncia de uma historiciza-
o dos significados, na medida em que a aluna relacionou saberes que
haviam sido trabalhados em aula, e recorreu a uma forma de expresso
prpria para expressar seu entendimento, demonstrando que o conhe-
cimento fez sentido em sua memria.
58
Ndia conclui seu relatrio assim: Enfim a luz possui muito em
relao a prtica e teoria e no h como observ-la por inteiro, ou ex-
plic-la preciso imaginar a luz como uma fonte de vida que ultraja e
interroga; fascina e embeleza; o real e o irreal. Em que pesem alguns
equvocos em seu percurso, julgamos que a aluna evidenciou o entendi-
mento de que o conhecimento no definitivo, e de que no possvel
abarc-lo por completo, alm de ter se dado a liberdade para expressar
esse entendimento de forma potica.
No texto IV, relativo energia trmica, escolheu o gnero di-
rio, em que comentou entre outros contedos, as diferenas entre ca-
lor e temperatura. Definiu esses conceitos fazendo parfrases, ou, mais
propriamente uma colagem; isto , repetiu sem, aparentemente, incluir
idias prprias, dando um sentido nico para os conceitos que haviam
sido definidos pela professora.
Iniciou seu texto dizendo: Hoje na aula de Cincias eu aprendi
muitas coisas. Coisas que eu percebi agora que influenciam em quase
tudo, um pouco nos corpos, alimentos etc. Enfim a fsica est presente
no nosso dia-a-dia. Nesta frase parece estar refletindo sobre o seu pro-
cesso de aprendizagem, mas no apresentou indcios dessa aprendiza-
gem em seu texto.
Ao referir-se s formas de transmisso do calor, explica a convec-
o baseando-se no esquema que a professora havia feito no quadro
(vide abaixo), no entanto ao estabelecer relao com a densidade, inver-
te o que havia sido dito: maior densidade fica quente e sobe e menor
densidade, fica frio e desce.
59
Para expressar o que entendeu por conduo, diz o calor
transferido de uma molcula para outra usando algum condutor por
exemplo (prata, alumnio, cobre, etc). Talvez esteja querendo dizer
aqui que a conduo do calor ocorra principalmente nos metais, mas
faz a passagem do mundo macro ao microscpico como se fossem dois
objetos macroscpicos.
Por outro lado, procurou explicar o aquecimento da gua no chu-
veiro da seguinte maneira: transfere energia eltrica para a energia
existente na gua fazendo com que as partculas se movimentem resul-
tando em calor. Estabelecendo uma relao entre essa frase e a aula
ministrada, notamos que Ndia procurou expressar sua compreenso de
calor em termos de agitao das molculas. Dessa forma, entendemos
que para a estudante, a energia da resistncia do chuveiro foi transferida
para as molculas de gua que j estavam em movimento, mas que ao
receberem calor entraram em maior agitao.
Ao relacionar o forno de microondas com o forno convencional,
a aluna comentou que: os alimentos feitos no fogo a gs ficam me-
lhores porque conseguem penetrar nas protenas desse alimento alcan-
ando uma temperatura acima de 100 e o microondas s chega a 100
e no consegue mudar nem a cor nem o sabor desses alimentos. Tal
nfase possivelmente se deva ao fato de termos levado s aulas bolos
assados em ambos os fornos para os alunos observarem e saborearem
as diferenas, e em seguida a explicao por meio de leitura de texto e
questionamento da professora.
interessante por que esta aluna foi a nica que procurou no
texto produzido relacionar a temperatura atingida nos dois fornos como
fator diferenciador entre eles, alguns estudantes lembraram-se das di-
ferenas de cor e sabor entre os bolos, mas no se preocuparam em
manifestar uma explicao. Apesar disso, no podemos afirmar que eles
no sabiam ou que no aprenderam, pois no perguntamos abertamen-
te qual era essa diferena, ao contrrio solicitamos que escrevessem um
texto envolvendo as noes que tinham a respeito de energia trmica.
Ndia tambm procurou relacionar as mudanas de estados fsicos
ao calor especfico de cada substncia, como possvel observar no
pargrafo abaixo:
60
O calor tambm pode causar algumas mudanas, slido, lquido
ou gasoso, e bom lembrar que estas mudanas dependem do
material e da temperatura usada. E esta temperatura tambm pode
variar de acordo com o objeto usado e o seu nmero de massa,
ou seja, para um cubo de gelo passar do estado slido para o l-
quido vai depender da temperatura que elevarmos este gelo e da
quantidade de volume de gua que este possui.
Nossa suposio que, com esse texto procurou dar significado a
uma atividade desenvolvida em aula, atividade na qual o gelo foi aqueci-
do at seu total derretimento e posterior ebulio da gua, com medidas
da temperatura feitas a cada minuto. Depois disso, foi construdo um
grfico (temperatura x tempo) e questionado se ele seria o mesmo caso
tivssemos maior quantidade de gelo, ou se tivssemos outra substncia.
Ento Ndia expressou seu entendimento afirmando que para uma subs-
tncia mudar de estado depender da temperatura a que ela foi submeti-
da e de sua massa. O discurso desta estudante pode ser considerado um
exemplo de repetio histrica, que est representada nas manifestaes
prprias que ela utiliza, como os termos objeto, nmero de massa e
quantidade de volume, e se diferencia muito das comuns repeties de
definies memorizadas mecanicamente de um livro texto.
Ao finalizar suas anotaes, a aluna fez o seguinte comentrio:
Mas claro que para descobrir tudo isso foi preciso muito estudo e ex-
perincias que levaram sculos e sculos e que talvez futuramente essas
idias venham a mudar e formarem novas teorias. Nessa frase notamos
a influncia da histria da cincia vislumbrada nos textos lidos pelos alu-
nos, perceptvel na referncia ao tempo para que as teorias sejam aceitas
e na concepo de conhecimento cientfico como algo provisrio.
Ndia representa um caso interessante para a observao de
rupturas na manifestao de seu conhecimento, h em seus textos
momentos em que rompe com o pensamento concreto expressando
idias bastante abstratas como algumas citadas. Quanto autoria, ini-
cialmente no texto I (resposta questo da prova), cita definies pau-
tadas na repetio emprica e formal, procurando utilizar-se de alguns
termos bastante prprios, conforme visto em suas noes sobre refle-
xo e refrao. Depois, nos textos II (sobre fotossntese), III (noes
a respeito da luz) e IV (sobre energia trmica), ocorre a repetio for-
61
mal, mas com muitos traos de historicizao do dizer na medida em
que manifesta seus conhecimentos por meio de esquemas, explicita
sua viso de cincia, sua concepo de elaborao dos conhecimentos
cientficos e tambm ao incorporar em sua estria os conceitos, articu-
lando-os ainda que discretamente.
J nos questionrios, no inicial Ndia responde que luz uma
derivao da energia. Podemos ter luz solar ou eltrica e no final do
ano escreve luz uma onda ou partcula que se propaga de diversas
maneiras. Fazendo com que consigamos enxergar outros corpos. A luz
pode se desintegrar dando origem s cores, etc. Sua primeira noo
se restringe idia, bastante comum entre os alunos, de iluminao
atravs do sol ou lmpada o que parece representar uma concepo do
tipo conhecimento geral (luz = luz eltrica) que se no for estimulado
pode estacionar. Mas no foi o caso, pois passa ao final do curso para
algo bem mais elaborado; certamente como resultado da influncia dos
textos, vdeos e mediaes da professora.
Num terceiro exemplo, uma aluna que aqui chamaremos de Graa
no primeiro texto, sobre luz, que era uma questo da prova, define os
conceitos solicitados, aparentemente, de maneira vaga, mas indicando
sua compreenso. Por exemplo, diz que: lentes: que se v melhor; ela
havia visto nas aulas que as lentes corrigem os problemas da viso ou
so utilizadas nos instrumentos para a melhor observao dos objetos.
Tambm confunde refrao com reflexo, pois afirma: refrao: quan-
do a gente olha e se reflete (espelha).
J no texto III, tambm sobre luz, mas podendo ser em forma
de carta, dirio, conto ou relato, ela escreve uma carta para uma ami-
ga contando seu entendimento sobre os conceitos e define reflexo e
refrao utilizando termos bastante prprios, mostrando sua compre-
enso, ainda que no consiga express-la coerentemente. Por exem-
plo, numa parte do que escreveu, disse: A reflexo quando a luz
incidida em um certo ponto e retorna no mesmo ngulo parando no
mesmo ponto. possvel observar aqui a influncia do esquema da
aula ministrada, da experincia realizada com o projetor de fendas ou
do vdeo assistido em que se destacou a igualdade dos ngulos, em
relao a normal, dos raios incidente e refletido. Mas segundo a aluna,
62
coincidiriam no mesmo ponto, e sabemos que isso somente acontece
quando o ngulo de incidncia for 90.
Prosseguindo diz, no caso de refrao, entendi que quando a
luz for incidida em um certo ponto, ela se desvia devido mudana da
velocidade nos diferentes pontos. possvel que tenha trocado a pa-
lavra meios pelo termo pontos, tendo, no entanto, compreendido o
fenmeno em si. O mesmo ocorre quando afirmou que: sem a luz, no
poderamos enchergar, porm a retina de nossos olhos precisa que a luz
reflita sobre ela devolvendo a imagem ao crebro. Apesar da dificulda-
de de expresso, ela parece ter compreendido os fenmenos.
No texto II, a respeito do povoamento do novo planeta, Graa fez
um relato em que se preocupou com a reproduo humana envolvendo
um rapaz bonito que veio busc-la numa espaonave; eles se casaram
posteriormente e tiveram filhos. Junto levaram mais um casal e um beb,
que imploravam por socorro, a famlia dela e o cachorro.
Como nesse, foram bastante comuns nos textos dos alunos os as-
pectos emotivos como o salvamento do animal de estimao, dos pais
e dos irmos e neste caso de um beb. A liberdade de escreverem em
diferentes gneros, e para quem eles achassem conveniente, fez com
que vrios estudantes manifestassem suas emoes.
Graa tambm citou que no novo planeta tudo era maravilhoso:
gua limpa, animais soltos, pssaros voando, as pessoas reproduzindo, ar
puro. Esqueceu-se, inclusive, que, segundo o enunciado em que o texto
foi proposto no havia oxignio no local. Possivelmente, tal esquecimento
pode ter se dado, para facilitar a composio de seu mundo encantado.
Ela tambm manifestou uma viso linear da histria, pois escreve:
Tudo um dia se acaba, foram sendo construdas as indstrias que causam
poluio e o ar e a gua estavam poludos. Demonstrou tambm uma vi-
so negativa da cincia ao afirmar: transformou meu planeta em um cam-
po de pesquisas o que causaria guerras, fome, solido e morte. Ento,
para finalizar, questionou: Ser mais uma vez o fim do meu planeta?
J no texto IV, a respeito do tema calor, escreveu uma carta para
a professora, na qual fez um desabafo importante, apesar de j ser no
final do ano letivo, que parece expressar certo grau de segurana e en-
volvimento pessoal com a figura da professora: s vezes tenho dvida
63
a respeito da matria, mas me sinto envergonhada em fazer perguntas.
Em seguida enuncia os conceitos adequadamente e consegue aparente-
mente realizar o que Orlandi chama de repetio formal, ao criar alguns
termos, por exemplo, substituiu a palavra corpo falada em aula por
ser ou objeto, como se observa nas seguintes definies: tempera-
tura o grau de agitao das molculas de um ser ou de um objeto e
tambm, a troca de calor no meu entendimento ocorre quando um ser
ou objeto est em temperatura diferente (...).
Dessa forma, apesar de estar bastante prxima ao comentado em
sala de aula, h certos deslizamentos de sentido. Aparentemente, a pala-
vra corpo para a maioria dos alunos est relacionada ao corpo humano,
e possivelmente por isso Graa prefere utilizar ser e objeto, talvez
para indicar aquilo que tem vida e o que no a tem.
Continuando, ela conseguiu sintetizar muito bem os efeitos da
troca de calor e o importante que selecionou os conceitos segundo
critrios prprios, dizendo: Nossa professora! Ainda tem itens que no
entendi e outros que no considero muito importantes. Esse bimestre
teve bastante contedo. Esta frase revela a possibilidade que o texto
livre oferece, j que ela colocou as noes daquilo que julgou funda-
mental. E termina expondo seus sentimentos: Lembrando: Gosto muito
de suas aulas, te admiro muito. Beijos e mais beijos.
Vale ressaltar aqui as possibilidades que os gneros escritos carta,
relato, dirio ou conto oferecem aos alunos, pois perceptvel a aber-
tura da possibilidade de se expressarem da maneira que julgam melhor,
emotivamente ou no, pois h um destinatrio presente, concreto es-
colhido por eles e tambm h o professor, que eles sabem que ler o
texto, e que no papel de destinatrio superior, presente no imaginrio
de cada estudante, acaba guiando em parte a redao.
Numa entrevista posterior, Graa afirmou algo muito interessante:
Escrever cartas ajudou, porque ao escrever estava desenvolvendo meus
pensamentos. Na prova a gente decora mais do que entende, para es-
crever a gente aprende.
Essa aluna conseguiu pensar na forma como ela aprende. Possi-
velmente, o fato de gostar de ler e escrever e ter dito fazer isso cons-
tantemente possa ter facilitado sua reflexo sobre sua aprendizagem.
64
J para outros alunos, a escrita com certo grau de liberdade nas aulas
de cincias, escrita diferente daquela que ocorre quando apenas res-
pondem questes numa prova, pode ter, inclusive, contribudo para
criarem gosto pela escrita.
Retomando a questo da autoria, foi possvel observar que a es-
crita da Graa desde o incio j se apresentou como repetio formal, na
medida em que criou expresses prprias, ainda que no tenha enun-
ciado noes totalmente adequadas, como nos textos I e III, principal-
mente. Vejamos suas prprias palavras na resposta da questo da prova
(Texto I) em que escreveu sinteticamente: Onda: movimento. Partcula:
pequenos fragmento (luz) ou quando no texto III trocou a palavra
meio por ponto, como dissemos anteriormente ou ainda quando
comenta, os espelhos so usados no processo de reflexo e refrao,
evidenciando certa fragilidade na compreenso dessas noes.
No que se refere autoria, em condies de produo seme-
lhantes s que aqui apresentamos, num nvel ideal todos os estudantes
numa situao de ensino atingiriam a autoria histrica. No entanto, em
situaes reais isso no ocorre, sem que isto represente um demrito.
O mais provvel que alguns estudantes fiquem basicamente na repe-
tio emprica, outros na formal e muitos apresentem as trs repeties
distribudas diferentemente conforme o contedo do ensino e a solici-
tao feita a eles ao final de cada atividade. Mesmo assim, acreditamos
que o ato de escrever nas aulas de Cincias em si um exemplo a ser
seguido nessa e em outras disciplinas escolares, mostrando que a escola
muito ainda pode fazer para atingir um dos objetivos primordiais: a
compreenso mais profunda da construo do enunciado, da produo
de textos, da constituio da independncia e da autoria na linguagem
escrita, segundo as palavras de Garcez
43
(1998, p.155)
fato que, muitos escritos produzidos em situaes de ensino
apresentam apego memorizao mecnica, j que o aluno tenta re-
petir fielmente aquilo que foi discutido em sala de aula, o que d a
impresso equivocada de coerncia racional. Corremos o risco de con-
siderar que essa repetio representa a eficincia no ensino. Trata-se,
43 GARCEZ, Lucilia H. C. A escrita e o outro. Braslia: UNB, 1998
65
no entanto, de algo preocupante, a ser analisado. No entanto, h que se
reconhecer que mesmo por meio da repetio de um trecho lido aqui,
outro ali e ouvido outro acol, a montagem dessa colcha de retalhos
acaba ficando por conta do aluno.
Julgamos ter apresentado um quadro bastante favorvel utiliza-
o da escrita em aulas de cincias, na medida em que evidenciamos a
possibilidade de conduzir o aluno construo de manifestaes pr-
prias, ancoradas nos contedos mediados em aula, mas utilizando-se de
uma linguagem mais prxima ao seu dia-a-dia, que acaba por promover
a produo de significados relativos ao contedo trabalhado. Esse per-
curso no ocorre em linha reta e ininterrupta, mas ascendente. E em
processos de continuidade com os conhecimentos iniciais dos estudan-
tes podemos notar algumas rupturas rumo ao conhecimento cientfico.
O limite que percebemos em relao escrita que para visua-
lizar essas contribuies, faz-se necessrio atentar para todos os senti-
dos expressos nos diferentes gneros. Trata-se de interpretar fenmenos
verbalizados, refletir sobre a linguagem e por meio da linguagem. Para
tal, desconsideramos alguns pr-conceitos didticos, e valorizamos atu-
aes que divergem do que usualmente considerado o caminho mais
curto rumo a se conseguir que o aluno reproduza o que considerado
certo do ponto de vista da cincia.
Julgamos que, alunos que vivenciaram um trabalho escolar como
o que aqui apresentamos, mesmo se no incio se expressarem com fra-
ses do tipo: luz vida, energia fora, calor algo quente, podem
passar a comentar no final do ano: Luz uma forma de energia que se
propaga por ondas ou partculas; Energia a capacidade de produzir
trabalho; Energia nuclear est relacionada ao movimento dos nutrons
do tomo, pode seu usada para fazer bomba ou para tratar o cncer e
tambm acontece no sol; Calor uma energia relacionada agitao
das molculas que transferida de um corpo a outro quando h dife-
rena de temperatura entre eles.
E para finalizar estes comentrios nos quais demos tanta nfase
escrita, citamos um trecho de Joo Cabral de Melo Neto em Rios sem
discurso, no qual relaciona a gua no rio com as palavras no discurso:
66
Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso-rio de gua que
ele fazia; cortado a gua se quebra em pedaos, em poos de gua,
em gua paraltica. Em situao de poo, a gua equivale a uma
palavra em situao dicionria: isolada, estanque no poo dela
mesma, e porque assim estanque, estancada; e mais; porque assim
estancada, muda e muda porque com nenhuma comunica, porque
cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de gua por que ele discorria.
O curso de um rio, seu discurso-rio, chega raramente a se reatar
de vez; um rio precisa de muito fio de gua para refazer o fio an-
tigo que fez. Salvo a grandiloqncia de uma cheia lhe impondo
interina outra linguagem, um rio precisa de muita gua em fios
para que todos os poos se enfrasem: se reatando, de um para o
outro poo, em frases curtas, ento frase e frase, at a sentena-rio
do discurso nico em que se tem voz a seca ele combate.
67
MEDIAES NA LEITuRA
44
Histrias de Leituras
E
m situaes escolares, quando os estudantes lem livros didticos
ou outros textos comum que as interpretaes dos estudantes se-
jam diferentes das previstas em respostas algumas vezes includas nos
recursos didticos, e nesse caso, so comuns os seguintes comentrios:
os alunos no sabem ler; os alunos no entendem as perguntas, etc.
Tambm comum a crena de que ensinar a ler tarefa das aulas de
Lngua Portuguesa, e foge aos objetivos do ensino de cincias.
Essa maneira de pensar pode se modificar se refletirmos sobre
como so construdos os significados na leitura de um texto?
Com base em Orlandi (1984 e 1988)
45
entendemos a leitura como
produo de sentidos. Segundo essa autora, toda leitura tem sua histria
(em pocas diferentes lemos de formas diversas um mesmo texto) e todo
leitor tem sua histria de leitura (as leituras j feitas determinam o nvel de
compreenso do leitor durante a leitura de um texto). Com esse entendi-
mento, conclumos pela necessidade de, no ensino escolar, contribuirmos
para a construo da histria de leitura dos estudantes, estabelecendo
relaes intertextuais e resgatando a histria dos sentidos do texto.
Na construo dessa histria, os tipos de cobranas referentes lei-
tura de um texto so fundamentais. Conforme Almeida & Ricon
46
(1993),
a leitura de tipos diferenciados de textos no deve ocorrer como:
44 Exemplos pensados principalmente a partir do estudo citado na nota 3.
45 ORLANDI, E. Discurso e leitura. Campinas: Cortez, 1988.
__________ As Histrias das Leituras. Revista Leitura: Teoria e Prtica. So Paulo: FE-Unicamp, 1984.
46 ALMEIDA, M. J. P. M. & RICON, A. E. Divulgao cientfica e texto literrio: uma perspectiva
cultural em aulas de fsica. Caderno Catarinense de Ensino de Fsica, v. 10, n.1, 1993, p. 7-13.
68
(...) rotina semelhante ao trabalho usual com manuais didti-
cos. Na contramo do incentivo a leituras relativas cincia,
encontram-se: o destaque e valorizao apenas de algumas das
informaes contidas num texto sem se considerar as interpre-
taes do estudante, as avaliaes calcadas na memorizao de
informaes obtidas da leitura e, principalmente, a expectativa
de resultados imediatos. (p. 13)
Dependendo de como trabalhamos no ensino do conhecimento
das cincias, mesmo com textos que fogem ao livro didtico, podemos
aumentar a averso provocada pelas leituras obrigatrias. Com isso, po-
der haver um decrscimo no gosto por qualquer leitura, e podemos,
inclusive, contribuir para o desinteresse pela cincia. Por outro lado, par-
timos do pressuposto que, mesmo no ensino fundamental, pode ser valo-
rizada a leitura de textos originais de cientistas, e de textos de divulgao
cientfica. Alguns destes ltimos so muito bem escritos e tratam a cin-
cia com bastante profundidade, apresentando-a numa linguagem o mais
prximo possvel da comum. Alm disso, podem ser encontrados sobre
assuntos variados, envolvendo partes da programao dos currculos es-
colares e outros temas, comumente de grande interesse para os alunos,
como energia nuclear, laser, etc., ou seja, assuntos ligados cincia e as
tecnologias atuais, propiciando acesso cultura cientfica e a informaes
relevantes para a vida do indivduo dentro e fora do ambiente escolar.
Certamente aprendemos a ler durante toda nossa vida. O fato
da leitura rotineiramente ser trabalhada em aulas de cincias, sem um
trabalho apropriado na formao inicial ou continuada dos professores
e sem uma reflexo mais aprofundada, muitas vezes ocorre o uso de
um modelo de leitura que baseado naquilo que eles vivenciaram en-
quanto estudantes. Isso pode significar um espao restrito para outras
interpretaes, priorizando apenas um sentido sobre o contedo cien-
tfico, silenciando-se, por exemplo, as interpretaes equivocadas que
encontramos na histria da cincia, na busca de explicaes sobre os
fenmenos. Ou seja, os contedos so limpos dessas interpretaes
diferenciadas, errneas do ponto de vista atual e que na poca faziam
sentido, sendo vistas como corretas.
Um exemplo clssico foi a contraposio de Galileu Galilei leitu-
ra da Bblia na Idade Mdia, na qual se pensava ser a Terra o centro do
69
universo e no um planeta que girava em torno do sol (heliocentrismo).
A razo da proibio da Igreja ao heliocentrismo era que sobre a inter-
pretao do Salmo 104:5 do Antigo Testamento da Bblia est escrito:
Deus colocou a Terra em suas fundaes, para que nunca se mova.
Houve polmica sobre a afirmao de Galileu e suas declaraes foram
consideradas pela igreja catlica, herticas, teologicamente erradas, so-
frendo retaliaes pela Inquisio.
Trazendo esses conflitos apagados do ensino de cincias, o ato de
ensinar passa a ser a imposio de apenas uma forma de ler um texto.
Permeados por essas expectativas, os alunos podem buscar somente as
interpretaes que interessam ao professor, pois num outro momento
esse sentido perseguido ser solicitado em uma avaliao. Esse controle
de significados pode representar uma inibio e um certo impedimento,
levando a um desestmulo perante a leitura.
Consideramos que os sentidos esperados pelo professor devem
ser trabalhados como um dos constituintes da produo do texto, po-
rm no deve ser trabalhado como o nico constituinte. Essa forma
de olhar a leitura como objeto da cultura leva mais em conta a intera-
o do sujeito com o texto, do que propriamente o dizer do autor, pois
como j dissemos todo texto passvel de interpretao. Esse conceito
de leitura tem sido abordado por Michel Pecheux (1993)
47
e Eni Or-
landi (1988; 1998)
48
, que tm enfatizado a parfrase e a polissemia, ou
seja, o fato de ser prprio da natureza da linguagem possibilidade da
multiplicidade dos sentidos.
Concordamos com Gaston Bachelard (1996)
49
, quando afirma
que Tornar imprevisvel a palavra no ser uma aprendizagem de li-
berdade? Que encanto a imaginao potica encontra em zombar das
censuras!(p.11) Ento sob essa perspectiva torna-se importante per-
cepo sob como os leitores podem ler os textos e quais pontos de
vista podem utilizar para essas leituras, para que esta faa sentido em
sua memria discursiva.
47 PCHEUX, M. O discurso: estrutura e acontecimento. Campinas: Pontes, 1993
48 ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. Campinas: Cortez, 1988. 118p.
____________ Parfrase e Polissemia. A Fluidez nos Limites do Simblico. Rua, n.4, p. 9-19, 1998.
49 BACHELARD, G. A formao do esprito cientfico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.314p.
70
Mas ser possvel trabalhar essas questes dentro de uma disci-
plina especfica como a de cincias? Se sim, como?
Procurando problematizar essas questes nessa perspectiva, para
podermos produzir certos avanos no territrio da leitura no ensino
de cincias, numa pesquisa que fizemos, investigamos alguns aspectos
relacionados ao funcionamento da leitura em salas de aula de cincias.
Dentre os resultados obtidos foram encontradas evidncias de algumas
estratgias de mediao da linguagem, que aproximam a linguagem
comum da linguagem cientfica levando a uma maior aproximao dos
sentidos ao discurso da cincia (Souza, 2000)
50
.
Por exemplo, numa de nossas pesquisas percebemos que os estu-
dantes faziam registros (escritos) pessoais longe dos olhos dos professores
de cincias e ao investigarmos essa percepo constatamos que a maioria
dos 85 estudantes gostava de escrever fora da sala de aula (Tabela 1).
TABELA 1 Resposta de 85 alunos pergunta Voc gosta de escre-
ver fora da sala de aula, num dirio por exemplo?
Sries No gostam s vezes Gostam
8
A 07 07 11
8
B 12 01 08
8
C 08 05 04
8
Y 07 01 14
Total 34 14 37
Total (%) 40 16,47 43,52
Isso nos forneceu uma forte indagao de como funcionariam tex-
tos de cincias mais prximos linguagem oral em nossas aulas.
Seria possvel trabalhar um texto mais prximo linguagem colo-
quial, quando se fala de cincia?
E outras questes foram postas: pontes entre a linguagem cientfica
e a linguagem coloquial aproximam o cientista do estudante de cincias?
50 SOUZA, Suzani Cassiani. Leitura e Fotossntese: Proposta de ensino numa abordagem cultural.
Tese de doutorado, FE-Unicamp, 2000.
71
Enfim, como trabalhar uma forma mais pessoal da linguagem
cientfica?
Nesse caminho, utilizamos em nossas atividades de leituras com
os estudantes, trechos de textos originais de pesquisadores de sculos
passados, que escreviam em primeira pessoa do singular.
Tomei um vaso de barro, no qual coloquei 100 quilogramas de terra
que havia secado em um forno e que umedeci com gua de chuva
e ali plantei o caule de um salgueiro que pesava dois quilogramas
e meio. E eis que, passados cinco anos, a rvore que ali se originou
pesava cerca de 80 quilogramas. Quando era necessrio, eu sempre
umedecia o vaso de barro com gua de chuva ou gua destilada, e
o vaso era grande e estava implantado na terra. Para que a poeira
levada pelo vento no se misturasse terra do vaso, cobri-lhe a aber-
tura com uma placa de ferro revestida de estanho e com mltiplas
perfuraes. No computei o peso das folhas que caram em quatro
outonos. Por fim, tornei a secar a terra do vaso e ali encontrei os
mesmos 100 quilogramas, com alguns gramas a menos. Portanto,
80 quilogramas de madeira, cortia e razes, surgiram unicamente a
partir da gua. Johan Baptiste van Helmont
51
(1662, p. 109)
Um leitor de Van Helmont no sculo XVII, certamente, possua
outras informaes, outras expectativas, outras formas de conhecimen-
to. J no sculo XXI, um outro leitor desse mesmo autor certamente ler
de forma diferenciada, marcado pelo prprio movimento da histria.
(por exemplo, um estudante de cincias do ensino fundamental). O
texto s tem sentido se historicizado.
Essa forma de olhar a interpretao exige o entendimento de que,
ao mesmo tempo em que a histria muda, ela tambm permanece.
Como autor, Van Helmont pretendia esclarecer aos seus pares que havia
encontrado uma explicao contrria de Aristteles. Porm o sentido
mudou, atualmente, nesse sculo, lemos o mesmo texto produzindo
51 Johan Baptiste van Helmont Ortus Medicinae (Leyden, 1648), p. 109; English translation by
J. Chandler, Oriartrike (London, 1662), p. 109. Apenas para contextualizar, van Helmont foi
um dos pioneiros na pesquisa com fotossntese no sculo XVII. Levantou a hiptese de que a
planta se desenvolvia somente com gua, contrariando Aristteles (384-322 a.C.), o qual con-
siderava que os vegetais se alimentavam diretamente do solo. Apesar de a gua ter um papel
vital no desenvolvimento das plantas, van Helmont no levou em conta o papel dos gases na
atmosfera e nem da luz envolvidos no processo da fotossntese, em funo da prpria poca
em que vivia. Porm houve um salto em relao ao que se pensava, dando origem a uma nova
fase no estudo da fotossntese.
72
outros sentidos, pois eles ganharam outros estatutos de dominncia, tor-
nando perceptvel um certo movimento na cincia, podendo-nos indicar
algum sentido da cincia como algo humano, portanto falvel.
Gostaramos tambm de trazer outros dois textos utilizados:
A quantidade de ar que at uma chama necessita prodigiosa. Diz-
se que uma vela consome, por assim dizer, cerca de quatro litros e
meio de ar em um minuto. Considerando esse admirvel consumo
de ar, por fogo de todos os tipos, vulces, etc. vem as constituir
em importantes objetos de indagao filosfica, que alteraes so
produzidas na constituio do ar pelas chamas e a descoberta de
que medidas so tomadas pela natureza para reparar os danos que
a atmosfera recebe por esse meio. Joseph Priestley (1772)
Gabo-me de haver acidentalmente atinado com um mtodo de
restaurao do ar que tenha sido danificado pela combusto de
velas, e de descobrir pelo menos um dos restauradores que a na-
tureza utiliza para essa finalidade. a vegetao... De que maneira
esse processo opera na natureza, para conseguir to notvel efei-
to, no pretendo ter descoberto. Joseph Priestley (1772)
Aps a leitura dos textos solicitamos aos estudantes que respon-
dessem as seguintes questes abertas: O que voc no sabia? O que
voc j sabia? O que voc achou mais interessante?
bom ressaltarmos que a produo de sentidos envolve meca-
nismos de antecipao, ou seja, as expectativas que podem ser criadas
sobre os interlocutores. Ao iniciarmos qualquer interveno em aula
estamos sujeitos ao mecanismo de antecipao, e a construo de sen-
tidos influenciada pela maneira como nossos estudantes representam
as representaes de seus interlocutores (no caso o professor). Dessa
forma, nem sempre eles dizem o que realmente querem dizer, pois ex-
perimentam o lugar de seu ouvinte de seu prprio lugar, supondo o que
o outro vai pensar, conforme nos alerta Orlandi
52
.
Ao analisarmos as respostas dos estudantes, tentando captar o fun-
cionamento de textos dessa natureza, notamos que havia uma grande
quantidade de manifestaes especificamente sobre o texto: Foi muito
interessante..; Achei super interessante e adorei a leitura; Fotossn-
52 Eni P. Orlandi. A linguagem e seu funcionamento: As formas de discurso. Campinas-SP, 4 ed.
Pontes. 1996.
73
tese um fenmeno legal e interessante; O texto mostra a histria da
descoberta da fotossntese.
Podemos notar que os estudantes utilizaram em seus comentrios
palavras da linguagem informal, tais como o uso de algumas grias co-
muns linguagem coloquial legal, o cara, curto muito..., o que usual-
mente no ocorre em aulas de cincias.
Acreditamos que o mecanismo de antecipao funcionou sobre a
leitura do texto, atravs de questes abertas sobre o que entendeu ou no,
possibilitando a liberdade de expresso. Tambm parece ter havido per-
cepo de que no se sabe tudo e definitivamente, alm do prazer de ler,
o prazer em saber; Eu no sabia quase nada agora sei mais um pouco.
A partir de outras respostas, podemos dizer que os estudantes
estabeleceram um dilogo com a professora: Desse texto eu no sabia
quase nada como voc pode observar no trabalho que eu j te entre-
guei. (grifos nossos)
O que queremos ressaltar que a linguagem possui certas con-
dies de produo, que so histricas, culturais e contextuais, produ-
zindo diferentes interpretaes nos sujeitos. Ainda tomando o exemplo
do texto de Van Helmont, enfatizamos que quando os textos violam
as normas do estilo cientfico, utilizando eu ou ns h certas ruptu-
ras que chamam a ateno dos alunos e fazem com que ocupem uma
posio mais prxima da cincia e do cientista, aproximando assim o
estudante do discurso cientfico.
Alm da linguagem diferenciada, na primeira pessoa do singular,
esses textos antigos traziam as interpretaes sobre os fenmenos, as
dvidas e incertezas de seus autores, possuindo muitas vezes, equvocos
e conflitos, os quais na poca eram considerados verdades.
Essas leituras possibilitam uma noo de processo, fazem sentido
quando pensamos a poca em que foram escritos esses textos, trazendo
a voz do cientista num outro momento da histria, promovendo um cer-
to entendimento de como a cincia uma construo humana, portanto
sujeita a erros, um produto cultural inacabado.
53
53 Conforme comentado em Souza, S. C. & Almeida, M.J.P.M. Leituras na mediao escolar em
aulas de cincias: a fotossntese em textos originais de cientistas. Pro-posies Revista Quadri-
mestral, FE-Unicamp, vol. 12, n. 1 (34) , 2001.
74
Consideramos tambm que essa forma de olhar a leitura envolve
outros mediadores da linguagem, como a escrita, a experimentao e
muita discusso, trazendo outros sentidos e vozes dos alunos para um
mesmo texto, possibilitando diferentes interpretaes. Dessa forma, a
leitura, escrita ou experimentao, trabalhadas como mediadores cul-
turais permitem que se possa ter a pretenso de que o estudante tome
gosto pelo conhecimento, criando inclusive condies para que conti-
nue a se informar sobre cincias mesmo fora da escola.
TERCEIRA PARTE
FOTOSSNTESE E LUZ
77
ALGuMAS ATIVIDADES
A
presentamos nessa parte subsdios de nossas vivncias em salas de
aula de escolas pblicas, as quais foram bastante prazerosas e posi-
tivas, para que o leitor desse trabalho faa suas interpretaes e extraia
da suas prprias concluses e aes. Pois, conforme vimos afirmando,
mesmo numa dada cultura e num dado momento histrico-cultural, a
leitura de um poema, a observao de um quadro ou ouvir uma msica
podem ser interpretados de formas diferenciadas. Por exemplo, a frase
a esperana a ltima que morre pode significar para um bilogo bem
humorado ao fazer seu insetrio, que este inseto - esperana (Orthopte-
ra:Tettigoniidae) - ser sacrificado por ltimo.
Portanto, considerando que o leitor interpreta os textos que l e
que as interpretaes se diferenciam de pessoa para pessoa, esperamos
que as atividades aqui apresentadas apenas auxilie o professor a achar
seu prprio caminho.
ATIVIDADE 1: DIALOGADA
Resgatando os conhecimentos sobre a fotossntese
Partindo do pressuposto que a histria da construo do conhe-
cimento importante, procuramos levantar os conhecimentos apropria-
dos sobre a fotossntese pelo aluno ao longo de sua vida e observar
como esses contatos influenciaram o seu modo de pensar o fenmeno.
Para tanto, tentamos resgatar esse conhecimento com algumas
questes levando em conta alguns estudos anteriores sobre as concep-
es alternativas. Elas foram recortadas e fornecidas aos alunos uma a
78
uma, separadamente, pois algumas delas poderiam induzir as respostas
a outras perguntas, principalmente a primeira que enfoca a luz sem fa-
zer qualquer meno direta fotossntese.
Questes
1) Na sua opinio como as plantas e animais aproveitam a luz do sol?
2) Voc j ouviu falar em fotossntese? O qu?
3) Voc j leu algo sobre fotossntese? O qu?
4) Tente montar uma frase que inclua todas as palavras mencionadas
abaixo:
Cor verde das plantas
Luz
Sociedade
Fenmenos da natureza
Para ns, o objetivo mais importante neste primeiro momento,
era a possibilidade de capturarmos algumas idias dos alunos sobre a
fotossntese. Ouvimos dos alunos que fotossntese eles j sabiam. Essa
sensao do j sabido muitas vezes produz um conhecimento vago,
que imobiliza o pensamento. Perante a complexidade do fenmeno e
das inmeras concepes alternativas presentes, h um sentimento de
que tudo se sabe e a concluso de que nada precisa ser aprendido.
Ento, outro objetivo passou a ser fazer com que eles percebes-
sem que iriam estudar a fotossntese de forma mais aprofundada.
Para tanto, a discusso posterior ao questionrio foi demasiadamen-
te importante, para uma ruptura com o conhecimento vago que at ento
os alunos possuam sobre a fotossntese. Um dos grandes aliados dessa
ruptura foram as concepes alternativas. Ao apontarmos algumas delas
nas respostas dos alunos, principalmente as que apareceram com maior
freqncia, por exemplo, que a respirao apresenta o mesmo sentido da
fotossntese, pudemos discutir sobre a confuso que geralmente as pesso-
as fazem de uma forma geral, quando explicam esses dois fenmenos.
Com isso, surgiram oportunidades de colocarmos mais questes
que ampliaram (ou iniciaram?) as dvidas sobre a construo do conhe-
79
cimento do fenmeno e fizeram com que os alunos pudessem refletir
um pouco sobre a complexidade desses conhecimentos: O oxignio
que formado no processo da fotossntese vem da gua ou do gs
carbnico? Se o verde refletido o que acontece com os outros com-
primentos de onda da luz? Existe algum (comprimento de onda) que
mais absorvido que os outros? E quando a planta no verde?
Essa aula, do tipo exposio dialogada serviu de estopim para o
incio do trabalho. Como notamos que os alunos faziam pouca relao
entre a fotossntese e a produo de alimentos (por exemplo, pergun-
tamos sobre o que a pipoca que uma aluna comia tinha a ver com a
fotossntese, houve muita dificuldade e nenhum aluno respondeu), pois
relacionavam-na com a produo do oxignio, resolvemos desenvolver
a atividade seguinte para enfocar esse assunto.
ATIVIDADE 2: PRTICA
Teste do amido
O passo seguinte foi tentar estabelecer a importncia da produo
dos alimentos no processo da fotossntese. Era uma atividade que con-
sistia basicamente em pingar a soluo de Iodo (que possui cor laranja)
nos alimentos. Quando h presena do amido (produto da fotossntese
que so carboidratos com um alto teor energtico e pobres em vitami-
nas e protenas) os alimentos ficam arroxeados.
Geralmente, em atividades prticas em que se utiliza a soluo
de Iodo o objetivo quase sempre detectar a presena de amido, para
realizar a classificao de alimentos conforme seu ndice nutricional.
Contudo nesta atividade, o objetivo era fazer uma reflexo sobre a ori-
gem do amido, alm do estabelecimento da importncia da fotossntese
na cadeia alimentar e a produo de alimentos na fotossntese.
Para tanto, vrios alimentos foram utilizados, tanto de origem ve-
getal, quanto de origem animal. Nos de origem vegetal, contemplou
as vrias partes de uma planta superior (raiz, caule, folha, flor, fruto e
semente). Alm disso, procuramos tambm examinar o amido nos ali-
mentos cozidos ou triturados, enfim modificados pela ao do homem.
Foi solicitado que separassem os alimentos em trs grupos: ve-
getais crus (caule, raiz, folha, fruto, semente), de origem animal (leite,
80
ovo), alimentos modificados pelo homem (farinhas, po, macarro, ar-
roz branco). Para descontrair estouramos pipoca e levamos aos alunos.
Mais que testar a presena do amido, essa parte da aula certamente foi
um momento agradvel.
Origem do amido
Voc j sabe que os vegetais produzem alimentos atravs de
um fenmeno da natureza - a fotossntese. Esse alimento produzido
tanto por algas unicelulares como por grandes rvores, utilizado por
eles prprios, ou seja, como os vegetais so seres vivos e precisam
de energia, os alimentos que eles fabricam (com a energia da luz) so
em benefcio prprio.
No entanto, outros seres vivos tambm precisam de energia e aca-
bam se utilizando da energia produzida pelos vegetais, no somente os
animais de grande porte, mas tambm seres unicelulares, por exemplo,
alguns protozorios de vida livre.
Alm disso, voc tambm j sabe que os alimentos possuem dife-
rentes nutrientes, como as protenas, as vitaminas e os carboidratos entre
outros, e que essa diversidade muito importante para nossa sade.
Sendo o amido um tipo de carboidrato qual ser sua origem?
Como ser sua produo?
Primeiramente vamos detectar onde ele est presente:
A) Para observarmos isso, utilizaremos uma substncia que muda de cor
em presena do amido. Ela chamada soluo de Iodo. Identifique os
alimentos que em contato com o iodo modificam sua cor. Organize sua
observao numa tabela da seguinte forma:
1) vegetais crus (fruto, folha, semente, raiz, caule)
2) alimentos de origem animal
3) vegetais modificados pelo homem (triturados, cozidos, etc)
Obs. Preste ateno se o iodo penetrou no vegetal em observao.
B) Questes para reflexo:
Suponhamos que voc o primeiro pesquisador a perceber que
o iodo modifica a cor de alguns vegetais e que atravs de suas pesqui-
sas, alm de outras leituras que voc j fez, voc j sabe que as plantas
81
fazem fotossntese geralmente nas folhas, e com isso produzem glicose
(um tipo de acar). Baseado nisso responda:
Se o amido feito na folha como ele encontrado em grande
quantidade nas razes da batata por exemplo?
Como voc explicaria a origem do amido?
Na sua opinio ele tambm pode ser encontrado no solo, antes
de estar na planta?
Por qu alguns vegetais armazenam mais amido que outros?
Quais so as condies para que haja produo de amido?
Por que importante comermos alimentos diferenciados?
Uma Tabela foi solicitada para o registro dos dados obtidos.
TIPOS DE ALIMENTOS
Durante as observaes, muitas questes surgiram:
Por que fica roxo professora? (qual o motivo da mudana de cor);
Por que o leite ferve? (o leite no muda a sua cor, porm h
uma reao quando o Iodo colocado, uma espcie de borbulhar sem
aumento de temperatura);
Por que a folha de papel fica roxa? O papel tem amido? (a mat-
ria prima vem das rvores e as plantas fazem fotossntese, portanto...);
Na terra tm amido? (j que as razes esto prximas dela, a
planta somente estaria absorvendo o amido...);
Se o amido um tipo de acar, por que o macarro salgado?
(j que o acar doce...);
Por que o acar no fica roxo? (j que ele tambm feito por
plantas e contm glicose...).
Posteriormente na discusso com a classe toda fizemos um levan-
tamento de todas as respostas. Observamos principalmente a questo do
equvoco relacionado a absoro direta do amido pela raiz. Por exem-
plo, no caso da mandioca que possui um reservatrio de amido em sua
raiz os estudantes voltaram a considerar que a planta absorveu o amido
diretamente do solo, sem levar em conta que o amido produzido na
folha e posteriormente levado raiz para armazenamento.
82
ATIVIDADE 3: TEXTO
O texto A natureza da luz
54
foi utilizado como prximo passo na aplica-
o da proposta de ensino da fotossntese. Com algumas questes no final,
o texto retomou algumas informaes sobre as ondas eletromagnticas,
com o intuito de problematizarmos a questo da luz no processo da fotos-
sntese. (Se a cor verde refletida, quais so as ondas absorvidas?)
A natureza da luz
Todos os tipos de energia radiante tm certas propriedades em
comum: por exemplo, todos eles tm, no vcuo, velocidade de 300 mil
quilmetros por segundo; todos eles podem ser imaginados como on-
das. Cada um deles tem comprimento de onda (distncia entre as cristas
de duas ondas consecutivas) diferente. Cada um deles transporta quan-
tidade de energia diferente: as ondas de rdio tm longos comprimentos
de onda e pouca energia, os raios X tm pequenos comprimentos de
onda e muita energia.
Os tipos de energia radiante vo desde as ondas de rdio at os
raios X ou raios gama. Os fsicos chamam a esse conjunto de espectro
eletromagntico e qualquer poro do espectro conhecida como faixa.
As ondas de rdio tm 500 metros de comprimento, isto , 500 metros
de crista a crista, enquanto que os raios X tm um bilionsimo de cent-
metro de comprimento de onda. Entre esses extremos esto as faixas de
radiaes ultra violeta, de luz visvel e de radiaes infravermelhas.
A luz portanto uma pequena parte da energia conhecida como
energia radiante. a parte a qual nossos olhos so sensveis Quando a
luz visvel atinge um objeto, trs coisas podem acontecer:
pode atravessar o objeto, se este for transparente;
pode sofrer reflexo, se a superfcie do objeto for polida, como a de
um espelho;
ou ser absorvida por um objeto, por exemplo quando a luz incide
sobre uma roupa preta.
Esses fenmenos podem ocorrer ao mesmo tempo podendo haver
predominncia de um deles. Um exemplo disso, quando vemos
atravs de um material transparente e colorido, os objetos aparece-
54 Texto adaptado do livro Biologia (BSCS) Parte I cap. 09 S.Paulo, Edart, 1967 e Fsica (PSSC)
Parte II cap. 11 So Paulo: Edart, 1972.
83
rem em cores diferentes. Por exemplo, quando vamos ao circo em
pleno sol do meio dia e a lona do circo modifica as cores dos objetos
que esto dentro do circo! Esses materiais transparentes, sem dvida,
afetam, de algum modo a luz que o atravessa.
Qual a sua opinio a esse respeito: Ser que os materiais transpa-
rentes adicionam ou retiram algo da luz?
primeira vista, pode parecer uma pergunta difcil; entretanto, al-
gumas experincias simples nos fornecem uma resposta. Antes de mais
nada, observe o comportamento da luz do Sol ou de uma lmpada
eltrica, quando ela atravessa uma placa de vidro vermelho ou papel
celofane da mesma cor, incidindo numa folha de papel branco. O papel,
ento aparece vermelho.
Apesar da luz ser branca, o vidro vermelho afetou de algum modo
a luz, fazendo-a aparecer vermelha. Suponha que se colocarmos uma
segunda placa de vidro vermelho entre a primeira e a nossa vista, de
modo que a luz deva atravessar ambas as placas. O que pode acontecer?
A cor vermelha ficaria mais ou menos forte?
Hipteses:
Se o vidro adiciona algo luz, o papel apareceria com um verme-
lho mais brilhante que antes.
ou
Se ele retira algo, de se esperar que grande parte deste algo
seria removido pela primeira placa de vidro.
Qual das duas hipteses pode estar correta? Se realmente fazemos
uma experincia com duas placas de vidro vermelho, percebemos que
a segunda tem pequeno efeito, ficando a luz vermelha menos forte que
apenas uma placa de vidro.
Podemos explicar a pequena mudana de cor, dizendo que s
uma placa no retira completamente as partes no vermelhas da luz,
resta algo para o segundo vidro vermelho absorver.
Podemos fazer a mesma experincia, usando duas placas de vidro
verde, ao invs do vermelho. Como seria de esperar, a segunda placa
verde tem pequeno efeito
84
Que aconteceria, ento se experimentssemos o verde e o verme-
lho em conjunto?
O que sobra no ser vermelho nem verde. Neste estgio de nos-
sa investigao, ainda no conhecemos suficientemente o processo de
subtrao para predizer que cor aparecer, mas certamente podemos
dizer que muito menos luz nos alcanar aps atravessar as duas placas
de vidro, do que aps atravessar qualquer uma delas. Fazendo esta ex-
perincia, podemos perceber, que o brilho do papel fica enormemente
reduzido, e que a leve colorao remanescente no vermelha nem ver-
de, mas sim um tnue amarelo ou mbar. Este resultado nos responde a
primeira questo, ou seja, algo retirado da luz.
Mas o que esse algo que se subtrai da luz branca para lhe dar cor?
Como qualquer artista plstico lhe diria, a cor que voc v deter-
minada pela natureza do objeto iluminado, pela natureza da luz que o ilu-
mina, e pela condio de seu olho no momento em que a cor vista. Ela
depende, tambm dos outros objetos que voc v, ao mesmo tempo.
Quando os vidros vermelho e verde so colocados em conjunto,
vo retirar quase tudo luz branca. A maior parte dos materiais comuns
vo alm, e refletem ou absorvem totalmente a luz branca, no permi-
tindo a transmisso da luz (materiais no transparentes).
Como podemos relembrar a luz branca mais complexa que a luz
de uma s cor, pois ela composta por luz de diferentes cores: violeta,
azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho.
Ento, se um feixe de luz incide sobre um vidro vermelho, este
transmite e reflete grande parte da luz vermelha e os demais compri-
mentos de onda so quase totalmente absorvidos.
A faixa de luz visvel, geralmente conhecida como espectro de
luz, de particular interesse no estudo da fotossntese, pois a partir
da absoro de alguns comprimentos de ondas que esse fenmeno
acontece. Quais desses comprimentos so utilizados no processo da
fotossntese pelos vegetais?
Questes:
1) Em que uma onda de rdio difere de uma onda de raio X?
2) Um transmissor de satlite emite certo sinal de rdio para a Lua,
recebendo a reflexo 2,7 segundos depois. Que resultado podemos
85
calcular entre a distncia da terra e da lua sabendo-se que as ondas
percorrem 300.000 quilmetros por segundo?
3) Como voc explica que o vidro transparente vermelho transmita ou
reflita apenas a cor do vidro? O que acontece com as outras cores?
4) Sabendo-se que a maioria das plantas so verdes, qual o comprimento
de onda de luz branca voc supe que no utilizado na fotossntese?
ATIVIDADE 4: TEXTO
A nutrio dos vegetais
Em nossa aula de identificao do amido pudemos observar e
constatar vrias coisas:
alguns vegetais tem mais amido que outros;
no solo no existe amido, pois ele fabricado pelas plantas, princi-
palmente pelas folhas, apesar de algumas razes possurem bastante
amido, isso no significa que ele produzido nesse local, ele ape-
nas transportado para l;
o amido uma molcula grande que contm vrias molculas de gli-
cose. Quando comemos alimentos com amido, ele quebrado pela
saliva liberando a glicose, por isso possvel dizer que esses alimen-
tos so bastante energticos, porm precisamos de outros tipos, que
contenham vitaminas e protenas, pois cada um exerce uma funo
diferente no organismo;
quem produz o amido geralmente a folha e as condies para sua
produo que haja gs carbnico (CO2), gua (H20) em presena
de luz que se transforma em glicose e oxignio. Vrias molculas de
glicose formam uma molcula de amido.
Com exceo de alguns microrganismos, que tambm fazem fotos-
sntese, os vegetais (inclusive as algas marinhas) so responsveis diretos
pela produo de oxignio (O
2
) e pela fabricao de alimentos, atravs de
compostos simples como a gua (H
2
O) e o dixido de carbono (CO
2
).
No incrvel que a partir de um gs e um lquido, o vegetal
produza oxignio e alimento? Pois , j h algum tempo, a cincia tem
investigado que substncias como o amido, as protenas, gorduras, vi-
taminas so produzidas pelos vegetais. Por isso, eles so chamados de
produtores e como os animais consomem as substncias que os vegetais
produzem so chamados de consumidores.
Porm existe muita confuso por parte das pessoas quando pen-
sam na produo de alimento pelo vegetal, pois muitos consideram
86
que eles somente so absorvidos pelas razes sem que haja qualquer
transformao na planta. Essa idia j foi aceita pela cincia em determi-
nadas pocas. Por exemplo, Aristteles (384-322 a.C.) considerava que
as plantas retiravam o alimento diretamente do solo. Como as plantas
crescem no solo fcil confundir, que o material que as compe seja
retirado dele e no transformado dentro delas.
Somente h 300 anos atrs quando van Helmont (1577-1644) fez
um experimento bem interessante que contrariou essa forma de pensar.
Vamos conhec-lo nas prprias palavras desse cientista:
Tomei um vaso de barro, no qual coloquei 100 quilogramas de
terra que havia secado em um forno e que umedeci com gua de
chuva e ali plantei o caule de um salgueiro que pesava dois quilo-
gramas e meio. E eis que, passados cinco anos, a rvore que ali se
originou pesava cerca de 80 quilogramas. Quando era necessrio,
eu sempre umedecia o vaso de barro com gua de chuva ou gua
destilada, e o vaso era grande e estava implantado na terra. Para
que a poeira levada pelo vento no se misturasse terra do vaso,
cobri-lhe a abertura com uma placa de ferro revestida de estanho
e com mltiplas perfuraes. No computei o peso das folhas que
caram em quatro outonos. Por fim, tornei a secar a terra do vaso
e ali encontrei os mesmos 100 quilogramas, com alguns gramas
a menos. Portanto, 80 quilogramas de madeira, cortia e razes,
surgiram unicamente a partir da gua.
Observe o desenho:
PESO DA RVORE = 2,5 kg PESO DA RVORE=77,1kg
PESO DA TERRA = 100 kg PESO DA TERRA= 90,8 kg
Figura 1 Experincia de van Helmont. Ele concluiu que o aumento do peso revelado pela planta
era inteiramente devido gua que lhe havia fornecido durante o perodo de cinco anos.
87
Voc concorda com a ltima frase de Van Helmont? Por qu?
Nessa poca ainda no se havia inventado o microscpio e ain-
da no se pensava na participao da atmosfera no processo da
fotossntese, por isso van Helmont atribua toda a transformao
observada resultante da gua.
Mas como podemos saber se o oxignio realmente produzido
na fotossntese?
Em 1770 o pastor ingls Joseph Priestley (1733-1804) foi mais um
passo adiante na descoberta dos processos da fotossntese. Como qumico
Priestley tambm se interessava pela investigao dos gases envolvidos na
vida vegetal. Atravs de experimentaes compreendeu que velas acesas
e animais prejudicavam o ar tornando-o incapaz de permitir vida.
A quantidade de ar de que at uma chama necessita prodigiosa.
Diz-se geralmente que uma vela comum consome, por assim dizer,
cerca de quatro litros e meio de ar em um minuto. Considerando
esse admirvel consumo de ar, por fogo de todos os tipos, vulces,
etc., vm a se constituir em importantes objetos de indagao filo-
sfica, que alteraes so produzidas na constituio do ar pelas
chamas e a descoberta de que medidas so tomadas pela natureza
para reparar os danos que a atmosfera recebe por esse meio.
Priestley estava muito perto de resolver seu problema. Pensava em
hipteses que pudessem dar conta da restaurao do ar na natureza. Para
ele no poderia existir vida por muito tempo se no existisse essa funo
de restaurao. At que acidentalmente fez uma descoberta importante:
Gabo-me de haver acidentalmente atinado com um mtodo de
restaurao do ar que tenha sido danificado pela combusto de
velas, e de descobrir pelo menos um dos restauradores que a
natureza utiliza para essa finalidade. a vegetao... De que ma-
neira esse processo opera na natureza, para conseguir to notvel
efeito, no pretendo ter descoberto.
Para termos idia dos experimentos de Priestley simples. Obser-
ve o desenho:
88
Realmente Priestley no chegou a descobrir todo o processo (na
verdade ainda hoje estamos tentando descobrir), mas a sua concluso
de que as plantas revertiam os efeitos da respirao e purificavam o ar
foi um passo a mais na construo desse conhecimento cientfico. Na
poca suas concluses foram recebidas com severas crticas por outros
pesquisadores, porque os mesmos no conseguiam obter os mesmos
resultados. (talvez por fazerem seus experimentos em locais escuros).
Hoje sabemos que o oxignio indispensvel para a queima de
qualquer combustvel: parafina, lcool, gs, fogo, carvo, lenha, etc. Mas
no apenas na queima que ele consumido: a maioria dos seres vivos
consome esse gs na respirao. Assim, se colocarmos um animalzinho
sob a campnula, ele morre em pouco tempo por falta de oxignio.
Bibliografia
Amorim, A.C.B. & Brana, R.C. A nutrio dos vegetais. Texto de apoio.
Baker, J.J.W. & Allen, G. E. Estudos de Biologia - Vol. 1. So Paulo, Ed. Edgar
Blcher Ltda., 1975.
L.K. Nash Plants and Atmosphere, Harvard Case Histories in Experimental Scien-
ce. Vol.II (Cambrigde: Harvard University Press, 1957) pp325-436.
Questes:
1- Escreva o que voc NO SABIA desse texto.
2- Escreva o que voc J SABIA.
3- Escreva o que voc ACHOU MAIS INTERESSANTE.
4- Escreva o que voc NO GOSTOU OU CRITICA.
89
ATIVIDADE 5
Construindo um terrrio
Enfatizamos esses aspectos anteriores relativos histria, quanto
produo de alimentos e oxignio pelos vegetais, e sabendo que ainda
poderia haver o problema da confuso entre respirao e fotossntese,
propusemos a construo de um para tentar derrubar o mito da Respi-
rao X Fotossntese?
1) O que pode acontecer com uma planta se ela ficar no escuro? E se ela
ficar no claro? Para conseguirmos essa resposta iremos fazer o seguinte
experimento.
A) Coloque em um vidro transparente (de maionese, palmito, etc) cama-
das de mais ou menos 1 cm de altura de areia e solo de jardim. Plante
uma muda de algum vegetal de preferncia folhagens, pois so mais
resistentes. Coloque um pouco de gua e forre a boca do vidro com
papel filme (magipack). Anote o dia em que voc fez o terrrio.
B) Para que voc consiga responder a questo feita acima deixe um ter-
rrio onde haja luz e faa um segundo colocando-o no escuro.
C) Anote o resultado depois de 10 dias.
Em sua opinio, essa plantas morrero? Por qu?
Quais os componentes vivos e no vivos do terrrio?
2) OBSERVANDO A PRODUO DE GASES
Para discutirmos essa questo vamos fazer um pequeno experimento. Se
pegarmos um uma planta aqutica (Elodea) e a colocarmos num tubo
de ensaio imerso na gua e completamente cheio de gua em presena
de luz podemos perceber que uma pequena quantidade de um gs
produzido. Que esse gs esse?
Se a planta respira por qu ela produz esse gs?
Percebemos que quase todos os estudantes disseram primeira
vista que a planta no iria sobreviver. Nosso papel nesse momento foi
o de colocar dvidas nas cabeas dos alunos, pois um bom momento
para que entrem em conflito com idias cristalizadas.
Os que respondem pela sobrevivncia da planta foram questio-
nados sobre como a planta conseguir os reagentes para fazer a fotos-
sntese, ou seja, o gs carbnico e a gua, pois sabamos de antemo
90
sobre a confuso entre respirao e fotossntese. No caso, ocorreu um
conflito quando pensavam na produo do gs carbnico j que para
tal era preciso que houvesse respirao no vidro fechado. Percebemos
indagaes como: Se o vidro est fechado e a planta produz oxignio
como ela consegue o gs carbnico?
Como alguns estudantes achavam que a fotossntese a respira-
o, alguns chegaram a apagar e refazer a resposta como veremos nos
quatro tipos de justificativas abaixo:
- Falta de gs carbnico:
A planta que vai receber luz vai ficar sem gs carbnico e vai
acabar morrendo.
Ns achamos que ela no ir sobreviver. Porque ela precisa de gs
carbnico e luz. No realizar a fotossntese.
- Falta de gs oxignio:
Eu acho que a planta no vai sobreviver pois no h oxignio
dentro do vidro. Sua respirao no ir funcionar.
- Falta de ar:
No porque o vidro no tem furos, e tem gua suficiente para ela
crescer, ela ir precisar de ar e o plstico impedir o crescimento
da planta, aonde ela morrer.
Sem ar por causa do magipack (plstico) no h como fabricar a
glicose.
- No consegue respirar:
Ns achamos que ela (a planta) no vai sobreviver, pois ela no
consegue respirar.
Para trazer a respirao para a discusso, utilizamos alguns re-
cursos no discurso, como certas analogias. Ao perguntarmos o que
acontecer ao nosso dedo quando a circulao do sangue pra (no
caso quando se aperta com uma linha, por exemplo), eles tiveram di-
ficuldade em relacionar esse fato respirao celular, realizada pelas
mitocndrias em todas as clulas do nosso corpo, para a produo de
energia. Portanto, as discusses foram no sentido de esclarecer tam-
bm o que a respirao.
91
Ao abrirmos espao para a explicao da respirao celular pelos
seres vivos, motivo pelo qual h convergncia nos processos de diges-
to e respirao, quando glicose e oxignio se encontram no interior da
clula (mitocndria), produzindo gs carbnico e gua, surgiram outras
relaes com o conhecimento adquirido em outras sries, ou mesmo
em programas de TV, que pareciam fazer sentido. Um sentido para a
cincia! Assim outras dvidas apareceram: Ento uma ameba respira?
Que tipo de energia a clula produz (quando respira)?
Tambm foram colocados em alguns terrrios pequenos animais
(tatu-bola, mosca), para discutirmos a questo da respirao. Em vrios
momentos surgiram questes do tipo: Mas o mosquito respira?
Estes foram momentos de aparente ruptura com as concepes
alternativas na medida em que os alunos precisavam formular outras
hipteses e repensar suas concluses prvias diante de contradies
encontradas.
Tambm pudemos argumentar a respeito dos ciclos biogeoqu-
micos, tentando uma generalizao daquele pequeno ecossistema com
o planeta Terra, colocando as diversas interaes ecolgicas, como por
exemplo, o ciclo da gua e do nitrognio, culminando numa certa per-
cepo sobre a incompletude do conhecimento - ningum sabe tudo - e
na intertextualidade as coisas tm relaes com as outras.
ATIVIDADE 6: TEXTO
Iluminando o fenmeno da fotossntese
Um dos primeiros cientistas a se preocuparem com a luz no fen-
meno da fotossntese foi o alemo T.W. Engelman, o qual provou que
a clorofila absorve determinados comprimentos da luz branca. Em 1881,
utilizando-se de uma alga, (a Cladophora) e bactrias aerbias que pro-
curam altas concentraes de oxignio, pode constatar que atravs da
decomposio da luz (num diminuto espectro luminoso) incidida em um
pequeno filamento da alga, havia maior ou menor concentrao de bact-
rias dependendo das cores do espectro. Em outras palavras, ele concluiu
que em determinados comprimentos de onda, a fotossntese era mais
intensa, pois onde havia maior quantidade de oxignio, havia maior con-
92
centrao de bactrias. Isso mostra que a fotossntese possui um espectro
de ao, ou seja, os diferentes comprimentos de onda da luz branca.
Reuna-se com seu grupo e planeje um experimento onde voc
possa constatar quais so esses comprimentos de onda que atuam mais
intensamente no processo da fotossntese.
No desenvolvimento do conhecimento do conceito, F.F.Blackman
no incio deste sculo mediu a produo de O2 de uma planta aqutica
denominada Anacharis densa mediante a sua exposio a vrias inten-
sidades luminosas. Verificou que muito ao contrrio do que se pensava
ou se pensa at hoje, a eliminao de O2 depende diretamente da inten-
sidade da luz somente dentro de uma faixa limitada. Ou seja, aumentos
na intensidade da luz no resultavam em aumento progressivo do oxi-
gnio produzido. E o contrrio tambm ocorria, quando a diminuio
da luz chegava a zero a taxa de O2 diminua ou cessava por completo.
Concluiu tambm que a luz seria responsvel por uma parte do proces-
so (reao no claro) a outra talvez pudesse ocorrer no escuro. Somente
anos mais tarde sua hiptese pode ser confirmada.
Voc j sabe que uma das cores menos utilizadas no processo da
fotossntese a verde, pois geralmente as cores que enxergamos so as
que so refletidas dos objetos. Portanto para procurarmos resolver esta
questo que tal pensarmos num experimento?
No entanto, uma dvida pode aparecer: se a cor verde refletida,
qual a cor que absorvida pela planta?
ATIVIDADE 7: MSICA
LuZ DO SOL - Caetano Veloso
Luz do sol
Que a folha traga e traduz
Em verde novo
Em folha em graa em vida em fora e luz
Cu azul que vem at onde os ps tocam a terra
E a terra inspira e exala seus azuis
Reza reza o rio
Crrego pro rio, rio pro mar
93
Reza correnteza roa a beira, areia
Marcha o homem sobre o cho
Leva no corao uma ferida acesa
Dono do sim e do no
Diante da viso da infinita beleza
Finda por ferir com a mo essa delicadeza
A coisa mais querida
A glria da vida
Luz do sol que folha e traduz
Em verde novo
Em folha em graa em vida em fora e luz
ATIVIDADE 8 TEXTO
Sobre a luz: percepo e conhecimento
55
A luz est associada a importantes dvidas da cincia, e questes
que parecem definitivamente resolvidas, produziram no passado muita
polmica. H muito tempo ela tem sido tema de investigao e ocupado
o pensamento de ilustrae estudiosos. Entre eles citamos aqui: Euclides
(sc. III a.C.); Aristteles (348-322 a.C.), Huygens (1629- 1695), Newton
(1642 1727), Young (1773 -1829), Maxwell (1831 1879), Einstein
(1879 1955), entre muitos outros.
As dvidas sobre a luz podem estar relacionadas sua natureza,
ou seja, questo: o que a luz? Podemos tambm querer identificar a
origem da luz; neste caso pode ser formulada a seguinte pergunta: como
a luz produzida? Podemos ainda buscar informaes sobre como a luz
se propaga, sobre o que ocorre com seres vivos quando so expostos
luz, sobre como ela possibilita a obteno de informaes, sobre a
utilidade da luz no desenvolvimento da medicina e de outras reas de
conhecimento. E uma preocupao bastante pertinente no mundo atual
deve ser a de se evitar que descobertas relativas luz e a outras radia-
es sejam utilizadas na construo de mais instrumentos blicos.
55 Texto anteriormente includo numa publicao interna da FE UNICAMP em 1993, de autoria de
Maria Jos P. M. de Almeida e Paulo Csar de Almeida Raboni: Textos de apoio ao ensino - a
luz vendo atravs de um culos.
94
Essas questes no so independentes umas das outras, mas, s
vezes, para efeito de estudo so focalizados apenas alguns aspectos
particulares.
Percebendo a Luz
A luz se manifesta no nosso dia a dia de vrias maneiras. Percebemos
alternadamente a presena e ausncia da luz solar devido ao movimento de
rotao da terra; notamos estrelas no cu, lmpadas no ambiente, o acender
e apagar de um vaga-lume, e sentimos muitos outros objetos luminosos.
Notamos tambm a Lua e objetos como os olhos de gato nas estradas. Estes
ltimos, embora no emitam luz, a refletem para os nossos olhos.
Alguns objetos se destacam de outros pela forte claridade que
apresentam, mas a luz no responsvel apenas pela percepo que
temos desses objetos. Graas a ela podemos ver tudo que nos rodeia.
compreensvel, portanto, que questes relacionadas viso dos objetos
tenham motivado algumas das primeiras dvidas e explicaes sobre o
comportamento da luz. Hoje essas questes j esto resolvidas. Sabe-
mos que, necessrio que os objetos emitam ou reflitam luz para que
possamos v-los. E para entendermos os mecanismos da viso e o fun-
cionamento de um simples culos, destinado a melhor-la, necessrio
conhecermos as propriedades da luz.
Por outro lado, a idealizao, construo e utilizao de instru-
mentos como lupas, microscpios e telescpios, que tm permitido ao
homem ver objetos menores, com mais detalhe, mais longe e num cam-
po de viso maior tm contribudo para novas descobertas sobre fen-
menos luminosos.
E no s com a viso que o homem tem se preocupado. A des-
coberta de novas propriedades sobre a luz tem levado criao de in-
meros dispositivos com os quais j nos acostumamos em nossa socieda-
de, como, por exemplo a ponteira LASER. Dispositivos semelhantes so
utilizados em pesquisas fsicas, na medicina, em telecomunicaes, etc.
Tambm verdade que, embora a viso seja responsvel pela cap-
tao de um nmero incalculvel de informaes sobre o mundo que
nos rodeia, no apenas com esse sentido que podemos perceber a luz.
Todos podemos notar o calor que acompanha a radiao luminosa.
95
Pensando a Luz
Apesar de podermos perceber constantemente a presena da luz,
no to fcil notarmos a grande quantidade de processos de que ela
faz parte. Dentre eles, a fotosntese sem dvida o principal, pois ela
a fonte do alimento que mantm a vida. Mas, esse processo qumico no
ser detalhado neste texto. Aqui vamos enfocar alguns aspectos do estudo
da luz relacionados construo de conhecimento pela cincia fsica.
So muitos os fenmenos que podemos notar na natureza e cuja
compreenso depende de conhecimentos relativos maneira como a
luz se comporta. Entre eles podemos citar: o aparecimento eventual de
um arco-ris depois e um dia de chuva; a aparncia estranha de uma
pessoa sentada na beira de uma piscina, com as pernas mergulhadas na
piscina, quando observada por algum dentro da piscina; a difcil pon-
taria quando se procura atingir um peixe de fora da gua; a constatao
de que quando levantamos o brao direito, olhando para um espelho, a
nossa imagem parece levantar o brao esquerdo.
Na construo do saber, que possibilita a compreenso desses e
de muitos outros fenmenos, so criadas teorias cuja produo envolve
conceitos e procedimentos variados. E a partir dessas teorias que po-
demos compreender uma enorme variedade de instrumentos, desde os
que nos parecem hoje bem simples, como o culos, at, por exemplo, os
mais complexos sistemas de telecomunicaes. Essas teorias so expres-
sas e, inclusive, se utilizam na sua construo uma linguagem prpria.
Feixe, pincel e raio luminoso so exemplos de noes presentes
na linguagem da ptica, a parte da fsica que estuda a luz. Nela como
em todas as cincias, encontramos leis e modelos, ou teorias com as
quais os cientistas procuram explicar os fenmenos da realidade per-
ceptvel, e avanam tambm na criao de fenmenos que antes no
haviam sido notados.
Enquanto os cientistas em seus estudos utilizam dispositivos varia-
dos, uns mais simples outros mais sofisticados, para avanar no conheci-
mento sobre a luz, e criam, por outro lado, dispositivos a partir das teorias
que produzem, ns para compreendermos o conhecimento historicamen-
te acumulado pelo cientista podemos nos valer de vrios recursos.
96
Vamos nos referir aqui a um dispositivo bastante simples que
nos permite notar algumas regularidades nos fenmenos luminosos..
Vamos pensar num pincel de luz produzido com o seguinte dispositivo:
uma caixa opaca com uma fenda de abertura varivel contendo uma
lmpada de filamento reto colocada na parede oposta da fenda e
com o filamento paralelo fenda. Acendendo a lmpada e estreitando
a fenda damos origem a um pincel bem fino. Se incidirmos esse pincel
em: espelhos, prismas, lminas transparentes de faces paralelas, e ou-
tros dispositivos, ns podemos observar o que ocorre com a luz quan-
do ela encontra a superfcie de separao entre dois meios materiais
diferentes. No caso, o ar e o objeto no qual fazemos o pincel incidir.
Procedimentos, como esse, nos permitem perceber regularidades no
comportamento da luz, como as seguintes:
A luz caminha em linha reta. Uma evidncia disso so as sombras
produzidas quando um objeto opaco se interpe no seu caminho;
Quando um pincel de luz incide na superfcie de separao entre
dois meios materiais, parte da luz desse pincel refletida para o meio
de onde incide a luz e parte passa para o outro meio. A quantidade
de luz refletida e a quantidade que passa para o outro meio depen-
dem de caractersticas dos dois meios e do ngulo de incidncia. Se,
por exemplo, um meio for o ar e o outro um espelho, quase toda a
luz que incide no espelho refletida.
O estabelecimento dessas e de outras regularidades, no depende
apenas de observaes empricas com dispositivos adequados; no
apenas pela percepo das coisas que se faz cincia, que o conhecimen-
to construdo. A compreenso do comportamento da natureza tem
exigido muita imaginao criadora na idealizadora na localizao de
esquemas de modelos e na operao com linguagens, visando notar re-
gularidades e expressa-las na forma de leis. E essas leis, embora ajudem
a compreender fenmenos observveis, no se confundem com eles.
Uma lei no expressa exatamente aquilo que percebemos com os
sentidos. Para exemplificar, vejamos o seguinte enunciado: Na reflexo
especular, o raio incidente, o raio refletido e a normal superfcie no
ponto de incidncia esto no mesmo plano. A rigor no podemos cons-
tatar essa lei, que se refere ao raio luminoso quando ele incide numa
superfcie refletora. Esse conceito, o de raio luminoso, muito utilizado
97
em esquemas explicativos de como a luz se comporta. Mas, como obter
um raio luminoso? Na prtica s podemos obter pincis de luz. E se
formos estreitando as fendas por onde eles passam, nunca chegaremos
ao raio. Isso ocorre devido a um outro comportamento da luz. Ela se
difrata quando passa por fendas muito estritas. Esse comportamento tem
sido, inclusive, utilizado como evidncia da natureza ondulatria da luz,
qual nos referimos no item seguinte.
Teorias sobre a Luz
Para finalizarmos estes comentrios sobre percepo e conheci-
mento a respeito da luz, faremos uma referncia a modelos com os
quais o homem tem procurado entender a natureza da luz.
Enquanto alguns estudiosos a imaginaram composta de pequenos
corpsculos, outros a pensaram como uma onda, e tanto uma teoria como
a outra permitiram avanos na compreenso do comportamento da luz.
Mas o cientista sempre procura elaborar modelos que expliquem o con-
junto de fenmenos observados, alm de permitirem fazer previses.
Como ocorrem fenmenos que evidenciam a natureza ondulatria
da luz e outros explicveis com o modelo corpuscular, se aceita que a
luz tem comportamento dual. Um ou outro modelo verificado depen-
dendo das condies em que a luz produzida. E a ltima compreenso
que se tem sobre esse assunto certamente no ser a ltima. Fenmenos
relacionados luz continuaro a ser percebidos, produzidos, e continu-
aro os estudos para compreend-los.
Bibliografia
FSICA Physical Science Study Committee. So Paulo: Edart, 1970 v.II.
GILBERT, A. Origens histricas da Fsica Moderna. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 1982, p 82-148.
PROJETO FSICA: Luz e Eletromagnetismo. Lisboa: fundao Calouste Gul-
benkian, unidade 4.
Sugestes de leituras
ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Prescries e recomendaes ao professor na so-
luo de problemas do ensino na educao em cincias. Ciencia&Ensino, v.
1, p. 47-51, 2006
98
ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Historicidade e interdiscurso: pensando a educa-
o em cincias na escola bsica. Cincia & Educao, Bauru, v. 10, n. 3, p.
333-341, 2004.
ALMEIDA, Maria Jos P.M. Discursos da Cincia e da Escola: ideologia e leituras
possveis. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
ALMEIDA, Maria Jos P. M.; SILVA, Henrique Csar da; MACHADO, Jos Luis
Michinel. Condies de produo da leitura na educao em fsica. Revista
Brasileira de Pesquisa em Educao em Cincias, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p.
5-17, 2001.
ALMEIDA, Maria Jos P. M.; MOZENA, E. R.. Luz e outras formas de radiao
eletromagntica: leituras na 8a srie do ensino fundamental. Revista Brasileira
de Ensino de Fsica, Brasil, v. 22, n. 3, p. 426-433, 2000.
GAMA, Liliane Casteles; ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Condies de produo
numa leitura de divulgao cientfica. Revista Eletrnica Espiral, So Paulo, v.
7, n. 26, p. 1-6, 2006
GIRALDI, P. M.; SOUZA, S. C.. O funcionamento de analogias em textos didticos
de Biologia: questes de linguagem. Cincia & Ensino, v. 1, p. 1-12, 2006.
OCCHIONI, D. E.; LANA, Tatiana; ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Cinema e Es-
troboscpio em mediaes de sala de aula. Cincia & Ensino, Campinas, v.
11, p. 13-19, 2001.
SILVA, Henrique Csar da; ALMEIDA, Maria Jos P. M.. O deslocamento de
aspectos do funcionamento do discurso pedaggico pela leitura de textos
de divulgao cientfica em aulas de fsica. REEC. Revista Electrnica de En-
seanza de las Ciencias, Barcelona, v. 4, n. 3, p. 1-25, 2005.
SOUZA, S. C.; NASCIMENTO, T. G.. Um dilogo com as histrias de leituras de
futuros professores de cincias. Pro-Posies, v. 17, p. 105-136, 2006.
SOUZA, S. C.. Condies de produo de sentidos em textos didticos de cin-
cias. Ensaio. Pesquisa em Educao em Cincias, v. 8, p. 1-14, 2006.
SOUZA, S. C.; ALMEIDA, Maria Jos P. M. . Escrita no ensino de cincias: auto-
res do ensino fundamental. Cincia & Educao, v. 11, p. 367-382, 2005.
SOUZA, Suzani Cassiani de; ALMEIDA, Maria Jos P. M.. A fotossntese no en-
sino fundamental: compreendendo as interpretaes dos alunos. Cincia &
Educao, v. 8, n. 1, p. 97-111, 2002.
SOUZA, S. C.; SOUZA, C. E. P.. Contribuies para a educao ambiental numa
escola de cincias norte-americana. Cincia & Ensino, FE-Unicamp, v. 11, p.
27-29, 2002
SOUZA, Suzani Cassiani de; ALMEIDA, Maria Jos P. M.. Leituras na mediao
escolar em aulas de cincias: a fotossntese em textos originais de cientistas.
Pro-Posies, v. 12, n. 1, p. 110-125, 2001.
99
FOTOSSNTESE: A HISTRIA DA
CONSTRuO DE uM CONHECIMENTO
56
1 - Terra: planeta gua?
S
egundo Odum (1983), um ecossistema qualquer unidade que abran-
ja todos os organismos que funcionam em conjunto (...) interagindo
num ambiente fsico de tal forma que um fluxo de energia produza estru-
turas biticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais (os mine-
rais, o nitrognio, os compostos carbnicos, a gua) entre as partes vivas
e no-vivas. Um ecossistema uma unidade auto-suficiente, podendo ser
por exemplo, muito pequeno como o caso de uma poa dgua doce,
ou muito grande como o Oceano ndico. S h um requisito bsico para
a existncia do ecossistema - o suprimento constante de energia.
A fonte bsica dessa energia a luz solar captada pelos vegetais
no processo da Fotossntese. Como um dos fenmenos de maior impor-
tncia para a vida no planeta, a fotossntese s possvel porque alguns
organismos principalmente os vegetais - conseguem usar a energia
luminosa para formar compostos orgnicos. Portanto para haver vida,
necessrio uma grande interao entre o ambiente no vivo e os orga-
nismos nele existentes.
Com exceo de alguns microrganismos, os vegetais so respon-
sveis diretos pela produo de oxignio e pela fabricao de alimentos
em qualquer ecossistema, atravs de compostos simples como a gua
56 Este texto foi composto com a consulta e adaptao de textos de divulgao cientfica, textos
didticos e originais cientficos. Ele de autoria de SUZANI CASSIANI DE SOUZA retirado de
sua tese de doutorado Leitura e fotossntese: proposta de ensino numa abordagem cultural
da FE-Unicamp em 2000. O trabalho teve apoio do CNPq.
100
(H
2
O) e o dixido de carbono (CO
2
). Vale lembrar que quando falamos
sobre a produo de oxignio da Terra pelos vegetais, estamos nos refe-
rindo principalmente s algas marinhas que produzem cerca de 70% do
oxignio (O
2
), presente na atmosfera, o qual os seres vivos utilizam para
sua respirao. comum as pessoas pensarem que a Amaznia o pul-
mo do mundo, mas fcil repensar essa idia quando consideramos
que em uma floresta que atingiu o seu pleno desenvolvimento (clmax)
a produo do excesso de oxignio praticamente utilizada pelos orga-
nismos que se encontram na prpria floresta. Alm disso, h muito mais
condies de sobrevivncia para os vegetais (como luz, calor e gua)
no oceano, rios e lagos, do que em ecossistemas como os desertos ou
nos plos. Alis, a luz na gua do oceano chega a atingir at 200 metros,
possibilitando que a fotossntese ocorra at essa profundidade.
Os vegetais so tambm chamados de produtores. Essa denomi-
nao deriva de uma classificao tradicionalmente feita baseada em
trocas energticas entre os seres vivos, que se do atravs da competi-
o pela energia qumica que est nas molculas dos alimentos. Dessa
forma, produtores em sua maioria, so os vegetais que produzem o ali-
mento, consumidores so os animais (alm de outros reinos), que como
o prprio nome j diz consomem os alimentos e os decompositores so
os seres capazes de decompor os organismos mortos ou seus restos.
Estes ltimos participam da reciclagem da matria, pois transformam as
substncias orgnicas em inorgnicas em forma disponvel aos produ-
tores. Portanto todas as substncias retiradas do solo, da gua ou do ar
pelos produtores para a elaborao de compostos, so repassadas aos
consumidores e posteriormente devolvidas ao ambiente abitico, onde
ocasionalmente voltam a fazer parte novamente dos organismos vivos
atravs do processo da fotossntese, fechando o ciclo da matria atravs
de produtor-consumidor-decompositor-produtor e assim por diante.
Quando olhamos o ciclo da matria, maravilhoso imaginarmos
o minsculo universo dos tomos, se pensarmos na viagem que hi-
potticos tomos de ferro, por exemplo, podem fazer quando eles so
expelidos por um vulco. Essa lava do vulco se resfria, vira rocha e
com o passar de milhares de anos essa mesma rocha (com os mesmos
tomos de ferro), se decompe e vira solo. Os vegetais (semeados pe-
101
los pssaros, vento, gua, alm de outros mecanismos de disperso de
sementes) que se desenvolvero nesse solo, absorvero os tomos de
ferro que podero vir a fazer parte do cloroplasto onde ocorrer a fotos-
sntese. Ao comermos esse vegetal que se utilizou dos tomos de ferro,
as molculas sero transformadas na digesto e os mesmos tomos de
ferro, podero fazer parte de nossas molculas de hemoglobina que
esto no sangue transportando os gases (oxignio para as clulas, gs
carbnico para fora do organismo). Quando morremos, esses mesmos
tomos de ferro voltaro para o solo, atravs dos seres decompositores
(como fungos e bactrias) e sero novamente utilizados pelos vegetais,
assim perpetuando o ciclo da matria.
Existe competio em todos os nveis de qualquer ecossistema.
Por exemplo, numa floresta as plantas competem pela luz solar dispo-
nvel e pelos minerais existentes no solo. Os insetos por sua vez com-
petem pelas plantas e os pssaros predadores, por exemplo, tambm
competem entre eles pelos insetos e assim sucessivamente. Incontveis
formas de competio intra e interespecfica so possveis e nada mais
so do que simples tentativas de obteno de energia.
Calcula-se que 10 quilogramas de alimento digerido so gastos
para formar um quilograma de tecido vivo. Para exemplificar, con-
sideremos um leo que se alimenta de bois, sendo que essas duas
espcies so mantidas estveis em cada populao. Para haver
essa estabilidade, dever existir cerca de 10 quilogramas de boi
para cada quilograma de leo. Como os bois comem o capim,
deve haver 10 quilogramas de capim para cada quilograma de boi.
Ora, ento so necessrios 100 quilogramas de capim para cada
quilograma de leo? Exatamente! Observe a ilustrao:
102
Asimov (1965) considera que todo esse processo pode ser aplica-
do ao homem, pois com toda a sua capacidade inventiva, ele no con-
segue desafiar as leis da Termodinmica verdade que o homem pode
se suprir de alimentos s custas de espcies que ele no utiliza (ou no
quer utilizar) para comer. Isto , pode remover florestas e plantar cereais
em seu lugar, matando espcies no desejveis, ou eliminando todas as
espcies de insetos que querem um lugar mesa (ou ao menos matar
todos os que consegue). Pode criar animais para comer, deslocando as
espcies selvagens ou predadoras. Mas no fim, a massa de comida que
necessitar ser dez vezes maior do que a humanidade.(p. 474)
Para ilustrar essa transferncia de energia dos alimentos numa
cadeia alimentar, a Figura 2 pode nos dar uma idia do que uma pi-
rmide de massa:
Fig.2 - Pirmide de Massa (kg/hectare) do Lago do Wisconsin (USA) (adaptado de BAKER & AL-
LEN,1975, p.657).
A pirmide de massa como comumente chamada, medida pela
quantidade total de alimento que decresce a cada nvel trfico, ao longo
da cadeia alimentar. Tambm mostra a quantidade de massa expressa
em quilogramas por hectare (rea equivalente a 10.000m
2
).
A Figura 2 representa o fluxo de energia no ambiente de um
lago de gua doce. Como possvel observar, os 1.696 kg de matria
produzida pelos vegetais (algas) do lago, sustentaro apenas 221 kg
de consumidores primrios (p.ex., pequenos crustceos - coppodes)
e esses sustentaro apenas 23 kg de consumidores secundrios (p. ex.
peixes).Em cada etapa dessa cadeia h uma grande perda de material,
pois consegue-se apenas utilizar um pouco mais de 10% da energia total
disponvel na etapa precedente. Se calcularmos a quantidade de matria
consumidores secundrios - 23 kg (peixes)
consumidores primrios - 221 kg (coppodes)
produtores 1.696 kg (algas)
103
das algas 1.696 kg para 23 kg de peixes, ignorando as etapas interme-
dirias, teremos uma transferncia de energia de cerca de apenas 1,3%:
1696 - 100 %
23 - X
X= 2300
1696
X=1,3 %
Mas por que razo a cada etapa da cadeia alimentar apenas uma
frao de energia potencial aproveitada?
Essa explicao pode ser encontrada nas Leis da Termodinmica.
A primeira se refere impossibilidade da criao ou destruio da ener-
gia (de um suposto sistema isolado) nas reaes qumicas comuns. H
sim, a possibilidade de modificao do tipo de energia, por exemplo, a
energia solar em energia qumica.
A segunda lei da Termodinmica entretanto, assegura que a quan-
tidade total de energia utilizvel de um sistema isolado tende a diminuir
com o tempo, pois nos processos reais nenhuma forma de transforma-
o de energia 100% eficiente, j que nestes sempre h dissipao de
energia em forma de calor.
Se aplicarmos essas leis cadeia alimentar a pergunta feita ante-
riormente pode ser respondida. Como se pode notar h um desper-
dcio de energia e se a cadeia de alimentos dependesse somente dos
seres vivos, a vida terminaria rapidamente, no entanto ela existe em
quantidade h pelo menos um bilho de anos e para tanto, uma fonte
de energia essencial vida a Energia Solar.
A quantidade de energia que chega em nosso planeta diariamente
equivale segundo Castellani & Gardel (1994) a um milho de bombas
atmicas iguais s de Hiroshima. Um tero dessa energia refletida
como luz, parte absorvida e convertida em calor. Uma pequena frao
de energia transformada em energia qumica, no processo denomina-
do fotossntese. Como ser ento a transformao desse tipo de energia
em matria? Como acontece esse processo de sntese de substncias
orgnicas, alimentos, utilizando a luz?
104
2 - A fotossntese
Quando olhamos ao nosso redor ficamos tentados a pensar que as
coisas sempre foram da maneira como as conhecemos, ou seja, quase
nunca refletimos de onde vm os materiais utilizados para a produo
dos objetos ou como eles foram construdos. O papel e a tinta desse
texto, as roupas que estamos usando nesse momento ou os tijolos e o ci-
mento que estruturam as paredes de nossas casas tm uma histria cujo
enredo remonta h milhares de anos. Podemos supor que a confeco
de cada objeto pode ter sido uma sucesso de erros ou aprimoramentos
que certamente fogem de nossa percepo cotidiana. Mergulhados em
nossa vida diria deixamos de perceber muitas coisas que esto acon-
tecendo e virando histria. O uso de computadores sem dvida um
exemplo de revoluo nos costumes de nossa sociedade.
Num exerccio de recuperar um pouco a histria dos objetos, po-
demos nos perguntar por exemplo, qual a matria prima que compe
esses objetos e como ela transformada.
Como os objetos, a cincia tambm faz parte da histria, princi-
palmente se a consideramos uma construo humana do conhecimento
sobre a natureza, ou seja, se pensarmos que o conhecimento foi sendo
construdo pelo homem, tendo como objeto de estudo a natureza.
Com o fenmeno da fotossntese no foi diferente. Desde muito
tempo hipteses tm sido levantadas e concluses refutadas acerca des-
se fenmeno. Muitas vezes ficamos at tentados a zombar de antigas
idias que os cientistas possuam para explic-lo, mas qual no nossa
surpresa quando ainda hoje essas antigas idias esto presentes nas ex-
plicaes que as pessoas do para esclarecer o seu cotidiano?
Para termos idia de como a cincia pode se desenvolver, inicia-
remos a explicao da fotossntese seguindo os passos e rumos que as
pessoas que fizeram cincia seguiram at os dias de hoje e, como esse
fenmeno entendido atualmente, mesmo que seja apenas uma parcela
desse complexo conhecimento.
3 - A planta se alimenta do solo?
Aristteles e outros filsofos gregos que viveram por volta de 335
a.C. acreditavam que a diferena entre os seres vivos correspondia exa-
105
tamente separao entre o homem, os animais e as plantas e suas di-
ferentes qualidades correspondiam aos diferentes tipos de almas a eles
atribudos por Deus (Jacob, 1983).
Entre tantas outras indagaes, consideravam que o alimento pro-
duzido pela planta era retirado diretamente do solo. Como as plantas
crescem no solo fcil concluir, grosso modo, que o material que a
compe seja totalmente retirado dele.
Somente h cerca de 300 anos atrs, Johan Baptista van Helmont
(1577-1644), um dos ltimos e maiores alquimistas, mas tambm um dos
primeiros praticantes da qumica que conhecemos hoje, realizou um ex-
perimento bem interessante, cujo resultado fez cair por terra a hiptese
da alimentao da planta ser feita pelo solo. Em suas prprias palavras:
Tomei um vaso de barro, no qual coloquei 100 quilogramas de terra
que havia secado em um forno e que umedeci com gua de chuva
e ali plantei o caule de um salgueiro que pesava dois quilogramas
e meio. E eis que, passados cinco anos, a rvore que ali se originou
pesava cerca de 80 quilogramas. Quando era necessrio, eu sempre
umedecia o vaso de barro com gua de chuva ou gua destilada, e
o vaso era grande e estava implantado na terra. Para que a poeira
levada pelo vento no se misturasse terra do vaso, cobri-lhe a aber-
tura com uma placa de ferro revestida de estanho e com mltiplas
perfuraes. No computei o peso das folhas que caram em quatro
outonos. Por fim, tornei a secar a terra do vaso e ali encontrei os
mesmos 100 quilogramas, com alguns gramas a menos. Portanto,
80 quilogramas de madeira, cortia e razes, surgiram unicamente a
partir da gua
57
. Johan Baptiste van Helmont (1662, p. 109)
Fig. 3 - Peso da terra no primeiro vaso = 100 kg Peso inicial da rvore = 2,5 kg
Aps cinco anos, van Helmont constatou:
Peso da terra = 90,8 kg Peso da rvore = 77,1 kg (Fig. extrada de Baker, 1952, p.11)
57 Os trechos citados nesse texto foram retirados dos artigos originais e de outros textos que abor-
daram o tema (ver bibliografia)
106
De suas observaes, van Helmont concluiu que toda madeira
formada havia se originado da gua. Essa concluso no o surpreendeu,
pois ele se baseava na noo de Transmutao, cuja idia possua
uma remota origem nos gregos, os quais consideravam que toda a ma-
tria era formada por um tipo de substncia (ou a mistura de poucas),
traduzida em diferentes formas. Ento no era difcil para van Helmont
concluir que a gua havia se transmutado em madeira.
Seguindo esse mesmo raciocnio, muitos investigadores confirma-
ram essa idia, entre eles Robert Boyle (1627-1691), a quem van
Helmont tinha considervel influncia atravs de seus trabalhos.
Porm, apesar de a gua ter importante papel no desenvolvimento
das plantas, van Helmont se equivocou ao concluir que a matria vegetal
(responsvel pela diferena de peso) tinha sido proveniente unicamente
da gua. Alm disso, tambm no levou em considerao o papel dos
gases na atmosfera, alm de outros fatores que com o passar do tempo
outros investigadores perceberam, porm houve um salto em relao ao
que se pensava iniciando dessa forma a pesquisa sobre o fenmeno que
outros levariam adiante.
4 - A gua se transforma em madeira?
John Woodward, fsico e professor da Cambridge University du-
rante a dcada de 1690, questionou a concluso de van Helmont.
Ele afirmava que mesmo a gua mais clara estava longe de ser
pura. Em seus experimentos utilizou-se de diferentes tipos de
plantas colocadas em gua de fontes, de chuva, de torneira, de
solo de jardim, etc, e concluiu que a gua seria somente um ve-
culo para a matria terrestre que formava os vegetais.
Alm disso, nas ltimas dcadas do sculo XVII com o desenvol-
vimento do microscpio e seu emprego nas cincias naturais, algumas
pessoas passaram a observar pequenas aberturas nas folhas dos vege-
tais. Em especial Nehemiah Grew (1641-1680) atinou para uma funo
que at ento no havia ainda se pensado: poderia ser possvel que as
aberturas (estmatos) permitissem o intercmbio de substncias entre o
vegetal e a atmosfera? Nessa poca ele escreveu:
107
Mas como as peles dos animais, especialmente em algumas par-
tes, so feitas com certos poros abertos ou orifcios, cada qual
para a recepo ou eliminao de algo para o benefcio do cor-
po, ento igualmente as peles de grande parte das plantas so
formadas por vrios orifcios ou passaportes, cada qual para uma
melhor avolao (evaporao) de seiva suprflua ou de entrada
de ar. Nehemiah Grew (1676, p. 153 )
58
Quase que simultaneamente a Grew, outro investigador que ficou
famoso pelo uso do microscpio herdado de Galileu foi o italiano Marcello
Malpighi (1628-1640), que chegou s mesmas concluses de Grew .
Essas idias levaram Woodward a concluir que a grande maioria
da Massa Fluida [soluo aquosa] assim aspirada e conduzida atravs
de seus poros [estmatos] e exalada para a Atmosfera, estabelecendo
dessa forma, as primeiras idias entre a ocorrncia de uma interao
entre a planta e a atmosfera.
58 Traduo nossa
108
5 - Tem mais coisa no ar
Depois de quase 50 anos, o clrigo ingls Stephen Hales (1677-1761)
interessou-se pelo problema e continuou realizando suas pesquisas com
gases obtidos atravs da decomposio de vegetais e do calor. Podemos
observar abaixo, como ele chamava esses gases de ar, pois at ento no
se sabia da existncia dos diferentes gases presentes na atmosfera:
O excelente Senhor Boyle fez muitos experimentos sobre o ar e
entre as descobertas, achou que boa quantidade de ar era produ-
zido de vegetais, colocando uvas, ameixas, groselhas, cerejas, er-
vilhas e uma grande quantidade de outros frutos e gros dentro de
recipientes abertos e fechados, onde eles continuaram por vrios
dias emitindo grande quantidade de ar. Stephen Hales (1727)
59
No desenho abaixo possvel observarmos como ele conseguiu
produzir ar, atravs do calor com o seu balo pneumtico.
Fig.: 5 O Balo Pneumtico.(Nash, 1952 p.25)
59 Traduo nossa
109
Obviamente ele no pensou em examinar a natureza desses ares
liberados pelas plantas e pelo calor, nem suas concluses estavam isen-
tas de erros, mas ele teve um papel fundamental quando colocou em
cheque as pesquisas que absolutizavam o papel da terra ou da gua
transmutada em madeira, levantando o papel da interao entre a at-
mosfera e as plantas.
Um experimento bastante interessante pode ser observado para
acompanharmos sua forma de pensar:
H alguma razo para se suspeitar que as folhas e caules dos ve-
getais absorvem ar elstico, com base no seguinte experimento...
coloquei uma planta de hortel-pimenta bem enraizada em um
recipiente de vidro cheio de terra e depois o enchi de gua at
a borda; sobre esse recipiente coloquei uma campnula de vidro
invertida zz, aa [Fig. 4], sendo a gua aspirada para cima atravs
de um sifo para aa. Ao mesmo tempo, coloquei tambm outra
campnula de vidro zz, aa de tamanho igual ao da anterior, mas
sem a planta. Stephen Hales (1727)
O segundo vidro citado por ele era o controle. O uso do con-
trole levou-o a perceber quais as alteraes que eram decorrentes
da planta e quais eram decorrentes de outros fatores, por exemplo
a presso atmosfrica, cujas diferenas passaram a ser perceptveis,
quando utilizou dois frascos.
Fig. 6 Experimento de Hales, cujos resultados iniciaram as suspeitasde que o
ar participasse do processo de crescimento das plantas. (Fig. extrada de Baker,
1952, p. 16)
110
Alm disso, ao colocar uma nova planta, no mesmo frasco da
planta original, observou que ela havia morrido em cinco dias e a partir
da pde concluir que as plantas interagiam com a atmosfera e afetavam
as suas condies.
Atravs desse experimento, alm de outros inmeros realizados,
Hales concluiu que as plantas retiravam algo do ar alterando sua com-
posio, embora no soubesse em que consistia essa alterao. A des-
peito das evidncias e concluses encontradas sobre o papel das plantas
na atmosfera por Hales e por outros investigadores, muitos outros ainda
permaneceram bastante influenciados pelos resultados obtidos por Hel-
mont, sobre o experimento da transmutao da gua em madeira, mas
sem dvida esse foi mais um passo em direo a um maior conhecimen-
to sobre a fotossntese.
6 - Quem repara os danos causados pelos animais na atmosfera?
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) apesar de seu interesse es-
tar mais voltado ao estudo da qumica, atravs de seus estudos sobre
a combusto, conseguiu compilar e organizar as pesquisas anteriores
unificando-as numa hiptese bastante simples, principalmente para ns
que a olhamos nos dias de hoje:
H aqui , ento duas fontes a partir das quais plantas cultivadas
unicamente em gua podem obter os materiais [terrestres] que ne-
las so encontradas por anlise: a) da prpria gua e o pequeno
teor de material estranho proveniente do solo que devia estar pre-
sente [em soluo] em todos os casos [hipteses de van Helmont e
de Woodward]; b) do ar e as substncias de todos os tipos com as
quais est carregado[hiptese de Hales]. Antoine Lavoisier (1770).
Em 1770 o pastor ingls Joseph Priestley (1733-1804) deu mais um
passo adiante. Como qumico, Priestley tambm se interessava pela inves-
tigao dos gases envolvidos na vida vegetal. Atravs de experimentos
(Fig. 5) compreendeu que velas acesas e animais prejudicavam o ar:
A quantidade de ar de que at uma chama necessita prodigio-
sa. Diz-se geralmente que uma vela comum consome, por assim
dizer, cerca de quatro litros e meio de ar em um minuto. Conside-
rando esse admirvel consumo de ar, por fogo de todos os tipos,
vulces, etc., vem a se constituir em importantes objetos de inda-
111
gao filosfica, que alteraes so produzidas na constituio do
ar pelas chamas e a descoberta de que medidas so tomadas pela
natureza para reparar os danos que a atmosfera recebe por esse
meio. Joseph Priestley (1772)
Fig. 7 Experimento de Priestley (Fig. extrada de Baker,
1952, p. 18)
Um ambiente sem oxignio, produzido pela respirao de ratos
ou a queima de velas, ou mesmo com materiais em putrefao tais
como ratos mortos, Priestley chamava de ar viciado. Ambientes com
a presena de oxignio, ele chamava de ar restaurado. Pensava em
hipteses que pudessem dar conta da restaurao do ar na natureza
60
.
Para ele no poderia existir vida por muito tempo se no existisse essa
funo de restaurao. Ento, segundo ele mesmo descreve, acidental-
mente
61
fez uma descoberta importante:
Gabo-me de haver acidentalmente atinado com um mtodo de
restaurao do ar que tenha sido danificado pela combusto de
velas, e de descobrir pelo menos um dos restauradores que a na-
tureza utiliza para essa finalidade. a vegetao... De que maneira
esse processo opera na natureza, para conseguir to notvel efei-
to, no pretendo ter descoberto. Joseph Priestley (1772)
60 Novamente, vemos a palavra ar, ainda ser utilizada de forma generalizada.
61 Segundo Nash (1957, p. 36), muitas das importantes descobertas de Priestley, aparecem su-
perficialmente descritas como meros e afortunados acidentes. Para alguns isso verdade at
certo ponto, mesmo que para tanto, ele tenha cometido determinadas aes para conseguir
tais acidentes. Porm para outros, os acidentes eram produtos de anlises perceptivas de um
problema, seguido de uma srie de sistemticas tentativas para achar sua soluo.
112
Fig. 8 Experimentos de Priestley. De seus resultados,
concluiu que as plantas revertem os efeitos da respira-
o (Fig. extrada de Baker, 1952, p.23)
Num dos trechos deste trabalho, Priestley citou uma carta
62
de
Benjamin Franklin, um respeitado investigador daqueles tempos, para
dar suporte as suas concluses:
Doutor Franklin, quem viu algumas de minhas plantas num
estado bastante florescente, num ar altamente nauseante, estava
agradecido em poder expressar sua grande satisfao com os re-
sultados dos experimentos. Em sua resposta a minha carta, na
qual eu informei meus resultados, ele disse:
Que a criao vegetal devesse restaurar o ar, o qual danificado
pela parte animal, parece um sistema racional e parece ser uma
pea do resto.
Desta maneira, o fogo purifica a gua em todo o mundo. Ele pu-
rifica a gua pela destilao, quando ela sobe pelos vapores e
cai como chuva; e mais ainda pela filtrao, quando se mantm
fluida e se infiltra na terra. Antes ns sabamos que substncias
de animais ptridos eram convertidas em doces vegetais, quando
misturados na terra e colocados como adubo e agora parece que as
mesmas substncias ptridas misturadas com o ar tem efeito simi-
lar. A fora do estado prspero de sua hortel em ar ptrido parece
demonstrar que o ar reparado por pegar alguma coisa dele e no
por adicionar algo nele. Eu espero que isso d algum controle
moda de destruir rvores que crescem prximas das casas, as quais
tm acompanhado nossos tardios progressos em jardinagem, de
uma opinio de que estas no sejam seres saudveis . Eu estou cer-
to de longas observaes,de que no h nada no saudvel no ar
dos bosques; para ns, americanos que temos em todos os lugares
nossas habitaes no campo, entre as rvores, no h pessoas na
62 Cartas e relatrios dos experimentos foram publicados nos sculos XXVII e XVIII na revista
The Philosophical Transactions of the Royal Society of London, como artigos cientficos. Para
maiores detalhes ler D. Atkinson (1999), sobre a evoluo do discurso cientfico.
113
terra que gozem de melhor sade, ou que sejam mais prolficas.
Benjamin Franklin citado por Joseph Priestley
63
possvel perceber no discurso de Franklin, apesar de seu ufanis-
mo americano, a interessante relao que ele faz com o ciclo da matria
ao relacionar a matria em decomposio colocada na terra e a trans-
formao do ar viciado, divergindo de opinies que consideravam os
vegetais prejudiciais sade no sculo XVIII. Alm disso, as mesmas
concluses sobre a extrao e no a adio de algo no ar, so comparti-
lhadas por ele. Nesse outro trecho Priestley aprofunda essa questo,
Quando animais morrem por serem colocados com outros ani-
mais que haviam morrido, antes disso respirando tanto quanto
poderiam, evidente que a causa de sua morte, no o efeito
de algum pabulum vitae, como tem sido suposto estar contido no
ar, mas sim por conta do ar ter sido impregnado com algo esti-
mulando de seus pulmes, pois eles quase sempre morrem em
convulses e so algumas vezes afetados to repentinamente que
so irrecuperveis depois de uma simples inspirao, embora eles
sejam retirados imediatamente e todo mtodo tenha sido dado
para traz-los de volta a vida. (Joseph Priestley)
64
Priestley relata nesse trecho que os ratos morriam repentinamente,
depois de certo tempo respirando normalmente. O fato deste comporta-
mento ser diferente de um estado de morrer de fome, onde as energias
vo sendo perdidas aos poucos, levou o investigador a considerar que
havia uma interao entre o que saa dos pulmes do rato e o ambiente
externo. Era como se algo os tivessem envenenado.
Fig. 9 Rato morto por falta de oxignio (Fig. extrada de
Baker, 1952, p. 19)
63 Traduo nossa
64 Ibid
114
Fig.10 Rato vivo com planta e morto sem a planta
(Fig. extrada de Baker, 1952, p. 30 )
Nesses termos, os vapores nauseantes, produtos da combus-
to, putrefao e respirao, formavam o ar viciado que era visto
como se fosse um tipo de adubo areo, cuja subtrao pela planta,
era para seu prprio benefcio. Essas concluses vieram a corroborar
com o pensamento cientfico da poca a Teoria do Flogisto a
mais influente teoria qumica daqueles dias. Nela era suposto que um
sutil fluido era jogado ao ar pela respirao, combusto e putrefao.
Se um volume de ar estivesse confinado e saturado com esse fluido
dizia-se que o ar estava flogisticado. interessante ressaltar que foi
baseado nessa teoria que Priestley conseguiu perceber alguma intera-
o entre os vegetais e a atmosfera.
claro que Priestley no chegou a descobrir todo o processo (na
verdade ainda hoje estamos tentando descobrir), mas a sua concluso
de que as plantas revertiam os efeitos da respirao deflogisticando o
ar, foi um passo a mais na construo do conhecimento cientfico sobre
fotossntese. Na poca suas concluses foram recebidas com severas
crticas por outros pesquisadores, pois estes no conseguiam obter os
mesmos resultados (talvez por no levarem em conta as mesmas vari-
veis dos experimentos de Priestley, por exemplo, realizarem seus expe-
rimentos em locais escuros).
7 - As plantas tambm respiram...
Lavoisier, cujos trabalhos apontaram para respirao como um
processo de combusto, (semelhante queima de uma vela, no qual os
compostos ricos em carbono combinam com o oxignio produzindo o
115
dixido de carbono (CO
2
) e gua), foi guilhotinado durante a revoluo
Francesa em funo de suas idias polticas.
Como contemporneo de Lavoisier, o mdico holands Jan Ingen-
Housz (1730-1799) estudou cuidadosamente os trabalhos de Priestley.
Segundo ele, em 1773 assistiu uma palestra de Priestley, cujo interesse
pelo estudo da ordem natural das coisas nasceu da e continuou algu-
mas idias que Lavoisier havia levantado.
Ele relata que ficou pensando sobre esse problema nos anos de
1773 at 1779, em Viena onde trabalhava, pois no possua tempo nem
condies fsicas ou espaciais, para a realizao de trabalhos experimen-
tais. Em 1779, nos trs meses de vero que se ausentou de seu posto e foi
para a Inglaterra, Ingen-Housz fez cerca de 500 experimentos e escreveu
um notvel livro Experimentos sobre Vegetais (Experiments Upon Ve-
getables). Ele iniciou os experimentos duplicando o que Priestley havia
feito e j a partir da comeou a reparar alguns pontos obscuros:
Quando comecei os experimentos que so o objeto deste livro,
eu pensei que a ao concernente, poderia depender somente das
plantas, mas logo reconheci meu erro. Se a vegetao era a causa
de sua salutar influncia no ar comum, elas deveriam produzir o
mesmo efeito todo o tempo, em todos os lugares que pudessem
crescer. Mas isto est longe de ser verdade: uma planta pode viver
e mesmo crescer num considervel tamanho no escuro, onde no
ir produzir o ar deflogisticado, nem ter a habilidade de corrigir
o ar, mas pelo contrrio ela emite para o ar um veneno.
Quando eu reconheci essa espantosa diferena entre os efeitos
produzidos pelas plantas que recebem luz e aquelas que ficam no
escuro, no tive nenhuma dificuldade em reconhecer que a vari-
vel, inconstante e muitas vezes contraditria, aos resultados dos
experimentos do Dr. Priestley que tinha bem observado que as
plantas algumas vezes melhoram o ar comum e corrigem o ar ruim
e quem acreditava que quando um efeito contrrio ocorria, era de-
vido as plantas se tornarem doentes. (Jan Ingen-Housz, 1779)
65
Ele viu o significado dos efeitos dos vegetais na atmosfera, em
escala planetria e foi o primeiro a apontar que as plantas absorviam
a gua e CO
2,
utilizando a energia da luz, e atravs desse processo for-
mavam seus tecidos respirando o oxignio. Alm disso, Ingen-Housz
65 Traduo nossa
116
notou que somente as partes verdes das plantas realizavam essa funo
(o processo fotossinttico), ou seja, as folhas e os caules verdes:
Eu estaria mais inclinado a acreditar que a maravilhosa fora da na-
tureza, de transformar uma substncia em outra e de promover per-
petuamente essa transmutao de substncias, que podemos obser-
var por todos os lugares, realizada nessa substncia vegetal verde
de forma mais ampla e mais conspcua... a prpria gua ou alguma
substncia na gua, , eu acho, transformada dentro dessa vegetao
e sofre, por influncia do Sol que brilha nela, nessa substncia ou
tipo de planta, tal qual uma metamorfose que torna-se agora o que
denominamos de ar deflogisticado. Essa transmutao real, embora
maravilhosa para os olhos de um filsofo, no ainda mais extra-
ordinria que a mudana da grama e outros vegetais em gordura
dentro do corpo dos animais herbvoros, ou a produo de leo por
um suco aquoso de uma oliveira. (Jan Ingen-Housz, 1779)
66
Fig.11 Essas experincias demonstram a descoberta de Ingen-Housz de que
necessria a substncia verde para que as plantas fabriquem matria vegetal. Ele
notou que tanto as plantas verdes como as no verdes respiram (isto , eliminam
CO
2
) . Finalmente e o mais importante, Ingen-Housz descobriu que mesmo pores
de plantas verdes necessitam de luz para eliminar oxignio . A) talos verdes liberam
oxignio e gs carbnico em presena de luz, porm a quantidade de oxignio
maior; B) folhas verdes liberam oxignio e gs carbnico em presena de luz, porm
a quantidade de oxignio maior; C) partes no verdes da planta (raiz, caule, fruto,
etc.) liberam somente gs carbnico (Fig. extrada de Baker & Allen, p. 185)
Note que a passagem em negrito do trecho anterior, mostra uma
certa indicao da influncia da Teoria da Gerao Espontnea, que
iniciava na poca um quente debate.
No incio dessa discusso Priestley foi resistente e fez comentrios
irnicos sobre a matria verde fazer fotossntese. Observemos uma pas-
sagem de Priestley, criticando Ingen-Houz.
66 Ibid
117
A idia do Dr. Ingen-Houz de que a origem dessa matria vegetal,
como ele mesmo permite dizer, mais extraordinria, considerando
quanto tempo a doutrina do equvoco ou a Gerao Espontnea tem
sido explodida. Ele diz (e cita a passagem anterior de Ingen-Houz).
Mas a mudana de gua em uma planta organizada algo de na-
tureza bem diferente dessa idia. Joseph Priestley (1779)
Ele no concordava que somente as partes verdes da planta pudes-
sem deflogisticar o ar. Ainda mais que esta concluso estava atrelada a
Teoria da Gerao Espontnea, da qual Priestley no compactuava.
Apesar de ser um equvoco achar que a matria verde era pro-
duzida na gua, a descoberta de Ingen-Houz sobre as partes verdes da
planta fazerem fotossntese, foi muito importante do ponto de vista do
desenvolvimento do conceito. Esse resultado contribuiu para o que se
sabe hoje sobre a funo do cloroplasto. Ao contrrio do que muita
gente pensa a folha no similar ao pulmo humano, como geralmente
aparece nos livros didticos de cincias, quase sempre relacionando os
dois por fazerem trocas gasosas com a atmosfera. A folha contm clu-
las que por sua vez contm cloroplastos, que so os responsveis pela
fotossntese. Dessa forma, pedaos de folhas fazem fotossntese por um
tempo, porque quando cortamos as folhas, ainda ficam os cloroplastos
que continuam fazendo fotossntese (quando em presena de luz).
Enfim, as descobertas mais importantes que Ingen-Housz fez po-
dem ser sumarizadas nesses itens:
Plantas expostas luz solar emitem o ar deflogisticado (com oxignio).
Nem todas as partes da planta conseguem emitir o ar deflogisticado,
somente as folhas e caules verdes quando esto iluminados.
Folhas verdes no escuro e, razes, flores, frutos, etc, se na luz ou no
escuro, produzem ar flogisticado ou viciado, pois emitem um gs
txico (segundo Ingen-Housz, hoje conhecido como gs carbnico)
Um ciclo normal de iluminao melhora a atmosfera durante o dia
pelas folhas verdes e piora noite. Por outras partes da planta (que
no as verdes), todo o tempo ocorre a viciao (liberao de CO
2
)
Hipteses de Ingen-Housz para explicar a fotossntese:
Luz + cor verde
Algo do ar + gua substncia vegetal + ar restaurado
Ar com flogisto flogisto + ar deflogisticado
118
Apesar desse avano, sobre a importncia da luz, Ingen-Housz
no conseguiu explicar por que a luz era importante nesse processo.
bem provvel que todas essas idias sobre envenenamento do
ar pelas plantas, possam ainda estar presentes em nossas cabeas. co-
mum algumas pessoas condenarem a permanncia de plantas no quarto
de dormir, por estas eliminarem vapores venenosos que podem preju-
dicar as pessoas que estiverem dormindo. Talvez, essas idias sob enve-
nenamento do ar, nada mais sejam do que resqucios do sculo XVIII,
baseados nos estudos sobre a respirao das plantas.
Quando h luz ou no, as plantas respiram, ou seja, usam o oxi-
gnio e eliminam o gs carbnico 24 horas por dia. Portanto, eliminam
CO
2
dia e noite. Mas isso, no as fazem assassinas da calada da noite:
elas esto simplesmente respirando, assim como ns. Porm quando h
luz, elas tambm fazem fotossntese, observemos a tabela seguinte:
Fenmenos que
ocorrem no vegetal
Frmula Qumica
(simplifcada e no balanceada)
Local da clula
em que ocorre
Perodo em
que ocorre
FOTOSSNTESE
CO
2
+ H2O O2 + C6H12O
GS CARBNICO E GUA = OXIGNIO E GLICOSE
Cloroplasto
Em presena
de luz
RESPIRAO
O
2
+ C
6
H
12
O
6
CO
2
+ H
2
O
OXIGNIO E GLICOSE = GS CARBNICO E GUA
Mitocndria
24 horas
por dia
Observe que os dois fenmenos no vegetal, podem ser simultne-
os em alguns momentos. Por exemplo, quando h presena de luz, h
fotossntese e respirao. Portanto mesmo quando o vegetal faz fotos-
sntese, ele precisa respirar.
8 - Com essas concluses outras perguntas aparecem...
De onde provm o gs oxignio (O
2
) liberado pela planta? Da
gua (H
2
O)? Do gs carbnico (CO
2
)? De ambos?
O cientista francs M. Berthollet (1748-1822) postulava que o gs
oxignio provinha das molculas de gua absorvidas pela planta. Sua
hiptese se baseava num experimento. Ele cultivou plantas em um meio
que no continha hidrognio e ao analisar as substncias que compem
o vegetal, concluiu que a presena de hidrognio nas molculas consti-
tuintes da planta, s poderia ser explicada se o oxignio viesse da gua.
119
Porm outro francs Jean Senebier (1742-1809) discordava dessa
concluso e por sua vez postulava que o oxignio provinha do CO
2
.
Para refutar a hiptese de Berthollet, Senebier raciocinou que se o gs
oxignio viesse das molculas de gua ento as folhas deveriam eliminar
oxignio quando imersas na gua e realizou o seguinte experimento:
Fig. 12 A primeira experincia de Senebier. A) Folhas
imersas na gua sem gs carbnico no liberam oxignio.
B) Folhas imersas em gua com gs carbnico liberam
oxignio. (Fig. extrada de Baker & Allen, 1975, p. 187)
Conforme esperava, num meio onde no houvesse CO
2
as plan-
tas no eliminavam oxignio. Por outro lado (segundo ele) quanto
mais CO
2
fosse fornecido planta maior seria a produo de oxignio.
Desse resultado ele concluiu que o oxignio era proveniente do gs
carbnico. Porm para eliminar mais dvidas ele colocou folhas, ele
executou outro experimento:
Fig. 13 Outra experincia de Senebier. A) As folhas pa-
ram de liberar oxignio depois de um determinado tempo.
B) Apesar de folhas frescas, no h liberao de oxignio
quando elas so colocadas na mesma gua do recipiente.
C) Quando gua trocada comea a liberao de oxig-
nio. (Fig. extrada de Baker & Allen, 1975, p. 188).
120
Com este experimento, ele pensou que eliminaria a hiptese de
Berthollet, pois se o oxignio viesse mesmo da gua, o recipiente B,
deveria produzir oxignio.
Qual dos dois estaria com a razo: Berthollet ao afirmar que o gs
oxignio era produzido a partir da gua ou Senebier que afirmava ser a
produo a partir do CO
2
?
Nessa fase outro investigador entrou na disputa, Nicola Theo-
dore de Sausurre (1767-1845). Ele no se contentava em saber apenas
o que acontecia, mas tambm se interessava pelas quantidades e em
encontrar formas de mensurar os fenmenos. Por exemplo, contradi-
zendo o que dizia Senebier, descobriu que o excesso de CO
2
podia
levar a planta morte. Ao demonstrar que as plantas cultivadas em
atmosfera confinada no eram capazes de aumentar seu contedo de
carbono em quantidades significativas, Saussure concluiu que o pro-
cesso da fotossntese resultava da degradao do CO
2
de certa forma
apoiando equivocadamente a hiptese de Senebier a qual havia ques-
tionado. Porm, nenhum dos trs ficou sabendo naquela poca qual
deles tinha razo sobre a origem do oxignio. Somente um sculo
depois que o problema foi resolvido.
9 - Ser que aristteles estava com a razo?
Apesar das concluses de van Helmont basearem-se na transmu-
tao da gua em madeira, estabelecendo que a gua era principal ali-
mento da planta, havia tambm a constatao de que alguns gramas de
solo teriam sido utilizados. Woodward por sua vez contrariou van Hel-
mont construindo experimentos que demonstravam que plantas regadas
com gua misturada ao solo se desenvolviam muito melhor. Saussure
resgatou esses experimentos depois de mais ou menos 100 anos de
forma mais sistemtica e descobriu que as plantas cresciam conside-
ravelmente com a presena de nitrato adicionado gua. Ento uma
questo ainda persistia: Aristteles estaria certo ao afirmar que o solo
era o alimento da planta?
Em 1860, o alemo Julius Sachs recuperou alguns dados de Woo-
dward. Colocou brotos de feijo, milho e trigo sarraceno em jarras de
vidro com a seguinte soluo:
121
gua destilada 1.000 cm
3
Nitrato de potssio 1,0 g
Cloreto de sdio 0,5 g
Sulfato de sdio 0,5 g
Sulfato de magnsio 0,5 g
Fosfato de clcio 0,5 g
Em outros vasos colocou somente gua destilada. Como resulta-
do Sachs observou um bom desenvolvimento das plantas tratadas com
a soluo descrita. Porm as terceiras ou quartas folhas que surgiram
dessa mesma planta eram brancas e, observando-as ao microscpio,
notou a ausncia de cloroplastos. Concluiu que apesar da presena de
vrios agentes qumicos na soluo, alguns deveriam estar faltando.
Ao colocar algumas gotas de cloreto de ferro percebeu que as folhas
voltaram a sua colorao normal, concluindo assim que o ferro poderia
ser um importante agente na sntese da clorofila. Nessa mesma linha
de pesquisa, Sachs e outros investigadores estabeleceram outros ele-
mentos necessrios planta tais como: Fsforo, Nitrognio, Potssio,
Enxofre, Clcio, Ferro, Magnsio, ...
Por outro lado, somente na dcada de 20, com o advento de
tcnicas mais apropriadas para esse estudo descobriu-se que por mais
puros que fossem os produtos qumicos utilizados, ainda assim con-
tinham traos de outros elementos. Mesmo, nos frascos dos vidros,
algumas substncias poderiam ser desprendidas e at foi questionado
a contaminao da gua destilada nos aparelhos de destilao. Sur-
giu portanto a evidncia conclusiva de que as plantas necessitam de
diminutas quantidades de elementos tais como Boro, Cobre, Zinco e
Molibidnio. Mais recentemente soubemos tambm sobre a importn-
cia do Cloro, Cobalto, Vandio, Sdio.
Ento na dcada de 30, todo esse conhecimento produzido j ha-
via respondido vrias questes antigas como por exemplo, a utilizao
do solo, da gua e do CO
2
e da luz pelos vegetais verdes. Porm, outras
ainda persistiam como por exemplo, qual era a origem do oxignio
produzido e do hidrognio utilizado? Como as plantas utilizavam o oxi-
gnio? Como a gua utilizada no fenmeno?
122
10 - O conhecimento cientfico uma sucesso de erros e acertos?
Atravs de pesquisas sobre as sulfobactrias purpurinas que tam-
bm realizam a fotossntese (porm no h produo de oxignio), o
holands e microbiologista van Niel na dcada de 30 deu mais um salto
em direo ao conhecimento do fenmeno da fotossntese. Apesar de
reas ligeiramente diferentes, van Niel notou a semelhana dos proces-
sos. No caso das bactrias, elas se utilizam do sulfeto de hidrognio ao
invs da gua, produzindo carboidratos, gua e enxofre.
Van Niel raciocinou que se nas sulfobactrias o enxofre s po-
deria ser proveniente do sulfeto de hidrognio, nas plantas o oxignio
produzido s poderia ser proveniente da gua e no das molculas de
CO
2
. Veja o esquema representando os dois fenmenos e compare-os
de acordo com a hiptese de van Niel:
pelas sulfobactrias
LUZ
6 CO
2
+ 12 H
2
S (C
6
H
12
O
6
)
n
+ 6 H
2
O + 12 S
(dixido + (sulfeto de (carboidrato) + (gua) + (enxofre)
de carbono) hidrognio)
pelos vegetais
LUZ
6 CO
2
+ 12 H
2
0 C
6
H
12
0
6
+ 6 H
2
0 + 6 O
2
(dixido + (gua) (glicose) + (gua) + (oxignio)
de carbono)
Observe a similaridade nos processos acima. No primeiro caso h a for-
mao de enxofre proveniente do sulfeto de hidrognio (H
2
S) e no se-
gundo caso h a formao do gs oxignio proveniente da gua (H
2
O)
Algumas questes poderiam ser feitas nesse momento: ser que
no seria necessrio observar as diferenas bsicas envolvidas no pro-
cesso fotossinttico entre as bactrias e as plantas observando a comple-
xidade de suas estruturas?
Ser que o processo de transformao de energia luminosa em
qumica seria o mesmo para os dois tipos de seres vivos, mesmo que
algumas das matrias primas fossem diferentes?
123
Embora parea improvvel que o mesmo processo ocorra em or-
ganismos to distintos, por outro lado bem difcil que os seres vivos
tenham conseguido durante a evoluo, outras formas to eficientes de
converso de energia luminosa em energia qumica, o que de certa for-
ma d sustentao hiptese de van Niel. Tambm bom ressaltar que
as semelhanas entre as duas reaes qumicas, ou seja, na fotossntese
utilizando a gua para produzir o gs oxignio e nas sulfobactrias utili-
zando o sulfeto de hidrognio (ou cido sulfdrico) para produzir o en-
xofre, pode nos dar algumas evidncias de que as coisas acontecem na
natureza de forma espontnea, no algo programado por um desgnio
de alguma entidade mgica como uma funo pr-estabelecida.
Alm disso, interessante salientar que o conhecimento de um
fenmeno - a sntese das sulfobactrias - pode nos dar evidncias de
como outros fenmenos podem acontecer - a sntese das plantas - quan-
do checamos as semelhanas entre eles. Isso s possvel quando te-
mos acesso ao conhecimento produzido por outros pesquisadores.
Porm, essa hiptese de van Niel s pode ser confirmada quando
novas tcnicas de marcao de substncias, passaram a estar dispon-
veis. Em 1923, George Hevesy utilizou istopos radioativos de chumbo
para estabelecer a trajetria das substncias em vegetais. Tambm avan-
os ocorreram desde 1919 quando passou-se a utilizar a alga Chlorella,
que pela simplicidade de sua estrutura possibilitou um avano nas pes-
quisas sobre a fotossntese.
Em 1941 pesquisadores da Universidade da Califrnia realizaram
um experimento vital para o conhecimento do fenmeno. Ao utilizarem
uma gua marcada com o istopo O
18
presente na gua em lugar do O
16
puderam elaborar a seguinte hiptese: Se o O
18
aparecer nas molculas
de oxignio (O
2
) liberado pela fotossntese na Chlorella, ento poderiam
provar que realmente o oxignio produzido viria da gua, caso contrrio
a hiptese estaria equivocada
67
.
67 Istopos so elementos que possuem mesmo nmero atmico (nmero de prtons), mas dife-
rem no nmero de massa (soma dos prtons e nutrons). Nesse caso, o Oxignio 16 e 18 se
diferenciam pelo nmero de nutrons presentes no ncleo. Porm essa diferena no altera as
propriedades qumicas das molculas em que se encontram como constituintes, por exemplo,
no h alterao na molcula de gua.
124
Os resultados foram conclusivos: o oxignio estava marcado com
O
18
. Porm para que no houvesse dvida resolveram tambm fazer o
contrrio. Dessa vez, marcaram o CO
2
com o O
18
e este ltimo no apa-
receu no oxignio resultante, mas sim nos carboidratos, no restando
dvidas quanto ao destino da gua na produo do oxignio atmosf-
rico, demonstrando tambm que os tomos utilizados para constituir as
molculas dos carboidratos, vm do CO
2
e do hidrognio da gua. Veja
a representao abaixo com a quantidade de cada molcula para a rea-
lizao da reao qumica:
LUZ
6CO
2
+ 12H
2
O C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
+ 6H
2
O
CLOROFILA
luz desses novos conhecimentos interessante resgatar as hi-
pteses de Senebier e Sausurre (para ele o oxignio provinha do CO
2
),
Berthollet e van Niel (para eles o oxignio provinha da gua). Apesar
desses dois ltimos estarem certos, somente os experimentos articulados
a uma tecnologia de pesquisa mais sofisticada resolveram esse problema
e podemos dizer que como conseqncia nos ltimos 30 anos aprende-
mos mais sobre fotossntese do que nos ltimos 300 anos anteriores.
Saber de onde provm as substncias importante, mas no basta!
Teremos que responder tambm como as substncias so produzidas.
Para tanto precisamos saber sobre como a luz age nesse processo.
11 - Fazendo um parntesis sobre a natureza da luz
Quando a luz visvel, para a qual nossos olhos so sensveis, atin-
ge um objeto trs coisas ocorrem:
pode atravessar o objeto, se este for transparente;
pode sofrer reflexo, se a superfcie do objeto for polida, como a de
um espelho;
ou ser absorvida por um objeto, por exemplo quando a luz incide
sobre uma roupa preta.
Esses fenmenos podem ocorrer ao mesmo tempo, podendo ha-
ver predominncia de um deles. Um exemplo disso, quando vemos
atravs de um material transparente e colorido, os objetos aparecerem
125
em cores diferentes. Por exemplo, quando vamos ao circo em pleno sol
do meio dia e a lona do circo modifica as cores dos objetos que esto
dentro do circo! Esses materiais transparentes, sem dvida, afetam, de
algum modo a luz que os atravessa.
Ser que os materiais transparentes adicionam ou retiram algo
da luz?
primeira vista, pode parecer uma pergunta difcil; entretanto, al-
gumas experincias simples nos fornecem uma resposta. Antes de mais
nada, observe o comportamento da luz do Sol ou de uma lmpada
eltrica, quando ela atravessa uma placa de vidro vermelho ou papel
celofane da mesma cor, incidindo numa folha de papel branco. O papel,
ento aparece vermelho.
Apesar da luz ser branca, o vidro vermelho afetou de algum modo
a luz, fazendo-a aparecer vermelha. Suponha que se colocarmos uma
segunda placa de vidro vermelho entre a primeira e a nossa vista, de
modo que a luz deva atravessar ambas as placas. O que pode acontecer?
A cor vermelha ficaria mais ou menos forte?
Hipteses:
Se o vidro adiciona algo luz, o papel apareceria com um vermelho
mais brilhante que antes.
ou
Se ele retira algo, de se esperar que grande parte deste algo
seria removido pela primeira placa de vidro.
Qual das duas hipteses pode estar correta? Se realmente fazemos
uma experincia com duas placas de vidro vermelho, percebemos que
a segunda tem pequeno efeito, ficando a luz vermelha menos forte que
apenas uma placa de vidro.
Podemos explicar a pequena mudana de cor, dizendo que s
uma placa no retira completamente as partes no vermelhas da luz,
resta algo para o segundo vidro vermelho absorver.
Podemos fazer a mesma experincia, usando duas placas de vidro
verde, ao invs do vermelho. Como seria de esperar, a segunda placa
verde tem pequeno efeito...
Que aconteceria, ento se experimentssemos o verde e o verme-
lho em conjunto?
126
O que sobra no ser vermelho nem verde. Neste estgio de nos-
sa investigao, ainda no conhecemos suficientemente o processo de
subtrao para predizer que cor aparecer, mas certamente podemos
dizer que muito menos luz nos alcanar aps atravessar as duas placas
de vidro, do que aps atravessar qualquer uma delas. Fazendo esta ex-
perincia, podemos perceber que o brilho do papel fica enormemente
reduzido, e que a leve colorao remanescente no vermelha nem ver-
de, mas sim um tnue amarelo ou mbar. Este resultado nos responde a
primeira questo, ou seja, algo retirado da luz.
Mas o que esse algo que se subtrai da luz branca para lhe dar cor?
Como qualquer artistaplstico lhe diria, a cor que voc v deter-
minada pela natureza do objeto iluminado, pela natureza da luz que o
ilumina, e pela condio de seu olho no momento em que a cor vista.
Ela tambm depende dos outros objetos que voc v, ao mesmo tempo.
Quando os vidros vermelho e verde so colocados em conjunto,
vo retirar quase tudo da luz branca. A maior parte dos materiais co-
muns vo alm, e refletem ou absorvem totalmente a luz branca, no
permitindo a transmisso da luz (materiais no transparentes).
A luz branca mais complexa que a luz de uma s cor, pois ela
composta por diferentes comprimentos de ondas: violeta, azul, verde,
amarelo, alaranjado e vermelho.
Ento, se um feixe de luz incide sobre um vidro vermelho, este
transmite e reflete grande parte da luz vermelha e os demais compri-
mentos de onda so quase totalmente absorvidos.
Como a luz, outros tipos de energia radiante tm certas proprie-
dades em comum: por exemplo, todos eles tm no vcuo a velocidade
de 300 mil quilmetros por segundo e podem ser pensadospara alguns
efeitos como ondas. Cada um deles tem diferentes comprimentos dife-
rentes de onda (distncia entre as cristas de duas ondas consecutivas).
Cada um deles transporta quantidade de energia diferente: as ondas de
rdio, por exemplo, tm longos comprimentos de onda e pouca energia,
os raios X tm pequenos comprimentos de onda e muita energia.
Chamamos esse conjunto de espectro eletromagntico e qualquer
poro do espectro conhecida como faixa. As ondas de rdio tm 500
metros de comprimento, isto , 500 metros de crista a crista, enquanto
127
que os raios X tm um bilionsimo de centmetro de comprimento de
onda. Entre esses extremos esto as faixas de radiaes ultra violeta, de
luz visvel e de radiaes infravermelhas. A luz dentro do espectro
apenas uma pequena parte da energia conhecida como energia radiante
ou eletromagntica e, essa energia a que mais nos interessa nesse mo-
mento para o estudo da fotossntese. O que ns chamamos de luz ver-
melha tem um longo tamanho comparado, por exemplo, com o laranja,
azul e finalmente o violeta, correspondendo esta ltima a menor onda
visvel do espectro. Observe o desenho do espectro eletromagntico
para um melhor entendimento (Fig. 14):
Fig. 14 Espectro eletromagntico com os vrios comprimentos de ondas, dos
mais curtos esquerda aos mais longos direita- Raios Gama (Gamma rays), Raios
X (X Rays), Raio Ultravioleta (UV), Raios Infravermelho (Infrared), Microondas
(Miocrowaves), Ondas de Radio (Radio Waves).(Campbell, 1990, p. 210).
Mas qual o destino da absoro da luz?
A luz absorvida pode ter dois destinos: uma fotorreao, onde a
energia ser conservada ou sua dissipao que pode acontecer de vrias
maneiras, na forma de calor por exemplo, o qual no est diretamente
disponvel para o organismo, quando pensamos numa planta.
Para entendermos melhor a fotorreao, podemos nos referir
teoria de Planck, ou seja, a da transferncia da radiao que diz que
esta acontece em quantidades discretas de energia chamadas quanta ou
ftons. Essas partculas tm uma quantidade fixa de energia.
Luz
Visvel
Comprimento
das Ondas
128
A faixa de luz visvel, geralmente conhecida como espectro de
luz, de particular interesse no estudo da fotossntese, pois a partir
da absoro de alguns comprimentos de ondas que esse fenmeno
acontece. Quais desses comprimentos so utilizados no processo da
fotossntese pelos vegetais?
12 - Iluminando o fenmeno
Fig. 15 Comparao entre o espectro de
ao da fotossntese (determinado pela aglo-
merao de bactrias nas regies de elevada
concentrao de oxignio ao longo de um
filamento de alga exposto a um espectro lu-
minoso) e o espectro de absoro dos pig-
mentos da planta. Note a estreita correlao
entre a aglomerao de bactrias e os picos
de elevada absoro de luz pelos pigmentos
(vermelha e violeta). (Fig. extrada de Baker
& Allen, 1975, p. 197)
Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Violeta
Um dos primeiros cientistas a se preocupar com a influncia da luz
no fenmeno da fotossntese foi o alemo T. W. Engelman, o qual pro-
vou que a clorofila absorve determinados comprimentos da luz branca.
Em 1881, utilizando-se de uma alga, (a Cladophora) e bactrias aerbias
que procuram altas concentraes de oxignio, pode constatar que atra-
vs da decomposio da luz por um prisma incidida em um pequeno
filamento da alga havia maior concentrao (vermelha, azul e violeta) ou
menor concentrao (laranja, amarelo e verde) de bactrias dependendo
das cores do espectro. Como mostra a Figura 15, quando a fotossntese
na alga Cladophora era mais intensa, havia maior concentrao de bact-
rias, resultando uma maior produo de oxignio em determinadas faixas
do espectro. Isso evidenciou que a fotossntese possua um espectro de
ao, ou seja, os diferentes comprimentos de onda da luz branca eram
absorvidos, refletidos ou transmitidos de forma diferenciada.
129
Hoje sabemos que as folhas verdes refletem ou transmitem a
maior parte dos comprimentos de onda associados com a cor verde,
absorvendo a maior parte dos comprimentos de onda das outras co-
res. A Figura 16 traz um esquema do cloroplasto, local onde ocorre a
absoro de luz na planta.
Fig. 16 Interaes da luz com a matria. Os pigmentos dos cloroplastos ab-
sorvem o comprimento azul e vermelho. Eles refletem e transmitem o verde,
motivo pelo qual os vegetais parecem dessa cor. (Campbel, 1990, p.211 )
Mas e quanto as plantas de outras cores?
No grfico da Figura 17, h exemplos de dois tipos de pigmen-
tos diferentes, a clorofila (verde) e os carotenides (laranja) presen-
tes, por exemplo, na cenoura. Nesse grfico possvel observarmos
uma seleo nos comprimentos de ondas que depende da utilizao
pelos pigmentos. No caso das plantas verdes h uma preferncia
maior pelas cores violeta, azul e vermelho; j os carotenides para re-
alizarem a fotossntese se utilizam das cores verde e azul, refletindo o
amarelo e o laranja do espectro. Diferente do que se pensa, a funo
da clorofila no dar cor verde s plantas. Muito pelo contrrio, o
verde uma das cores que justamente a clorofila no absorve e assim
enxergarmos as cores verdes nas plantas.
Luz
(branca) Luz refletida
(verde)
130
Fig. 17 A absoro de luz de diferentes comprimentos
de onda por dois grupos de pigmentos de planta clo-
rofilas e carotenides que capturam energia luminosa
usada na fotossntese. As cores do espectro so violeta
(v), azul (b), verde (g), amarelo (y), laranja (o) e vermelho
(r). (Fig. extrada de Ricklefs, 1993, p.32).
Tambm no incio do sculo XX, F.F.Blackman mediu a produo
de O
2
de uma planta aqutica denominada Anacharis densa mediante
a sua exposio s vrias intensidades luminosas. Verificou que muito
ao contrrio do que se pensava ou se pensa at hoje, a eliminao de
O
2
depende diretamente da intensidade da luz somente dentro de uma
faixa limitada, ou seja, aumentos na intensidade da luz no resultam
em aumento progressivo do oxignio produzido. E o contrrio tambm
pode ocorrer, quando a diminuio da luz chega a zero, a taxa de O
2
diminui ou cessa por completo.
Como vimos no se tratou apenas de dizer que a luz importante
para os vegetais! Foi e ainda preciso saber o porque dessa importn-
cia, como ela utilizada, quais tipos de ondas so utilizados e assim
por diante Essas respostas levam a outras questes e dessa forma va-
mos aprofundando nosso conhecimento. Tambm podemos perceber
que o avano das outras cincias, como a qumica e a fsica fazem com
131
que a biologia avance ainda mais, principalmente quando este conhe-
cimento est atrelado tecnologia e a construo de instrumentos que
ampliam nossa capacidade de ver. Hoje com os sentidos mais am-
pliados, devido ao uso de lentes, computadores, alm de outros frutos
da tecnologia outros conhecimentos viro a tona e talvez esses aqui
escritos j possam estar ultrapassados.
Ns veremos a funo da clorofila com detalhes no prximo tpico.
13 - A funo da clorofila no dar cor verde s plantas!!!
Nada adiantaria a luz se no houvesse algo que pudesse capt-la.
Como vimos Ingen-Housz foi o primeiro a levantar a importncia da luz,
alm de apontar a existncia de um pigmento verde - a clorofila.
O cloroplasto o local onde ocorre o fenmeno. Ele uma orga-
nela celular geralmente discide, envolvida por uma membrana dupla,
que contm sacos achatados de outras membranas chamadas tilacides,
mantidas em uma matriz - o estroma. nas membranas dos tilacides
que esto as molculas de clorofila. Na Figura 18 possvel identificar a
localizao e estrutura de um cloroplasto e sua relao com a clorofila.
Fig. 18 Interaes de luz com a matria (Campbell, 1990, p. 209 ).
Atualmente considera-se a existncia de cerca de quatro tipos de
clorofilas, inclusive as que esto presentes em certas algas e bactrias
fotossintticas. Porm gostaramos aqui de ressaltar pelo menos duas: a
clorofila a (em todas as plantas, inclusive algas) e a b (em plantas e
algas verdes, junto com a a), presentes nos cloroplastos das plantas. As
132
clorofilas so chamadas de pigmentos-antena, pois captam a energia
luminosa para a fotossntese.
Na Figura 19 podemos identificar os espectros de absoro das
cloriflas a e b
Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Violeta
Comprimento das Ondas
Fig. 19 Espectros de absoro das clorofilas a e b. (extrado
de Baker & Allen, 1975, p. 196)
14 - O que o sabo em p que limpa mais branco tem a ver com a
fotossntese?
Graas tremenda temperatura e presso no interior do Sol, acon-
tece a fuso de 4 tomos de Hidrognio em um tomo de Hlio (como
acontece com a bomba de Hidrognio). A perda de massa do sol origina
a energia solar. Nessa converso a perda de matria de 4.200.000 de
toneladas por segundo, sendo a energia liberada de 8 sextilhes de quilo-
calorias por segundo! Uma minscula frao dessa energia chega Terra,
levando apenas alguns minutos para fazer essa viagem de 160 milhes de
km do sol para c. Desse total de energia apenas 3% aproveitada pelas
plantas verdes, sendo que desse total apenas 2/3 atingem a clorofila.
Quando os eltrons da clorofila recebem energia vinda da luz, eles
absorvem certas quantidades de energia e saltam para regies mais
externas. Se esse eltron volta a sua posio anterior, ele emite energia
e o excesso de energia pode ser liberado gerando o calor. A partir da,
a energia de um fton absorvido convertido em energia potencial e
devido ao seu estado instvel ele pode voltar para a clorofila.
Um dos exemplos mais interessantes dessa emisso de energia
a utilizao de impurezas atmicas luminescentes em sabes que dizem
Clorofla a
Clorofla
133
lavar mais branco (segundo eles tornando as roupas mais limpas), mas
que na realidade esto se utilizando desse fenmeno da luminescncia.
Os eltrons ao receberem determinada quantidade de energia, passam
de uma camada a outra e ao voltarem ao seu ponto inicial liberam a
energia captada, fazendo parecer a roupa mais brilhante. Isso pode fazer
a roupa ficar mais bonita, mas no a torna mais limpa!
Na clorofila, os eltrons carregados de energia participam de re-
aes qumicas no cloroplasto da planta, cedendo essa energia para a
formao das substncias.
15 Fotossntese no um fenmeno simples:
na verdade poderamos dizer que so dois fenmenos ...
PRIMEIRA FASE: REAES DE CLARO
Nessa etapa da fotossntese chamada de fotoqumica ou reao
no claro, a clorofila, absorve a energia luminosa, vital para o processo
de quebra da molcula de gua, a qual liberar O
2
para a atmosfera. A
clorofila se oxida e seus eltrons so utilizados pelo NADP
+
(nicotidami-
na adenina dinucleotdeo fosfato), que tambm recebe ons hidrognio
transformando-se em NADPH. Os eltrons da clorofila so respostos
pela fotlise da gua (quebra causada pela luz).
Ao mesmo tempo ocorre o processo de fosforilao, ou seja, o ADP
e mais um fosfato inorgnico so transformados em ATP (Adenosina Tri-
fosfato) e essa fosforilao dependente das reaes de xido-reduo
que ocorreram a partir da gua at o NADPH. Tanto a molcula de ATP
como a de NADP iro participar da fase qumica da fotossntese. Resu-
mindo, poderamos dizer que os trs itens abaixo representam uma boa
sntese dos eventos que ocorrem nessa primeira fase da fotossntese:
H fotlise da gua (2 molculas de gua (H
2
O) liberam 1 molcula
de oxignio (O
2
), 4 eltrons e 4 ons H
+
)
H reduo de 2 NADP
+
em 2 NADPH
H formao do ATP a partir do ADPe fosfato existente na planta
(ADP + Pi = ATP)
Nesses dois ltimos itens possvel observarmos a energia da luz
sendo convertida em energia qumica, porm sem a produo de aca-
res. Estes sero produzidos na segunda fase da fotossntese.
134
A segunda fase da fotossntese chamada deFase Qumica ou
Ciclo de Calvin, pois foi Melvin Calvin (dcada de 30) e seus colabo-
radores da Universidade da Califrnia, que em 1930 se utilizaram do
carbono 14 para descobrir todas as etapas do processo fotossinttico.
Com cultivo da alga Chlorella em meio ao CO
2
marcado com Carbono
14
(C
14
), constataram que o carbono radioativo
68
aparecia nas molculas de
glicose 30 segundos depois. Tentando entender as etapas qumicas da
fotossntese, eles interrompiam o processo e aos poucos foram desco-
brindo os compostos intermedirios marcados com o C
14
.
SEGUNDA FASE: CICLO DE CALVIN
No ciclo de Calvin que ocorre no estroma do cloroplasto, o ATP
e o NADPH
(o transportador de hidrognios provenientes da gua) pro-
duzidos na fase anterior juntamente com as enzimas do local (tal como
a Rubisco), participaro da sntese da glicose (C
6
H
12
O
6
). O destino da
glicose pode ser o armazenamento em forma de amido ou de outros
polissacardeos como a celulose por exemplo, presente nas paredes
das clulas vegetais. Alm disso, o carbono incorporado como acar
poder originar as demais macromolculas necessrias s plantas como
as gorduras e protenas. A glicose os demais alimentos sero utilizados
pela mitocndria, produzindo energia na respirao celular. Para um
melhor entendimento veja o ciclo em cinco passos:
Quando o CO
2
entra no cloroplasto, seu tomo de carbono combina
com um acar chamado Ribulose Bisfosfato (RuBP) (com 5 carbo-
nos) para formar uma molcula com 6 tomos de carbono.
Como essa molcula instvel, ela se divide em duas formando dois
cidos fosfoglicerdeos (PGA) com 3 tomos de carbono cada.
Com a energia do ATP e participao do NADPH formado na fase an-
terior, o PGA forma um acar chamado Fosfogliceraldedo (PGAL).
Cada 12 molculas de PGAL formadas, 10 permanecem no ciclo e
apenas 2 deles se unem para formar a glicose.
As 10 molculas de PGAL que ficaram (30 carbonos) se rearranjam,
utilizando ATP e formam 6 molculas de RuBP (30 carbonos). Com
isso pode-se recomear o ciclo.
68 A tcnica utilizada por meio de istopos radioativos consistia numa espcie de auto-retrato, ou
radioautografia por meio a exposio de pelcula de raio X.
135
Embora muitos autores se refiram a essa fase como reao de
escuro, o ciclo de Calvin ocorre nas plantas durante o dia, pois so-
mente as reaes da luz podem regenerar o ATP e NADP gastos na re-
duo do CO
2
em acar. Esse termo reao no escuro, amplamente
utilizado em livros sobre o tema, didticos ou no, traduzidos para o
portugus ou mesmo encontrado em recentes publicaes em ingls,
podem causar certa confuso, ao se concluir que a fotossntese no
depende da luz na segunda fase, o que seria um equvoco. Para a noi-
te, a planta consegue energia dos acares armazenados, produzidos
pela fotossntese. O mesmo ocorre quando uma planta perde todas
suas folhas, por exemplo, no inverno.
Assim, poderamos resumir as duas fases na equao:
6CO
2
+ 12H
2
O + 12NADPH + 18ATP
C
6
H
12
O
6
+ 6H
2
O + 6CO
2
+ 12NADP
+ 18ADP + 18Pi
Nessa equao possvel observarmos que o gs carbnico
transformado em carboidrato com auxilio das molculas de NADPH e
ATP, que voltam a ser as mesmas molculas iniciais do ciclo (NADP e
ADP). Veja a Figura 20, que faz um resumo das duas fases:
Fig. 20 - Sumrio da Fotossntese Esse diagrama traz os principais
reagentes e produtos do fenmeno e como ele ocorre nos cloroplastos.
As reaes de Claro, que ocorrem nas membranas tilacides, convertem
a energia da luz em energia qumica (ATP e NADP); quebra a molcula
de gua, e libera o oxignio. O Ciclo de Calvin, que ocorre no estroma
do cloroplasto, usa o ATP e NADPH para converter gs carbnico em
glicose. (Campbell, 1990, p. 209)
136
16 - O drama da vida ento encenado contra as cascatas de
energia solar. (Asimov, 1965, p. 485).
Muita coisa ainda est por se descobrir e talvez nesse momento as
informaes que colocamos nesse texto, j possam estar obsoletas no
momento que escrevemos esse texto. Muito mais ainda poderamos falar
sobre fotossntese, h centenas de produes de pesquisa sendo escritas
em livros e artigos, alm das j publicadas que no constam nesse arti-
go, pelas impossibilidades inerentes da prpria linguagem, pois quando
se diz algo, se privilegia determinados discursos e os conseqentes si-
lncios so constitutivos da lngua. Alm disso, h a perspectiva de que
o mundo est em movimento e estamos vivenciando a histria, dessa
forma outras descobertas ainda esto por vir.
Dessas pesquisas h tambm uma produo tecnolgica, por
exemplo podendo ser utilizada na agricultura, que permite aos produto-
res fazerem medidas sobre as taxas de fotossntese dos vegetais, para sa-
berem como conseguir maior eficincia do sistema, ou mesmo, saberem
at que ponto um determinado inseto-praga afeta uma cultura, quando
ele ataca as suas folhas. Tambm o conhecimento sobre fotossntese
pode trazer mudanas de hbito, por exemplo, na Estao Experimental
Agrcola da Universidade da Califrnia, voc pode ganhar uma multa
(por volta 300,00 dlares) se levantar muita poeira por estar em alta ve-
locidade. Naquele local, existem vrios avisos sinalizando que a poeira
pode machucar as folhas das laranjeiras.
Alm de artigos cientficos, outros textos so produzidos para o
ensino do fenmeno, em forma de livros, CDs, Internet, vdeos e at
equipamentos mais sofisticados quando se pensa no ensino de um cur-
so de biologia na universidade. Esperamos que essa humilde sntese,
mostrando os principais aspectos possam ajudar no somente no ensino
do conceito sobre a fotossntese, mas tambm como a cincia um pro-
cesso histrico que depende de aspectos exteriores, pois no neutra
ao que acontece com a sociedade. Pelo contrrio, ela um produto da
sociedade. Percorrer os caminhos do homem na busca do conhecimen-
to de um fenmeno bastante prazeroso e isso talvez possa ajudar a
explicar porque a Cincia uma construo humana.
137
l
i
g
.
2
1
-
E
S
Q
U
E
V
A
D
E
l
A
T
O
S
E
l
D
l
A
S
S
O
B
R
E
O
l
E
N
V
E
N
O
D
A
l
O
T
O
S
S
l
N
T
E
S
E
1
6
0
0
1
6
5
0
1
6
6
0
1
6
7
0
1
7
3
0
1
7
7
0
A
l
g
u
i
m
i
s
t
a
s
p
r
o
v
a
v
o
l
m
o
n
t
o
o
l
s
o
r
v
a
m
t
o
r
r
a
t
o
r
m
a
d
a
n
a
d
o
s
t
i
l
a
o
d
a
g
u
a
N
i
c
o
l
a
s
d
o
C
u
s
a
s
u
g
o
r
o
o
g
u
o
a
g
o
r
a
c
o
n
h
o
c
i
d
o
c
o
m
o
o
o
x
p
o
r
i
m
o
n
t
o
d
o
s
a
l
g
u
o
i
r
o
d
o
v
a
n
H
o
l
m
o
n
t
O
t
o
n
o
m
o
n
o
d
o
o
x
a
u
s
t
o
d
o
s
o
l
o
o
l
s
o
r
v
a
d
o
.
o
x
p
l
i
c
a
d
o
a
i
d
i
a
d
o
g
u
o
a
t
o
r
r
a
s
o
r
v
o
c
o
m
o
u
m
o
s
t
o
m
a
g
o
p
a
r
a
a
s
p
l
a
n
t
a
s
.
B
o
y
l
o
r
o
a
l
i
z
a
u
m
o
x
p
o
r
i
m
o
n
t
o
s
i
m
i
l
a
r
,
o
n
c
o
n
t
r
a
r
o
s
u
l
t
a
d
o
s
p
a
r
o
c
i
d
o
s
o
a
v
a
n
a
n
u
m
a
o
x
p
l
i
c
a
o
p
a
r
o
c
i
d
a
.
B
o
y
l
o
o
l
s
o
r
v
a
a
t
o
r
m
a
o
d
a
t
o
r
r
a
n
a
d
o
s
t
i
l
a
o
d
a
g
u
a
.
S
u
g
o
r
o
g
u
o
a
g
u
a
p
o
s
s
a
s
o
r
t
r
a
n
s
m
u
t
a
d
a
o
m
t
o
r
r
a
.
G
r
o
v
a
n
d
V
a
l
p
i
g
h
i
c
o
n
c
l
u
o
m
,
a
t
r
a
v
s
d
o
o
s
t
u
d
o
s
m
i
c
r
o
s
c
p
i
c
o
s
g
u
o
o
a
r
o
s
t
o
n
v
o
l
v
i
d
o
d
o
a
l
g
u
m
a
m
a
n
o
i
r
a
n
o
m
o
t
a
l
o
l
i
s
m
o
d
a
p
l
a
n
t
a
.
H
a
l
o
s
d
i
s
c
o
r
d
a
d
o
B
o
y
l
o
o
c
o
n
c
l
u
i
l
a
s
o
a
d
o
o
m
d
o
t
a
l
h
a
d
o
s
o
s
t
u
d
o
s
,
g
u
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
t
m
a
l
g
u
m
a
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
i
n
t
o
r
a
o
c
o
m
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
.
D
s
o
m
o
n
t
o
u
m
a
v
a
g
a
i
n
t
o
r
p
r
o
t
a
o
d
o
s
u
a
s
d
o
s
c
o
l
o
r
t
a
s
,
o
m
t
o
r
m
o
s
d
o
o
l
o
m
o
n
t
o
s
a
l
g
u
m
i
c
o
s
.
B
o
n
n
o
t
c
o
n
t
i
r
m
a
a
o
p
i
n
i
o
d
o
H
a
l
o
s
s
o
l
r
o
a
i
m
p
o
r
t
n
c
i
a
d
a
i
n
t
o
r
a
o
.
l
a
v
o
i
s
i
o
r
c
o
m
p
i
l
a
a
s
i
d
i
a
s
o
u
n
i
t
i
c
a
u
m
a
h
i
p
t
o
s
o
:
c
o
n
c
l
u
i
g
u
o
a
t
o
r
r
a
n
o
p
o
d
o
s
o
r
t
o
r
m
a
d
a
d
o
g
u
a
o
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
s
o
m
a
i
s
g
u
o
t
r
a
n
s
m
u
t
a
o
s
d
o
g
u
a
.
A
l
r
o
o
s
p
a
o
p
a
r
a
a
i
m
p
o
r
t
n
c
i
a
d
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
n
a
n
u
t
r
i
o
d
a
s
p
l
a
n
t
a
s
.
W
o
o
d
v
a
r
d
g
u
o
s
t
i
o
n
a
a
c
o
n
c
l
u
s
o
d
o
H
o
l
m
o
n
t
,
a
o
t
a
z
o
r
o
x
p
o
r
i
m
o
n
t
o
s
c
o
m
p
l
a
n
t
a
s
c
o
l
o
c
a
d
a
s
o
m
g
u
a
d
o
d
i
t
o
r
o
n
t
o
s
t
o
n
t
o
s
.
V
a
n
H
o
l
m
o
n
t
o
x
p
l
i
c
a
a
i
d
i
a
d
o
g
u
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
n
a
d
a
m
a
i
s
s
o
d
o
g
u
o
u
m
a
t
r
a
n
s
m
u
t
a
o
d
a
g
u
a
.
138
1
7
7
2
1
7
7
9
1
7
8
1
l
a
v
o
i
s
i
o
r
c
o
n
t
i
n
u
a
t
r
a
l
a
l
h
a
n
d
o
c
o
m
n
o
v
o
s
s
i
s
t
o
m
a
s
g
u
m
i
c
o
s
o
n
v
o
l
v
o
n
d
o
o
x
i
g
n
i
o
o
o
u
t
r
o
s
o
l
o
m
o
n
t
o
s
g
u
m
i
c
o
s
l
o
m
d
o
t
i
n
i
d
o
s
.
P
o
s
s
u
i
m
u
i
t
o
s
c
o
l
a
l
o
r
a
d
o
r
o
s
i
n
c
l
u
i
n
d
o
B
o
r
t
o
l
o
t
h
.
P
r
i
o
s
t
l
o
y
d
o
s
c
o
l
r
o
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
r
o
s
t
a
u
r
a
m
o
a
r
v
i
c
i
a
d
o
.
C
o
n
c
l
u
i
g
u
o
o
l
a
s
p
u
r
i
t
i
c
a
m
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
o
x
t
r
a
i
n
d
o
o
t
l
o
g
i
s
t
o
.
n
t
a
s
o
n
a
s
a
t
i
v
i
d
a
d
o
s
r
o
s
p
i
r
a
t
r
i
a
s
o
n
t
r
o
a
n
i
m
a
i
s
o
p
l
a
n
t
a
s
.
S
c
h
o
l
l
o
o
o
u
t
r
o
s
n
o
c
o
n
s
o
g
u
o
m
c
o
n
t
i
r
m
a
r
r
o
s
u
l
t
a
d
o
s
d
o
P
r
i
o
s
t
l
o
y
.
P
r
i
o
s
t
l
o
y
t
o
m
d
i
t
i
c
u
l
d
a
d
o
s
o
m
c
o
n
t
i
r
m
a
r
s
o
u
s
p
r
i
m
o
i
r
o
s
r
o
s
u
l
t
a
d
o
s
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
i
d
o
n
t
i
t
i
c
a
m
a
t
r
i
a
v
o
r
d
o
c
o
m
o
p
l
a
n
t
a
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
d
o
s
c
o
l
r
o
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
n
o
o
s
c
u
r
o
o
p
a
r
t
o
s
n
o
v
o
r
d
o
s
o
n
v
o
n
o
n
a
m
o
u
v
i
c
i
a
m
o
a
r
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
z
o
s
t
a
l
o
l
o
c
o
g
u
o
t
o
l
h
a
s
d
o
p
l
a
n
t
a
s
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
p
u
r
i
t
i
c
a
m
o
a
r
o
c
o
n
c
l
u
i
:
l
o
l
h
a
s
m
o
r
g
u
l
h
a
d
a
s
o
m
g
u
a
p
r
o
d
u
z
o
m
a
r
p
u
r
o
p
o
l
a
t
r
a
n
s
m
u
t
a
o
o
x
c
i
t
a
d
a
p
o
l
a
l
u
z
P
l
a
n
t
a
s
p
u
r
i
t
i
c
a
m
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
o
x
t
r
a
i
n
d
o
t
l
o
g
i
s
t
o
.
P
r
i
o
s
t
l
o
y
p
r
o
p
o
u
m
a
t
o
o
r
i
a
u
n
i
t
i
c
a
d
a
:
a
s
p
l
a
n
t
a
s
p
u
r
i
t
i
c
a
m
o
a
r
d
o
t
l
o
g
i
s
t
i
c
a
n
d
o
-
o
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
m
o
r
g
u
l
h
a
d
a
s
l
i
l
o
r
a
m
a
r
p
u
r
o
d
o
t
l
o
g
i
s
t
i
c
a
n
d
o
o
a
r
d
a
g
u
a
o
m
t
o
r
n
o
d
o
l
a
s
.
139
1
7
8
2
1
7
8
3
1
7
8
7
1
7
8
8
1
7
8
9
S
o
n
o
l
i
o
r
m
a
n
t
m
s
u
a
o
p
i
n
i
o
S
o
n
o
l
i
o
r
a
l
a
n
d
o
n
a
a
i
d
i
a
d
o
m
o
c
a
n
i
s
m
o
c
c
l
i
c
o
.
E
m
l
o
r
a
a
i
n
d
a
t
r
a
l
a
l
h
o
s
o
l
r
o
a
t
o
o
r
i
a
d
o
t
l
o
g
i
s
t
o
,
o
l
o
a
g
o
r
a
c
o
n
s
i
d
o
r
a
s
o
r
p
o
s
s
v
o
l
g
u
o
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
o
s
t
o
j
a
m
o
l
h
o
r
a
n
d
o
,
p
o
r
s
o
r
a
d
i
c
i
o
n
a
d
o
a
r
p
u
r
o
n
o
l
a
,
m
a
i
s
d
o
g
u
o
o
x
t
r
a
i
n
d
o
t
l
o
g
i
s
t
o
d
o
l
a
.
B
o
r
t
h
o
l
l
o
t
t
r
a
l
a
l
h
a
n
d
o
i
n
t
o
i
r
a
m
o
n
t
o
s
o
l
r
o
o
s
n
o
v
o
s
i
s
t
o
m
a
g
u
m
i
c
o
d
o
l
a
v
o
i
s
i
o
r
,
s
u
g
o
r
o
g
u
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
d
o
c
o
m
p
o
m
a
g
u
a
-
r
o
t
o
n
d
o
o
h
i
d
r
o
g
n
i
o
o
o
l
i
m
i
n
a
n
d
o
o
o
x
i
g
n
i
o
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
m
a
n
t
m
g
u
o
g
u
a
n
d
o
n
o
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
,
m
o
s
m
o
s
a
u
d
v
o
i
s
a
s
p
l
a
n
t
a
s
v
i
c
i
a
m
o
a
r
.
A
g
o
r
a
s
u
g
o
r
o
g
u
o
o
s
s
o
v
i
c
i
a
m
o
n
t
o
c
o
n
s
i
s
t
o
d
o
u
m
a
o
m
i
s
s
o
d
o
a
r
t
i
x
a
d
o
o
a
r
m
o
t
t
i
c
o
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
i
n
s
i
s
t
o
o
s
s
o
n
c
i
a
l
m
o
n
t
o
n
a
m
o
s
m
a
o
p
i
n
i
o
d
a
g
u
o
l
a
o
x
p
r
o
s
s
a
d
a
o
m
1
9
S
o
n
o
l
i
o
r
a
i
n
d
a
m
a
n
t
m
g
u
o
o
v
i
c
i
a
m
o
n
t
o
d
o
a
r
p
o
r
p
l
a
n
t
a
s
n
o
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
,
u
m
t
o
n
o
m
o
n
o
p
a
t
o
l
g
i
c
o
o
r
o
a
l
a
g
u
o
i
s
s
o
c
o
n
s
i
s
t
o
s
i
m
p
l
o
s
m
o
n
t
o
d
o
u
m
r
o
c
o
l
o
c
a
m
o
n
t
o
d
o
o
x
i
g
n
i
o
a
t
m
o
s
t
r
i
c
o
p
o
r
g
s
a
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
.
A
p
o
s
a
r
d
o
S
o
n
o
l
i
o
r
u
s
a
r
a
g
o
r
a
o
n
o
v
o
s
i
s
t
o
m
a
g
u
m
i
c
o
,
a
i
n
d
a
r
o
j
o
i
t
a
a
p
r
o
p
o
s
t
a
d
o
B
o
r
t
h
o
l
l
o
t
.
E
x
p
l
i
c
a
g
u
o
p
o
r
r
o
t
i
r
a
r
o
c
a
l
o
r
d
a
l
u
z
,
a
s
t
o
l
h
a
s
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
d
o
c
o
m
p
o
m
c
i
d
o
s
c
a
r
l
o
n
i
c
o
s
t
g
u
o
s
o
r
o
t
i
d
o
s
)
o
t
o
r
m
a
m
o
o
x
i
g
n
i
o
t
g
u
o
o
m
i
t
i
d
o
)
S
o
n
o
l
i
o
r
r
o
j
o
i
t
a
n
d
o
a
h
i
p
t
o
s
o
d
o
H
a
s
s
o
n
t
r
a
t
z
,
m
a
n
t
m
o
s
s
o
n
c
i
a
l
m
o
n
t
o
a
m
o
s
m
a
o
p
i
n
i
o
d
o
1
8
.
V
a
s
o
l
o
a
g
o
r
a
p
o
n
s
a
n
a
p
r
o
l
a
l
i
l
i
d
a
d
o
d
o
p
l
a
n
t
a
s
d
o
c
o
m
p
o
r
o
m
g
u
a
o
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
.
S
o
n
o
l
i
o
r
d
i
s
c
o
r
d
a
.
S
o
n
o
l
i
o
r
n
o
g
a
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
s
a
u
d
v
o
i
s
n
o
o
s
c
u
r
o
v
i
c
i
a
m
o
a
r
.
S
o
n
o
l
i
o
r
i
d
o
n
t
i
t
i
c
a
a
r
t
i
x
a
d
o
c
o
m
o
u
m
i
m
o
d
i
a
t
o
p
r
o
c
u
r
s
o
r
d
o
a
r
p
u
r
o
o
m
i
t
i
d
o
p
o
l
a
s
p
l
a
n
t
a
s
.
S
u
g
o
r
o
i
d
i
a
s
d
o
m
o
c
a
n
i
s
m
o
s
c
c
l
i
c
o
s
p
o
l
o
s
g
u
a
i
s
a
s
p
l
a
n
t
a
s
p
u
r
i
t
i
c
a
m
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
,
p
o
r
l
i
l
o
r
a
r
s
o
u
p
r
p
r
i
o
t
l
o
g
i
s
t
o
.
V
o
l
t
a
a
p
o
n
t
a
t
a
l
h
a
s
n
a
s
s
u
p
o
s
i
o
s
d
o
S
o
n
o
l
i
o
r
A
p
o
s
a
r
d
o
S
o
n
o
l
i
o
r
u
s
a
r
a
g
o
r
a
o
n
o
v
o
s
i
s
t
o
m
a
g
u
m
i
c
o
,
a
i
n
d
a
r
o
j
o
i
t
a
a
p
r
o
p
o
s
t
a
d
o
B
o
r
t
h
o
l
l
o
t
.
E
x
p
l
i
c
a
g
u
o
p
o
r
r
o
t
i
r
a
r
o
c
a
l
o
r
d
a
l
u
z
,
a
s
t
o
l
h
a
s
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
d
o
c
o
m
p
o
m
c
i
d
o
s
c
a
r
l
o
n
i
c
o
s
t
g
u
o
s
o
r
o
t
i
d
o
s
)
o
t
o
r
m
a
m
o
o
x
i
g
n
i
o
t
g
u
o
o
m
i
t
i
d
o
)
140
1
7
9
2
1
7
9
6
1
8
0
4
1
8
5
0
1
8
8
1
1
9
3
0
1
9
4
1
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
a
g
o
r
a
a
c
o
i
t
a
o
n
o
v
o
s
i
s
t
o
m
a
g
u
m
i
c
o
,
a
c
o
i
t
a
a
i
d
i
a
d
o
S
o
n
o
l
i
o
r
d
o
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
d
o
c
o
m
p
o
m
c
i
d
o
s
d
o
c
a
r
l
o
n
o
o
r
o
j
o
i
t
a
a
h
i
p
t
o
s
o
d
o
H
a
s
s
o
n
t
r
a
t
z
.
C
o
n
t
u
s
o
s
o
l
r
o
c
o
m
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
a
d
g
u
i
r
o
m
c
i
d
o
s
d
o
c
a
r
l
o
n
o
o
m
a
t
m
o
s
t
o
r
a
c
o
n
t
o
n
d
o
p
o
g
u
o
n
a
o
u
n
o
n
h
u
m
a
g
u
a
n
t
i
d
a
d
o
d
o
l
o
,
o
l
o
s
u
g
o
r
o
g
u
o
p
a
r
t
o
s
n
o
v
o
r
d
o
s
d
a
s
p
l
a
n
t
a
s
p
r
o
p
a
r
a
m
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
o
l
a
l
o
r
a
d
o
p
o
l
a
s
t
o
l
h
a
s
D
o
S
a
u
s
u
r
r
o
d
o
s
o
n
v
o
l
v
o
u
m
a
t
o
o
r
i
a
u
n
i
t
i
c
a
d
a
.
C
o
n
s
i
d
o
r
a
g
u
o
a
v
i
c
i
a
n
o
t
u
r
n
a
d
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
p
o
l
a
s
p
l
a
n
t
a
s
,
c
o
m
o
u
m
t
o
n
o
m
o
n
o
g
o
n
u
n
o
g
u
o
t
o
o
r
i
c
a
m
o
n
t
o
,
m
a
s
n
o
n
u
t
r
i
c
i
o
n
a
l
m
o
n
t
o
,
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
.
C
o
n
s
i
d
o
r
a
g
u
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
a
d
g
u
i
r
o
m
s
o
u
c
a
r
l
o
n
o
t
o
o
o
x
i
g
n
i
o
g
u
o
o
l
a
s
o
m
i
t
o
m
)
l
a
r
g
a
m
o
n
t
o
p
o
l
a
d
o
c
o
m
p
o
s
i
o
d
o
t
r
a
o
s
d
o
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
d
a
a
t
m
o
s
t
o
r
a
,
g
u
o
o
l
a
s
a
d
g
u
i
r
o
m
s
o
u
n
i
t
r
o
g
n
i
o
o
m
a
t
r
i
a
m
i
n
o
r
a
l
d
a
t
o
r
r
a
o
g
u
o
o
l
a
s
i
n
c
o
r
p
o
r
a
m
g
r
a
n
d
o
s
g
u
a
n
t
i
d
a
d
o
s
d
o
g
u
a
,
m
a
s
s
o
m
o
n
t
o
g
u
a
n
d
o
o
l
a
s
p
o
d
o
m
s
i
m
u
l
t
a
n
o
a
m
o
n
t
o
a
s
s
i
m
i
l
a
r
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
.
S
a
c
h
s
r
o
c
u
p
o
r
a
o
s
d
a
d
o
s
d
o
W
o
o
d
v
a
r
d
o
o
s
t
a
l
o
l
o
c
o
v
r
i
o
s
o
l
o
m
o
n
t
o
s
d
o
s
o
l
o
n
o
c
o
s
s
r
i
o
s
s
p
l
a
n
t
a
s
.
v
a
n
N
i
o
l
c
o
m
p
a
r
a
o
s
p
r
o
c
o
s
s
o
s
d
a
s
s
u
l
t
o
l
a
c
t
r
i
a
s
c
o
m
o
s
d
a
s
p
l
a
n
t
a
s
o
d
o
d
u
z
g
u
o
o
o
x
i
g
n
i
o
v
o
m
d
a
g
u
a
.
C
a
l
v
i
n
o
s
o
u
s
c
o
l
a
l
o
r
a
d
o
r
o
s
u
t
i
l
i
z
a
m
-
s
o
d
o
g
u
a
o
g
s
c
a
r
l
o
n
i
c
o
m
a
r
c
a
d
o
s
a
l
t
o
r
n
a
d
a
m
o
n
t
o
c
o
m
i
s
t
o
p
o
s
t
O
1
8
)
c
o
n
s
t
a
t
a
m
n
o
s
o
m
o
n
t
o
g
u
o
o
o
x
i
g
n
i
o
d
o
t
i
n
i
t
i
v
a
m
o
n
t
o
v
o
m
d
a
g
u
a
,
c
o
m
o
i
d
o
n
t
i
t
i
c
a
m
t
o
d
o
o
p
r
o
c
o
s
s
o
d
a
t
o
t
o
s
s
n
t
o
s
o
,
i
n
t
o
r
r
o
m
p
o
n
d
o
c
a
d
a
p
a
s
s
o
d
o
p
r
o
c
o
s
s
o
o
a
o
s
p
o
u
c
o
s
d
o
s
c
o
l
r
i
n
d
o
o
s
c
o
m
p
o
s
t
o
s
i
n
t
o
r
m
o
d
i
r
i
o
s
m
a
r
c
a
d
o
s
c
o
m
o
C
1
4
.
E
n
g
o
l
m
a
n
d
o
m
p
o
a
l
u
z
s
o
l
r
o
u
m
a
a
l
g
a
C
l
a
d
o
p
h
o
r
a
o
p
o
r
c
o
l
o
m
a
i
o
r
p
r
o
d
u
o
d
o
o
x
i
g
n
i
o
o
m
d
o
t
o
r
m
i
n
a
d
a
s
t
a
i
x
a
s
d
o
o
s
p
o
c
t
r
o
t
v
o
r
m
o
l
h
a
,
a
z
u
l
o
v
i
o
l
o
t
a
)
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
d
i
z
g
u
o
p
l
a
n
t
a
s
n
o
i
l
u
m
i
n
a
d
a
s
m
u
d
a
m
o
o
x
i
g
n
i
o
a
t
m
o
s
t
r
i
c
o
,
p
a
r
a
o
a
r
t
i
x
a
d
o
o
r
o
a
l
a
a
i
m
p
o
r
t
n
c
i
a
d
o
s
s
a
s
i
m
i
l
a
r
i
d
a
d
o
n
a
r
o
s
p
i
r
a
o
d
o
p
l
a
n
t
a
s
o
a
n
i
m
a
i
s
.
l
n
g
o
n
-
H
o
u
s
z
,
o
m
l
o
r
a
a
i
n
d
a
c
t
i
c
o
s
o
l
r
o
o
n
o
v
o
s
i
s
t
o
m
a
g
u
m
i
c
o
,
u
s
a
u
m
a
c
o
m
p
r
o
o
n
s
i
v
a
i
n
t
o
r
p
r
o
t
a
o
d
a
s
a
t
i
v
i
d
a
d
o
s
g
u
m
i
c
a
s
d
o
p
l
a
n
t
a
s
.
S
o
u
o
s
g
u
o
m
a
l
a
s
o
a
d
o
n
a
d
o
c
o
m
p
o
s
i
o
d
a
g
u
a
,
n
o
o
t
o
r
o
c
o
u
m
a
o
x
p
l
i
c
a
o
d
o
c
o
m
o
a
s
p
l
a
n
t
a
s
a
d
g
u
i
r
o
m
s
o
u
s
c
a
r
l
o
n
o
s
.
H
a
s
s
o
n
t
r
a
t
z
n
o
g
a
a
d
o
c
o
m
p
o
s
i
o
d
o
c
i
d
o
c
a
r
l
o
n
i
c
o
p
o
r
p
l
a
n
t
a
s
.
E
x
p
l
i
c
a
g
u
o
o
l
a
s
d
o
c
o
m
p
o
m
g
u
a
o
a
d
g
u
i
r
o
m
s
o
u
c
a
r
l
o
n
o
d
o
s
o
l
o
.
141
BIBLIOGRAFIA
Asimov, I. Vida e Energia So Paulo: Bestseller Importadora de Livros S.A., 1965.
Asimov, I. Photosynthesis. New York & London, Basic Books Inc. Publishers, 1968.
Atkinson, D. Scientific Discourse in Sociohistorical Context - The Philosophical
Transactions of the Royal Society of London, 1675-1975. London, Lawrence E.
Ass., Publishers, 1999.
Baker, J.J.W. & Allen, G. E. Estudos de Biologia - Vol. 1. So Paulo, Ed. Edgar
Blcher Ltda., 1975.
Baker, J.J.W. The Vital Process: Photossynthesis. Doubleday & Company, Inc.,
Garden City, New York, 1969.
Biologia (Biological Sciences Curriculum Study - BSCS) Parte I cap. 09 (verso
azul) S.Paulo, Edart, 1970.
Campbell, N. A.; Mitchell, L. G. & Reece, J.B. Biology: Concepts and Connections.
Redwood City, CA: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1994.
Campbell, N. A. Biology (2ed.). Redwood City, CA: The Benjamin/Cummings
Publishing Company, Inc., 1990.
Castellani B. R. & GARDEL, M. Fotossntese: Uma Abordagem Histrica. Textos
da TV Escola - Ensino distncia. Prog. 98, 1994.
Fsica (Physical Science Study Committee - PSSC) Parte II cap. 11 So Paulo,
Edart, 1972.
Franklin, Benjamin citado por Joseph Priestley. apud Nash, L. K. Plants and
Atmosphere Case 5. Cambridge, Harvard University Press, 1952,p. 41)
Grew, Nehemiah. The Anatomy of Plants. London, 1682.
Hales, Stephen. Vegetable Staticks, 2nd ed.,with amendments, is vol. I of Statical
Essays. London, 1731, ppi-ii, iv-vi.
Hall, D. O. & Rao, K. K. Fotossntese Vol. 10. So Paulo, EPU: Ed. da
USP,1980.
Ingen-Housz, Jan. Experiments upon Vegetables. London: 1779 apud Nash, L.
K. Plants and Atmosphere Case 5. Cambridge, Harvard University Press,
1952,p. 63-64.
142
Jacob, F. A Lgica da Vida. Rio de Janeiro, Edies Graal, 1983
Lavoisier, Antoine. Sur la nature de leau. in Lavoisiers Oeuvres (Paris, 1862-
1893), vol. 2, pp. 1-28 apud Baker, J.J.W. & Allen, G. E. Estudos de Biologia
- Vol. 1. So Paulo, Ed. Edgar Blcher Ltda., 1975., p. 182
McLaren, J. E.; Rotundo, L.& Gurley-Dilger, L. Biology. Lexington, Massachuset-
ts: C.C. Heath and Company, 1991.
Nash, L. K. Plants and Atmosphere Case 5. Cambridge, Harvard University
Press, 1952.
Odum, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 1985.
Priestley, J. Experiments and Observations on Different Kinds of Air. in Joseph
Priestley - Selections from his writings. Edited by Ira V. Brown, The Pensylva-
nia State University Press, 1962, pp 231-259.
Priestley, Joseph. - Observations on Different Kinds of Air, Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society of London, 62 1772 pp 147-264.
Ricklefs, R. E. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara
Koogan, 1996.
SO PAULO (Estado) Secretaria de Educao. Coordenadoria de Estudos e Nor-
mas Pedaggicas. Cincias e Programas de Sade. 1984, mdulo 18.
Whatley, J. M. & Whatley, F.R. A luz e a vida das plantas Vol. 30. So Paulo,
E.P.U.: Ed. da USP, 1982.
Wilbrahan, A.C.; Staley, D. D. & Matta, M.S. Chemistry. Menlo Park: Addison-
Wesley Publishing Company, 1995.
van Helmont, J. B. Ortus Medicinae (Leyden, 1648) English translation by J.
Chandler, Oriartrike. London: 1662.
Zitzewitz, P.W. & Neff, R.F. Physics. Principles and Problems. Ohio: Glencoe/
McGraw-Hill, 1995.
143
AuTORAS
Maria Jos P. M. de Almeida
Grupo de estudo e pesquisa em Cincia e Ensino - gepCE
FE UNICAMP
email: mjpma@unicamp.br
Odissa Boaventura de Oliveira
Setor de Educao UFPR
email: odissea@terra.com.br
Suzani Cassiani de Souza
Grupo de estudos e pesquisas Discursos da Cincia e da Tecnologia na Edu-
cao Dicite
CED UFSC
email: scsouza@ced.ufsc.br
Вам также может понравиться
- Maximizando o Seu PotencialДокумент107 страницMaximizando o Seu Potencialuser12345675% (4)
- Esboços para SermãoДокумент4 страницыEsboços para Sermãoabenoadopordeus100% (2)
- A importância da santidade no ministério de louvorДокумент4 страницыA importância da santidade no ministério de louvorRenato Pereira67% (3)
- Bingo Matemático 2Документ6 страницBingo Matemático 2Lucimar Andrade0% (1)
- Estudos Sobre Diaconia Na IgrejaДокумент11 страницEstudos Sobre Diaconia Na IgrejalenyrickОценок пока нет
- Roteiro para Elaboração de Projeto de IntervençãoДокумент2 страницыRoteiro para Elaboração de Projeto de IntervençãoFelippe HenriqueОценок пока нет
- Matemática básica para a PRFДокумент140 страницMatemática básica para a PRFRicardo ArielОценок пока нет
- Proteção de Sistemas Elétricos de PotênciaДокумент6 страницProteção de Sistemas Elétricos de PotênciaÂngelo MarcílioОценок пока нет
- Símbolos Culturais e Hermenêutica BíblicaДокумент8 страницSímbolos Culturais e Hermenêutica BíblicaMarcius Tiberius Soares FalcãoОценок пока нет
- CordelДокумент13 страницCordelWilliam Galvão PrianteОценок пока нет
- Melanie Klein (1882-1960), psicanalista austríacaДокумент15 страницMelanie Klein (1882-1960), psicanalista austríacaWesley Ramalho SouzaОценок пока нет
- Desenho técnico: comunicação e normasДокумент3 страницыDesenho técnico: comunicação e normasAires HumbertoОценок пока нет
- Romantismo No BrasilДокумент23 страницыRomantismo No BrasilMarco OliveiraОценок пока нет
- A Autoridade do Crente sobre as Forças EspirituaisДокумент11 страницA Autoridade do Crente sobre as Forças EspirituaisJam Silva SantosОценок пока нет
- Contos Tradicionais e Educação de ValoresДокумент28 страницContos Tradicionais e Educação de ValoresramiromarquesОценок пока нет
- Série Discipulado Lado A Lado - Estudo 1-27-05-12 LíderДокумент10 страницSérie Discipulado Lado A Lado - Estudo 1-27-05-12 Líderibccomunica100% (1)
- Crescer em Cristo e na GraçaДокумент3 страницыCrescer em Cristo e na GraçaArlei VelosoОценок пока нет
- Introdução às notas naturais e acidentais no ukuleleДокумент3 страницыIntrodução às notas naturais e acidentais no ukuleleJuan FernandesОценок пока нет
- Cinetica AngularДокумент23 страницыCinetica AngularAnderson FerroBemОценок пока нет
- A Mulher Do Fluxo de SangueДокумент2 страницыA Mulher Do Fluxo de SangueJosé Tenório NetoОценок пока нет
- Código de conduta APCEДокумент4 страницыCódigo de conduta APCEACGLОценок пока нет
- Viver em sociedade: a necessidade humana de depender uns dos outrosДокумент4 страницыViver em sociedade: a necessidade humana de depender uns dos outrosFábio SilveiraОценок пока нет
- Prova 7 AnoДокумент5 страницProva 7 AnoCarlos Alberto Saucedo LeguizamonОценок пока нет
- A Carta Do AlémДокумент10 страницA Carta Do AlémTiago TomistaОценок пока нет
- Lista de OraçõesДокумент29 страницLista de OraçõesSandro AbnerОценок пока нет
- As Geometrias Não EuclidianasДокумент57 страницAs Geometrias Não EuclidianasJoao Raimundo FerreiraОценок пока нет
- O luto patológico e a atuação do psicólogo na psicoterapia dinâmica breveДокумент17 страницO luto patológico e a atuação do psicólogo na psicoterapia dinâmica breveAna Margarida FerrazОценок пока нет
- Motivação Nas OrganizaçõesДокумент21 страницаMotivação Nas OrganizaçõesAbolchanОценок пока нет
- Performance e Geração 80Документ295 страницPerformance e Geração 80QualquerОценок пока нет
- Limitações Constitucionais ao Poder de TributarДокумент181 страницаLimitações Constitucionais ao Poder de TributarKarolina HällerОценок пока нет